



Biblio VT




Londres. Sessões do tribunal encerradas havia uma semana. O tempo implacável de junho. Fiona Maye, juíza do Tribunal Superior, em casa na noite de domingo e deitada numa chaise longue, olha além de seus pés calçados com meia para o fundo da sala e a vista parcial das estantes embutidas junto à lareira; do lado oposto, perto de uma janela alta, uma pequena litografia de Renoir representando uma mulher no banho, comprada trinta anos atrás por cinquenta libras. Provavelmente falsa. Abaixo da gravura, no centro de uma mesa redonda de nogueira, um vaso azul. Nenhuma recordação de sua origem. Nem de quando pusera flores nele pela última vez. Havia um ano a lareira não era acesa. Gotas de chuva enegrecidas caíam de forma irregular no suporte de ferro da lareira, estalando ao se chocarem com as folhas de jornal amarrotadas que já começavam a amarelar com o passar do tempo. Um tapete Bokhara cobrindo as largas tábuas enceradas. Na margem de seu campo de visão, um piano de cauda curta sobre cujo tampo negro e reluzente se viam fotografias da família em molduras de prata. No chão, ao lado da chaise longue e a seu alcance, o rascunho de uma sentença. E Fiona, deitada de costas, desejando que todas aquelas coisas fossem parar no fundo do mar.
Na sua mão, o segundo copo de uísque com água. Ela estava trêmula depois de uma discussão muito desagradável com o marido. Raramente bebia, mas o Talisker com água da torneira era um bálsamo, e ela pensou que poderia atravessar a sala até o aparador para se servir de um terceiro. Menos uísque, mais água, pois estaria no tribunal amanhã e agora era a juíza de plantão, disponível para atender a qualquer pedido repentino embora ainda estivesse se recuperando. Ele tinha feito uma declaração chocante e lhe imposto um fardo insuportável. Pela primeira vez em anos ela havia de fato gritado, e um tênue eco ainda soava em seus ouvidos. “Seu idiota! Seu idiota de merda!” Desde suas visitas alegres a Newcastle, quando adolescente, ela não tinha dito um único palavrão em voz alta, embora alguma palavra possante vez por outra invadisse seus pensamentos quando ouvia uma argumentação interesseira ou uma opinião legal irrelevante.
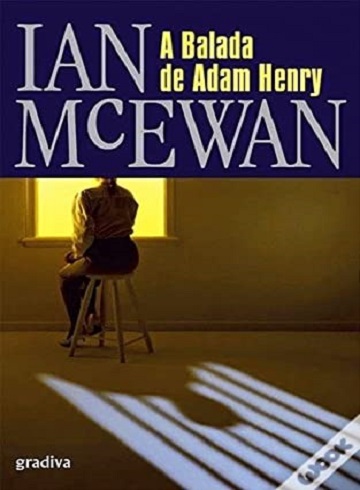
E então, não muito depois, ofegante com o insulto, disse em voz alta pelo menos duas vezes: “Como você ousa me dizer isso?”.
Não chegava a ser uma pergunta, mas ele respondeu calmamente. “Eu preciso. Tenho cinquenta e nove anos. É minha última chance. Ainda não me mostraram nenhuma prova de vida no Além.”
Um comentário presunçoso, e ela ficou sem palavras. Apenas o olhou fixamente, talvez de boca aberta. Agora, deitada na chaise longue, lhe ocorreu a resposta: “Cinquenta
e nove? Jack, você tem sessenta! É patético, é vulgar”.
Na verdade, o que ela havia dito, sem muita convicção, foi: “Isso é ridículo demais!”.
“Fiona, qual foi a última vez que fizemos sexo?”
Quando tinha sido? Ele já havia perguntado isso antes, em tons que variavam do queixoso ao irritadiço. Mas o passado recente, movimentado demais, é difícil de recordar.
A Vara de Família fervilhava com estranhos conflitos, argumentos especiosos, meias verdades íntimas, acusações exóticas. E, como em todos os ramos do direito, pequenas
peculiaridades circunstanciais precisavam ser assimiladas rapidamente. Na semana anterior ela ouvira as alegações finais de um casal de judeus, com graus diversos
de ortodoxia, que estava se divorciando e disputava a educação das filhas. O rascunho da decisão estava no chão ao lado dela. No dia seguinte, se apresentaria diante
dela uma inglesa desesperada, magérrima e pálida, altamente educada, convencida de que, malgrado as garantias dadas pela corte, sua filha estava prestes a ser levada
pelo pai, um homem de negócios marroquino e muçulmano praticante, para viver em Rabat, onde ele pretendia se instalar definitivamente. Além disso, disputas rotineiras
sobre a residência de crianças, casas, pensões, rendas, heranças. Só as grandes fortunas vinham ao Tribunal Superior. A riqueza em geral não conseguia trazer uma
felicidade duradoura. Os pais logo aprendiam o novo vocabulário e os procedimentos legais aplicáveis às crianças, pasmos ao se verem combatendo a pessoa que um dia
haviam amado. E, aguardando nos bastidores, meninos e meninas identificados apenas pelo primeiro nome nos documentos constantes dos processos, pequenos Bens e Sarahs,
atônitos, se abraçando enquanto os deuses acima deles batalhavam até o amargo fim, indo da Vara de Família para o Tribunal Superior e de lá para o Tribunal de Recursos.
Todo esse sofrimento tinha temas em comum, refletindo a uniformidade dos comportamentos humanos, mas continuava a fasciná-la. Ela acreditava ser capaz de injetar
razoabilidade em situações onde não havia mais esperança. De modo geral, acreditava nos preceitos da Lei da Criança. Em momentos de otimismo, considerava esse estatuto
um marco importante no progresso da civilização, por colocar, num texto legal, as necessidades das crianças acima das de seus pais. Os dias de Fiona Maye eram cheios
e à noite, recentemente, se sucediam os jantares, uma comemoração no Middle Temple Hall em homenagem a um colega que se aposentava, um concerto no Kings Place (Schubert,
Scriabin), e táxis, metrô, roupas para buscar na lavanderia, a redação de uma carta a fim de arranjar uma escola especial para o filho autista da arrumadeira e,
por fim, algumas horas de sono. Onde entrava o sexo? No momento, ela não sabia dizer.
“Eu não costumo anotar.”
Ele estendeu as mãos, encerrando a discussão.
Ela o viu atravessar a sala e se servir de uma dose de uísque, o Talisker que ela estava bebendo. Ultimamente ele parecia mais alto, com movimentos mais ágeis. Enquanto
observava suas costas, veio-lhe a fria premonição de que seria rejeitada, a humilhação de ser trocada por uma mulher mais jovem, deixada para trás, inútil e solitária.
Ela se perguntou se deveria simplesmente aceitar qualquer coisa que ele quisesse, mas depois rechaçou esse pensamento.
Ele havia caminhado na direção dela com o copo na mão e sem oferecer o Sancerre, como costumava fazer naquela hora.
“O que você quer, Jack?”
“Vou viver esse caso.”
“Você quer se divorciar.”
“Não. Quero que fique tudo igual. Sem falsidades.”
“Não entendo.”
“Entende, sim. Você não me disse certa vez que pessoas casadas por muito tempo acabam tendo vontade de se tornar irmão e irmã? Pois chegamos lá, Fiona. Eu me tornei
seu irmão. É acolhedor, carinhoso, e eu te amo, mas antes de morrer quero viver uma grande paixão.”
Interpretando erroneamente o arquejo de surpresa dela como uma risada, quem sabe como um muxoxo zombeteiro, ele disse ríspido: “Êxtase, quase desmaiando de prazer.
Lembra? Quero sentir isso outra vez, mesmo que você não queira. Ou talvez você queira.”
Ela o olhou com uma expressão de descrença.
“É isso aí.”
Foi então que ela recobrou a voz e lhe disse que tipo de idiota ele era. Ela tinha uma forte convicção do que era convencionalmente correto. O fato de que, até onde
Fiona sabia, ele sempre lhe fora fiel tornava a proposta ainda mais indecorosa. Ou, se ele a havia enganado antes, tinha feito isso de modo brilhante. Ela já sabia
o nome da mulher. Melanie. Bem próximo do nome de um tipo fatal de câncer de pele. Sabia que poderia ser reduzida a pó pelo romance dele com aquela especialista
em estatística de vinte e oito anos de idade.
“Se você fizer isso, está tudo terminado entre nós. Simples assim.”
“É uma ameaça?”
“Uma promessa solene.”
A essa altura ela havia recuperado a calma. De fato parecia simples. A hora de propor um casamento aberto era antes da cerimônia e não trinta e cinco anos depois.
Arriscar tudo o que tinham para que ele pudesse reviver um prazer sensual! Quando tentou se imaginar querendo algo semelhante para si própria — seu “último êxtase”
seria seu primeiro —, só lhe vinham à mente confusão, encontros secretos, desapontamento, chamadas telefônicas em má hora. A dura tarefa de aprender a conviver com
alguém novo na cama, inventar novas carícias, todo o fingimento. Ao final, a necessidade de desfazer o nó, o esforço exigido para abrir o jogo e ser sincera. Depois,
nada mais como era antes. Não, ela preferia uma vida imperfeita, a que tinha agora.
No entanto, deitada na chaise longue, diante dela se ergueu o insulto em sua verdadeira dimensão, o fato de que Jack estava preparado para pagar por seus prazeres
com a infelicidade dela. Impiedoso. Ela o vira seguir em frente à custa de outras pessoas, quase sempre com uma boa razão. Isso era novo. O que teria mudado? Ao
se servir do uísque de malte, ele ficara ereto, os pés bem afastados, os dedos da mão livre se movendo ao ritmo de uma canção que só ele ouvia, quem sabe uma canção
compartilhada, mas não com ela. Ferindo-a e não ligando para isso — algo novo. Ele sempre fora amável, leal e bondoso. E, como a Vara de Família provava diariamente,
a bondade era o ingrediente humano mais essencial. Ela tinha o poder de afastar uma criança de um pai insensível, e às vezes o fazia. Mas afastar a si mesma de um
marido insensível? Quando se sentia frágil e solitária? Onde estava o juiz que iria protegê-la?
A autocomiseração nos outros a incomodava, e agora ela se recusava a aceitar isso nela. Melhor tomar um terceiro drinque. Mas só derramou uma dose pequena, adicionou
muita água e voltou para a chaise longue. Sim, tinha sido o tipo de conversa que ela deveria ter anotado. Importante não se esquecer, avaliar a ofensa cuidadosamente.
Quando ameaçara romper o casamento caso ele fosse em frente, Jack apenas se repetira, dizendo outra vez como a amava e sempre amaria, que não queria mudar de vida,
que suas necessidades sexuais não atendidas lhe causavam grande infelicidade, que havia aquela oportunidade única que ele desejava aproveitar com o conhecimento
dela e, assim esperava, com a concordância dela. Estava falando com toda a franqueza. Poderia ter feito às escondidas, “pelas costas dela”. Pelas costas magras e
rancorosas dela.
“Ah”, ela murmurou. “Muito decente de sua parte, Jack.”
“Bom, na verdade...”, ele disse, e não terminou a frase.
Fiona teve a impressão de que ele ia lhe dizer que a relação já havia começado, e ela não suportaria ouvir isso. Nem precisava. Viu tudo com clareza. Uma bonita
especialista em estatística trabalhando com a probabilidade decrescente de que um marido voltasse para a esposa amargurada. Viu uma manhã ensolarada, um banheiro
que não conhecia e Jack, ainda com uma musculatura apreciável, vestindo pela cabeça uma camisa de linho branco semiabotoada com seu jeitão impaciente, uma camisa
usada sendo jogada na direção da cesta de roupa suja e ficando ali pendurada por uma das mangas antes de escorregar para o chão. Que horrível. Aconteceria, com ou
sem sua concordância.
“A resposta é não.” Ela havia usado um tom crescente, tal qual uma professorinha durona. Acrescentou: “O que você esperava que eu dissesse?”.
Ela se sentia impotente e queria que a conversa terminasse. Havia uma decisão a ser finalizada antes do dia seguinte para publicação no Family Law Reports. O destino
das duas estudantes judias já havia sido decidido na sentença que ela proferira no tribunal, mas ainda precisava trabalhar no texto, a fim de que ele ficasse mais
elegante e à prova de qualquer recurso. Do lado de fora, a chuva de verão tamborilava nas janelas; ao longe, mais além da Gray’s Inn Square, os pneus sibilavam no
asfalto encharcado. Ele a abandonaria e o mundo seguiria em frente.
Seu rosto tinha endurecido ao dar de ombros e se voltar para sair da sala. Vendo suas costas se afastarem, sentiu o mesmo medo gélido, e o teria chamado de volta
não fosse o receio de ser ignorada. Mas o que poderia dizer? Me abrace, me beije, fique com a garota. Ela ouvira os passos dele no vestíbulo, a porta do quarto sendo
fechada com firmeza e depois o silêncio invadindo o apartamento, o silêncio e a chuva que havia um mês não parava.
Primeiro os fatos. As duas partes pertenciam aos círculos fechados da comunidade haredi do norte de Londres, composta de judeus ultraortodoxos. O casamento dos Bernstein
havia sido arranjado por seus pais, que não esperavam ser questionados. Arranjado e não forçado, insistiam as duas partes num raro gesto de entendimento. Treze anos
depois, todos concordavam — inclusive o mediador, o assistente social e a juíza — que se tratava de um matrimônio impossível de reparar. O casal estava separado.
Os dois mal e mal conseguiam cuidar das filhas, Rachel e Nora, que viviam com a mãe e mantinham contatos prolongados com o pai. A ruína do casamento começara nos
primeiros anos. Após o nascimento laborioso da segunda menina, a mãe se tornou incapaz de ter outros filhos devido a uma cirurgia radical. Como o pai almejava ardentemente
uma grande família, o doloroso distanciamento começou ali. Depois de um período de depressão (prolongado, disse o pai; curto, disse a mãe), ela estudou na Universidade
Aberta, obteve uma boa qualificação e iniciou a carreira de professora primária tão logo as filhas entraram para a escola. Essa situação não era bem-vista pelo pai
nem por muitos dos parentes. Na comunidade haredi, cujas tradições se mantêm inalteradas há séculos, espera-se que as mulheres criem os filhos (quanto maior o número
deles, melhor) e cuidem da casa. Um diploma universitário e um emprego eram extremamente raros. Uma figura de destaque na comunidade serviu como testemunha do pai
e confirmou essa informação.
Os homens também não recebiam uma educação primorosa. Desde a adolescência, tinham de dedicar a maior parte do tempo ao estudo da Torá. Em geral, não cursavam a
universidade. Em parte por causa disso, muitos haredi possuíam parcos recursos. Mas não os Bernstein, embora isso viria a acontecer depois que acertassem as contas
com os advogados. Um avô com participação na patente de uma máquina para descaroçar azeitonas havia doado dinheiro ao casal. Eles deveriam gastar tudo o que possuíam
para pagar as advogadas, ambas bem conhecidas pela juíza. Na superfície, a disputa tinha a ver com a educação escolar de Rachel e Nora. Entretanto, o que estava
realmente em jogo era o contexto geral da formação das meninas. A luta era pela alma delas.
Os meninos e as meninas haredi eram educados em separado para preservar sua pureza. Roupas da moda, televisão e internet eram proibidas, assim como o convívio com
crianças a quem eram permitidas tais distrações. Não se podia entrar em casas onde não fossem obedecidas de modo estrito as regras kosher. Todos os aspectos da existência
cotidiana eram totalmente ditados por costumes que vinham de longa data. O problema tivera início com a mãe, que estava rompendo com a comunidade, embora não com
o judaísmo. Malgrado as objeções paternas, ela já estava mandando as crianças para uma escola secundária judaica com alunos de ambos os sexos e onde eram permitidas
a televisão, a música pop, a internet e o relacionamento com crianças não judias. Ela queria que as meninas ficassem na escola até depois dos dezesseis anos e cursassem
uma universidade se quisessem. No seu depoimento por escrito, havia manifestado o desejo de que as filhas conhecessem melhor como viviam as outras pessoas, que fossem
socialmente tolerantes, que tivessem a oportunidade de seguir alguma carreira que ela não tivera e, como adultas, fossem autossuficientes do ponto de vista econômico,
tendo a chance de encontrar um marido com capacitações profissionais que lhes permitissem ajudar a criar uma família. Ao contrário de seu marido, que dedicava todo
o tempo a estudar e ensinava a Torá oito horas por semana sem nenhuma remuneração.
A despeito de toda a razoabilidade de sua posição, Judith Bernstein — rosto pálido e ossudo, cabelo crespo e arruivado contido por um enorme prendedor azul — não
era uma presença fácil no tribunal. Seus dedos sardentos e agitados que não cessavam de passar bilhetes para os advogados, os constantes suspiros em surdina, os
olhares para o teto e o franzir da boca sempre que os advogados do marido falavam, o remexer impróprio e ruidoso numa grande bolsa de pele de camelo, dali retirando
um maço de cigarros e um isqueiro no momento mais tenso de uma longa tarde — sem dúvida objetos provocativos no esquema existencial de seu marido — e os colocando
lado a lado, ao alcance para quando a sessão fosse suspensa. Fiona via tudo isso de seu ponto de observação mais elevado, porém fingia não ver.
O depoimento por escrito do sr. Bernstein visava persuadir a juíza de que sua esposa era uma mulher egoísta, com dificuldade de controlar a raiva (na Vara de Família
uma acusação comum, frequentemente mútua), que dera as costas a seus votos conjugais e discutia com os pais dele e com os membros da comunidade, afastando as meninas
de ambos. Pelo contrário, afirmou Judith do banco de testemunhas, eram seu sogro e sua sogra que se recusavam a ver as crianças até que elas retomassem o antigo
padrão de vida, repudiando o mundo moderno, inclusive os meios de comunicação sociais, e a própria Judith mantivesse um lar kosher segundo a concepção deles.
O sr. Julian Bernstein, alto e magro como um dos juncos que haviam ocultado Moisés quando bebê, se curvava sobre os documentos do caso com a expressão de quem pede
desculpas, enquanto o advogado acusava sua esposa de ser incapaz de separar suas necessidades das necessidades das crianças. O que ela dizia que elas necessitavam
era o que desejava para si própria. Estava arrancando as meninas de um ambiente familiar cálido e seguro, disciplinado mas carinhoso, cujas regras e ritos forneciam
respostas a todas as contingências, cuja identidade era clara, seus métodos comprovados no curso do tempo, e cujos membros eram em geral mais felizes e mais realizados
que os habitantes do mundo secular e consumista que os cercava — um mundo que zombava da vida espiritual e cuja cultura de massa denegria as jovens e as mulheres
adultas. Suas ambições eram frívolas, seus métodos, desrespeitosos, senão destrutivos. Ela amava muito mais a si mesma do que às meninas.
Ao que Judith respondeu com voz roufenha que nada denegria uma pessoa, menino ou menina, mais do que a negação de uma educação decente e a dignidade de um trabalho
honesto; que, ao longo de toda a sua infância e juventude, lhe haviam dito que seu único objetivo na vida era manter uma boa casa para o marido e cuidar dos filhos
— e que isso também era um modo de conspurcar seu direito de escolher um objetivo por conta própria. Quando decidiu estudar na Universidade Aberta, enfrentando grandes
dificuldades, tinha sido ridicularizada, vista com desprezo e amaldiçoada. Prometera a si própria que as meninas não sofreriam as mesmas limitações.
Os advogados da outra parte concordaram por razões táticas (porque esta era claramente a posição da juíza) que a questão não se restringia aos métodos educacionais.
A corte deveria escolher, para benefício das crianças, entre a obediência total à religião ou algo menos rígido. Entre culturas, identidades, estados de espírito,
aspirações, conjuntos de relações familiares, definições fundamentais, lealdades básicas, futuros incognoscíveis.
Em tais matérias, havia uma propensão sub-reptícia e inata em prol do status quo, desde que ele parecesse benigno. O rascunho da sentença de Fiona tinha vinte e
uma páginas, abrindo-se como um grande leque no chão e esperando que ela pegasse uma página de cada vez para fazer anotações com um lápis de ponta macia.
Nenhum som vindo do quarto, nada além do murmúrio do tráfego deslizando sob a chuva. Ela se sentia magoada por tentar perceber algum ruído feito por ele, a atenção
concentrada, prendendo a respiração, à espera do ranger da porta ou de uma tábua do assoalho. Querendo ouvir, temendo ouvir.
Nos círculos dos magistrados, Fiona Maye, mesmo quando ausente, era elogiada por sua prosa incisiva, quase irônica, quase entusiasmada, assim como pelo modo conciso
com que expunha a disputa. Durante um almoço, o próprio lorde que presidia o Judiciário havia murmurado a seu companheiro de mesa: “Imparcialidade divina, inteligência
diabólica, e ainda é bonita”. Em sua própria opinião, a cada ano ela se aproximava um pouco mais de uma exatidão que alguns poderiam qualificar como pedante, de
uma definição inquestionável que um dia poderia ser citada com frequência, como Hoffman no caso Piglowska contra Piglowski, ou Bingham, ou Ward, ou o indispensável
Scarman, todos utilizados por ela naquela primeira página que pendia de seus dedos sem ser lida. Estaria sua vida prestes a mudar? Será que os amigos eruditos, ainda
estupefatos, em breve sussurrariam nos almoços no Lincoln’s Hall ou no Middle Temple: Então, ele foi mesmo posto para fora de casa? Para fora do adorável apartamento
da Gray’s Inn, onde ela se sentaria sozinha até que finalmente o aluguel, ou o passar dos anos, subindo como a lúgubre maré do Tâmisa, também a expulsaria?
De volta ao trabalho. Parte um: “Pano de fundo”. Após algumas observações rotineiras sobre as casas dos pais, sobre onde as crianças residiam e os contatos com o
pai, ela descreveu num parágrafo à parte a comunidade haredi e como, dentro dela, as práticas religiosas dominavam a vida cotidiana. A distinção entre o que se devia
a César e a Deus era inexistente, assim como o era para muçulmanos praticantes. Seu lápis pairou sobre a página. Será que tratar muçulmanos e judeus como iguais
não pareceria desnecessário ou provocador, pelo menos para o pai? Somente se ele se revelasse irracional, o que ela achava não ser o caso. Eliminar a frase.
A segunda parte era intitulada “Diferenças morais”. O tribunal estava sendo chamado a escolher uma educação para duas meninas, a escolher entre valores. E, nesse
tipo de caso, de pouco servia apelar para o que era aceitável de modo geral por toda a sociedade. Aqui ela invocava lorde Hoffmann: “Trata-se de julgamentos de valor
sobre os quais pessoas razoáveis podem diferir. Como os magistrados também são pessoas, isso significa que é inevitável certo grau de diversidade na aplicação de
valores...”.
Na página, refletindo seu gosto crescente pelas digressões serenas e meticulosas, Fiona dedicou várias centenas de palavras à definição de bem-estar, seguida por
uma consideração dos padrões a serem alcançados para garanti-lo. Concordou com lorde Hailsham que bem-estar e felicidade eram termos inseparáveis, abarcando tudo
o que se mostrava relevante para o desenvolvimento de uma criança na sua condição de ser humano. Endossou a opinião de Tom Bingham ao aceitar que estava obrigada
a assumir uma perspectiva de médio e longo prazo, pois a criança de hoje bem poderia estar viva no século XXII. Citou a passagem de uma sentença proferida por lorde
Lindley em 1893 no sentido de que o bem-estar não podia ser avaliado em termos puramente financeiros ou apenas em referência ao conforto físico. Ela se valeria da
interpretação mais ampla. O bem-estar e a felicidade deviam incorporar o conceito filosófico de uma vida virtuosa, relacionando alguns ingredientes relevantes, metas
que uma criança poderia perseguir: liberdade econômica e moral; virtude, compaixão e altruísmo; um trabalho satisfatório a exigir empenho na solução de problemas;
uma rede florescente de relações pessoais; a conquista da estima de seus pares; e a busca por significados maiores para sua existência, assim como manter, ocupando
lugar central em sua vida, um ou alguns poucos relacionamentos importantes definidos acima de tudo pelo amor.
Sim, neste último elemento essencial ela estava fracassando. O uísque com água a seu lado permanecia intocado: a visão daquele amarelo-urina e seu cheiro agressivo
de cortiça agora a repeliam. Ela deveria estar mais irritada, deveria estar conversando com algum velho amigo — e tinha vários —, deveria caminhar com passo firme
para o quarto a fim de exigir maiores esclarecimentos. Mas se sentia reduzida a um ponto geométrico feito de pura ansiedade. A sentença precisava estar pronta para
ser publicada no dia seguinte na hora aprazada, ela tinha de trabalhar. Sua vida particular não era nada. Ou deveria ter sido. Sua atenção continuava dividida entre
a página que segurava e, a quinze metros de distância, a porta fechada do quarto. Obrigou-se a ler um longo parágrafo sobre o qual tinha dúvidas desde que o lera
em voz alta no tribunal. Mas não havia mal algum numa afirmação robusta do óbvio. O bem-estar era social. A complexa teia das relações de uma criança com a família
e os amigos constituía o ingrediente crucial. Nenhuma criança era uma ilha. O homem como animal social, na famosa frase de Aristóteles. Com quatrocentas palavras
sobre esse tema, ela se lançou ao mar, as referências eruditas (Adam Smith, John Stuart Mill) enfunando as velas de Fiona. O tipo de alcance humanista que toda boa
sentença exige.
Prosseguindo, era dito que o bem-estar constitui um conceito mutável, a ser avaliado segundo os padrões atuais de um homem ou mulher razoáveis. O que era suficiente
uma geração atrás, poderia não ser bastante hoje. Além do mais, não cabia a um tribunal secular decidir sobre crenças religiosas ou diferenças teológicas. Todas
as religiões mereciam respeito desde que, segundo lorde Purcha, fossem “legal e socialmente aceitáveis”, e não, na formulação mais sombria de lorde Scarman, “imorais
ou socialmente ofensivas”.
Os tribunais deveriam se mostrar cuidadosos ao intervir a favor das crianças caso isso contrariasse os princípios religiosos dos pais. Às vezes a intervenção seria
necessária. Mas quando? Em resposta, ela invocou um de seus favoritos, o sábio lorde Munby do Tribunal de Recursos. “A infinita variedade da condição humana impede
qualquer definição arbitrária.” O toque admirável de Shakespeare: nem o hábito estiola sua variedade infinita. As palavras a tiraram dos trilhos. Ela sabia de cor
a fala de Enobarbus, tendo certa vez interpretado esse papel como estudante de direito, uma encenação só de mulheres num gramado no Lincoln’s Inn Fields durante
uma ensolarada tarde de verão. Pouco depois de ter sido retirado de suas costas doloridas o fardo dos exames para ser admitida como advogada. Por volta dessa época,
Jack se apaixonara por ela e, não muito tempo depois, ela por ele. A primeira relação sexual entre os dois ocorreu num quarto de sótão que alguém lhes emprestara,
tórrido sob o teto banhado pelo sol da tarde. Uma portinhola que não abria dava para leste, mostrando uma fatia do Tâmisa na direção do Pool de Londres.
Ela refletiu sobre a amante presente ou futura dele, Melanie, a especialista em estatística que encontrara uma única vez — uma jovem silenciosa, com pesadas contas
de âmbar e clara preferência por sapatos de salto alto e fino capazes de destruir qualquer assoalho antigo de tábuas de carvalho. Outras mulheres saciam/ Os apetites
que satisfazem, mas ela cria fome/ Daquilo que mais pode prover. Podia ser simplesmente isso, uma obsessão doentia, um vício que o afastasse de casa, o entortasse,
consumindo tudo o que compartilhavam em matéria de passado e de futuro, como também de presente. Ou Melanie pertencia, como era sem dúvida o caso de Fiona, às “outras
mulheres”, as que saciam, e ele voltaria depois de duas semanas, o apetite aplacado, fazendo planos para as férias da família.
Insuportável de um modo ou de outro.
Insuportável e fascinante. E irrelevante. Ela se forçou a retornar às páginas, ao resumo dos argumentos oferecidos por ambas as partes — um sumário eficiente, com
uma dose satisfatória de compaixão controlada. Vinha a seguir seu relato acerca do relatório da assistente social designada pela corte. Mulher gorducha e bem-intencionada,
frequentemente ofegante, cabelo despenteado, blusa desabotoada e para fora da saia. Caótica, duas vezes atrasada para as sessões devido a algum problema complicado
com as chaves do carro, documentos trancados no automóvel e uma criança a ser apanhada na escola. No entanto, em vez do blá-blá-blá para satisfazer as duas partes,
seu relato era bem fundado, até mesmo incisivo, e Fiona o citou de forma positiva. O que vinha depois?
Levantou os olhos e viu o marido no outro lado da sala servindo-se de mais um drinque, um bem grandinho, três dedos, talvez quatro. E descalço, como quando ele,
um professor boêmio, muitas vezes ficava em casa no verão. Daí ter chegado sem se fazer ouvir. Provavelmente tinha ficado deitado na cama, contemplando por meia
hora os arabescos nos frisos de gesso do teto, refletindo sobre a irracionalidade de Fiona. A tensão dos ombros encurvados, o modo como enfiou de volta a rolha —
um golpe seco com a ponta do polegar — sugeriam que ele tinha caminhado até ali em silêncio para ter uma discussão. Ela conhecia os sinais.
Jack deu meia-volta e se aproximou dela com a bebida, sem ter posto uma gota de água no copo. As meninas judias, Rachel e Nora, teriam de pairar acima e atrás de
Fiona como anjos cristãos, aguardando um pouco mais. O deus secular delas também tinha seus problemas. Do ponto mais baixo em que se encontrava, ela tinha uma boa
visão das unhas do pé dele — cuidadosamente aparadas, meias-luas jovens e reluzentes, nenhum indício das manchas de fungos que conspurcavam os pés dela. Ele se mantinha
em forma jogando tênis com os colegas e se exercitando com pesos no escritório, que procurava levantar cem vezes ao longo de cada dia. Ela não fazia mais do que
carregar sua pesada pasta de documentos nas dependências do tribunal e levá-la até seu gabinete subindo pelas escadas em vez de pegar o elevador. Ele era bonito
de uma forma desorganizada, um queixo quadrado mas assimétrico, uma expressão audaciosa em que os dentes ficavam visíveis e encantava os alunos, surpresos pela aparência
algo dissoluta de um professor de história antiga. Fiona nunca imaginou que ele pudesse encostar um dedo nas alunas. Agora tudo parecia diferente. Talvez, malgrado
seu envolvimento de toda uma vida com as fraquezas humanas, ela tivesse se mantido inocente, excluindo negligentemente a si própria e a Jack da condição geral. O
único livro que ele escrevera para um público não erudito, uma biografia vívida de Júlio César, o tinha feito quase famoso de um modo respeitável e em nada espalhafatoso.
Uma secundaristazinha atrevida poderia ter se jogado nos braços dele de forma irresistível. Havia, ou costumava haver, um sofá em seu escritório. Bem como uma tabuleta
que dizia Ne Pas Déranger levada do Hôtel de Crillon ao fim da distante lua de mel deles. Esses eram pensamentos novos, era assim que o verme da suspeita infestava
o passado.
Ele se sentou na cadeira mais próxima. “Você não pôde responder à minha pergunta, por isso vou te dizer. Já se passaram sete semanas e um dia. Você, honestamente,
está satisfeita com isso?”
Ela disse com serenidade: “Você já está tendo esse caso?”.
Ele sabia que era melhor responder a uma pergunta difícil com outra pergunta. “Você acha que está velha demais? É isso?”
Ela disse: “Porque, se já estiver, gostaria que fizesse as malas e saísse agora”.
Um gesto que a feria diretamente, sem premeditação, trocando sua torre pelo bispo dele, loucura total e sem volta. Se ele ficasse, humilhação; se partisse, o abismo.
Ele se instalava na cadeira dele, um móvel de madeira e couro enfeitado com tachas de metal que o faziam lembrar um instrumento medieval de tortura. Ela nunca gostara
do gótico vitoriano, muito menos agora. Jack cruzou o tornozelo sobre o joelho, a cabeça inclinada enquanto a olhava com uma expressão de pena ou condescendência,
e ela afastou o rosto. Sete semanas e um dia também tinha um quê de medieval, como uma sentença proferida pela corte criminal itinerante. Preocupava Fiona a possibilidade
de que ela pudesse ter alguma culpa no cartório. Eles tinham mantido uma vida sexual decente por muitos anos, regular e vigorosamente simples: nas primeiras horas
da manhã ao acordarem nos dias úteis, antes que as ofuscantes preocupações da jornada de trabalho penetrassem as pesadas cortinas do quarto. Nos fins de semana à
tarde, algumas vezes depois de um jogo de tênis, duplas mistas na Mecklenburgh Square. Apagando todas as reclamações pelas pixotadas do parceiro. Na verdade, uma
vida amorosa bastante prazerosa, além de funcional, por conduzi-los suavemente ao resto de suas existências sem precisar jamais ser discutida, o que constituía uma
de suas alegrias. Não tinham nem um vocabulário próprio para defini-la — uma das razões pela qual a magoava ouvi-lo mencionar aquilo agora e por mal ter notado o
lento declínio do ardor e da frequência.
Mas ela sempre o amara, sempre fora afetuosa, leal, dedicada. No ano passado havia cuidado dele carinhosamente quando quebrara a perna e o pulso em Méribel durante
uma ridícula corrida montanha abaixo contra velhos colegas de escola. Ela lhe dera prazer, montara em cima dele — lembrava-se agora — em meio ao alvo esplendor do
gesso. Ela não sabia como se referir a essas coisas em sua própria defesa e, além disso, esse não era o terreno no qual estava sendo atacada. Não era devoção que
lhe faltava, e sim paixão.
E também havia a idade. Não a deterioração total, ainda não, mas seus primeiros indícios começavam a transparecer, assim como sob determinada luz é possível vislumbrar
o adulto no rosto de um menino de dez anos. Se, esparramado à sua frente, Jack parecia absurdo durante aquela conversa, muito mais ela lhe pareceria. Os pelos brancos
do peito dele, dos quais ele se orgulhava muito, se encaracolavam acima do botão da camisa com o único propósito de declarar que não eram mais negros; o cabelo,
como de costume se tornando mais ralo no alto como o de um monge, era deixado comprido num esforço de compensação pouco convincente; as pernas menos musculosas já
não preenchiam de todo o jeans, e os olhos, com uma leve sugestão de vazio no futuro, refletiam o encovado das faces. Diante disso, que tal os tornozelos dela engrossando
numa resposta sedutora, as nádegas se inflando como nuvens no verão, a cintura se dilatando enquanto as gengivas se retraíam? Tudo isso ainda em milímetros paranoicos.
Muito pior, a ofensa especial que os anos reservam a certas mulheres, quando os cantos da boca começam a cair, gerando uma expressão de constante reprovação. Muito
adequada a uma juíza que usava peruca e franzia a testa para um advogado do alto de seu trono. Mas a uma amante?
E ei-los ali, como adolescentes, se preparando para discutir a causa de Eros.
Taticamente astucioso, Jack ignorou o ultimato dela, dizendo: “Não acho que devíamos desistir, não é mesmo?”.
“É você quem está se afastando.”
“Acho que também cabe a você uma parte disso.”
“Não sou eu quem está se preparando para destruir nosso casamento.”
“É você quem diz isso.”
Ele falou em tom razoável, projetando as cinco palavras bem no fundo das dúvidas de Fiona, adaptando-as à propensão que ela tinha de acreditar que, num conflito
tão embaraçoso como aquele, os erros seriam provavelmente seus.
Ele tomou um gole cauteloso de uísque. Não ia ficar bêbado a fim de afirmar suas necessidades. Seria sério e racional, quando ela preferiria que Jack confessasse
seus erros em alto e bom som.
Olhando no fundo dos olhos de Fiona, ele disse: “Você sabe que eu te amo”.
“Mas gostaria de alguém mais jovem.”
“Gostaria de ter uma vida sexual.”
Sua oportunidade de fazer promessas ternas, atraí-lo de volta, se desculpar por ter andado muito ocupada, cansada ou indisponível. Mas ela desviou o olhar e nada
disse. Não ia se dedicar sob pressão a reviver uma vida sensual que no momento não lhe apetecia. Sobretudo quando acreditava que o caso já havia começado. Ele não
se dera ao trabalho de negá-lo. E ela não iria perguntar de novo. Não era só uma questão de orgulho. Ela temia ainda sua resposta.
“Bem”, ele disse após uma longa pausa. “Você não gostaria?”
“Não com esse revólver apontado para a minha cabeça.”
“O que você quer dizer com isso?”
“Ou eu tomo jeito, ou você vai para Melanie.”
Ela pressupunha que, embora compreendendo perfeitamente o que havia sido dito, ele desejava ouvi-la pronunciar o nome da mulher, coisa que Fiona jamais fizera em
voz alta. Isso provocou um tremor ou uma contração dos músculos do rosto dele, um incontrolável sinal de excitação. Ou então se devia à frase sem rebuços, o “vai
para”. Será que ela já o tinha perdido? Sentiu-se repentinamente tonta, como se sua pressão tivesse caído e em seguida disparado para cima. Endireitou o corpo na
chaise longue, depositando no chão a página da sentença ainda em sua mão.
“Não é bem assim”, ele dizia. “Olhe, encare isso pelo avesso. Suponha que você estivesse no meu lugar e eu no seu. O que você faria?”
“Não iria arranjar um homem e depois abrir negociações com você.”
“O quê, então?”
“Iria descobrir o que poderia estar preocupando você.” Sua voz soou afetada a seus próprios ouvidos.
Ele fez um gesto largo com as mãos. “Ótimo!” O método socrático, tal como usado, sem dúvida, com seus alunos. “Então, o que está preocupando você?”
Apesar de toda a idiotice e desonestidade da troca de palavras, era a única pergunta possível e ela a havia provocado, porém se irritou com ele, tratada com condescendência,
e preferiu não responder. Em vez disso, olhou mais além de onde ele se encontrava, na direção do piano que mal tinha sido tocado nas últimas duas semanas e para
as fotografias com molduras de prata, postas sobre o tampo, como era comum nas casas de campo. Os dois casais de pais, da época do casamento até a senilidade; as
três irmãs dele; os dois irmãos dela, suas mulheres e maridos atuais e passados (deslealmente, eles não eliminavam ninguém); onze sobrinhos e sobrinhas e as treze
crianças que eles haviam trazido ao mundo. A vida se acelerando para plantar a população de um pequeno vilarejo sobre um piano de cauda curta. Ela e Jack não haviam
dado nenhuma contribuição, ninguém, limitando-se a reuniões de família, presentes de aniversário quase todas as semanas, férias que congregavam várias gerações nos
castelos mais baratos. Hospedavam no apartamento muitos membros da família. No fim do corredor havia um pequeno depósito com uma cama de armar, cadeira de bebê e
cercado para crianças pequenas, além de três cestas de vime cheias de brinquedos mastigados e desbotados mas prontos para o próximo rebento. E o castelo deste verão,
a dezesseis quilômetros de Ullapool, aguardava a decisão deles. Segundo o folheto de propaganda mal impresso, havia um fosso, uma ponte levadiça ainda em operação
e uma masmorra com ganchos e argolas de ferro nas paredes. A tortura de ontem era hoje uma sensação para os hóspedes com menos de doze anos. Ela pensou outra vez
na sentença medieval, sete semanas e um dia, um período iniciado nas últimas etapas do caso dos irmãos siameses.
Todo o horror e a pena, assim como o próprio dilema, estampados na fotografia mostrada à juíza e a ninguém mais. Filhos ainda muito novos de um pai jamaicano e de
uma mãe escocesa, eram vistos no berço de uma unidade pediátrica de tratamento intensivo em meio a uma profusão de tubos, unidos pela pelve e compartilhando o mesmo
torso, as pernas formando ângulos retos com as espinhas dorsais e lembrando uma estrela-do-mar com suas muitas pontas. Uma régua fixada ao longo da incubadora mostrava
que aquele conjunto indefeso, e tão humano, tinha sessenta centímetros de comprimento. Suas medulas e a base das espinhas eram fundidas, os olhos estavam fechados,
quatro braços erguidos num sinal de que se rendiam à decisão do tribunal. Seus nomes apostólicos, Matthew e Mark, não haviam encorajado um raciocínio claro em certos
círculos. Eles compartilhavam um único órgão, a bexiga, que estava principalmente no abdome de Mark e que, como observou um médico, “se esvaziava livre e espontaneamente
através de duas uretras separadas”. O coração de Matthew era grande, mas “com pouca capacidade de contração”. A aorta de Mark se ligava à de Matthew, e era o coração
de Mark que sustentava os dois. O cérebro de Matthew era gravemente malformado e incompatível com um desenvolvimento normal, sua caixa torácica não possuía um pulmão
funcional. Ele não tinha, segundo uma enfermeira, “os pulmões que lhe permitissem chorar”.
Mark mamava como qualquer criança, alimentando-se e respirando pelos dois, fazendo “todo o trabalho” e, por isso, sendo anormalmente magro. Matthew, sem nada para
fazer, engordava. Se uma providência não fosse tomada, o coração de Mark mais cedo ou mais tarde não resistiria ao esforço, matando ambos. Matthew dificilmente viveria
mais do que seis meses. Quando morresse, levaria com ele o irmão. Um hospital de Londres solicitava com urgência a permissão para separar os gêmeos e salvar Mark,
que tinha potencial para ser uma criança saudável. Para fazê-lo, os cirurgiões precisariam grampear e cortar a aorta compartilhada, com isso matando Matthew. A partir
de então, iniciariam uma complicada série de procedimentos reparadores em Mark. Os pais amorosos, católicos devotos que viviam num vilarejo na costa norte da Jamaica,
recusavam-se a aprovar o assassinato por convicção religiosa. Deus lhes havia dado a vida, só ele podia acabar com ela.
Em parte, ela se recordava de uma algazarra prolongada e horrível que assaltava sua atenção, mil alarmes de carros, mil bruxas em frenesi dando corpo ao lugar-comum:
a manchete berrante, sensacionalista. Médicos, padres, âncoras de rádio e televisão, colunistas de jornais, colegas, parentes, motoristas de táxi, todo o país tinha
uma opinião. Os ingredientes narrativos eram ponderáveis: bebês numa situação trágica, pais bondosos, solenes e eloquentes, apaixonados um pelo outro e por seus
filhos, vida, amor, morte e uma corrida contra o tempo. Cirurgiões mascarados lutando contra uma crença sobrenatural. Quanto à gama de posições, num extremo se encontravam
as pessoas de persuasão laica e utilitária, impacientes com os pormenores jurídicos, abençoados por uma fácil equação moral: uma criança salva é melhor que duas
mortas. No extremo oposto, aqueles não apenas convencidos da existência de Deus, mas de conhecerem sua vontade. Citando lorde Ward, Fiona lembrou a todas as partes
nas linhas de abertura de sua sentença: “Este tribunal lida com matérias de Justiça, não de moral, e nossa tarefa consistiu em descobrir, assim como é nosso dever
aplicar, os princípios legais relevantes na situação posta diante de nós — uma situação única”.
Nessa terrível disputa só havia um resultado desejável ou menos indesejável, mas não era fácil abrir uma estrada legal para atingi-lo. Sob a pressão do tempo, com
um mundo ruidoso à espera, ela encontrou, em pouco menos de uma semana e treze mil palavras, um caminho plausível. Ou pelo menos assim pareceu acreditar o Tribunal
de Recursos, trabalhando com um prazo fatal ainda mais rígido que o dela um dia após ser proferida sua sentença. No entanto, não havia lugar para a suposição de
que uma vida valia mais que outra. Separar os gêmeos significaria matar Matthew. Não separá-los significaria, por omissão, matar ambos. O espaço legal e moral era
restrito e a questão precisava ser colocada como a escolha do mal menor. Não obstante, a juíza estava obrigada a considerar o que correspondia ao melhor interesse
de Matthew. Certamente não a morte. Mas a vida também não era uma opção. Ele tinha um cérebro rudimentar, nenhum pulmão, um coração inútil, provavelmente sentia
dor e estava condenado a morrer — em breve.
Numa nova formulação, que o Tribunal de Recursos aceitou, Fiona argumentou que Matthew, ao contrário do irmão, não tinha interesses a serem preservados.
Entretanto, se era preferível, o menor dos males ainda poderia ser ilegal. Como justificar um assassinato, abrir o corpo de Matthew para cortar a aorta? Fiona rejeitou
a noção defendida energicamente pelo advogado do hospital no sentido de que a separação dos gêmeos era análoga a desligar o equipamento de sustentação vital de Matthew,
que naquele caso era Mark. A intervenção cirúrgica era invasiva demais, uma intrusão grande demais na integridade corporal de Matthew, para ser considerada uma suspensão
de tratamento. Em vez disso, ela foi encontrar seu argumento na “doutrina da necessidade”, um conceito estabelecido na lei consuetudinária segundo o qual, em certas
circunstâncias limitadas que nenhum parlamento jamais ousaria definir, era permissível violar a lei criminal a fim de evitar um mal maior. Ela se referiu ao caso
em que homens armados sequestraram um avião em Londres e aterrorizaram os passageiros, porém foram inocentados de qualquer crime porque fizeram aquilo para evitar
a perseguição sofrida em seu próprio país.
No que tange à importantíssima questão da intenção, o propósito da cirurgia não era matar Matthew, e sim salvar Mark. Como Matthew, apesar de sua total impotência,
estava matando Mark, era necessário permitir que os médicos fossem em socorro dele para remover um risco fatal. Matthew morreria depois da separação não porque havia
a intenção de matá-lo, mas porque, em isolamento, ele era incapaz de florescer.
O Tribunal de Recursos concordou, o recurso dos pais foi indeferido e, dois dias depois, às sete da manhã, os gêmeos entraram na sala de cirurgia.
Os colegas que Fiona mais prezava a procuraram para um aperto de mãos ou escreveram o tipo de cartas que merece ser guardado numa pasta especial. Sua sentença era
elegante e correta, assim julgavam as pessoas do ramo. A cirurgia de reparação em Mark foi exitosa, o interesse público se esvaiu e foi dirigido para outro assunto.
Mas ela ficou infeliz, não conseguia deixar o caso de lado, permanecia acordada à noite durante horas, repassando os detalhes, reescrevendo certas passagens da sentença,
tomando novos rumos. Ou meditava sobre temas de família, incluindo sua própria falta de filhos. Ao mesmo tempo, começaram a chegar em pequenos envelopes de cor pastel
os pensamentos malévolos dos devotos. Eles eram de opinião que se devia permitir que ambas as crianças morressem, repudiando assim a decisão dela. Alguns empregavam
linguagem ofensiva, outros manifestavam vontade de feri-la. Uns poucos desses últimos afirmavam saber onde ela morava.
Aquelas semanas intensas haviam deixado uma marca, que apenas se esbatera. O que exatamente a havia perturbado? A pergunta de seu marido era a mesma que ela se fazia,
e ele agora aguardava uma resposta. Antes das audiências, Fiona tinha recebido um parecer do Arcebispo Católico Romano de Westminster. Na sentença, ela observou,
num parágrafo respeitoso, que o arcebispo preferia que Mark morresse junto com Matthew, a fim de não interferir nos desígnios de Deus. Não a surpreendia ou afetava
o fato de que religiosos desejassem eliminar o potencial de uma vida válida a fim de sustentar um preceito teológico. A própria lei tinha problemas similares quando
permitia que médicos sufocassem, desidratassem ou privassem de nutrição certos pacientes desenganados até morrerem, embora não permitisse o alívio instantâneo de
uma injeção fatal. À noite seus pensamentos retornavam à fotografia dos gêmeos e a dezenas de outras que havia estudado, assim como à pormenorizada informação técnica
transmitida pelos médicos especialistas com respeito ao que havia de errado com os bebês, sobre quanto de carne infantil seria necessário cortar, rasgar, separar
e dobrar a fim de dar a Mark uma vida normal, reconstruindo órgãos internos, executando uma rotação de noventa graus em suas pernas, genitais e intestinos. No escuro
do quarto, enquanto Jack roncava serenamente a seu lado, ela parecia olhar por sobre um precipício. Nas fotografias relembradas de Matthew e Mark, via uma nulidade
cega e sem propósito. Um ovo microscópico deixara de se dividir no momento certo devido a um defeito em certo ponto de uma cadeia de eventos químicos, uma minúscula
perturbação na cascata de reações proteicas. Um evento molecular se inflacionara como um universo em expansão para ocupar uma larga região da miséria humana. Nenhuma
crueldade, nenhuma vingança, nenhum fantasma se movendo de modo misterioso. Nada mais que um gene transcrito erroneamente, uma receita de enzimas defeituosa, um
elo químico rompido. Um processo de perda natural tão indiferente quanto sem sentido. Que apenas punha em relevo a vida saudável e formada com perfeição, mas também
aleatória, igualmente sem propósito. Pura sorte, chegar ao mundo com seu corpo devidamente formado e com tudo nos lugares certos, ter pais amorosos e não cruéis,
escapar à guerra e à pobreza por um acidente geográfico ou social. E, por isso, descobrir que é muito mais fácil ser virtuoso.
Durante algum tempo aquele caso a deixara entorpecida, se importando menos, sentindo menos, se ocupando de seus afazeres sem contar nada a ninguém. Mas se tornara
enjoadiça em matéria de corpos, quase incapaz de olhar o dela ou o de Jack sem sentir repugnância. Como se abrir sobre isso? Pouco plausível dizer a ele, àquela
altura de sua carreira como magistrada, que determinado caso, entre tantos outros, pudesse tê-la afetado tão intimamente devido à sua tristeza, a seus detalhes viscerais
e ao intenso interesse público. Durante algum tempo, uma parte dela morrera junto com o pobre Matthew. Tinha sido ela quem havia despachado uma criança do mundo,
quem empregara trinta e quatro páginas elegantemente escritas para justificar sua eliminação. Pouco importa que, por causa de sua cabeça intumescida e um coração
que não se contraía, Matthew estivesse condenado a morrer. Ela era não menos irracional que o arcebispo, tendo passado a considerar como merecida aquela sensação
de que algo murchara dentro de si. A sensação desapareceu, porém deixou uma cicatriz em sua memória mesmo depois de sete semanas e um dia.
Não ter um corpo, flutuar sem nenhuma restrição física teria sido o melhor para ela.
A batida do copo de Jack no tampo de vidro a trouxe de volta para a sala e para a pergunta dele. Jack a olhava fixamente. Mesmo se ela soubesse como formular uma
confissão, seu estado de espírito não permitiria isso. Tampouco nenhuma demonstração de fraqueza. Tinha um trabalho a fazer, concluir a sentença para ser publicada,
com os anjos à espera. O problema não era seu estado de espírito. O problema era a escolha que seu marido fazia, a pressão que ele estava aplicando. De repente ela
se viu outra vez com raiva.
“Pela última vez, Jack. Você está se encontrando com ela? Vou interpretar seu silêncio como um sim.”
Mas ele também estava agitado, fora da cadeira, se afastando na direção do piano, onde parou, uma mão pousada na cauda erguida, recobrando a paciência antes de dar
meia-volta. Naquele instante, o silêncio entre eles se expandiu. A chuva cessara, os carvalhos nos Walks haviam se aquietado.
“Pensei que tivesse me expressado com clareza. Estou tentando ser franco com você. Almocei com ela. Não aconteceu nada. Queria falar com você antes, queria...”
“Bom, você falou e teve a sua resposta. E agora?”
“Me conte o que aconteceu com você.”
“Quando foi esse almoço? Onde?”
“Na semana passada, no trabalho. Não foi nada.”
“O tipo de nada que leva a um caso.”
Jack permaneceu no fundo da sala. “Então é isso”, ele disse, o tom de voz controlado. Um homem razoável testado até o limite da exaustão. Incrível como ele achava
que podia tapeá-la com aquelas atitudes teatrais. Durante seus anos como magistrada, criminosos reincidentes, já idosos e analfabetos, alguns desdentados, tinham
se apresentado diante dela e exibido uma atuação mais convincente improvisando do banco dos réus.
“Então é isso”, ele repetiu. “Sinto muito.”
“Você entende o que está prestes a destruir?”
“Eu podia dizer o mesmo. Alguma coisa está acontecendo e você não me diz o que é.”
Deixe-o ir, disse uma voz, sua própria voz em pensamento. E imediatamente ela foi tomada pelo velho medo. Não podia, não tencionava tocar sozinha o resto de sua
vida. Duas velhas amigas íntimas, da sua idade, separadas dos maridos havia muito tempo, ainda odiavam entrar desacompanhadas numa sala apinhada de gente. E, além
do simples brilho social, também contava o amor que sabia sentir por ele. Não o sentia agora.
“O seu problema”, ele disse da outra ponta da sala, “é que você nunca acha que precisa se explicar. Você se afastou de mim. Deve ter passado pela sua cabeça que
eu notei isso e que me importei. Daria até para aguentar, acho, se eu acreditasse que não fosse durar. Ou se eu soubesse o motivo. Por isso...”
Ele estava começando a caminhar na direção dela, mas Fiona nunca soube qual foi a conclusão nem permitiu que sua irritação crescente fornecesse uma resposta, pois
naquele instante o telefone soou. Ela levantou o aparelho num gesto automático. Estava de plantão e, claro, era seu assistente, Nigel Pauling. Como sempre, a voz
hesitante, quase gaguejando. Mas ele era sempre eficiente e agradavelmente distante.
“Desculpe incomodá-la tão tarde, minha senhora.”
“Não faz mal. Diga o que há.”
“Recebemos um telefonema de um advogado que representa o hospital Edith Cavell, em Wandsworth. Eles precisam fazer uma transfusão de sangue de emergência num paciente
com câncer, um rapaz de dezessete anos. Ele e os pais se recusam a dar o consentimento. O hospital gostaria...”
“Por que estão se recusando?”
“Testemunhas de Jeová, minha senhora.”
“Entendo.”
“O hospital quer ter um documento dizendo que é legal seguir em frente mesmo sem o desejo deles.”
Ela olhou para o relógio de pulso. Um pouco mais de dez e meia da noite.
“Quanto tempo temos?”
“Dizem que vai ser perigoso depois de quarta-feira. Extremamente perigoso.”
Ela olhou ao redor. Jack já havia saído da sala. Ela disse: “Então agende uma audiência em regime de urgência para as duas da tarde de quinta-feira. E notifique
as partes. Instrua o hospital a informar os pais. Eles poderão recorrer. Designe para o rapaz um guardião com representação legal. Mande o hospital apresentar seus
elementos de juízo até as quatro da tarde de amanhã. O oncologista encarregado do caso também deve fornecer um relatório na qualidade de testemunha”.
Por um instante, ela teve um breve branco mental. Limpou a garganta e continuou. “Quero saber por que ele precisa de sangue. E os pais devem fazer o possível para
apresentar seus argumentos até o meio-dia da terça-feira.”
“Vou fazer isso agora mesmo.”
Ela foi até a janela e contemplou o lado oposto da praça, onde formas de árvores assumiam um sólido tom negro ao final do lento crepúsculo de junho. Por enquanto,
as luzes amarelas dos lampiões de rua iluminavam apenas pequenos círculos na calçada. O tráfego de domingo à noite já rareava e quase nenhum som chegava a seus ouvidos
da Gray’s Inn Road ou da High Holborn. Ouviu somente os esparsos pingos de chuva nas folhas e o gorgolejo musical de uma calha próxima. Observou o gato do vizinho
contornar cuidadosamente uma poça e se dissolver na escuridão debaixo de um arbusto. A retirada de Jack não a perturbou. A troca entre eles vinha rumando para uma
franqueza muito penosa. Não havia como negar o alívio de ser impelida para um terreno neutro, a charneca sem árvores dos problemas dos outros. Mais uma vez a religião.
Havia algum consolo. Como o rapaz tinha quase dezoito anos, a maioridade, seus desejos constituiriam a preocupação central.
Talvez fosse perverso encontrar nessa súbita interrupção uma promessa de liberdade. No outro lado da cidade, um adolescente confrontava a morte em razão de suas
crenças ou da de seus pais. A missão dela não consistia em salvá-lo, e sim decidir o que era razoável e legal. Gostaria de ver o rapaz, se afastar por uma ou duas
horas do pântano doméstico e do tribunal, viajar, mergulhar nas complexidades, formular um julgamento baseado em suas observações. As crenças dos pais poderiam ser
uma afirmação das crenças do filho, ou uma sentença de morte que ele não ousava desafiar. Atualmente, investigar por conta própria era raríssimo. Lá pela década
de 1980, um magistrado ainda podia colocar o adolescente sob a tutela da corte e encontrar-se com ele em seu gabinete de trabalho, no hospital ou em casa. Sabe-se
lá como, um ideal nobre havia sobrevivido até os tempos modernos, amassado e enferrujado como uma velha armadura. Os juízes representavam o monarca e, durante séculos,
haviam desempenhado o papel de guardiões das crianças da nação. Nos dias de hoje, assistentes sociais do serviço de apoio e aconselhamento da Vara de Família faziam
isso e apresentavam um relatório. O velho sistema, vagaroso e ineficiente, preservava o toque humano. Agora, menos atrasos, mais formulários com quadradinhos para
serem assinalados, mais coisas a aceitar na base da confiança. A vida das crianças ficava guardada nas memórias dos computadores, com bastante precisão mas com muito
menos bondade.
Visitar o hospital era um capricho sentimental. Ela abandonou a ideia ao se afastar da janela e voltar para a chaise longue. Sentou-se com um suspiro impaciente
e recomeçou a trabalhar na sentença sobre as meninas judias de Stamford Hill, cujo bem-estar estava em disputa. As últimas páginas de sua conclusão se encontravam
de novo em suas mãos. Mas naquele instante Fiona não conseguiu se obrigar a examinar sua própria prosa. Não era a primeira vez que o absurdo e a inutilidade de se
envolver com um caso a paralisavam temporariamente. Pais escolhendo uma escola para os filhos — questão inocente, importante, corriqueira e privada que uma mistura
letal de amargas discrepâncias e dinheiro demais haviam transformado numa monstruosa tarefa burocrática, em maços de documentos jurídicos tão numerosos e pesados
que precisavam ser levados num carrinho para o tribunal, em horas de debates educados, audiências formais, decisões postergadas, todo o circo sendo erguido muito
lentamente em meio à hierarquia judicial como um balão invertido e mal ancorado ao terreno. Se os pais não eram capazes de se pôr de acordo, a lei, relutantemente,
via-se obrigada a decidir. Fiona presidiria com toda a seriedade e obediência aos procedimentos que se exigem de um cientista nuclear. Deliberaria sobre o que havia
começado com amor e terminado em ódio. Todo o assunto deveria ter sido tratado por um assistente social, que levaria meia hora para chegar a uma decisão sensata.
Fiona havia se decidido em favor de Judith, a inquieta mulher de cabelo arruivado que, segundo o oficial de justiça, a cada interrupção disparava pelos salões com
piso de mármore e arcos de pedra polida do Tribunal até o Strand para fumar mais um cigarro. As crianças deveriam continuar a frequentar a escola mista escolhida
para elas pela mãe. Poderiam permanecer lá até os dezoito anos, quando iriam cursar a universidade se assim desejassem. A sentença mostrava respeito pela comunidade
haredi, pela continuidade de suas veneráveis tradições e rituais, acrescentando que o tribunal nada tinha a dizer sobre suas crenças específicas, limitando-se a
notar que elas eram claramente observadas com sinceridade. No entanto, as testemunhas da comunidade arroladas pelo pai tinham contribuído para prejudicar seu caso.
Uma figura respeitada havia dito, talvez com excessivo orgulho, que as mulheres haredi tinham de se devotar a criar um “lar seguro” e que não era relevante a educação
depois dos dezesseis anos. Outro representante da comunidade disse que era muito incomum, mesmo para os meninos, seguir alguma profissão. Um terceiro havia se revelado
um pouco enfático demais em sua opinião de que meninas e meninos precisavam ser mantidos separados na escola a fim de preservarem sua pureza. Tudo isso, Fiona escrevera,
estava muito distante do comportamento costumeiro dos pais e das opiniões prevalecentes no sentido de que as crianças deveriam ser encorajadas em suas aspirações.
Essa deveria ser também a opinião de pais judiciosos e razoáveis. Ela aceitava o parecer da assistente social de que, caso as meninas fossem devolvidas à sociedade
fechada do pai, perderiam todo e qualquer contato com a mãe. Era menos provável acontecer o inverso.
Acima de tudo, o dever da corte era tornar possível que as crianças chegassem à idade adulta em condições de tomarem as próprias decisões sobre a vida que desejavam
levar. As meninas poderiam optar pela versão da religião esposada pelo pai ou pela mãe, ou poderiam encontrar maior satisfação em outro tipo de vida. Depois dos
dezoito anos, estariam fora do alcance dos pais e do tribunal. Para finalizar, Fiona deu uma chamada de leve no pai ao observar que o sr. Bernstein tinha se valido
de duas advogadas e se beneficiado da experiência de uma assistente social designada pela corte, a astuta e desorganizada funcionária do serviço de assistência à
vara, além de estar implicitamente obrigado a obedecer aos ditames de uma juíza. Ele deveria se perguntar por que negar às suas filhas a oportunidade de exercerem
uma profissão.
Terminado. As correções seriam feitas em seu último rascunho na manhã do dia seguinte. Ela se pôs de pé e se espreguiçou, pegando depois os copos de uísque para
lavá-los na cozinha. A água morna correndo por suas mãos serviu para acalmá-la, mantendo-a abstraída junto à pia por um minuto ou mais. Mas também estava atenta
a qualquer ruído vindo de Jack. O gorgolejar dos velhos encanamentos lhe deixaria saber se ele se preparava para dormir. Voltou à sala de visitas a fim de apagar
as luzes e se sentiu atraída outra vez para a posição junto à janela.
Na praça, não longe da poça que o gato contornara, seu marido puxava uma mala. Pendurada ao ombro, a pasta que usava no trabalho. Chegou ao carro, o carro deles,
abriu a porta, pôs a bagagem no banco traseiro, entrou e ligou o motor. Quando os faróis foram acesos e as rodas da frente viradas até o limite para que ele pudesse
sair do espaço apertado onde o carro fora estacionado, ela ouviu o som distante do rádio. Música pop. Mas ele odiava música pop.
Jack provavelmente havia feito a mala no início da noite, bem antes de começarem a conversar. Ou, talvez, no meio da conversa, quando se retirara para o quarto.
Em vez de agitação, raiva ou tristeza, sentiu apenas cansaço. Pensou que devia ser prática. Se fosse para a cama agora, poderia dispensar o sonífero. Voltou à cozinha,
dizendo a si mesma que não estava procurando por um bilhete na mesa de pinho, onde eles sempre deixavam os recados. Trancou a porta da frente e apagou as luzes do
vestíbulo. O quarto dava a impressão de não ter sido tocado. Abriu a porta de correr do armário de roupas e, com olho de mulher, calculou que ele levara três paletós,
dos quais o mais novo de linho cor de marfim comprado na Gieves & Hawkes. No banheiro, resistiu à tentação de abrir o armário de remédios para avaliar o conteúdo
da bolsinha de toalete dele. Já sabia o bastante. Na cama, seu único pensamento sensato foi o de que ele devia ter tomado muito cuidado para atravessar o vestíbulo
sem que ela ouvisse, fechando a porta centímetro furtivo por centímetro furtivo.
Nem isso foi suficiente para impedir seu mergulho no sono. Mas o sono não trouxe a libertação, pois em menos de uma hora se viu cercada de acusadores. Ou de pessoas
pedindo ajuda. Os rostos se fundiam e se separavam. O bebê gêmeo, Matthew, com a cabeça enorme e sem orelha e o coração que não se contraía, apenas a olhava fixamente,
como já fizera em outras noites. As irmãs, Rachel e Nora, lhe falavam num tom pesaroso, relacionando erros que podiam ser dela ou das próprias meninas. Jack chegava
mais perto, empurrando a testa recentemente enrugada contra seu ombro, explicando numa voz lamurienta que ela tinha o dever de ampliar as escolhas dele no futuro.
Quando o despertador tocou às seis e meia, ela se sentou subitamente e, por um momento, olhou sem entender para o lado vazio da cama. Depois caminhou até o banheiro
e começou a se preparar para um dia no tribunal.
2.
Ela tomou o caminho de sempre entre a Gray’s Inn Square e o tribunal, fazendo o possível para não pensar. Numa das mãos levava a pasta; na outra, um guarda-chuva
aberto. A luz era de um verde deprimente e o ar frio da cidade fustigou seu rosto. Saiu pela porta principal evitando qualquer conversa fiada ao fazer um curto gesto
de cabeça na direção de John, o porteiro amigável. Tinha a esperança de não deixar transparecer que era uma mulher em crise. Manteve distantes os pensamentos sobre
sua situação, tocando mentalmente uma peça musical que sabia de cor. Acima da barulheira do rush, ouvia sua persona ideal, a pianista que nunca tinha conseguido
ser, executando impecavelmente a segunda partita de Bach.
Tinha chovido quase todos os dias desde o começo do verão, as árvores davam a impressão de ter inchado, suas copas alargadas, enquanto as calçadas estavam limpas
e lisas, os carros reluzentes na revendedora da High Holborn. Na última vez em que tinha olhado, o Tâmisa na maré alta também parecia inchado e com uma coloração
marrom mais escura: mal-humorado e rebelde, erguia-se contra os pilares das pontes, pronto a invadir as ruas. Mas todos seguiam em frente, reclamando, resolutos,
encharcados. As correntes atmosféricas tinham entrado em pane, curvadas em direção ao sul devido a fatores impossíveis de controlar, bloqueando o refrigério que
vinha dos Açores no verão e sugando o ar gélido do norte. Consequência das mudanças climáticas provocadas pelo homem que levavam ao derretimento das calotas polares
e perturbavam as camadas superiores da atmosfera, ou de manchas solares irregulares que não eram culpa de ninguém ou fruto da variabilidade natural, ritmos antigos,
o destino do planeta. Ou todos os três, ou qualquer dos dois. Mas de que serviam tais explicações e teorias tão cedo? Fiona e o resto de Londres tinham um trabalho
a fazer.
Ao cruzar a rua para descer a Chancery Lane, a chuva apertou, caindo na diagonal por conta de um vento frio e repentino. O dia escureceu, as gotas de chuva ricocheteavam
em suas pernas como agulhas de gelo, as pessoas aceleravam o passo, silenciosas, absortas em seus pensamentos. O tráfego na High Holborn corria barulhento e vigorosamente
destemido, os faróis brilhavam no asfalto enquanto ela ouvia mais uma vez a grande abertura, o adágio em estilo italiano, uma promessa de jazz nos acordes lentos
e densos. Mas não havia como escapar, a peça musical a levava diretamente a Jack porque ela a havia aprendido como um presente de aniversário para ele no último
mês de abril. Fim de tarde na praça, ambos recém-chegados do trabalho, abajures acesos, uma taça de champanhe na mão dele, a dela em cima do piano enquanto executava
o que tinha pacientemente registrado na memória nas semanas anteriores. Depois as exclamações de reconhecimento e prazer de Jack, além da perplexidade generosamente
exagerada por causa daquele feito mnemônico, o longo beijo no final, o murmúrio de parabéns de Fiona, os olhos úmidos dele, o tilintar das taças de cristal facetado.
Por isso o motor da autocomiseração começou a girar e ela não pôde deixar de relembrar as muitas alegrias que tinha lhe dado. A lista era doentiamente longa — entradas
para óperas compradas de surpresa, viagens a Paris, Dubrovnik, Viena, Trieste, Keith Jarrett em Roma (Jack, sem saber de nada, instruído a pôr seu passaporte e algumas
poucas coisas numa valise de mão para encontrá-la no aeroporto ao sair do trabalho), botas de caubói com desenhos gravados a fogo, porta-bebidas com suas iniciais
e, em homenagem à nova paixão dele pela geologia, um martelinho de explorador do século XIX num estojo de couro. Para abençoar sua segunda adolescência ao fazer
cinquenta anos, um trompete que pertencera a Guy Barker. Essas dádivas representavam apenas uma fração da felicidade que ela lhe oferecia, sendo o sexo unicamente
uma parcela dessa fração — e só nos últimos tempos um fracasso, elevado por ele à condição de uma enorme injustiça.
A tristeza e o acúmulo de mágoas pormenorizadas, enquanto a verdadeira raiva ainda estava por vir. Uma mulher de cinquenta e nove anos abandonada na infância da
velhice, quando começava a aprender a engatinhar. Ela se forçou a voltar à partita ao sair da Chancery Lane e entrar na estreita passagem que levava à Lincoln’s
Inn e à sua massa entrelaçada de esplendor arquitetônico. Sobrepondo-se ao tamborilar das gotas no guarda-chuva, ouviu o andante em sua cadência animada, no ritmo
de quem caminha, marcação rara em Bach, uma bela e alegre melodia sustentada por um baixo em marcha despreocupada, seus próprios passos ao entrar no Great Hall se
encaixando na linha melódica miraculosamente radiante. As notas se esforçavam para alcançar um claro significado humano, mas não queriam dizer nada. Eram só beleza,
beleza purificada. Ou amor na sua forma mais ampla e mais vaga, amor por todo mundo, indiscriminadamente. Pelas crianças, talvez. Johann Sebastian teve vinte e dois
filhos em dois casamentos. Não permitiu que seu trabalho o impedisse de amar e ensinar, cuidando e compondo para os que sobreviveram. Crianças. O pensamento inevitável
retornou ao chegar à fuga exigente que ela dominara por amor ao marido e tocara a toda velocidade sem cometer um só erro, sem deixar de destacar as vozes.
Sim, às vezes sua falta de filhos era uma verdadeira fuga musical — esse o tema costumeiro a que ela agora tentava resistir —, uma forma de escapar de seu legítimo
destino. O fracasso em se tornar uma mulher da forma como sua mãe entendia o termo. Como chegara à situação atual era um lento contraponto tocado em dueto com Jack
ao longo de duas décadas, as dissonâncias surgindo e depois desaparecendo, sempre reintroduzidas por ela em momentos de alarme, até mesmo de horror, diante da passagem
dos anos férteis até que eles se foram de vez, ela quase sempre ocupada demais para perceber.
Uma história mais bem contada rapidamente. Depois dos exames finais, ainda outros exames até sua aceitação como advogada, a aprendizagem prática, um convite afortunado
para trabalhar com juristas de prestígio, algum sucesso inicial na defesa de casos sem esperança — como parecera sensato postergar um filho para o começo dos seus
trinta anos! E, quando essa idade chegou, vieram ao mesmo tempo casos complexos e que valiam a pena, e mais sucessos. Jack também se mostrava hesitante, argumentando
que deviam esperar mais um ou dois anos. Por volta dos trinta e cinco anos, ele dava aulas em Pittsburgh e ela trabalhava catorze horas por dia, penetrando mais
fundo no direito de família à medida que minguava a ideia de formar sua própria família, apesar das visitas de sobrinhos e sobrinhas. Nos anos seguintes, os primeiros
rumores de que poderia ser precocemente eleita para um cargo na magistratura e para presidir um tribunal. Mas isso não aconteceu, ainda não. E, com quarenta anos,
foi tomada pelas ansiedades acerca da gravidez tardia e do autismo. Pouco depois, mais jovens visitantes no apartamento da Gray’s Inn Square, sobrinhos-netos e sobrinhas-netas
exigentes e barulhentos fazendo-a ver como seria difícil encaixar uma criança no seu padrão de vida. Mais tarde, o arrependimento fazendo-a pensar em adoção, algumas
consultas exploratórias — e, no curso dos anos que se sucederam com velocidade crescente, agonias ocasionais de dúvida, decisões firmes no meio da noite de se tornar
uma mãe adotiva abandonadas de manhã na correria para o trabalho. Por fim, às nove e meia de uma manhã no Tribunal Real de Justiça, quando prestou juramento perante
o presidente do Judiciário e fez seu voto de lealdade diante de duzentos colegas de cabeça coberta pela tradicional peruca branca, vestindo com orgulho uma túnica
e sendo objeto de um discurso espirituoso, ela soube que a partida havia terminado, que pertencia à Justiça como outrora algumas mulheres tinham sido noivas de Jesus
Cristo.
Cruzou o New Square e se aproximou da livraria Wildy. A música na cabeça cessara, mas agora havia entrado outro velho tema: a autoacusação. Ela era egoísta, mal-humorada,
friamente ambiciosa. Perseguindo seus próprios fins, fingindo a si mesma que sua carreira não constituía em essência uma autogratificação, negando a vida a dois
ou três seres afetuosos e talentosos. Caso seus filhos existissem, seria chocante imaginar o contrário. Por isso ali estava sua punição: confrontar o desastre sozinha,
sem a presença de filhos crescidos e sensatos telefonando preocupados, abandonando tudo para participar de reuniões urgentes em torno da mesa da cozinha, chamando
à razão o idiota do pai, trazendo-o de volta. Mas ela o receberia? Precisariam também chamá-la à razão. Os filhos quase existentes, a filha de voz rouca, talvez
curadora de algum museu, e o filho talentoso mas não tão bem posicionado, bom em muitas coisas, que não havia terminado a universidade porém era um pianista muito
melhor que ela. Ambos sempre afetuosos, brilhantes no Natal e nos castelos onde todos passavam as férias de verão a entreter os parentes mais jovens.
Passou pela frente da Wildy sem se sentir tentada pelos livros de direito na vitrine, cruzou a Carey Street e entrou pela porta dos fundos do tribunal. Percorreu
um corredor abobadado, depois outro, subiu um andar pela escada, passou por algumas salas de audiência, desceu de novo, atravessou um pátio e parou ao pé de uma
escada para sacudir o guarda-chuva. Aquele lugar sempre a fazia se lembrar da escola, o cheiro ou a sensação de pedra fria e úmida juntamente com uma pontada de
medo e excitação. Subiu a escada em vez de pegar o elevador, pisando firme no carpete vermelho ao dobrar à direita em direção ao largo átrio repleto de portas dando
acesso aos gabinetes de trabalho de vários magistrados do Tribunal Superior — parecia, ela às vezes achava, aqueles calendários natalinos em que dia a dia se abre
mais uma portinhola. Em cada recinto grande e coalhado de livros, seus colegas mergulhavam diariamente em seus casos e julgamentos, um labirinto de detalhes e controvérsias
do qual somente certo estilo de gracejo e ironia oferecia alguma proteção. A maioria dos juízes que ela conhecia cultivava um elaborado senso de humor, mas naquela
manhã não havia ninguém por lá desejoso de diverti-la — o que agradou a ela. Ela provavelmente era a primeira a chegar. Nada como uma tempestade doméstica para arrancar
alguém da cama.
Parou na porta de seu gabinete. Nigel Pauling, correto e hesitante, estava curvado sobre a mesa dela, arrumando vários documentos. Como sempre às segundas-feiras,
seguiu-se a troca ritual de perguntas sobre o fim de semana de cada um. O dela havia sido “tranquilo”, disse Fiona ao lhe passar o rascunho revisto da sentença do
caso Bernstein.
Ao trabalho. No caso do marroquino, agendado para as dez da manhã, confirmou-se que a menininha havia sido levada para Rabat pelo pai, malgrado suas promessas à
corte, sem uma palavra sobre o paradeiro dela, nenhuma palavra vinda do pai, o advogado dele totalmente perdido. A mãe estava recebendo apoio psiquiátrico, mas compareceria
perante o tribunal. A ideia era se valer da Convenção da Haia para acionar o Marrocos, por sorte o único país muçulmano que a havia assinado. Tudo isso foi dito
rapidamente por Pauling em tom de quem se desculpa e passando nervosamente a mão pelo cabelo como se fosse o irmão do sequestrador. Pobre mulher pálida e magérrima,
professora universitária especializada nas sagas do Butão e dedicada à filha única. A seu modo incorreto, o pai também era dedicado, libertando a filha dos males
do Ocidente infiel. Os documentos aguardavam sobre a mesa dela.
As demais tarefas do dia já estavam claras em sua mente. Dirigindo-se à sua mesa, ela perguntou sobre o caso da testemunha de Jeová. Os pais fariam um pedido de
emergência para receber assistência jurídica, e a autorização seria expedida à tarde. O rapaz, segundo seu assistente, sofria de uma forma rara de leucemia.
“Vamos dar um nome a ele”, Fiona disse rispidamente, num tom que a surpreendeu.
Quando pressionado por ela, Pauling mostrava-se sempre mais cortês, e até mesmo satírico. Deu, então, mais informações do que ela necessitava.
“Sem dúvida, minha senhora. Adam, Adam Henry, filho único. Os pais se chamam Kevin e Naomi. O sr. Henry é dono de uma pequena empresa. Movimentação de terra, drenagem,
esse tipo de coisa. Aparentemente um mestre na condução de escavadeiras mecânicas.”
Depois de vinte minutos sentada à mesa, ela voltou a atravessar o átrio e caminhou por um corredor até o recanto onde estava instalada a máquina de café. Gravada
no vidro da máquina, havia uma imagem super-realista e iluminada por dentro de grãos torrados caindo de um jarro em tons marrom e cor de creme, tão vívida na obscuridade
do cubículo como um manuscrito com iluminuras. Um cappuccino duplo, talvez triplo. Melhor começar a tomar ali mesmo, onde, sem ser perturbada, podia visualizar com
repugnância Jack se levantando agora de uma cama diferente para trabalhar, a figura a seu lado semiadormecida, bem servida durante a madrugada, se mexendo em meio
aos lençóis grudentos, murmurando o nome dele, chamando-o de volta. Num impulso furioso, pegou o celular, encontrou o número do chaveiro da Gray’s Inn Road, forneceu-lhe
o PIN de quatro dígitos e instruções para que a fechadura fosse trocada. Claro, minha senhora, imediatamente. Eles tinham os dados da fechadura atual. As novas chaves
deveriam ser entregues ainda hoje no Strand a ela e a mais ninguém. Depois, em rápida sequência, pois temia mudar de ideia, com o copo de plástico quente na mão
livre, telefonou para o zelador do seu edifício, um sujeito rude mas bonachão, para lhe dizer que esperasse a chegada de um chaveiro. Foi má, e sentiu-se bem em
ser má. Ele devia pagar um preço por abandoná-la, e ali estava, ser exilado, pedir licença para ter acesso à sua vida anterior. Ela não lhe permitiria o luxo de
possuir dois endereços.
Voltando pelo corredor com seu copo, já refletia sobre sua ridícula transgressão, impedir ao marido o acesso a que ele tinha direito, uma das atitudes-chavão das
crises conjugais que qualquer advogado aconselharia seu cliente — geralmente a mulher — a não adotar sem a devida autorização judicial. Uma vida profissional transcorrida
acima das contendas, primeiro como advogada e depois como juíza, comentando com altivez em particular sobre a agressividade e a irracionalidade dos casais em processo
de divórcio, e agora lá estava ela em meio ao turbilhão, nadando com as outras naquela triste corrente.
Esses pensamentos foram subitamente interrompidos. Ao entrar no amplo átrio, viu o juiz Sherwood Runcie na porta do gabinete dele, esperando por ela, esfregando
as mãos como um vilão de teatro a indicar que tinha algo para lhe dizer. Ele era um especialista nos rumores de última hora que circulavam pelos tribunais, normalmente
corretos, e se comprazia em passá-los adiante. Um dos poucos, senão o único, colega que ela preferia evitar, e não porque fosse antipático. Tratava-se de fato de
um homem charmoso, que dedicava todas as suas horas de lazer a uma instituição de caridade que fundara havia muito tempo na Etiópia. Mas para Fiona aquele contato
era embaraçoso porque, quatro anos antes, ele julgara um caso de homicídio que ainda era difícil contemplar e doloroso demais para não comentar, como seria seu dever.
Isso num bravo mundinho, numa aldeia, onde era comum se esquecer dos enganos cometidos pelos outros, onde todos tinham, de vez em quando, uma sentença vigorosamente
derrotada no Tribunal de Recursos, recebendo repreensões em matéria legal. Mas aquele fora um dos maiores erros judiciais dos tempos modernos. E Sherwood! Tão inexplicavelmente
crédulo diante de um perito que nada entendia de matemática e em cujo testemunho se baseou, a fim de, para surpresa e horror de todos, condenar à prisão, pelo assassinato
de seus filhos, uma mãe inocente e enlutada. Ela foi agredida na penitenciária, perseguida pelas outras detentas e demonizada pela imprensa sensacionalista. Seu
primeiro recurso foi indeferido e, quando por fim conquistou a liberdade que lhe era certamente devida, tombou vítima do álcool, que a matou.
A estranha lógica que conduziu àquela tragédia ainda era capaz de manter Fiona acordada à noite. Segundo se afirmou no tribunal, a probabilidade de uma criança morrer
da síndrome da morte súbita infantil era de um em nove mil. Assim, de acordo com o perito da acusação, a probabilidade de que dois irmãos morressem desse modo era
aquele número ao quadrado. Um em oitenta e um milhões. Quase impossível, por isso a mãe devia ter alguma responsabilidade pelas mortes. O mundo do lado de fora do
tribunal ficou perplexo. Se a causa da síndrome fosse genética, as crianças compartilhavam uma causa. Se fosse ambiental, também. Se fosse genética e ambiental,
também a compartilhavam. Em compensação, qual era a probabilidade de dois bebês de uma família estável de classe média serem assassinados pela mãe? Mas os enraivecidos
teóricos da probabilidade, estatísticos e epidemiologistas não tiveram condições de intervir.
Em momentos de desânimo com relação ao processo jurídico, bastava a ela relembrar o caso de Martha Longman e o erro de Runcie para confirmar um sentimento passageiro
de que o direito, por mais que Fiona o amasse, era, no que ele tinha de pior, não um asno, mas uma cobra, uma serpente venenosa. Não bastasse isso, Jack se interessou
pelo caso e se valia dele quando as coisas não iam bem entre os dois, criticando veementemente a profissão dela e seu envolvimento com o Judiciário, como se ela
própria houvesse proferido a sentença.
Mas quem poderia defender o Judiciário depois que o primeiro recurso de Longman foi indeferido? O caso foi uma impostura desde o início. O patologista, assim se
verificou, inexplicavelmente reteve provas cruciais sobre uma agressiva infecção bacteriana na segunda criança. A polícia e a promotoria da Coroa se mostraram ilogicamente
ansiosas para obter uma condenação, a classe médica foi enxovalhada pela comprovação de que seu representante, assim como todo o sistema, aquela turba descuidada
de profissionais, levou uma mulher bondosa, uma arquiteta bem conceituada, à perseguição, ao desespero e à morte. Confrontado com opiniões conflitantes de várias
testemunhas com alta capacitação médica sobre as causas da morte das crianças, o sistema Judiciário estupidamente optou por um veredito de culpa em vez de adotar
uma postura de ceticismo e incerteza. Runcie era, todos concordavam, um sujeito extremamente simpático e, como o passado mostrava, um juiz competente e trabalhador.
No entanto, quando Fiona ouviu dizer que o patologista e o médico estavam de volta ao trabalho, ela não se conteve. O caso lhe dava ânsias de vômito.
Runcie estava erguendo a mão para cumprimentá-la e ela não tinha outra alternativa senão parar diante dele e ser afável.
“Minha querida.”
“Bom dia, Sherwood.”
“Li uma anedota maravilhosa no novo livro de Stephen Sedley. Bem ao seu estilo. É de um julgamento em Massachusetts. Um advogado insistente demais pergunta a um
patologista se ele está mesmo convencido de que certo paciente estava morto antes de ser iniciada a autópsia. O patologista diz que estava mesmo certo. Ah, mas como
o senhor pode estar tão certo? Porque, responde o patologista, o cérebro dele se encontrava num recipiente em cima da minha mesa. Mas, retoma o advogado, o paciente
ainda poderia estar vivo apesar disso? Bom, foi a resposta, é possível que ele estivesse vivo e atuando como advogado em algum lugar.”
Mesmo enquanto explodia de rir de sua própria história, os olhos de Runcie estavam fixados nos dela para ver se sua hilaridade era correspondida. Ela fez o possível.
Piadas sobre a profissão eram as de que seus praticantes mais gostavam.
Instalada por fim em seu gabinete de trabalho com o café agora morno, ela passou a se dedicar à questão da criança levada para fora do país. Fingiu não reparar que
Pauling, do outro lado da sala, limpava a garganta para dizer alguma coisa; depois ele pensou melhor e desapareceu. Em certo momento, suas preocupações também desapareceram
enquanto se obrigava a prestar atenção nos depoimentos, e começou a ler rapidamente.
Todos no tribunal se levantaram quando ela entrou, às dez em ponto. Ouviu o advogado da mãe atormentada, que solicitava o retorno de sua filha com base na Convenção
da Haia. Quando o advogado do marido marroquino se pôs de pé a fim de tentar convencer Fiona sobre certa ambiguidade nas promessas de seu cliente, ela o interrompeu.
“Eu esperava vê-lo envergonhado com o comportamento de seu cliente, sr. Soames.”
A questão era técnica, absorvente. O corpo delgado da mãe continuava parcialmente oculto atrás do advogado, parecendo se encolher ainda mais à medida que os argumentos
se tornavam mais abstratos. Era provável que, encerrada a sessão, Fiona jamais voltasse a vê-la. O triste caso seria levado a um juiz marroquino.
Ouviu depois o pedido urgente em favor de uma esposa que necessitava de recursos para se sustentar enquanto o processo corria na Justiça. Ela ouviu, fez perguntas,
deferiu o pedido. Queria ficar sozinha na hora do almoço. Pauling lhe trouxe sanduíches e uma barra de chocolate para ela comer à mesa de trabalho. O telefone estava
debaixo de alguns papéis e por fim ela cedeu, procurando na telinha alguma mensagem ou chamada não atendida. Nada. Disse a si mesma que não se sentia desapontada
nem aliviada. Bebeu chá e se permitiu dez minutos para ler os jornais. Muitas matérias sobre a Síria, artigos e fotos pavorosas: o governo bombardeando civis, refugiados
nas estradas, condenações impotentes de ministros das Relações Exteriores do mundo todo, um menino de oito anos numa cama com o pé esquerdo amputado, um estiolado
Assad de queixo pequeno apertando a mão de um alto funcionário russo, rumores sobre o uso de gás asfixiante.
Havia horrores ainda maiores em outras partes, mas após o almoço ela teve de confrontar algumas variedades locais. Rejeitou a petição feita sem consulta à outra
parte pela qual se buscava expulsar um marido do lar conjugal. A apresentação foi demasiado longa e as piscadelas nervosas do advogado com ar de coruja a irritaram
ainda mais.
“Por que o senhor está fazendo isso sem uma notificação prévia? Não vejo nada na documentação que tornasse isso necessário. Que contato o senhor tentou estabelecer
com a outra parte? Nenhum, tanto quanto posso ver. Se o marido concordar em se comprometer com sua cliente, o senhor realmente não devia estar me incomodando com
isso. Se ele não concordar, então faça uma nova petição e eu ouvirei os dois lados.”
A sessão foi encerrada, ela saiu a passos largos. Voltou para ouvir os argumentos a favor e contra uma ordem de restrição de movimentos solicitada por um homem que
temia ser agredido pelo companheiro de sua ex-mulher. Muitos debates legais sobre os antecedentes criminais do indivíduo, mas, como se referiam a fraude e não a
agressão física, ela afinal indeferiu o pedido. Um termo de compromisso seria suficiente. Uma xícara de chá no gabinete, de volta mais uma vez para ouvir a solicitação
urgente de uma mãe em processo de divórcio a fim de que os passaportes dos três filhos fossem retidos pela Justiça. Fiona se inclinava a deferir o pedido, mas se
recusou a fazê-lo depois de tomar conhecimento das complicações que isso poderia causar.
Retornou a seu gabinete às cinco e quarenta e cinco da tarde. Sentou-se à sua mesa, olhando fixamente para a estante de livros. Teve um sobressalto quando Pauling
entrou, imaginando que tinha cochilado. Ele informou que o caso da testemunha de Jeová havia atraído um grande interesse da imprensa. A maioria dos matutinos do
dia seguinte publicaria a história. Nos sites dos jornais, havia retratos do rapaz e de sua família. Os próprios pais podiam ter fornecido as fotos, ou um parente
grato por poder fazer um dinheirinho. O assistente entregou a Fiona os documentos sobre o caso e um envelope pardo que tilintou misteriosamente quando ela o abriu.
Uma carta-bomba de um demandante frustrado? Já acontecera antes, quando um artefato precário, montado por um marido enraivecido, falhou e não explodiu nas mãos de
seu antigo assistente. Mas, claro, eram as novas chaves, abrindo caminho para sua outra vida, para sua existência transformada.
Meia hora depois, ela rumou para essa nova vida, mas utilizando um trajeto mais longo porque relutava em chegar ao apartamento vazio. Saiu pela porta principal e
caminhou para oeste no Strand rumo ao teatro Aldwych, indo depois para o norte ao longo da Kingsway. Céu plúmbeo, a chuva quase parando, os transeuntes da hora do
rush das segundas-feiras menos numerosos que de hábito. Expectativa de mais uma daquelas tardes de verão sombrias e longas demais, com nuvens baixas. A escuridão
total a serviria melhor. Ao passar por um chaveiro, seu coração bateu mais forte quando imaginou uma discussão em voz alta com Jack por causa do bloqueio, cara a
cara na praça sob as árvores gotejantes e ao alcance do ouvido dos vizinhos, que também eram colegas seus. Ela não teria razão.
Dobrou para o leste, passou pela London School of Economics, contornou o Lincoln’s Inn Fields, atravessou a High Holborn e então, para postergar a chegada à casa,
tomou outra vez a direção oeste, passando por ruas estreitas onde em meados da era vitoriana havia oficinas artesanais e agora cabeleireiros, lojas com portas de
ferro, bares onde se vendiam sanduíches. Atravessou o Red Lion Square, passando pelas mesas e cadeiras de alumínio do café do parque, agora molhadas e vazias, e
pelo Conway Hall, onde uma pequena multidão estava reunida na entrada, pessoas decentes e com ar cansado, de cabelo branco, talvez quacres, prontos para uma noitada
de protestos contra o ponto a que as coisas haviam chegado. Mas pertencer ao sistema judiciário, com todo o seu acervo histórico, punha alguém mais próximo às coisas
como elas eram. Mesmo se resistisse ou negasse. Mais de meia dúzia de convites com letras em relevo se encontravam sobre a mesa de castanheira polida no vestíbulo
do apartamento. Tribunais Superiores, universidades, instituições de caridade, várias sociedades reais e conhecidos de proeminência convidavam Jack e Fiona Maye,
os dois transformados ao longo dos anos numa instituição em miniatura, para se apresentarem com suas melhores roupas e abrilhantarem algum evento com sua presença,
onde comeriam, beberiam e conversariam até voltarem para casa antes da meia-noite.















