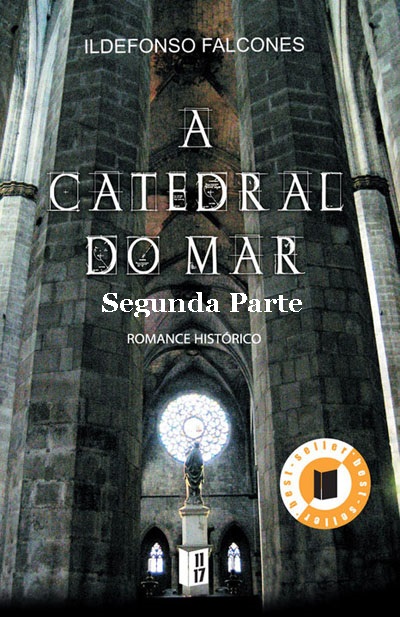Biblio "SEBO"




Uma catedral construída pelo povo e para o povo na Barcelona medieval é o cenário de uma apaixonante história de intriga, violência e paixão.
Século XIV. A cidade de Barcelona encontra-se no auge da prosperidade; cresceu até ao humilde bairro dos pescadores, cujos habitantes decidem construir, com o dinheiro de uns e o esforço de outros, o maior templo mariano conhecido: Santa Maria do Mar. Uma construção paralela à desditosa história de Arnau, um servo da terra que foge dos abusos do seu senhor feudal e que se refugia em Barcelona. Daqui se torna cidadão e, assim, num homem livre. O jovem Arnau trabalha como estivador, palafreneiro, soldado e cambista. Uma vida extenuante, sempre à sombra da Catedral do Mar, que o tirará da condição miserável de fugitivo para lhe dar nobreza e riqueza. Mas com esta posição privilegiada chega também a inveja dos seus pares, que tramam uma sórdida conspiração que põe a sua vida nas mãos da Inquisição... Lealdade e vingança, traição e amor, guerra e peste, num mundo marcado pela intolerância religiosa, a ambição material e a segregação social. Um romance absorvente, mas também uma fascinante e ambiciosa recriação das luzes e sombras do mundo feudal.
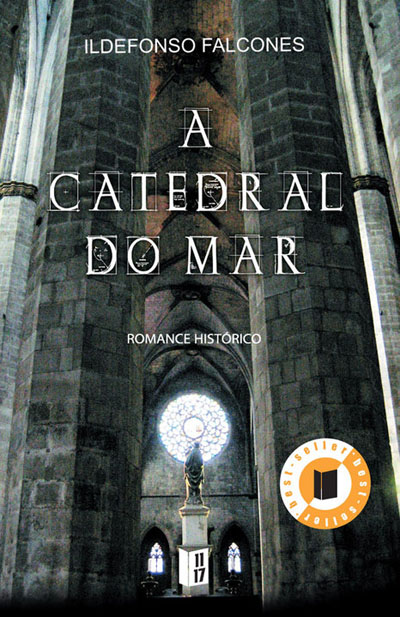
SERVOS DA TERRA
Ano de 1320
Quinta de Bernat Estanyol Navarcles, Principado da Catalunha
Num momento em que ninguém parecia prestar-lhe atenção, Bernat ergueu o olhar para o límpido céu azul. 0 sol ténue de finais de Setembro acariciava os rostos dos seus convidados. Investira tantas horas e esforços na preparação daquela festa, que apenas um tempo inclemente poderia deslustrá-la. Bernat sorriu para o céu outonal e, quando baixou o olhar, o sorriso acentuou-se, ao escutar o alvoroço que reinava no terreiro empedrado que se abria em frente à porta dos currais, no piso térreo da casa rural.
A trintena de convidados estava exultante: a vindima desse ano fora esplêndida. Todos, homens, mulheres e crianças, tinham trabalhado de sol a sol, primeiro apanhando as uvas e depois pisando-as, sem se permitirem um dia de descanso. Só quando o vinho estava já pronto para fermentar nas barricas e o mosto da uva já estava armazenado para destilar o bagaço durante os entediantes dias de Inverno, os camponeses celebraram as festas de Setembro. E Bernat Estanyol decidira contrair matrimónio durante esses dias.
Bernat observou os seus convidados. Tiveram de se levantar de madrugada para percorrerem a pé a distância, em alguns casos muito grande, que separava as suas quintas da dos Estanyol. Conversavam animadamente, talvez acerca da boda, talvez acerca da colheita, talvez acerca de ambas as coisas; alguns, como o grupo em que se incluíam os seus primos Estanyol e a família Puig, parentes do cunhado, soltavam gargalhadas e olhavam-no com picardia. Bernat notou que estava a corar e eludiu a insinuação; não queria sequer imaginar a causa daqueles risos. Espalhados pelo terreiro da casa rural, distinguiu os Fontaníes, os Vila, os Joaniquet e, evidentemente, os familiares da noiva: os Esteve.
Bernat olhou discretamente para o sogro, Pere Esteve, que não fazia outra coisa senão passear a sua imensa barriga, sorrindo para uns e dirigindo-se de imediato para outros. Pere voltou o seu rosto alegre para ele, e Bernat viu-se obrigado a saudá-lo pela enésima vez. Depois, procurou com o olhar os cunhados e encontrou-os misturados com os outros convidados. Desde o primeiro momento que o tinham tratado com algum receio, apesar do muito que se tinha esforçado por conquistá-los.
Bernat voltou a erguer o olhar para o céu. A colheita e o tempo tinham decidido acompanhá-lo na sua festa. Olhou para a casa e depois de novo para as pessoas, e cerrou ligeiramente os lábios. De repente, apesar da agitação reinante, sentiu-se só. Apenas passara um ano desde que o pai falecera; quanto a Guiamona, sua irmã, que se instalara em Barcelona depois de casar, não tinha dado resposta aos recados que lhe tinha enviado, apesar do muito que teria gostado de revê-la. Era a única pessoa de família directa que lhe restava, desde a morte do pai...
Uma morte que tinha transformado a casa dos Estanyol no centro de interesse de toda a região: casamenteiras e pais com filhas nubentes tinham desfilado por aquela casa incessantemente. Antes, ninguém os vinha visitar; mas a morte do pai, a quem os acessos de rebeldia tinham feito merecer o cognome de «o louco Estanyol», tinha devolvido as esperanças àqueles que desejavam casar uma filha com o lavrador mais rico da região.
— Já és suficientemente adulto para casar — diziam-lhe. — Quantos anos tens?
— Vinte e sete, creio eu — respondia.
— Com essa idade, já quase devias ter netos — recriminavam-no. — Que vais fazer sozinho nesta casa? Precisas de uma mulher.
Bernat recebia estes conselhos com paciência, sabendo que seriam inexoravelmente seguidos pela menção de uma candidata cujas virtudes superavam a força do touro e a beleza do mais incrível pôr do Sol.
O assunto não lhe era desconhecido. Já o louco Estanyol, viúvo desde que nascera Guiamona, tinha tentado casá-lo, mas todos os pais de filhas casadoiras tinham saído da casa lançando imprecações: ninguém conseguia fazer frente às exigências do louco Estanyol quanto ao dote que a nora deveria trazer. Assim, o interesse por Bernat foi decaindo. Com a idade, o ancião piorou, e os seus desvarios de rebeldia foram-se tornando delirantes. Bernat dedicou-se ao cuidado das terras e do pai e, de repente, aos vinte e sete anos, viu-se só e assediado.
No entanto, a primeira visita que Bernat recebeu, quando ainda nem tinha sido enterrado o defunto, foi a do aguazil do senhor de Navarcles, seu senhor feudal. Quanta razão tu tinhas, pai!-, pensou Bernat ao ver chegar o aguazil e vários soldados a cavalo.
— Quando eu morrer — repetira-lhe o velho até à exaustão nos momentos em que recuperava a mansidão —, eles hão-de vir; nessa altura, terás de lhes mostrar o testamento. — E apontava com um gesto para a pedra sob a qual, envolto em couro, se encontrava o documento que recolhia as últimas vontades do louco Estanyol.
— Porquê, pai? — perguntara Bernat da primeira vez que o pai lhe fizera a esta advertência.
— Como muito bem sabes — respondera-lhe o velho —, possuímos estas terras em enfiteuse, mas eu sou viúvo, e se não tivesse feito testamento, por minha morte o senhor feudal teria direito a ficar com metade de todos os nossos móveis e animais. Chama-se a esse direito intestia; há muitos outros a favor dos senhores, e deves conhecê-los a todos. Eles virão, Bernat; virão para levarem o que é nosso, e só se lhes mostrares o testamento poderás livrar-te deles.
— E se mo tiram? — perguntara Bernat. — Bem sabes como eles são...
— Mesmo que o fizessem, está registado em livros.
A ira do aguazil e do seu senhor correu pela região, e tornou ainda mais atractiva a situação do órfão, herdeiro de todos os bens do louco.
Bernat lembrava-se bem da visita que lhe fizera o agora seu sogro, antes do começo da vindima. Cinco soldos, um colchão e uma camisa branca de linho; esse era o dote que oferecia pela sua filha Francesca.
— Para que quero eu uma camisa branca de linho? — perguntou Bernat sem parar de revolver a palha no piso térreo da casa.
— Olha para ali — respondeu Pere Esteve.
Apoiando-se sobre a forquilha, Bernat olhou para onde Pere Esteve apontava: para a entrada do estábulo. A forquilha caiu sobre a palha. Em contraluz, surgira Francesca, vestida com a camisa branca de linho... Todo o corpo da rapariga se lhe oferecia através dela!
Um calafrio percorreu a espinha de Bernat. Pere Esteve sorriu.
Bernat aceitou a oferta. Fê-lo ali mesmo, no palheiro, sem sequer se aproximar da rapariga, mas sem tirar os olhos dela.
Foi uma decisão precipitada, e Bernat estava ciente disso, mas não podia dizer que se tivesse arrependido; ali estava Francesca, bela, jovem, forte. Acelerou-se-lhe a respiração. Hoje mesmo... Que estaria a pensar a rapariga? O mesmo que ele? Francesca não participava na alegre conversa das mulheres; permanecia em silêncio junto da mãe, sem se rir, acompanhando os gracejos e os risos das demais com sorrisos forçados. Os olhares de ambos cruzaram-se por um instante. Ela corou e baixou os olhos, mas Bernat viu como o movimento do peito dela traía o seu nervosismo. A camisa branca de linho tornou a aliar-se ao desejo e às fantasias de Bernat.
— Felicito-te! — ouviu dizer atrás de si, enquanto lhe aplicavam uma palmada forte nas costas. O sogro tinha-se aproximado dele. — Cuida-me bem dela — acrescentou, seguindo o olhar de Bernat e apontando para a rapariga, que já não sabia onde havia de se esconder. — Se bem que se a vida que lhe vais proporcionar for como esta festa... É o melhor banquete que alguma vez vi. Decerto que nem o senhor de Navarcles pode gozar destes manjares!
Bernat quisera tratar bem dos seus convidados e preparara quarenta e sete pães dourados de farinha de trigo; evitara a cevada, o centeio ou a espelta, habituais na alimentação dos camponeses. Farinha de trigo candial, branca como a camisa da sua mulher! Carregado com os pães amassados, dirigira-se ao castelo de Navarcles para os cozer no forno do seu senhor, pensando que, como sempre, dois pães seriam o suficiente para que lhe permitissem cozê-los ali. Os olhos do fogueiro arregalaram-se, abrindo-se como pratos diante do pão de trigo, para logo se fecharem numas inescrutáveis vigias. Dessa vez, o pagamento ascendeu a sete pães, e Bernat abandonou o castelo praguejando contra a lei que os impedia de ter um forno para cozer o pão nos seus lares... e uma forja, e guarnições...
— Decerto que sim — respondeu ao sogro, afastando da ideia aquela má recordação.
Ambos observaram o terreiro da casa. Talvez lhe tivessem roubado uma parte do pão, pensou Bernat, mas não do vinho que agora bebiam os seus convidados — do melhor, daquele que o seu pai tinha reservado e que tinham deixado envelhecer durante anos —, nem da carne de porco salgada, nem da panela de verduras cozidas com um par de galinhas, nem, claro, dos quatro borregos que, abertos em canal e atados em paus, assavam lentamente sobre as brasas, espirrando gordura e exalando um aroma irresistível.
De repente, as mulheres puseram-se em movimento. A panela de verduras já estava pronta e as escudelas que os convidados tinham trazido consigo começaram a encher-se. Pere e Bernat tomaram lugar à única mesa que havia no terreiro, e as mulheres acorreram a servi-los; ninguém se sentou nas quatro cadeiras restantes.
As pessoas, de pé, sentadas em troncos ou no chão, começaram a dar conta do ágape, de olhos postos nos borregos constantemente vigiados por algumas mulheres, enquanto bebiam vinho, conversavam, gritavam e riam.
— Uma grande festa, sim, senhor — sentenciou Pere Esteve, entre uma colherada e outra.
Alguém brindou aos noivos. Imediatamente todos se lhe uniram.
— Francesca! — gritou o pai, com o copo erguido em direcção à noiva, que estava entre as mulheres, perto dos borregos.
Bernat olhou para a rapariga, que de novo escondeu o rosto.
— Está nervosa — desculpou-a o pai, piscando-lhe o olho. — Francesca, filha! — voltou a gritar. — Brinda connosco! Aproveita agora, porque daqui a pouco vamos embora... quase todos.
As gargalhadas embaraçaram ainda mais Francesca. A rapariga ergueu a meia altura um copo que lhe tinham posto na mão e, sem beber dele e virando costas aos risos, tornou a concentrar a atenção nos borregos.
Pere Esteve bateu com o copo contra o copo de Bernat, fazendo derramar o vinho. Os convidados imitaram-nos.
— Tu te encarregarás daqui a pouco de que lhe passe a timidez — disse-lhe, em voz bem alta, para que todos os presentes ouvissem.
As gargalhadas estalaram de novo, desta vez acompanhadas de comentários brejeiros, a que Bernat preferiu não prestar atenção.
Entre risos e gracejos, todos deram boa conta do vinho, do porco salgado e da panela de verduras e galinha. Quando as mulheres começavam a tirar os borregos das brasas, um grupo de convidados calou-se e voltou os olhos para a orla do bosque das terras de Bernat, situado para lá de uns extensos campos de cultivo, no final de um suave declive do terreno que os Estanyol tinham aproveitado para plantar parte das cepas que lhes proporcionavam aquele tão excelente vinho. Em poucos segundos, fez-se silêncio entre os presentes Três ginetes tinham aparecido entre as árvores. Os seus passos eram seguidos por vários homens a pé, fardados.
— Que fará ele aqui? — interrogou-se num sussurro Pere Esteve.
Bernat seguiu com o olhar os homens que se aproximavam, contornando os campos. Os convidados murmuravam entre si.
— Não percebo — disse por fim Bernat, também num sussurro —, nunca por aqui tinha passado. Não fica a caminho do castelo.
— Não me agrada nada esta visita — acrescentou Pere Esteve.
A comitiva movia-se lentamente. A medida que as figuras se aproximavam, os risos e os comentários dos cavaleiros substituíam o alvoroço que até então tinha reinado no terreiro; todos conseguiam ouvi-los. Bernat observou os seus convidados; alguns deles já não olhavam, e mantinham-se de cabeça baixa. Procurou Francesca, que estava entre as mulheres. O vozeirão do senhor de Navarcles chegou até eles. Bernat sentiu que a raiva o invadia.
— Bernat! Bernat! — exclamou Pere Esteve, sacudindo--lhe o braço. — Que estás a fazer aqui? Corre a recebê-lo.
Bernat ergueu-se de um salto e correu a receber o seu senhor.
— Sede bem-vindo a esta vossa casa — saudou, inclinando-se, assim que ficou diante dele.
Llorenç de Bellera, senhor de Navarcles, puxou as rédeas do cavalo e deteve-se diante de Bernat.
— Es Estanyol, o filho do louco? — inquiriu secamente.
— Sim, senhor.
— Estivemos a caçar e, quando regressávamos ao castelo, fomos surpreendidos por esta festa. A que se deve?
Por entre os cavalos, Bernat conseguia vislumbrar os soldados, carregados com diversas peças de caça: coelhos, lebres e galinhas-do-mato. «A sua visita é que precisa de explicação», teria Bernat gostado de lhe responder. «Ou talvez o forneiro vos tenha informado do pão de trigo candial?»
Até os cavalos, quietos, com os seus grandes olhos redondos assestados nele, pareciam aguardar a resposta de Bernat.
— Ao meu casamento, senhor.
— Com quem casaste?
— Com a filha de Pere Esteve, senhor.
Llorenç de Bellera permaneceu em silêncio, olhando Bernat por cima da cabeça do seu cavalo. Os animais resfolegaram ruidosamente.
— E? — ladrou Llorenç de Bellera.
— A minha mulher e eu próprio — disse Bernat, tratando de dissimular o seu asco — sentir-nos-íamos muito honrados se sua senhoria e seus acompanhantes tivessem por bem juntar-se a nós.
— Temos sede, Estanyol — afirmou o senhor de Bellera, como única resposta.
Os cavalos puseram-se em movimento sem necessidade de que os cavaleiros os esporeassem. Bernat, cabisbaixo, dirigiu-se para a casa, ao lado do seu senhor. No final do caminho tinham-se juntado todos os convidados, para o receber;
as mulheres de olhos no chão, os homens descobertos. Um rumor ininteligível ergueu-se quando Llorenç de Bellera s deteve diante deles.
— Vamos, vamos — ordenou-lhes, enquanto desmonta va. — Que siga a festa!
As pessoas obedeceram e deram meia-volta, em silêncio. Vários soldados aproximaram-se dos cavalos e encarregaram--se dos animais. Bernat acompanhou os seus novos convidados até à mesa a que tinham estado sentados Pere e ele. Tanto as suas escudelas como os seus copos tinham desaparecido.
O senhor de Bellera e os seus dois acompanhantes sentaram-se. Bernat afastou-se alguns passos quando estes começaram a conversar. As mulheres acudiram, rápidas, com jarros de vinho, pães, escudelas de galinha, pratos de porco salgado e com o borrego acabado de assar. Bernat procurou Francesca com o olhar, mas não a encontrou. Não estava entre as mulheres. O olhar de Bernat cruzou-se com o do sogro, que já estava junto dos restantes convidados, e este fez sinal com o queixo em direcção às mulheres. Com um gesto quase imperceptível, Pere Esteve abanou a cabeça e deu meia-volta.
— Continuem com a vossa festa! — gritou Llorenç de Bellera com uma perna de borrego na mão. — Vamos, venham, avancem!
Em silêncio, os convidados começaram a dirigir-se para as brasas, onde os borregos tinham sido assados. Só um grupo permaneceu quieto, a salvo dos olhares do senhor e dos seus amigos: Pere Esteve, os filhos e mais alguns convidados. Bernat avistou o branco da camisa de linho entre eles, e aproximou-se.
— Vai-te embora daqui, estúpido! — rosnou o sogro. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, a mãe de Francesca aproximou-se, colocou-lhe um prato de borrego nas mãos e sussurrou-lhe:
— Trata de atender ao senhor e não te aproximes da minha filha.
Os camponeses começaram a dar conta do borrego, em silêncio, olhando de soslaio para a mesa. No terreiro só se ouviam as gargalhadas e os gritos do senhor de Navarcles e dos seus amigos. Os soldados descansavam, afastados da festa.
— Antes, ouvia-vos rir — gritou o senhor de Bellera. — De tal forma que me espantaram a caça. Riam, malditos sejam!
Ninguém o fez.
— Bestas rústicas — disse para um dos seus acompanhantes, que receberam o comentário com gargalhadas.
Os três saciaram o apetite com o borrego e o pão branco. O porco salgado e as escudelas de galinha ficaram abandonados na mesa. Bernat comeu de pé, um pouco afastado, e olhando de soslaio para o grupo de mulheres, entre as quais se escondia Francesca.
— Mais vinho! — exigiu o senhor de Bellera, levantando o copo. — Estanyol — gritou de repente, procurando-o por entre os convidados —, da próxima vez que me pagues o censo das minhas terras, terás de me trazer vinho como este, e não a zurrapa com que o teu pai me andou a enganar até agora. — Bernat escutou-o, atrás dele. A mãe de Francesca aproximava-se com mais um jarro. — Estanyol, onde estás tu?
O cavaleiro bateu na mesa quando a mulher aproximava o jarro para lhe encher de novo o copo. Algumas gotas de vinho salpicaram a roupa de Llorenç de Bellera.
Bernat já se aproximara dele. Os amigos do senhor riam-se da situação e Pere Esteve levou as mãos ao rosto.
— Velha estúpida! Como te atreves a entornar o vinho — A mulher baixou a cabeça em sinal de submissão e, quando o senhor fez menção de lhe dar uma bofetada, fugiu e caiu por terra. Llorenç de Bellera voltou-se para os amigos e desatou a rir, vendo como a anciã se afastava, gatinhando, Depois, recuperou a seriedade e dirigiu-se a Bernat: — Ai estás aqui, Estanyol. Vê só o que fazem as velhas inúteis Por acaso pretendes ofender o teu senhor? Serás tão ignorante que não sabes que os convidados devem ser atendidos; pela senhora da casa? Onde está a noiva? — perguntou, passeando o olhar pelo terreiro. — Onde está a noiva? — gri tou, perante o silêncio de Bernat.
Pere Esteve tomou Francesca pelo braço e aproximou-da mesa, para a entregar a Bernat. A rapariga tremia.
— Senhor — disse Bernat —, apresento-vos a minha mulher, Francesca.
— Assim está melhor — comentou Llorenç, examinando-a de alto a baixo, sem nenhum recato —, muito melhor. Vais tu servir-nos o vinho, a partir de agora.
O senhor de Navarcles voltou a sentar-se e dirigiu-se à rapariga, erguendo o copo. Francesca pegou num jarro e acorreu a servi-lo. A mão tremia-lhe, ao tentar verter o vinho. Llorenç de Bellera agarrou-lhe o pulso e manteve-lho firme enquanto o vinho caía no copo. Depois, puxou-lhe o braço e obrigou-a a servir os seus acompanhantes. Os seios da rapariga roçaram pelo rosto de Llorenç de Bellera. — Assim é que se serve o vinho! — gritou o senhor de Navarcles enquanto Bernat, ao lado dele, cerrava os punhos e os dentes.
Llorenç de Bellera e os seus amigos continuaram a beber e a exigir, aos gritos, a presença de Francesca, para repetir, uma e outra vez, a mesma cena.
Os soldados juntavam-se aos risos do seu senhor e dos amigos de cada vez que a rapariga se via obrigada a inclinar-se sobre a mesa para servir o vinho. Francesca tentava conter as lágrimas e Bernat notava como o sangue começava a correr-lhe nas mãos, feridas pelas suas próprias unhas. Os convidados, em silêncio, desviavam o olhar de cada vez que a rapariga tinha de servir o vinho.
— Estanyol! — gritou Llorenç de Bellera, pondo-se de pé com Francesca agarrada pelo pulso. — Usando do direito que como teu senhor me assiste, decidi deitar-me com a tua mulher na sua primeira noite.
Os acompanhantes do senhor de Bellera aplaudiram ruidosamente as palavras do amigo. Bernat saltou para a mesa, mas antes que a pudesse alcançar, os dois sequazes, que pareciam embriagados, puseram-se de pé e levaram as mãos às espadas. Bernat estacou. Llorenç de Bellera olhou-o, sorriu, e depois riu com força. A rapariga cravou os olhos em Bernat, suplicando a ajuda dele.
Bernat deu um passo adiante, mas encontrou a espada de um dos amigos do nobre encostada ao estômago. Impotente, deteve-se de novo. Francesca não parou de olhar para ele enquanto era arrastada até à escada exterior da casa. Quando o senhor daquelas terras a agarrou pela cintura e a colocou a um ombro, a rapariga começou a gritar.
Os amigos do senhor de Navarcles voltaram a sentar-se e continuaram a beber e a rir, enquanto os soldados se colocavam junto à escada, para impedir o acesso a Bernat.
Ao pé das escadas, em frente aos soldados, Bernat não ouviu as gargalhadas dos amigos do senhor de Bellera; nem os soluços das mulheres. Não se juntou ao silêncio dos seus convidados, e nem sequer deu atenção às provocações dos soldados, que faziam gestos, de olhos postos na casa: só ouvia os gritos de dor que vinham da janela do primeiro andar.
O azul do céu continuava a resplandecer.
Depois de momentos que pareceram intermináveis a Bernat, Llorenç de Bellera apareceu, transpirado, na escada, apertando a cota de caça.
— Estanyol — gritou com a sua voz tonitruante enquanto passava ao lado de Bernat e se dirigia para a mesa — agora toca-te a ti. Dona Catarina — acrescentou para os seus acompanhantes, referindo-se à sua jovem e recente mulher — já está cansada de que apareçam filhos meus bastardos... e já não aguento as choraminguices dela. Cumpre como um bom marido cristão! — instou-o, voltando-se para ele.
Bernat baixou a cabeça e, sob o olhar atento de todos os presentes, subiu lentamente a escada lateral. Entrou no primeiro andar, numa ampla sala que servia de cozinha e sala de jantar, com uma grande lareira numa das paredes, sobre a qual repousava uma impressionante estrutura de ferro forjado, em jeito de chaminé. Bernat escutou o som dos seus próprios passos sobre o chão de madeira enquanto se dirigia à escada de mão que levava ao segundo andar, destinada a celeiro e quarto de dormir. Assomou a cabeça pelo orifício das tábuas do chão do andar superior e escrutinou o interior sem se atrever a subir totalmente. Não se ouvia um único ruído.
Com o queixo rente ao chão, e o corpo ainda na escada viu a roupa de Francesca espalhada pela divisão; a camisa branca de linho, orgulho da família, estava rasgada e feita num farrapo. Por fim, subiu.
Encontrou Francesca encolhida em posição fetal, com o olhar perdido, totalmente nua sobre a enxerga nova, agora manchada de sangue. O corpo da rapariga, suado, arranhado aqui e golpeado ali, permanecia absolutamente imóvel.
— Estanyol — ouviu Llorenç de Bellera a gritar lá de baixo —, o teu senhor está à espera.
Sacudido por convulsões, Bernat vomitou sobre os cereais armazenados até as tripas quase lhe saírem pela garganta. Francesca continuava sem se mexer. Bernat saiu a correr daquele lugar. Quando chegou lá abaixo, pálido, a sua cabeça era um turbilhão de sensações, cada uma mais repugnante que a anterior. Cego, caiu de bruços contra o imenso Llorenç, que estava de pé ao fim das escadas.
— Não me parece que o novo marido tenha consumado o matrimónio — disse Llorenç de Bellera para os companheiros.
Bernat teve de levantar a cabeça, para enfrentar o senhor de Navarcles.
— Não... Não fui capaz, senhor — balbuciou. Llorenç de Bellera guardou silêncio durante uns instantes.
— Pois então, se tu não foste capaz, estou certo de que algum dos meus amigos... ou dos meus soldados... o será. Já te disse que não quero mais bastardos.
— Não tem o direito!
Os camponeses que observavam a cena sentiram calafrios ao imaginar as consequências de tal insolência. O senhor de Navarcles agarrou Bernat pelo pescoço, com uma só mão, e apertou com força enquanto Bernat abria a boca, tentando respirar.
— Como te atreves? Por acaso pretendes aproveitar-te do legítimo direito do teu senhor de se deitar com a noiva para depois vires reclamar com um bastardo debaixo do braço? — Llorenç sacudiu Bernat antes de o deixar cair para o chão. — É isso que pretendes? Os direitos de vassalagem sou eu que os determino; eu e só eu, entendes? Esqueces que te posso castigar quando e como queira?
Llorenç de Bellera esbofeteou Bernat com força, atirando-o ao chão.
— O meu chicote! — gritou, encolerizado.
O chicote! Bernat ainda era apenas um rapazinho quando, como tantos outros, fora obrigado a presenciar, com os pais, o castigo público infligido pelo senhor de Bellera a um pobre desgraçado cuja falta nunca ninguém chegou a saber com certeza qual fora. A recordação do estalar do couro sobre as costas desse homem soou-lhe nos ouvidos, como nesse dia, e como noite após noite durante uma boa parte de sua infância. Nenhum dos presentes ousara mexer um dedo, nessa ocasião, e também assim era agora. Bernat começou a arrastar-se e ergueu o olhar em direcção ao seu senhor; este estava de pé, como uma ingente massa de pedra, com a mão estendida, esperando que um servo lhe colocasse lá o chicote. Recordou-se das costas em carne viva daquele desgraçado: uma grande massa sanguinolenta de onde nem mesmo todo o ódio do senhor conseguiria arrancar um pedaço mais. Bernat arrastou-se, de gatas, para a escada, com os olhos revirados e tremendo, tal como lhe acontecia desde pequeno, quando era assaltado por pesadelos. Ninguém se mexia. Ninguém falava. E o Sol continuava a rebrilhar.
— Lamento, Francesca — balbuciou quando chego perto dela, depois de subir penosamente a escada, seguido por um soldado.
Desapertou as calças e ajoelhou-se ao lado da esposa. A rapariga não se tinha ainda mexido. Bernat observou o seu pénis flácido e perguntou-se como poderia cumprir as ordens do seu senhor. Com apenas um dedo, acariciou suavemente as costas nuas de Francesca. Francesca não respondeu.
— Tenho... Temos de fazer isto — instou Bernat, agarrando-lhe um pulso, para a voltar para si.
— Não me toques! — gritou-lhe Francesca, abandonando o seu alheamento.
— Vai custar-me! — Bernat virou com violência a sua mulher, descobrindo o corpo nu dela.
— Deixa-me!
Lutaram, até que Bernat conseguiu agarrá-la por ambos os pulsos e prendê-la. Mesmo assim, Francesca resistia.
— Virá outro! — sussurrou-lhe. — Se não for eu, será outro a... forçar-te! — Os olhos da rapariga ganharam vida e abriram-se de novo, acusadores. — Lamento muito, lamento muito... — desculpou-se.
Francesca não parou de se debater, mas Bernat deitou-se sobre ela com violência. As lágrimas da rapariga não foram suficientes para arrefecer o desejo que nascera nele, ao contacto com o corpo da jovem, e penetrou-a enquanto Francesca gritava contra o Universo inteiro.
Esses gritos satisfizeram o soldado que seguira Bernat e que, sem qualquer pudor, contemplava a cena, com metade do corpo surgindo por entre as tábuas do chão, na abertura da escada.
Ainda Bernat não tinha terminado de forçá-la, quando Francesca parou de se opor. Pouco a pouco, os gritos dela tornaram-se soluços. Foi o choro da sua mulher que fez companhia a Bernat quando alcançou o clímax.
Llorenç de Bellera ouvira os gritos desesperados que procediam da janela do segundo andar e, quando o seu espião lhe confirmou que o casamento estava consumado pediu os cavalos e abandonou o local com a sua sinistra comitiva. A maioria dos convidados, abatidos, imitou-o.
A quietude abateu-se sobre a casa. Bernat, em cima da sua mulher, não sabia o que fazer. Só então se deu conta de que a mantinha fortemente agarrada pelos ombros; largou-a, para apoiar as mãos no colchão, junto à cabeça dela, mas depois o corpo caiu sobre o dela, inerte. Instintivamente, recuperou, esticando os braços para neles se apoiar, e deu com os olhos de Francesca, que o olhavam sem o ver. Nessa posição, qualquer movimento fazia que roçasse de novo pelo corpo da sua mulher. Bernat desejava evitar essas sensações, mas não sabia como fazer isso sem continuar a magoar a rapariga. Desejou poder levitar para se poder separar de Francesca sem lhe tocar.
Por fim, depois de uns instantes infindáveis de indecisão, afastou-se da rapariga e ajoelhou-se junto dela; também agora não sabia o que havia de fazer: levantar-se, deitar-se ao lado dela, sair dali ou tentar justificar-se... Desviou o olhar do corpo de Francesca, caída de barriga para cima, exposta de forma soez. Procurou o rosto dela, que estava a menos de dois palmos do dele, mas não foi capaz de o encontrar. Baixou o olhar, e a visão do seu membro nu, de repente, envergonhou-o.
— Lamento...
Um inesperado movimento de Francesca surpreendeu-o. A rapariga virara o rosto para ele. Bernat tentou descortinar! compreensão no olhar dela, mas encontrou-o totalmente vazio.
— Lamento — insistiu. Francesca continuou a olhar para ele sem mostrar o menor indício de reacção. — Lamento, lamento. Tenho muita pena — balbuciou.
Bernat recordou-se do senhor de Navarcles, de pé, com a mão estendida à espera do chicote. Procurou mais uma vez o olhar de Francesca: vazio. Tentou encontrar resposta nos olhos da rapariga e sentiu medo: gritavam em silêncio, gritavam tanto como ela gritara.
Inconscientemente, como se quisesse dar-lhe a entender que a compreendia, como se fosse uma criança, Bernat aproximou uma mão do rosto de Francesca.
— Eu... — tentou dizer-lhe.
Não chegou a tocar-lhe. Quando a sua mão se aproximou dela, todos os músculos de Francesca se retesaram. Bernat desviou a mão para o seu próprio rosto e chorou.
Francesca continuou imóvel, com o olhar perdido.
Finalmente, Bernat parou de chorar, levantou-se, vestiu as calças e desapareceu pelo buraco que dava para o andar de baixo. Quando deixou de ouvir os passos dele, Francesca levantou-se e aproximou-se do baú, que constituía todo o mobiliário do quarto, para apanhar as suas roupas. Uma vez vestida, recolheu delicadamente os seus destroçados haveres, entre os quais estava a sua tão apreciada camisa de linho branca; dobrou-a com cuidado, procurando que os rasgões se ajustassem, e guardou-a no baú.
Francesca vagueava pela casa como uma alma penada. Cumpria as suas obrigações domésticas, mas fazia-o no mais absoluto silêncio, destilando uma tristeza que não tardou a apoderar-se do mais recôndito dos cantos do lar dos Estanyol.
Em numerosas ocasiões, Bernat tinha tentado desculpar-se pelo sucedido. Distante já o horror do dia do casamento, Bernat fora capaz de articular as suas mais extensas explicações: o medo da crueldade do seu senhor, as consequências que a sua recusa em obedecer teriam trazido, tanto para si próprio como para ela. E «desculpa», milhares de «desculpas» que Bernat exclamou diante de Francesca, que o olhava e, muda, escutava as palavras dele, como se esperasse pelo momento em que o discurso de Bernat, inevitavelmente, chegaria ao ponto crucial de sempre: «Teria vindo outro. Se não tivesse sido eu a fazê-lo...» Porque quando Bernat chegava a este ponto, calava-se; qualquer desculpa claudicava e a violação voltava a interpor-se entre eles como uma barreira intransponível. Os pedidos de desculpa, as justificações e os silêncios em resposta foram fechando a ferida que Bernat pretendia curar na sua mulher, e o remorso foi-se desvanecendo nos afazeres diários, até que Bernat se resignou perante a indiferença de Francesca.
Todas as manhãs, ao primeiro alvor, quando se levantava para iniciar as duras tarefas da terra, Bernat assomava à janela do quarto. Assim fizera sempre com o pai, mesmo nos últimos dias dele, e ambos se apoiavam no grosso rebordo de pedra. Observavam o céu para vaticinar o dia que os aguardava. Observavam as suas terras, férteis, nitidamente delimitadas pelos cultivos que em cada uma delas se praticava e que se estendiam pelo imenso vale que se abria aos pés da casa. Observavam os pássaros e escutavam atentamente os sons dos animais no curral no piso térreo. Eram instantes de comunhão entre pai e filho e entre ambos e as suas terras, nos escassos minutos em que o pai parecia recuperar a candura. Bernat sonhara compartilhar esses momentos com a mulher, em vez de os viver a sós, enquanto a ouvia remexer no andar de baixo, e poder contar-lhe tudo aquilo que ele próprio tinha escutado da boca do seu pai, e este da boca do pai dele, e assim sucessivamente durante gerações.
Sonhara poder contar-lhe que aquelas boas terras tinham sido em tempos livres de encargos, pertencentes aos Estanyol, e que os seus antepassados as tinham trabalhado com alegria e carinho, fazendo seus os frutos dela, sem necessidade de pagarem censos ou impostos e de prestarem homenagem a senhores soberbos e injustos. Sonhara poder partilhar com ela, sua mulher, futura mãe dos herdeiros daqueles campos, a mesma tristeza que o seu pai tinha partilhado com ele quando lhe contara as razões por que agora, trezentos anos depois, os filhos que ela parisse se tornariam servos de outra pessoa. Teria gostado de lhe contar com orgulho, como o seu pai lhe tinha contado a ele, que trezentos anos antes, os Estanyol, e muitos outros como eles, mantinham armas nas suas casas, como homens livres que eram, para acudirem,sob as ordens do conde Ramon Borrell e do seu irmão, Ermengol d'Urgell, em defesa da Catalunha velha contra as razias dos Sarracenos; teria gostado de lhe contar como, sob ordens do conde Ramon, vários Estanyol tinham feito parte do vitorioso exército que derrotara os sarracenos do califado de Córdova em Albesa, para lá de Balaguer, na planície de Urgel. O pai contava-lhe isto emocionado quando tinham tempo para isso, mas a emoção transformava-se em melancolia quando narrava a morte do conde Ramon Borrell, no ano de 1017. Segundo ele, essa morte transformara-os em servos: o filho do conde Ramon Borrell, de quinze anos de idade, sucedera ao pai; a mãe, Ermessenda de Carcassone, tornou-se regente, e os barões da Catalunha — aqueles mesmos que tinham lutado ombro a ombro com os camponeses —, seguras já as fronteiras do principado, aproveitaram o vazio de poder para extorquir os camponeses, matar os que não cediam e obter a propriedade das terras, em troca de permitir aos seus antigos donos que as cultivassem, pagando ao senhor parte dos seus frutos. Os Estanyol tinham cedido, como tantos outros, mas muitas famílias do campo tinham sido selvática e cruelmente assassinadas.
— Como homens livres que éramos — dizia-lhe o pai —, nós, camponeses, lutámos lado a lado com os cavaleiros, a pé, evidentemente, contra os mouros, mas nunca pudemos lutar contra os cavaleiros, e quando os sucessivos condes de Barcelona quiseram voltar a tomar as rédeas do principado catalão, tropeçaram numa nobreza rica e poderosa, com quem tiveram de compactuar, sempre à nossa custa. Primeiro, foram as nossas terras, as da Catalunha velha, e depois a nossa liberdade, a nossa própria vida... a nossa honra. Foram os teus avós — contava-lhe com voz trémula, sem deixar de olhar para as terras — quem perdeu a liberdade. Foi-lhes proibido abandonar os campos, foram transformados em servos, em homens amarrados aos seus senhores, a quem também permaneceriam amarrados os seus filhos, como eu, e os seus netos, como tu. A nossa vida... a tua vida está nas mãos do senhor, que faz justiça e tem direito a maltratar-nos e a ofender a nossa honra. Nem sequer nos podemos defender! Se alguém te maltratar, deverás pedir socorro ao teu senhor, para que ele exija reparação e, se a conseguir, ficará com metade dessa reparação.
Depois, invariavelmente, recitava-lhe os múltiplos direitos do senhor, direitos que tinham acabado por ficar gravados na memória de Bernat, pois nunca se atrevera a interromper o monólogo exaltado do pai. O senhor podia exigir juramento a um servo a qualquer momento. Tinha direito a cobrar uma parte dos bens do servo se este morresse sem testamento, ou quando um filho herdava; se fosse estéril; se a sua mulher cometesse adultério; se a casa se incendiasse; se a hipotecasse; se casasse com um vassalo de outro senhor e, evidentemente, se quisesse abandoná-la. O senhor podia deitar-se com a noiva na sua primeira noite; podia reclamar as mulheres para amamentarem os seus filhos, ou as filhas destas para servirem como criadas no seu castelo. Os servos estavam obrigados a trabalhar gratuitamente as terras do senhor; a contribuir para a defesa do castelo; a pagar parte dos frutos das suas culturas; a dar guarida ao senhor ou aos seus convidados nas suas casas e alimentá-los durante essa estada; a pagar por utilizar os bosques ou as terras de pasto; a utilizar, pagando antecipadamente, a forja, o forno ou o moinho do senhor, e a enviar-lhe prendas pelo Natal e outras festividades. E que dizer da Igreja? Quando o pai de Bernat fazia essa pergunta, a voz enfurecia-se-lhe ainda mais.
— Monges, frades, sacerdotes, diáconos, arcediagos, cónegos, abades, bispos — recitava —, qualquer deles é igual aos senhores feudais que nos oprimem! Proibiram até que nós, camponeses, tomássemos hábitos, para que não pudéssemos fugir das terras e, assim, perpetuássemos a nossa servidão!
»Bernat, advertia-o solenemente nas vezes em qua a Igreja se tornava o alvo da sua ira, nunca confies nos qua dizem servir a Deus. Falar-te-ão com serenidade e boas palavras, tão cultas que nem conseguirás entendê-las. Tentarão convencer-te com argumentos que só eles sabem urdir, ata se apoderarem da tua razão e da tua consciência. Apresentar-se-ão como homens bondosos, que dirão querer salvar-nos do mal e da tentação, mas na realidade a sua opinião sobre nós está escrita e todos eles, como soldados de Cristo que se proclamam, seguem com fidelidade aquilo que está nos livros. As palavras deles são meras justificações e as suas razões são idênticas às que poderias apresentar a um idiota.
— Pai — recordou-se Bernat de lhe ter perguntado numa dessas ocasiões —, que dizem os livros deles acerca de nós, camponeses?
O pai olhou os campos, até onde se confundiam cotm o céu, e aí parou, porque não queria olhar para o lugar em cujo nome falavam hábitos e sotainas.
— Dizem que somos animais, brutos, e que não somos capazes de entender o que é a cortesia. Dizem que somos horríveis, vis e abomináveis, desavergonhados e ignorantes. Dizem que somos cruéis e toscos, que não merecemos nenhuma honra porque não sabemos apreciá-la, e que só somos capazes de entender as coisas à força. Dizem que...(1)
(1) La Crestià, de Francesc Eiximenis. (N. do A.)
— Pai... E somos isso tudo?
— Filho, pelo menos é em tudo isso que querem tornar-nos.
— Mas o pai reza todos os dias, e quando a mãe morreu...
— À Virgem, filho, à Virgem. Nossa Senhora nada tem que ver com frades e sacerdotes. Podemos continuar a acreditar nela.
Bernat Estanyol teria gostado de poder voltar a debruçar-se, de manhã, no parapeito da janela, e de falar com a sua jovem mulher; contar-lhe o que o pai lhe tinha contado a ele e olhar com ela para os campos.
No que restava de Setembro e durante todo o mês de Outubro, Bernat aparelhou os bois e arou os campos, rompendo e revolvendo a dura crosta que os cobria para que o sol, o ar e o estrume renovassem a terra. Depois, com a ajuda de Francesca, semeou o cereal; ela, com um cesto, lançava as sementes, e ele, com a junta de bois, primeiro arava e depois aplanava a terra, já semeada, com uma pesada prancha de ferro. Trabalhavam em silêncio, um silêncio que só era interrompido pelos gritos que Bernat lançava aos bois e que ressoavam por todo o vale. Bernat acreditava que trabalharem juntos os aproximaria um pouco. Mas não. Francesca continuava indiferente: pegava no cesto e lançava as sementes sem sequer olhar para ele.
Chegou Novembro e Bernat dedicou-se às tarefas próprias dessa época: pastorear os porcos para a matança, acumular a lenha para a casa e para adubar a terra, preparar a horta e os campos que seriam semeados na Primavera e podar e enxertar as vinhas. Quando regressava a casa, Francesca já se tinha ocupado das tarefas domésticas, da horta e das galinhas e coelhos. Noite após noite, servia-lhe o jantar em silêncio e retirava-se para dormir; de manhã, levantava-se antes dele, e quando Bernat descia, encontrava na mesa o pequeno-almoço e a trouxa com o almoço. Enquanto comia, ouvia-a cuidar dos animais no estábulo.
O Natal passou como um suspiro e em Janeiro terminou a apanha da azeitona. Bernat não tinha muitas oliveiras, mas apenas as necessárias para cobrir as necessidades da casa e para pagar as rendas ao senhor.
Depois, Bernat tratou da matança do porco. Em vida do seu pai, os vizinhos, que raramente iam a casa dos Estanyol, nunca faltavam no dia da matança. Bernat recordava-se desses dias como de verdadeiras festas; matavam-se os porcos e depois comia-se e bebia-se, enquanto as mulheres preparavam a carne.
Os Esteve, pai, mãe e dois dos irmãos, apareceram certa manhã. Bernat saudou-os no terreiro diante da casa; Francesca esperava atrás dele.
— Como estás, filha? — perguntou-lhe a mãe. Francesca não respondeu, mas deixou-se abraçar. Bernat observou a cena: a mãe, ansiosa, estreitava a filha nos braços, esperando que esta a rodeasse com os seus. Mas ela não o fez. Permaneceu imóvel. Bernat dirigiu o olhar para o sogro.
— Francesca — limitou-se a dizer Pere Esteve, com o olhar perdido mais para além da rapariga.
Os irmãos saudaram-na levantando uma mão. Francesca dirigiu-se à pocilga, para ir buscar o porco; os outros ficaram no terreiro. Ninguém falou; apenas um soluço sufocado da mãe rompeu o silêncio. Bernat sentiu-se tentado a consolá-la, mas absteve-se, ao ver que nem o marido nem os filhos o faziam.
Francesca apareceu com o cevado, que resistia a segui-la como se soubesse que destino ia ter, e entregou-o ao marido com o mesmo mutismo habitual. Bernat e os dois irmãos de Francesca obrigaram o porco a deitar-se e sentaram-se em cima dele. Os guinchos agudos do animal ressoavam por todo o vale dos Estanyol. Pere Esteve degolou-o com um golpe certeiro e todos esperaram em silêncio enquanto o sangue do animal caía nos alguidares que as mulheres iam mudando à medida que se enchiam. Ninguém olhava para ninguém.
Nem sequer tomaram um copo de vinho enquanto mãe e filha trabalhavam o porco, já esquartejado.
Ao anoitecer, terminada a tarefa, a mãe tentou de novo abraçar a filha. Bernat observou a cena, esperando uma reacção por parte da sua mulher. Não houve nenhuma. O pai e os irmãos despediram-se dela com os olhos postos no chão. A mãe aproximou-se de Bernat.
— Quando te parecer que a criança está para chegar — disse-lhe, afastando-o dos restantes —, manda-me chamar. Não acredito que ela o faça.
Os Esteve tomaram o caminho de regresso a casa. Nessa noite, quando Francesca subia a escada para o quarto, Bernat não pôde deixar de observar-lhe a barriga.
Em finais de Maio, no primeiro dia das colheitas, Bernat contemplou os seus campos com a foice ao ombro. Como iria ele recolher sozinho todo aquele cereal? Desde há quinze dias que proibira Francesca de fazer qualquer esforço, porque já sofrera dois desmaios. Ela escutara as ordens em silêncio e obedecera. Porque lho tinha ele proibido? Bernat voltou a olhar para os imensos campos que o esperavam. No fim de contas, perguntava-se, e se o filho não fosse seu? As mulheres pariam no campo, enquanto trabalhavam, mas depois de a ver cair, uma e outra vez, não conseguira deixar de se preocupar.
Bernat agarrou a foice e começou a segar com força. As espigas saltavam no ar. O sol alcançou o meio-dia. Bernat nem sequer parou para comer. O campo era imenso. Sempre tinha segado acompanhado pelo pai, mesmo quando este já estava mal. O cereal parecia fazê-lo reviver. «Dá-lhe, filho!», animava-o. «Não podemos esperar que uma tempestade ou o granizo o destruam.» E segavam. Quando um estava cansado, procurava apoio no outro. Comiam à sombra e bebiam bom vinho, do do seu pai, do envelhecido, e conversavam e riam e... agora só ouvia o silvar da foice a cortar o vento e a golpear a espiga; nada mais; a foice, a foice, a foice, que parecia lançar ao ar interrogações acerca da paternidade daquele futuro filho.
Durante os dias seguintes, Bernat continuou a segar até ao pôr do Sol; em alguns dias, trabalhou mesmo à luz do luar. Quando regressava a casa, encontrava o jantar na mesa. Lavava-se na manjedoura e comia com vontade. Até que uma noite, o berço que construíra durante o Inverno, quando a gravidez de Francesca já era evidente, se mexeu. Bernat deu-se conta disso pelo canto do olho, mas continuou a comer a sopa. Francesca dormia no andar de cima. Bernat voltou a olhar para o berço. Mais uma colherada de sopa, duas, três. O berço voltou a mexer-se. Bernat ficou a olhar para o berço, com a quarta colherada de sopa suspensa no ar.
Esquadrinhou o resto da sala, procurando algum sinal da presença da sogra... Mas não. Ela dera à luz sozinha... E fora-se deitar.
Pousou a colher e levantou-se, mas antes de chegar perto do berço, parou, deu meia-volta e tornou a sentar-se. As dúvidas acerca daquele filho caíram sobre ele com mais força do que nunca. «Todos os Estanyol têm um sinal junto ao olho direito», dissera-lhe o pai. Ele tinha-o, e o pai também. «O teu avô também o tinha», assegurara-lhe, «e também o pai do teu avô.»
Bernat estava esgotado: trabalhara de sol a sol. Durante muitos dias o fizera. Voltou a olhar para o berço.
Levantou-se de novo e aproximou-se da criatura. Dormia placidamente, com as mãozinhas abertas, coberta por um lençol feito com os trapos de uma camisa branca de linho. Bernat deu a volta ao bebé para lhe ver o rosto.
Francesca nem sequer olhava para o menino. Aproximava o bebé — a quem deram o nome de Arnau — a um dos seios, e depois a outro. Mas não olhava para ele. Bernat vira as camponesas darem de mamar aos seus filhos e, desde a mais remediada à mais humilde, todas esboçavam um sorriso, ou deixavam fechar-se-lhes os olhos, ou acariciavam os filhos enquanto os amamentavam. Francesca, não. Limpava-o e amamentava-o, mas, nos dois meses de vida que já tinha, o filho de Bernat nunca ouvira a mãe falar-lhe com ternura, nunca a vira brincar com ele, levantar-lhe as mãozitas, mordiscar, beijar ou, simplesmente, fazer-lhe uma festa. Que culpa tem ele, Francesca?, pensava Bernat quando pegava em Arnau nos seus braços. Então, levava-o para longe da mãe, para onde podia acariciá-lo e falar-lhe, a salvo da frieza de Francesca.
Porque o filho era dele. «Todos nós, Estanyol, o temos»! dizia Bernat para consigo quando beijava o sinal que Arnau exibia junto à sobrancelha direita. «Todos nós o temos, pai», repetia depois, levantando o menino para o céu.
Esse sinal depressa se tornou algo mais que um motivo de tranquilidade para Bernat. Quando Francesca ia aa castelo para cozer o pão no forno, as mulheres levantavam a manta que cobria Arnau para o verem. Francesca deixava-as fazê-lo e depois sorriam entre si diante do forno e dos soldados. E quando Bernat ia trabalhar as terras do senhor, os camponeses davam-lhe palmadas nas costas e felicitavam-no, mesmo diante do aguazil que vigiava os trabalhos.
Muitos eram os filhos bastardos de Llorenç de Bellera, mas nunca uma reclamação dera frutos; a palavra dele impunha-se perante a de qualquer ignorante camponesa, embora depois, entre os seus, não deixasse de fazer alarde da sua virilidade. Era evidente que Arnau Estanyol não era seu filho, e o senhor de Navarcles começou a notar sorrisos mordazes nas camponesas que vinham ao castelo; dos seus aposentos, via que cochichavam entre elas, e mesmo com os soldados, sempre que encontravam a mulher de Estanyol. O rumor estendeu-se para além do círculo dos camponeses, e Llorenç de Bellera tornou-se alvo dos gracejos dos seus iguais.
— Come, Bellera — disse-lhe sorridente um barão de visita ao castelo. — Chegou-me aos ouvidos que precisas de ganhar forças.
Todos os presentes à mesa do senhor de Navarcles fizeram coro nos risos dessa ocorrência.
— Nas minhas terras — comentou outro — não permito que nenhum camponês ponha em dúvida a minha virilidade.
— Porventura proíbes os sinais? — replicou o primeiro, já sob os efeitos do vinho, e dando azo a sonoras gargalhadas, a que Llorenç de Bellera respondeu com um sorriso forçado.
Aconteceu no início de Agosto. Arnau estava no seu berço, à sombra de uma figueira, no pátio de entrada da casa; a mãe trabalhava entre a horta e os currais, e o pai sempre de olhos postos no berço de madeira, obrigava os bois a pisarem uma e outra vez os cereais que espalhara pela eira, para que as espigas soltassem o precioso grão que os alimentaria durante todo o ano.
Não os ouviram chegar. Três cavaleiros irromperam a galope pela quinta: o aguazil de Llorenç de Bellera e outros dois homens, armados e montados em imponentes animais criados especialmente para guerrear. Bernat percebeu que os cavalos não estavam armados como nas cavalgadas ordenadas pelo seu senhor. Provavelmente, não tinham considerado necessário armá-los para intimidar um simples camponês. O aguazil manteve-se um pouco afastado, mas os outros dois, já a passo, esporearam as suas montadas para o local onde se encontrava Bernat. Os cavalos, treinados para a guerra, não hesitaram, e lançaram-se sobre ele. Bernat retrocedeu, aos tropeções, até que caiu por terra, muito perto dos cascos dos inquietos animais. Só então os cavaleiros deram ordens para que parassem.
— O teu senhor — gritou o aguazil —, Llorenç de Bellera, reclama os serviços da tua mulher para amamentar Don Jaume, filho da tua senhora, Dona Catarina. — Bernat tentou levantar-se, mas um dos cavaleiros voltou a esporear o cavalo. O aguazil dirigiu-se para onde se encontrava Francesca. — Pega no teu filho e acompanha-nos! — ordenou.
Francesca tirou Arnau do berço e começou a caminhar cabisbaixa, atrás do cavalo do aguazil. Bernat gritou e tentou pôr-se de pé, mas antes que o conseguisse, um dos cavaleiros lançou o cavalo contra ele e derrubou-o. Tentou de novo, por várias vezes, e sempre com o mesmo resultado: os dois cavaleiros brincavam com ele, perseguindo-o e derrubando-o, enquanto riam. Por fim, cambaleando e ferido, ficou estendido no chão, junto às patas dos animais, que não paravam de morder os freios. Quando o aguazil se perdeu na distância, os dois soldados deram meia-volta e esporearam as suas montadas.
Quando o silêncio tornou a cair sobre a casa, Bernat olhou para o rasto de poeira que os cavaleiros deixavam atrás de si, e depois dirigiu o olhar para os bois, que pastavam nas espigas que tinham pisado repetidamente.
Desde esse dia, Bernat passou a tratar mecanicamente dos animais e dos campos, com os pensamentos fixos no filho. De noite, vagueava pela casa, recordando aquele sussurro infantil que lhe falava de vida e de futuro, o ranger da madeira do berço quando Arnau se mexia, o choro agudo com que reclamava a comida. Tentava cheirar, nas paredes da casa, em todos os recantos, o aroma de inocência do seu filho. Onde dormiria agora? Ali estava o berço, aquele berço que fizera com as suas próprias mãos. Quando conseguia conciliar o sono, era o silêncio que o fazia acordar. Então, Bernat encolhia-se sobre o colchão e deixava passar as horas, tendo por única companhia os sons dos animais no piso térreo.
Bernat acorria regularmente ao castelo de Llorenç de Bellera, para cozer o pão que agora Francesca não lhe trazia, encerrada e à disposição de Dona Catarina e do caprichoso apetite do filho desta. O castelo — como lhe contara o pai quando ambos tinham tido de lá ir — não fora, inicialmente, mais do que uma torre de vigia no cimo de um pequeno promontório. Os antecessores de Llorenç de Bellera tinham aproveitado o vazio de poder que se seguira à morte do conde Ramon Borrel para fortificarem, a expensas do trabalho ds camponeses e das suas cada vez mais extensas terras. Em redor da torre de menagem, ergueram-se, sem ordem nem harmonia, o forno, a forja, umas cavalariças novas e maiores, celeiros, cozinhas e aposentos.
Castelo de Llorenç de Bellera distava mais de uma légua da casa dos Estanyol. Das primeiras vezes, Bernat não conseguiu obter notícias do filho. Perguntasse a quem perguntasse, a resposta era sempre a mesma: a sua mulher e o seu filho estavam nos aposentos privados de Dona Catarina. A única diferença residia em que, ao responder-lhe, uns riam cinicamente, e outros baixavam os olhos como se não quisessem enfrentar o pai da criatura. Bernat suportou as desculpas durante um longo mês, até que, um dia em que saía do forno com dois pães de farinha de fava, deu com um dos esquálidos aprendizes da forja, a quem já algumas vezes interrogara sobre o seu filho.
- Que sabes do meu Arnau? – perguntou-lhe.
Não havia ninguém à vista. O rapaz tentou esquivar-se, como se não tivesse ouvido, mas Bernat agarrou-o pelo braço.
- Perguntei-te o que sabes do meu Arnau.
- A tua mulher e o teu filho… - começou o rapaz a recitar, com os olhos no chão.
- Já sei onde estão – interrompeu-o Bernat. - O que te pergunto é se o meu Arnau está bem.
O rapaz, ainda de olhos baixos, remexeu os pés sobre a areia do chão. Bernat sacudiu-o.
- Ele está bem?
O aprendiz não levantava os olhos, e a atitude de Bernat tornou-se violenta.
- Não! – gritou o rapaz. Bernat cedeu, para o encarar.
- Não – repetiu. S olhos de Bernat interrogavam-no.
- Que se passa com o menino?
- Não posso…Temos ordens para não te dizer...- a voz do rapaz esmorecia.
- Que se passa com o meu filho? Que se passa? Responde-me!
- Não posso. Não podemos…
- Isto far-te-ia mudar de opinião? – perguntou, aproximando um pão do rapaz. Seus olhos do aprendiz arregalaram-se. Sem responder, arrancou o pão das mãos de Bernat e trincou-o como se não comesse havia vários dias. Bernat arrastou-o para onde ficassem ao abrigo de olhares.
- Que se passa com o meu Arnau? – inquiriu com ansiedade.
O rapaz olhou-o, de boca cheia, e fez-lhe sinal para que o seguisse. Avançaram às escondidas, colados às paredes, até à forja. Fecharam as portas e dirigiram-se para a parte traseira. O rapaz abriu a portinhola de um cubículo anexo à forja, onde se guardavam ferramentas e materiais, e entrou, seguido por Bernat. Assim que entrou, o rapaz sentou-se no chão e atacou o pão. Bernat perscrutou o interior do aposento. Fazia um calor sufocante. Não viu nada que pudesse fazê-lo entender por que razão o rapaz o levara ali no chão só havia ferramentas e ferros velhos.
Bernat interrogou o rapaz com o olhar. Este, que mastigava com gosto, respondeu apontando-lhe uma das esquinas do aposento, e, com os gestos, instou-o a dirigir-se lá.
Sobre uns troncos de madeira, abandonado e desnutrido, numa grande cesta de esparto rasgada, encontrava-se menino, à espera da morte. A branca camisa de linho estava suja e esfarrapada. Bernat não conseguiu sufocar o grito que se gerou dentro de si. Foi um grito surdo, um soluço quase inumano. Agarrou Arnau e apertou-o contra si. A criança respondeu debilmente, muito debilmente, mas fê-lo.
— O senhor ordenou que o teu filho permanecesse aqui — ouviu o aprendiz a dizer-lhe. — No princípio, a tua mulher vinha aqui várias vezes por dia e acalmava-o, dando-lhe de mamar — Bernat, com lágrimas nos olhos, apertava o pequeno corpinho contra o peito, tentando insuflar-lhe vida.
— Primeiro, foi o aguazil — prosseguiu o rapaz. — A tua mulher resistiu e gritou... Eu vi, porque estava na forja — apontou para uma abertura nas tábuas de madeira da parede.
— Mas o aguazil é muito forte... Quando acabou, entrou o senhor, acompanhado por alguns soldados. A tua mulher estava caída no chão, e o senhor começou a rir-se dela. Depois, riram-se todos. A partir de então, cada vez que a tua mulher vinha amamentar o teu filho, os soldados esperavam-na junto à porta. Ela não se podia opor. Desde há alguns dias que já mal cá vem. Os soldados... qualquer um deles, apanham-na assim que sai dos aposentos de Dona Catarina. E já não tem tempo para vir aqui. Às vezes, o senhor vê-os, mas a única coisa que faz é rir-se.
Sem pensar duas vezes, Bernat levantou a camisa e meteu debaixo dela o corpito do filho; depois, sobre a camisa, disfarçou o vulto com o pão que lhe restava. O pequenito nem se mexeu. O aprendiz levantou-se bruscamente, enquanto Bernat se aproximava da porta.
— O senhor proibiu. Não podes!
— Larga-me, rapaz!
O jovem tentou antecipar-se. Bernat não hesitou. Segurando com uma mão o pão e o pequeno Arnau, agarrou com a outra uma barra de ferro que estava pendurada na parede e voltou-se com um movimento desesperado. A barra atingiu o rapaz na cabeça precisamente no momento em que este ia a sair do cubículo. O rapaz caiu no chão sem ter tempo de pronunciar uma palavra. Bernat nem sequer olhou para ele. Limitou-se a sair e fechar a porta atrás de si.
Não teve qualquer problema em sair do castelo de Llorenç de Bellera. Ninguém poderia imaginar que, debaixo do pão, Bernat levava o corpo magro do seu filho. Só depois de ter passado pela porta do castelo pensou em Francesca e nos soldados. Indignado, recriminou-a mentalmente por ela não ter sequer tentado comunicar com ele, avisá-lo do perigo que o filho corria, que não tivesse lutado por Arnau... Bernat apertou o corpo do filho e pensou na mãe, que era violada pelos soldados enquanto Arnau esperava a morte deitado sobre uns troncos de madeira ascorosos.
Quanto tempo demorariam a dar com o rapaz que ele tinha derrubado? Estaria morto? Tinha fechado a porta do cubículo? As perguntas assaltavam Bernat enquanto percorria o caminho de regresso. Sim, fechara-a. Recordava-se vagamente de o ter feito.
Assim que dobrou a primeira esquina do caminho serpenteante que levava ao castelo e este desapareceu momentaneamente da sua vista, Bernat destapou o filho; os olhos de Arnau, apagados, pareciam perdidos. Pesava menos que o pão! Os seus bracinhos e pernas... Revolveu-se-lhe o estômago e fez-se-lhe um nó na garganta. As lágrimas começaram a correr-lhe. Disse a si próprio que não era o momento para chorar. Sabia que os perseguiriam, que lhes lançariam
os cães, mas... de que lhe servia fugir, se o menino não sobreviveria? Bernat afastou-se do caminho e escondeu-se atrás de urts matagais. Ajoelhou-se, deixou o pão no chão e agarrou Arnau com ambas as mãos, para o erguer até ao, rosto. A criança permaneceu inerte diante dos seus olhos, com a cabecita caída, pendurada. «Arnau!», sussurrou Bernat. Sacudiu-o com suavidade, uma e outra vez. Os olhitos da criança moveram-se, para olhar para ele. Com o rosto cheio de lágrimas, Bernat deu-se conta de que o menino nem sequer tinha forças para chorar. Deitou-o sobre um dos braços, esmigalhou um pedacinho de pão, molhou-o com saliva e aproximou-o da boca da criança. Arnau não reagiu, mas Bernat insistiu até que conseguiu meter-lho na pequena boca. Esperou. «Engole, meu filho», suplicou-lhe. Os lábios de Bernat tremeram perante uma quase imperceptível contracção da garganta de Arnau. Esmagou mais pão e repetiu com ansiedade a operação. Arnau tornou a engolir, e fê-lo mais sete vezes.
— Vamos sair desta — disse-lhe. — Prometo-te. Bernat regressou ao caminho. Continuava tudo calmo. Decerto ainda não tinham descoberto o rapaz; caso contrário, teria ouvido algazarra. Por um momento, pensou em Llorenç de Bellera: cruel, ruim, implacável. Que satisfação lhe daria dar caça a um Estanyol!
— Havemos de sair desta, Arnau — repetiu, desatando a correr em direcção a casa.
Percorreu o caminho sem olhar para trás. Nem sequer quando chegou se permitiu um momento de descanso; deixou Arnau no berço, agarrou num saco e encheu-o de trigo moído e de legumes secos, uma bexiga cheia de água e outra cheia de leite, carne salgada, uma escudela, uma colher e roupa, algum dinheiro que tinha escondido, uma faca de caça e a sua balestra... Que orgulho tinha o pai nesta balestra, pensou, enquanto a sopesava. Lutou ao lado do conde Ramon Borrell quando os Estanyol eram livres, repetia-lhe sempre que o ensinava a usá-la. Livres! Bernat atou o menino ao peito e carregou tudo o resto. Seria sempre um servo, a não ser que...
— Por agora, seremos fugitivos — disse ao filho, antes de se lançar para o monte. — Ninguém conhece estes montes melhor que os Estanyol — assegurou-lhe, já no meio das árvores. — Sempre caçámos nestas terras, sabes? — Bernat avançou por entre a folhagem até chegar a um riacho, meteu-se nele com a água até aos joelhos e começou a subir o seu curso. Arnau fechara os olhos e dormia, mas Bernat continuava a falar com ele. — Os cães do senhor não são muito rápidos, maltrataram-nos demasiado. Chegaremos até lá acima, onde o bosque se adensa e se torna difícil andar a cavalo. Os senhores só caçam a cavalo, nunca chegam a esta zona. Rasgariam as suas vestes. E os soldados... Para que haviam de vir caçar para aqui? Com a comida que nos roubam, têm que lhes chegue. Vamos esconder-nos, Arnau. Ninguém conseguirá encontrar-nos, juro-te — Bernat acariciou a cabeça do filho enquanto continuava a subir contra a corrente.
A meio da tarde, fez uma paragem. O bosque tornara-se tão frondoso que as árvores invadiam as margens do riacho e cobriam por completo o céu. Sentou-se sobre uma rocha e olhou para as pernas, brancas e enrugadas pela água. Só então notou a dor, mas não se importou. Desfez-se da carga e desatou Arnau. O menino abrira os olhos. Diluiu leite em agua e adicionou-lhe trigo moído, remexeu a mistura e aproximou a escudela dos lábios do pequenito. Arnau rejeitou-a, com um esgar. Bernat limpou um dedo no riacho, molhou-o na comida e tentou de novo. Depois de várias tentativas, Arnau correspondeu e permitiu que o pai o alimentasse com o dedo; depois, fechou os olhos e adormeceu. Bernat comeu apenas um pouco de carne salgada. Teria gostado de descansar um pouco, mas ainda lhe faltava uma boa distância.
A gruta dos Estanyol, como lhe chamava o seu pai. Chegaram lá quando já tinha anoitecido, depois de terem feito outra paragem para que Arnau comesse. Entrava-se na gruta por uma estreita fenda aberta nas rochas, que Bernat, o seu pai e também o seu avô fechavam por dentro com troncos, para dormirem ao abrigo do mau tempo e dos animais, quando saíam para caçar.
Acendeu um fogo à entrada da gruta e entrou nela com uma acha, para se assegurar de que não estivesse a ser ocupada por algum animal; depois, acomodou Arnau sobre um colchão improvisado com o saco e com ramos secos, e voltou a dar-lhe de comer. O pequenito aceitou o alimento e caiu num sono profundo, tal como Bernat, que nem sequer foi capaz de comer a carne salgada. Ali estariam a salvo do senhor, pensou, antes de fechar os olhos e compassar a sua respiração com a do filho.
Llorenç de Bellera saiu a galope desenfreado com os seus homens, assim que o mestre da forja encontrou o aprendiz, morto no meio de um charco de sangue. O desaparecimento de Arnau e o facto de o pai ter sido visto no castelo apontaram imediatamente para a culpa de Bernat. O senhor de Navarcles, que esperava montado a cavalo em frente à porta da casa dos Estanyol, sorriu quando os seus homens lhe disseram que o interior estava remexido e que, ao que parecia, Bernat tinha fugido com o filho.
— Depois da morte do teu pai, ainda te livraste — vociferou mas agora será tudo meu. Procurem-no! — gritou aos homens. Depois, virou-se para o aguazil: — Faz uma relação de todos os bens, haveres e animais desta propriedade e trata de que não falte nem uma libra de cereal. Depois, procura Bernat.
Ao fim de vários dias, o aguazil compareceu diante do seu senhor, na torre de menagem do castelo:
— Procurámos em todas as outras quintas, nos bosques e nos campos. Não há nem rasto de Estanyol. Deve ter fugido para alguma cidade, talvez para Manresa, ou...
Llorenç de Bellera mandou-o calar com um gesto da mão.
— Acabará por cair. Manda aviso a todos os outros senhores e aos nossos agentes nas cidades. Diz-lhes que fugiu um servo das minhas terras e que deve ser detido. — Nesse momento, apareceram Francesca e Dona Catarina, com Jaume, o filho desta, nos braços da primeira. Llorenç de Bellera observou-a e fez um gesto sacudido; já não precisava dela. — Senhora — disse para a mulher —, não compreendo como permitis que uma meretriz amamente o meu filho. — Dona Catarina estremeceu. — Acaso não sabeis que a vossa ama é a mulher de toda a soldadesca?
Dona Catarina arrancou o filho dos braços de Francesca.
Quando Francesca soube que Bernat tinha fugido com Arnau, interrogou-se sobre o que seria feito do filho. As terras e propriedades dos Estanyol pertenciam agora ao senhor de Bellera. Não tinha a quem pedir ajuda e, entretanto, os soldados continuavam a aproveitar-se dela. Um pedaço de pão duro, uma verdura podre, por vezes algum osso para roer: tal era o preço do seu corpo.
Nenhum dos numerosos camponeses que iam ao castelo se dignou sequer a olhar para ela. Francesca tentou aproximar-se de alguns, mas afastaram-na. Não se atreveu a regressar a casa dos pais, porque a mãe a repudiara publicamente, diante do forno do pão, e assim se viu obrigada a permanecer na proximidade do castelo, como mais um dos muitos mendigos que se aproximavam das muralhas para procurar por entre o lixo. O seu único destino parecia ser o de ir passando de mão em mão, a troco das sobras do rancho do soldado que a tivesse escolhido nesse dia.
Chegou Setembro. Bernat já vira o filho sorrir e gatinhar pela gruta e pelos arredores. No entanto, as provisões começavam a escassear, e o Inverno estava a chegar. Chegara o momento de partir.
A cidade estendia-se aos seus pés.
— Olha, Arnau — disse Bernat ao menino, que dormia placidamente encostado ao seu peito —, Barcelona. Ali seremos livres.
Desde a sua fuga com Arnau, Bernat não parara de pensar naquela cidade, grande esperança de todos os servos. Bernat ouvira falar dela sempre que iam trabalhar nas terras do senhor, ou reparar as muralhas do castelo, ou fazer qualquer outro trabalho de que o senhor necessitasse. Sempre cuidadosos para que os soldados e o aguazil não os ouvissem, esses sussurros nunca tinham despertado em Bernat mais do que simples curiosidade. Era feliz nas suas terras e nunca abandonaria o pai. E também não poderia fugir com ele. No entanto, depois de ter perdido as suas terras, quando, durante a noite via dormir o filho, no interior da gruta dos Estanyol, aqueles comentários tinham começado a ganhar vida, até ecoarem no interior da gruta.
«Se se consegue viver lá durante um ano e um dia sem se ser detido pelo senhor», lembrava-se de ter ouvido, «ganha-se a carta de vizinhança e alcança-se a liberdade.» Nessa ocasião, todos os servos tinham guardado silêncio. Bernat olhara-os: alguns tinham os olhos fechados e os lábios cerrados, outros faziam que não com a cabeça, e os restantes sorriam, olhando para o céu.
— E apenas é preciso viver na cidade? — rompera o silêncio um rapaz, um dos que tinha olhado para o céu, sonhando certamente com poder quebrar as cadeias que o amarravam à terra. — Porque se pode ganhar a liberdade em Barcelona?
O mais idoso respondera-lhe, pausadamente:
— Sim, não é preciso nada mais. Basta viver lá durante esse tempo. — O rapaz, com os olhos brilhantes, instara-o a continuar. — Barcelona é muito rica. Durante muitos anos, desde Jaime, o Conquistador, até Pedro, o Grande, os reis pediram dinheiro à cidade para as suas guerras ou para as suas cortes. Durante todos esses anos, os cidadãos de Barcelona concederam esses dinheiros, mas em troca de privilégios especiais, até que o próprio Pedro, o Grande, em guerra com a Sicília, os resumiu num código... — O velho titubeara: — Kecognoverunt próceres, creio que assim se chama. É aí que diz que podemos alcançar a liberdade. Barcelona precisa de trabalhadores, de trabalhadores livres.
No dia seguinte, aquele rapaz não aparecera à hora marcada pelo senhor. E também não o fez no dia seguinte. O pai, em contrapartida, continuava a trabalhar, em silêncio. Ao fim de três meses, tinham-no trazido, agrilhoado, caminhando diante de um chicote; no entanto, todos supuseram ver no seu olhar uma centelha de orgulho.
Do alto da serra de Collserola, na antiga via romana que unia Ampurias a Tarragona, Bernat contemplou a liberdade... e o mar! Jamais vira, nem imaginara, aquela imensidão que parecia não ter fim. Sabia que para além daquele mar existiam terras catalãs, porque assim diziam os mercadores, mas... era a primeira vez que encontrava algo de que não podia ver o fim. «Por detrás daquela montanha... Depois de atravessar aquele rio...» Sempre pudera apontar um local, indicar um ponto a um estrangeiro que perguntasse... Mirou o horizonte que se unia com as águas. Permaneceu uns instantes com o olhar fixo na distância, enquanto acariciava a cabeça de Arnau, aqueles cabelos rebeldes que lhe tinham crescido enquanto tinham estado no monte.
Depois, dirigiu o olhar para onde o mar se fundia com a terra. Cinco navios destacavam-se na orla, junto ao ilhote de Maians. Até esse dia, Bernat apenas vira desenhos de barcos. A sua direita elevava-se a montanha de Montjuic, também aflorando o mar; aos seus pés, campos e planícies e, depois, Barcelona. Do centro da cidade, onde se elevava o mons Taber, um pequeno promontório, centenas de construções derramavam-se em redor; algumas baixas, engolidas pelas suas vizinhas, e outras majestosas: palácios, igrejas, mosteiros... Bernat perguntava-se quantas pessoas viveriam ali. Porque de repente Barcelona acabava. Era como uma colmeia rodeada de muralhas, a não ser pelo lado do mar, e para lá das muralhas eram apenas campos. Quarenta mil pessoas, ouvira dizer.
— Como nos vão encontrar, entre quarenta mil pessoas? — murmurou olhando para Arnau. — Serás livre, filho.
Ali poderiam esconder-se. Procuraria a irmã. Mas Bernat sabia que antes disso teria de cruzar as portas. E se o senhor de Bellera tivesse dado a sua descrição? Aquele sinal... Pensara nisso ao longo de três noites de caminho desde o monte. Sentou-se no chão e agarrou numa lebre que caçara com a balestra. Degolou-a e deixou que o sangue caísse na palma da mão, onde tinha um pequeno monte de areia. Remexeu o sangue e a areia, e quando a mistura começou a secar,
espalhou-a sobre o olho direito. Depois, guardou a lebre no saco.
Quando notou que a pasta estava seca e não podia abrir o olho, começou a descida em direcção ao portão de Santa Anna, na parte mais setentrional da muralha ocidental. Agi pessoas faziam fila no caminho de acesso à cidade. Bernat juntou-se à fila, arrastando os pés, com discrição, sem deixar de acariciar o menino, que já estava acordado. Um camponês descalço e encolhido sob um enorme saco de nabos voltou a cabeça para ele. Bernat sorriu-lhe.
— Lepra! — gritou o camponês, deixando cair o saco e afastando-se de um salto do caminho.
Bernat viu como toda a fila, até à porta, desaparecia para as bermas do caminho, uns para um lado, outros para o outro; afastaram-se dele e deixaram o acesso à cidade pejado de objectos, comida, diversas carroças e algumas mulas. E, no' meio de tudo isto, os cegos que costumavam pedir junto ao portal de Santa Anna agitavam-se, por entre gritos.
Arnau começou a chorar, e Bernat viu que os soldados desembainhavam as espadas e fechavam as portas.
— Vai para a leprosaria! — gritou-lhe alguém de longe.
— Não é lepra! — protestou Bernat. — Espetei um galho no olho! Olhem! — Ergueu as mãos e mostrou-as. Depois, pousou Arnau no chão e começou a despir-se — Olhem! — repetiu, mostrando todo o seu corpo, forte, inteiro e sem mácula, sem uma única chaga ou sinal. — Olhem! Sou apenas um camponês, mas necessito de um médico que me trate deste olho; senão não poderei continuar a trabalhar.
Um dos soldados aproximou-se dele. O oficial teve de o empurrar com a espada. Parou a uns passos de Bernat e observou-o.
— Vira-te — indicou-lhe, fazendo um sinal com os dedos. Bernat obedeceu. O soldado virou-se para o oficial e fez que não com a cabeça. Da porta, com uma espada, fizeram um sinal indicando o vulto que estava aos seus pés.
— E a criança?
Bernat agachou-se para apanhar Arnau. Destapou-o, com a parte direita da cara do menino encostada ao peito, e mostrou-o na horizontal, como se o oferecesse, segurando-o pela cabeça; com os dedos, tapou o sinal.
O soldado voltou a fazer sinal que não, olhando para a porta.
— Tapa essa ferida, camponês — disse-lhe. — Caso contrário, não conseguirás dar um passo na cidade.
As pessoas regressaram ao caminho. As portas de Santa Anna abriram-se de novo e o camponês dos nabos recolheu o seu saco sem olhar para Bernat.
Este cruzou o portal com o olho direito tapado por uma camisa de Arnau. Os soldados seguiram-no com o olhar, mas agora, como poderia não chamar a atenção, com uma camisa a tapar-lhe metade do rosto? Deixou a colegiada de Santa Anna à esquerda e continuou a andar atrás das pessoas que entravam pela cidade. Virando à direita, chegou à Praça de Santa Anna. Caminhava cabisbaixo... Os camponeses começaram a dispersar pela cidade; os pés descalços, as alcofas e as cestas foram desaparecendo e Bernat deu consigo a olhar para umas pernas cobertas com meias de seda de cor vermelha como o fogo e que terminavam nuns sapatos verdes de tecido fino, sem sola, ajustados aos pés e terminados em ponta, com um bico tão longo que dele saía uma correiazinha de ouro que se abraçava ao tornozelo.
Sem pensar, levantou o olhar e deparou com um homem usando um chapéu largo. Exibia uma veste negra debruada com fios de prata e ouro, um cinturão também bordado a ouro e colares de pérolas e pedras preciosas. Bernat ficou a olhar para ele de boca aberta. O homem virou-se para o jovem, mas dirigiu o olhar para mais além, como se ele não existisse.
Bernat titubeou, tornou a baixar os olhos e suspirou aliviado, ao ver que o outro não lhe prestara a menor atenção. Percorreu a rua até à catedral, que estava em construção, e pouco a pouco começou a levantar a cabeça. Ninguém olhava para ele. Durante um longo momento ficou a observar como trabalhavam os peões da sé: picavam pedra, deslocavam-se pelos altos andaimes que a rodeavam, levantavam enormes blocos de pedra com polés... Arnau reclamou a sua atenção com um ataque de choro.
— Bom homem — disse a um operário que passava perto dele —, como posso encontrar o bairro dos oleiros? — A sua irmã, Guiamona, casara com um deles.
— Segue por esta mesma rua — respondeu-lhe o homem, apressadamente —, até que chegues à próxima praça, de Sant Jaume. Aí verás uma fonte; vira à direita e continua até chegares à muralha nova, ao portão da Boquería. Não saias para o Raval. Prossegue junto à muralha em direcção ao mar até ao portão seguinte, o de Trentaclaus. Aí fica o bairro dos oleiros.
Bernat tentou em vão assimilar todos aqueles nomes, mas quando ia voltar a perguntar, o homem já tinha desaparecido.
— Segue por esta mesma rua até à Praça de Sant Jaume — repetiu para Arnau. — Disso lembro-me. E uma vez chegados à praça, voltamos a virar à direita, disso também nos lembramos, não é verdade, meu filho?
Arnau parava de chorar sempre que ouvia a voz do pai.
— E agora? — disse em voz alta. Encontrava-se numa nova praça, a de Sant Miquel. — Aquele homem só falou de uma praça, mas não nos podemos ter enganado. — Bernat tentou perguntar a um par de pessoas, mas nenhuma se deteve. — Todos têm pressa — comentou para Arnau, precisamente quando viu um homem parado em frente à entrada de... um castelo? — Aquele ali não parece ter pressa; talvez... Bom homem... — chamou, por detrás do homem, tocando--lhe na capa negra.
Até Arnau, fortemente agarrado ao seu peito, se sobressaltou quando o homem se virou, tal foi o susto de Bernat. O ancião judeu abanou cansadamente a cabeça. Era aquilo que as acesas prédicas dos sacerdotes cristãos conseguiam.
— Diz-me — respondeu-lhe.
Bernat não conseguia afastar o olhar da rodela vermelha e amarela que cobria o peito do ancião. Depois, olhou para o interior daquilo que lhe parecera um castelo amuralhado. Todos os que entravam e saíam eram judeus! Todos traziam aquele sinal. Seria permitido falar com eles?
— Querias alguma coisa? — insistiu o ancião.
— Co... como se chega ao bairro dos oleiros?
— Segue sempre a direito por esta rua — indicou-lhe o ancião com um gesto da mão — e chegarás ao portal da Boquería. Continua pela muralha até ao mar, e na porta seguinte fica o bairro que procuras.
Afinal de contas, os curas só tinham avisado que não se podia ter relações carnais com eles; por isso a Igreja os obrigava a usar aquelas rodelas, para que ninguém pudesse alegar ignorância sobre a condição de qualquer judeu. Os curas falavam sempre deles com grande exaltação e, no entanto, aquele velho...
— Obrigado, bom homem — respondeu Bernat esboçando um sorriso.
— Eu é que te agradeço — respondeu-lhe o velho. — Mas daqui para a frente procura que não te vejam a falar com um de nós... e muito menos a sorrir-nos. — O velho cerrou os lábios num esgar de tristeza.
No portão da Boquería, Bernat deu com um grande grupo de mulheres que compravam carne: tripas e cabra. Durante uns instantes, observou como elas avaliavam a mercadoria e discutiam com os vendedores. «Esta é a carne que tantos problemas ocasiona ao nosso senhor», disse para o filho. Depois, riu-se ao pensar em Llorenç de Bellera. Quantas vezes o vira a tentar amedrontar os pastores e ganadeiros que abasteciam de carne a cidade condal! Mas só se atrevia a isso, a amedrontá-los com os seus cavalos e com os seus soldados; quem levasse gado para Barcelona, onde só podiam entrar animais vivos, tinha direito de pasto em todo o principado.
Bernat contornou o mercado e desceu para Trentaclaus. As ruas eram mais largas e, à medida que se aproximava do portão, observou que, diante das casas, dezenas de objectos de cerâmica secavam ao sol: pratos, malgas, panelas, jarros ou ladrilhos.
— Procuro a casa de Grau Puig — disse a um dos soldados que vigiavam o portão.
Os Puig tinham sido vizinhos dos Estanyol. Bernat recordava-se de Grau, o quarto de oito famélicos irmãos que não conseguiam encontrar nas suas escassas terras comida suficiente para todos. A mãe de Bernat gostava muito deles, porque a mãe dos Puig a ajudara a parir o próprio Bernat e a irmã. Grau era o mais desenvolto e mais trabalhador dos oito; por isso, quando Josep Puig conseguiu que um parente admitisse um dos seus filhos como aprendiz de oleiro em Barcelona, ele, com dez anos, fora o escolhido.
Mas se Josep Puig não podia alimentar a família, dificilmente ia poder pagar as duas quartas de trigo branco e os dez soldos que o parente lhe pedia para tomar a seu cargo Grau durante os cinco anos de aprendizagem. A isso seria preciso somar os dois soldos que Llorenç de Bellera exigira por libertar um dos seus servos, e a roupa que Grau teria de levar para os dois primeiros anos de aprendizagem — porque o mestre só se comprometia a vesti-lo durante os três últimos anos.
Por isso, o pai Puig acorreu à casa dos Estanyol, acompanhado do seu filho Grau, pouco mais velho que Bernat e a irmã. O louco Estanyol escutou a proposta de Josep Puig com atenção: se dotasse a sua filha com aquelas quantidades e as adiantasse a Grau, o seu filho casaria com Guiamona aos dezoito anos, quando já fosse oficial oleiro. O louco Estanyol olhou para Grau; em algumas ocasiões, quando a família do rapaz já não dispunha de outro recurso, tinha ido ajudá-los nos campos. Nunca pedira nada, mas regressara sempre a casa com alguma verdura ou algum cereal. Tinha confiança nele. O louco Estanyol aceitou.
Depois de cinco anos de duro trabalho como aprendiz, Grau conseguiu a categoria de oficial. Seguiu as ordens do mestre que, satisfeito com as suas qualidades, começou a pagar-lhe um soldo. Aos dezoito anos cumpriu a sua promessa e casou com Guiamona.
— Filho — disse Estanyol a Bernat —, decidi dotar de novo Guiamona. Nós somos apenas três e temos as melhores terras da região, as mais extensas e as mais férteis. Eles podem precisar desse dinheiro.
— Pai — interrompeu-o Bernat —, porque me estás a dar explicações?
— Porque a tua irmã já teve o seu dote, e tu és o meu herdeiro. Esse dinheiro pertence-te.
— Faça o que lhe parecer adequado.
Quatro anos depois, aos vinte e dois, Grau apresentou-se ao exame público que se realizava na presença de quatro cônsules da confraria. Realizou as suas primeiras obras: um jarro, dois pratos e uma escudela, sob o olhar atento daqueles homens, que lhe outorgaram a categoria de mestre, o que lhe permitia abrir a sua própria oficina em Barcelona e, claro, usar o selo distintivo dos mestres, que devia ser estampado, prevenindo possíveis reclamações, em todas as peças de cerâmica que saíssem da sua oficina. Grau, em honra do seu apelido, escolheu o desenho de uma montanha.
Grau e Guiamona, que estava grávida, instalaram-se numa pequena casa de um só piso no bairro dos oleiros, que por disposição real estava localizado no extremo ocidental de Barcelona, nas terras situadas entre a muralha construída pelo rei Jaime I e o antigo bastião fortificado da cidade. Para adquirirem a casa, recorreram ao dote de Guiamona, que tinham conservado, sonhando enquanto esperavam um dia como esse.
Ali, onde a oficina e a casa partilhavam o espaço, com o forno de cozedura e os quartos numa mesma divisão, Grau iniciou o seu labor como mestre num momento em que a expansão comercial catalã estava a revolucionar a actividade dos oleiros e lhes exigia uma especialização que muitos deles, afincados na tradição, recusavam.
— Vamos dedicar-nos aos jarros e às talhas — decidiu Grau. — Apenas jarros e talhas. — Guiamona dirigiu o olhar para as quatro obras-primas que o marido tinha feito. — Vi muitos comerciantes — prosseguiu ele — que mendigavam talhas para comerciar o azeite, o mel e o vinho, e vi mestres ceramistas que os mandavam embora sem contemplações porque tinham os seus fornos ocupados a fabricar as complicadas louças de uma casa nova, os pratos policromos da louça de um nobre ou os potes de um boticário.
Guiamona passou os dedos pelas obras-primas. Que suaves eram ao tacto! Quando Grau, exultante, lhas oferecera depois do exame, ela imaginara que o seu lar estaria sempre rodeado de peças como aquelas. Até os cônsules da confraria o tinham felicitado. Naquelas quatro obras, Grau tinha demonstrado a todos os mestres o seu conhecimento do ofício: a jarra, os dois pratos e a escudela, decorados com linhas em ziguezague, folhas de palma, rosetas e flores-de-lis, combinavam, sobre uma camada branca de estanho aplicada previamente, todas as cores: o verde-cobre próprio de Barcelona, irrecusável em qualquer obra de qualquer mestre da cidade condal, o púrpura do manganês, o preto de ferro, o azul-cobalto ou o amarelo-antimónio. Cada linha e cada desenho eram de uma cor diferente. Guiamona mal pudera esperar enquanto as peças coziam, por temor de que se partissem. Para terminar, Grau aplicara-lhes uma camada transparente de verniz de chumbo vitrificado que as impermeabilizava completamente. Guiamona voltou a sentir a suavidade das peças nas pontas dos seus dedos. E agora... ia dedicar-se apenas às talhas.
Grau aproximou-se da mulher.
— Não te preocupes — tranquilizou-a —, para ti, continuarei a fabricar peças como estas.
Grau acertou. Encheu a estufa da sua oficina humilde com jarras e talhas, e logo os comerciantes souberam que na oficina de Grau Puig poderiam encontrar, a partir desse momento, tudo o que precisavam. Já ninguém precisaria mais de mendigar a mestres soberbos.
Por isso, a casa diante da qual pararam Bernat e o pequeno Arnau, que estava acordado e reclamava a sua comida, distava muito dessa primeira casa-oficina. O que Bernat pôde ver com o olho esquerdo era um grande edifício de três andares. No piso térreo, aberto para a rua, encontrava-se a oficina, e nos dois andares de cima viviam o mestre e a sua família. A um dos lados da casa havia uma horta e um jardim, e do outro construções auxiliares que davam para os fornos de cozedura e para um grande terreiro onde armazenavam ao sol uma infinidade de jarras e talhas de diversos tipos, tamanhos e cores. Por detrás da casa, conforme exigiam as ordenações municipais, abria-se um espaço destinado à descarga e armazenamento da argila e de outros materiais de trabalho. Também se guardavam ali as cinzas e outros resíduos das cozeduras que os oleiros estavam proibidos de deitar para as ruas da cidade.
Na oficina, visível da rua, havia dez pessoas a trabalhar freneticamente. Pelo aspecto, nenhuma delas era Grau. Bernat viu que, junto à porta de entrada, ao lado de um carro de bois carregado de talhas novas, dois homens se despediam. Um subiu para o carro e partiu. O outro estava bem vestido e, antes que entrasse para a oficina, Bernat chamou a atenção dele.
— Espera! — O homem olhou enquanto Bernat se aproximava dele. — Procuro Grau Puig — disse-lhe. O homem examinou-o de alto a baixo.
— Se procuras trabalho, não precisamos de ninguém. O mestre não pode perder tempo — disse-lhe, com maus modos —, e eu também não — acrescentou, começando a voltar-lhe as costas.
— Sou parente do mestre.
O homem estacou, antes de se voltar violentamente.
— Por acaso o mestre não te pagou o suficiente? Porque continuas a insistir? — resmungou entredentes e empurrando Bernat. Arnau começou a chorar. — Digo-te já que, se tornas a aparecer por aqui, te denunciamos. Grau Puig é um homem importante, sabes?
Bernat tinha retrocedido à medida que o homem o empurrava, sem saber ao que ele se referia.
— Ouve-me — defendeu-se —, eu... Arnau berrava.
— Não me ouviste? — gritou por cima do choro de Arnau. No entanto, uns gritos ainda mais fortes saíram de uma das janelas do andar de cima.
— Bernat! Bernat!
Bernat e o homem voltaram-se para uma mulher que, com metade do corpo fora da janela, agitava os braços.
— Guiamona! — gritou Bernat, devolvendo a saudação. A mulher desapareceu e Bernat virou-se para o homem dos olhos semicerrados.
— A senhora Guiamona conhece-te? — perguntou-lhe.
— É a minha irmã — respondeu Bernat secamente. — E, para que saibas, a mim nunca ninguém me pagou nada.
— Lamento — desculpou-se o homem, agora atrapalhado.
— Referia-me aos irmãos do mestre: primeiro um, depois outro, e depois outro, e outro.
Quando viu que a irmã saía de casa, Bernat deixou-o com as palavras na boca e correu a abraçá-la.
— E Grau? — perguntou Bernat à irmã, depois de terem entrado, de ter limpo o sangue do olho, de entregar Arnau à escrava moura que cuidava dos filhos pequenos de Guiamona e de Grau, e de ver como ele devorava uma malga de leite com cereais. — Gostaria de lhe dar um abraço. Guiamona mudou de expressão.
— Grau mudou muito. Agora é rico e importante — Guiamona apontou para os numerosos baús que havia junto às paredes, para um armário, móvel que Bernat nunca vira, com alguns livros e peças de cerâmica, para os tapetes que embelezavam o chão e para os reposteiros e cortinas que pendiam das janelas e dos tectos. — Agora quase já nem se preocupa com a oficina, ou com o selo; quem gere tudo é Jaume, o seu primeiro oficial, aquele com quem tropeçaste na rua. Grau dedica-se ao comércio: barcos, vinho, azeite... Agora é cônsul da confraria; portanto, segundo os Usatges, é um prócere, e um cavalheiro, e está pendente de que o nomeiem membro do Conselho dos Cem da cidade — Guiamona deixou que o seu olhar vagueasse pela casa. — Já não é o mesmo, Bernat.
— Tu também mudaste muito — interrompeu-a Bernat. Guiamona olhou para o seu corpo de matrona e assentiu, sorrindo. — Esse Jaume — continuou Bernat — disse-me qualquer coisa sobre os parentes de Grau. A que se referia ele?
Guiamona abanou a cabeça, antes de responder.
— Pois... referia-se a que, assim que se inteiraram de que o irmão era rico, todos eles, irmãos, primos e sobrinhos, começaram a aparecer na oficina. Todos fugiam das suas terras para vir em busca da ajuda de Grau. — Guiamona não pôde deixar de perceber a expressão do irmão. — Também tu? — Bernat assentiu. — Mas... Se tinhas umas terras esplêndidas!
Guiamona não conseguiu conter as lágrimas ao escutar a história de Bernat. Quando este lhe contou acerca do rapaz da forja, levantou-se e ajoelhou-se junto à cadeira em que estava o irmão.
— Não contes isso a ninguém — aconselhou-o. Depois, continuou a ouvi-lo, com a cabeça apoiada na perna dele. — Não te preocupes — soluçou quando Bernat, por fim, terminou o seu relato —, vamos ajudar-te.
— Irmã — disse-lhe Bernat, acariciando-lhe a cabeça —, como vais tu ajudar-me, se Grau não ajudou sequer os seus próprios irmãos?
— Porque o meu irmão é diferente! — gritou Guiamona, fazendo Grau retroceder um passo.
Já tinha anoitecido quando o marido chegara a casa. O pequeno e magro Grau, todo ele nervo, subiu a escada resmungando impropérios. Guiamona esperava-o e ouviu-o chegar. Jaume já informara Grau da nova situação: «O vosso cunhado dorme no palheiro junto com os aprendizes, e o menino... com os vossos filhos.»
Grau dirigiu-se rapidamente à mulher, assim que se encontrou com ela.
— Como te atreveste? — gritou-lhe ao ouvir as primeiras explicações dela. — É um servo fugitivo! Sabes o que isso significaria, se o encontrassem em nossa casa? A minha ruína! Seria a minha ruína!
Guiamona ouviu-o sem interromper, enquanto ele andava às voltas e gesticulava em redor dela, mais alta do que ele uma cabeça.
— Estás louca! Mandei os meus próprios irmãos em navios para o estrangeiro! Dotei as mulheres da minha família para que casassem com gente de fora, e tudo para que ninguém pudesse acusar de nada esta família, e agora tu... Porque havia eu de agir de maneira diferente com o teu irmão?
— Porque o meu irmão é diferente — gritou-lhe Guiamona, para sua surpresa.
Grau hesitou.
— O quê? Que queres tu dizer?
— Sabes muito bem. Não me parece que precise de te lembrar. Grau desviou o olhar.
— Precisamente hoje — murmurou —, estive reunido com um dos cinco conselheiros da cidade para que, como cônsul da confraria, que sou, me elejam membro do Conselho dos Cem. Parece que já consegui colocar a meu favor três dos cinco conselheiros, e ainda me faltam o bailio e o corregedor. Dás-te conta do que diriam os meus inimigos se se inteirassem de que proporcionei amparo a um servo fugitivo?
Guiamona dirigiu-se ao marido com doçura:
— Devemos-lhe tudo a ele.
— Sou apenas um artesão, Guiamona. Rico, mas artesão. Os nobres desprezam-me e os mercadores odeiam-me por mais que se associem comigo. Se soubessem que demos
refúgio a um foragido... Sabes o que diriam os nobres que têm terras?
— Devemos-lhe tudo a ele — repetiu Guiamona.
— Muito bem, pois então damos-lhe dinheiro, e que se vá.
— Precisa da liberdade. Um ano e um dia.
Grau voltou a passear com nervosismo pela sala. Depois, levou as mãos ao rosto.
— Não podemos — disse por entre as mãos. — Não podemos, Guiamona — repetiu, olhando para ela. — Imaginas...?
— Imaginas! Imaginas! — interrompeu-o ela, voltando a levantar a voz. — E tu imaginas o que aconteceria se o expulsássemos daqui? Se fosse detido pelos agentes de Llorenç de Bellera, ou pelos teus próprios inimigos, e toda a gente ficasse a saber que lhe deves tudo a ele, a um servo fugitivo que consentiu num dote a que não estava obrigado?
— Estás a ameaçar-me?
— Não, Grau, não. Mas está escrito. Tudo está escrito. Se não queres fazê-lo por gratidão, fá-lo por ti próprio. É melhor que o mantenhas vigiado. Bernat não abandonará Barcelona; quer a liberdade. Se não o acolheres, terás um fugitivo e uma criança, ambos com um sinal no olho direito, como eu, vagueando por Barcelona, à disposição desses teus inimigos que tanto temes.
Grau Puig olhou fixamente para a mulher. Ia para responder, mas apenas fez um gesto com a mão. Saiu da sala e Guiamona ouviu-o a subir a escada em direcção ao quarto.
— O teu filho ficará na casa grande; Dona Guiamona cuidará dele. Quando tiver idade suficiente, entrará para a oficina como aprendiz.
Bernat deixou de prestar atenção ao que Jaume lhe dizia. O oficial apresentou-se ao amanhecer no dormitório. Escravos e aprendizes saltaram das suas enxergas como se tivesse ali entrado o demónio, e saíram tropeçando uns nos outros. Bernat ouviu as palavras dele e disse para si próprio que Arnau estaria bem tratado e acabaria por tornar-se aprendiz, um homem livre com um ofício.
— Entendeste? — perguntou-lhe o oficial.
Perante o silêncio de Bernat, Jaume lançou uma maldição:
— Malditos camponeses!
Bernat esteve a ponto de reagir com violência, mas o sorriso que apareceu no rosto de Jaume deteve-o.
— Tenta — instou-o. — Faz isso, e a tua irmã não terá a que se agarrar. Vou repetir-te o mais importante, camponês: trabalharás de sol a sol, como todos os outros, a troco de cama, comida e roupa... e de que Dona Guiamona se ocupe do teu filho. Estás proibido de entrar na casa; sob nenhum pretexto o poderás fazer. Também estás proibido de sair da oficina antes que decorram o ano e um dia de que precisas para que te concedam a liberdade, e de cada vez
que entrar um estranho na oficina deverás esconder-te. Não deves contar a ninguém a tua situação, nem mesmo aos daqui de dentro, se bem que com esse sinal... —Jaume abanou a cabeça. — É esse o acordo a que o mestre chegou com Dona Guiamona. Parece-te bem?
— Quando poderei ver o meu filho? — perguntou Bernat.
— Isso não me diz respeito.
Bernat fechou os olhos. Quando tinham visto Barcelona pela primeira vez, Bernat prometera a Arnau a liberdade. O seu filho não haveria de ter nenhum senhor.
— Que tenho de fazer? — disse por fim.
Carregar lenha. Carregar troncos e mais troncos, centenas deles, milhares deles, os necessários para que os fornos trabalhassem. E tratar de que estivessem sempre acesos. Transportar argila e limpar; limpar o barro, o pó da argila e a cinza dos fornos. Uma e outra vez, suando e levando a cinza e o pó para as traseiras da casa. Quando regressava, coberto de pó e de cinzas, a oficina estava de novo suja e tinha de recomeçar tudo. Levar as peças para secarem ao sol, ajudado pelos outros escravos e sob o olhar atento de Jaume, que controlava constantemente a oficina, passeando-se por entre eles, gritando, pregando bofetões nos jovens aprendizes e maltratando os escravos, contra os quais não hesitava em usar o chicote, quando alguma coisa não estava a seu gosto.
Numa ocasião em que uma grande vasilha se lhes escapara das mãos quando a levavam para o sol, rolando pelo chão, Jaume começara a chicotear os culpados. A vasilha nem sequer se partira, mas o oficial, gritando como um possesso, açoitava sem piedade os três escravos que, juntamente com Bernat, a tinham transportado; a certa altura, levantou o chicote contra Bernat.
— Faz isso, e mato-te — ameaçou-o Bernat, parado à frente dele.
Jaume vacilou; de queixo erguido, enrubesceu e fez estalar o chicote em direcção aos outros, que já tinham tido o cuidado de se colocar a boa distância. Jaume saiu a correr atrás deles. Ao ver que ele se afastava, Bernat respirou fundo. Contudo, Bernat continuou a trabalhar arduamente, sem necessidade de que alguém o açoitasse. Comia o que lhe punham à frente. Teria gostado de dizer à gorda mulher que os servia que os seus próprios cães tinham sido mais bem alimentados, mas ao ver que os aprendizes e os escravos se lançavam com avidez sobre as escudelas, decidiu calar-se. Dormia no dormitório comum, numa enxerga de palha, debaixo da qual guardava os seus escassos pertences e o dinheiro que tinha conseguido trazer. No entanto, o seu confronto com Jaume parecia ter-lhe granjeado o respeito dos escravos e dos aprendizes, bem como dos outros oficiais, pelo que podia dormir tranquilo, apesar das pulgas, do cheiro a suor e dos roncos.
E tudo isso suportava, apenas pelas duas vezes por semana em que a escrava moura lhe trazia Arnau, geralmente adormecido, quando Guiamona já não precisava dela. Bernat tomava-o nos braços e aspirava a fragrância de Arnau, o odor a roupa lavada, a cremes para crianças. Depois, com cuidado, para não o acordar, afastava-lhe a roupa, para lhe ver as pernas e os braços, e a barriguita satisfeita. Crescia e engordava. Bernat embalava o filho e voltava-se para Habi-ba, a jovem moura, suplicando-lhe com os olhos um pouco mais de tempo. Por vezes, tentava fazer-lhe uma carícia, mas as suas mãos rugosas magoavam a pele do menino e Habibar etirava-lho sem contemplações. Com o passar dos dias, chegou a um acordo tácito com a moura — ela nunca lhe falava, e acariciava então as rosadas bochechas do pequenito com as costas dos dedos; o contacto com aquela pele fazia-o estremecer. Quando, finalmente, a rapariga lhe indicava por gestos que lhe devolvesse o menino, Bernat beijava-o na testa antes de o entregar.
Com o passar dos meses, Jaume deu-se conta de que Bernat podia realizar um trabalho mais frutífero para a oficina. Ambos tinham aprendido a respeitar-se.
— Os escravos não têm emenda — comentou o oficial a Grau Puig, certa vez. — Só trabalham por medo ao chicote, não têm cuidado nenhum. No entanto, o vosso cunhado...
— Não digas que é meu cunhado! — interrompeu-o Grau mais uma vez; mas essa era uma liberdade a que Jaume gostava de se permitir com o seu mestre.
— O camponês... — corrigiu-se o oficial, simulando embaraço —, o camponês é diferente: põe interesse até mesmo nas tarefas mais insignificantes. Limpa os fornos com um cuidado que nunca antes...
— E que propões tu? — tornou a interrompê-lo Grau, sem levantar os olhos dos papéis que estava a examinar.
— Bem, poderia dedicá-lo a outros trabalhos de mais responsabilidade. E como nos fica tão barato...
Ao ouvir estas palavras, Grau ergueu os olhos para o oficial.
— Não te deixes enganar — disse-lhe. — Não nos terá custado dinheiro como um escravo, e também não terá um contrato de aprendiz, nem será preciso pagar-lhe como aos oficiais, mas é o trabalhador mais caro que tenho.
— Eu estava a referir-me...
— Eu sei ao que te referias — Grau regressou aos seus papéis. — Faz o que considerares melhor, mas aviso-te: que o camponês nunca esqueça qual é o seu lugar nesta oficina. Se assim não for, expulso-te daqui e jamais serás mestre. Entendido?
Jaume assentiu, mas desde esse dia Bernat passou a ajudar directamente os oficiais; passou, inclusivamente, por cima dos jovens aprendizes, incapazes de manejar os grandes e pesados moldes de argila refractária que suportavam a temperatura necessária para cozer a louça ou a cerâmica. Com estes moldes faziam grandes talhas bojudas, de boca estreita e gargalo muito curto, de base plana e estreita, com capacidade até duzentos e oitenta litros(1), e destinadas ao transporte de cereais ou de vinho. Até aí, Jaume tinha tido de dedicar a estas tarefas pelo menos dois dos seus oficiais; com a ajuda de Bernat, bastava um para levar a cabo todo o processo; fazer o molde, cozê-lo, aplicar à talha uma camada de óxido de estanho e de óxido de chumbo como fundente, e metê-la num segundo forno, a temperatura mais baixa, a fim de que o estanho e o chumbo se fundissem e misturassem, proporcionando à peça um revestimento impermeável vidrado, de cor branca.
(1) Para melhor compreensão, utilizam-se aqui medidas do sistema métrico decimal, que obviamente não existiam na época. (N. do E.)
Jaume andou preocupado com o resultado da sua decisão, até que por fim se deu por satisfeito: aumentara consideravelmente a produção da oficina e Bernat continuava a pôr o mesmo cuidado nos seus labores. «Mais até do que alguns dos oficiais!», viu-se Jaume obrigado a reconhecer, numa das ocasiões em que se aproximara de Bernat e do oficial de turno para estampar o selo do mestre na base do gargalo de uma nova talha.
Jaume tentava ler os pensamentos que se escondiam por detrás do olhar do camponês. Não havia ódio nos seus olhos, nem sequer parecia haver rancor. Interrogava-se sobre o que lhe teria acontecido para vir acabar ali. Não era como os outros parentes do mestre que se tinham apresentado na oficina: todos esses tinham cedido por dinheiro. No entanto, Bernat... Como ele acarinhava o filho quando a moura lho levava! Queria a liberdade e trabalhava por ela, duramente, mais que ninguém.
O entendimento entre os dois homens deu outros frutos para além do aumento da produção. Noutra das ocasiões em que Jaume se aproximou dele para aplicar o selo do mestre, Bernat semicerrou os olhos e dirigiu o olhar para a base da talha.
«Jamais serás mestre!», ameaçara-o Grau. Essas palavras regressavam à cabeça de Jaume de cada vez que pensava em ter um trato mais amistoso com Bernat.
Jaume simulou um repentino acesso de tosse. Afastou-se da talha sem a marcar ainda, e olhou para o local que o camponês lhe tinha assinalado: havia uma pequena racha que significaria a quebra da peça no forno. Encolerizou-se contra o oficial... e contra Bernat.
Decorreram o ano e o dia necessários para que Bernat e o filho pudessem ser livres. Pela sua parte, Grau Puig conseguiu o seu ambicionado lugar no Conselho dos Cem da cidade. No entanto, Jaume não notou nenhuma reacção no camponês. Outro teria exigido a sua carta de cidadania e ter-se-ia lançado pelas ruas de Barcelona em busca de diversão e de mulheres, mas Bernat não o fizera. Que se passaria com o camponês?
Bernat vivia com a recordação permanente do rapaz da forja. Não se sentia culpado; aquele desgraçado tinha-se interposto no caminho do seu filho. Mas se tivesse morrido... Poderia obter a liberdade do seu senhor, mas mesmo tendo decorrido um ano e um dia, não se poderia livrar da condenação por assassínio. Guiamona recomendara-lhe que não contasse a ninguém, e assim fizera. Não podia arriscar-se; talvez Llorenç de Bellera não tivesse apenas dado ordem para a sua captura por fugitivo, mas também por assassino. Que seria feito de Arnau se o prendessem? O assassínio era punido com a morte.
O filho de Bernat continuava a crescer são e forte. Ainda não falava, mas já gatinhava e fazia uns gorjeios que arrepiavam os cabelos de Bernat. Mesmo quando Jaume continuava a não lhe dirigir a palavra, a sua nova situação na oficina — que Grau, atarefado nos seus negócios e cargos, ignorava — tinha levado os restantes a respeitá-lo mais ainda, e a moura trazia-lhe agora o filho com mais frequência, acordado, na maior parte das vezes, com a aquiescência tácita de Guiamona, que também andava mais ocupada devido à nova posição do seu marido.
Bernat não devia deixar-se ver por Barcelona, já que isso podia prejudicar o futuro do seu filho.
SERVOS DA NOBREZA
Natal de 1329, Barcelona
Arnau fizera oito anos e tornara-se um menino tranquilo e inteligente. O cabelo, castanho, longo e encaracolado, caía-lhe sobre os ombros, emoldurando um rosto atraente em que se destacavam os olhos, grandes, límpidos e cor de mel.
A casa de Grau Puig estava engalanada para celebrar o Natal. Aquele rapaz, que aos dez anos tinha podido abandonar as terras do pai graças a um vizinho generoso, triunfara em Barcelona, e agora esperava junto da mulher a chegada dos seus convidados.
— Vêm prestar-me homenagem — disse a Guiamona. — Onde já se viu nobres e mercadores virem a casa de um artesão?
Ela limitava-se a escutá-lo.
— Até o próprio rei me apoia. Percebes? O próprio rei!
O rei Afonso.
Nesse dia não se trabalhava na oficina, e Bernat e Arnau, sentados no chão e aguentando o frio, observavam do terreiro das talhas os escravos, oficiais e aprendizes a entrar e a sair incessantemente da casa. Naqueles oito anos, Bernat não tinha voltado a pôr os pés no lar dos Puig, mas não lhe importava, pensava, enquanto revolvia os cabelos de Arnau: ali tinha o seu filho, abraçado a ele; que mais poderia pedir? O rapazinho comia e vivia com Guiamona, e estudava até com o preceptor dos filhos de Grau: aprendera a ler, a escrever e a contar ao mesmo tempo que os seus primos. No entanto, sabia que Bernat era seu pai, já que Guiamona não tinha deixado que se esquecesse disso. Quanto a Grau, tratava o sobrinho com absoluta indiferença.
Arnau portava-se bem dentro de casa; Bernat pedia-lho uma e outra vez. Quando entrava, rindo, na oficina, o rosto de Bernat iluminava-se. Os escravos e os oficiais, incluindo Jaume, não conseguiam deixar de olhar para o miúdo com um sorriso nos lábios quando ele corria para o terreiro e se sentava à espera de que Bernat terminasse de fazer alguma das suas tarefas, para correr para ele e abraçá-lo com força. Depois, voltava a sentar-se, afastado da azáfama, olhava para o pai e sorria a quem quer que se lhe dirigisse. Algumas noites, depois de fechada a oficina, Habiba deixava que Arnau se escapulisse, e então pai e filho conversavam e riam.
As coisas tinham mudado, ainda que Jaume continuasse a interpretar o papel que lhe era exigido pela ameaça omnipresente do seu patrão. Grau não se preocupava com os rendimentos que obtinha da oficina, e menos ainda com qualquer outra coisa que com ela se relacionasse. Apesar de tudo, não podia prescindir dela, pois era graças à oficina que mantinha os cargos de cônsul da Confraria, prócer de Barcelona e membro do Conselho dos Cem. No entanto, uma vez superado aquilo que não era mais do que um requisito formal, Grau Puig entrou em pleno na política e nas finanças de alto nível, algo bastante fácil para um prócer da cidade condal.
Desde o início do seu reinado, no ano de 1291, Jaime II tinha tentado impor-se à oligarquia feudal catalã, para o que tinha procurado obter a ajuda das cidades livres e dos seus cidadãos, começando por Barcelona. A Sicília já pertencia à coroa desde os tempos de Pedro, o Grande; por isso, quando o Papa concedeu a Jaime II os direitos de conquista da Sardenha, Barcelona e os seus cidadãos financiaram essa empresa.
A anexação das duas ilhas mediterrânicas à coroa favorecia os interesses de todas as partes: garantia o fornecimento de cereais à Catalunha, bem como o domínio catalão no Mediterrâneo Ocidental e, com isso, o controlo das rotas marítimas comerciais; por seu lado, a coroa reservava-se a exploração das minas de prata e das salinas da ilha.
Grau Puig não vivera esses acontecimentos. A sua oportunidade chegou com a morte de Jaime II e a coroação de Afonso III. Nesse ano de 1329, os Corsos iniciaram uma revolta na cidade de Sassari. Ao mesmo tempo, os Genoveses, temendo o poder comercial da Catalunha, declararam-lhe guerra e atacaram os navios com bandeira do principado. Nem o rei, nem os comerciantes hesitaram por um momento: a campanha para sufocar a revolta na Sardenha e a guerra contra Génova deviam ser financiadas pela burguesia de Barcelona. E assim se fez, principalmente sob o impulso de um dos próceres da cidade: Grau Puig, que contribuiu com generosidade para os gastos da guerra e convenceu a colaborar, com inflamados discursos, os mais receosos. O próprio rei agradeceu-lhe publicamente a ajuda.
Enquanto Grau se aproximava uma e outra vez das janelas, para ver se os seus convidados chegavam, Bernat despedia-se do filho com um beijo na cara.
— Está muito frio, Arnau. Será melhor ires para dentro. — O rapazinho esboçou uma expressão de protesto. — Hoje tereis um bom jantar, não?
— Galinha, torrão e barquilhos — respondeu-lhe o filho imediatamente. Bernat deu-lhe uma carinhosa palmada no traseiro.
— Corre para casa. Depois falaremos.
Arnau chegou mesmo a tempo de se sentar para jantar; ele e os dois filhos mais pequenos de Grau, Guiamon, da mesma idade que ele, e Margarida, ano e meio mais velha, comeriam na cozinha; os dois maiores, Josep e Genís, comeriam em cima, com os pais.
A chegada dos convidados aumentou o nervosismo de Grau.
— Eu próprio tratarei de tudo — disse Grau a Guiamona quando preparava a festa. — Tu, limita-te a atender as mulheres.
— Mas... Como vais tu tratar de tudo? — tentou protestar Guiamona; no entanto, Grau já estava a dar instruções a Estranya, a cozinheira, uma corpulenta escrava mulata descarada, que obedecia às palavras do seu amo enquanto olhava de soslaio para a sua senhora.
Como queres tu que eu reaja?, pensava Guiamona. Não estás a falar com o teu secretário, nem na confraria, nem no Conselho dos Cem. Não me consideras capaz de receber os teus convidados, não é verdade? Não estou à altura deles, não é?
Por detrás do marido, Guiamona tentou pôr ordem entre os criados e preparar tudo para que a celebração do Natal fosse um êxito, mas no dia da festa, com Grau a ocupar-se de tudo, incluindo as luxuosas capas dos seus convidados, teve de se retirar para o segundo plano que o marido lhe tinha indicado e limitar-se a sorrir para as mulheres, que a olhavam por cima do ombro. Entretanto, Grau parecia um general de um exército em plena batalha; conversava com uns e outros, mas ao mesmo tempo indicava aos escravos o que tinham de fazer e quem tinham de atender; porém, quanto mais gestos fazia, mais e mais nervosos eles ficavam. Por fim, todos os escravos — excepto Estranya, que estava na cozinha a preparar o jantar — optaram por seguir Grau pela casa, atentos às ordens peremptórias dele.
Livres de toda a vigilância — pois Estranya e os seus ajudantes, de costas para eles, afadigavam-se com as panelas e os fogos —, Margarida, Guiamon e Arnau misturaram a galinha com o torrão e os barquilhos e trocaram bocados sem parar de rir e gracejar. Em determinado momento, Margarida pegou num jarro de vinho sem ser aguado, e bebeu um bom trago. De imediato o seu rosto se congestionou e as bochechas se lhe insuflaram, mas a rapariga conseguiu superar a prova sem cuspir o vinho. Depois, instou o irmão e o primo a que a imitassem. Arnau e Guiamon beberam, tentando manter a compostura como Margarida, mas acabaram a tossir e a bater na mesa, em busca de água, com os olhos cheios de lágrimas. Depois, os três começaram a rir: pelo simples facto de olharem uns para os outros, por causa do jarro de vinho, por causa do rabo de Estranya.
— Fora daqui! — gritou a escrava, depois de aguentar por algum tempo a troça dos miúdos.
Os três saíram da cozinha a correr, a gritar e a rir.
— Chiu! — repreendeu-os um dos escravos, perto da escada.
— O amo não quer aqui meninos.
— Mas... — começou a dizer Margarida.
— Não há «mas» que vos valha — insistiu o escravo. Nesse momento, Habiba desceu, para vir buscar mais vinho. O seu amo olhara-a com os olhos chispando ira porque um dos seus convidados tentara servir-se e apenas conseguira umas miseráveis gotas.
— Vigia as crianças — disse Habiba ao escravo que estava na escada, ao passar por ele. — Vinho! — gritou para Estranya antes de entrar na cozinha.
Grau, temendo que a moura trouxesse vinho ordinário em vez do vinho que devia servir, saiu a correr atrás dela.
Os miúdos já não riam. Aos pés da escada, observavam o rebuliço, a que de repente se somara Grau.
— Que fazem aqui? — disse Grau ao vê-los junto do escravo. — E tu? Que fazes aqui parado? Vai e diz a Habiba que o vinho é para ser daquele das talhas velhas. Lembra-te disso, porque se te enganares arranco-te a pele vivo. Meninos, para a cama.
O escravo saiu disparado para a cozinha. Os miúdos entreolharam-se sorrindo, com os olhos brilhantes do vinho. Quando Grau subiu, correndo escada acima, estalaram as gargalhadas. Para a cama? Margarida olhou para a porta, aberta de par em par, cerrou os lábios e arqueou as sobrancelhas.
— E os meninos? — perguntou Habiba quando viu aparecer o escravo.
— Vinho das talhas velhas... — começou a recitar o escravo.
— E os meninos?
— Velhas. Das velhas.
— E os meninos? — tornou a insistir Habiba.
— Para a tua cama. O amo disse que fossem para a cama. Estão com ele. Das talhas velhas, sim? Senão tira-nos a pele...
Era Natal e Barcelona permanecia vazia até que as pessoas fossem à missa da meia-noite oferecer um galo sacrificado. A Lua reflectia-se sobre o mar como se a rua em que se encontravam continuasse até ao horizonte. Os três olharam para a faixa prateada derramada sobre a água.
— Hoje não há-de haver ninguém na praia — murmurou Margarida.
— Ninguém sai para o mar no Natal — acrescentou Guiamon.
Ambos se voltaram para Arnau, que fez que não com a cabeça.
— Ninguém se dará conta — insistiu Margarida. — Vamos e voltamos muito depressa. São apenas uns passos.
— Cobarde — espicaçou-o Guiamon.
Correram até Framenors, o convento franciscano que se erguia no extremo oriental da muralha da cidade, junto ao mar. Uma vez aí, olharam para a praia, que se estendia até ao convento de Santa Clara, limite ocidental de Barcelona.
— Olhem! — exclamou Guiamon. — A frota da cidade!
— Nunca tinha visto a praia assim — acrescentou Margarida.
Arnau, com os olhos arregalados, fazia que sim com a cabeça.
De Framenors até Santa Clara, a praia estava pejada de barcos de todos os tamanhos. Nenhuma edificação turvava o desfrute daquela magnífica vista. Havia quase cem anos que o rei Jaime, o Conquistador, tinha proibido que se construísse na praia de Barcelona, comentara Grau aos seus filhos em alguma ocasião em que, junto com o preceptor, o tinham acompanhado ao porto para ver carregar ou descarregar algum barco em cuja propriedade participasse. Havia que deixar a praia livre para que os marinheiros pudessem varar os seus barcos. Mas nenhum dos miúdos dera a menor importância à explicação de Grau. Por acaso não era natural que os barcos estivessem na praia? Sempre ali tinham estado. Grau trocara um olhar com o preceptor.
— Nos portos dos nossos inimigos ou dos nossos concorrentes comerciais — explicou o preceptor —,os barcos não estão varados na praia.
Os quatro filhos de Grau tinham-se voltado de repente para o seu mestre. Inimigos! Isso, sim, interessava-lhes.
— Certo — interviera Grau, conseguindo que os miúdos lhe prestassem finalmente atenção. O preceptor sorria. — Génova, nossa inimiga, tem um magnífico porto natural protegido do mar, graças ao qual os barcos não precisam de varar na praia. Veneza, nossa aliada, conta com uma grande lagoa a que se acede através de estreitos canais; os temporais não a afectam e os barcos podem ficar tranquilos. O porto de Pisa comunica com o mar através do rio Arno, e até Marselha possui um porto natural ao abrigo das inclemências do mar.
— Os Gregos antigos já utilizavam o porto de Marselha — acrescentou o preceptor.
— Os nossos inimigos têm melhores portos? — perguntou Josep, o mais velho. — Mas nós vencemo-los, somos os donos do Mediterrâneo! — exclamou, repetindo as palavras que tantas vezes tinha ouvido da boca do pai. Os restantes concordaram. — Como é isso possível?
Grau procurou a explicação do preceptor.
— Porque Barcelona sempre teve os melhores marinheiros. Mas agora não temos porto e, no entanto...
— Como assim? Não temos porto? — interrompeu Genís. — E isto? — acrescentou, apontando para a praia.
— Isto não é um porto. Um porto tem de ser um local abrigado, resguardado do mar, e isso que tu estás a dizer... — O preceptor gesticulou com a mão, apontando para o mar aberto que banhava a praia. — Escutem — disse-lhes —, Barcelona sempre foi uma cidade de marinheiros. Antigamente, há muitos anos, tínhamos um porto, como todas essas cidades que o vosso pai mencionou. Na época dos Romanos, os barcos refugiavam-se ao abrigo do mons Taber, mais ou menos por ali — prosseguiu, apontando para o interior da cidade —, mas a terra foi ganhando terreno ao mar, e esse porto desapareceu. Depois, tivemos o porto Comtal, que também desapareceu, e por fim o porto de Jaime I, ao abrigo de outro pequeno refúgio natural, o puig de les Falsies. Sabeis onde está agora o puig de les Falsies?
Os quatro miúdos entreolharam-se e depois voltaram-se para Grau que, com um gesto discreto, como se não quisesse que o preceptor se desse conta, apontou com o dedo para o chão.
— Aqui? — perguntaram as crianças em uníssono.
— Sim — respondeu o preceptor. — Estamos em cima dele. Também desapareceu... E Barcelona ficou sem porto, mas por essa altura já éramos marinheiros, os melhores marinheiros, e continuamos a ser os melhores... sem porto.
— Então — interveio Margarida —, que importância tem o porto?
— Isso poderá o teu pai explicar-te melhor — respondeu o preceptor, enquanto Grau concordava.
— Muita, muitíssima importância, Margarida. Vês aquele navio? — perguntou-lhe, apontando para uma galera rodeada de pequenas barcas. — Se tivéssemos porto, poderia descarregar nos molhes, sem necessidade de todos aqueles barqueiros que recolhem a mercadoria. Além disso, se agora se levantasse um temporal, o navio ver-se-ia em grande perigo, porque não está a navegar e está muito perto da praia, e teria de se afastar de Barcelona.
— Porquê? — insistiu a rapariga.
— Porque assim não poderia fugir ao temporal e poderia naufragar. Tanto assim que a própria lei, as Ordenações do Mar da Costa de Barcelona, exige que, em caso de temporal, o navio acuda a refugiar-se no porto de Salou ou no de Tar-ragona.
— Não temos porto — lamentou-se Guiamon como se lhe tivessem roubado qualquer coisa de suma importância.
— Não — confirmou Grau, rindo e abraçando-o —, mas continuamos a ser os melhores marinheiros, Guiamon. Somos os donos do Mediterrâneo! E temos a praia. E aqui que varamos os nossos barcos quando termina a época de navegação, aqui é onde os arranjamos e construímos. Vês os estaleiros? Ali, na praia, em frente àquelas arcadas?
— Podemos subir aos barcos? — perguntou Guiamon.
— Não — respondeu-lhe o pai, com seriedade. — Os barcos são sagrados, filho.
Arnau nunca saía com Grau e com os filhos deste, e muito menos com Guiamona. Ficava em casa com Habiba, mas depois os primos contavam-lhe tudo o que tinham visto e ouvido. Também lhe tinham explicado tudo aquilo sobre os barcos.
E ali estavam todos, naquela noite de Natal. Todos! Estavam os mais pequenos, os botes, os esquifes e as gôndolas;os médios: barcas, barcas castelhanas, taforeias, caravelas, sedas, galeotas e barquetas, e até algumas das grandes embarcações: naus, navetas, cocas e galeras, que apesar do seu tamanho tinham de deixar de navegar, por proibição real, entre os meses de Outubro e Abril.
— Olhem! — voltou a exclamar Guiamon.
Nos arsenais, em frente a Regomir, ardiam algumas fogueiras, em redor das quais estavam colocados alguns vigilantes. De Regomir até Framenors, os barcos erguiam-se, silenciosos, iluminados pela Lua, encalhados na praia.
— Sigam-me, marinheiros! — ordenou Margarida, levantando o braço direito.
E por entre temporais e corsários, abordagens e batalhas, a capitã Margarida levou os seus homens de um barco para outro, vencendo os Genoveses e os Mouros e reconquistando a Sardenha, aos gritos, para o rei Afonso.
— Quem vem lá?
Os três ficaram paralisados em cima de uma barca.
— Quem vem lá?
Margarida assomou meia cabeça pela borda. Três tochas erguiam-se por entre as embarcações.
— Vamos embora — sussurrou Guiamon, caído no barco, puxando o vestido da irmã.
— Não podemos — respondeu Margarida —, estão a tapar-nos a passagem...
— E se formos para os estaleiros? — perguntou Arnau. Margarida olhou na direcção de Regomir. Outras duas tochas se tinham posto em movimento.
— Também não — murmurou.
Os barcos são sagrados! As palavras de Grau ecoaram nas mentes dos miúdos. Guiamon começou a soluçar. Margarida fê-lo calar-se. Uma nuvem ocultou a Lua.
— Ao mar — disse a capitã. ._
Saltaram pela borda e meteram-se na água. Margarida e Arnau ficaram encolhidos, e Guiamon de pé, com água até ao pescoço; os três estavam a fitar as tochas que se moviam entre os barcos. Quando as tochas se aproximaram das embarcações da orla, retrocederam. Margarida olhou para a Lua, rezando em silêncio para se manter oculta.
A inspecção prolongou-se por uma eternidade, mas ninguém olhou para o mar, ou se alguém o fez... era Natal, e no fim de contas eram apenas três crianças assustadas... E suficientemente molhadas. Estava muito frio.
De regresso a casa, Guiamon quase nem conseguia andar. Batia os dentes, os joelhos tremiam-lhe e tinha convulsões. Margarida e Arnau agarraram-no por debaixo dos braços e percorreram assim o curto trajecto.
Quando chegaram, os convidados já tinham deixado a casa, e Grau e os escravos, depois de terem descoberto a escapadela das crianças, estavam a preparar-se para sair à sua procura.
— Foi Arnau — acusou Margarida, enquanto Guiamona e a escrava moura mergulhavam o pequeno Guiamon em água quente.
— Foi ele que nos convenceu a irmos para a praia. Eu não queria... — A miúda acompanhava as suas mentiras com aquelas lágrimas que tão bons resultados tinham sempre junto do pai.
Nem o banho quente, nem as mantas, nem o caldo a ferver conseguiram fazer Guiamon recuperar. A febre subiu. Grau mandou chamar o médico, mas também os cuidados deste não conseguiram obter resultados; a febre subia, Guiamon começou a tossir e a sua respiração tornou-se um sibilar arrastado.
— Nada mais posso fazer — reconheceu, resignado, Sebastià Font, o doutor, na terceira noite em que foi visitá-lo.
Guiamona levou as mãos ao rosto, pálido e escorrido, e começou a chorar.
— Não pode ser! — gritou Grau. — Tem de haver algum remédio.
— Poderá ser, mas... — o médico conhecia bem Grau, e as suas aversões... No entanto, a ocasião pedia medidas desesperadas. — Deverias chamar Jafudà Bonsenyor.
Grau ficou calado.
— Chama-o — instou-o Guiamona entre soluços.
Um judeu!, pensou Grau. Quem chama um judeu, chama o Diabo, tinham-lhe ensinado na sua juventude. Sendo ainda criança, Grau, tal como outros aprendizes, correra atrás das mulheres judias para lhes partir os cântaros quando elas iam buscar água às fontes públicas. E continuou a fazê-lo até que o rei, a instâncias da judiaria de Barcelona, proibiu essas vexações. Odiava todos os judeus. Toda a sua vida tinha perseguido e cuspido aqueles que usavam a rodela. Eram uns hereges; tinham morto Jesus Cristo... Como iria agora entrar um deles no seu lar?
— Chama-o! — gritou Guiamona.
O grito ecoou por todo o bairro. Bernat e os outros ouviram-no e encolheram-se nas suas enxergas. Em três dias, não conseguira ver Arnau nem Habiba, mas Jaume mantinha-o ao corrente do que se estava a passar.
— O teu filho está bem — disse-lhe, num momento em que ninguém estava a olhar.
Jafudà Bonsenyor veio assim que reclamaram a sua presença. Vestia uma simples gelaba preta com capuz e usava rodela. Grau observava-o à distância, na sala, com a sua longa barba branca, encolhido e escutando as explicações de Sebastià na presença de Guiamona. «Cura-o, judeu!» disse-lhe em silêncio quando os seus olhares se cruzaram. Jafudà Bonsenyor inclinou a cabeça para ele. Era um erudito que tinha dedicado a sua vida ao estudo da filosofia e dos textos sagrados. Por encargo do rei Jaime II, tinha escrito o Llibre deparaules de savis y filòsofs (1) mas também era médico o medi co mais importante da comunidade judaica. No entanto quando viu Guiamon, Jafudà Bonsenyor limitou-se a fazer que não com a cabeça.
Grau ouviu os gritos da mulher. Correu para a escada Guiamona desceu dos quartos de dormir acompanhada por Sebastià. Atrás deles vinha Jafudà.
— Judeu! — exclamou Grau, cuspindo à passagem dele.
Guiamon morreu ao fim de dois dias.
Assim que entraram na casa, todos de luto, acabado de enterrar o cadáver do menino, Grau fez sinal a Jaume para que se aproximasse dele e de Guiamona.
— Quero que, agora mesmo, leves Arnau e trates de que não volte a pôr os pés nesta casa. — Guiamona escutou-o em silêncio.
Grau contou-lhe o que Margarida lhe tinha dito: Arnau tinha-os incitado. O seu próprio filho ou uma simples menina nunca poderiam ter planeado aquela escapadela.
Livro de palavras de sábios e filósofos. (N. do A.)
Guiamona ouviu aquelas palavras e as acusações que a culpavam por ter acolhido o irmão e o sobrinho. E, se bem que no fundo do seu coração soubesse que tudo aquilo não passara de uma travessura de consequências fatais, a morte do seu filho mais novo tinha-lhe roubado o ânimo para enfrentar o marido, e as palavras de Margarida, culpando Arnau, tornavam-lhe quase impossível lidar com o rapaz. Era o filho do seu irmão, não lhe desejava mal nenhum, mas preferia não ter de o ver.
— Amarra a moura a uma das vigas da oficina — ordenou Grau a Jaume, antes de este desaparecer em busca de Arnau — e reúne todo o pessoal em volta dela, incluindo o rapaz.
Grau estivera a pensar nisso durante todo o serviço fúnebre: a escrava é que tinha a culpa; devia tê-los vigiado. Depois, enquanto Guiamona chorava e o sacerdote prosseguia recitando as suas orações, semicerrou os olhos e perguntou--se qual seria o castigo que lhe devia impor. A lei só lhe proibia matá-la ou mutilá-la, mas ninguém poderia acusá-lo de nada se morresse em consequência da pena infligida. Grau nunca se deparara com um delito tão grave. Pensou nas torturas de que tinha ouvido falar: untar-lhe o corpo com gordura animal a ferver — teria Estranya gordura suficiente na cozinha?; amarrá-la ou encerrá-la numa masmorra — demasiado brando; bater-lhe, aplicar-lhe grilhetas nos pés... ou flagelá-la.
«Tem cuidado quando o usares», dissera-lhe o comandante de um dos seus barcos, depois de lhe oferecer aquela prenda, «com um só golpe podes arrancar a pele a uma pessoa.» Desde então, mantivera-o guardado: um belo chicote oriental de couro entrançado, grosso mas leve, fácil de manejar e que terminava numa série de pontas, todas com incrustações de metais cortantes.
Num momento em que o sacerdote se calou, vários rapazes agitaram os incensários em volta do ataúde. Guiamona tossiu, Grau respirou fundo.
A moura esperava, atada pelas mãos a uma viga, tocando no chão em bicos de pés.
— Não quero que o meu rapaz veja isto — disse Bernat a Jaume.
— Não é altura, Bernat — aconselhou-lhe Jaume. — Não arranjes problemas...
Bernat voltou a fazer que não com a cabeça.
— Trabalhaste muito duramente, Bernat, não arranjes agora problemas ao teu filho.
Grau, de luto, introduziu-se no interior do círculo formado pelos escravos, pelos aprendizes e pelos oficiais, em redor de Habiba.
— Despe-a — ordenou a Jaume.
A moura tentou levantar as pernas, ao perceber que este lhe arrancava a camisa. O corpo dela, nu, escuro, brilhante por causa do suor, ficou exposto aos espectadores forçados... e ao chicote que Grau já estendera no chão. Bernat agarrou com força os ombros de Arnau, que começara a chorar.
Grau esticou o braço para trás e soltou o chicote contra o torso nu; o couro estalou nas costas da moura e as pontas metálicas, depois de rodearem o corpo, cravaram-se-lhe nos seios. Uma fina linha de sangue apareceu na pele escura da moura enquanto os seus seios ficavam em carne viva. A dor penetrava no corpo dela. Habiba levantou o rosto em direcção ao céu e uivou. Arnau começou a tremer desenfreadamente e gritou, pedindo a Grau que parasse.
Grau voltou a esticar o braço.
— Devias ter vigiado os meus filhos!
O estalar do couro obrigou Bernat a virar o filho para ele e a apertar-lhe a cabeça contra o seu estômago. A rapariga voltou a uivar. Arnau calou os seus gritos contra o corpo do pai. Grau continuou a flagelar a moura até que as costas dela e os ombros, os seios, as nádegas e as pernas se tornaram uma massa sanguinolenta.
— Diz ao teu mestre que me vou embora. Jaume cerrou os lábios. Por um momento esteve tentado a abraçar Bernat, mas alguns aprendizes observavam-nos.
Bernat observou o oficial a encaminhar-se para a casa. Tentara falar com Guiamona, mas a irmã não dera resposta a nenhum dos seus pedidos. Havia vários dias que Arnau não saía da enxerga onde o pai dormia; ficava todo o dia sentado sobre o colchão de palha de Bernat, que agora tinham de partilhar, e quando o pai entrava para o ver, encontrava-o sempre com o olhar fixo no lugar onde tinham tentado curar a moura.
Desamarraram-na assim que Grau abandonou a oficina, mas nem sequer sabiam por onde pegar naquele corpo. Estranya correu à oficina, levando óleo e unguentos, mas quando deparou com aquela massa sanguinolenta limitou-se a abanar a cabeça. Arnau presenciava tudo, de certa distância, quieto, com lágrimas nos olhos; Bernat tentou que saísse dali, mas o menino opôs-se. Nessa mesma noite, Habiba morreu. O único sinal que anunciou a sua morte foi que a moura deixou de emitir aquele queixume constante, parecido com o choro de um recém-nascido, que os tinha perseguido durante todo o dia.
Grau ouviu o recado do cunhado pela boca de Jaume. Era a última coisa de que precisava: os dois Estanyol, com os seus sinais nos olhos, percorrendo Barcelona, à procura de trabalho, falando dele com quem quisesse ouvi-los... e haveria muitas pessoas dispostas a fazê-lo, agora que estava lá alcandorado no topo. Revolveu-se-lhe o estômago e secou-se-lhe a boca: Grau Puig, prócer de Barcelona, cônsul da confraria dos ceramistas, membro do Conselho dos Cem, dedicando-se a proteger campónios fugitivos. Os nobres estavam contra ele. Quanto mais Barcelona ajudava o rei Afonso, menos este dependia dos senhores feudais, e menores eram os benefícios que os nobres conseguiam obter do monarca. E quem fora o principal valido da ajuda ao rei? Ele. E a quem prejudicava a fuga dos servos do campo? Aos nobres com terras. Grau abanou a cabeça e suspirou. Maldita fosse a hora em que permitira que aquele campónio se alojasse em sua casa!
— Manda-o vir aqui — ordenou Grau a Jaume.
— Disse-me Jaume — disse Grau ao cunhado assim que o teve diante de si — que pretendes deíxar-nos.
Bernat assentiu com a cabeça.
— E que pensas fazer?
— Procurarei trabalho para sustentar o meu filho.
— Não tens nenhum ofício. Barcelona está cheia de gente como tu: camponeses que não puderam viver nas suas terras, que não encontram trabalho e acabam por morrer de fome. Além disso — acrescentou —, nem sequer tens em teu poder a carta de cidadania, por mais que já tenhas o tempo suficiente na cidade.
— O que é isso da carta de cidadania? — perguntou Bernat.
-— E o documento que atesta que já resides há um ano e um dia em Barcelona, e que por isso és um cidadão livre, não submetido a senhorio.
— E onde se consegue esse documento?
— Quem o concede são os próceres da cidade.
— Pedi-lo-ei.
Grau olhou para Bernat. Estava sujo, vestido com uma simples camisa rasgada e com calções. Imaginou-o diante dos próceres da cidade, depois de ter contado a sua história a dezenas de escrivães: o cunhado e o sobrinho de Grau Puig, prócer da cidade, escondidos na sua oficina durante anos. A notícia correria de boca em boca. Ele mesmo teria usado situações como essa para atacar os seus inimigos.
— Senta-te — convidou. — Quando o Jaume me contou as tuas intenções, falei com a tua irmã Guiamona — mentiu, para justificar a mudança de atitude — e ela pediu-me que me apiedasse de ti.
— Não preciso de piedade — interrompeu-o Bernat, pensando em Arnau, sentado sobre a enxerga, com o olhar perdido. — Há anos que trabalho aqui duramente a troco de...
— Foi esse o acordo — cortou Grau —, e tu aceitaste-o. Nessa altura, interessava-te.
— É possível — reconheceu Bernat —, mas não me vendi como escravo, e agora já não me interessa.
— Esqueçamos a piedade. Não creio que encontres trabalho em toda a cidade, e menos ainda se não puderes atestar que és cidadão livre. Sem esse documento, só conseguirás que se aproveitem de ti. Sabes quantos servos da terra andam a vaguear por aí, sem filhos às costas, aceitando trabalhar de graça, única e exclusivamente para poderem residir um ano e um dia em Barcelona? Não podes fazer-lhes concorrência. Antes que te dêem carta de cidadania já terás morrido de fome, tu... ou o teu filho, e apesar do que se passou não podemos permitir que o pequeno Arnau tenha a mesma sorte que o nosso Guiamon. Já basta um. A tua irmã não aguentaria. — Bernat manteve-se em silêncio, à espera de que o cunhado continuasse. — Se isso te interessar — disse Grau, enfatizando a palavra —, podes continuar a trabalhar aqui, nas mesmas condições... e com o pagamento que corresponderia a um operário não qualificado, do qual te seriam descontados cama e comida, tuas e do teu filho.
— E Arnau?
— Que tem o pequeno?
— Prometeste recebê-lo como aprendiz.
— E assim farei... quando chegar à idade.
— Quero isso por escrito.
— E tê-lo-ás — comprometeu-se Grau.
— E a carta de cidadania?
Grau assentiu com a cabeça. A ele não seria difícil consegui-la... com discrição.
«Declaramos cidadãos livres de Barcelona Bernat Estanyol e seu filho, Arnau...» Finalmente! Bernat sentiu um calafrio ao escutar as hesitantes palavras do homem que lhe lia os documentos. Dera com ele nos arsenais, depois de perguntar onde poderia encontrar alguém que soubesse ler, e oferecera-lhe uma pequena escudela em troca desse favor. Com o rumor dos arsenais em fundo, o odor a maresia e a brisa marítima acariciando-lhe o rosto, Bernat ouviu a leitura do segundo documento: Grau tomaria Arnau como aprendiz assim que este fizesse dez anos e comprometia-se a ensinar-lhe o ofício de oleiro. O seu filho era livre, e um dia poderia ganhar a vida e defender-se naquela cidade.
Bernat entregou sorridente a prometida escudela e dirigiu-se de regresso à oficina. Se lhes tinham concedido a carta de cidadania, isso significava que Llorenç de Bellera não os tinha denunciado às autoridades, que não tinha sido aberto nenhum processo criminal contra ele. Teria o rapaz da forja sobrevivido?, interrogou-se. Mesmo assim... «Fica-te com as nossas terras, senhor de Bellera; nós ficamos com a nossa liberdade», murmurou Bernat, desafiador. Os escravos de Grau e o próprio Jaume interromperam os seus trabalhos ao verem chegar Bernat, radiante de felicidade. Ainda havia restos do sangue de Habiba no chão. Grau dera ordens para que não os limpassem. Bernat tentou não os pisar e mudou de expressão.
— Arnau — sussurrou ao filho nessa noite, deitados ambos sobre a enxerga que partilhavam.
— Diz-me, pai.
— Já somos cidadãos livres de Barcelona.
Arnau não respondeu. Bernat procurou a cabeça do rapazinho e acariciou-a; sabia o pouco que isso significava para um rapazinho a quem tinham roubado a alegria. Bernat escutou a respiração dos escravos e continuou a afagar a cabeça do filho, mas assaltava-o uma dúvida: o rapaz concordaria algum dia em trabalhar para Grau? Nessa noite, Bernat teve dificuldade em conciliar o sono.
Todas as manhãs, quando amanhecia e os homens iniciavam os seus trabalhos, Arnau saía da oficina de Grau. Todas as manhãs, Bernat tentava falar com ele e animá-lo. Tens de procurar fazer amigos, quis dizer-lhe certa vez, mas antes que o tivesse podido fazer, Arnau virara-lhe as costas e dirigira-se lentamente para a rua. Desfruta a tua liberdade, filho, quis dizer-lhe outra vez, quando o rapaz ficou a olhar para ele, depois de fazer menção de lhe querer falar. No entanto, quando ia para falar, uma lágrima correu pela cara do rapazinho. Bernat ajoelhou-se e só conseguiu abraçá-lo. Depois, viu como ele atravessava o pátio, arrastando os pés. Quando, mais uma vez, Arnau se deteve diante das manchas de sangue de Habiba, o chicote de Grau voltou a estalar na cabeça de Bernat. Prometeu a si próprio que nunca mais voltaria a ceder perante um chicote: uma vez bastara.
Bernat correu atrás do filho, que se voltou ao ouvir-lhe os passos. Quando se encontrava já perto de Arnau, começou a raspar com o pé a terra endurecida onde permaneciam expostas as manchas de sangue da moura. O rosto de Arnau iluminou-se e Bernat raspou com mais força.
— Que fazes? — gritou Jaume do outro lado do pátio. Bernat ficou quieto, gelado. O chicote voltou a estalar na sua memória.
— Pai.
Com a ponta da sandália, Arnau arrastou lentamente a terra enegrecida que Bemat acabara de raspar.
— Que estás a fazer, Bernat? — repetiu Jaume.
Bernat não respondeu. Passaram alguns segundos, e Jaume voltou-se e viu os escravos todos parados... de olhos postos nele.
— Traz-me água, filho — instou-o Bernat, aproveitando a hesitação de Jaume. Arnau saiu disparado e, pela primeira vez em vários meses, Bernat viu-o correr. Jaume aquiesceu.
Pai e filho, ajoelhados, em silêncio, rasparam a terra até limparem as manchas da injustiça.
— Vai brincar, filho — disse-lhe Bernat nessa manhã, quando deram por terminado o trabalho.
Arnau baixou os olhos. Gostaria de lhe ter perguntado com quem haveria de fazer isso. Bernat passou-lhe uma mão pelo cabelo, antes de o empurrar para a porta. Quando Arnau se viu na rua, limitou-se, como todos os dias, a rodear a casa de Grau e a empoleirar-se numa árvore frondosa que se elevava por cima da vedação que dava para o jardim. Aí, escondido, esperava que os primos saíssem, acompanhados por Guiamona.
— Porque deixaste de gostar de mim? — murmurava. — Eu não tive culpa.
Os primos pareciam contentes. A morte de Guiamon ia-se diluindo no tempo, e só o rosto da mãe reflectia o pesar da recordação. Josep e Genís fingiam lutar, enquanto Margarida os observava, sentada junto da mãe, que quase nunca se afastava dela. Arnau, escondido na sua árvore, sentia o aguilhão da saudade ao recordar aqueles abraços.
Uma manhã após outra, Arnau trepava àquela árvore.
— Já não gostam de ti? — ouviu perguntarem-lhe, certo dia. O sobressalto fê-lo perder momentaneamente o equilíbrio, e esteve quase a cair do alto da árvore.
Arnau olhou à sua volta, procurando quem lhe falava, mas não conseguiu ver ninguém.
— Aqui — ouviu então.
Olhou para o interior da árvore, de onde a voz partira, mas também não conseguiu vislumbrar nada. Finalmente, viu remexerem-se alguns ramos, por entre os quais conseguiu distinguir a figura de um rapazinho que o saudava com a mão, muito sério e encavalitado num nó de troncos da árvore.
— Que fazes aqui... sentado na minha árvore? — perguntou-lhe secamente Arnau. O miúdo, sujo e magro, não se deixou ficar.
— O mesmo que tu — respondeu. — Estou a olhar.
— Tu não podes olhar — afirmou Arnau.
— Porquê? Há muito mais tempo que o faço. Antes, também te via a ti — O rapazinho encardido manteve-se silencioso por alguns instantes. — Já não gostam de ti? Porque choras tu tanto?
Arnau sentiu que uma lágrima lhe começava a correr pela face e sentiu raiva: o miúdo andara a espiá-lo. — Desce daí — ordenou-lhe, já no chão.
O rapazinho desceu com agilidade e pôs-se diante dele. Arnau era bastante mais alto que ele, mas o rapazito não parecia assustado.
— Andaste a espiar-me! — acusou Arnau.
— Tu também estavas a espiar — defendeu-se o mais pequeno.
— Sim, mas são meus primos e eu posso fazer isso.
— Então, porque já não brincas com eles, como fazias antes?
Arnau não conseguiu resistir mais e soltou um soluço. A voz tremia-lhe quando tentou responder à pergunta.
— Não te preocupes — disse-lhe o mais pequeno, tentando tranquilizá-lo —, eu também choro muitas vezes.
— E porque choras tu? — perguntou Arnau, balbuciando.
— Não sei... Às vezes choro quando penso na minha mãe.
— Tu tens mãe?
— Sim, mas...
— E que fazes tu aqui, se tens mãe? Porque não estás a brincar com ela?
— Não posso estar com ela.
— Porquê? Não está em tua casa?
— Não... — respondeu o miúdo, hesitando. — Sim, está em casa.
— Então, porque não estás com ela?
O rapazito sujo e magro não respondeu.
— Está doente? — insistiu Arnau. O outro fez que não com a cabeça.
— Está bem — afirmou.
— Então? — tornou a insistir Arnau.
O rapazinho olhou para ele com uma expressão desconsolada. Mordeu várias vezes o lábio inferior e por fim decidiu-se:
— Anda — disse-lhe, puxando a manga da camisa de Arnau. — Segue-me.
O pequeno desconhecido começou a correr, com uma velocidade surpreendente para a sua curta estatura. Arnau seguiu-o, tentando não o perder de vista, o que foi fácil enquanto percorriam o amplo e desimpedido bairro dos ceramistas, mas foi-se complicando à medida que penetravam no interior de Barcelona; as velhas vielas da cidade, cheias de gente e de bancas de artesãos, tornavam-se verdadeiros labirintos por onde era quase impossível passar.
Arnau não sabia onde estava, mas avançava sem preocupação; o seu único objectivo era não perder de vista a figura rápida e ágil do seu companheiro, que corria por entre as pessoas e as mesas dos artesãos, causando a indignação de todos. Arnau, mais desajeitado quando era preciso esquivar-se dos transeuntes, pagava as consequências do rasto de desagrado que o rapaz ia deixando atrás de si, e recebia gritos e impropérios. Alguém conseguiu acertar-lhe um pontapé, e outro tentou fazê-lo parar, agarrando-o pela camisa, mas Arnau libertou-se de ambos, embora, com tantos tropeções, acabasse por perder o rasto do seu guia; de repente, viu-se sozinho à entrada de uma grande praça cheia de gente.
Conhecia aquela praça. Estivera ali uma vez com o pai. «Esta é a Praça do Blat», dissera-lhe. «É o centro de Barcelona. Vês aquela pedra no centro da praça?» Arnau olhara para onde o pai apontava. «Pois essa pedra significa que a partir dali a cidade se divide em quartos: o de La Mar, o de Framenors, o do Pi e o da Salada, ou de Sant Pere.» Chegou à praça pela rua dos artesãos da seda e, parado sob o portão do castelo do corregedor, Arnau tentou distinguir a silhueta do rapazinho sujo, mas a multidão que se aglomerava na praça impedia-lho. Junto dele, de um dos lados do portão, estava o matadouro principal da cidade e, do outro lado, uma banca onde se vendia pão cozido. Arnau esforçou-se por encontrar o mais pequeno por entre os bancos de pedra de ambos os lados da praça, à frente dos quais passavam os cidadãos. «Este é o mercado do trigo», explicara-lhe Bernat. «De um lado, naquelas bancas, os revendedores e os comerciantes da cidade vendem o trigo, e do outro lado, naquelas outras bancas, são os camponeses a vender as suas colheitas.» Arnau não dava com o rapazinho sujo que o tinha levado até ali, nem de um lado nem do outro, nem entre as pessoas que regateavam os preços ou compravam o trigo.
Enquanto tentava encontrá-lo, de pé sob o portão maior, Arnau foi empurrado pelas pessoas que tentavam chegar à praça. Tentou esquivar-se das pessoas aproximando-se das mesas dos padeiros, mas assim que as suas costas tocaram numa mesa, recebeu um doloroso estalo no pescoço.
— Fora daqui, ranhoso! — gritou-lhe o padeiro. Arnau voltou a ver-se rodeado de gente, do bulício e da gritaria do mercado, sem saber aonde se dirigir e sendo empurrado de um lado para o outro por pessoas mais altas que ele e que, carregadas com sacas de sal, nem reparavam nele.
Arnau começava a ficar enjoado quando, do meio do nada, lhe apareceu à frente aquela cara traquina e suja que andara a seguir por meia Barcelona.
— Que fazes aí parado? — perguntou-lhe o rapazito, levantando a voz para se fazer ouvir.
Arnau não lhe respondeu. Desta vez, decidiu agarrar com firmeza a camisa do miúdo e deixou-se arrastar ao longo de toda a praça, até à Rua Bòria. Depois de a percorrerem, chegaram ao bairro dos ferreiros, em cujas pequenas vielas ecoavam os golpes dos martelos sobre o cobre e o ferro. Por essa zona não correram; Arnau, exausto e ainda agarrado à manga do rapazito, obrigou o seu descuidado e impaciente guia a abrandar o passo.
— Esta é a minha casa — disse-lhe finalmente o miúdo, apontando para uma pequena construção de um só piso. Diante da porta havia uma mesa cheia de alguidares de cobre, atrás da qual trabalhava um homem corpulento que nem sequer olhou para eles. — Aquele era o meu pai — acrescentou, depois de passarem distanciados da fachada da casa.
— Porque não?... — começou Arnau a perguntar, voltando o olhar para a casa.
— Espera — interrompeu-o o rapazito sujo. Seguiram pela calçada acima, e circundaram as pequenas casas, até darem com a parte traseira, em que se abriam as hortas anexas às casas. Quando chegaram àquela que correspondia à casa do rapazito, Arnau observou como este se empoleirava na vedação que fechava a horta e o incitava a imitá-lo.
— Porquê?...
— Sobe! — ordenou o rapazito, sentado sobre a vedação. Ambos saltaram para o interior da pequena horta, mas então o rapazinho ficou parado, com o olhar fixo numa construção anexa à casa, uma pequena divisão que, na parede que dava para a horta, a uma altura elevada, tinha uma pequena abertura em forma de janela. Arnau deixou passar alguns segundos, mas o rapaz não se mexeu.
— E agora? — perguntou, por fim. O rapaz virou-se para Arnau.
— O quê?
Mas o miúdo não fez caso dele. Arnau ficou parado enquanto o seu acompanhante agarrava numa caixa de madeira e a colocava debaixo da janela; depois, empoleirou-se na caixa, com os olhos postos na janelinha.
— Mãe — sussurrou o pequeno.
O braço pálido de uma mulher assomou com esforço, roçando os bordos da abertura; o cotovelo ficou dobrado pelo parapeito e a mão, sem precisar de procurar, começou a acariciar os cabelos do miúdo.
— Joanet — ouviu Arnau dizer uma voz doce —, hoje vieste mais cedo; o Sol ainda não chegou ao meio-dia.
Joanet limitou-se a assentir com a cabeça.
— Passa-se alguma coisa? — insistiu a voz.
Joanet deixou passar alguns segundos antes de responder. Inspirou pelo nariz e disse:
— Vim com um amigo.
— Alegra-me que tenhas amigos. Como se chama ele?
— Arnau.
Como sabe ele o meu?... Claro, espiava-me..., pensou Arnau.
— E está aí?
— Está, mãe.
— Olá, Arnau.
Arnau olhou para a janela. Joanet voltou-se para ele.
— Olá..., minha senhora — murmurou, inseguro sobre o que havia de dizer a uma voz que saía de uma janela.
— Que idade tens? — interrogou a mulher.
— Oito anos..., minha senhora.
— És dois anos mais velho que o meu Joanet, mas espero que se dêem bem e que conservem sempre a vossa amizade. Não há nada melhor neste mundo do que um bom amigo; tenham sempre isso em conta.
A voz não disse mais nada. A mão da mãe de Joanet continuou a acariciar-lhe os cabelos, enquanto Arnau observava como o pequenito, sentado no caixote de madeira encostado à parede, com as pernas penduradas, se deixava ficar imóvel sob aquelas carícias.
— Vão brincar — disse de repente a mulher, enquanto a mão se retirava. — Adeus, Arnau. Trata bem do meu menino, já que és mais velho que ele. — Arnau esboçou um adeus que não chegou a sair-lhe da garganta. — Até logo, filho — acrescentou a voz. — Vens ver-me depois?
— Claro que sim, mãe.
— Vão-se embora, vá.
Os dois rapazes regressaram ao bulício das ruas de Barcelona e deambularam sem rumo. Arnau esperou que Joanet se explicasse, mas como ele não o fazia, atreveu-se por fim a perguntar:
— Porque não sai a tua mãe para a horta?
— Está fechada — respondeu Joanet.
— Porquê?
— Não sei. Só sei que está.
— E porque não entras então tu pela janela?
— Ponç proibiu-me de fazer isso.
— Quem é esse Ponç?
— Ponç é o meu pai.
— E porque te proíbe ele?
— Não sei porquê.
— Porque lhe chamas Ponç, em vez de pai?
— Porque também mo proibiu.
Arnau estacou e puxou Joanet até ficarem cara a cara.
— E também não sei porquê — adiantou-se o rapazinho. Continuaram a passear; Arnau tentava perceber aquela confusão, e Joanet esperava a pergunta seguinte do seu companheiro.
— Como é a tua mãe? — decidiu-se Arnau, por fim.
— Sempre esteve ali fechada — respondeu Joanet, fazendo um esforço por esboçar um sorriso. — Uma vez, quando Ponç estava fora da cidade, tentei entrar pela janela, mas ela não mo permitiu. Disse que não queria que eu a visse.
— Porque estás a sorrir?
Joanet continuou a caminhar por alguns metros antes de responder:
— Ela diz-me sempre que devo sorrir.
Durante o resto da manhã, Arnau percorreu cabisbaixo as ruas de Barcelona, atrás daquele menino sujo que nunca vira o rosto da mãe.
— A mãe dele faz-lhe festas na cabeça através de uma janelinha que há no anexo — sussurrou Arnau ao pai nessa mesma noite, deitados ambos sobre a enxerga. — Nunca a viu. O pai não o deixa, e ela também não.
Bernat afagava a cabeça do filho, como Arnau lhe tinha contado que a mãe do seu novo amigo lhe fazia. Os roncos dos escravos e aprendizes que partilhavam o espaço com eles rompeu o silêncio que se fez entre ambos. Bernat perguntou-se que delito teria cometido aquela mulher para merecer tal castigo.
Ponç, o ferreiro, não teria hesitado em responder-lhe: «Adultério!» Contara-o dezenas de vezes a todos os que quisessem escutá-lo.
— Apanhei-a a fornicar com o amante, um jovenzito como ela; aproveitavam as minhas horas de trabalho na forja. Dirigi-me ao corregedor, evidentemente, para reclamar a justa reparação ditada pelas nossas leis. — O forte ferreiro, de queixo erguido, deleitava-se a falar da lei que permitira que se fizesse justiça. — Os nossos príncipes são homens sábios, conhecedores da maldade da mulher. Apenas as mulheres nobres podem livrar-se da acusação de adultério por meio de um juramento; as outras, como a minha Joana, têm de fazê-lo por meio de uma luta, e submetidas ao juízo de Deus.
Aqueles que tinham presenciado a luta recordavam-se de como Ponç fizera em pedaços o jovem amante de Joana; pouco poderia Deus mediar entre o ferreiro, curtido pelo trabalho na forja, e o delicado jovem dedicado ao amor.
A sentença real foi ditada conforme os Usatges: «Se ganhar a mulher, o marido ficará com ela com honra e reparará todos os gastos que ela e seus amigos tiverem feito por este pleito e nesta batalha, e o prejuízo do lidador. Mas se for ela a vencida, passará para as mãos do seu marido com todas as coisas que tiver.» Ponç não sabia ler, mas cantava de memória o conteúdo da sentença, ao mesmo tempo que mostrava o documento a quem o quisesse ver:
Dispomos que o dito Ponç, se quer que se lhe entregue a Joana, deve dar boa caução idónea e assegurar mantê-la em sua própria casa, num lugar de doze palmos de comprido, seis de largo, e duas canas de altura. Que lhe deve dar um saco de palha bastante para dormir e uma manta com a qual possa cobrir-se, devendo fazer nesse local um buraco para que possa satisfazer as suas necessidades corporais e deixar uma janela pela qual se dêem as vitualhas à mesma Joana; que lhe deve dar o dito Ponç, em cada dia, dezoito onças de pão completamente cozido, e tanta água quanta queira, e que não lhe dará nem fará dar coisa alguma para a precipitar na morte nem fará qualquer coisa para que morra a dita Joana. Sobre todas as quais coisas deu Ponç boa e idónea caução e segurança, antes de lhe ser entregue a referida Joana.
Ponç apresentou a caução que o corregedor lhe solicita-ra, e este entregou-lhe Joana. Construiu na sua horta um cubículo de dois metros e meio por um metro e vinte, fez um buraco para que a mulher pudesse fazer as suas necessidades, abriu aquela janelinha para que Joanet, nascido nove meses após a sentença e nunca reconhecido por Ponç, se deixasse acariciar na cabeça, e emparedou para toda a vida a sua jovem esposa.
— Pai — sussurrou Arnau para Bernat —, como era a minha mãe? Porque nunca me falas dela?
Que queres que te diga? Que perdeu a virgindade sobre o impulso de um nobre bêbedo? Que se converteu na mulher pública do castelo do senhor de Bellera?, pensou Bernat.
— A tua mãe... — respondeu-lhe — não teve sorte. Foi uma pessoa desgraçada.
Bernat ouviu Arnau inspirar pelo nariz antes de voltar a falar:
— Gostava de mim? — insistiu o rapaz com a voz embargada.
— Não teve oportunidade. Faleceu ao dar à luz.
— Habiba gostava de mim.
— Eu também gosto de ti.
— Mas não és minha mãe. Até mesmo Joanet tem uma mãe que lhe faz festas na cabeça.
— Nem todas as crianças têm... — começou a corrigi-lo. A mãe de todos os cristãos... As palavras dos clérigos começaram a ecoar na sua memória.
— Que dizias, pai?
— Que sim, que tens mãe. Claro que tens — Bernat notou que o filho ficara muito quieto. — A todas as crianças que ficam sem mãe, como tu, Deus dá-lhes outra: a Virgem Maria.
— E onde está essa Maria?
— A Virgem Maria — corrigiu-o — está no céu. Arnau ficou uns momentos em silêncio, antes de perguntar de novo:
— E para que serve uma mãe que está no céu? Não me fará festas, não brincará comigo, nem me dará beijos, nem...
— Claro que o fará — Bernat recordou com clareza as explicações que o seu próprio pai lhe tinha dado quando ele próprio fizera aquelas mesmas perguntas: — Ela envia os pássaros para te acariciarem. Quando vires um pássaro, manda uma mensagem por ele à tua mãe, e verás que ele voa para o céu, para a entregar à Virgem Maria; depois, eles contarão uns aos outros e alguns deles virão chilrear e rodopiar à tua volta alegremente.
— Mas eu não entendo os pássaros.
— Aprenderás a entendê-los.
— Claro que sim, que poderás vê-la. Podes vê-la em algumas igrejas, e podes falar-lhe através dos pássaros ou nessas igrejas. Ela responder-te-á através dos pássaros, ou à noite, quando estiveres a dormir, e amar-te-á e dar-te-á mais mimos que qualquer outra mãe que vejas.
— Mais do que Habiba?
— Muito mais.
— E esta noite? — perguntou o rapazinho. — Hoje não falei com ela.
— Não te preocupes, eu fi-lo por ti. Dorme, que vais ver.
Os dois novos amigos encontravam-se todos os dias, e juntos corriam até à praia, para verem os barcos, ou vagueavam e brincavam pelas ruas de Barcelona. Cada vez que espiavam pela vedação da horta, ou cada vez que as vozes de Josep, Genís ou Margarida ecoavam no jardim dos Puig, Joanet via como o amigo levantava os olhos para o céu, como se procurasse alguma coisa que flutuasse sobre as nuvens.
— Que estás a ver? — perguntou-lhe um dia.
— Nada — respondeu Arnau.
As risadas aumentaram e Arnau voltou a olhar para o céu.
— Subimos à árvore? — perguntou Joanet, pensando que eram os ramos da árvore que atraíam a atenção do amigo.
— Não — respondeu Arnau, enquanto localizava com o olhar um pássaro a quem poderia dar uma mensagem para mãe.
— Porque não queres subir à árvore? Assim, poderíamos ver...
Que poderia ele dizer à Virgem Maria? Que havia de dizer à sua mãe? Joanet não dizia nada à dele; apenas ouvia e fazia que sim... ou que não, mas, claro,podia ouvir a voz e sentir as carícias dela, pensou Arnau.
— Subimos?
- Não — gritou Arnau, conseguindo apagar o sorriso dos lábios de Joanet. — Tu já tens uma mãe que gosta de ti, não precisas de espiar as dos outros.
— Mas tu não tens — respondeu-lhe Joanet. — Se subirmos...
Que gostava dela! Era isso que os filhos de Guiamona lhe diziam. «Diz-lhe isso, passarinho.» Arnau viu o pássaro voar em direcção ao céu. «Diz-lhe que gosto dela.»
— Então? Subimos? — insistiu Joanet, já com uma mão nos ramos mais baixos.
— Não. Eu também não preciso disso... —Joanet soltou-se da árvore e interrogou o amigo com o olhar. — Eu também tenho uma mãe.
— Uma nova? Arnau hesitou.
— Não sei. Chama-se Virgem Maria.
— Virgem Maria? E quem é essa?
— Está em algumas igrejas. Eu sei que eles — prosseguiu, apontando para a vedação — iam às igrejas, mas a mim não me levavam.
— Eu sei onde ficam — Arnau arregalou os olhos. — Se quiseres, levo-te lá. A maior igreja de Barcelona!
Como sempre, Joanet desatou a correr sem esperar pela resposta do amigo, mas Arnau já estava habituado, e alcançou-o daí a pouco.
Correram até à Rua de Boquería e contornaram a judiaria, pela Rua de Bisbe, até darem com a catedral.
— Tu achas que a Virgem Maria está aí dentro? — perguntou Arnau ao amigo, apontando para o emaranhado de andaimes que se erguia contra as paredes inacabadas. Seguiu com o olhar uma grande pedra que estava a ser içada graças aos esforços de vários homens que puxavam uma grua.
— Claro que sim! — respondeu, convicto, Joanet. — Isto é uma igreja.
— Isto não é uma igreja! — ouviram ambos alguém dizer nas suas costas. Viraram-se e deram com um homem rude, que trazia um martelo e um escopro na mão. — Isto é a catedral — afirmou, orgulhoso do seu trabalho como ajudante do mestre escultor. — Nunca a confundam com uma igreja.
Arnau olhou zangado para Joanet.
— E onde há uma igreja? — perguntou Joanet ao homem, quando este já se afastava.
— Ali mesmo — respondeu-lhes, para surpresa deles, apontando com o escopro para a mesma rua por onde tinham vindo —, na Praça de Sant Jaume.
Correndo desenfreadamente, voltaram a percorrer a Rua de Bisbe até à Praça de Sant Jaume, onde viram uma pequena construção diferente das outras, com uma infinidade de imagens em relevo esculpidas no tímpano da porta, a que se acedia por uma pequena escadaria. Nenhum dos dois pensou duas vezes. Entraram apressadamente. O interior era escuro e fresco, e antes que os seus olhos se acostumassem à penumbra, umas mãos fortes agarraram-nos pelos ombros e, tal como tinham entrado, foram atirados pela escadaria abaixo.
— Estou farto de vos dizer que não quero correrias na igreja de Sant Jaume.
Arnau e Joanet olharam-se, sem darem conta do sacerdote. A igreja de Sant Jaume! Então aquela também não era a igreja da Virgem Maria, disseram um ao outro, em silêncio.
Quando o cura desapareceu, levantaram-se; estavam rodeados por um grupo de seis rapazes, descalços, esfarrapados e sujos como Joanet.
— Tem muito mau feitio — disse um deles, fazendo um gesto com a cabeça na direcção das portas da igreja.
— Se quiserem, podemos dizer-vos por onde entrar sem que ele se aperceba — disse outro —, mas depois terão de se arranjar sozinhos. Se ele vos apanha...
— Não, não nos interessa — respondeu Arnau. — Sabem onde há outra igreja?
— Não vos deixarão entrar em nenhuma — afirmou um terceiro.
— Isso é cá connosco — respondeu Joanet.
— Olha para o pequenote! — riu-se o maior de todos, avançando para Joanet. Tinha mais do dobro da altura dele, e Arnau receou pelo seu amigo. — Tudo o que acontece nesta praça é cá connosco, percebes? — disse-lhe, empurrando-o.
Quando Joanet reagiu e ia atirar-se ao rapaz mais crescido, algo chamou a atenção de todos, no outro lado da praça.
— Um judeu! — gritou outro dos rapazes.
Todo o grupo desatou a correr em direcção a um rapazinho em cujo peito se destacava o redondel encarnado e amarelo, e que desatou a fugir assim que se deu conta do que lhe ia cair em cima. O pequeno judeu conseguiu alcançar a porta da judiaria antes que o grupo o apanhasse. Os rapazes estacaram diante da porta. Junto de Arnau e Joanet continuava, no entanto, um rapazinho mais pequeno ainda que Joanet, ainda de olhos arregalados perante a tentativa deste de se rebelar contra o mais velho.
— Têm outra igreja ali, atrás de Sant Jaume — indicou-lhes. — Aproveitem para fugir, porque Pau — acrescentou,apontando com a cabeça na direcção do grupo, que já se dirigia de novo para eles — vai voltar muito zangado e vocês é que vão pagar. Fica sempre zangado quando um judeu lhe foge.
Arnau puxou por Joanet, que, desafiador, esperava por esse tal Pau. Por fim, quando viu que os rapazes começavam a correr para eles, Joanet cedeu aos puxões do amigo.
Correram rua abaixo, em direcção ao mar, mas quando se deram conta de que Pau e os seus — provavelmente mais preocupados com os judeus que atravessassem a sua praça — não os seguiam, recuperaram o ritmo normal. Mal tinham percorrido uma rua desde a Praça de Sant Jaume quando deram com outra igreja. Pararam junto às escadas e entreolharam-se. Joanet fez um gesto com os olhos e a cabeça em direcção às portas.
— Esperaremos — disse Arnau.
Nesse momento, saiu da igreja uma idosa, que desceu lentamente a escadaria. Arnau nem pensou duas vezes.
— Boa mulher — disse-lhe quando a anciã chegou à calçada —, que igreja é esta?
— A de Sant Miquel — respondeu a mulher, sem se deter.
Arnau suspirou. Agora era de Sant Miquel.
— E onde há outra igreja? — interveio Joanet, ao ver a expressão do amigo.
— Mesmo ao fim desta rua.
— E que igreja é essa? — insistiu, logrando captar finalmente a atenção da mulher, pela primeira vez.
— Essa é a igreja de Sant Just i Pastor. Porque têm tanto interesse?
Os miúdos não responderam e afastaram-se da anciã, que os observou enquanto se afastavam, cabisbaixos.
— As igrejas são todas de homens! — desabafou Arnau. -— Temos de encontrar uma igreja de mulheres; certamente aí há-de estar a Virgem Maria.
Joanet continuou a caminhar, pensativo.
— Conheço um sítio... — disse, por fim. — São todas mulheres. Fica no extremo da muralha, junto ao mar. Chamam-lhe... —Joanet tentou recordar-se — Chamam-lhe Santa Clara.
— Também não é a Virgem.
— Mas é uma mulher. De certeza que a tua mãe está com esta. Por acaso havia de estar com algum homem sem ser o teu pai?
Desceram pela Rua de La Ciutat até à Porta de la Mar, que se abria na antiga muralha romana, junto ao castelo de Regomir, e de onde partia o caminho para o convento de Santa Clara, que terminava as novas muralhas no seu extremo oriental, frente ao mar. Depois de deixarem para trás o castelo de Regomir, viraram à esquerda e continuaram até darem com a Rua de la Mar, que ia da Praça do Blat até à igreja de Santa Maria de la Mar, onde desembocava em pequenas ruelas, que iam dar à praia. Daí, cruzando a Praça do Born e o Pia d'en Llull, chegava-se, pela Rua de Santa Clara, ao convento do mesmo nome.
Apesar da ansiedade por encontrarem a igreja que procuravam, nenhum dos dois miúdos pôde vencer o impulso de parar diante das bancas dos ceramistas situadas de ambos os lados da Rua de la Mar. Barcelona era uma cidade rica e próspera, e uma boa prova disso eram os numerosos objectos valiosos expostos naquelas bancas: vasilhas de prata, jarras e vasos de metais preciosos com incrustações de pedras, colares, pulseiras e anéis, cinturões, um sem-número de obras de arte que refulgiam sob o sol do Verão, e que Joanet e Arnau tentavam observar antes que o artesão os obrigasse a prosseguir caminho, por vezes aos gritos ou aos pontapés. Dessa forma, correndo diante do aprendiz de um dos ourives, chegaram à Praça de Santa Maria; à sua direita, um pequeno cemitério, o fossar Mayor, e à sua esquerda, a igreja.
— Santa Clara é por... — começou a dizer Joanet, mas calou-se de repente. Aquilo... Aquilo era impressionante!
— Como terão feito isto? — interrogou-se Arnau, para depois ficar de boca aberta.
Diante deles erguia-se uma igreja, forte e resistente, séria, austera, plana, sem janelas e com umas paredes de uma grossura excepcional. Em redor do templo tinham limpo e aplanado o terreno. Uma infinidade de estacas cravadas no chão e unidas por cordas, formando figuras geométricas, rodeavam-na.
Circundando a abside da igreja pequena, erguiam-se dez esbeltas colunas de dezasseis metros de altura, cuja pedra branca sobressaía através dos andaimes que as envolviam.
Os andaimes, de madeira, apoiados na parte posterior da igreja, subiam e subiam, como escadarias imensas. Mesmo à distância a que se encontrava, Arnau teve de erguer os olhos para conseguir divisar o fim dos andaimes, muito acima das colunas.
— Vamos — íncitou-o Joanet quando se cansou de olhar para o perigoso afã dos operários nos andaimes. — De certeza que é mais uma catedral.
— Isto não é uma catedral — ouviram dizer atrás de si. Arnau e Joanet entreolharam-se e sorriram. Voltaram-se e interrogaram com o olhar um homem forte e transpirado, carregado com uma enorme pedra às costas. Então o que é?, parecia perguntar-lhe Joanet, sorrindo.
— A catedral é paga pelos nobres e pela cidade; mas esta igreja, que há-de ser mais importante e bela que a catedral, é paga e construída pelo povo.
O homem nem sequer tinha parado. O peso da pedra parecia empurrá-lo para diante; contudo, sorrira-lhes.
Os dois miúdos seguiram-no, até às traseiras da igreja, situadas junto a outro cemitério, o fossar Menor.
— Quer que o ajudemos? — perguntou Arnau.
O homem bufou antes de se virar e sorrir de novo.
— Obrigado, rapaz, mas é melhor não.
Por fim, baixou-se e deixou cair a pedra no chão. Os rapazes olharam para ela e Joanet aproximou-se para tentar movê-la, mas não conseguiu. O homem soltou uma gargalhada e joanet respondeu-lhe com um sorriso.
— Se não é uma catedral — interveio Arnau, apontando para as altas colunas oitavadas —, o que é?
— Esta é a nova igreja que está a ser erguida pelo bairro da Ribera em agradecimento e devoção a Nossa Senhora, a Virgem...
Arnau estremeceu.
— A Virgem Maria? — interrompeu, de olhos muito abertos.
— Claro, rapaz — respondeu o homem, afagando-lhe o cabelo.
— A Virgem Maria, Nossa Senhora do Mar.
— E... e onde está a Virgem Maria? — perguntou de novo Arnau, com os olhos postos na igreja.
— Ali dentro, nessa pequena igreja; mas quando terminarmos esta, terá o melhor templo que jamais alguma virgem pôde ter.
Ali dentro! Arnau nem sequer ouviu o resto. Ali dentro estava a sua Virgem. De repente, um rumor obrigou todos a erguer os olhos: um bando de pássaros empreendera o voo do mais alto dos andaimes.
O bairro de la Ribera de Mar de Barcelona, onde se estava a construir a igreja em honra da Virgem Maria, crescera como um subúrbio da Barcelona carolíngia, cercada e fortificada pelas antigas muralhas romanas. Nos seus inícios fora um simples bairro de pescadores, estivadores e todo o tipo de gente humilde. Já então ali existia uma pequena igreja, chamada Santa Maria de las Arenas, situada no local onde supostamente fora martirizada Santa Eulália, no ano 303. A pequena igreja de Santa Maria de las Arenas recebeu esse nome por estar edificada precisamente sobre as areias da praia de Barcelona, mas a mesma sedimentação que tinha tornado impraticáveis os portos de que a cidade tinha gozado afastara a igreja dos areais que formavam a linha costeira, até a fazerem perder a sua denominação original. Passou então a chamar-se Santa Maria de la Mar, porque embora a costa se tenha afastado dela, o mesmo não aconteceu com a devoção de todos os homens que viviam do mar.
O passar do tempo, que já conseguira despejar dos areais a pequena igreja, obrigou também a cidade a procurar novos terrenos extramuros onde dar acolhimento à incipiente burguesia de Barcelona, que já não se podia estabelecer no recinto romano. E dos três limites de Barcelona, a burguesia optou pelo oriental, aquele por onde passava o tráfego do porto para a cidade. Aí, na própria Rua de la Mar, se instalaram os ourives; as restantes ruas recebiam os nomes dos cambistas, algodoeiros, açougueiros e padeiros, vinhateiros e quei-jeiros, chapeleiros, espadeiros, e muitos outros artesanatos.
Também se construiu aí uma estalagem onde se alojavam os mercadores estrangeiros de visita à cidade, e construiu-se a Praça do Born, por detrás de Santa Maria, onde se celebravam justas e torneios. Mas não eram só os ricos artesãos que se sentiam atraídos pelo novo bairro da Ribera; também muitos nobres se mudaram para ali, pela mão do senescal Guillem Ramon de Monteada, a quem o conde de Barcelona, Ramon Berenguer IV, cedeu os terrenos que deram lugar à rua que tinha o seu nome, que desembocava na Praça do Born, junto a Santa Maria de la Mar, e onde se ergueram grandes e luxuosos palácios.
Depois de o bairro de Ribera de la Mar de Barcelona se tornar um lugar próspero e rico, a antiga igreja românica onde os pescadores e outras gentes do mar vinham venerar a sua padroeira tornou-se pequena e pobre para os seus prósperos e ricos paroquianos. No entanto, os esforços económicos da igreja barcelonesa e da realeza dirigiam-se exclusivamente para a reconstrução da catedral da cidade.
Os paroquianos de Santa Maria de la Mar, ricos e pobres, unidos na devoção à Virgem, não desfaleceram perante a falta de apoios e, pela mão do recém-nomeado arcediago de la Mar, Bernat Llull, solicitaram às autoridades eclesiásticas a permissão para erguerem aquele que queriam que fosse o maior monumento à Virgem Maria. E obtiveram-na.
Santa Maria de la Mar começou a construir-se, pois, pelo e para o povo, do que deu fé a primeira pedra do edifício, que foi colocada no exacto local onde iria ficar o altar-mor e em que, ao contrário do que acontecia com as construções que contavam com o apoio das autoridades, apenas se esculpiu o escudo da paróquia, em sinal de que a construção, com todos os seus direitos, pertencia única e exclusivamente aos paroquianos que a tinham construído: os ricos, com os seus dinheiros; os humildes, com o seu trabalho. Desde que se colocou a primeira pedra, um grupo de fregueses e próceres da cidade chamados «a Vigésima Quinta» deveria reunir-se todos os anos com o reitor da paróquia, para, na presença de um notário, lhe entregarem as chaves da igreja para esse ano. Arnau observou o homem da pedra. Ainda a transpirar, alquebrado, sorria enquanto olhava para a construção.
— Poderíamos vê-la? — perguntou Arnau.
— A Virgem? — perguntou por sua vez o homem, dirigindo o seu sorriso para o pequeno.
E se as crianças não podiam entrar sozinhas nas igrejas?, interrogou-se Arnau. E se tivessem de o fazer sempre acompanhadas dos pais? Que lhes tinha dito o sacerdote de Sant Jaume?
— Claro que sim. A Virgem há-de ficar encantada por uns meninos como vós a visitarem.
Arnau riu-se, nervoso. Depois, olhou para Joanet.
— Vamos? — incitou.
— Eeeh! Um momento — disse-lhes o homem —, eu tenho de regressar ao trabalho. — Olhou para os operários que trabalhavam a pedra. — Angel — gritou para um rapaz de uns doze anos que se aproximou deles a correr —, acompanha estes dois miúdos à igreja. Diz ao cura que querem ver a Virgem.
O homem voltou a remexer os cabelos de Arnau e desapareceu em direcção ao mar. Arnau e Joanet ficaram com o tal Angel, mas quando o rapaz olhou para eles, baixaram os olhos.
— Querem ver a Virgem?
A voz dele parecia sincera. Arnau confirmou e perguntou--lhe:
— Tu... conhece-la?
— Claro — riu-se Angel. — É a Virgem de la Mar, a minha Virgem. O meu pai é barqueiro! — acrescentou, com orgulho. — Venham.
Os dois seguiram-no até à entrada da igreja, Joanet com os olhos muito abertos, Arnau cabisbaixo.
— Tens mãe? — perguntou, de repente.
— Sim, claro — respondeu Angel sem deixar de caminhar à frente deles.
Por trás dele, Arnau sorriu para Joanet. Passaram as portas de Santa Maria, e Arnau e Joanet detiveram-se até os seus olhos se acostumarem à obscuridade. Cheirava a cera e a incenso. Arnau comparou as altas e esbeltas colunas que se erguiam por fora com as do interior da igreja: baixas, quadradas e grossas. A única luz que penetrava ali vinha de umas janelas muito estreitas, abertas e escavadas nos largos muros da construção, que deixavam cair, aqui e ali, rectângulos amarelos no chão. Pendurados do tecto, nas paredes, por toda a parte, havia barcos: alguns laboriosamente trabalhados, outros mais toscos.
— Vamos — sussurrou-lhes Angel.
Enquanto se dirigiam para o altar, Joanet apontou para várias pessoas postas de joelhos no chão e que lhes tinham passado despercebidas, inicialmente. Ao passarem junto delas, os miúdos estranharam os murmúrios das orações.
— Que fazem estas pessoas? — perguntou Joanet, aproximando-se do ouvido de Arnau.
— Rezam — respondeu ele.
A sua tia Guiamona, quando regressava da igreja com os filhos, obrigava-o a rezar, ajoelhado no quarto, diante de uma cruz. Quando ficaram diante do altar, um sacerdote magro aproximou-se deles. Joanet pôs-se atrás de Arnau.
— Que te traz por aqui, Angel? — perguntou o homem em voz baixa, mas olhando, não obstante, para as duas crianças.
O sacerdote estendeu a mão para Angel, e o jovem inclinou-se diante dela.
— Estes dois rapazes, padre. Querem ver a Virgem.
Os olhos do sacerdote brilharam no escuro ao dirigir-se a Arnau.
— Ali a têm — disse, apontando para o altar.
Arnau seguiu a direcção que o sacerdote lhe apontava, até dar com uma pequena e simples figura esculpida em pedra, com um menino sobre o ombro direito e um barco de madeira aos pés. Arregalou os olhos; as feições da mulher eram serenas. A sua mãe!
— Como se chamam? — perguntou o sacerdote.
— Arnau Estanyol — respondeu um.
— Joan, mas chamam-me Joanet — respondeu o outro.
— E de apelido?
O sorriso desapareceu do rosto de Joanet. Ignorava qual era o seu apelido. A mãe dissera-lhe que não devia utilizar o de Ponç, o ferreiro, porque se este desse por isso, se zangaria muito, mas que também não usasse o dela. Nunca precisara de dizer a ninguém o seu apelido. Para que quereria sabê-lo agora aquele sacerdote? Mas o padre insistia com o olhar.
— O mesmo que ele — disse, por fim. — Estanyol. Arnau virou-se para ele e leu uma súplica nos olhos do amigo.
— Então, sois irmãos.
— Huum... sim — conseguiu balbuciar Joanet, ante a silenciosa cumplicidade de Arnau.
— Sabem rezar?
— Sim — respondeu Arnau.
— Eu, não... ainda não — acrescentou Joanet.
— Pois o teu irmão que te ensine — disse-lhe o sacerdote. — Podem rezar à Virgem. Anda comigo, Àngel, queria dar-te um recado para o teu mestre. Há ali umas pedras...
A voz do padre foi-se perdendo, à medida que se afastavam; os dois rapazinhos ficaram em frente ao altar.
— Será preciso rezar de joelhos? — sussurrou Joanet para Arnau.
Arnau virou o olhar para as sombras que Joanet lhe apontava, e quando este já se dirigia para os genuflexórios de seda encarnada que havia diante do altar, agarrou-o pelo braço.
— As pessoas ajoelham-se no chão — disse-lhe também num sussurro, indicando os paroquianos —, mas também estão a rezar.
— E tu, que vais fazer?
— Eu não rezo. Estou a falar com a minha mãe. Tu não te pões de joelhos quando falas com a tua mãe, pois não?
Joanet olhou para ele. Não, realmente não o fazia...
— Mas o padre não disse que podíamos falar com ela; só disse que podíamos rezar.
— Nem te passe pela cabeça dizer mais alguma coisa ao padre. Se o fizeres, digo-lhe que mentiste e que não és meu irmão.
Joanet ficou junto de Arnau e entreteve-se a olhar para oS numerosos barcos que adornavam a igreja. Gostaria de ter um daqueles barcos. Perguntou-se se flutuariam. Decerto que sim; se não, para que os teriam esculpido? Poderia pôr um daqueles barcos junto à rebentação do mar e...
Arnau tinha o olhar fixo na figura de pedra. Que poderia dizer-lhe? Teriam os pássaros entregue as mensagens? Dissera-lhes que gostava dela; dissera-lhes isso muitas vezes.
«O meu pai disse-me que, embora fosse moura, está contigo, mas que não posso dizer isso a ninguém, porque as pessoas dizem que os mouros não vão para o céu — continuou a murmurar. — Era muito boa. Ela não teve culpa de nada. Foi a Margarida.»
Arnau olhava fixamente para a Virgem. Dezenas de velas acesas rodeavam-na. O ar ondulava em volta da figura de pedra.
«Habiba está contigo? Se a vires, diz-lhe que também gosto muito dela. Não te zangas por eu gostar dela, pois não? Apesar de ser moura.»
Arnau, através da obscuridade, do ar e do tremeluzir das dezenas de velas, observou como os lábios da pequena figura se curvavam num sorriso.
— Joanet! — disse ao amigo.
— Que é?
Arnau apontou para a Virgem, mas agora os lábios dela... Talvez a Virgem não quisesse que mais ninguém a visse a sorrir? Talvez fosse um segredo.
— Que foi? — insistiu Joanet.
— Nada, nada.
— Já rezaram?
A presença de Àngel e do padre surpreendeu-os.
— Sim — respondeu Arnau.
— Eu não — começou a desculpar-se Joanet.
— Já sei, já sei — interrompeu-o o padre, afagando-lhe carinhosamente o cabelo. — E tu, que rezaste?
— A ave maria — respondeu Arnau.
— Bonita oração. Vamos, então — acrescentou o padre enquanto os acompanhava à porta.
— Padre — disse Arnau, quando já estavam lá fora — poderemos voltar?
O sacerdote sorriu-lhes:
— Claro que sim, mas espero que quando o fizeres, já tenhas ensinado o teu irmão a rezar. — Joanet aceitou com seriedade as duas palmadinhas que o padre lhe deu nas bochechas. — Voltem sempre que queiram — acrescentou. — Serão sempre bem-vindos.
Àngel começou a andar em direcção ao lugar onde se amontoavam as pedras. Arnau e Joanet seguiram-no.
— E agora, aonde vão? — perguntou-lhes, virando-se para eles. Os miúdos entreolharam-se e encolheram os ombros. — Não podem estar nas obras. Se o mestre...
— O homem da pedra? — interrompeu-o Arnau.
— Não — respondeu Àngel, rindo. — Esse é Ramon, um bastaix. — Joanet somou-se à expressão inquisitiva do amigo. — Os bastaixos são os arrieiros do mar; transportam as mercadorias da praia até aos armazéns dos mercadores, ou o contrário. Carregam e descarregam as mercadorias depois de os barqueiros as terem trazido para a praia.
— Então, não trabalham em Santa Maria? — perguntou Arnau.
— Sim. A maior parte deles. — Àngel sorriu perante a expressão dos miúdos. — São gente humilde, sem recursos, mas muito devota da Virgem de la Mar, mais devotos do que ninguém. Como não podem dar dinheiro para a construção, a confraria dos bastaixos comprometeu-se a transportar gratuitamente a pedra da pedreira real, em Montjuic, até à obra. Trazem-nas às costas — Àngel fez esse comentário de olhar perdido —, e percorrem milhas carregados com pedras que depois só duas pessoas conseguem mover.
Arnau recordou a enorme pedra que o bastaix tinha deixado no chão.
— Claro que trabalham para a sua Virgem! — insistiu Àngel.
— Mais do que ninguém. Vão brincar — acrescentou, antes de seguir caminho.
— Porque continuam a erguer os andaimes?
Arnau apontou para a parte traseira da igreja de Santa Maria. Àngel ergueu os olhos e, com a boca cheia de pão e queijo, tartamudeou uma explicação ininteligível. Joanet começou a rir, Arnau juntou-se-lhe, e por fim, até o próprio Àngel não pôde evitar uma gargalhada, até que se engasgou, e o riso transformou-se num ataque de tosse.
Todos os dias, Arnau e Joanet iam a Santa Maria, entravam na igreja e ajoelhavam-se. Incentivado pela mãe, Joanet tinha decidido aprender a rezar, e repetia uma e outra vez as orações que Arnau lhe ensinava. Depois, quando os dois amigos se separavam, o pequeno corria até à janela e explicava o quanto tinha rezado nesse dia. Arnau falava com a mãe, excepto quando o padre Albert, que assim se chamava o sacerdote, se aproximava deles; então juntava-se ao murmúrio de Joanet.
Quando saíam de Santa Maria, e sempre a uma certa distância, Arnau e Joanet olhavam para as obras, para os carpinteiros, para os pedreiros, para os serventes; depois, sentavam-se no chão da praça à espera de que Àngel fizesse um intervalo no seu trabalho e se sentasse junto deles para comer o pão e queijo. O padre Albert olhava-os com carinho, os trabalhadores de Santa Maria saudavam-nos com um sorriso, e até mesmo os bastaixos, quando apareciam carregados com pedras às costas, desviavam o olhar para aqueles dois miúdos sentados em frente a Santa Maria.
— Porque continuam a erguer os andaimes? — voltou a perguntar Arnau.
Os três olharam para a parte posterior da igreja, onde se erguiam as dez colunas; oito em semicírculo e duas mais afastadas. Depois delas, já se tinham começado a construir também os contrafortes e as paredes que formariam a absi-de. Mas se as colunas subiam apenas acima da pequena igreja românica, os andaimes subiam e subiam, sem razão aparente, sem colunas no seu interior, como se os operários tivessem enlouquecido e quisessem construir uma escada até ao céu.
— Não sei — respondeu Àngel.
— Todos esses andaimes não aguentam nada — interveio Joanet.
— Mas hão-de aguentar — afirmou então com segurança a voz de um homem.
Os três rapazes viraram-se. Entre os risos e as tosses, não se tinham dado conta de que atrás deles se tinham colocado vários homens, alguns luxuosamente vestidos, outros com hábitos de sacerdotes, mas engalanados com cruzes de ouro e pedras preciosas sobre o peito, com grandes anéis e cinturões bordados com fios de ouro e de prata.
O padre Albert viu-os da porta da igreja e apressou-se a ir recebê-los. Àngel levantou-se de um salto e voltou a engasgar-se. Não era a primeira vez que via o homem que acabara de lhes responder, mas poucas vezes o vira rodeado de tanto aparato. Era Berenguer de Montagut, o mestre-de-obras de Santa Maria de la Mar.
Arnau e Joanet também se levantaram. O padre Albert juntou-se ao grupo e beijou os anéis dos bispos, saudando-os.
— O que aguentarão os andaimes?
A pergunta de Joanet fez deter o padre Albert a meio caminho de outro beijo; da sua incómoda posição, olhou para o miúdo; não fales se não te perguntarem nada, disse-lhe com os olhos. Um dos prebostes fez menção de prosseguir para a igreja, mas Berenguer de Montagut agarrou Joanet por um ombro e inclinou-se para ele.
— As crianças são por vezes capazes de ver aquilo que nós não vemos — disse em voz alta para os seus acompanhantes. — Por isso, não me admiraria se estes rapazes tivessem observado alguma coisa que a nós nos poderá ter passado despercebido. Queres saber por que razão continuamos a fazer subir os andaimes? — Joanet assentiu, mas não sem antes olhar para o padre Albert. — Vês o final das colunas? Pois lá de cima, do topo de cada uma delas sairão seis arcos, e o mais importante de todos será aquele sobre o qual descansará a abside da nova igreja.
— O que é uma abside? — interrogou Arnau. Berenguer sorriu e olhou para trás. Alguns dos presentes estavam tão atentos às explicações como as crianças.
— Uma abside é algo parecido com isto — o mestre juntou as pontas dos dedos das duas mãos, abrindo-as para baixo. As crianças mantiveram-se atentas àquelas mãos mágicas; alguns dos que estavam mais atrás aproximaram-se, incluindo o padre Albert. — Pois bem, em cima de tudo, no ponto mais alto — prosseguiu, separando as mãos e mostrando a ponta do seu indicador —, será colocada uma grande pedra que se chama pedra de chave. Primeiro, teremos de içar essa pedra até ao mais alto dos andaimes, ali em cima, vêem? — Todos olharam para o céu. — Uma vez que tenhamos colocado a pedra, iremos fazendo subir os nervos desses arcos, até que se juntem à pedra de chave. Por isso necessitamos de andaimes tão altos.
— E para quê tanto esforço? — tornou a perguntar Arnau.O sacerdote estremeceu quando ouviu o rapazinho, se bem que já começasse a acostumar-se às perguntas e observações. — Nada disso se poderá ver de dentro da igreja. Ficará por cima do tecto.
Berenguer riu-se, e alguns dos seus acompanhantes também o fizeram. O padre Albert suspirou.
— Poderá ver-se, sim, rapaz, porque o tecto da igreja que agora ali está irá desaparecendo à medida que se for construindo a nova estrutura. Será como se essa pequena igreja fosse criando a nova, maior, mais...
A expressão de desilusão de Joanet surpreendeu-o. O rapazito habituara-se à intimidade da pequena igreja, ao seu odor, à sua escuridão, à intimidade que encontrava ali quando rezava.
— Gostas da Virgem de la Mar? — perguntou-lhe Berenguer. Joanet olhou para Arnau. Ambos assentiram.
— Pois quando terminarmos a sua nova igreja, essa Virgem que tanto amas terá mais luz que qualquer outra virgem do mundo. Já não estará na escuridão, como agora, e terá o templo mais belo que alguém já pôde imaginar; já não ficará encerrada entre paredes grossas e baixas, mas sim entre altas e finas, esbeltas, com colunas e absides que chegarão até ao céu, que é onde a Virgem deve estar.
Todos olharam para o céu.
— Sim — continuou Berenguer de Montagut —, até aí chegará a nova igreja da Virgem de la Mar. — Depois começou a andar para Santa Maria, acompanhado pela sua comitiva; deixaram os rapazes e o padre Albert a verem-nos afastar-se.
— Padre — perguntou Arnau, quando já não o podiam ouvir —, que será da Virgem quando derrubarem a igreja pequena, mas antes de terem acabado a grande?
— Vês aqueles contrafortes? — respondeu-lhe o sacerdote, apontando para dois dos que estavam a ser construídos para fechar o deambulatório, por detrás do altar-mor. — Pois ali, entre eles, será construída a primeira capela, a do Santíssimo; e será aí, provisoriamente, junto do corpo de Cristo e do sepulcro que contém os restos de Santa Eulália, que ficará guardada a Virgem, para que não sofra nenhum dano.
— E quem tomará conta dela?
— Não te preocupes — respondeu-lhe o clérigo, desta vez sorrindo —, a Virgem ficará bem vigiada. A capela do Santíssimo pertence à confraria dos bastaixos; eles ficarão com as chaves das suas portas e se ocuparão de guardar a tua Virgem.
Arnau e Joanet já conheciam os bastaixos, Àngel já lhes dissera os nomes deles, quando apareciam em fila, carregados com as enormes pedras: Ramon, o primeiro que tinham conhecido; Guillem, duro como as pedras que carregava às costas, crestado pelo sol e com o rosto horrivelmente desfigurado por um acidente, mas meigo e carinhoso no trato; outro Ramon, chamado «el Chico», mais baixo que o primeiro e atarracado; Miquel, um homem fibroso que parecia incapaz de suportar o peso da sua carga, mas que o conseguia à força de retesar todos os nervos e tendões do corpo, ao ponto de parecer que a qualquer momento poderiam estalar e romper-se; Sebastià, o menos simpático e mais taciturno, e o seu filho Bastianet; Pere, Jaume e um sem-número de nomes, correspondentes àqueles trabalhadores de la Ribera que tinham assumido como tarefa sua transportar da pedreira real da La Roca até Santa Maria de la Mar os milhares de pedras necessárias para a construção da igreja.
Arnau pensou nos bastaixos: em como olhavam para a igreja quando, recurvados, chegavam a Santa Maria; em como sorriam depois de descarregarem as pedras; na força que demonstravam nas suas costas. Podia ter a certeza de que cuidariam bem da sua Virgem.
Aquilo que Berenguer de Montagut lhes tinha adiantado não demorou nem sete dias a cumprir-se.
— Amanhã, venham ao amanhecer — aconselhou-lhes Angel.
— Vamos içar a pedra de chave.
E ali estavam as crianças, correndo por trás de todos os operários, reunidos perto da base dos andaimes. Havia mais de cem pessoas, entre trabalhadores, bastaixos e mesmo sacerdotes; o padre Albert despojara-se dos seus hábitos e aparecera vestido como qualquer outro, com uma grossa peça de tecido vermelho enrolada à cintura, à laia de faixa.
Arnau e Joanet meteram-se por entre eles, saudando uns e sorrindo para outros.
— Meninos — ouviram dizer-lhes um dos mestres pedreiros —, quando começarmos a içar a chave, não vos quero ver aqui no meio.
Cada grupo contava com um mestre pedreiro que os organizou em filas. O cordame já estava preparado e os homens agarraram-no. Berenguer de Montagut não lhes deu tempo para pensarem.
— Todos! Começai a puxar à ordem de «Já», primeiro com suavidade, até que sintais a tensão das cordas. Já!
Arnau e Joanet viram as filas mover-se até o cordame começar a esticar-se.
— Todos! Força!
Os rapazes contiveram a respiração. Os homens cravaram os tacões na terra, começaram a puxar, e os seus braços, costas e rostos mostravam a tensão. Arnau e Joanet fixaram o olhar na grande pedra. Não se mexia.
— Todos! Mais força!
A ordem ecoou pelo terreiro. Os rostos dos homens começaram a congestionar-se. A madeira dos andaimes estalou e a chave ergueu-se a um palmo do chão. Seis mil quilos!
— Mais — gritou Berenguer sem desviar a atenção da chave.
Mais um palmo. Os rapazes tinham-se esquecido até de respirar.
— Santa Maria! Mais força! Mais!
Arnau e Joanet dirigiram o olhar para a fila de Santa Maria. Ali estava o padre Albert, que fechou os olhos e puxou a corda.
— Assim, Santa Maria! Assim. Todos! Mais força!
A madeira continuava a ranger. Arnau e Joanet olharam para os andaimes e depois para Berenguer de Montagut, que só prestava atenção à pedra, que já subia lentamente, muito lentamente.
— Mais! Mais! Mais! Todos juntos! Com força!
Quando a chave alcançou a altura do primeiro andaime, Berenguer ordenou que as filas deixassem de puxar e aguentassem a pedra no ar.
— Santa Maria e Santa Eulália, aguentai! — ordenou depois.
— Santa Clara, puxai! — A chave deslocou-se lateralmente até ao andaime de onde Berenguer dava as ordens. — Todos agora! Soltai pouco a pouco.
Todos, incluindo os que puxavam o cordame, contiveram a respiração quando a chave pousou sobre o andaime, aos pés de Berenguer.
— Devagar! — gritou o mestre-de-obras.
A plataforma retorceu-se devido ao peso da chave.
— E se cede? — sussurrou Arnau a Joanet. Se cedesse, Berenguer...
Mas aguentou. No entanto, aquele andaime não estava preparado para suportar durante muito tempo o peso da chave. Era preciso chegar mais acima, onde, segundo os cálculos de Berenguer, os andaimes aguentariam. Os pedreiros mudaram o cordame até ao guincho seguinte, e os homens voltaram a puxar as cordas. O andaime seguinte, e depois o outro; os seis mil quilos de pedra içavam-se até ao lugar onde iriam confluir as nervuras dos arcos, por cima das pessoas, no céu.
Os homens suavam e tinham os músculos tensos. De vez em quando, algum caía, e o mestre da fila corria para o retirar de debaixo dos pés dos que o precediam. Alguns cidadãos fortes tinham-se aproximado e, quando alguém já não podia mais, o mestre escolhia um deles para ocupar o lugar.
De cima, Berenguer dava as ordens, que eram transmitidas aos homens por outro mestre colocado num andaime mais abaixo. Quando a chave chegou ao último andaime, alguns sorrisos apareceram entre os lábios fortemente cerrados, mas aquele era o momento mais difícil. Berenguer de Montagut tinha calculado o lugar exacto em que devia colocar-se a chave para que as nervuras dos arcos se lhe acoplassem perfeitamente. Durante dias, triangulara com cordas e estacas por entre as dez colunas, deitara prumos do cimo do andaime e esticara cordas e mais cordas desde as estacas do chão até ao cimo do andaime. Durante dias garatujara nos pergaminhos, raspara-os e voltara a escrever neles. Se a chave não ficasse no seu lugar exacto, não aguentaria os esforços dos arcos e a abside poderia ruir.
Por fim, após milhares de cálculos e de uma infinidade de traços, desenhou o local exacto sobre a plataforma do último andaime. Aí deveria colocar-se a chave; nem um palmo mais para lá, nem um palmo mais para cá. Os homens desesperaram quando, ao contrário do que tinha acontecido nas outras plataformas, Berenguer de Montagut não lhes permitiu deixarem a chave sobre o andaime e continuou a dar ordens: — Um pouco mais, Santa Maria. Não. Santa Clara, puxai; agora aguentai. Santa Eulália! Santa Clara! Santa Maria!... Para baixo... Para cima! Agora! — gritou de repente. — Aguentai todos! Para baixo! Pouco a pouco. Devagar!
De repente, o cordame deixou de pesar. Em silêncio, todos os homens olharam para o céu, onde Berenguer de Montagut se tinha acocorado para comprovar a posição da chave. Rodeou a pedra, de dois metros de diâmetro, ergueu-se e saudou os que estavam em baixo, levantando os braços.
Arnau e Joanet julgaram sentir nas suas costas, coladas às paredes da velha igreja, o rugido que saiu das gargantas dos homens que, durante horas, tinham estado a puxar as cordas. Muitos deixaram-se cair por terra. Outros, a minoria, abraçaram-se e saltaram de alegria. As centenas de espectadores que tinham estado a seguir a operação gritavam e aplaudiam, e Arnau sentiu formar-se-lhe um nó na garganta, e eriçaram-se-lhe todos os pêlos do corpo.
— Gostava de ser mais velho — sussurrou nessa noite Arnau para o pai, deitados os dois sobre o colchão de palha, rodeados pelas tosses e roncos de escravos e aprendizes.
Bernat tentou adivinhar de onde viria aquele desejo. Nesse dia, Arnau tinha chegado exultante e contara mil e uma vezes como tinha sido içada a chave da abside de Santa Maria. Até Jaume o escutara com atenção.
— Porquê, filho?
— Todos fazem alguma coisa. Em Santa Maria há muitas crianças que ajudam os pais ou os mestres, mas Joanet e eu...
Bernat passou um braço pelos ombros do filho e puxou-o para si. A verdade era que, a não ser quando lhe davam alguma tarefa esporádica, Arnau passava o dia por aí. Que poderia fazer que tivesse proveito?
— Gostas dos bastaixos, não é?
Bernat sentira o entusiasmo com que ele contava como aqueles homens transportavam as pedras até à igreja. Os miúdos seguiam-nos até às portas da cidade, aí ficavam à espera deles, e depois acompanhavam-nos de regresso, ao longo da praia, de Framenors até Santa Maria.
— Sim — respondeu Arnau, enquanto o pai remexia o outro braço por debaixo do colchão.
— Toma — disse-lhe, entregando-lhe a velha bexiga de água que os tinha acompanhado durante a sua fuga. Arnau agarrou-a, na escuridão. — Oferece-lhes água fresca; verás como não ta recusam e como te agradecerão.
No dia seguinte, ao amanhecer, como sempre, Joanet já o esperava às portas da oficina de Grau. Arnau mostrou-lhe a bexiga, pendurou-a ao peito e correram para a praia, para a fonte do Angel, junto a los Encantes, a única fonte que havia no caminho dos bastaixos. A fonte seguinte ficava já em Santa Maria.
Quando os rapazes viram que a fila de bastaixos se aproximava, avançando lentamente, com os homens curvados sob o peso das pedras, subiram a uma das barcas varadas na praia. O primeiro bastaix chegou até perto deles e Arnau mostrou-lhe a bexiga. O homem sorriu e deteve-se junto da barca, para que Arnau deixasse cair a água directamente na sua boca. Os outros esperaram que o primeiro parasse de beber; depois, o seguinte bebeu também. De regresso à pedreira real, já livres da carga, os bastaixos paravam junto da barca para agradecer a água fresca.
A partir desse dia, Arnau e Joanet tornaram-se os aguadeiros dos bastaixos. Esperavam-nos junto à fonte do Àngele quando havia algum navio para descarregar e os bastaixos não trabalhavam em Santa Maria, seguiam-nos pela cidade, para continuarem a dar-lhes água sem que tivessem de arrear os pesados fardos que transportavam às costas.
Não deixaram de se aproximar de Santa Maria, para observá-la, falar com o padre Albert ou sentarem-se no chão e ver Angel a dar conta do seu almoço. Quem quer que os observasse podia ver nos seus olhos um brilho diferente quando olhavam para a igreja. Eles também estavam a ajudar a construí-la! Assim o tinham dito os bastaixos, e até mesmo o padre Albert.
Com a chave içada até ao céu, os rapazes puderam comprovar como, de facto, de cada uma das dez colunas que a rodeavam começavam a nascer as nervuras dos arcos; os pedreiros tinham construído umas calhas sobre as quais encaixavam uma pedra atrás de outra, e que se erguiam em curva, em direcção à chave. Por detrás das colunas, rodeando as oito primeiras, já se tinham erigido as paredes do deambulatório, com os contrafortes para dentro, metidos no interior da igreja. Entre esses dois contrafortes, disse-lhes o padre Albert apontando para um deles, ficaria a capela do Santíssimo, a dos bastaixos, onde descansaria a Virgem.
Porque ao mesmo tempo que nasciam as paredes do deambulatório, ao mesmo tempo que começavam a construir-se as novas abóbadas apoiadas nas nervuras que partiam das colunas, começara a desmantelar-se a igreja velha.
— Por cima da abside — contou-lhes também o sacerdote, enquanto Angel anuía —, será construída a cobertura. Sabeis com que será feita? — Os miúdos fizeram que não com a cabeça. — Com todas as vasilhas de cerâmica defeituosas da cidade. Primeiro serão colocadas traves, e sobre elas todas as vasilhas, umas ao lado das outras, em filas. E sobre elas, a cobertura da igreja.
Arnau vira todas essas vasilhas amontoadas junto às pedras de Santa Maria. Perguntou ao pai porque estavam ali, mas Bernat não tinha sabido responder-lhe.
— Só sei — disse-lhe — que todas as vasilhas defeituosas são amontoadas à espera de que as venham buscar. Não sabia que se destinavam à tua igreja.
Foi assim que a nova igreja foi tomando forma, por cima da abside da velha, que já tinham começado a derrubar com cuidado, para poderem utilizar as suas pedras. O bairro da Ribera de Barcelona não queria ficar sem igreja, nem mesmo enquanto se construía aquele novo e magnífico templo mariano, e os ofícios religiosos não foram interrompidos em momento algum. No entanto, a sensação era estranha. Arnau, como toda a gente, entrava na igreja pelo portão ogival da pequena construção românica e, uma vez no seu interior, a escuridão em que antes se refugiava para falar com a sua Virgem desaparecera, para dar lugar à luz que entrava agora pelos janelões da nova abside. A antiga igreja assemelhava-se a uma pequena caixa rodeada pela magnificência de outra maior, uma caixa destinada a desaparecer à medida que a segunda crescia; uma caixa mais pequena em cujo final se abria a altíssima abside já coberta.
Contudo, a vida de Arnau não se reduzia a Santa Maria e a dar de beber aos bastaixos. As suas obrigações, a troco de cama e comida, passavam, entre outras coisas, por ajudar a cozinheira quando esta tinha de ir às compras pela cidade.
A cada dois ou três dias, Arnau saía da oficina de Grau ao amanhecer para acompanhar Estranya, a escrava mulata que andava com as pernas abertas, insegura, bamboleando perigosamente as suas abundantes carnes. Assim que Arnau aparecia à porta da cozinha, a escrava, sem dizer uma palavra, dava-lhe os primeiros volumes: dois cestos com pães que teriam de levar ao forno da Rua Ollers Blancs para serem cozidos. Num cesto estavam os pães para Grau e sua família, amassados com farinha de trigo candial, e que se tornariam requintados pães brancos; no outro, os pães para os restantes, de farinha de cevada, de milho, ou mesmo de fava ou grão; um pão que saía escuro, denso e duro.
Entregue a massa do pão, Estranya e Arnau saíam do bairro dos oleiros e cruzavam as muralhas em direcção ao centro de Barcelona. No início do percurso, Arnau seguia sem dificuldade a escrava, ao mesmo tempo que se ria do bambolear que agitava as escuras carnes da mulher, enquanto caminhava.
— De que te ris? — perguntara-lhe, por mais de uma vez, a mulata.
Então, o rapaz olhava o rosto redondo e plano da mulher e escondia o sorriso.
— Queres rir-te? Ri-te agora — dizia-lhe, na Praça do Blat, quando o carregava com um saco de trigo. — Onde está o teu sorriso agora? — perguntava-lhe ao final da Llet, ao entregar-lhe o leite que os seus primos beberiam; e repetia a pergunta na Praceta de Cols, onde compravam couves, legumes e verduras, ou na Praça de 1'Oli, quando compravam azeite, caça ou aves.
A partir daí, cabisbaixo, Arnau seguia a escrava por toda a Barcelona. Nos dias de abstinência, cento e sessenta, quase metade do ano, as carnes da mulata bamboleavam até chegar à praia, perto de Santa Maria, e aí, em qualquer das duas peixarias da cidade, a nova ou a velha, Estranya esforçava-se por conseguir os melhores carapaus, atuns, esturjões, palom-betas, neros e corvinas.
— Agora vamos buscar o teu peixe — dizia-lhe sorrindo quando já tinha obtido o que precisava.
Então, dirigiam-se às traseiras e a mulata comprava os restos. Também havia sempre muita gente na parte de trás de qualquer das duas peixarias, mas aí Estranya não regateava com ninguém.
Apesar disso, Arnau preferia os dias de abstinência àqueles em que Estranya tinha de ir comprar carne, porque enquanto para comprar os restos do peixe bastava dar dois passos para ir às traseiras da venda, para os restos da carne Arnau tinha de correr meia Barcelona e sair da cidade, carregado com os fardos da mulata.
Nos açougues anexos ao matadouro da cidade, compravam a carne para Grau e sua família. Era carne de primeira qualidade, como toda a que se vendia dentro de muros; Barcelona não permitia a entrada de animais mortos. Toda a carne que se vendia na cidade condal entrava viva e era morta no seu interior.
Por isso, para comprar os despojos para alimentar os servos e os escravos, era preciso sair da cidade por Portaferrisa, até chegar ao mercado onde se amontoavam animais mortos e todo o tipo de carne de origem desconhecida. Estranya sorria a Arnau enquanto comprava aquela carne, o carregava com ela e, depois de passar pelo forno para recolher os pães, voltavam para casa de Grau; Estranya no seu bambolear, Arnau arrastando os pés.
Certa manhã em que Estranya e Arnau estavam a fazer compras no matadouro maior, junto à Praça do Blat, começaram a soar os sinos da igreja de Sant Jaume. Não era domingo, nem dia de festa. Estranya ficou parada, grande como era, com as pernas abertas. Alguém gritou na praça. Arnau não conseguiu compreender o que dizia, mas a este grito juntaram-se muitos outros, e as pessoas começaram a correr em todas as direcções. O rapaz virou-se para Estranya, com uma pergunta nos lábios que não chegou a formular. Largou os sacos. Os mercadores de cereais levantavam as suas bancas apressados. As pessoas continuavam a correr e a gritar, e os sinos de Sant Jaume não paravam de repicar. Arnau fez menção de se dirigir para a Praça de Sant Jaume, mas... não tocavam também os sinos de Santa Clara? Aguçou o ouvido em direcção ao convento das monjas, e nesse momento começaram a repicar os sinos de Sant Pere, os de Framenors, os de Sant Just. Todos os sinos da cidade tocavam a rebate! Arnau ficou onde estava, com a boca aberta, ensurdecido, enquanto via as pessoas a correr.
De repente, deu com o rosto de Joanet diante do seu. O amigo, nervoso, não conseguia ficar quieto.
— Via fora! Via fora! — gritava.
— O quê? — perguntou Arnau.
— Via fora!— gritou-lhe Joanet ao ouvido.
— Que significa isso?
Joanet mandou-o calar e apontou para a antiga Porta Maior, sob o palácio do corregedor.
Arnau dirigiu o olhar para a porta, precisamente no momento em que por esta passava um aguazil do corregedor vestido para a batalha, com uma couraça prateada e uma grande espada à cinta. Na mão direita, pendendo de uma haste dourada, trazia o pendão de Sant Jordi: a cruz vermelha sobre fundo branco. Depois dele, outro aguazil, também equipado para a batalha, trazia o pendão da cidade. Os dois homens percorreram a praça até ao centro, onde se encontrava a pedra que dividia a cidade em bairros. Uma vez aí, mostrando os pendões de Sant Jordi e de Barcelona, os aguazis gritaram em uníssono:
— Via fora! Via fora!
Os sinos continuavam a repicar e o Via fora! corria por todas as ruas da cidade, na boca dos cidadãos. Joanet, que tinha observado o espectáculo num silêncio reverente, começou a gritar desalmadamente.
Por fim, Estranya pareceu responder e incentivou Arnau a sair dali. O rapaz, fascinado com os aguazis, de pé no centro da praça, com as suas couraças refulgentes e as suas espadas, hieráticos sob os coloridos pendões, soltou-se da mão da mulata.
— Vamos, Arnau — ordenou Estranya.
— Não — opôs-se, acicatado por Joanet. Estranya agarrou-o pelo ombro e sacudiu-o.
— Vamos, isto não é connosco.
— Que dizes tu, escrava? — As palavras partiram de uma mulher que, junto com outras, fascinadas como eles, observava os acontecimentos e presenciara a discussão entre Arnau e a mulata. — O rapaz é escravo? — Estranya negou com um gesto da cabeça. — É cidadão? — O rapaz anuiu. - Como te atreves, então, a dizer que o via fora não é com ele?
Estranya tremeu e os seus pés mexeram-se como os de um pato que não quisesse andar.
— Quem és tu, escrava — perguntou outra das mulheres —, para negares ao rapaz a honra de defender os direitos de Barcelona?
Estranya baixou a cabeça. Que diria o seu amo se a coisa se soubesse? Ele, que tanto queria as honras da cidade. Os sinos continuavam a repicar. Joanet aproximara-se do grupo de mulheres e chamava Arnau para se lhes juntar.
— As mulheres não vão com a host da cidade — recordou a primeira mulher a Estranya.
— Muito menos os escravos — acrescentou outra.
— Quem te parece que deverá cuidar dos nossos maridos, se não forem os rapazes como estes?
Estranya não se atreveu a levantar os olhos.
— Quem julgas que lhes faz a comida ou os recados, lhes tira as botas ou limpa as balestras?
— Vai aonde tens de ir — ordenaram-lhe. — Este não é sítio para escravos.
Estranya pegou nos sacos que até então tinha sido Arnau a carregar, e começou a andar, movendo as suas carnes. Joanet, sorrindo prazenteiro, olhou com admiração para o grupo de mulheres. Arnau continuava no mesmo sítio.
— Vão, rapazes — instaram-nos as mulheres —, e cuidem dos nossos homens.
— Diz ao meu pai! — gritou Arnau para Estranya, que ainda só fora capaz de percorrer três ou quatro metros.
Joanet percebeu que Arnau não despegava os olhos de lento caminhar da escrava, e adivinhou-lhe as hesitações.
— Não ouviste as mulheres? — disse-lhe. — Somos nós que devemos cuidar dos soldados de Barcelona. O teu pai compreenderá.
Arnau anuiu, primeiro lentamente, depois com energia. Claro que compreenderia! Por acaso não tinha lutado para que fossem cidadãos de Barcelona?
Quando se voltaram para a praça, viram que junto aos dois pendões dos aguazis se encontrava agora um terceiro: o dos mercadores. O porta-bandeira não vestia roupas de guerra, mas levava uma balestra e uma espada à cintura. Daí a pouco, chegou outro pendão, o dos ourives, e assim, lentamente, a praça encheu-se de coloridas bandeiras com todo o tipo de símbolos e de figuras: o pendão dos curtidores, o dos cirurgiões ou barbeiros, o dos carpinteiros, o dos caldeireiros, o dos oleiros...
Sob os pendões iam-se agrupando, consoante o seu ofício, os cidadãos de Barcelona; todos, como a lei exigia, armados com uma balestra, uma aljava com cem flechas e uma espada ou uma lança. Ao fim de menos de duas horas, o sa-gramental de Barcelona estava disposto para partir em defesa dos privilégios da cidade.
Durante essas duas horas, Arnau conseguiu perceber a que se devia tudo aquilo. Por fim, Joanet explicou-lhe:
— Barcelona não se defende apenas em caso de necessidade, mas também ataca quem se atreva contra nós. — O pequeno falava com veemência, apontando para os soldados e para os pendões, e mostrando o seu orgulho pela resposta de todos eles. — É fantástico! Já vais ver. Com sorte, estaremos alguns dias fora. Quando alguém maltrata algum cidadão ou ataca os direitos da cidade, faz-se uma denúncia a… bem, não sei a quem se faz a denúncia, se ao corregedor, se ao Conselho dos Cem, mas se as autoridades considerarem provado o que foi denunciado, então convoca-se a host sob o pendão de Sant Jordi; ali está ele, vês? No centro da praça, por cima de todos os outros. Os sinos tocam a rebate e as pessoas correm à rua gritando Via fora!, para que toda a Barcelona se dê conta. Os próceres das confrarias pegam nos seus pendões e os confrades reúnem-se em sua volta para acorrer à batalha.
Arnau, com os olhos arregalados, observava tudo o que se passava à sua volta, enquanto seguia Joanet através dos grupos reunidos na Praça do Blat.
— E o que há a fazer? É perigoso? — perguntou Arnau perante o alarde de armas que se viam dispostas na praça.
— Geralmente não é perigoso — respondeu Joanet, sorrindo.
— Repara que se o corregedor deu aval à chamada, fá-lo em nome da cidade, mas também do rei, porque nunca se pode lutar contra as tropas reais. Depende sempre de quem seja o agressor, mas assim que um senhor feudal vê aproximar-se a host de Barcelona, costuma vergar-se às suas exigências.
— Então, não há batalha?
— Depende do que as autoridades decidam e da posição do senhor. Da última vez, arrasou-se uma fortaleza; então, sim, houve batalha, e mortos, e ataques e... Olha! Ali está o teu tio — disse Joanet, apontando para o pendão dos oleiros. — Vamos!
Sob o pendão, e junto dos outros três próceres da confraria, estava Grau Puig, vestido para a batalha, com botas,uma cota de couro que lhe cobria do peito até meio da perna, e uma espada à cinta. Em volta dos quatro homens, circulavam os oleiros da cidade.
Assim que Grau deu pela presença dos rapazes, fez um sinal a Jaume, e este interpôs-se no caminho.
— Aonde vais? — perguntou-lhes. Arnau pediu, com o olhar, a ajuda de Joanet.
— Vamos oferecer a nossa ajuda ao mestre — respondeu Joanet. — Poderemos levar-lhe a trouxa com a comida... ou o que ele desejar.
— Lamento — limitou-se a dizer Jaume.
— E agora? — perguntou Arnau quando Jaume virou costas.
— Que se dane! — respondeu-lhe Joanet. — Não te preocupes, isto está cheio de gente que ficará encantada por a ajudarmos. Além disso, nem darão conta de que vamos com eles.
Os dois rapazes começaram a andar por entre as pessoas; observavam as espadas, as balestras e as lanças, admiravam aqueles que usavam armadura, ou tentavam apanhar as animadas conversas.
— Então e essa água? — ouviram gritar atrás deles. Arnau e Joanet viraram-se. Os rostos dos dois rapazes iluminaram-se ao verem Ramon, que lhes sorria. Junto dele estavam mais vinte macíps, todos eles imponentes e armados, que olhavam para eles.
Arnau tacteou as costas, em busca da bexiga, e tal deve ter sido o seu desconsolo ao não a encontrar que vários dos bastaixos, rindo, se chegaram a ele e lhe ofereceram a sua.
— Há que estar sempre preparado, para quando a cidade te chama — gracejaram.
O sagramental saiu de Barcelona atrás da cruz vermelha do pendão de Sant Jordi, em direcção à vila de Creixell, perto de Tarragona. Os habitantes dessa povoação tinham retido um rebanho que era propriedade dos açougueiros de Barcelona.
— É assim tão mau, isso? — perguntou Arnau a Ramon, que tinham decidido acompanhar.
— Claro que sim. O gado propriedade dos açougueiros de Barcelona tem privilégio de passagem e de pasto em toda a Catalunha. Ninguém, nem sequer o rei, pode reter um rebanho destinado a Barcelona. Os nossos filhos têm de comer a melhor carne do principado — acrescentou, passando a mão pelos cabelos dos miúdos.
— O senhor de Creixell reteve um rebanho e exige do pastor o pagamento dos direitos de pasto e de passagem pelas suas terras. Imaginam o que seria se de Tarragona até Barcelona todos os nobres e barões exigissem pagamento por pasto e passagem? Não poderíamos comer!
Mal sabes tu a carne que Estranya nos dá..., pensou Arnau. Joanet adivinhou os pensamentos do amigo e fez uma careta de desagrado. Arnau só contara isso a Joanet. Estivera tentado a revelar ao pai a origem da carne que lhes davam a comer nos dias em que não tinham de observar a abstinência, mas quando o via comer com gosto, quando via todos os escravos e operários de Grau lançarem-se sobre a panela, fazia das tripas coração, calava-se e comia também.
— Há mais alguma razão para fazer sair o sagramental? — perguntou Arnau, com um sabor amargo na boca.
— Claro que sim. Qualquer ataque aos privilégios de Barcelona ou contra um cidadão pode implicar a saída do sagramental. Por exemplo, se alguém raptar um cidadão de Barcelona, o sagramental sai para o libertar.
Conversando, mas sem deixarem de avançar, Arnan e Joanet percorreram a costa — Sant Boi, Castelldefels e Garraf —, sob o olhar atento das pessoas com quem se cruzavam, que se afastavam do caminho e guardavam silêncio à passagem do sagramental. Até o mar parecia respeitar a host de Barcelona, e o seu rumor apagava-se com a passagem daquelas centenas de homens armados, marchando atrás do pendão de Sant Jordi. O sol acompanhou-os durante todo o dia, e quando o mar começou a cobrir-se de prata, detiveram-se para passar a noite na vila de Sitges. O senhor de Fonollar recebeu no seu castelo os próceres da cidade, e o resto do sagramental acampou às portas da vila.
— Haverá guerra? — perguntou Arnau.
Todos os bastaixos olharam para ele. O crepitar do fogo rasgou o silêncio. Joanet, deitado, dormia com a cabeça apoiada nas coxas de Ramon. Alguns bastaixos trocaram olhares à pergunta de Arnau. Haveria guerra?
— Não — respondeu Ramon. — O senhor de Creixell não poderá enfrentar-nos.
Arnau parecia decepcionado.
— Talvez sim — contentou-o outro dos próceres da confraria, do outro lado da fogueira. — Há muitos anos, quando eu era um jovem, mais ou menos como tu — Arnau quase se queimou para poder ouvi-lo —, foi convocado o sagramental para ir a Castellbisbal, cujo senhor tinha retido um rebanho de gado, tal como agora fez o senhor de Creixell. O senhor de Castellbisbal não se rendeu e enfrentou o sagramental; talvez acreditasse que os cidadãos de Barcelona, mercadores, artesãos ou bastaixos como nós, não seriam capazes de lutar. Barcelona tomou o castelo, prendeu o senhor e os seus soldados, e destruiu-o por completo.
Arnau imaginava-se empunhando uma espada, subindo uma escada ou gritando vitorioso sobre as ameias do castelo de Creixell: «Quem ousa opor-se ao sagramental de Barcelona?» Todos os bastaixos repararam na expressão dele: o rapaz, com o olhar perdido nas chamas, tenso, com as mãos crispadas num pau com que pouco antes brincara, atiçava o fogo, zurzindo: «Eu, Arnau Estanyol...» Os risos trouxeram-no de volta a Sitges.
— Vai dormir — aconselhou Ramon, que já se levantava com Joanet ao colo. Arnau fez uma careta. — Assim poderás sonhar com a guerra — consolou-o o bastaix.
A noite estava fresca e alguém cedeu uma manta para os dois rapazinhos.
No dia seguinte, ao amanhecer, prosseguiram a marcha para Creixell. Passaram por Geltrú, Vilanova, Cubelles, Segur e Barà, todas povoações com castelos, e, de Barà, desviaram-se para o interior, em direcção a Creixell. Era uma povoação que ficava a menos de uma milha do mar, situada num alto em cujo cume se erguia o castelo do senhor de Creixell, uma fortificação construída sobre um talude de pedras de onze lados, com várias torres defensivas, e em redor da qual se espalhavam as casas da vila.
Faltavam algumas horas para anoitecer. Os próceres das confrarias foram chamados pelos conselheiros e pelo corregedor. O exército de Barcelona alinhou em formação de combate frente a Creixell, com os pendões à frente. Arnau e Joanet caminhavam atrás das linhas, oferecendo água aos bastaixos, mas quase todos a recusavam; tinham os olhos postos no castelo. Ninguém falava, e os miúdos não se atreveram a romper o silêncio. Os próceres regressaram e juntaram-se às respectivas confrarias. Todo o exército pôde ver três embaixadores de Barcelona encaminharem-se para Creixell; outros tantos abandonaram o castelo e juntaram-se-lhes a meio do caminho.
Arnau e Joanet, como todos os cidadãos de Barcelona observaram em silêncio os negociadores.
Não houve batalha. O senhor de Creixell tinha conseguido fugir através de um passadiço secreto que unia o castelo à praia, por detrás do exército. O alcaide da vila, diante dos cidadãos de Barcelona em formação de batalha, deu ordens de rendição às forças da cidade condal. Os seus conterrâneos devolveram o gado, puseram em liberdade o pastor, aceitaram pagar uma forte compensação económica, comprometeram-se a obedecer e a respeitar, no futuro, os privilégios da cidade, e entregaram dois dos seus cidadãos, aqueles que consideravam culpados da afronta, que foram imediatamente presos.
— Creixell rendeu-se — anunciaram os conselheiros ao exercito.
Um murmúrio elevou-se por entre as filas de barceloneses. Os soldados acidentais embainharam as espadas, largaram as balestras e as lanças e despiram as roupas de combate. Os risos, os gritos e os gracejos começaram a ouvir-se ao longo das fileiras do exército.
— O vinho, rapazes! — instou Ramon. — Que se passa convosco? — perguntou, ao vê-los parados. — Gostariam de ter visto uma guerra, não é verdade?
A expressão dos rapazes foi resposta suficiente.
— Qualquer um de nós poderia ter ficado ferido ou, até, ser morto. Teriam gostado disso? — Arnau e Joanet apressaram-se a fazer que não com a cabeça. — Devem ver isto de outra maneira: pertencem à maior e mais poderosa cidade do
principado, e toda a gente tem medo de nos enfrentar. — Arnau e Joanet escutaram Ramon com os olhos muito abertos. — Vão buscar o vinho, rapazes. Também vocês brindarão por esta vitória.
O pendão de Sant Jordi regressou com honra a Barcelona, e junto com ele, os dois rapazinhos, orgulhosos da sua cidade, dos seus concidadãos e de serem barceloneses. Os presos de Creixell entraram na cidade acorrentados e foram exibidos pelas ruas de Barcelona. As mulheres e toda a gente que se apinhava nas ruas aplaudiam o exército e cuspiam para os detidos. Arnau e Joanet acompanharam a comitiva durante todo o percurso, sérios e altivos, com a mesma pose com que, depois de os presos serem definitivamente encerrados no palácio do corregedor, se apresentaram a Bernat, que, aliviado por ver o filho são e salvo, esqueceu a reprimenda que tinha pensado dar-lhe e ouviu sorridente o relato das suas novas experiências.
Tinham passado uns meses desde a aventura que os levara a Creixell, mas a vida de Arnau pouco mudara durante esse tempo. A espera de fazer os dez anos, idade com que entraria como aprendiz na oficina do tio, continuava a percorrer com Joanet a atraente e sempre surpreendente Barcelona; dava de beber aos bastaixos e, sobretudo, desfrutava de Santa Maria de la Mar, via-a crescer e rezava à Virgem, a quem contava as suas aventuras, animando-se com aquele sorriso que julgava perceber nos lábios da figura de pedra. Tal como lhe dissera o padre Albert quando o altar-mor da igreja românica desaparecera, transportaram a Virgem para a pequena capela do Santíssimo, situada no deambulatório, por detrás do novo altar-mor de Santa Maria, entre dois dos contrafortes da construção e encerrada por altas e fortes barras de ferro. A capela do Santíssimo não gozava de nenhum benefício que não fosse dos bastaixos, encarregados de tratar dela, de a proteger, de a limpar e de manter sempre acesos os círios que a iluminavam. Aquela era a capela deles, a mais importante do templo, destinada a guardar o corpo de Cristo e, no entanto, a paróquia tinha-a cedido aos humildes carregadores portuários. Muitos nobres e ricos mercadores pagariam para construir e constituir benefícios sobre as trinta e três restantes capelas que se construiriam em Santa Maria de la Mar, disse-lhes o padre Albert, todas elas entre os contrafortes do deambulatório e as naves laterais; mas aquela, a do Santíssimo, pertencia aos bastaixos e o jovem aguadeiro nunca teve problemas em se aproximar da sua Virgem.
Numa manhã em que Bernat estava a arrumar os seus haveres debaixo do colchão, onde escondia a bolsa em que guardava o dinheiro que trouxera da sua precipitada fuga de casa, havia já quase nove anos, bem como o pouco dinheiro que o cunhado lhe dava — dinheiros que serviriam para que Arnau se pudesse estabelecer quando tivesse aprendido o ofício —, Jaume entrou nos aposentos dos escravos. Bernat, intrigado, olhou para o oficial. Não era costume Jaume andar por ali.
— Que se passa?
— A tua irmã morreu — respondeu Jaume.
Bernat sentiu as pernas irem-se abaixo e caiu sentado sobre a enxerga, com a bolsa de moedas na mão.
— Como... Como foi isso? Que se passou? — balbuciou.
— O mestre não sabe. De manhã, ela estava fria. Bernat deixou cair a bolsa e levou as mãos ao rosto.
Quando as separou e ergueu os olhos, Jaume já tinha desaparecido. Com um nó na garganta, Bernat recordou a rapariguinha que trabalhava nos campos com o pai e com ele, a rapariga que cantava incessantemente enquanto tratava dos animais. Muitas vezes Bernat vira o pai a fazer uma pausa nas suas tarefas e a fechar os olhos, deixando-se levar por uns instantes por aquela voz alegre e despreocupada. E agora...
O rosto de Arnau permaneceu impassível quando, à hora de comer, recebeu a notícia da boca do pai.
- Ouviste-me, filho? – Insistiu Bernat.
Arnau fez que sim com a cabeça. Havia um ano que não via Guiamona, a não ser na árvore para ver os primos a brincar; ali estava ele, espiando, chorando em silêncio, e eles riam e corriam, e ninguém… Sentiu o impulso de dizer ao pai que não se importava, que Guiamona não gostava dele, mas a expressão de tristeza que viu nos olhos de Bernat impediu-o.
- Pai… - disse Arnau, aproximando-se dele. Bernat abraçou o filho.
- Não chores – sussurrou Arnau com a cabeça encostada ao peito do pai.
Bernat apertou-o e Arnaud correspondeu rodeando-o com os braços.
Estavam a comer em silêncio, junto dos escravos e dos aprendizes, quando se oiviu o primeiro uivo. Um grito arrepiante que pareceu rasgar o ar. Todos olharam para a casa.
- Carpideiras – disse um dos aprendizes. – A minha mãe é uma delas. Talvez seja ela. É quem melhor chora em toda a cidade – acrescentou com orgulho.
Arnau olhou para o pai; ouviu-se outro uivo e Bernat viu o filho encolher-se.
- Vamos ouvir muito disto – avisou-o. – Disseram-me que Grau contratou muitas carpideiras.
E assim foi. Durante toda a tarde e toda a noite, enquanto as pessoas ocorriam a casa dos Puig para darem os seus pêsames, várias mulheres choraram a morte de Guiamona.
Nem Bernat nem o filho conseguiram conciliar o sono devido àquele constante uivar das carpideiras.
- Já toda Barcelona sabe – comentou Joanet a Arnau, quando este o conseguiu encontrar, de manhã, poe entre a multidão que se apinhava à porta da casa de Grau. Arnau encolheu os ombros. – Vieram todos para o funeral – acrescentou Joanet perante o gesto do amigo.
- Porquê?
- Porque Grau é rico e a toda a gente que vier acompanhar o funeral ele dará roupa – Joanet mostrou a Arnau uma longa camisa preta. – Assim como esta – acrescentou, sorrindo.
A meio da manhã, quando já toda a gente estava vestida de preto, o cortejo fúnebre partiu em direcção à igreja de Nazaret, onde ficava a capela de Santo Hipólito, sob cuja protecção se encontrava a confraria dos ceramistas. As carpideiras iam perto do féretro, chorando, uivando e arrancando cabelos.
A igreja estava repleta de personalidades: próceres das diversas confrarias, conselheiros da cidade, e a maior parte dos membros do Conselho dos Cem. Agora que Guiamona tinha morrido, ninguém se preocupava com os Estanyol, mas Bernat , puxando pelo filho, conseguiu aproximar-se do local onde o cadáver repousava, e onde as vestimentas simples oferecidas por Grau se misturavam com sedas e bissós, os caros véus de linho preto. Nem sequer o deixaram despedir-se da irmã.
Dali, enquanto os sacerdotes oficiavam o funeral, Arnau conseguia vislumbrar os rostos congestionados dos primos Josep e Genís mantinham a compostura, Margarida permanecia de pé, mas sem conseguir conter o constante tremor do seu lábio inferior. Tinham perdido a mãe, tal como ele.
Saberiam aquilo da Virgem?, interrogou-se Arnau; depois, desviou o olhar para o tio, hierático. Tinha a certeza de que Grau não contaria isso aos seus filhos. Os ricos são diferentes sempre lho tinham dito; talvez eles tivessem outra maneira de encontrar uma nova mãe.
E decerto que tinham. Um viúvo rico em Barcelona, um viúvo com aspirações... Não passara ainda o período de luto quando Grau começou a receber propostas de casamento. E não teve pejo de as negociar. Finalmente, a escolhida para se tornar nova mãe dos filhos de Guiamona foi Isabel, uma rapariga jovem e pouco graciosa, mas nobre. Grau sopesara as virtudes de todas as aspirantes, mas decidira-se pela única que era nobre. O dote dela era um título isento de benefícios, terras ou riquezas, mas que permitiria a Grau aceder a uma classe que lhe tinha estado vedada. Que lhe importavam a ele os dotes vultuosos que alguns mercadores lhe ofereciam, desejosos de se unirem à sua riqueza? As grandes famílias nobres da cidade não se preocupavam com o estado de viuvez de um simples ceramista, por muito rico que fosse; só o pai de Isabel, sem recursos económicos, percebeu no carácter de Grau a possibilidade de uma conveniente aliança para ambas as partes, e não se enganou.
— Compreenderás — exigiu-lhe o futuro sogro — que a minha filha não pode viver numa oficina de cerâmica. — Grau anuiu. — E que também não pode casar-se com um simples ceramista. — Desta vez, Grau tentou responder, mas o sogro fez um gesto desdenhoso com a mão. — Grau — acrescentou —, nós, nobres, não podemos dedicar-nos ao artesanato, percebes? Talvez não sejamos ricos, mas nunca seremos artesãos.
Nós, os nobres, não podemos...
Grau ocultou a sua satisfação ao ver-se incluído. E tinha razão: que nobre da cidade possuía uma oficina de artesão? Senhor Barão; a partir de agora, chamar-lhe-iam senhor Barão, nas suas negociações mercantis, no Conselho dos Cem... Senhor Barão! Como poderia um barão da Catalunha ter uma oficina de ceramista?
Pela mão de Grau, ainda prócer da confraria, Jaume não teve problemas em ascender à categoria de mestre. Trataram do assunto sob a pressão da pressa de Grau em desposar Isabel, temeroso de que os nobres, sempre tão caprichosos, se arrependessem. O futuro barão não teria tempo para ir ao mercado. Jaume tornar-se-ia mestre e Grau vender-lhe-ia a oficina e a casa, a prestações. Só havia um problema:
— Tenho quatro filhos — disse-lhe Jaume. — Vai ser-me difícil pagar-vos o preço da venda... — Grau instou-o a continuar. — Não posso assumir todos os compromissos que tendes no negócio: escravos, oficiais, aprendizes... Nem sequer poderia alimentá-los! Se quero seguir em frente, terei de me arranjar com os meus quatro filhos.
A data da boda estava marcada. Grau, pela mão do pai de Isabel, adquiriu um caro palacete na Rua de Monteada, onde viviam as famílias nobres de Barcelona.
— Lembra-te — avisou-o o sogro ao sair da recém-adquirida propriedade —, não entres na igreja com uma oficina às costas.
Inspeccionaram até ao último recanto da sua nova casa; o barão anuía condescendente e Grau calculava mentalmente o que lhe ia custar preencher todo aquele espaço. Por detrás dos portões que davam para a Rua de Monteada abria-se um pátio empedrado; em frente, as cavalariças, que ocupavam a maior parte do rés-do-chão, junto das cozinhas e dos dormitórios dos escravos.
A direita, uma grande escadaria de pedra, ao ar livre, subia para primeiro piso nobre, onde ficavam os salões e outras salas; em cima, no segundo piso, os quartos. Todo o palacete era de pedra; os dois pisos nobres com janelas corridas ogivais, que davam para o pátio.
— De acordo — disse Grau àquele que durante anos fora o seu primeiro-oficial —, ficas livre de compromissos.
Assinaram o contrato nesse mesmo dia e Grau, ufano, compareceu diante do sogro com o documento. —Já vendi a oficina — anunciou.
— Senhor Barão — respondeu o sogro, estendendo-lhe a mão.
E agora?, pensou Grau, depois de ficar só. Os escravos não são problema; ficarei com os que me servirem e os que não me servirem... vão para o mercado. Quanto aos oficiais e aprendizes...
Grau falou com os membros da confraria e recolocou todo o seu pessoal, a troco de modestas somas. Só restavam o cunhado e o seu rapaz. Bernat não tinha qualquer título na oficina; não era sequer oficial. Ninguém o admitiria numa oficina, para além de que era proibido. O rapaz nem sequer começara a aprendizagem, mas existia um contrato e, de qualquer forma, como iria ele pedir a alguém que admitisse uns Estanyol? Todos saberiam que aqueles dois fugitivos eram seus parentes. Chamavam-se Estanyol, como Guiamona. Todos ficariam a saber que dera refúgio a dois fugitivos da terra, e agora que ia ser nobre... Acaso não eram os nobres os mais acérrimos inimigos dos servos fugitivos? Acaso não eram esses mesmos nobres quem estava a pressionar o rei para que derrogasse as disposições que permitiam a fuga de servos das terras? Como iria tornar-se nobre com os Estanyol na boca de toda a gente? Que diria o sogro?
— Virão comigo — disse a Bernat, que já havia uns dias que andava preocupado com os novos acontecimentos.
Jaume, como novo dono da oficina, livre das ordens de Grau, sentou-se e falou com ele com confiança: «Não se atreverá a fazer nada convosco. Sei-o, porque mo confessou; não quer que se torne pública a vossa situação. Consegui um bom acordo, Bernat. Ele tem pressa, precisa urgentemente de arrumar todos os seus assuntos antes de casar com Isabel. Tu tens um contrato assinado para o teu filho. Aproveita-o, Bernat. Ameaça-o com o tribunal. És um bom homem. Gostava que percebesses que tudo o que sucedeu durante todos estes anos...»
Bernat compreendia-o. E, levado pelas palavras do antigo oficial, atreveu-se a enfrentar o cunhado.
— Que dizes? — gritou Grau quando Bernat lhe respondeu com um seco «para onde e para quê?» — Para onde eu queira e para o que eu queira — continuou, gritando, nervoso, e gesticulando.
— Não somos teus escravos, Grau.
— Poucas opções tens.
Bernat teve de pigarrear antes de seguir o conselho de Jaume:
— Posso ir a tribunal.
Crispado, tremendo, pequeno e magro, Grau levantou-se da cadeira. Mas Bernat nem pestanejou, por mais que desejasse sair dali a correr; a ameaça do tribunal ecoou nos ouvidos do viúvo.
Tratariam dos cavalos que Grau se vira obrigado a adquirir juntamente com o palacete. «Não vais ter cavalariças vazias...», dissera-lhe o sogro, de passagem, como se falasse com uma criança ignorante. Grau somava e somava, mentalmente. «E a minha filha Isabel sempre montou a cavalo», acrescentara o sogro.
Mas o mais importante para Bernat foi o bom salário que obteve para si e para Arnau, que também começaria a trabalhar com os cavalos. Poderiam viver fora do palacete, numa casa própria, sem escravos, sem aprendizes; ele e o filho teriam dinheiro suficiente para seguirem em frente.
Foi o próprio Grau quem instou Bernat a anular o contrato de aprendizagem de Arnau e a assinar outro novo.
Desde que lhe tinham concedido a cidadania, Bernat raramente saíra da oficina, e sempre sozinho, ou acompanhado apenas por Arnau. Não parecia haver nenhuma denúncia contra ele; o seu nome constava nos registos de cidadania. Nesse caso, já teriam ido buscá-lo, pensava ele, cada vez que punha pé na rua. Costumava caminhar até à praia e, aí, misturava-se por entre as dezenas de trabalhadores do mar, com o olhar sempre posto no horizonte, deixando-se acariciar pela brisa, saboreando o ambiente acre que envolvia a praia, os barcos, a maresia...
Já tinham passado quase dez anos desde que atingira o rapaz da forja. Esperava que ele não tivesse morrido. Arnau e Joanet saltitavam à roda dele. Adiantavam-se-lhe, correndo, depois voltavam para trás com a mesma rapidez e olhavam para ele com os olhos brilhantes e um sorriso na boca.
— A nossa própria casa! — gritava Arnau. — Vamos viver para o bairro de La Ribera, por favor.
— Receio que seja apenas um quarto — tratou de lhe explicar o pai, mas o rapazinho continuou a sorrir como se se tratasse do melhor palácio de Barcelona.
— Não é mau sítio — disse-lhe Jaume quando Bernat comentou a sugestão do filho. — Aí encontrarás quartos.
E ali iam os três, os dois miúdos a correr e Bernat carregado com os seus poucos haveres. Tinham passado quase dez anos desde que chegara à cidade.
Durante todo o trajecto até Santa Maria, Arnau e Joanet não pararam de saudar as pessoas com quem se cruzavam.
— É o meu pai! — gritou Arnau para um bastaix carregado com um saco de cereais, apontando para Bernat, de quem se tinham adiantado mais de vinte metros.
O bastaix sorriu sem parar de andar, dobrado pelo peso. Arnau voltou-se para Bernat e começou a correr de novo para ele, mas ao fim de alguns passos, parou. Joanet não o seguia.
— Vamos — incitou-o, movendo as mãos. Mas Joanet abanou a cabeça.
— Que se passa, Joanet? — perguntou-lhe, virando-se para ele. O pequeno baixou os olhos.
— É o teu pai — murmurou. — O que vai ser de mim, agora?
Tinha razão. Toda a gente os tomava por irmãos. Arnau não tinha pensado nisso.
— Corre. Anda comigo — disse-lhe, puxando-o. Bernat viu-os aproximarem-se; Arnau puxava por Joanet, que parecia receoso. «Parabéns pelos seus filhos», disse-lhe o bastaix ao passar por ele. Sorriu. Mais de um ano a correrem juntos. E a mãe do pequeno Joanet? Bernat imaginou-o sentado num caixote, deixando-se acariciar na cabeça por um braço sem rosto. Fez-se-lhe um nó na garganta.
— Pai... — começou a dizer Arnau quando chegaram perto dele. Joanet escondeu-se por trás do amigo.
— Meninos — interrompeu-o Bernat —, acho que...
— Pai, seria difícil seres o pai de Joanet? — largou de imediato Arnau. Bernat viu a cabecita do pequeno espreitando por trás de Arnau.
— Vem cá, Joanet — disse-lhe Bernat. — Tu queres ser meu filho? — continuou quando o pequeno abandonou o seu refúgio. O rosto de Joanet iluminou-se.
— Isso quer dizer que sim? — perguntou Bernat. O rapazinho abraçou-se à perna dele. Arnau sorriu para o pai.
— Vão brincar — ordenou Bernat com a voz embargada.
Os rapazes levaram Bernat ao padre Albert.
— De certeza que ele nos poderá ajudar — disse Arnau, enquanto Joanet anuía.
— O nosso pai! — disse o mais pequeno, adiantando-se a Arnau e repetindo a apresentação que fora fazendo ao longo de todo o trajecto, mesmo a quem só conhecia de vista.
O padre Albert pediu aos rapazes que os deixassem a sós e convidou Bernat para um copo de vinho doce enquanto escutava as suas explicações.
— Sei onde poderão alojar-se — disse-lhe. — E boa gente. Diz-me, Bernat... conseguiste um bom trabalho para Arnau; receberá um bom salário e aprenderá um ofício, e os palafreneiros são sempre necessários. Mas que será do teu outro filho? Que pensas fazer com Joanet?
Bernat remexeu-se na cadeira e foi sincero com o sacerdote.
O padre Albert acompanhou-os a casa de Pere e da sua mulher, dois idosos sem família que viviam num pequeno edifício de dois andares, junto à praia, com a cozinha no piso de baixo e três quartos no piso de cima, e de quem sabia estarem interessados em arrendar um dos quartos.
Durante todo o trajecto, e também enquanto apresentava os Estanyol a Pere e à mulher, e observava como Bernat lhes mostrava o dinheiro, o padre Albert não parou de agarrar no ombro de Joanet. Como podia ter sido tão cego? Como pudera não se dar conta do calvário em que vivia aquele pequenito? Quantas vezes o vira ficar ensimesmado, com o olhar perdido no infinito!
O padre Albert apertou contra si o pequeno. Joanet virou-se para ele e sorriu-lhe.
O quarto era pequeno e simples, mas limpo, com dois colchões no chão por única mobília e com o rumor constante das ondas por única companhia. Arnau aguçou o ouvido para escutar o afã dos operários de Santa Maria, mesmo atrás deles. Jantaram o tradicional cozido, preparado pela mulher de Pere. Arnau olhou para o prato, levantou os olhos e sorriu para o pai. Que longe estavam já as mistelas de Estranya! Os três comeram com gosto, observados pela idosa, sempre pronta a encher-lhes de novo as escudelas.
— Vamos dormir — anunciou Bernat, já satisfeito. — Amanhã temos trabalho.
Joanet hesitou. Olhou para Bernat, e quando todos já se tinham levantado da mesa, virou-se para a porta da casa.
— Não são horas de sair, filho — disse-lhe Bernat, diante dos dois anciãos.
— São o irmão da minha mãe e o filho — explicou Margarida à madrasta quando esta estranhou que Grau tivesse contratado mais duas pessoas para apenas sete cavalos. Grau dissera-lhe que não queria saber para nada dos cavalos e, de facto, nem sequer desceu para inspeccionar os magníficos estábulos do piso de baixo do palácio. Ela tratara de tudo: escolhera os animais e trouxera consigo o seu estribeiro-mor, Jesus, que por sua vez lhe aconselhou que contratasse os serviços de um palafreneiro com experiência: Tomás.
Mas quatro pessoas para sete cavalos era excessivo, mesmo para os costumes da baronesa, e assim o disse na sua primeira visita às cavalariças, depois da contratação dos Estanyol. Isabel instou Margarida a continuar.
— Eram camponeses, servos da terra.
Isabel não disse nada, mas a suspeita germinou no seu interior.
A rapariga prosseguiu:
— O filho, Arnau, foi o culpado da morte do meu irmão mais pequeno, Guiamon. Odeio-os! Não sei porque os foi contratar o meu pai.
— Já saberemos — murmurou a baronesa, com os olhos cravados nas costas de Bernat, ocupado nesse momento a escovar o pêlo de um dos cavalos.
Nessa noite, no entanto, Grau não fez caso das palavras da mulher.
— Pareceu-me o mais adequado — limitou-se a responder, depois de confirmar as suspeitas dela de que se tratava de fugitivos.
— Se o meu pai descobrisse isso...
— Mas não descobrirá, pois não, Isabel? — Grau observou a esposa, que já estava vestida para jantar, num dos novos costumes que tinha introduzido na vida de Grau e da sua família. Tinha apenas vinte anos e era extremamente magra, como Grau. Pouco bonita e desprovida daquelas graciosas curvas com que em tempos Guiamona o recebera, era, no entanto, nobre, e o seu carácter também o devia ser, pensava Grau. — Decerto não gostarias que o teu pai se inteirasse de que vives com dois fugitivos.
A baronesa olhou-o com os olhos a brilhar e saiu da sala.
Apesar da aversão da baronesa e dos seus enteados, Bernat demonstrou a sua valia com os animais. Sabia tratá-los, alimentá-los, limpar-lhes os cascos e curá-los se fosse preciso, e mover-se entre eles; se havia alguma coisa em que se podia dizer que carecia de experiência, era apenas nos cuidados destinados ao embelezamento.
— Querem-nos brilhantes — comentou um dia Arnau de regresso a casa. — Sem uma ponta de pó. É preciso escovar e escovar para lhes tirar a areia que se introduz por entre os pêlos, e depois escovar também para que brilhem.
— E as crinas e as caudas?
— Cortá-las, entrançá-las, adorná-las.
— Para que quererão os cavalos com tantos lacinhos? Arnau estava proibido de se aproximar dos animais. Admirava-os nas cavalariças; via como respondiam aos cuidados do pai, e desfrutava quando, sozinho com ele, o pai lhe permitia fazer-lhes festas. Excepcionalmente, por um par de vezes e a salvo de olhares indiscretos, Bernat empoleirara-o num dos cavalos, em pêlo, dentro da cavalariça. As funções que lhe tinham atribuído não lhe permitiam abandonar a selaria. Ali limpava, uma e outra vez, os arneses; engraxava o couro e esfregava-o com um trapo até que absorvesse a gordura e a superfície da sela e das rédeas resplandecesse. Limpava os freios e os estribos e escovava as mantas e demais adornos, até que por fim desaparecia o último pêlo de cavalo, tarefa que tinha de ser acabada usando os dedos e as unhas para extrair, como pinças, aquelas finas agulhas que se cravavam no tecido e se confundiam com ele. Depois, quando lhe sobrava tempo, dedicava-se a esfregar e esfregar a carruagem que Grau tinha comprado.
Com o decurso dos meses, até Jesus teve de reconhecer o valor do camponês. Quando Bernat entrava em qualquer uma das cavalariças, os cavalos nem sequer se mexiam e, na maioria, até o procuravam. Tocava-lhes, acariciava-os e sus-surrava-lhes, para os tranquilizar. Quando quem entrava era Tomás, os animais baixavam as orelhas e refugiavam-se junto da parede mais distante do palafreneiro, enquanto este lhes gritava. Que se passava com aquele homem? Até então, sempre fora um palafreneiro exemplar, pensava Jesus, cada vez que ouvia mais um grito.
Todas as manhãs, quando pai e filho partiam para o trabalho, Joanet dedicava-se a ajudar Mariona, a esposa de Pere. Limpava, arrumava e depois ajudava-a a ir às compras. Mais tarde, quando ela se embrenhava na tarefa de cozinhar,Joanet saía a correr para a praia, em busca de Pere. Este dedicara a sua vida à pesca e, para além das esporádicas ajudas que recebia da confraria, recebia algumas moedas por ajudar a reparar os aparelhos; Joanet acompanhava-o, atento às explicações, e corria de um lado para o outro quando o velho pescador precisava de alguma coisa.
E, assim que podia, escapava-se para ir ver a mãe.
— Esta manhã — explicou-lhe um dia —, quando Bernat foi pagar a Pere, ele devolveu-lhe uma parte do dinheiro. Disse-lhe que o pequeno... O pequeno sou eu, sabes, mãe? Chamam-me pequeno. Bem, então ele disse-lhe que como o pequeno ajudava em casa e na praia, não tinha de pagar a minha parte.
A prisioneira escutava, com a mão sobre a cabeça do rapazinho. Como tudo mudara! Desde que vivia com os Estanyol, o seu pequenito já não ficava sentado, soluçando, à espera das suas silenciosas carícias e de alguma palavra de carinho, de um carinho cego. Agora falava e contava-lhe coisas. Até se ria!
— Bernat deu-me um abraço — continuou Joanet — e Arnau deu-me os parabéns.
A mão fechou-se sobre os cabelos do rapazinho.
E Joanet continuou a falar. Atabalhoadamente, falou de Arnau e de Bernat, de Mariona e de Pere, da praia e dos pescadores, dos aparelhos que reparavam... Mas a mulher já não o ouvia, satisfeita por o filho saber finalmente o que era um abraço, por o pequenito ser finalmente feliz.
— Corre, filho — interrompeu-o a mãe, tentando ocultar a tremura da voz. — Devem estar à tua espera.
Do interior da sua prisão, Joana ouviu o pequeno saltar do caixote e sair a correr, e imaginou-o a saltar por aquela vedação destinada a desaparecer das suas recordações.
Que sentido fazia ainda? Aguentara anos a pão e água entre aquelas quatro paredes, cujos mais ínfimos pormenores tinham sido percorridos centenas de vezes pelos seus dedos. Lutara contra a solidão e a loucura, olhando para o céu pela diminuta janela que lhe fora concedida pelo rei, magnânimo monarca! Vencera as febres e as doenças, e tudo fizera pelo seu pequenino, para poder acariciar-lhe a cabecita, para o animar, para lhe fazer sentir que, apesar de tudo, não estava sozinho no mundo.
Agora já não estava sozinho. Bernat dava-lhe abraços! Era como se ela o conhecesse. Sonhara com ele enquanto as horas se eternizavam. «Cuida dele, Bernat», dizia para o ar. Agora, Joanet era feliz, e ria e corria, e...
Joana deixou-se cair no chão e ficou sentada. Nesse dia não tocou no pão nem na água; o seu corpo não os desejava.
Joanet voltou noutro dia, e depois noutro, e ela ouvia-o rir e falar do mundo, cheio de entusiasmo. Da janela só saíam sons apagados: sim, não, vai, corre, vai viver.
— Corre a desfrutar essa vida que por minha culpa não tiveste — acrescentava Joana, num sussurro, depois de o rapazinho ter saltado a vedação.
O pão foi-se amontoando no interior da prisão de Joana.
— Sabes o que aconteceu, mãe? —Joanet encostou o caixote à parede e sentou-se; os pés ainda não lhe chegavam ao chão. — Não, claro. Como havias de saber? — Já sentado, empoleirado no caixote, encostou-se à parede, no sítio onde sabia que a mão da mãe procuraria a sua cabeça. — Vou contar-te. É muito divertido. Aconteceu que ontem um dos cavalos de Grau...
Mas da janela não saíra braço algum. — Mãe? Ouve. Já te disse que é divertido. Foi com um dos cavalos de...
Joanet voltou os olhos para a janela.
— Mãe? Esperou.
— Mãe?
Apurou o ouvido, por cima do ruído dos martelos dos caldeireiros, que ecoavam por todo o bairro; nada.
— Mãe! — gritou.
Ajoelhou-se em cima do caixote. Que havia de fazer? A mãe sempre lhe proibira que se aproximasse da janela.
— Mãe! — voltou a gritar, esticando-se para a janela.
A mãe sempre lhe dissera que não espreitasse, que nunca tentasse vê-la. Mas não respondia! Joanet espreitou pela janela. O interior estava demasiado escuro.
Empoleirou-se na janela e passou uma perna. Não conseguia passar. Só poderia entrar de lado.
— Mãe? — repetiu.
Agarrado à parte de cima da janela, colocou os dois pés sobre o parapeito e, de lado, saltou para dentro.
— Mãe? — sussurrou, enquanto os olhos se habituavam à escuridão.
Esperou até conseguir vislumbrar um buraco de onde saía um cheiro insuportável; do outro lado, à sua esquerda, junto à parede, enrolado sobre um colchão de palha, viu um corpo.
Joanet esperou. Não se mexia. O repicar dos martelos a baterem no cobre ficara lá fora.
— Queria contar-te uma coisa divertida — disse, aproximando-se. As lágrimas começaram a correr-lhe pela cara. — Havias de te rir — balbuciou ao lado do corpo.
Joanet sentou-se junto do cadáver da mãe. Joana escondera o rosto entre os braços, como se tivesse adivinhado que o filho entraria na cela, como se tivesse querido evitar que ele a visse naquelas condições, mesmo depois de morta.
- Posso tocar-te?
O pequenito acariciou o cabelo da mãe, sujo, desgrenhado, seco e áspero.
— Foi preciso morreres para podermos estar juntos. Joanet começou a chorar.
Bernat não hesitou por um momento quando, de regresso a casa, interrompendo-se um ao outro, logo à porta de casa, Pere e a mulher lhe comunicaram que Joanet não tinha regressado. Nunca lhe tinham perguntado onde ia quando desaparecia; supunham que fosse a Santa Maria, mas ninguém o vira por lá nessa tarde. Mariona levou uma mão à boca.
— E se lhe aconteceu alguma coisa? — soluçou a idosa.
— Havemos de o encontrar — tentou tranquilizá-la Bernat.
Joanet ficou junto da mãe; primeiro deslizou a mão sobre o cabelo dela, depois entrelaçou-o nos dedos, desembaraçando-o. Não tentou ver as feições dela. Depois, levantou--se e olhou para a janela.
Anoiteceu.
— Joanet?
Joanet voltou a olhar para a janela.
—Joanet? — ouviu de novo do outro lado da parede.
— Arnau?
— Que se passa? Respondeu-lhe de dentro:
— Morreu...
— E porque não...
— Não consigo. Cá dentro não tenho o caixote. É demasiado alto.
178
Cheira muito mal, concluiu Arnau. Bernat voltou a bater à porta da casa de Ponç, o caldeireiro. Que teria feito o rapazinho ali dentro durante todo o dia? Bateu mais uma vez, com força. Porque não abriam? Nesse momento abriu-se a porta e um gigante ocupou quase na totalidade a ombreira. Arnau retrocedeu.
— Que querem? — bramou o caldeireiro, descalço e com uma camisa puída que lhe chegava à altura dos joelhos como única peça de vestuário.
— Chamo-me Bernat Estanyol e este é o meu filho — disse, agarrando Arnau por um ombro e empurrando-o para a frente —, amigo do seu filho Joanet...
— Eu não tenho nenhum filho — interrompeu-o Ponç, fazendo menção de fechar a porta.
— Mas tem mulher — respondeu Bernat segurando a porta com o braço. Ponç cedeu. — Ou melhor... — esclareceu perante o olhar do caldeireiro. — Tinha. Morreu.
Ponç não se deixou demover.
— E? — perguntou, com um imperceptível encolher de ombros.
— Joanet está lá dentro com ela. — Bernat tentou imprimir ao seu olhar toda a dureza de que fosse capaz. — Não consegue sair de lá.
— Era lá que esse bastardo devia ter estado toda a vida.
Bernat aguentou o olhar do caldeireiro, apertando o ombro do filho. Arnau estava quase a encolher-se, mas quando o caldeireiro olhou para ele, aguentou-se erguido.
— Que pensa fazer? — insistiu Bernat.
— Nada — respondeu o caldeireiro. — Amanhã, quando deitar abaixo a construção, o miúdo poderá sair.
— Não pode deixar uma criança toda a noite...
— Na minha casa, posso fazer o que bem entenda.
— Avisarei o corregedor — ameaçou Bernat, apesar de saber como era inútil a ameaça.
Ponç semicerrou os olhos e, sem dizer palavra, desapareceu no interior da casa, deixando a porta aberta. Bernat e Arnau esperaram até que ele regressou com uma corda, que entregou directamente a Arnau.
— Tira-o de lá — ordenou. — E diz-lhe que, agora que a mãe morreu, não quero voltar a vê-lo por aqui.
— Como? — começou a perguntar Bernat.
— Pelo mesmo sítio onde se encostou durante todos estes anos — adiantou-se-lhe Ponç. — Saltando a vedação. Pela minha casa é que não passarão.
— E a mãe? — perguntou Bernat antes que a porta se voltasse a fechar.
— A mãe foi-me entregue pelo rei com ordens de que não a matasse, e ao rei a devolverei agora, que está morta — respondeu Ponç com rapidez. — Entreguei bom dinheiro como caução, e juro por Deus que não pretendo perdê-lo por uma rameira.
Só o padre Albert, que já conhecia a história de Joanet, e o velho Pere e a mulher, a quem Bernat não teve outro remédio senão contar tudo, souberam da desgraça do pequeno. Os três dedicaram-se ao miúdo. Mas, apesar de tudo, o mutismo de Joanet persistia, e os seus movimentos, antes nervosos e inquietos, eram agora mais lentos, como se carregasse aos ombros um peso insuportável.
— O tempo cura tudo — disse Bernat a Arnau uma manhã. — Temos de esperar e oferecer-lhe o nosso carinho e a nossa ajuda.
Mas Joanet permaneceu em silêncio, à excepção de algumas crises de choro que o assolavam todas as noites. Pai e filho ficavam quietos, ouvindo-o, encolhidos nos seus colchões, até que parecia que as forças abandonavam o pequeno e o sono, nunca tranquilo, o vencia.
— Joanet — ouviu Bernat o filho a chamar, certa noite. — Joanet.
Não houve resposta.
— Se quiseres, posso pedir à Virgem que seja também tua mãe.
Muito bem, filho!, pensou Bernat. Não quisera dizer-lhe isso, porque era a Virgem dele, o seu segredo. Já partilhava o pai; agora teria de ser ele a tomar aquela decisão.
E assim fizera, mas Joanet não respondia. O quarto permaneceu no mais absoluto silêncio.
— Joanet? — insistiu Arnau.
— Isso era como me chamava a minha mãe — Era a primeira coisa que dizia em muitos dias, e Bernat ficou muito quieto no seu colchão. — E ela já cá não está. Agora sou o Joan.
— Como queiras... Ouviste o que te disse da Virgem, Joanet... Joan? — corrigiu-se Arnau.
— Mas a tua mãe não fala contigo, e a minha falava.
— Conta-lhe aquilo dos pássaros! — sussurrou Bernat.
— Mas eu posso ver a Virgem, e tu não podias ver a tua mãe.
O miúdo voltou a ficar em silêncio.
— Como sabes que ela te ouve? — perguntou, por fim. — Não passa de uma figura de pedra, e as figuras de pedra não ouvem.
Bernat conteve a respiração.
— Se é verdade que não ouvem — respondeu —, então porque fala toda a gente com elas? Até o padre Albert o faz. Já o viste. Por acaso achas que o padre Albert está enganado?
— Mas não é a mãe do padre Albert — insistiu o pequeno.
— Ele disse-me que tem mãe. Como poderei saber se a Virgem quer ser minha mãe, se não fala comigo?
— Há-de dizer-to à noite, enquanto dormes, e pelos pássaros.
— Pelos pássaros?
— Bem... — hesitou Arnau. A verdade era que nunca entendera bem aquilo dos pássaros, mas também não se tinha atrevido a dizer isso ao pai. — Isso é mais complicado. Isso depois explica-te o meu... o nosso pai.
Bernat sentiu formar-se-lhe um nó na garganta. O silêncio caiu de novo sobre o quarto, até que Joan voltou a falar:
— Arnau, poderíamos ir agora mesmo perguntar isso à Virgem?
— Agora?
Sim. Agora, filho, agora. Ele precisa, pensou Bernat.
— Por favor.
— Sabes que é proibido entrar à noite na igreja. O padre Albert...
— Não faremos barulho. Ninguém dará por isso. Por favor. Arnau cedeu e os dois rapazes saíram silenciosamente da casa de Pere, para percorrerem os poucos passos dali até à igreja de Santa Maria de la Mar.
Bernat remexeu-se no colchão. Que lhes poderia acontecer? Todos na igreja gostavam deles.
A lua brincava com as estruturas dos andaimes, com as paredes a meio da construção, os contrafortes, os arcos, as absides... Santa Maria estava em silêncio e só uma ou outra fogueira denotava a presença de vigilantes. Arnau e Joanet rodearam a igreja até à Rua do Born; a entrada principal estava fechada e a zona do cemitério de las Moreres, onde se guardava a maior parte dos materiais, era a mais vigiada. Uma fogueira solitária iluminava a fachada das obras. Não era difícil aceder ao interior; as paredes e contrafortes desciam da abside até à porta do Born, onde uma plataforma de madeira assinalava a localização da escada de entrada. Os rapazes pisaram os desenhos do mestre Montagut, que indicavam o local exacto da porta e das escadarias, penetraram em Santa Maria, e encaminharam-se em silêncio para a capela do Santíssimo, no deambulatório, onde por detrás de umas fortes grades de ferro forjado, elegantemente trabalhadas, os esperava a Virgem, sempre iluminada pelos círios que os bastaixos repunham constantemente.
Ambos se benzeram. «Devem fazê-lo sempre que entrem na igreja», dissera-lhes o padre Albert, e agarraram-se às grades da capela.
— Ele quer que sejas mãe dele — disse em silêncio Arnau para a Virgem. — A mãe dele morreu e eu não me importo de te partilhar.
Joan, com as mãos agarradas às grades, olhava para a Virgem, e depois para Arnau, repetidamente.
— Então? — interrompeu-o.
— Silêncio!
— O pai diz que deve ter sofrido muito. A mãe dele estava fechada, sabes? Só podia pôr um braço de fora através de uma janela muito pequena, e ele não podia vê-la, até que morreu, mas disse-me que também nessa altura não olhou para ela. Porque ela lho proibira.
O fumo das velas de cera pura de abelha, que subia da palmatória, logo abaixo da imagem, voltou a turvar a visão de Arnau, e os lábios de pedra sorriram-lhe.
— Ela será tua mãe — sentenciou, virando-se para Joan.
— Como sabes isso, se me disseste que te responde através dos...
— Sei, e isso basta — interrompeu-o Arnau, bruscamente.
— E se eu lhe perguntasse?
— Não — voltou a interrompê-lo Arnau.
Joan olhou para aquela imagem de pedra; desejava poder falar com ela como Arnau fazia. Porque não o ouvia a ele, e ao seu irmão sim? Como podia Arnau saber... Enquanto Joan prometia a si próprio que um dia também ele seria digno de que ela falasse consigo, ouviu-se um ruído.
— Chiu! — sussurrou Arnau, olhando para a abertura da porta da las Moreres.
— Quem vive? — O reflexo de uma candeia erguida ao alto apareceu na abertura.
Arnau começou a dirigir-se para a Rua do Born, por onde tinham entrado, mas Joan permaneceu imóvel, com o olhar fixo na candeia que já se aproximava do deambulatório.
— Vamos! — sussurrou Arnau, puxando-o.
Quando chegaram à Rua do Born, viram que várias candeias se dirigiam para eles. Arnau olhou para trás: no interior da igreja, Arnau viu que outras candeias se tinham somado à primeira.
Não tinham escapatória. Os vigilantes falavam e gritavam uns para os outros. Que poderiam fazer? A plataforma de madeira! Empurrou Joan para o chão; o pequeno estava paralisado. As madeiras não tapavam os lados. Voltou a empurrar Joan e ambos rastejaram para dentro, até chegarem às fundações da igreja. Joan colou-se a elas. As luzes subiram pela plataforma. Os passos dos vigilantes sobre as tábuas ressoaram nos ouvidos de Arnau e as vozes silenciaram os batimentos do seu coração.
Esperaram que os homens inspeccionassem a igreja. Uma vida inteira! Arnau olhava para cima, tentando ver o que se passava, e de cada vez que a luz passava por entre as tábuas encolhia-se para se esconder ainda melhor.
Por fim, os vigilantes desistiram. Dois deles pararam em cima da plataforma, e daí iluminaram a zona por uns instantes. Como podia ser que não ouvissem os batimentos do seu coração? E os de Joan? Os homens desceram da plataforma. E Joan? Arnau voltou a cabeça para o sítio onde o pequeno se tinha encolhido. Um dos vigilantes pendurou uma candeia perto da plataforma, e o outro começou a perder-se na distância. Joan não estava lá! Onde se teria metido? Arnau aproximou-se do local onde as fundações da igreja se juntavam à plataforma. Tacteou com a mão. Havia um buraco, uma pequena racha que se abrira entre as pedras.
Joan, empurrado por Arnau, tinha rastejado para o interior do buraco; nada se interpusera no seu caminho, e o pequeno continuara a rastejar através da pequena gruta que descia suavemente em direcção ao altar-mor. Arnau empurrara-o a rastejar. «Silêncio!», exigira-lhe por diversas vezes. O roçagar do seu próprio corpo contra o chão impedira-o de ouvir o que quer que fosse, mas Arnau deveria estar logo atrás dele. Ouvira-o meter-se debaixo da plataforma. Só quando o estreito túnel alargou, permitindo-lhe voltar-se e até pôr-se de joelhos, Joan se deu conta de que estava só. Onde estaria? A escuridão era total.
— Arnau? — chamou. A voz ecoou no interior. Era... era como uma gruta. Debaixo da igreja!
Voltou a chamar, uma e outra vez. Em voz baixa, primeiro, aos gritos, depois; mas os seus próprios gritos assustaram-no. Podia tentar regressar, mas... onde estava o túnel? Joan abriu os braços, mas as suas mãos não tocaram em nada; tinha rastejado demasiado.
— Arnau! — gritou de novo.
Nada. Começou a chorar. Que haveria naquele sítio? Monstros? E se fosse o Inferno? Estava debaixo de uma igreja; não diziam que o Inferno ficava em baixo? E se aparecesse o Demónio?
Arnau rastejou pela cova. Joan só podia ter ido por ali. Não voltara a sair pela plataforma. Depois de percorrer uma parte, chamou pelo amigo; era impossível que o ouvissem fora do túnel. Nada. Rastejou mais um pouco.
— Joanet! — gritou. —Joan — corrigiu.
— Aqui! — ouviu o pequeno responder-lhe.
— Aqui, onde?
— Aqui, no fim do túnel.
— Estás bem?
Joan deixou de tremer.
— Sim.
— Então volta para aqui.
— Não posso — Arnau suspirou. — Isto é como uma gruta, e agora não sei onde está a saída.
— Vai tacteando as paredes até que... Não! — rectificou Arnau imediatamente. — Não faças isso, ouves, Joan? Pode haver outros túneis. Se eu conseguisse chegar aí... Consegues ver alguma coisa, Joan?
— Não — respondeu o rapazito.
Poderia continuar até o encontrar, mas... e se se perdesse também? Porque havia uma gruta ali debaixo? Ah, agora já sabia como lá chegar. Precisava de uma luz. Com uma candeia poderiam voltar.
— Espera aí! Ouves-me, Joan? Fica quieto e espera-me aí, sem te mexeres. Ouves-me?
— Sim, ouço-te. Que vais fazer?
— Vou buscar uma candeia e já volto. Espera-me aí sem te mexeres, está bem?
— Sim... — titubeou Joan.
— Pensa que estás por debaixo da Virgem, da tua mãe. — Arnau não ouviu nenhuma resposta. — Joan, ouviste-me?
Como não haveria de o ouvir?, interrogou-se o pequeno. Ele dissera «a tua mãe». Ele não conseguia ouvi-la, mas Arnau, sim. Mas também não o tinha deixado falar com ela. E se Arnau não tivesse querido partilhar a mãe com ele e o tivesse fechado ali naquele Inferno?
— Joan? — insistiu Arnau.
— Que é?
— Espera por mim sem te mexeres.
Com dificuldade, Arnau arrastou-se para trás até ficar de novo debaixo da plataforma da Rua do Born. Sem pensar duas vezes, pegou na candeia que o vigilante tinha deixado pendurada e voltou a meter-se no túnel.
Joan viu chegar a luz. Arnau aumentou a chama quando as paredes da galeria se alargaram. O pequeno encontrava-se ajoelhado, a dois passos da saída do túnel. Joan olhou para ele, em pânico.
— Não tenhas medo — tentou tranquilizá-lo Arnau. Levantou mais a candeia e aumentou ainda mais a chama. Que era aquilo? Um cemitério! Estavam num cemitério?
Uma pequena gruta que por qualquer razão tinha ficado debaixo de Santa Maria como uma bolha de ar. O tecto era tão baixo que nem se podiam pôr de pé. Arnau dirigiu a luz para umas grandes ânforas, parecidas com as vasilhas que vira na oficina de Grau, mas maiores. Algumas estavam partidas e deixavam ver os cadáveres que continham, mas outras não: eram grandes ânforas cortadas pela parte mais bojuda, unidas entre si e seladas ao centro.
Joan tremia; tinha os olhos fixos num cadáver.
— Fica tranquilo — insistiu Arnau, aproximando-se. Mas Joan aproximou-se dele bruscamente.
— Que é... — começou a perguntar Arnau.
— Vamos embora — pediu-lhe Joan, interrompendo-o. Sem esperar pela resposta, meteu-se no túnel. Arnau seguiu-o e, quando chegaram à plataforma, apagou a candeia. Não se via ninguém. Devolveu a candeia ao seu lugar e regressaram a casa de Pere.
— Nem uma palavra de tudo isto a ninguém — disse a Joan, de caminho. — De acordo?
Joan não respondeu.
Desde que Arnau lhe assegurara que a Virgem também era sua mãe, Joan corria para a igreja assim que tinha algum momento livre e, agarrado com as mãos às grades da capela do Santíssimo, metia o rosto entre as grades e ficava a contemplar a figura de pedra com o menino sobre o ombro e o barco aos pés.
— Qualquer dia não consegues tirar daí a cabeça — disse-lhe certa vez o padre Albert.
Joan tirou a cabeça e sorriu-lhe. O sacerdote remexeu--lhe os cabelos e baixou-se.
— Gostas dela? — perguntou-lhe, apontando para o interior da capela.
Joan hesitou.
— Agora é a minha mãe — respondeu, mais levado pelo desejo que pela certeza.
O padre Albert sentiu um nó na garganta. Quantas coisas lhe poderia contar sobre Nossa Senhora! Tentou falar, mas não conseguiu. Abraçou o pequeno, enquanto esperava que a voz lhe regressasse.
— Rezas-lhe? — perguntou, depois de se recompor.
— Não. Apenas lhe falo — O padre Albert interrogou-o com o olhar. — Sim, conto-lhe as minhas coisas.
O sacerdote olhou para a Virgem.
— Continua, filho, continua — acrescentou, deixando-n sozinho.
Não lhe foi difícil consegui-lo. O padre Albert pensou em três ou quatro candidatos e, por fim, decidiu-se por um rico ourives. Na última confissão anual, o artesão mostrara-se bastante contrito por algumas relações adúlteras que tinha tido.
— Se és a mãe dele — murmurou o padre Albert, levantando o olhar para o céu —, não te importarás que eu use este pequeno ardil pelo teu filho, pois não, Senhora? O ourives não se atreveu a negar-se. — Trata-se apenas de um pequeno donativo para a escola da catedral — disse-lhe o cura. — Com isso, ajudarás uma criança e Deus... Deus agradecer-to-á.
Só lhe faltava falar com Bernat, e por isso foi à procura dele.
— Consegui que admitam Joanet na escola da catedral — anunciou-lhe enquanto passeavam pela praia, perto da casa de Pere.
Bernat virou-se para o sacerdote.
— Não tenho dinheiro suficiente para isso, padre — desculpou-se.
— Não te vai custar dinheiro nenhum.
— Mas eu pensava que as escolas...
— Sim, mas isso é nas da cidade. Na escola da catedral basta... — Para quê explicar? — Bem, o que interessa é que consegui. — Os dois homens continuaram a passear. — Aprenderá a ler e a escrever, primeiro com livros de letras e depois com outros, de salmos e de orações — Porque não dizia Bernat nada? — Quando fizer treze anos, poderá começar a escola secundária, o estudo do Latim e das sete artes liberais: Gramática, Dialéctica, Retórica, Aritmética, Geometria, Música e Astronomia.
— Padre — disse Bernat —, Joanet ajuda em casa, e graças a isso Pere não me cobra mais uma boca. Se o rapaz vai estudar...
— Dar-lhe-ão de comer na escola. — Bernat olhou-o e abanou a cabeça, como se estivesse a pensar no assunto. — Além disso — acrescentou o sacerdote —, já falei com Pere, e ele está de acordo em continuar a cobrar-te o mesmo.
— Preocupou-se muito com o menino.
— Sim. Importas-te? — Bernat negou, sorrindo. — Imagina que depois de tudo isto, Joanet poderá ir para uma universidade, para o Estúdio General de Lérida, ou mesmo para alguma universidade do estrangeiro, para Bolonha, ou Paris...
Bernat começou a rir.
— Se eu dissesse que não, o padre teria uma grande desilusão, não é verdade? — O padre Albert assentiu. — Ele não é meu filho, padre — continuou Bernat. — Se assim fosse, não poderia permitir que um trabalhasse para o outro, mas se não me custa dinheiro, porque não? O rapaz merece. Quem sabe se um dia não vai a todos esses lugares que disse.
— Eu preferia tratar dos cavalos, como tu — disse Joanet a Arnau enquanto passeavam pela praia, no mesmo local onde Bernat e o padre Albert tinham decidido o seu futuro.
— E muito duro, Joanet... Joan. Não faço mais nada senão limpar e limpar outra vez, e quando já está tudo a brilhar, sai um cavalo e começa tudo outra vez. Isso quando não vem o Tomás aos gritos e me entrega alguma rédea ou alguma sela, para que eu as limpe de novo. Da primeira vez, deu-me um estalo no pescoço, mas depois o pai apareceu e... Se o tivesses visto! Estava danado e encostou-o à parede agarrando-o pelo peito, e o outro começou a gaguejar e a pedir perdão.
— Por isso é que gostava de estar convosco.
— Ah, não! — respondeu Arnau. — Desde essa vez não me voltou a tocar, é verdade, mas há sempre alguma coisa que está mal feita. E ele próprio que as suja, percebes? Já o vi.
— Porque não dizes isso ao Jesus?
— O pai diz que não, que ele não acreditaria em mim, que Tomás é amigo de Jesus e que este há-de sempre defendê-lo, e que a baronesa aproveitaria qualquer problema para nos atacar; odeia-nos. Bem vês, tu estás a aprender muitas coisas na escola, e eu, a limpar aquilo que o outro suja e a ouvir gritos. — Ambos guardaram silêncio durante um momento, raspando os pés na areia e olhando para o mar. — Aproveita, Joan, aproveita — disse-lhe Arnau de repente, repetindo as palavras que escutara da boca de Bernat.
Joan não tardou a aproveitar as aulas. Dedicou-se a isso desde o dia em que o sacerdote que fazia de mestre o felicitara publicamente. Joan sentiu uma agradável vaidade e deixou-se contemplar pelos seus companheiros de classe. Se a mãe fosse viva! Correria nesse mesmo momento a sentar-se sobre o caixote e a contar-lhe como o tinham felicitado: o melhor, dissera o mestre. E todos, todos, tinham olhado para ele. Nunca tinha sido o melhor em nada.
Nessa noite, Joan fez o caminho de regresso a casa envolto numa nuvem de satisfação. Pere e Mariona escutaram--no, sorridentes e embevecidos, e pediram-lhe que repetisse as frases que ele julgava ter pronunciado, mas que tinham
apenas saído sob a forma de gritos e gestos. Quando Arnau e Bernat chegaram, os três olharam para a porta. Joan fez menção de correr para eles, mas o rosto do irmão impediu--o; notava-se que tinha chorado, e Bernat com uma mão sobre o ombro dele, não deixava de o puxar contra si.
— Que foi? — perguntou Mariona, aproximando-se de Arnau, para o abraçar.
Mas Bernat interrompeu-a, com um gesto da mão.
— Há que aguentar — acrescentou, sem se dirigir a ninguém em concreto.
Joan procurou o olhar do irmão, mas Arnau olhava para Mariona.
E aguentaram. Tomás, o palafreneiro, não se atrevia a meter-se com Bernat, mas fazia-o com Arnau.
— Está à procura de um confronto, filho — tentava consolá-lo Bernat, quando Arnau rebentava de raiva outra vez. — Não podemos cair na esparrela.
— Mas não podemos continuar assim toda a vida, pai — queixou-se um dia Arnau.
— E não o faremos. Ouvi Jesus avisá-lo por várias vezes. Ele não trabalha bem e Jesus sabe disso. Os cavalos em que ele toca ficam intratáveis: escoiceiam e mordem. Não tardará a cair, filho, não tardará.
E as consequências, como Bernat previra, não se fizeram esperar. A baronesa estava empenhada em que os seus filhos aprendessem a montar a cavalo. Que Grau não o soubesse fazer, era admissível, mas os dois filhos varões teriam de aprender. Por isso, várias vezes por semana, quando os rapazes terminavam os estudos, Isabel e Margarida — no coche conduzido por Jesus —, e os rapazes, o preceptor e Tomas, o palafreneiro — a pé e levando um cavalo pelo freio — saíam da cidade e iam até um pequeno descampado situado extramuros, onde, um após outro, recebiam de Jesus as aulas correspondentes.
Jesus segurava na mão direita uma corda comprida que tinha atado ao freio do cavalo, de forma que o animal se via obrigado a andar às voltas em redor dele; com a mão esquerda empunhava um chicote para o espicaçar, e um após outro os aprendizes de cavaleiros montavam e giravam e voltavam a girar em volta do estribeiro-mor, atendendo às suas ordens e conselhos.
Nesse dia, da carruagem de onde vigiava a aula, Tomás não tirava os olhos do freio do cavalo; bastaria um puxão mais forte que o normal; apenas um. Havia sempre um momento em que o cavalo se assustava.
Genís Puig encontrava-se empoleirado no animal.
O palafreneiro desviou o olhar para o rosto do rapaz. Pânico. Aquele rapaz tinha um medo terrível dos cavalos e agarrava-se com força. Havia sempre um momento em que o cavalo se assustava.
Jesus fez estalar o chicote e espicaçou o cavalo para que este galopasse. O cavalo puxou com a cabeça com força e esticou a corda.
Tomás não pôde evitar um sorriso que apagou imediatamente dos seus lábios, quando o mosquetão se desprendeu da corda e o cavalo ficou à solta. Não lhe fora difícil entrar às escondidas na selaria e cortar a corda por dentro do mosquetão, para a deixar precariamente presa.
Isabel e Margarida desataram aos gritos. Jesus deixou cair a corda e tentou deter o animal, mas em vão.
Genís, ao ver que a corda se tinha soltado, começou a guinchar e agarrou-se ao pescoço do cavalo. Os pés e as pernas agarraram-se aos flancos do animal, e este, espicaçado, disparou num galope desenfreado, em direcção às portas da cidade, com Genís sacudindo-se em cima dele. Quando o cavalo saltou um pequeno montículo, o rapaz soltou-se e saiu disparado pelos ares; depois de dar várias voltas no chão, aterrou de bruços contra um silvado.
Do interior das cavalariças, Bernat ouviu primeiro os cascos dos cavalos sobre o empedrado do pátio de acesso ao palácio, e, logo a seguir, os gritos da baronesa. Em vez de entrarem a passo, com tranquilidade, como sempre faziam, os cavalos batiam nas pedras com força. Quando Bernat se encaminhava para a saída das cavalariças, Tomás entrou com o cavalo. O animal estava frenético, coberto de suor e resfolegando fortemente.
— Que se... — começou a perguntar Bernat.
— A baronesa quer ver o teu filho — gritou-lhe Tomás enquanto batia no animal.
Os gritos da mulher continuavam a ecoar no exterior das cavalariças. Bernat olhou de novo para o pobre animal, que pateava batendo no chão.
— A senhora quer ver-te — voltou a gritar Tomás quando Arnau saiu da selaria.
Arnau olhou para o pai e este encolheu os ombros.
Saíram para o pátio. A baronesa, encolerizada, brandindo o pingalim que sempre levava quando saía para montar, gritava com Jesus, com o preceptor e com todos os escravos que se tinham aproximado. Margarida e Josep mantinham-se atrás dela. Ao seu lado, estava Genís, magoado, sangrando, e com as roupas rasgadas. Assim que Bernat e Arnau apareceram, a baronesa deu alguns passos em direcção ao rapaz e bateu-lhe na cara com o látego. Arnau levou as mãos à boca e à cara. Bernat tentou reagir, mas Jesus interpôs-se.
— Olha para isto — gritou encolerizado o estribeiro-mor, entregando-lhe a corda rebentada e o mosquetão. -— Este é o trabalho do teu filho!
Bernat pegou na corda e no mosquetão e examinou-os - Arnau, com as mãos na cara, olhou também. Verificara-os no dia anterior. Ergueu os olhos para o pai, precisamente quando este olhava para as portas das cavalariças, de onde Tomás observava a cena.
— Estavam bem! — gritou Arnau, pegando na corda e no mosquetão e agitando-os diante de Jesus. Voltou a olhar para as portas das cavalariças. — Estavam bem — repetiu enquanto as primeiras lágrimas lhe chegavam aos olhos.
— Olha como ele chora — ouviu-se de repente. Margarida apontava para Arnau. — Ele é o culpado do teu acidente e ele é que está a chorar — acrescentou dirigindo-se ao seu irmão, Genís. — Tu não choraste quando caíste do cavalo por culpa dele — mentiu.
Josep e Genís demoraram a reagir, mas, quando o fizeram, troçaram de Arnau.
— Chora, bebezinho — disse um.
— Sim, chora, bebé — repetiu o outro.
Arnau viu que apontavam para ele e se riam. Não conseguia parar de chorar! As lágrimas caíam-lhe pela cara e o peito sacudia-se-lhe ao ritmo dos soluços. De onde estava, estendendo as mãos, voltou a mostrar a corda e o mosquetão a todos, incluindo aos escravos.
— Em vez de chorares, devias pedir perdão pelo teu descuido — instou-o a baronesa, depois de dirigir um sorriso descarado aos enteados.
Perdão? Arnau olhou para o pai com um porquê desenhado nos olhos. Bernat tinha os olhos fixos na baronesa.
Margarida continuava a apontar para ele e cochichava com 0s irmãos.
— Não — opôs-se Arnau. — Estavam bem — acrescentou, atirando a corda e o mosquetão para o chão.
A baronesa começou a gesticular, mas deteve-se quando Bernat deu um passo na sua direcção. Jesus agarrou Bernat por um braço.
— Ela é nobre — sussurrou-lhe ao ouvido. Arnau olhou para todos e saiu do palácio.
— Não! — gritou Isabel quando Grau, inteirado dos acontecimentos, decidiu despedir o pai e o filho. — Quero que o pai continue aqui, a trabalhar para os teus filhos. Quero que a todos os momentos se lembre de que estamos à espera das desculpas do filho. Quero que esse rapaz se desculpe publicamente diante dos teus filhos! E não conseguirei isso se os mandares embora. Manda-lhe recado de que o filho não poderá voltar a trabalhar enquanto não tiver pedido perdão... — Isabel gritava e gesticulava incessantemente. — Diz-lhe que, até esse momento, só receberá metade do salário e que, caso procure outro trabalho, daremos conhecimento a toda a Barcelona do que se passou aqui, para que não possa encontrar sustento. Quero um pedido de desculpas! — exigiu, histérica.
«Daremos conhecimento a toda a Barcelona...» Grau notou como os pêlos se lhe arrepiavam. Tantos anos a tentar esconder o cunhado, e agora... Agora a sua mulher pretendia que toda a Barcelona soubesse da existência dele!
— Peço-te que sejas discreta — foi a única coisa que lhe ocorreu dizer.
Isabel olhou-o com os olhos injectados de sangue.
— Quero que se humilhem!
Grau ia para dizer qualquer coisa, mas calou-se de repente e cerrou os lábios.
— Discrição, Isabel, discrição — acabou por lhe dizer. Grau cedeu às exigências da mulher. No fim de contas Guiamona já não existia; não havia mais sinais na família e todos eram conhecidos por Puig, e não por Estanyol. Quando Grau saiu das cavalariças, Bernat, com os olhos húmidos, escutou do estribeiro-mor as novas condições do seu trabalho.
— Pai, aqueles aparelhos estavam bem — justificou-se Arnau à noite, quando se encontravam os três no pequeno quarto que partilhavam. — Juro-vos! — insistiu perante o silêncio de Bernat.
— Mas não podes provar isso — interveio Joan, que já estava a par do que acontecera.
Não é preciso que me jures, pensou Bernat, mas como te poderei explicar? Bernat notou como os pêlos se lhe eriçavam quando recordou as palavras do filho nas cavalariças de Grau: «Não tenho a culpa, e não devo pedir desculpas.»
— Pai — repetiu Arnau —, juro-te...
— Mas...
Bernat mandou calar Joan.
— Acredito em ti, filho. Mas agora, vamos dormir.
— Mas... — tentou dessa vez Arnau.
— Vamos dormir!
Arnau e Joan apagaram a candeia, mas Bernat teve de esperar até já bem avançada a noite para ouvir a respiração ritmada que lhe indicava que tinham conciliado o sono. Como ]he poderia dizer que lhe exigiam um pedido de desculpas?
— Arnau... — a voz tremeu-lhe ao ver como o filho parou de se vestir e olhou para ele. — Grau... Grau quer que peças desculpa; caso contrário...
Arnau interrompeu-o com o olhar.
— Caso contrário, não permitirá que voltes a trabalhar... Ainda não terminara a frase quando viu como os olhos do pequeno adquiriam uma seriedade que nunca até então vira. Bernat desviou o olhar para Joan e viu-o também parado, meio vestido, de boca aberta. Tentou voltar a falar, mas a garganta recusou-se.
— Então? — perguntou Joan, rompendo o silêncio.
— Crês que devo pedir perdão?
— Arnau, eu abandonei tudo o que tinha para que tu pudesses ser livre. Abandonei as nossas terras, que tinham sido propriedade dos Estanyol durante séculos, para que ninguém pudesse fazer-te a ti o que me fizeram a mim, ao meu pai, ao pai do meu pai... E agora voltamos a estar na mesma, ao sabor dos caprichos daqueles que se dizem nobres; mas com uma diferença: podemos recusar-nos. Filho, aprende a usar a liberdade que tanto esforço nos custou a alcançar. Só a ti te compete decidir.
— Mas... que me aconselhas, pai? Bernat ficou em silêncio por um instante.
— Eu, no teu lugar, não me submeteria. Joan tentou entrar na conversa.
— São apenas barões catalães! O perdão... O perdão... o perdão só o Senhor o concede.
— E como vamos viver? — Não te preocupes com isso, filho. Tenho algum dinheiro de parte que nos permitirá seguir em frente. Procuraremos outro sítio para trabalhar. Grau Puig não é o único que tem cavalos.
Bernat não deixou passar um só dia. Nessa mesma tarde, assim que terminou a sua jornada, começou a procurar trabalho para si e para Arnau. Encontrou uma casa nobre com cavalariças e foi bem recebido pelo encarregado. Muitos eram os que, em Barcelona, invejavam os cuidados que eram dados aos cavalos de Grau Puig, e quando Bernat se apresentou como responsável por eles, o encarregado mostrou interesse em contratá-los. Mas no dia seguinte, quando Bernat se dirigiu de novo às cavalariças para confirmar uma notícia que já tinha até celebrado com os seus filhos, nem sequer foi recebido. «Não pagavam o suficiente», mentiu nessa noite à hora do jantar. Bernat tentou de novo noutras casas nobres que dispunham de cavalariças, mas quando parecia haver alguma tentação de os contratar, esta desaparecia de um dia para o outro.
— Não conseguirás encontrar trabalho — confidenciou--lhe por fim um moço de cavalariça, tocado pelo desespero que se reflectia no rosto de Bernat, que afundara os olhos no chão da décima cavalariça que o recusava. — A baronesa não permitirá que o consigas — explicou-lhe o moço. — Depois de nos teres visitado, o meu senhor recebeu uma mensagem da baronesa a pedir-lhe que não te desse trabalho. Lamento.
— Bastardo! — disse-lhe ao ouvido, em voz baixa, mas firme, arrastando as vogais. Tomás, o palafreneiro, assustou-se e tentou fugir, mas Bernat, atrás dele, agarrou-o pelo pescoço e apertou até que o palafreneiro começou a dobrar-se sobre si próprio. Só então afrouxou a pressão. Se os nobres recebem mensagens, pensou Bernat, é porque alguém deve andar a seguir-me. «Deixa-me sair pela outra porta», pedira ao moço. Tomás, colocado numa esquina em frente à porta das cavalariças, não o vira sair; Bernat aproximou-se dele por trás.
— Foste tu que cortaste a corda, não foste? E agora, que mais queres? — Voltou a apertar-lhe o pescoço.
— O quê? O que queres tu?
— Que queres tu dizer? — Bernat apertou com mais força. O palafreneiro mexia os braços sem se conseguir soltar. Ao fim de uns segundos, Bernat notou que o corpo de Tomás começava a afrouxar. Largou-lhe o pescoço e voltou-o para si. — Que queres tu dizer? — perguntou de novo.
Tomás engoliu em seco várias vezes antes de responder. Assim que o seu rosto retomou a cor, apareceu um sorriso irónico na sua cara.
— Mata-me, se quiseres — disse-lhe, ofegante —, mas sabes muito bem que se não tivesse sido por aquilo, teria sido por qualquer outra coisa. A baronesa odeia-te e há-de odiar-te sempre. Não passas de um servo fugitivo, e o teu filho não passa do filho de um fugitivo. Não conseguirás trabalho em Barcelona. A baronesa assim mandou, e se não for eu, será outro qualquer a espiar-te.
Bernat cuspiu-lhe na cara. Tomás não só não se mexeu, como o sorriso se lhe tornou ainda mais amplo.
— Não tens saída, Bernat Estanyol. O teu filho terá de pedir perdão.
— Pedirei perdão — claudicou Arnau nessa noite, com os punhos cerrados e reprimindo as lágrimas, depois de ouvir as explicações do pai. — Não podemos lutar contra os nobres e temos de trabalhar. Porcos! Porcos! Porcos!
Bernat olhou para o filho. «Ali seremos livres!», lembrou-se de lhe ter prometido, poucos meses depois de ter nascido, à vista de Barcelona. E fora para isto tanto esforço e tanto sofrimento?
— Não, filho, espera. Procuraremos outro...
— Eles é que mandam, pai. Os nobres mandam. Mandam nos campos, mandavam nas tuas terras e mandam na cidade.
Joanet observava-os em silêncio. «Há que submeter-se e obedecer aos príncipes», tinham-lhe ensinado os seus professores. «O homem encontrará a liberdade no reino de Deus, não neste.»
— Não podem mandar em toda a Barcelona. Só os nobres têm cavalos, mas podemos aprender outro ofício qualquer. Alguma coisa havemos de encontrar, filho.
Bernat apercebeu-se de um raio de esperança nos olhos do filho, que se abriram como se quisessem absorver o alento daquelas últimas palavras. «Prometi-te a liberdade, Arnau. Devo dar-ta e hei-de dar-ta. Não renuncies a ela assim tão cedo, rapazinho.»
Nos dias seguintes, Bernat lançou-se às ruas, em busca da liberdade. Inicialmente, quando terminava o seu trabalho nas cavalariças de Grau, Tomás seguia-o, agora descaradamente, mas deixou de o fazer quando a baronesa compreendeu que não conseguia influenciar os pequenos artesãos, pequenos mercadores ou construtores.
— Dificilmente conseguirá alguma coisa — tentou tranquilizá-la Grau, quando a mulher se lhe dirigiu por causa da atitude do camponês.
— Que queres tu dizer? — perguntou ela.
— Que não encontrará trabalho. Barcelona está a sofrer as consequências da falta de previsão. — A baronesa instou-o a continuar; Grau nunca se enganava nas suas apreciações. — As colheitas dos últimos anos foram desastrosas — continuou a explicar-lhe o marido. — Os campos estão demasiado povoados e o pouco que colhem não chega às cidades. Comem-no eles.
— Mas a Catalunha é muito grande — interveio a baronesa.
— Não te iludas, querida. A Catalunha é muito grande, é certo, mas desde há muitos anos que os camponeses já não se dedicam a cultivar cereais, que é o que se come. Agora cultivam linho, uvas, azeitonas ou frutos secos, mas não cereais. A mudança enriqueceu os senhores dos camponeses e deu-nos muito jeito a nós, mercadores, mas a situação começa a ser insustentável. Até agora comíamos os cereais da Sicília e da Sardenha, mas a guerra com Génova impede que nos possamos abastecer desses produtos. Bernat não encontrará trabalho, mas todos, incluindo nós, terão problemas, e tudo isso por culpa de quatro nobres incompetentes...
— Como podes falar assim? — interrompeu a baronesa, sentindo-se tocada.
— Vais ver, minha querida — respondeu Grau com seriedade.
— Nós dedicamo-nos ao comércio e ganhamos muito dinheiro. Parte do que ganhamos, dedicamo-lo a investir no nosso próprio negócio. Hoje não navegamos com os mesmos barcos de há dez anos; por isso continuamos a ganhar dinheiro. Mas os nobres terratenentes não investiram um único tostão nas suas terras ou nos seus métodos de produção; na verdade, continuam a utilizar as mesmas alfaias agrícolas e as mesmas técnicas que eram usadas pelos Romanos. Os Romanos! As terras têm de ficar em pousio cada dois ou três anos, quando, bem cultivadas, poderiam aguentar o dobro, ou até o triplo. A esses nobres proprietários, que tanto defendes, pouco lhes importa o futuro: a única coisa que querem é o dinheiro fácil, e acabarão por levar o principado à ruína.
— Não será caso para tanto — insistiu a baronesa.
— Sabes a quanto está o quartel de trigo? — A mulher não respondeu, e Grau abanou a cabeça antes de prosseguir. — Ronda os cem soldos. Sabes qual é o preço normal? — Desta vez não esperou resposta. — Dez soldos sem moer e dezasseis já moído. O quartel de trigo multiplicou por dez o seu valor!
— Mas nós poderemos comer? — perguntou a baronesa, sem esconder a preocupação que a assaltara.
— Não queres mesmo perceber, mulher... Poderemos pagar o trigo... se o houver; porque pode chegar um momento em que deixe de haver... se é que não chegou já. O problema é que, embora o trigo tenha aumentado dez vezes o valor, o povo continua a receber o mesmo...
— Então não nos faltará o trigo — interrompeu a mulher.
— Não, mas...
— E Bernat não encontrará trabalho.
— Não creio, mas...
— Pois isso é a única coisa que me importa — disse-lhe ela, antes de lhe virar costas, cansada de tanta explicação.
— ... mas algo terrível se avizinha — terminou Grau quando a baronesa já não podia ouvir o que ele dizia.
Um mau ano. Bernat estava cansado de ouvir aquela desculpa uma e outra vez. O mau ano aparecia onde quer que fosse pedir trabalho. «Despedi metade dos meus aprendizes, como queres que te dê trabalho?», disse-lhe um. «Estamos num mau ano, não tenho nem para dar de comer aos meus filhos», disse-lhe outro. «Não te apercebeste?», perguntou um terceiro. «Estamos num mau ano. Gastei mais de metade das minhas poupanças só para alimentar os meus filhos, quando antes me teria aguentado com uma vigésima parte disso.» «Como não hei-de aperceber-me?», interrogou--se Bernat. Mas continuou a procurar até que o Inverno e o frio fizeram a sua aparição. Então, houve casas onde nem se atreveu a perguntar. As crianças tinham fome, os pais jejuavam para poderem alimentar os filhos, e a varíola, o tifo e a difteria começaram a fazer o seu mortífero aparecimento.
Arnau revistava a bolsa do pai quando este estava fora de casa. Ao princípio, fazia-o uma vez por semana; mas agora fazia-o todos os dias. Por vezes revistava a bolsa várias vezes, consciente de que a segurança de todos perigava a passos largos.
— Qual é o preço da liberdade? — perguntou um dia a Joan, quando ambos estavam a rezar à Virgem.
— São Gregório diz que no princípio todos os homens nasceram iguais, e portanto todos eram livres — Joan falou em voz lenta, tranquila, como se repetisse uma lição. — Foram os homens nascidos livres quem, para seu próprio bem, se submeteram a um senhor, para que cuidasse deles. Perderam uma parte da sua liberdade, mas ganharam um senhor que cuidasse deles.
Arnau escutou as palavras do irmão olhando para a Virgem. «Porque não me sorris? São Gregório... Por acaso São Gregório tinha uma bolsa vazia como a do meu pai?»
— Joan...
— Diz.
— Que achas tu que devo fazer?
— Tens de ser tu a tomar a decisão.
— Mas tu... que te parece?
— Já te disse. Foram os homens livres que tomaram a decisão de que um senhor cuidasse deles.
Nesse mesmo dia, sem que o pai soubesse, Arnau apresentou-se em casa de Grau Puig. Entrou pela cozinha, para não ser visto nas cavalariças. Aí encontrou Estranya, gorda como sempre, como se a fome não a afectasse, plantada como um pato diante de um caldeirão sobre o fogo.
— Diz aos teus amos que vim vê-los — disse-lhe, quando a cozinheira deu pela sua presença.
Um sorriso estúpido desenhou-se nos lábios da escrava. Estranya avisou o mordomo de Grau, e este, por sua vez, avisou o senhor. Fizeram-no esperar de pé durante horas. Entretanto, todo o pessoal de casa desfilou pela cozinha para observar Arnau; alguns sorriam, outros, em menor número, deixavam perceber uma certa tristeza pela capitulação. Arnau enfrentou os olhares de todos e respondeu com altivez aos que lhe sorriam, mas não conseguiu apagar a expressão de gozo dos seus rostos.
Só faltou Bernat, embora Tomás, o palafreneiro, não tivesse hesitado em avisá-lo de que o filho tinha vindo para pedir desculpas. «Lamento, Arnau, lamento», murmurou Bernat uma e outra vez enquanto escovava um dos cavalos.
Depois da espera, com as pernas doridas devido à imobilidade forçada — tentara sentar-se, mas Estranya proibira-lho —, Arnau foi conduzido ao salão principal da casa de Grau. Não prestou atenção ao luxo com que a casa estava decorada. Assim que entrou, os seus olhos pousaram nos cinco membros da família, que o esperavam ao fundo: os barões sentados, e os seus três primos de pé, ao lado, os homens vestidos com vistosas calças de seda de diferentes cores e gibões acima dos joelhos cingidos por cinturões dourados; elas, com vestidos adornados de pérolas e pedras preciosas.
O mordomo conduziu Arnau até ao centro da sala, a alguns passos da família. Depois, regressou para a porta, e aí, por ordem de Grau, ficou à espera.
— Diz o que tens a dizer — rosnou Grau, hierático como sempre.
— Venho pedir-vos perdão.
— Pois então, fá-lo — ordenou Grau.
Arnau ia para falar, mas a baronesa interrompeu.
— É assim que pretendes pedir perdão? De pé? Arnau hesitou por uns segundos, mas por fim pôs um joelho em terra. O risinho tolo de Margarida ecoou no salão.
— Peço-vos perdão a todos — recitou Arnau, olhando directamente para a baronesa.
A mulher trespassou-o com os olhos.
«Só faço isto pelo meu pai», responderam-lhe os olhos de Arnau. «Cabra.»
— Os pés! — guinchou a baronesa. — Beija-nos os pés! — Arnau fez menção de se levantar, mas a baronesa voltou
a impedi-lo.
— De joelhos! — ouviu-se em todo o salão.
Arnau obedeceu e arrastou-se de joelhos até eles. «Só pelo meu pai. Só pelo meu pai. Só pelo meu pai...» A baronesa mostrou-lhe os seus sapatos de seda e Arnau beijou-os, primeiro o esquerdo, depois o direito. Sem levantar os olhos, deslocou-se para Grau, que vacilou quando teve o rapaz diante de si, ajoelhado, com o olhar fixo nos seus pés; mas a mulher olhou-o, fora de si, e Grau levantou então os pés até à altura da boca do rapaz, um após o outro. Os primos de Arnau imitaram o pai. Arnau tentou beijar as sapatilhas de seda que Margarida lhe mostrava, mas precisamente quando os seus lábios iam roçar, a rapariga afastou o pé e voltou a fazer soar o seu risinho. Arnau tentou de novo, e mais uma vez a prima se riu dele. Por fim, esperou que a rapariga chegasse o sapato à sua boca um... e depois o outro.
Barcelona, 15 de Abril de 1334
Bernat contou o dinheiro que Grau lhe tinha pago, e meteu-o na bolsa, murmurando. Deveria ser suficiente, mas... malditos Genoveses! Quando terminaria o cerco a que estavam a submeter o principado? Barcelona tinha fome.
Bernat atou a bolsa ao cinto e foi em busca de Arnau. O rapaz andava desnutrido. Bernat olhou-o com preocupação. Duro Inverno. Mas pelo menos tinham passado o Inverno. Quantos poderiam dizer o mesmo? Bernat cerrou os lábios e revolveu o cabelo do filho antes de apoiar a mão sobre o ombro dele. Quantos não teriam morrido devido ao frio, à fome, ou às doenças? Quantos pais poderiam agora apoiar uma mão sobre o ombro de um filho? Pelo menos, está vivo, pensou.
Nesse dia, chegou um navio com cereais ao porto de Barcelona, um dos poucos que tinham conseguido furar o bloqueio genovês. Os cereais foram comprados pela própria cidade, a preços astronómicos, para serem revendidos entre os seus cidadãos, a preços acessíveis. Nessa quarta-feira, havia trigo na Praça do Blat, e as pessoas, desde as primeiras horas da manhã, foram-se reunindo na praça, envolvendo-se em brigas para demonstrarem como os medidores oficiais enganavam no cereal.
Havia já alguns meses, e apesar dos esforços dos conselheiros da cidade para o calarem, um frade carmelita pregava contra os poderosos, atribuía-lhes todos os males da grande fome e acusava-os de terem milho escondido. As invectivas do frade tinham encontrado eco na populaça e os rumores estendiam-se por toda a cidade; por isso, nessa quarta-feira, as pessoas, em cada vez maior número, movimentavam-se pela Praça do Blat agitadas, discutiam e aproximavam-se aos empurrões até às mesas onde os funcionários municipais lidavam com o cereal.
As autoridades calcularam a quantidade de trigo que corresponderia a cada barcelonês e ordenaram ao comerciante de tecidos Pere Juyol, vedor oficial da Praça do Blat, o controlo da venda.
— Mestre não tem família! — ouviu-se gritar poucos minutos depois de ter começado a venda; era um homem esfarrapado que vinha acompanhado por uma criança ainda mais esfarrapada. — Morreram todos durante o Inverno — acrescentou.
Os medidores retiraram o cereal de Mestre, mas as acusações multiplicaram-se: aquele tem um filho na outra mesa; já comprou; não tem família; não é filho dele, só o traz para pedir mais...
A praça tornou-se um remoinho de boatos. As pessoas saíram das filas, começaram as discussões e as razões degeneraram em insultos. Alguém exigiu aos gritos que as autoridades pusessem à venda o trigo que tinham escondido, e o povo, furioso, juntou-se a essa exigência. Os medidores oficiais viram-se superados pela massa humana, que se amontoou, desordenadamente, frente às mesas de venda; os aguazis do rei começaram a enfrentar as pessoas famélicas, e só uma decisão rápida de Pere Juyol conseguiu salvar a situação. Deu ordens para que levassem o trigo para o palácio do corregedor, no extremo oriental da praça, e suspendeu a venda durante a manhã.
Bernat e Arnau regressaram a casa de Grau para continuarem com o seu trabalho, decepcionados por não terem conseguido o tão desejado alimento, e no próprio pátio de entrada, em frente às cavalariças, contaram ao estribeiro-mor e a quem os quis escutar o que se tinha passado na Praça do Blat; nenhum dos dois se conteve, na hora de lançar invectivas contra as autoridades e de se queixar da fome que estavam a passar.
De uma das janelas que davam para o pátio, atraída pelos gritos, a baronesa regozijou-se com a penúria do servo fugitivo e do seu filho descarado. Enquanto os observava, um sorriso acendeu-se nos seus lábios, ao recordar as ordens que Grau tinha dado antes de partir em viagem. Não queria que os seus devedores comessem?
A baronesa pegou na bolsa com o dinheiro destinado à alimentação dos presos, encarcerados por dívidas ao seu marido, chamou o mordomo e ordenou-lhe que encarregasse dessa tarefa Bernat Estanyol, que devia ir acompanhado pelo filho, para o caso de surgir algum problema.
— Lembra-lhes — disse-lhe perante o sorriso de cumplicidade do criado — que este dinheiro é para comprar trigo para os presos do meu marido.
O mordomo cumpriu as instruções da patroa e divertiu--se com a expressão de incredulidade de pai e filho, que aumentou quando aquele pegou na bolsa e sopesou as moedas que continha.
- Para os presos? — perguntou Arnau ao pai, já fora do palácio dos Puig.
— Sim.
— Porquê para os presos, pai?
— Estão presos por deverem dinheiro a Grau, e este tem a obrigação de pagar a alimentação deles.
— E se não o fizer?
Continuavam a caminhar em direcção à praia.
— Libertam-nos, e Grau não quer que façam isso. Paga as taxas reais, paga ao alcaide e paga a alimentação dos presos. É da lei.
— Mas...
— Deixa, filho, deixa...
Ambos continuaram em silêncio a caminho de casa. Nessa tarde, Arnau e Bernat encaminharam-se para a prisão, para cumprirem a sua estranha tarefa. Pela boca de Joan, que no seu trajecto desde a escola da catedral até casa de Pere tinha de cruzar a praça, sabiam agora que os ânimos não se tinham acalmado e, já na Rua de la Mar, que desembocava na praça, vindo de Santa Maria, começaram a ouvir os gritos da multidão. A populaça tinha-se reunido em redor do palácio do corregedor, onde se encontrava armazenado o trigo que tinha sido retirado de manhã e onde, também, estavam encarcerados os devedores de Grau.
As pessoas queriam o trigo, e as autoridades de Barcelona não dispunham dos efectivos necessários para uma distribuição ordeira. Os cinco conselheiros, reunidos com o corregedor, tentavam descobrir uma solução.
— Que jurem — disse um. — Sem juramento, não há trigo. Cada comprador deverá jurar que a quantidade que solicita é a necessária para o sustento da sua família, e que não pedirá mais do que a parte que, de acordo com a divisão, lhe possa corresponder.
— Será isso suficiente? — duvidou outro.
— O juramento é sagrado! — respondeu o primeiro. — Por acaso não se juram os contratos, a inocência, as obrigações? Não vão as pessoas ao altar de S. Félix para jurar os testamentos sacramentais?
Assim se anunciou de uma varanda do palácio do corregedor. As pessoas fizeram correr a notícia até aos que não tinham conseguido ouvir a solução proposta, e os devotos cristãos que se apinhavam, reclamando o cereal, dispuseram-se a jurar... mais uma vez, pelas suas vidas.
O trigo regressou à praça, de onde a fome não desaparecera. Uns juraram. Outros suspeitaram, e repetiram-se as acusações, os gritos e as ofensas. O povo voltou a enlouquecer e a reclamar o trigo que, segundo o frade carmelita, as autoridades tinham escondido.
Arnau e Bernat encontravam-se na desembocadura da Rua de la Mar, no extremo oposto ao palácio do corregedor, onde se iniciara a venda do trigo. As pessoas gritavam à sua volta desalmadamente.
— Pai — perguntou Arnau —, será que vai sobrar trigo para nós?
— Confio que sim, filho — Bernat tentou não olhar directamente para o filho. Como poderia sobrar trigo para eles? Não havia trigo nem para uma quarta parte dos cidadãos.
— Pai — disse-lhe Arnau —, porque têm os presos trigo assegurado e nós não?
Escudando-se na gritaria, Bernat fez de conta que não tinha ouvido a pergunta; contudo, não pôde deixar de olhar para o filho: estava famélico, os braços e as pernas tinham-se tornado delgadas extremidades, e no seu rosto seco destacavam-se uns olhos enormes que, noutros tempos, tinham sorrido despreocupadamente. — Pai, ouviste-me?
Sim, pensou Bernat, mas que posso eu responder-te? Que nós, pobres, estamos unidos na fome? Que só os ricos podem comer? Que só os ricos podem permitir-se manter os seus devedores? Que nós, pobres, nada valemos para eles? Que os filhos dos pobres valem menos do que um dos encarcerados no palácio do corregedor? Bernat não lhe respondeu.
— Há trigo no palácio! — gritou Bernat unindo-se à vozearia do povo. — Há trigo no palácio! — repetiu ainda mais alto quando os que lhes estavam mais próximos se calaram e se viraram para olhar para ele. Depressa foram muitos os que fixaram a atenção naquele homem que garantia que havia trigo no palácio.
— Se não houvesse, como poderiam comer os presos? — voltou a gritar, erguendo a bolsa de dinheiro de Grau. — Os nobres e os ricos pagam a comida dos presos! Onde vão os alcaides buscar o trigo para os presos? Por acaso vêm à rua comprá-lo como nós?
A multidão foi abrindo alas, para deixar passar Bernat, que estava fora de si. Arnau seguia-o, tentando chamar-lhe a atenção.
— Que fazes, pai?
— Acaso os alcaides são obrigados a jurar como nós?
— Que se passa contigo, pai?
— Aonde vão os alcaides buscar o trigo para os presos? Porque não podemos dar de comer aos nossos filhos, mas podemos dar aos presos?
A multidão enlouqueceu ainda mais com as palavras de Bernat. Desta vez, os medidores oficiais não puderam retirar a tempo o trigo, e as pessoas assaltaram-nos. Pere Juyol e o corregedor estiveram quase a ser linchados. Salvaram a vida graças a alguns aguazis, que os defenderam e os escoltaram até ao palácio.
Poucos viram as suas necessidades satisfeitas, porque o trigo se derramou pela praça e foi pisado pela multidão, enquanto alguns, em vão, tentavam recolhê-lo, para acabarem por ser, eles próprios, pisados pelos seus concidadãos.
Alguém gritou que a culpa era dos conselheiros e a multidão espalhou-se em busca dos próceres da cidade, escondidos em suas casas.
Bernat não permaneceu alheio à loucura colectiva e gritou como todos os outros, deixando-se levar pelas ondas de gente enlouquecida.
— Pai, pai.
Bernat olhou para o filho.
— Que fazes aqui? — perguntou-lhe, sem parar de andar e por entre gritos.
— Eu... que se passa contigo, pai?
— Vai-te daqui. Isto não é lugar para crianças.
— Aonde vou eu...
— Toma — Bernat entregou-lhe duas bolsas de dinheiro: a sua própria e a destinada aos presos e aos alcaides.
— Que tenho de fazer com...? — perguntou Arnau.
— Vai-te embora, filho. Vai.
Arnau viu como o pai desaparecia por entre a multidão. A última coisa que viu foi o ódio que os seus olhos disparavam.
— Aonde vais, pai? — gritou Arnau quando já o perdera de vista.
— Em busca da liberdade — respondeu-lhe uma mulher que também observava como a multidão se espalhava pelas ruas da cidade.
—Já somos livres — atreveu-se a afirmar Arnau.
— Não há liberdade com fome, filho — sentenciou a mulher.
Chorando, Arnau correu contra a corrente, tropeçando com as pessoas.
Os desacatos duraram dois dias inteiros. As casas dos conselheiros e muitas outras residências nobres foram saqueadas e o povo, louco e encolerizado, andou de um lado para outro, primeiro em busca de comida... depois, em busca de vingança.
Durante dois dias inteiros, a cidade de Barcelona viu-se submersa no caos perante a impotência das autoridades, até que um enviado do rei Afonso, com tropas suficientes, pôs fim ao alvoroço. Cem homens foram detidos e muitos outros multados. Desses cem, dez foram executados na forca após um juízo sumaríssimo. Dos chamados a testemunhar no juízo, poucos foram os que não reconheceram em Bernat Estanyol, com o seu característico sinal sobre o olho direito, um dos principais instigadores da revolta dos cidadãos da Praça do Blat.
Arnau correu por toda a Rua de la Mar até casa de Pere, sem sequer dedicar uma olhadela a Santa Maria. Os olhos do pai estavam gravados nas suas retinas, os gritos ecoavam-lhe nos ouvidos. Nunca o vira assim. Que se passa contigo, pai? É verdade que não somos livres, como disse aquela mulher? Entrou em casa de Pere sem reparar em nada nem em ninguém, e fechou-se no quarto. Joan encontrou-o a chorar.
— A cidade ficou louca... — disse-lhe assim que abriu a porta do quarto. — Que tens tu?
Arnau não respondeu. O irmão deu uma rápida olhadela em redor.
— E o pai? — Arnau sacudiu uma mão em direcção à cidade.
— Está com eles?
— Sim — conseguiu balbuciar Arnau.
Joan reviveu a confusão com que se deparara do palácio do bispo até casa. Os soldados tinham encerrado as portas da judiaria e tinham-se colocado diante delas, para evitar que a multidão a assaltasse; porque agora se dedicavam a saquear as casas dos cristãos. Como podia Bernat estar com eles? As imagens de grupos de exaltados arrombando as portas das casas das pessoas de bem e a saírem delas carregados com os seus haveres voltaram à memória de Joan. Não podia ser.
— Não pode ser — repetiu em voz alta. Arnau olhou para ele, do colchão onde estava sentado. — Ele não é como eles... Como é possível?
— Não sei... Havia muita gente. Todos gritavam...
— Mas... Bernat? Bernat não seria capaz... Talvez apenas esteja... Não sei, a tentar encontrar alguém!
Arnau olhou para Joan. «Como queres que te diga que era ele quem mais gritava, que foi ele quem incitou as pessoas? Como queres que to diga, se eu próprio não consigo acreditar?»
— Não sei, Joan. Havia muita gente.
— Estão a roubar, Arnau! Estão a atacar os próceres da cidade.
Um olhar foi o bastante.
Os dois rapazes esperaram em vão pelo pai, nessa noite. No dia seguinte, Joan preparou-se para ir às aulas.
— Não devias ir — aconselhou Arnau. Desta vez, foi Joan quem apenas respondeu com um olhar.
— Os soldados do rei Afonso sufocaram a revolta — limitou-se a comentar Joan ao regressar a casa de Pere.
Também nessa noite Bernat não veio dormir. De manhã, Joan voltou a despedir-se de Arnau.
— Devias sair — disse-lhe.
— E se ele volta? Só pode voltar para aqui — respondeu Arnau com a voz entrecortada.
Os dois irmãos abraçaram-se. Onde estás, pai? Quem saiu em busca de notícias foi Pere, e não precisou de se afastar muito de casa para as encontrar.
— Sinto muito, rapaz — disse Pere a Arnau. — O teu pai foi detido.
— Onde está ele?
— No palácio do corregedor, mas...
Arnau já corria em direcção ao palácio. Pere olhou para a mulher e abanou a cabeça; a idosa levou as mãos ao rosto.
— Foram julgamentos sumários — explicou-lhe Pere. — Um montão de testemunhas reconhecera Bernat, com o seu sinal, como principal instigador da revolta. Porque o terá ele feito? Parecia...
— Porque tem dois filhos para alimentar — interrompeu-o a mulher, com as lágrimas nos olhos.
— Tinha... — corrigiu Pere com voz cansada. — Enforcaram-no na Praça do Blat, junto com outros nove instigadores.
Mariona tornou a levar as mãos ao rosto, mas de repente baixou-as.
— Arnau... — exclamou, dirigindo-se para a porta; mas ficou a meio caminho ao ouvir as palavras do marido:
— Deixa-o, mulher. A partir de hoje, não voltará a ser uma criança.
Mariona fez que sim com a cabeça. Pere foi abraçá-la.
As execuções foram imediatas, por ordem expressa do rei. Nem sequer deu tempo para construir um cadafalso, e os presos foram executados sobre simples carroças.
Arnau interrompeu bruscamente a sua corrida ao entrar na Praça do Blat. Cambaleava. A praça estava cheia de gente, em silêncio, todos de costas para ele, quietos, com os olhos em... Por cima das pessoas, junto ao palácio, pendia uma dezena de corpos inertes. — Não!... Pai!
O uivo ecoou por toda a praça e as pessoas viraram-se para olhar para ele. Arnau atravessou rapidamente a praça enquanto as pessoas abriam alas. Procurava entre os dez...
— Deixa-me, pelo menos, ir avisar o padre — pediu a mulher de Pere.
— Já fiz isso. Ele lá estará.
Arnau vomitou ao ver o cadáver do pai. As pessoas afastaram-se de um salto. O rapaz voltou a olhar para aquele rosto desfigurado, batido até ficar negro, caído de lado, com os traços contraídos, os olhos abertos numa luta que já seria eterna por saírem das órbitas, e com a longa língua pendurada inerte entre as comissuras dos lábios. Da segunda e da terceira vez que olhou, só conseguiu vomitar bílis.
Arnau sentiu um braço sobre os seus ombros.
— Vamos, filho — disse o padre Albert.
O sacerdote puxou por ele para Santa Maria, mas Arnau não se mexeu. Tornou a olhar para o pai e fechou os olhos. Já não voltaria a ter fome. O rapaz encolheu-se numa tremenda convulsão. O padre Albert tentou puxá-lo de novo para que abandonasse aquele cenário macabro.
— Deixe-me, padre, por favor.
Debaixo do olhar do padre e de todos os presentes, Arnau percorreu cambaleando os poucos passos que o separavam do cadafalso improvisado. Agarrava-se ao estômago com as mãos e tremia. Quando ficou por debaixo do pai, olhou para um dos soldados que estavam de guarda junto dos enforcados.
— Posso fazê-lo descer? — perguntou.
O soldado hesitou perante o olhar do rapaz, parado debaixo do cadáver do pai, apontando para ele. Que teriam feito os seus filhos no caso de ser ele o enforcado?
— Não — viu-se obrigado a responder. Preferiria não estar ali. Preferiria estar a lutar contra uma legião de mouros, estar perto dos seus filhos... Que tipo de morte era aquela? Aquele homem apenas tinha lutado pelos seus filhos, por aquela criança que agora o interrogava com o olhar, como todos os presentes na praça. Porque não estaria ali o corregedor? — O corregedor deu ordens para que permaneçam três dias expostos na praça.
— Esperarei.
— Depois, serão trasladados para as portas da cidade, como qualquer justiçado em Barcelona, para que todo aquele que por lá passe conheça a lei do corregedor.
O soldado virou costas a Arnau e começou uma ronda que começava e acabava sempre num enforcado.
— Fome — ouviu atrás de si. — Só tinha fome. Quando aquela ronda sem sentido o levou de novo até Bernat, o rapaz estava sentado no chão, debaixo do pai, com a cabeça entre as mãos, chorando. O soldado nem se atreveu a olhar para ele.
— Vamos, Arnau — insistiu o padre, de novo junto a ele.
Arnau abanou a cabeça. O padre Albert ia para falar, mas um grito impediu-o. Começavam a chegar os familiares dos outros enforcados. Mães, esposas, filhos e irmãos caíram junto aos cadáveres, num doloroso silêncio interrompido apenas por alguns gritos de dor. O soldado concentrou-se na sua ronda, procurando na sua memória o grito de guerra dos infiéis. Joan, que passava pela praça, de regresso a casa, aproximou-se e desmaiou ao ver o horrível espectáculo. Nem sequer teve tempo de ver Arnau, que continuava sentado no mesmo lugar, agora abanando-se para trás e para diante.
Os próprios companheiros de Joan levantaram-no e levaram-no para o palácio do Bispo. Arnau também não viu o irmão.
Passaram as horas e Arnau continuava alheio aos cidadãos que chegavam à Praça do Blat, movidos peia compaixão, pela curiosidade ou pela morbidez. Só as botas do soldado que fazia a ronda à sua frente interrompia os pensamentos de Arnau.
«Arnau, abandonei tudo o que tinha para que tu pudesses ser livre», dissera-lhe o pai não muito tempo antes. «Abandonei as nossas terras, que foram propriedade dos Estanyol durante séculos, para que ninguém pudesse fazer-te a ti o que me fizeram a mim, ao meu pai, ao pai do meu pai... e agora voltamos a estar na mesma, ao sabor dos caprichos daqueles que se dizem nobres; mas com uma diferença: podemos recusar-nos. Filho, aprende a usar a liberdade que tanto esforço nos custou a alcançar. Só a ti te compete decidir.» «A sério que podemos recusar-nos, pai?» As botas do soldado voltaram a passar diante dos seus olhos. «Não há liberdade com fome. Tu já não tens fome, pai. E a tua liberdade?»
— Olhem bem para eles, meninos. Aquela voz...
— São delinquentes. Olhem bem para eles. — Pela primeira vez, Arnau permitiu-se observar as pessoas que se amontoavam diante dos cadáveres. A baronesa e os seus três enteados contemplavam o rosto desfigurado de Bernat Estanyol. Os olhos de Arnau cravaram-se nos pés de Margarida; depois, olhou-a na cara. Os primos tinham empalidecido, mas a baronesa sorria e olhava para ele, directamente para ele. Arnau levantou-se, a tremer. — Não mereciam ser cidadãos de Barcelona — ouviu Isabel dizer. As unhas cravaram-se-lhe nas palmas das mãos; o rosto congestionou-se-lhe e tremia-lhe o lábio inferior. A baronesa continuava a sorrir. — Que se podia esperar de um servo fugitivo?
Arnau ia para se lançar à baronesa, mas o soldado interpôs-se entre eles. Arnau chocou com ele.
— Estás com alguma ideia, rapaz? — O soldado seguiu o olhar de Arnau. — Se fosse a ti não o fazia — aconselhou-o. Arnau tentou esquivar-se do soldado, mas este agarrou-o por um braço. Isabel já não sorria; permanecia muito direita, altaneira, desafiadora. — Se fosse a ti não fazia isso; dás cabo da vida — ouviu o homem dizer-lhe. Arnau ergueu os olhos. — Ele já está morto — insistiu o soldado. — Tu, não. Senta-te, rapaz. — O soldado notou que Arnau afrouxava um pouco. — Senta-te — insistiu. Arnau desistiu e o soldado ficou de guarda a seu lado.
— Olhem bem para eles, meninos. — A baronesa sorria de novo. — Amanhã voltaremos. Os enforcados estarão expostos até apodrecerem, como devem apodrecer os delinquentes fugitivos.
Arnau não pôde controlar o tremor do seu lábio inferior. Continuou a olhar para os Puig até que a baronesa decidiu virar-lhe as costas.
Um dia... Um dia hei-de ver-te morta. Hei-de ver-vos todos mortos!, prometeu a si próprio. O ódio de Arnau perseguiu a baronesa e os enteados por toda a Praça do Blat. Ela dissera que voltaria no dia seguinte. Arnau ergueu os olhos para o pai.
«Juro por Deus que não conseguirão regalar-se mais uma vez com o cadáver do meu pai, mas... como?» As botas do soldado voltaram a passar à sua frente. «Pai, não permitirei que apodreças aí pendurado dessa corda.»
Arnau dedicou as horas seguintes a pensar como poderia conseguir fazer desaparecer o cadáver do pai, mas qualquer ideia que lhe ocorresse desfazia-se contra as botas que passavam ali perto dele. Nem sequer poderia soltá-lo sem que o vissem, e de noite teriam tochas acesas... tochas acesas... tochas acesas... Nesse preciso momento apareceu Joan na praça, com o rosto pálido, quase branco, os olhos inchados e raiados de sangue, um andar cansado. Arnau levantou-se e Joan caiu-lhe nos braços assim que ficou de pé.
— Arnau... Eu... — balbuciou.
— Escuta-me bem — interrompeu Arnau, abraçando-se a ele. — Não pares de chorar.
Nem conseguiria, Arnau, pensou Joan, surpreendido pelo tom do irmão.
— Quero que esta noite, às dez, me esperes, escondido na esquina da Rua de la Mar com a praça; que ninguém te veja. Traz... traz uma manta, a maior que encontres em casa de Pere. E agora, vai-te.
— Mas...
— Vai, Joan. Não quero que os soldados reparem em ti. Arnau teve de empurrar o irmão para se soltar do seu abraço. Os olhos de Joan deram com os de Arnau; depois, olharam mais uma vez para Bernat. O rapaz tremeu.
— Vai, Joan! — sussurrou-lhe Arnau.
Nessa noite, quando já ninguém passeava pela praça, e só os familiares dos enforcados permaneciam aos pés deles, mudou a guarda e os novos soldados deixaram de rondar em frente aos cadáveres para se sentarem à roda de uma fogueira que acenderam junto de um dos extremos da fila de carroças. Tudo estava tranquilo e a noite tinha refrescado o ambiente. Arnau levantou-se e passou junto dos soldados, procurando esconder o rosto.
— Vou buscar uma manta — disse. Um dos soldados olhou-o de soslaio.
Atravessou a Praça do Blat até à esquina da Rua de la Mar e ficou aí durante alguns instantes, perguntando-se onde estaria Joan. Já era a hora combinada, deveria ter chegado. Arnau assobiou. O silêncio continuou a acompanhá-lo.
— Joan? — atreveu-se a chamar. De uma porta entreaberta surgiu uma sombra.
— Arnau? — ouviu-se na noite.
— Claro que sou eu — o suspiro de Joan ouviu-se a vários metros. — Quem pensavas tu que era? Porque não respondeste?
— Está muito escuro — limitou-se a responder Joan.
— Trouxeste a manta? — A sombra ergueu um embrulho. — Muito bem. Eu disse-lhes que vinha buscar uma. Quero que te tapes com ela e que ocupes o meu lugar. Põe-te em bicos de pés, para pareceres mais alto.
— Que pretendes fazer?
— Vou queimá-lo — respondeu, quando Joan já se encontrava a seu lado. — Quero que ocupes o meu lugar. Quero que os soldados julguem que sou eu. Limita-te a sentar-te debaixo de... limita-te a sentar-te onde eu estava e não faças nada; simplesmente tapa a cara. Não te mexas. Não faças nada, vejas o que vires e ouças o que ouvires, entendido? — Arnau não esperou que Joan lhe respondesse. — Quando tudo terminar, tu serás eu, tu serás Arnau Estanyol e o teu pai não tinha mais nenhum filho. Entendeste? Se os soldados te perguntarem...
— Arnau...
— Que foi?
— Não me atrevo.
— Como?
— Não me atrevo. Descobriam-me. Quando vir o pai...
— Preferes vê-lo apodrecer? Preferes vê-lo pendurado às portas da cidade enquanto os corvos e as larvas devoram o seu cadáver?
Arnau esperou por um momento que o irmão imaginasse tal cena.
— Por acaso queres que a baronesa continue a rir-se do nosso pai... mesmo depois de morto?
— Não será pecado? — perguntou de repente Joan. Arnau tentou ver o irmão no meio da noite, mas só conseguia ver uma sombra.
— Só tinha fome! Não sei se será pecado, mas não estou disposto a que o nosso pai apodreça pendurado de uma corda. Vou fazer isto. Se queres ajudar-me, põe essa manta por cima e limita-te a não fazer nada. Se não queres fazer isto...
Sem mais, Arnau partiu pela Rua de la Mar abaixo enquanto Joan se dirigia para a Praça do Blat coberto com a manta e com os olhos fixados em Bernat; um fantasma entre os dez que pendiam das carroças, tenuemente iluminados pelo rebrilhar da fogueira dos soldados. Joan não queria ver o rosto de Bernat, não queria enfrentar a língua dele pendurada, mas os olhos traíam a sua vontade e caminhava com o olhar fixo em Bernat. Os soldados viram-no aproximar-se. Entretanto, Arnau corria para casa de Pere; pegou na sua bexiga e esvaziou-a de água; depois encheu-a com azeite das candeias. Pere e a mulher, sentados à lareira, viram-no fazer aquilo.
— Eu não existo — disse-lhes Arnau num fio de voz, ajoelhando-se em frente a eles e pegando na mão da idosa, que o olhou com carinho.
— Joan será eu. O meu pai só tem um filho... Tomem conta dele.
— Mas Arnau... — começou Pere a dizer.
— Chiu — sussurrou Arnau.
— Que vais fazer, filho? — insistiu o idoso.
— Tenho de o fazer — respondeu Arnau, levantando-se.
Eu não existo. Sou Arnau Estanyol. Os soldados continuavam a observá-lo. Queimar um cadáver deve ser pecado, pensava Joan. Bernat olhava para ele! Joan ficou parado a uns metros do enforcado. Olhava para ele! E tudo ideia de Arnau.
— Passa-se alguma coisa, rapaz? — Um dos soldados fez menção de se levantar.
— Nada — respondeu Joan antes de recomeçar a andar para os olhos mortos que o interrogavam.
Arnau pegou numa candeia e partiu a correr. Procurou barro e manchou a cara. Quantas vezes lhe tinha o pai falado da chegada àquela cidade que agora o tinha assassinado... Contornou a Praça do Blat pelas do Llet e de Corretgeria, até chegar à Rua Tapineria, mesmo ao lado da fila das carroças de enforcados. Joan estava sentado debaixo do pai, tentando controlar a tremura que o traía.
Arnau deixou a candeia escondida na rua, pôs a bexiga às costas e, rastejando, começou a avançar para a parte de trás das carroças, encostadas às paredes do palácio do corregedor. Bernat estava na quarta carroça e os soldados continuavam a conversar à volta da fogueira, no extremo oposto.
Arrastou-se por detrás das primeiras carroças. Quando chegou à segunda, uma mulher viu-o; tinha os olhos inchados pelo choro. Arnau deteve-se, mas a mulher desviou o olhar e continuou na sua dor. O rapaz empoleirou-se na carroça de onde pendia o pai. Joan ouviu-o e virou-se.
— Não olhes! — O irmão deixou de perscrutar a escuridão.
— E tenta não tremer tanto — sussurrou-lhe Arnau.
Ergueu-se para alcançar o corpo de Bernat, mas um ruído obrigou-o a baixar-se de novo. Esperou uns segundos e repetiu a operação; outro ruído sobressaltou-o, mas Arnau aguentou-se de pé. Os soldados continuavam a sua tertúlia. Arnau levantou a bexiga e começou a verter o azeite sobre o cadáver do pai. A cabeça estava muito acima, e por isso es-ticou-se o mais que pôde e apertou a bexiga com força, para que o óleo saísse disparado sob pressão. Um jorro viscoso começou a empapar o cabelo de Bernat. Quando se acabou o azeite, fez de volta o caminho até à Rua Tapineria.
Só teria uma oportunidade. Arnau mantinha a candeia atrás de si para esconder a chama débil. «Tenho de acertar à primeira.» Olhou para os soldados. Agora era ele quem tremia. Respirou fundo e, sem pensar, entrou na praça. Bernat e Joan estavam a uns dez passos. Avivou a chama, com o que se pôs a descoberto. O brilho da candeia na Praça do Blat anunciou-lhe um amanhecer despejado. Os soldados olharam para ele. Arnau ia para começar a correr quando se deu conta de que nenhum deles fazia tenção de se mexer. «Porque haviam de o fazer? Acaso sabem que vou queimar o meu pai? Queimar o meu pai!» A candeia tremeu-lhe na mão. Seguido pelo olhar dos soldados, chegou até onde Joan estava. Ninguém fez nada. Arnau deteve-se debaixo do cadáver do pai e olhou-o pela última vez. O rebrilhar do óleo sobre o rosto dele escondia o terror e a dor que antes lá estava.
Arnau atirou a candeia contra o cadáver e Bernat começou a arder. Os soldados levantaram-se de um salto, viraram-se para as chamas e correram atrás de Arnau. Os restos da candeia caíram sobre a carroça, onde se acumulara o óleo que escorria do corpo de Bernat, e também começou a arder.
— Eh! — ouviu os soldados a gritar.
Arnau ia a sair, correndo, quando reparou que Joan continuava sentado perto da carroça, com a manta a tapá-lo por inteiro, paralisado. Os restantes enlutados observavam em silêncio as chamas, absortos na sua própria dor.
— Alto! Alto! Em nome do rei!
— Mexe-te, Joan! — Arnau virou-se para os soldados, que já corriam na sua direcção. — Mexe-te, se não queimas-te.
Não podia deixar Joan ali. O óleo espalhado pelo chão aproximava-se da figura tremente do irmão. Arnau ia a puxá-lo dali quando a mulher que antes o tinha visto se pôs no meio.
— Corre — apressou-o.
Arnau teve de se escapar da mão do primeiro soldado e desatou a correr. Correu pela Rua Bòria até à Porta Nou, com os soldados aos gritos atrás dele. Quanto mais o perseguissem, mais tempo demorariam a voltar para perto do seu pai e a apagar o fogo, pensou Arnau enquanto corria. Os soldados, veteranos e carregados com o seu equipamento, nunca poderiam alcançar um rapaz cujas pernas pareciam acirradas pelo fogo.
— Em nome do rei! — ouviu atrás de si.
Um silvo raspou pelo seu ouvido direito. Arnau conseguiu ouvir como a lança caía no chão, à sua frente. Atravessou como um sopro a Praça de la Liana enquanto várias lanças falhavam o seu objectivo, correu frente à capela de Bernat Marcus e chegou à Rua Carders. Os gritos dos soldados começavam a perder-se na distância. Não podia continuar a correr até à Porta de Nou, onde com certeza haveria mais soldados colocados. Para baixo, em direcção ao mar, podia chegar até Santa Maria; para cima, em direcção à montanha, podia chegar até Sant Pere de les Puelles, mas depois voltaria a deparar com as muralhas.
Decidiu-se pelo mar e dirigiu-se para lá. Contornou o convento de San Agustín e perdeu-se no labirinto de ruas que se abriam para além do bairro do Mercadal; saltava vedações, pisava hortas e procurava sempre as sombras. Quando teve a certeza de que apenas o eco dos seus passos o seguia, abrandou o ritmo. Seguindo o percurso do Rec Comtal, chegou ao Pia d'en Llull, junto ao convento de Santa Clara, e daí, à Praça do Born e à Rua do Born, à sua igreja, ao seu refúgio. No entanto, quando ia a meter-se debaixo da escada de madeira da porta, observou algo que lhe chamou a atenção: uma candeia atirada ao chão e cuja chama, exígua, lutava por se manter acesa. Perscrutou os arredores da ténue luzinha e não tardou a vislumbrar a figura do aguazil, também caído no chão, imóvel, com um fio de sangue que lhe corria pela comissura dos lábios.
O coração de Arnau acelerou. Porquê? A tarefa daquele aguazil era vigiar Santa Maria. Que interesse podia haver em... A Virgem! A capela do Santíssimo! A caixa dos bastaixos!
Arnau não pensou duas vezes. Tinham executado o seu pai; não podia permitir que agora, para além disso, desonrassem a sua mãe. Entrou discretamente pela porta de Santa Maria e dirigiu-se ao deambulatório. A sua esquerda, separada pelo espaço que restava entre dois contrafortes, ficava a capela do Santíssimo. Atravessou a igreja e escondeu-se atrás de uma das colunas do altar-mor. Daí, ouviu ruídos vindo da capela do Santíssimo, mas ainda não a tinha à vista. Deslizou até à coluna seguinte e, então sim, através das colunas conseguiu ver a capela, iluminada como sempre por numerosos círios acesos.
Na capela, um homem empoleirava-se no gradeamento. Arnau olhou para a sua Virgem. Tudo parecia estar em ordem. Então? Passeou rapidamente o olhar pelo interior da capela do Altíssimo; a caixa dos bastaixos tinha sido forçada. Enquanto o ladrão continuava a subir, Arnau julgou ouvir o tilintar das moedas que os bastaixos colocavam naquela caixa para os seus órfãos e para as suas viúvas.
— Ladrão! — gritou, lançando-se contra a grade da capela.
De um salto, empoleirou-se na grade e bateu no peito do homem. O ladrão, surpreendido, caiu estrepitosamente. Não teve tempo para pensar. O homem levantou-se com rapidez e desferiu um tremendo soco na cara do rapaz. Arnau caiu de costas sobre o chão de Santa Maria.
— Deve ter caído ao tentar escapar depois de roubar a caixa dos bastaixos — sentenciou um dos oficiais reais, de pé, ao lado de Arnau, que ainda estava inconsciente. O padre Albert negou com a cabeça. Como poderia Arnau ter cometido semelhante atrocidade? A caixa dos bastaixos, na capela do Santíssimo, junto à sua Virgem! Os soldados tinham-no avisado um par de horas antes de amanhecer.
— Não pode ser — murmurou para si próprio.
— Sim, padre — insistiu o oficial. — O rapaz trazia esta bolsa — acrescentou, mostrando-lhe a bolsa do dinheiro de Grau para os presos e para o alcaide. — Que andaria um rapaz a fazer com tanto dinheiro?
— E a cara dele? — interveio outro soldado. — Para que havia alguém de sujar a cara com barro, a não ser para roubar?
O padre Albert voltou a negar com a cabeça, com os olhos postos na bolsa que o oficial tinha na mão. Que fazia Arnau ali, àquelas horas da noite? De onde tinha tirado aquela bolsa?
— Que fazem? — perguntou aos oficiais ao ver que levantavam Arnau do chão.
— Levamo-lo para a prisão.
— De maneira nenhuma — ouviu-se a si próprio dizer.
Talvez... Talvez tudo aquilo tivesse uma explicação. Arnau não podia ter tentado roubar a caixa dos bastaixos. Arnau, não.
— É um ladrão, padre.
— Isso terá de ser um tribunal a decidir.
— E assim será — confirmou o oficial, enquanto os seus soldados seguravam Arnau pelas axilas. — Mas vai esperar peia sentença num cárcere.
— Se tem de ir para algum cárcere, será o do bispo — disse o padre. — O crime foi cometido num lugar santo, e por isso a jurisdição é da Igreja, não do corregedor.
O oficial olhou para os soldados e para Arnau e, com um gesto de impotência, ordenou-lhes que deixassem o rapaz no chão, coisa que eles cumpriram deixando-o cair. Um sorriso cínico assomou aos seus lábios ao ver como o rosto do rapaz batia violentamente no chão.
O padre Albert olhou-os com raiva.
— Acordem-no — exigiu o padre Albert enquanto puxava das chaves da capela, abria a grade e entrava. — Quero ouvir o que o rapaz tem a dizer.
Aproximou-se da caixa dos bastaixos, cujas três fechaduras tinham sido forçadas, e comprovou que estava vazia; no interior da capela não faltava mais nada, nem tinha havido nenhum estrago. «Que se passou aqui, Senhora?», perguntou o padre em silêncio à Virgem. «Como pudeste permitir que Arnau cometesse este delito?» Ouviu os soldados a despejar água sobre a cara de Arnau, e saiu da capela no momento em que vários bastaixos, avisados do roubo da sua caixa, entravam em Santa Maria.
Arnau despertou ao sentir a água gelada e viu que estava rodeado de soldados. O som da lança na Rua de Bòria tornou a silvar-lhe ao ouvido. Corria à frente deles. Como tinham conseguido alcançá-lo? Teria tropeçado? Os rostos dos soldados inclinaram-se sobre ele. O pai! Ardia! Tinha de escapar! Arnau levantou-se e tentou empurrar um dos soldados, mas estes imobilizaram-no rapidamente e sem dificuldade. O padre Albert, abatido, viu a luta do rapaz por se soltar das mãos dos soldados.
— Quer ouvir mais uma coisa, padre? — atirou-lhe ironicamente o oficial. — Isto parece-lhe suficiente confissão? — insistiu apontando para Arnau, enlouquecido.
O padre Albert levou as mãos à cara e suspirou. Depois, dirigiu-se, cansado, para onde os soldados tinham retido Arnau.
— Porque fizeste isto? — perguntou assim que ficou frente ao rapaz. — Sabes que essa caixa é dos teus amigos bastaixos. Que com ela satisfazem as necessidades de viúvas e de órfãos dos seus confrades, enterram os seus mortos, fazem obras de caridade, engalanam a Virgem, tua mãe, e mantêm sempre acesas as velas que a iluminam. Porque fizeste isto, Arnau?
Arnau acalmou-se diante da presença do padre, mas... que fazia ele ali? A caixa dos bastaixos, o ladrão! Tinha-lhe batido, mas... que mais teria acontecido? Com os olhos arregalados, olhou à sua volta. Atrás dos soldados, um sem-número de caras conhecidas observavam-no, esperando uma resposta. Reconheceu Ramon e Ramon el Chico, Pere, Jaume, Joan, que tentava ver a cena pondo-se em bicos de pés, Sebastià e o filho, Bastianet e muitos outros a quem tinha dado de beber e com quem tinha partilhado momentos inesquecíveis na saída da host de Creixell. Acusavam-no a ele! Era isso!
— Eu não... — balbuciou.
O oficial colocou à frente dos seus olhos a bolsa de dinheiro de Grau, e Arnau levou a mão ao sítio onde ela devia de estar. Não quisera deixá-la debaixo do colchão, para o caso de a baronesa os denunciar e culparem Joan, e agora... Maldito Grau! Maldita bolsa!
— Procuras isto? — disparou o oficial. Levantou-se um rumor entre os bastaixos.
— Não fui eu, padre - defendeu-se Arnau.
O oficial soltou uma gargalhada, a que, de imediato, se somaram as dos soldados.
— Ramon, não fui eu. Juro-vos — repetiu Arnau olhando directamente para o bastaix.
— Então, que fazias tu aqui à noite? Onde apanhaste essa bolsa? Porque tentaste fugir? Porque tens a cara suja de barro?
Arnau levou uma mão à cara. O barro estava ressequido.
A bolsa! O oficial não parava de a balançar à frente dos seus olhos.
Entretanto, iam chegando mais e mais bastaixos, e uns e outros, em voz baixa, contavam entre si o que se tinha passado. Arnau observou a bolsa, balançando-se à sua frente. Maldita bolsa! Depois, dirigiu-se directamente ao padre:
— Havia um homem — disse-lhe. — Tentei detê-lo, mas não consegui. Era muito forte.
A gargalhada incrédula do oficial voltou a ecoar no deambulatório.
— Arnau — incitou-o o padre Albert —, responde às perguntas do oficial.
— Não... não posso — reconheceu, provocando um encolher de ombros nos soldados e alvoroço entre os bastaixos.
O padre Albert guardou silêncio, com o olhar fixo em Arnau. Quantas vezes tinha ouvido aquelas palavras? Quantos da sua freguesia se negavam a contar-lhe os seus pecados? «Não posso», diziam-lhe, com o medo estampado no rosto. «Se alguém soubesse...» Certamente, pensava então o sacerdote, se soubessem do roubo, do adultério ou da blasfémia, poderiam detê-los, e então ele tinha de insistir, ju-rando-lhes segredo eterno, até que as suas consciências se abriam a Deus e ao perdão.
— Contar-me-ias a mim, a sós? — perguntou-lhe. Arnau concordou e o clérigo apontou para a capela do Santíssimo.
— Esperem aqui — disse para os outros.
— Trata-se da caixa dos bastaixos — ouviu-se então atrás dos soldados. — Deveria estar um bastaix presente.
O padre concordou, olhando para Arnau.
— Ramon? — propôs.
O rapaz tornou a concordar e os três introduziram-se na capela. Aí, Arnau deixou sair tudo o que trazia dentro do peito. Falou de Tomás, o palafreneiro, do pai, da bolsa de Grau, da tarefa ordenada pela baronesa, da revolta, da execução, do fogo... da perseguição, do ladrão da caixa e da sua luta infrutífera com ele. Falou do seu medo de que descobrissem que aquela bolsa era de Grau ou que o detivessem por pegar fogo ao cadáver do pai.
As explicações prolongaram-se. Arnau não soube descrever o homem que lhe tinha batido; estava escuro, disse respondendo às perguntas dos dois homens, mas era grande e forte, isso sim. Por fim, o padre e o bastaix olharam um para o outro; acreditavam no rapaz, mas... como iam demonstrar a toda a gente que já murmurava fora da capela que não tinha sido ele? O sacerdote olhou para a Virgem, olhou para a caixa arrombada e saiu da capela.
— Creio que o rapaz diz a verdade — anunciou à pequena multidão que esperava no deambulatório. — Acredito que não foi ele quem roubou a caixa; mais ainda: tentou evitar que a roubassem.
Ramon saíra por detrás do padre e assentia.
— Então — perguntou o oficial —, por que razão não pode responder às minhas perguntas?
— Eu conheço os motivos dele — Ramon continuou a assentir. — E são suficientemente convincentes. Se há alguém que duvide de mim, que o diga. — Ninguém falou. — E agora, onde estão os três próceres da confraria? — Os três bastaixos chegaram à frente até onde se encontrava o padre Albert. — Cada um de vós tem uma das três chaves que abrem a caixa, não é assim? — Os próceres confirmaram. — Juram que esta caixa só foi aberta por vocês os três em simultâneo, e na presença de dez confrades, como estabelecem as ordenações? — Os próceres juraram em voz alta, no mesmo tom em que o padre os interrogava. — Juram, então, que a última anotação feita no livro corresponde à quantidade que deveria lá estar depositada? — Os três próceres juraram de novo. — E vós, oficial, jurais que essa bolsa é a que o rapaz trazia? — O oficial fez que sim. — Jurais que o seu conteúdo é o mesmo de quando a encontrastes?
— Estais a ofender um oficial do rei Afonso! —Jurais ou não jurais? — gritou o padre.
Alguns bastaixos aproximaram-se do oficial, exigindo-lhe uma resposta com o olhar. — Juro.
— Muito bem — prosseguiu o padre Albert —, agora vou buscar o livro de caixa. Se este rapaz é o ladrão, o conteúdo da bolsa deverá ser igual ou superior à última anotação efectuada; se for inferior deveremos dar-lhe crédito.
Um murmúrio de aprovação correu entre os bastaixos. A maioria deles olhava para Arnau; todos eles tinham bebido água fresca dada pelo rapaz.
Depois de entregar as chaves da capela a Ramon, com ordens para que a fechasse, o padre Albert dirigiu-se aos seus aposentos para ir buscar o livro de caixa, que segundo as ordenações dos bastaixos devia permanecer na posse de uma terceira pessoa. Pelo que se recordava, era impossível que o conteúdo da caixa batesse certo com o dinheiro que Grau dava ao aguazil da prisão para que este alimentasse os seus presos; aquele devia de ser muito superior. Seria uma prova irrefutável, pensou sorrindo.
Enquanto o padre Albert procurava o livro e regressava a Santa Maria, Ramon encarregou-se de fechar à chave as grades da capela. Observou então um reluzir no seu interior, aproximou-se e, sem lhe tocar, examinou o objecto que o provocava. Não disse nada a ninguém. Fechou as grades e dirigiu-se ao grupo de bastaixos que esperavam o padre, em volta de Arnau e dos soldados.
Ramon sussurrou algo a três deles, e juntos abandonaram a igreja sem que ninguém desse por isso.
— Segundo o livro de caixa — recitou o padre Albert, mostrando-o aos três próceres, para que comprovassem —, na caixa havia setenta e quatro dinheiros e cinco soldos. Contai quanto há na bolsa — acrescentou, dirigindo-se ao oficial.
Antes de começar sequer a abrir a bolsa, o oficial abanou a cabeça. Não podia haver ali dentro setenta e quatro dinheiros.
— Treze dinheiros! — proclamou. — Mas — gritou —, o rapaz podia ter um cúmplice que tenha levado a parte que falta.
— E porque havia esse cúmplice de deixar os treze dinheiros na posse de Arnau? — disse um bastaix.
Um rumor de aprovação acompanhou esta observação.
O oficial olhou para os bastaixos. «Por descuido», esteve quase a responder, «por pressa, por nervosismo», mas... para quê esforçar-se? Alguns deles já se tinham aproximado de Arnau e davam-lhe palmadas nas costas ou revolviam-lhe o cabelo.
— E se não foi o rapaz, quem foi? — perguntou.
— Creio que sei quem foi — ouviram responder Ramon, de lá do altar-mor.
Atrás dele, dois dos bastaixos com quem ele tinha falado arrastavam com dificuldade um homem corpulento.
— Tinha de ser esse — disse então alguém do grupo dos bastaixos.
— Era esse homem! — exclamou Arnau ao mesmo tempo.
O maiorquino sempre fora um bastaix conflituoso, até que os próceres se tinham apercebido de que tinha uma concubina, e o tinham expulsado da confraria. Nenhum bastaix podia manter relações fora do matrimónio. E também as suas mulheres não o podiam fazer, porque nesse caso, o bastaix era também afastado.
— Que diz esse miúdo? — gritou o maiorquino ao chegar ao deambulatório.
— Acusa-te de teres roubado a caixa dos bastaixos — respondeu o padre Albert.
— Mente!
O sacerdote procurou o olhar de Ramon, que aprovou com um leve movimento da cabeça.
— Eu também te acuso! — gritou, apontando para ele.
— Também mente!
— Terás oportunidade de demonstrar isso no caldeirão, no mosteiro de Sant Creus.
Fora cometido um delito numa igreja, e as constituições de Paz e Trégua estabeleciam que a inocência deveria ser demonstrada mediante a prova da água quente.
O maiorquino empalideceu. Os dois oficiais e os soldados olharam, espantados, para o padre, mas este fez-lhes sinal para que ficassem calados. A prova da água quente já não se usava, mas, muitas vezes, os clérigos recorriam à ameaça de submergir os membros do suspeito num caldeirão de água a ferver.
O padre Albert semicerrou os olhos e fitou o maiorquino.
— Se o rapaz e eu estamos a mentir, decerto aguentarás a água a ferver nos teus braços e nas tuas pernas sem confessares o teu delito.
— Estou inocente — gaguejou o maiorquino.
— Já te disse que terás oportunidade de o demonstrar — reiterou o sacerdote.
— Se estás inocente — interveio Ramon —, explica-nos o que faz o teu punhal no interior da capela.
O maiorquino virou-se para Ramon.
— É uma armadilha! — respondeu com rapidez. — Alguém o colocou aí para me incriminar. O rapaz! De certeza que foi ele!
O padre Albert voltou a abrir as grades da capela do Santíssimo e apareceu com um punhal.
— É este o teu punhal? — perguntou-lhe, aproximando--lho da cara.
— Não... não.
Os próceres da confraria e vários bastaixos aproximaram--se do padre e pediram-lhe o punhal, para o examinar.
— É o dele, sim — disse um dos próceres, empunhando-o.
Seis anos antes, e devido às muitas altercações que se davam no porto, o rei proibira os bastaixos e pessoas não cativas que trabalhassem no porto de usarem machetes ou armas semelhantes. A única arma permitida era um punhal rombo. O maiorquino recusara-se a cumprir a ordem real, alardeando o seu magnífico punhal aguçado, que mostrara mais de uma vez, para justificar a sua desobediência. Só perante a ameaça de expulsão da confraria acedera a levá-lo a casa do ferreiro, para que o limassem.
— Mentiroso! — acusou um dos bastaixos.
— Ladrão! — gritou outro.
— Alguém o deve ter roubado, para me incriminar! — protestou enquanto se debatia com os dois homens que o agarravam.
Então apareceu o terceiro dos bastaixos que tinham saído com Ramon em busca do maiorquino e que tinha ido revistar a casa dele, para procurar o dinheiro roubado.
— Aqui está — gritou, levantando uma bolsa e entregando-a ao cura, que por sua vez a deu ao oficial.
— Setenta e quatro dinheiros e cinco soldos — recitou o oficial depois de contar o conteúdo da bolsa.
A medida que o oficial contava, os bastaixos iam cerrando o círculo em volta do maiorquino. Nenhum deles podia ter tanto dinheiro! Quando terminou a contagem, atiraram-se ao ladrão. Houve insultos, patadas, murros, cuspidelas. Os soldados mantiveram-se à margem e o oficial encolheu os ombros, olhando para o padre Albert.
— Estamos na casa de Deus! — gritou então o sacerdote, tentando afastar os bastaixos. — Estamos na casa de Deus! — continuou a gritar até conseguir chegar perto do maiorquíno, feito um trapo enrolado no chão. — Este homem é um ladrão, certamente, e além disso um cobarde, mas merece um julgamento. Não podem agir como delinquentes. Levem-no ao bispo — ordenou ao oficial.
Quando o padre se dirigiu ao oficial, alguém voltou a pontapear o maiorquino. Muitos lhe cuspiam em cima enquanto os soldados o levantavam e o levavam.
Quando os soldados abandonaram Santa Maria, levando o maiorquino, os bastaixos aproximaram-se de Arnau, sorrindo-lhe e pedindo-lhe desculpa. Depois, começaram a retirar-se para as suas casas. Por fim, em frente à capela do Santíssimo, de novo aberta, só restavam o padre Albert, Arnau, os três próceres da confraria e as dez testemunhas que as ordenações exigiam quando se tratava da caixa dos bastaixos.
O padre introduziu o dinheiro na caixa e anotou no livro o acontecimento que ocorrera durante a noite. Já amanhecera e já tinham ido avisar um serralheiro para que reparasse as três fechaduras; todos tinham de esperar até se voltar a fechar a caixa.
O padre Albert apoiou um braço no ombro de Arnau. Só então se recordou dele sentado debaixo do cadáver de Bernat, pendendo de uma corda. Afastou da sua mente o fogo. Era apenas uma criança! Olhou para a Virgem. «Teria apodrecido às portas da cidade», disse-lhe em silêncio. «Por isso, que mal teve? É apenas um rapazito que agora não tem nada; nem pai, nem trabalho com que se alimentar...»
— Creio — disse de repente — que deveriam admitir Arnau Estanyol na vossa confraria.
Ramon sorriu. Também ele, uma vez regressada a tranquilidade, estivera a pensar na confissão de Arnau. Os outros, incluindo Arnau, olharam para o padre com surpresa.
— É apenas um rapaz — disse um dos próceres.
— É fraquito. Como é que poderá carregar fardos ou pedras às costas? — perguntou outro.
— É muito novo — afirmou um terceiro. Arnau olhava para todos com os olhos muito abertos.
— Tudo o que dizem é certo — respondeu o padre —, mas nem o tamanho dele, nem a sua força, nem a sua juventude o impediram de defender o vosso dinheiro. Se não fosse ele, a caixa estaria vazia.
Os bastaixos ficaram por um momento a examinar Arnau.
— Eu creio que poderíamos experimentar — disse por fim Ramon. — E se não servir...
Alguém do grupo aprovou.
— De acordo — disse por fim um dos próceres da confraria olhando para os seus dois companheiros, nenhum dos quais se opôs —, admiti-lo-emos à experiência. Se durante os próximos três meses demonstrar a sua valia, será confirmado como bastaix. Receberá em proporção do seu trabalho. Toma — acrescentou entregando-lhe o punhal do maiorquino, que ainda tinha em seu poder —, este é o teu punhal de bastaix. Padre, anote isto no livro, para que o pequeno não tenha problemas de nenhum tipo.
Arnau sentiu o apertão da mão do padre no seu ombro. Sem saber o que dizer, sorrindo, mostrou o seu agradecimento aos bastaixos. Ele, um bastaix! Se o pai soubesse!
— Quem era? Conhece-lo, rapaz?
Ainda ecoavam na praça as correrias e os gritos dos soldados que perseguiam Arnau, mas Joan não os escutava: o crepitar do cadáver de Bernat ressoava nos seus ouvidos.
O oficial da noite que ficara junto ao cadafalso sacudiu Joan e repetiu a pergunta:
— Conhece-lo?
Mas Joan não tirou os olhos da tocha em que se tornara aquele que se prontificara a ser o seu pai.
O oficial voltou a sacudi-lo até que conseguiu que o rapazinho se virasse para ele, com o olhar perdido e os dentes a bater.
— Quem era? Porque queimou o teu pai?
Joan nem sequer ouviu a pergunta. Começou a tremer.
— Ele não pode falar — interveio a mulher que instara Arnau a fugir, a mesma que afastara Joan, paralisado, das chamas, a mesma que reconhecera em Arnau o rapaz que tinha velado o enforcado durante toda a tarde. Se eu me atrevesse a fazer o mesmo, pensou, o corpo do meu marido não iria apodrecer nas muralhas, devorado pelos pássaros. Sim, aquele rapaz tinha feito algo que qualquer um dos que ali estavam teria gostado de fazer, e o oficial... Era o oficial da noite, e por isso não podia reconhecer Arnau; para ele, o filho era o outro, o que estava debaixo do pai. A mulher abraçou Joan e acarinhou-o.
— Tenho de saber quem pegou o fogo — acrescentou o oficial.
Os dois juntaram-se às pessoas que olhavam para o cadáver de Bernat.
— Que quer que faça? — murmurou a mulher notando as convulsões de Joan. — Esta criança está a morrer de fome e de medo.
O soldado fechou os olhos; depois, fez que sim com a cabeça, lentamente. Fome! Ele próprio perdera um filho de tenra idade: a criança começara a perder peso, até que umas simples febres a tinham levado. A sua mulher abraçava-o da mesma forma que aquela mulher fazia com o rapazito. E ele via-os, ela a chorar, e o pequeno procurando conforto no peito dela, tal como...
— Leva-o para casa — disse o oficial à mulher. «Fome», murmurou, virando-se para o cadáver em chamas de Bernat. «Malditos Genoveses!»
Amanhecera em Barcelona.
— Joan! — gritou Arnau assim que entrou em casa. Pere e Mariona, no rés-do-chão, sentados junto do fogo, fizeram-lhe sinal para que ficasse em silêncio.
— Está a dormir — disse Mariona.
A mulher levara-o a casa e contara-lhes o sucedido. Os dois idosos trataram dele até que o rapaz conseguiu conciliar o sono. Depois, sentaram-se junto do fogo.
— Que vai ser deles? — perguntara Mariona ao marido. — Sem Bernat, o rapaz não se aguentará nas cavalariças.
E nós não podemos mantê-los, pensou Pere. Não se podiam permitir dar-lhes casa sem cobrar nada, nem dar-lhes de comer. Pere estranhou o brilho que havia nos olhos de Arnau. Tinham acabado de executar-lhe o pai! Tinha acabado de lhe pegar fogo; a mulher contara-lhes isso. A que se deveria então aquele brilho nos olhos?
— Sou um bastaix! — anunciou Arnau dirigindo-se aos escassos restos do jantar da noite anterior, frios na panela.
Os dois idosos entreolharam-se e depois olharam para o rapaz, que comia directamente do tacho, de costas para eles. Estava famélico. A falta de cereais tinha-o afectado, como a toda a Barcelona. Como iria aquela criança magra carregar alguma coisa?
Mariona negou com a cabeça, olhando para o marido.
— Deus dirá — respondeu Pere.
— Que dizem? — perguntou Arnau, virando-se, com a boca cheia.
— Nada, filho, nada.
— Tenho de ir — disse Arnau, pegando num pedaço de pão seco e dando-lhe uma dentada. O desejo de perguntar a Joan o que se tinha passado na praça chocava com um novo entusiasmo: juntar-se aos novos companheiros. Decidiu-se: — Contem ao Joan quando ele acordar.
Em Abril começava a época de navegação, interrompida desde Outubro. Os dias tornavam-se mais longos, os grandes navios começavam a chegar ao porto ou a sair dele, e ninguém, nem patrões, nem armadores, nem pilotos desejavam ficar mais tempo do que o estritamente necessário no perigoso porto de Barcelona.
Da praia, antes de se juntar ao grupo de bastaixos que lá esperava, Arnau contemplou o mar. Sempre o tivera ali, mas quando saía com o pai virava-lhe as costas ao fim de poucos passos. No porto, para além de uma infinidade de pequenas embarcações, estavam ancoradas duas grandes naus que acabavam de chegar e uma esquadra formada por seis imensas galeras de guerra, com duzentos e sessenta botes e vinte e seis filas de remadores cada uma.
Arnau ouvira falar daquela esquadra; armara-a a própria cidade para ajudar o rei na guerra contra Génova, e estava sob o comando do quarto conselheiro de Barcelona, Galcerà Marquet. Apenas a vitória sobre os Genoveses poderia voltar a abrir as vias de comércio e de sustento da capital do principado; por isso, Barcelona fora generosa com o rei Afonso.
— Não te vais deixar ficar para trás, não é, rapaz? — disse alguém atrás dele. Arnau voltou-se e encontrou um dos próceres da confraria. — Vamos — instou-o este, sem parar de andar para o local de reunião dos outros confrades.
Arnau seguiu-o. Quando chegou ao grupo, os bastaixos receberam-no com sorrisos.
— Isto não é como dar água, Arnau — disse-lhe um dos homens, provocando os risos dos restantes.
— Toma — ofereceu-lhe Ramon. — É a mais pequena que encontrámos na confraria.
Arnau pegou com cuidado na capçana.
— Não se estraga! — riu-se um dos bastaixos ao ver o cuidado com que Arnau a segurava.
Claro que não!, pensou Arnau, sorrindo para o bastaix. Como havia de se estragar? Pôs a protecção na nuca e na testa a correia de couro que a prendia, e tornou a sorrir.
Ramon comprovou que a protecção estava no sítio devido.
— Muito bem — disse, dando-lhe uma palmada. — Só te falta o calo.
— Que calo? — começou a perguntar Arnau, mas a chegada dos próceres desviou as atenções de todos os confrades.
— Não se põem de acordo — explicou um deles. Todos os bastaixos, incluindo Arnau, olharam um pouco mais para além da praia, onde várias pessoas vestidas luxuosamente discutiam. — Galcerà Marquet quer que se carreguem primeiro as galeras; os comerciantes, em contrapartida, querem que se descarreguem os barcos que acabam de arribar. Há que esperar — anunciou.
Os homens murmuraram e a maioria deles sentou-se na areia. Arnau sentou-se junto de Ramon, com a capçana ainda colada à testa.
— Isso não se estraga, Arnau — disse-lhe Ramon, apontando para a capçana. — Mas não deixes que a areia se meta aí: magoar-te-ia quando começasses a trazer carga.
O rapaz tirou a capçana e guardou-a cuidadosamente, sem que tocasse na areia.
— Qual é o problema? — perguntou a Ramon. — Pode-se carregar ou descarregar primeiro uns e depois os outros.
— Ninguém quer estar no porto de Barcelona mais tempo do que o necessário. Se se levantasse um temporal, os navios ficariam em perigo, sem qualquer defesa.
Arnau percorreu o porto com o olhar, de Puig de les Falsies até Santa Clara; depois, fixou o olhar no grupo que continuava a discutir.
— Quem manda é o conselheiro da cidade, não? Ramon riu-se e fez-lhe uma festa na cabeça.
— Em Barcelona, quem manda são os comerciantes. Foram eles que pagaram as galeras reais.
Por fim, a disputa terminou com um pacto: os bastaixos iriam recolher os apetrechos das galeras à cidade e, entretanto, os barqueiros começariam a descarregar os navios mercantes. Os bastaixos teriam de estar de volta antes de os barqueiros terem chegado à praia com as mercadorias, que ficariam resguardadas num local apropriado, em vez de repartidas pelos armazéns dos seus donos. Os barqueiros levariam os apetrechos às galeras enquanto os bastaixos iriam buscar mais, e destas dirigir-se-iam depois aos navios mercantes para recolher mais mercadorias. E assim uma e outra vez, até que galeras e navios mercantes estivessem carregadas, umas, e descarregados, outros. Depois então distribuiriam as mercadorias pelos armazéns correspondentes e, se o tempo o permitisse, voltariam a carregar os navios mercantes.
Quando os próceres se puseram de acordo, todos os operários do porto se puseram em movimento. Os bastaixos, em grupos, entraram por Barcelona dentro, em direcção aos armazéns municipais, onde se encontravam os apetrechos dos tripulantes das galeras, incluindo os dos numerosos remadores de cada uma, e os barqueiros dirigiram-se aos navios mercantes que acabavam de chegar ao porto para descarregarem as mercadorias, as quais, por falta de cais, não se podiam descarregar senão por meio daquelas confrarias dedicadas à organização portuária.
A tripulação de cada barcaça, bote, canoa ou barca era composta por três ou quatro homens: o barqueiro e, dependendo da confraria, escravos ou homens livres assalariados. Os barqueiros agrupados na confraria de Sant Pere, a mais antiga e a mais rica da cidade, utilizavam escravos, não mais de dois por cada barca, conforme estabeleciam as ordenações; os da confraria jovem de Santa Maria, sem tantos recursos económicos, utilizavam homens livres, a soldo. Em qualquer caso, a carga e a descarga das mercadorias, assim que as barcas acostavam aos navios mercantes, eram operações lentas e delicadas, mesmo com mar tranquilo, já que os barqueiros eram responsáveis perante o proprietário por qualquer dano ou avaria que as mercadorias sofressem, e podiam até ser condenados a pena de prisão, caso não pudessem fazer frente às indemnizações devidas aos mercadores.
Quando o temporal assolava o porto de Barcelona, o assunto complicava-se, mas não apenas para os barqueiros, também para todos os que intervinham no tráfego marítimo. Em primeiro lugar, porque os barqueiros podiam negar-se a descarregar a mercadoria — coisa que não lhes era permitida quando havia bonança —, a não ser que acordassem voluntariamente com o proprietário num preço especial. Mas os efeitos mais importantes do temporal recaíam sobre os donos, pilotos e mesmo marinheiros dos barcos. Sob a ameaça de penas severas, ninguém podia abandonar o navio até a mercadoria ter sido totalmente descarregada, e se o dono ou o seu escrivão, os únicos que podiam desembarcar, se encontrassem fora da embarcação, tinham obrigação de a ela regressar.
Assim, pois, enquanto os barqueiros começavam a descarregar o primeiro navio, os bastaixos, divididos em grupos pelos próceres, começaram a trazer para a praia, vindos dos diversos armazéns da cidade, os apetrechos das galeras. Arnau foi incluído no grupo de Ramon, a quem o prócer lançou um olhar significativo quando lhe entregou o rapaz.
De onde se encontravam, sem abandonar a linha da praia, dirigiram-se ao pórtico do Forment, o armazém municipal de cereais, fortemente protegido pelos soldados do rei desde a revolta popular. Arnau tentou esconder-se atrás de Ramon ao chegar à porta, mas os soldados deram conta da presença de um rapazinho por entre aqueles homens fortes.
— Que vai este carregar? — perguntou um deles, rindo-se e apontando para Arnau.
Ao ver que todos os soldados olhavam para ele, Arnau sentiu o estômago revolver-se e tentou esconder-se ainda mais, mas Ramon agarrou-o por um ombro, pôs-lhe a capçana na testa e respondeu ao soldado no mesmo tom que este tinha usado:
— Já tem idade para trabalhar! — exclamou. — Tem catorze anos e tem de ajudar a família.
Vários soldados concordaram e abriram-lhes caminho. Arnau avançou com eles, com a cabeça inclinada e a tira de couro colada à testa. Quando entrou no pórtico do Forment, o odor do cereal armazenado atingiu-o. Os raios de luz que passavam pelas janelas iluminavam os grãos de poeira em suspensão, uma poeira que não tardou a fazer tossir o rapaz e os outros bastaixos.
— Antes da guerra com Génova — comentou Ramon, estendendo um braço como se quisesse abarcar todo o perímetro do armazém —, estava cheio de cereais, mas agora...
Ali estavam as grandes talhas de Grau, observou Arnau, colocadas lado a lado.
— Vamos! — gritou um dos próceres.
Com um pergaminho na mão, o encarregado do armazém começou a apontar para as grandes talhas. Como vamos nós transportar essas talhas cheias?, interrogou-se Arnau. Era impossível que um homem transportasse tal peso. Os bastaixos agruparam-se dois a dois e, depois de se porem ao lado das talhas e de as atarem com cordas, cruzavam sobre os ombros um pau grosso, que antes tinham passado pelas cordas e, dessa forma, juntos, começavam a desfilar em direcção à praia. O pó em suspensão revolveu-se e multiplicou-se. Arnau voltou a tossir e, quando chegou a sua vez, ouviu a voz de Ramon:
— Dá ao rapaz uma das pequenas, das de sal. O encarregado olhou para Arnau e fez que não com a cabeça.
— O sal é caro, bastaix — alegou, dirigindo-se a Ramon. — Se deixa cair a talha...
— Dá-lhe uma de sal!
As talhas de cereais mediam cerca de um metro de altura. A de Arnau, no entanto, não devia passar de meio metro, mas quando, com a ajuda de Ramon, a carregou às costas, o rapaz notou que os joelhos lhe tremiam.
Por trás dele, Ramon agarrou-o pelos ombros.
— Agora é que vais ter de mostrar o que vales — sussurrou-lhe ao ouvido.
Arnau começou a andar, encurvado, com as mãos fortemente agarradas às asas da talha, empurrando com a cabeça para a frente e sentindo a tira de couro a enterrar-se-lhe na testa.
Ramon viu-o partir, cambaleando, mexendo um pé depois do outro com cuidado, lentamente. O encarregado tornou a fazer que não com a cabeça e os soldados mantiveram-se em silêncio quando passou por entre eles.
— Por ti, pai! — murmurou entredentes quando sentiu o calor do sol no seu rosto. O peso parecia partido em dois. — Já não sou uma criança, pai. Vês?
Ramon e outro dos bastaixos, com uma talha de cereal pendurada no pau, seguiam-no, ambos com os olhos fixos nos pés do rapaz; podiam vê-los a tropeçar. Arnau cambaleou. Ramon fechou os olhos. Estarás ainda aí pendurado?, pensou nesse mesmo instante Arnau, com a imagem do cadáver de Bernat bailando-lhe nos olhos. Ninguém fará troça de ti. Nem sequer a bruxa e os seus enteados. Ergueu-se sob o peso e começou a andar de novo.
Chegou à praia; Ramon sorria, atrás dele. Todos se calaram. Os barqueiros acorreram a agarrar a talha do sal antes que o rapaz chegasse à rebentação. Arnau demorou alguns segundos a conseguir pôr-se direito. «Viste-me, pai?», murmurou, olhando para o céu.
Ramon deu-lhe uma palmada nas costas assim que se viu livre do cereal.
— Outra? — perguntou o rapaz, com seriedade.
Mais duas. Quando Arnau descarregou a terceira talha na praia, um dos próceres, Josep, aproximou-se dele.
— Já chega por hoje, rapaz — disse-lhe.
— Posso continuar — assegurou-lhe Arnau, tentando esconder a dor que sentia nas costas.
— Não. Não aguentas, e eu não posso permitir que andes a correr por Barcelona a sangrar como se fosses um animal ferido — disse-lhe paternalmente, apontando para uns fios de sangue que lhe corriam pelas costas. Arnau levou uma mão às costas e depois olhou. — Não somos escravos; somos homens livres, trabalhadores livres, e as pessoas devem ver-nos como tal. Não te preocupes — insistiu ao ver a expressão decepcionada de Arnau —, a todos nós nos aconteceu o mesmo, um dia, e todos tivemos alguém que nos impediu de continuar. A chaga que se te formou na testa e nas costas tem de fazer calo. Será uma questão de uns dias e podes ter a certeza de que a partir daí não te deixarei descansar mais do que a qualquer outro dos teus companheiros — Josep entregou-lhe um pequeno frasco. — Limpa bem a ferida, e que te apliquem este unguento para a fazer secar. A tensão desapareceu perante as palavras do prócer. Nesse dia não teria de carregar mais. No entanto, apareceram a dor, o cansaço, os efeitos de uma noite sem dormir; Arnau sentiu-se desfalecer. Murmurou umas palavras de despedida e arrastou-se para casa. Joan esperava-o à porta. Há quanto tempo estaria ali?
— Sabes que agora sou um bastaix? — perguntou-lhe Arnau assim que chegou perto dele.
Joan assentiu. Sabia. Tinha-o observado durante as duas últimas viagens, cerrando os dentes e as mãos a cada trémulo passo que o irmão dava para o seu destino, rezando para que não caísse, chorando ao ver o rosto congestionado dele. Joan limpou as lágrimas e abriu os braços para receber o irmão. Arnau deixou-se cair neles.
— Tens de me aplicar este unguento nas costas — conseguiu dizer enquanto Joan o acompanhava pela escada acima.
Não foi capaz de dizer mais nada. Daí a uns segundos, estendido e com os braços abertos, caiu num sono reparador. Procurando não o acordar, Joan limpou-lhe a chaga e as costas com água quente que Mariona lhe trouxera; a idosa conhecia bem o ofício. Depois, aplicou-lhe o unguento, de odor forte e acre, e este deve ter começado imediatamente a fazer efeito, porque Arnau remexeu-se, inquieto, mas não chegou a acordar.
Nessa noite, foi Joan quem não conseguiu dormir. Sentado no chão junto do irmão, escutava-lhe a respiração; deixava que as pálpebras se fechassem levemente quando esta era tranquila, mas reabria-as sobressaltado assim que Arnau se mexia. E agora, que será de nós?, permitia-se pensar de vez em quando. Falara com Pere e com a mulher; o dinheiro que Arnau poderia ganhar como bastaix não seria suficiente para os dois. Que seria dele?
— Para a escola! — ordenou-lhe Arnau na manhã seguinte, quando o encontrou a ajudar Mariona.
Tinha pensado tudo na véspera: devia continuar tudo na mesma, como o seu pai teria desejado.
Inclinada sobre o fogo, a idosa virou-se para o marido. Joan quis responder a Arnau, mas Pere adiantouse-lhe:
— Obedece ao teu irmão mais velho — mandou.
O olhar de Mariona transformou-se num sorriso. O ancião, no entanto, devolveu-lhe um olhar sério. Como iam viver os quatro?
Mas Mariona continuou a sorrir, até que Pere abanou a cabeça como se quisesse despejá-la de todas aquelas incógnitas sobre as quais tinham falado tanto na noite anterior.
Joan saiu a correr de casa e, assim que o pequeno desapareceu, Arnau tentou estender-se mais uma vez. Não conseguia mexer nenhum músculo; sentia-os completamente duros e umas picadas terríveis percorriam-no da ponta dos pés até ao pescoço. Pouco a pouco, no entanto, o seu corpo jovem começou a responder e, depois de um escasso desjejum, saiu para o sol, sorrindo para a praia e para o mar, e para as seis galeras que ainda permaneciam ancoradas no porto. Ramon e Josep obrigaram-no a mostrar-lhes as costas.
— Uma viagem — comentou o prócer para Ramon antes de se afastar do grupo —, depois, para a capela. Arnau virou o rosto para Ramon, enquanto descia a camisa.
— Já ouviste — disse-lhe Ramon.
— Toma atenção, Arnau, Josep sabe o que faz.
E sabia, de facto. Assim que carregou a primeira talha, Arnau começou a sangrar.
— Se já sangrou logo à primeira vez — alegou Arnau quando Ramon, atrás dele, descarregou a sua mercadoria na praia —, que mal faz mais algumas viagens?
— O calo, Arnau, o calo. Não se trata de dares cabo das costas, mas sim de que se forme um calo. Agora, vai limpar-te, põe o unguento e vai à capela do Santíssimo... — Arnau tentou protestar. — É a nossa capela, a tua capela, Arnau; é preciso tratar dela.
— Filho — acrescentou o bastaix que carregava junto com Ramon —, essa capela significa muito para todos nós. Não somos mais do que simples carregadores do porto, mas la Ribera concedeu-nos aquilo que nenhum nobre tem, aquilo que nenhuma das confrarias mais ricas têm: a capela do Santíssimo e as chaves da igreja da Senhora de la Mar. Percebes? — Arnau concordou, pensativo. — Só nós, bastaixos, podemos cuidar desta capela. Não há maior honra para nenhum de nós que isso. Terás muito tempo para carregar e descarregar; não te preocupes com isso.
Mariona tratou-o e Arnau dirigiu-se à capela de Santa Maria. Aí, procurou o padre Albert, para que este lhe entregasse as chaves da capela, mas o sacerdote obrigou-o a acompanhá-lo até ao cemitério situado em frente ao portão de las Moreres.
— Esta manhã enterrei o teu pai — disse-lhe, apontando para o cemitério. Arnau interrogou-o com o olhar. — Não te quis avisar, não fosse aparecer algum soldado. O corregedor decidiu que não queria que as pessoas vissem o cadáver queimado do teu pai, nem na Praça do Blat nem nas portas da cidade; teve medo de que o exemplo pegasse. Não me foi difícil conseguir que me permitissem enterrá-lo.
Ambos permaneceram em silêncio em frente ao cemitério durante uns momentos.
— Queres que te deixe sozinho? — perguntou por fim o sacerdote.
— Tenho de limpar a capela dos bastaixos — respondeu Arnau, enxugando as lágrimas.
Durante alguns dias, Arnau fez apenas uma viagem, e depois regressava à capela. As galeras já tinham partido e a mercadoria era a habitual do tráfego comercial: tecidos, coral, especiarias, cobre, cera... Um dia, as costas de Arnau não sangraram. Josep voltou a inspeccionar-lhas e Arnau continuou a carregar grandes fardos de tecidos, sorrindo para todos os bastaixos com quem se cruzava.
Entretanto, recebeu o seu primeiro dinheiro como bastaix. Pouco mais do que recebia quando trabalhava para Grau! Entregou tudo a Pere, juntamente com algumas das moedas que restavam na bolsa de Bernat. Não chega, pensou o rapaz, ao contar as moedas. Bernat pagava-lhe bastante mais. Tornou a abrir a bolsa. Não duraria muito, considerou, ao ver o conteúdo da magra bolsa de Bernat. Com a mão lá metida dentro, olhou para Pere. O velho cerrou os lábios.
— Quando puder carregar mais — disse-lhe Arnau —, ganharei mais dinheiro.
— Isso vai demorar, Arnau, bem sabes, e por essa altura já a bolsa do teu pai estará vazia. Sabes que esta casa não é minha... Não, não é — esclareceu perante a expressão de surpresa do rapaz. — A maioria das casas da cidade pertence à Igreja: são do bispo ou de alguma ordem religiosa; nós só as temos em enfiteuse, e por isso temos de pagar um cânone anual. Bem sabes que pouco posso trabalhar, e por isso apenas conto com o aluguer do quarto para fazer face ao pagamento. Se tu não conseguires chegar a esse valor... Percebes?
— De que serve então ser livre se os cidadãos estão amarrados às suas casas como os camponeses às suas terras? — perguntou Arnau, abanando a cabeça.
— Não estamos amarrados a elas — respondeu Pere.
— Mas ouvi dizer que todas as casas passam de pais para filhos; até as vendem! Como é possível isso, se não são deles e também não são servos delas?
— É fácil de perceber, Arnau. A Igreja é muito rica em terras e propriedades, mas as suas leis proíbem a venda de bens eclesiásticos — Arnau tentou interromper, mas Pere pediu-lhe silêncio com a mão. — O problema é que os bispos, os abades e os outros cargos importantes da Igreja são nomeados pelo rei entre os seus amigos. O Papa nunca se recusa — acrescentou —, e todos esses amigos do rei esperam obter boas rendas dos bens que lhes correspondem, mas como não podem vendê-los, inventaram a enfiteuse, e desta forma contornam a proibição de vender.
— Como se fossem inquilinos — disse Arnau.
— Não. Porque inquilinos podem-se expulsar a qualquer momento; mas o enfiteuta nunca se pode mandar embora... desde que pague o seu cânone.
— E tu poderias vender a tua casa?
— Sim. Nesse caso, chama-se subenfiteuse. O bispo cobraria uma parte da venda, o laudémio, e o novo subenfiteuta poderia fazer o mesmo que eu. Só há uma proibição. — Arnau interrogou-o com o olhar. — Não se pode ceder a alguém de condição social superior. Nunca a poderia ceder a um nobre... Se bem que também não acredite que encontrasse um nobre que quisesse esta casa, não é verdade? — acrescentou, sorrindo. Arnau não o acompanhou no gracejo e Pere apagou o sorriso do rosto. Os dois ficaram por um momento em silêncio. — O que se passa — interveio de novo o ancião — é que tenho de pagar o cânone, e com o que eu ganho e com o que tu pagas...
Que vamos fazer agora?, pensou Arnau. Com o mísero dinheiro que ganhava, não poderiam fazer face a nada, nem sequer à comida para duas pessoas; mas também Pere não merecia carregar com eles. Sempre fora bom para eles.
— Não te preocupes — disse-lhe, titubeante —, partiremos, para que tu possas...
— Mariona e eu pensámos — interrompeu Pere — que, se estiverem dispostos a isso, Joan e tu poderiam dormir aqui, perto da lareira — os olhos de Arnau arregalaram-se. — Assim... assim poderíamos arrendar o quarto a alguma família e pagar o cânone. Só teriam de arranjar dois colchões. Que te parece?
O rosto de Arnau iluminou-se. Os lábios tremeram-lhe. — Isso quer dizer que sim? — ajudou-o Pere. Arnau cerrou os lábios e fez que sim energicamente com a cabeça.
- Vamos! Pela Virgem! — gritou um dos próceres da confraria.
Os pêlos das pernas e dos braços de Arnau eriçaram-se. Nesse dia não havia barcos para carregar ou descarregar, e no porto estavam apenas as pequenas embarcações de pesca. Tinham-se reunido na praia, como sempre, enquanto assomava um sol que prometia um dia de Primavera.
Desde que se juntara aos bastaixos, no início da época de navegação, não tinham tido oportunidade de dedicar um único dia a trabalhar para Santa Maria.
— Vamos! Pela Virgem! — voltou a ouvir-se por entre o grupo de bastaixos.
Arnau olhou para os seus companheiros: os rostos doridos transformavam-se em sorriso. Alguns espreguiçavam-se, movendo os braços para trás e para diante, preparando as costas. Arnau recordou-se de quando lhes dava água, de quando os via passar à sua frente, encurvados, cerrando os dentes, carregados com aquelas pedras enormes. Seria ele capaz? O temor retesou-lhe os músculos; quis imitar os bastaixos e começou a descontrair os músculos, movendo os braços para trás e para a frente.
— É a tua primeira vez — felicitou-o Ramon. Arnau não disse nada e deixou cair os braços. O jovem bastaix baixou os olhos. — Não te preocupes, rapaz — acrescentou, pondo um braço sobre os ombros dele e instando-o a seguir o grupo, que já se pusera em marcha. — Pensa que quando carregas pedras para a Virgem, parte do peso é ela que o leva. Arnau levantou os olhos para Ramon.
— É verdade — insistiu o bastaix, sorrindo —, e hoje vais ver que é.
Saíram de Santa Clara, no extremo oriental, para percorrerem toda a cidade, atravessando as muralhas, e subiram até à pedreira real de La Roca, em Montjuic. Arnau caminhava cm silêncio; de vez em quando, sentia-se observado por alguns deles. Deixaram para trás o bairro de la Ribera, a loja e o pórtico do Forment. Quando passaram diante da fonte do Angel, Arnau olhou para as mulheres que esperavam vez para encherem os seus cântaros; muitas delas tinham deixado que ele e Joan passassem à frente, quando apareciam com a sua bexiga para encher. As pessoas saudavam-nos. Algumas crianças juntaram-se ao grupo, correndo e saltando, cochichando e apontando para Arnau com respeito. Deixaram para trás os pórticos do estaleiro e chegaram ao convento de Framenors, no limite ocidental da cidade, onde acabavam as muralhas de Barcelona; depois deles, os novos estaleiros da cidade condal, cujas paredes começavam a erguer-se, e depois as hortas — Sant Nicolau, Sant Bertran e Sant Pau dei Camp —, onde começava o caminho de subida para a pedreira.
Mas antes de aí chegarem, os bastaixos tinham de atravessar o Cagalell. O cheiro dos despejos da cidade chegava-lhes muito antes de o verem.
— Estão a desaguá-lo — afirmou alguém, perante aquele fedor. A maioria dos homens concordou.
— Não cheiraria tanto se não estivessem a desaguá-lo — acrescentou outro.
O Cagalell era uma zona estanque que se formava na desembocadura da rambla, junto às muralhas, e onde se acumulavam os despejos e as águas pútridas da cidade. Devido aos acidentes do terreno, nunca desaguava completamente na praia, e as águas ficavam ali estancadas até que um funcionário municipal escavasse uma saída e empurrasse os despejos para o mar. Era nessa altura que o Cagalell cheirava pior.
Contornaram a fossa, para passarem pelo local onde podiam atravessar de um salto e continuaram a atravessar os campos até ao sopé de Montjuíc.
— Como é que se atravessa depois, no regresso? — perguntou Arnau, apontando para a corrente.
Ramon abanou a cabeça.
— Ainda não conheci ninguém capaz de saltar com uma pedra às costas — respondeu-lhe.
Enquanto subia para a pedreira real, Arnau voltou o olhar para a cidade. Ficava longe, muito longe. Como iria aguentar toda aquela caminhada com uma pedra às costas? Sentiu as pernas a fraquejarem e correu para alcançar o grupo, que continuava a conversar e a rir.
A pedreira real de La Roca abriu-se à frente deles depois de passarem uma curva. Arnau deixou escapar uma exclamação de assombro. Era como a Praça do Blat, ou qualquer outro mercado, mas sem as mulheres! Num grande terreiro, os funcionários do rei negociavam com as pessoas que ali iam em busca de pedra. Carroças e carros de mulas acumulavam-se de um dos lados do terreiro, onde as paredes da montanha ainda não tinham começado a ser exploradas; o resto aparecia cortado a pique, com a pedra refulgente. Uma infinidade de canteiros soltava perigosamente grandes blocos de pedra; depois, reduzia o seu tamanho no terreiro.
Os bastaixos foram acolhidos com carinho por todos os que esperavam por pedras e, enquanto os próceres se dirigiam aos funcionários, os restantes misturaram-se com as pessoas; houve abraços, apertos de mãos, gracejos e risos, e bilhas de água ou de vinho que se erguiam acima das cabeças.
Arnau não podia deixar de observar o trabalho dos canteiros ou dos peões, que carregavam carroças e mulas, sempre seguidos por algum funcionário, que tomava nota. Como em todos os mercados, as pessoas discutiam ou aguardavam impacientes pela sua vez.
— Não esperavas ver isto, não é?
Arnau virou-se a tempo de ver Ramon devolver uma bilha, e fez que não com a cabeça.
— Para que é tanta pedra?
— Ui! — começou Ramon a recitar. — Para a catedral, para Santa Maria dei Pi, para Santa Anna, para o mosteiro de Pedralbes, para os estaleiros reais, para Santa Clara, para as muralhas; está tudo a ser construído e modificado, já para não falar das casas novas dos nobres e dos ricos. Já ninguém quer madeira ou chão de adobe. Pedra e só pedra.
— E toda a pedra é o rei que a cede? Ramon soltou uma gargalhada.
— Só a de Santa Maria de la Mar; essa, sim, cede-a gratuitamente... E suponho que a do mosteiro de Pedralbes, que está a ser construído por ordem da rainha. Para os restantes, cobra um bom dinheiro.
— E a dos estaleiros reais? Se são reais... Ramon voltou a sorrir.
— São reais, mas não é o rei que a paga.
— É a cidade?
— Também não.
— Os mercadores?
— Também não.
— Então?
— Os estaleiros reais estão a ser pagos pelos...
— Pelos pecadores — tirou-lhe a palavra o homem que lhe tinha dado a bilha, que era um arrieiro da catedral. Ra-mon e ele riram perante a cara de espanto de Arnau.
— Os pecadores?
— Sim — continuou Ramon —, os novos estaleiros pagam-se com todo o dinheiro dos mercadores pecadores. Escuta, é muito simples: desde que, depois das Cruzadas... Sabes o que foram as Cruzadas? — Arnau fez que sim; não havia de saber o que tinham sido as Cruzadas? — Pois bem, depois de se ter perdido definitivamente a Cidade Santa, a Igreja proibiu o comércio com o sultão do Egipto, mas é aí que os nossos comerciantes obtêm as melhores mercadorias, e nenhum deles está disposto a deixar de comerciar com o sultão. Por isso, antes de o fazerem, vão aos consulados do mar e pagam uma multa pelo pecado que vão cometer. Então, são absolvidos por adiantado e já não pecam. O rei Afonso ordenou que todo esse dinheiro servisse para construir os novos estaleiros de Barcelona.
Arnau ia para intervir, mas Ramon interrompeu-o com a mão. Os próceres chamavam-nos e fez sinal para que o seguisse.
— Passamos à frente deles? — perguntou Arnau, apontando para os arrieiros que iam ficando para trás.
— Claro — respondeu Ramon sem parar de andar —, nós não precisamos de tantos controlos como eles; a pedra é gratuita e contá-la é muito fácil: um bastaix, uma pedra.
«Um bastaix, uma pedra», repetiu para consigo Arnau, no momento em que o primeiro bastaix e a primeira pedra passaram ao seu lado. Tinham chegado ao local onde os canteiros reduziam os grandes blocos. Olhou para o rosto do homem, contraído, tenso. Arnau sorriu, mas o seu companheiro de confraria não lhe correspondeu. Tinham acabado as brincadeiras, e já ninguém ria ou conversava. Todos olhavam para o montão de pedras no chão, com a capçana agarrada à testa. A capçana! Arnau colocou a sua. Os bastaixos passavam ao seu lado, um após outro, em fila, silenciosos, sem esperarem pelo seguinte; à medida que passavam, o grupo que rodeava as pedras reduzia-se.
Arnau olhou para as pedras; a boca secou-lhe e o estômago encolheu-se. Um bastaix ofereceu as costas e dois peões levantaram a pedra, para o carregarem com ela. Viu-o ceder. Os joelhos tremiam-lhe! Aguentou uns segundos, ergueu-se e passou junto a Arnau, a caminho de Santa Maria. Santo Deus! Era três vezes mais corpulento que ele. E as pernas tremiam-lhe! Como ia ele poder...
— Arnau — chamaram-no os próceres, que eram os últimos a sair.
Ainda restavam alguns bastaixos. Ramon empurrou-o para a frente.
— Ânimo! — encorajou-o.
Os três próceres falavam com um dos canteiros, que apenas abanava a cabeça. Os quatro perscrutavam o montão de pedras, apontavam para aqui ou para ali, e depois abanavam de novo a cabeça, todos juntos. Perto das pedras, Arnau tentou engolir saliva, mas tinha a garganta seca. Tremia. Não podia tremer! Mexeu as mãos, e depois os braços, para trás e para a frente. Não podia deixar que vissem como tremia! Josep, um dos próceres, apontou para uma pedra. O canteiro respondeu-lhe com um gesto de indiferença, olhou para Arnau, voltou a abanar a cabeça e indicou aos peões que lhe pegassem. «São todas parecidas», repetira até à saciedade.
Quando viu os dois peões carregados com a pedra, Arnau aproximou-se deles. Encurvou-se e retesou todos os músculos do seu corpo. Todos os presentes ficaram em silêncio. Os peões soltaram a pedra com suavidade e ajudaram-no a colocar as mãos nela. Ao sentir o peso, encurvou-se um pouco mais e as pernas dobraram-se-lhe. Arnau cerrou os dentes e fechou os olhos. «Para cima!», pareceu-lhe ouvir. Ninguém tinha dito nada, mas todos o tinham gritado em silêncio, ao verem as pernas do rapaz. Para cima! Para cima! Arnau ergueu-se sob o peso. Muitos suspiraram de alívio. Conseguiria andar? Arnau esperou, ainda de olhos fechados. Conseguiria andar?
Avançou um pé. O próprio peso da pedra obrigou-o a mover o outro, e depois de novo o primeiro... e de novo o segundo. Se parasse... Se parasse, a pedra fá-lo-ia cair de bruços.
Ramon inspirou pelo nariz e levou as mãos aos olhos.
— Ânimo, rapaz! — ouviu-se gritar um dos arrieiros que esperavam.
— Vamos, valente!
— Tu consegues!
— Por Santa Maria!
A gritaria ecoou nas faces nuas da pedreira e acompanhou Arnau, quando se viu só no caminho de regresso à cidade.
No entanto, não ia só. Todos os bastaixos que tinham saído depois dele o alcançaram com facilidade e todos, do primeiro ao último, abrandaram o passo durante alguns minutos para seguirem ao seu lado, animando-o e incitando-o; quando outro chegava perto, o primeiro recuperava o seu ritmo.
Mas Arnau nem os ouvia. Nem sequer pensava. A sua atenção estava concentrada naquele pé que devia aparecer agora vindo de trás, e quando o via avançar debaixo de si e colocar-se no caminho, voltava a esperar pelo seguinte; um pé depois do outro, sobrepondo-se à dor.
Perto das hortas de Sant Bertran, os pés já demoravam uma eternidade a aparecer. Todos os bastaixos o tinham já ultrapassado. Lembrou-se de como ele próprio e Joan lhes tinham dado água, com a pesada pedra apoiada na borda de uma embarcação. Procurou algum local semelhante, e daí a pouco encontrou uma oliveira, e conseguiu apoiar a pedra num ramo mais baixo; se a colocasse no chão, não conseguiria voltar a colocá-la às costas. Tinha as pernas tensas.
— Se parares — aconselhara-lhe Ramon —, não deixes que as pernas fiquem totalmente tensas, senão não consegues continuar.
Arnau, livre de uma parte do peso, continuou a mexer as pernas. Respirou fundo várias vezes. Parte do peso leva-o a Virgem, tinha-lhe dito, também. Santo Deus, se isso era verdade, quanto pesaria aquela pedra? Não se atreveu a mexer as costas. Doía-lhe; doía-lhe terrivelmente. Descansou por um bom bocado. Conseguiria voltar a pôr-se em movimento? Olhou à sua volta. Estava sozinho. Nem mesmo os outros arrieiros seguiam por aquele caminho, porque tomavam o da Porta de Trentaclaus.
Conseguiria? Olhou para o céu. Escutou o silêncio e sacudiu a pedra de novo, de um esticão. Os pés puseram-se em movimento. Um, outro, um, outro...
No Cagalell, repetiu o descanso, apoiando a pedra na saliência de uma grande rocha. Aí apareceram os primeiros bastaixos, já de regresso à pedreira. Ninguém falou. Apenas olhavam para ele. Arnau voltou a cerrar os dentes e ergueu de novo a pedra. Alguns dos bastaixos aprovaram com a cabeça, mas nenhum deles parou. «È o desafio dele», comentou um deles depois, quando Arnau já não podia ouvi-los, voltando-se para olhar o lento avançar da pedra. «Deve enfrentar isto sozinho», afirmou outro.
Quando atravessou a muralha ocidental e deixou para trás Framenors, Arnau encontrou-se com os cidadãos de Barcelona. Prosseguia com a atenção fixa nos seus pés. Já estava na cidade! Marinheiros, pescadores, mulheres e crianças, operários dos estaleiros, carpinteiros... todos observavam em silêncio o rapaz encolhido sob o peso da pedra, suado, congestionado. Todos olhavam fixamente para os pés do jovem bastaix, que Arnau olhava também, sem dar atenção a mais nada, e todos, em silêncio, lhos empurravam: um, outro, um, outro...
Alguns juntaram-se ao percurso de Arnau, atrás dele, em silêncio, marcando o seu passo com o avanço da pedra, e assim, ao fim de mais de duas horas de esforço, o rapaz chegou a Santa Maria acompanhado por uma pequena e silenciosa multidão. As obras pararam. Os pedreiros assomaram aos andaimes e os carpinteiros e canteiros deixaram os seus labores. O padre Albert, Pere e Mariona esperavam-no. Àngel, o filho do barqueiro, que já se tornara oficial, aproximou-se dele.
— Vamos! — gritou-lhe. — Já cá estás! Já chegaste! Anda, vamos!
Começaram a ouvir-se gritos de encorajamento vindos do alto dos andaimes. Os que tinham seguido Arnau rebentaram em vivas. Toda a Santa Maria se juntou à gritaria; até o padre Albert se uniu à vozearia geral. No entanto, Arnau continuou a olhar para os pés, um, outro, um, outro... até chegar ao local onde se depositavam as pedras; aí, os aprendizes e os oficiais lançaram-se para a pedra que o rapaz tinha trazido.
Só então Arnau ergueu os olhos, ainda dobrado, tremendo, e sorriu. As pessoas juntaram-se à sua roda e felicitavam-no. Arnau não conseguia sequer saber quem eram aqueles que o rodeavam; só reconheceu o padre Albert, cujo olhar se dirigia para o cemitério de las Moreres. Arnau seguiu-o.
— Por ti, pai — sussurrou.
Quando toda a gente dispersou e Arnau já se dispunha a regressar à pedreira, seguindo os passos dos seus companheiros, alguns dos quais já levavam três viagens, o padre chamou-o; recebera instruções de Josep, prócer da confraria.
— Tenho um trabalho para ti — disse-lhe. Arnau parou e olhou-o, intrigado. — É preciso limpar a capela do Santíssimo, acender os círios e pôr tudo em ordem.
— Mas... — protestou Arnau, apontando para as pedras.
— Não há «mas» que te valha.
Tinha sido um dia muito duro. Recém-passado o solstício de Verão, tardava em anoitecer, e os bastaixos trabalhavam de sol a sol, carregando e descarregando os navios que arribavam ao porto, sempre espicaçados pelos mercadores e pelos pilotos, que queriam ficar no porto de Barcelona o menor tempo possível. Arnau entrou em casa de Pere arrastando os pés, com a capçana na mão. Oito rostos viraram--se para ele. Pere e Mariona estavam sentados à mesa acompanhados de um homem e uma mulher. Joan, um rapaz e duas raparigas olhavam-no do chão, sentados e encostados à parede. Todos comiam das suas escudelas.
— Arnau — disse-lhe Pere —, apresento-te os nossos novos inquilinos. Gasto Segura, oficial curtidor — O homem limitou-se a inclinar a cabeça, sem parar de comer. — A sua mulher, Eulália — A mulher sorriu. — E os três filhos: Simó, Aledis e Alesta.
Arnau, que estava arrasado, fez um leve movimento com a mão na direcção de Joan e dos filhos do curtidor, e prestou-se a agarrar na malga que Mariona lhe estendia. No entanto, algo o fez virar-se de novo para os três recém-chegados. Que... Aqueles olhos! Os olhos das raparigas estavam fixos nele. Eram... Eram enormes, castanhos, vivos. As duas raparigas sorriram ao mesmo tempo.
— Come, rapaz!
O sorriso desapareceu. Alesta e Aledis baixaram os olhos para as suas escudelas e Arnau voltou-se para o curtidor, que deixara de comer e, com a cabeça, lhe apontava para Mariona, que estava junto do fogo, com a malga estendida para ele.
Mariona deu-lhe o seu lugar à mesa e Arnau começou a dar conta da comida; Gasto Segura, à frente dele, sorvia e mastigava com a boca aberta. Cada vez que Arnau levantava os olhos da malga, dava com o olhar do curtidor fixado nele.
Daí a pouco, Simó levantou-se para entregar a Mariona a sua escudela e as das suas irmãs, já vazias.
— Vão dormir — ordenou Gasto, rompendo o silêncio.
Então, o curtidor semicerrou os olhos olhando para Arnau, fazendo o rapaz sentir-se incomodado, e obrigou-o a concentrar-se na sua escudela; só conseguiu ouvir o ruído que as raparigas faziam a levantar-se e uma tímida despedida. Quando os passos delas deixaram de se ouvir, Arnau levantou os olhos. A atenção de Gasto parecia ter diminuído.
— Como são? — perguntou nessa noite a Joan, na primeira noite em que dormiam perto da lareira, um de cada lado, com os colchões de palha no chão.
— Quem? — perguntou por sua vez Joan.
— As filhas do curtidor.
— Como assim? São normais — disse Joan, enquanto fazia um gesto de ignorância que o irmão não pôde ver na escuridão —, são raparigas normais. Suponho eu... — hesitou. — Na verdade, não sei. Não me deixaram falar com elas; o irmão nem sequer me deixou que lhes apertasse a mão. Quando a ofereci, foi ele quem ma apertou e me separou delas.
Mas Arnau já não o ouvia. Como podiam ser normais aqueles olhos? E tinham sorrido para ele, as duas.
Ao amanhecer, Pere e Mariona desceram. Arnau e Joan já tinham retirado os seus colchões. Pouco depois, apareceram o curtidor e o filho. As mulheres não os acompanhavam, porque Gasto lhes tinha proibido que descessem enquanto os rapazes não tivessem saído. Arnau saiu da casa de Pere com aqueles imensos olhos castanhos na retina.
— Hoje toca-te tratar da capela — disse-lhe um dos próceres quando chegou à praia. No dia anterior vira-o descarregar, cambaleante, o último fardo.
Arnau assentiu. Já não lhe importava que o mandassem para a capela. Ninguém duvidava da sua condição de bastaix; os próceres tinham-no confirmado e se bem que ainda não pudesse carregar tanto como Ramon ou a maioria deles, dedicava-se mais do que ninguém a um trabalho que o satisfazia. Todos gostavam dele. Além disso, aqueles olhos castanhos... talvez não lhe permitissem concentrar-se no trabalho; por outro lado, estava cansado, não tinha dormido bem ao pé da lareira. Entrou em Santa Maria pela porta principal da velha igreja, que ainda resistia. Gasto Segura não o tinha deixado olhar para elas. Porque não poderia olhar para umas simples raparigas? E nessa manhã, de certeza que ele as tinha proibido... Tropeçou numa corda e quase caiu. Andou aos tropeções durante alguns metros, enredando-se em mais cordas, até que umas mãos o agarraram. Torceu um tornozelo e soltou um grito de dor.
— Eh! — ouviu dizer-lhe o homem que o tinha ajudado. .— É preciso ter cuidado. Olha o que fizeste!
Doía-lhe o tornozelo, mas olhou para o chão. Tinha arrancado as cordas e estacas com que Berenguer de Montagut marcava... Mas... Não podia ser ele! Virou-se lentamente para o homem que o tinha ajudado. Não podia ser o mestre! Corou ao ver-se cara a cara com Berenguer de Montagut. Depois, fixou o olhar nos oficiais que tinham parado o seu trabalho e que olhavam para ambos.
— Eu... — hesitou. — Se quiserdes... — acrescentou apontando para o emaranhado de cordas aos seus pés — poderei ajudar-vos a... Desculpai-me, mestre.
Imediatamente o rosto de Berenguer de Montagut se descontraiu. Ainda o tinha seguro pelo braço.
— Tu és o bastaix — afirmou, mostrando um sorriso. Arnau anuiu. —Já te vi por aí várias vezes.
O sorriso de Berenguer abriu-se. Os oficiais respiraram fundo, tranquilos. Arnau tornou a olhar para as cordas que se tinham enredado aos seus pés.
— Desculpai — repetiu.
—- Que havemos de fazer? — O mestre gesticulou, dirigindo-se aos oficiais. — Arranjai isto — ordenou-lhes. — Vem, vamos sentar-nos. Dói-te?
— Não queria incomodar-vos — disse Arnau, com um esgar de dor, depois de se tentar agachar para se libertar das cordas.
— Espera. — Berenguer de Montagut obrigou-o a erguer--se e ajoelhou-se para o desenredar das cordas. Arnau não se atreveu a olhar para ele, e dirigiu o olhar para os oficiais, que observavam atónitos a cena. O mestre ajoelhado em frente a um simples bastaix!
— Devemos cuidar destes homens — gritou a todos os presentes quando conseguiu libertar os pés de Arnau. —-Sem eles não teríamos pedras. Vem, acompanha-me. Vamos sentar-nos. Dói-te? — Arnau negou com a cabeça, mas coxeou, tentando não se apoiar no mestre. Berenguer de Montagut agarrou-o pelo braço com força e levou-o até umas colunas que repousavam no chão, prontas para serem içadas, sobre as quais os dois se sentaram. — Vou contar-te um segredo — disse-lhe Berenguer assim que se sentou. Arnau virou-se para ele. Ia contar-lhe um segredo! O mestre... Que mais lhe poderia acontecer nessa manhã? — No outro dia tentei levantar uma pedra que tinhas descarregado e só consegui com grande esforço. — Berenguer abanou a cabeça. — Não fui capaz de dar mais do que uns passos com ela às costas. Este templo é vosso — afirmou, passeando o olhar pelas obras. Arnau sentiu um calafrio. — Um dia, durante a vida dos nossos netos, ou dos filhos deles, ou dos filhos dos seus filhos, quando as pessoas olharem para esta obra, não falarão de Berenguer de Montagut; falarão de ti, rapaz.
Arnau sentiu que lhe crescia um nó na garganta. O mestre! Que lhe estava ele a dizer? Como iria ele ser um bastaix mais importante que o grande Berenguer de Montagut, mestre-de-obras de Santa Maria e da catedral de Manresa? Ele, sim, era importante.
— Dói-te? — insistiu o mestre.
— Não... um bocadinho. Foi só um mau jeito.
— Espero que sim — Berenguer de Montagut deu-lhe uma palmada nas costas. — Precisamos das tuas pedras. Ainda há muito por fazer.
Arnau seguiu o olhar do mestre para as obras.
— Gostas? — perguntou-lhe de repente Berenguer de Montagut.
Se gostava? Nunca se tinha interrogado sobre isso. Via crescer a igreja, as paredes, as absides, as magníficas e esbeltas colunas, os contrafortes, mas... se gostava?
— Dizem que será o melhor templo para a Virgem de todos os que já se construíram no mundo — optou por responder.
Berenguer virou-se para Arnau e sorriu. Como podia contar a um rapaz, a um bastaix, como ia ser aquele templo quando nem sequer os bispos ou os nobres eram capazes de vislumbrar o seu projecto?
— Como te chamas?
— Arnau.
— Pois bem, Arnau, não sei se será o melhor templo do mundo. — Arnau esqueceu-se do seu pé e virou a cara para o mestre. — O que te posso assegurar é que será único, e o que é único não é melhor nem pior, é simplesmente isso: único.
Berenguer de Montagut continuava com o olhar perdido na obra, e dessa forma continuou a falar:
— Já ouviste falar de França, ou da Lombardia, ou de Génova, Pisa, Florença? — Arnau fez que sim; como poderia nunca ter ouvido falar dos inimigos do seu país? — Pois bem, em todos esses lugares também se constroem igrejas; são magníficas catedrais, grandiosas e carregadas de elementos decorativos. Os príncipes desses lugares querem que as suas igrejas sejam as maiores e mais bonitas do mundo.
— E nós, por acaso não queremos o mesmo?
— Sim e não — Arnau abanou a cabeça. Berenguer de Montagut virou-se para ele e sorriu-lhe. — Vamos ver se és capaz de me entender: nós queremos que seja o maior templo da História, mas pretendemos consegui-lo empregando meios diferentes dos que os outros utilizam; nós queremos que a casa da padroeira do mar seja a casa de todos os catalães, tal como aquelas em que vivem os seus fiéis, idealizada e construída com o mesmo espírito que nos leva a ser como somos, aproveitando o que é nosso: o mar, a luz. Percebes?
Arnau reflectiu por uns segundos, mas acabou por fazer que não com a cabeça.
— Ao menos tu és sincero — riu-se o mestre. — Os príncipes fazem as coisas para a sua própria glória pessoal; nós, fazemo-las para nós próprios. Já vi que, por vezes, em vez de trazerem a carga às costas, vocês a trazem atada a paus, entre dois homens.
— Sim, quando é demasiado volumosa para ser trazida às costas.
— O que aconteceria se duplicássemos o comprimento do pau?
— Partir-se-ia.
— Pois isso é o mesmo que se passa com as igrejas dos príncipes... Não, não quero dizer que se partam — acrescentou perante a expressão do rapaz. — Quero dizer que como as querem tão grandes, tão altas e tão longas, têm de as fazer muito estreitas. Altas, compridas e estreitas, percebes? — Desta vez, Arnau anuiu. — A nossa será toda ao contrário; não será tão longa, nem tão alta, mas será muito larga, para que caibam todos os catalães, juntos diante da Virgem. Um dia, quando estiver acabada, poderás comprovar isso: o espaço será comum para todos os fiéis, não haverá distinções, e como única decoração... a luz, a luz do Mediterrâneo. Nós não precisamos de outra decoração: só do espaço e da luz que entrará por ali — Berenguer de Montagut apontou para a abside e foi descendo a mão até ao solo. Arnau seguiu-a. — Esta igreja será para o povo, não para maior glória de algum príncipe.
— Mestre... — aproximara-se um oficial, depois de arranjadas as estacas e as cordas.
— Percebes agora? Seria para o povo!
— Sim, mestre.
— As tuas pedras são o ouro desta igreja, lembra-te disso — acrescentou Montagut, levantando-se. — Dói-te? Arnau já não se lembrava do tornozelo e negou com a cabeça.
Nessa manhã, dispensado de trabalhar com os bastaixos, Arnau regressou mais cedo para casa. Limpou rapidamente a capela, acendeu as velas, substituiu as já consumidas e, depois de uma breve oração, despediu-se da Virgem. O padre Albert viu-o sair a correr de Santa Maria, tal como Mariona o viu entrar em casa.
— Que se passa? — perguntou-lhe a idosa. — Que fazes aqui tão cedo?
Arnau percorreu a habitação com o olhar; ali estavam,, mãe e filhas, cosendo à mesa: as três olhando para ele.
— Arnau! — insistiu Mariona. — Passa-se alguma coisa? Percebeu que estava a corar.
— Não... — Não tinha pensado em nenhuma desculpa! Como podia ter sido tão estúpido? E olhavam para ele. Todas olhavam para ele, parado junto à porta, hesitante. — Não... — repetiu —, é que hoje... acabei mais cedo.
Mariona sorriu e olhou para as raparigas. Eulália, a mãe também não conseguiu evitar um sorriso.
— Pois já que acabaste mais cedo — disse Mariona, interrompendo os seus pensamentos —, vai buscar-me água.
Tinha olhado de novo para ele, pensou o rapaz enquanto ia com o balde a caminho da fonte do Àngel. Quereria dizer-lhe alguma coisa? Arnau sacudiu o balde; de certeza que sim.
No entanto, não teve oportunidade de comprová-lo. Quando não era Eulália, Arnau dava com os negros dentes de Gasto, com os poucos que lhe restavam, e, quando nenhum dos dois estava presente, Simó vigiava as duas raparigas. Durante dias, Arnau teve de se conformar a olhar para elas de soslaio. Por algumas vezes, conseguia deter-se alguns segundos nos seus rostos, finamente delineados e com um queixo marcado, maçãs salientes, nariz itálico, recto e sóbrio, dentes brancos e bem formados, e aqueles impressionantes olhos castanhos. Outras vezes, quando o sol entrava na casa de Pere, Arnau quase conseguia tocar no reflexo azulado dos seus longos cabelos, sedosos, negros como azeviche. E outras vezes, mais raras, quando julgava sentir-se seguro, deixava que o seu olhar descesse para lá do pescoço de Aledis, onde os seios da irmã mais velha podiam vislumbrar-se, mesmo através da camisa tosca que vestia. Então, um estranho calafrio percorria-lhe o corpo todo e, se ninguém estivesse a vigiar, continuava a descer o olhar para se deleitar com as curvas da rapariga.
Gasto Segura perdera durante a grande fome tudo o que tinha, e o seu carácter, já de si agreste, endurecera ainda mais. O filho Simó trabalhava com ele, como aprendiz de curtidor, e a sua grande preocupação era aquelas duas
raparigas, a quem não podia dar dote para encontrarem um bom marido. No entanto, a beleza das jovens prometia, e Gasto confiava em que encontrariam bons maridos. Assim, poderia deixar de alimentar duas bocas.
Para isso, pensava o homem, as raparigas tinham de se conservar imaculadas, e ninguém em Barcelona devia poder alimentar a menor suspeita sobre a sua decência. Só dessa forma, repetia ele uma e outra vez a Eulália ou a Simó, Ales-ta e Aledis poderiam encontrar um bom marido. Os três, pai, mãe e irmão mais velho, tinham assumido esse objectivo como seu, mas se Gasto e Eulália confiavam em que não haveria problema algum em conseguirem-no, o mesmo não aconteceu com Simó, quando a convivência com Arnau e Joan se prolongou.
Joan tornara-se o melhor aluno da escola da catedral. Em pouco tempo dominou o latim, e os seus professores dedicavam-se àquele rapaz pausado, sensato, pensativo e, acima de tudo, crente; tais eram as suas virtudes que poucos duvidavam de que teria um grande futuro dentro da Igreja. Joan acabou por conquistar o respeito de Gasto e de Eulália, que partilhavam frequentemente com Pere e Mariona, atentos e maravilhados, as explicações que o pequeno dava sobre as escrituras. Só os sacerdotes conseguiam ler aqueles livros, escritos em latim, e ali, numa humilde casa junto ao mar, os quatro podiam desfrutar das palavras sagradas, das histórias antigas e das mensagens do Senhor, que antes só lhes chegavam dos púlpitos.
Mas se Joan tinha ganho o respeito dos que o rodeavam, Arnau não se ficava atrás: até Simó o olhava com inveja: um bastaix! Poucos eram os do bairro de la Ribera que ignoravam os esforços de Arnau, transportando pedras para a
Virgem. «Dizem que o grande Berenguer de Montagut se ajoelhou diante dele para o ajudar», comentara-lhe, de mãos abertas e gritando, outro dos aprendizes da oficina de curtidores. Simó imaginou o grande mestre, respeitado por nobres e bispos, aos pés de Arnau. Quando falava o mestre, todos, até mesmo o seu pai, guardavam silêncio, e quando ele gritava... quando gritava, tremiam. Simó observava Arnau quando este entrava em casa, à noite. Era sempre o último a chegar. Regressava cansado e suado, com a capçana na mão e, no entanto... sorria! Quando tinha ele próprio sorrido ao regressar do trabalho? Algumas vezes cruzara-se com Arnau, quando este carregava pedras para Santa Maria; as pernas, os braços, o peito, todo ele parecia de ferro. Simó olhava para a pedra, e depois para aquele rosto congestionado; tê-lo-ia visto sorrir?
Por isso, quando Simó tinha de cuidar das irmãs e aparecia Arnau ou Joan, o aprendiz de curador, apesar de ser mais velho que eles, retraía-se, e as duas raparigas desfrutavam da liberdade de que se viam privadas quando os pais estavam presentes.
— Vamos passear pela praia! — propôs um dia Alesta. Simó quis recusar-se. Passear pela praia... Se o pai os visse...
— De acordo — disse Arnau.
— Vai fazer-nos bem — afirmou Joan.
Simó calou-se. Os cinco, com Simó por último, saíram para o sol, com Aledis junto a Arnau, Alesta junto a Joan; ambas deixavam que a brisa fizesse ondular os seus cabelos e que colasse caprichosamente as suas folgadas camisas aos seus corpos, fazendo destacarem-se os seios, o ventre ou ,as coxas.
Passearam em silêncio, olhando para o mar ou batendo na areia com os pés, até que se encontraram com um grupo de bastaixos ociosos. Arnau saudou-os com a mão.
— Queres que tos apresente? — perguntou a Aledis.
A rapariga olhou para os homens. Todos tinham os olhos postos nela. Que estavam a olhar? O vento empurrava a camisa contra os seus seios e mamilos. Santo Deus!, pareciam querer atravessar o tecido. Enrubesceu e fez que não com a cabeça quando Arnau se dirigia já para eles. Aledis deu meia-volta e Arnau ficou parado a meio do caminho.
— Corre atrás dela, Arnau — ouviu gritar-lhe um dos seus companheiros.
— Não a deixes escapar — aconselhou um segundo.
— É muito bonita! — concluiu um outro. Arnau acelerou o passo até voltar a ficar junto de Aledis.
— Que se passa?
A rapariga não lhe respondeu. Seguia com os braços cruzados sobre a camisa, mas também não tomou o caminho de regresso a casa. Assim continuaram a passear, com o rumor das ondas por única companhia.
Nessa mesma noite, enquanto jantavam junto do fogo, a rapariga premiou Arnau com um segundo mais do que o necessário, um segundo durante o qual manteve os seus enormes olhos castanhos fixados nele.
Um segundo em que Arnau voltou a escutar o mar enquanto este se fundia com a areia da praia. Desviou o olhar para os outros, para ver se alguém se tinha dado conta do descaramento: Gasto continuava a conversar com Pere, e ninguém parecia prestar-lhe a menor atenção. Ninguém parecia ouvir as ondas.
Quando Arnau se atreveu a voltar a olhar para Aledis, ela estava cabisbaixa e brincava com a comida da sua escudela.
— Come, rapariga! — ordenou-lhe Gasto, o curtidor, ao ver que ela mexia a colher sem a levar à boca. — A comida não é para brincar.
As palavras de Gasto trouxeram Arnau de volta à realidade e, durante o resto do jantar, Aledis não só não voltou a olhar para Arnau, como evitou o olhar dele de forma ostensiva.
Aledis demorou alguns dias até voltar a dirigir-se a Arnau daquela maneira silenciosa que tinha usado naquela noite após o passeio pela praia. Nas escassas ocasiões em que se encontravam, Arnau desejava voltar a sentir fixados nele aqueles olhos castanhos de Aledis, mas a rapariga fugia e escondia os olhos.
— Adeus, Aledis — disse-lhe uma manhã, distraidamente, ao abrir a porta para se dirigir para a praia.
Calhara que estivessem os dois sós nesse momento. Arnau ia para fechar a porta atrás de si, mas algo de indefinível impeliu-o a virar-se para trás e olhar de novo para a rapariga; e ali estava ela, perto do fogo, de pé, bonita, convidando-o com os seus olhos castanhos.
Finalmente! Finalmente. Arnau corou e baixou os olhos. Atrapalhado, tentou fechar a porta, mas a meio do gesto, algo voltou a chamar-lhe a atenção: Aledis continuava lá, chamando-o com os seus grandes olhos castanhos, e sorrindo. Aledis sorria-lhe.
A mão escorregou-lhe da maçaneta da porta, cambaleou e esteve quase a cair redondo no chão. Não se atreveu a olhar de novo para ela e fugiu a passo ligeiro para a praia, deixando a porta aberta.
— Tem vergonha — sussurrou Aledis para a irmã, nessa mesma noite, antes de os pais e o irmão se retirarem, deitadas as duas no colchão que partilhavam.
— Porque havia de ter vergonha? — perguntou a irmã. — Ele é um bastaix. Trabalha na praia e leva pedras para a Virgem. Tu és apenas uma criança. Ele é um homem — acrescentou com uma ponta de admiração.
— Tu é que és uma criança — retorquiu Aledis.
— Olha, fala a mulher! — respondeu Alesta virando-lhe as costas e usando a mesma expressão que a mãe usava quando alguma delas reclamava alguma coisa que não correspondesse à idade que tinham.
— Está bem, está bem — replicou Aledis. «Falou a mulher... E por acaso não sou já?» Aledis pensou na mãe, nas amigas da mãe, no pai. Talvez... Talvez a irmã tivesse razão. Porque havia alguém como Arnau, um bastaix que demonstrara a Barcelona inteira a sua devoção pela Virgem de la Mar, envergonhar-se por ela, uma criança ainda, olhar para ele?
— Tem vergonha. Digo-te que se envergonha — insistiu Aledis na noite seguinte.
— Conversa! Porque havia de se envergonhar Arnau?
— Não sei — respondeu Aledis —, mas é o que acontece. Envergonha-se quando olha para mim. Envergonha-se quando olho para ele. Fica atrapalhado, fica corado, foge de mim...
— Estás louca!
— Talvez esteja, mas... — Aledis sabia o que dizia. Se na noite anterior a irmã rinha conseguido semear a dúvida, desta vez não ia conseguir. Tinha tirado a prova. Observou Arnau, procurou o momento oportuno, quando ninguém os podia surpreender, e aproximou-se dele, o suficiente para poder sentir o cheiro do corpo de Arnau. «Olá, Arnau.» Foi um simples olá, uma saudação acompanhada de um olhar meigo, próximo, o mais próximo que pôde, quase roçando por ele, e Arnau voltou a sorrir, a fugir do olhar dela e a esconder-se da presença dela. Ao ver que ele se afastava, Aledis sorriu, orgulhosa de um poder que até então desconhecia. — Amanhã vais ver — disse à irmã.
A indiscreta presença de Alesta animou-a a levar mais longe a sua breve sedução; não poderia falhar. De manhã, quando Arnau se dispunha a sair de casa, Aledis travou-lhe o passo, colocando-se diante da porta e encostando-se a ela. Planeara aquilo mil e uma vezes, enquanto a irmã dormia.
— Porque não queres falar comigo? — dísse-lhe com voz melosa, olhando-o mais uma vez nos olhos.
Ela própria se surpreendeu com o seu atrevimento. Repetira aquela frase simples tantas vezes como as que tinha perguntado a si própria se seria capaz de a dizer sem se engasgar. Se Arnau lhe respondesse, ver-se-ia indefesa, mas para sua satisfação não foi assim. Consciente da presença de Alesta, Arnau virou-se instintivamente para Aledis com o habitual rubor adornando-lhe as faces. Não podia sair, mas também não se atrevia a olhar para Alesta.
— Eu, não... Eu...
— Tu, tu, tu — interrompeu-o Aledis, elevando a voz. — Tu foges de mim. Antes, falávamos e ríamo-nos, e agora, cada vez que tento dirigir-me a ti...
Aledis ergueu-se o mais que podia, e os seus seios jovens mostraram-se firmes através da camisa. Apesar do pano grosso, os mamilos da rapariga apontavam como dardos. Arnau viu-os e nem todas as pedras da pedreira real teriam conseguido desviar o olhar dele daquilo que Aledis oferecia. Um calafrio percorreu-lhe as costas.
— Meninas!
A voz de Eulália, que descia pelas escadas, trouxe-os de volta à realidade. Aledis abriu a porta e saiu para a rua antes que a mãe chegasse ao rés-do-chão. Arnau virou-se para Alesta, que continuava a observar a cena boquiaberta, e saiu, por sua vez, de casa. Aledis já desaparecera.
Nessa noite, as irmãs cochicharam, sem encontrarem respostas para as perguntas que aquela nova experiência lhes suscitava, e que nunca poderiam partilhar com ninguém. Do que Aledis tinha a certeza, embora não soubesse como explicá-lo à irmã, era do poder que o seu corpo exercia sobre Arnau. Aquela sensação satisfazia-a, preenchia-a por completo. Interrogou-se se todos os homens reagiriam da mesma forma, mas não se imaginou diante de outro que não fosse Ar-nau; jamais lhe ocorrera agir de forma semelhante com Joan ou com algum dos aprendizes de curtidor amigos de Simó; só de imaginar isso... No entanto, com Arnau, algo dentro dela se libertava...
— Que se passa com o rapaz? — perguntou Josep, prócer da confraria, a Ramon.
— Pois não sei — respondeu este com sinceridade.
Os dois homens olharam para os barqueiros, onde se encontrava Arnau, exigindo com rudeza que lhe dessem um dos fardos mais pesados. Quando conseguiu convencê-los, Josep, Ramon e os restantes companheiros viram-no partir com passos vacilantes, os lábios cerrados e o rosto congestionado.
— Não vai aguentar muito tempo, com este ritmo — sentenciou Josep.
— É jovem — tentou defendê-lo Ramon.
— Mas não aguentará.
Todos já tinham notado. Arnau exigia os fardos e as pedras mais pesadas e transportava-os como se disso dependesse a sua vida. Regressava ao local de carga quase a correr, e reclamava de novo mais peso do que lhe competia. Ao terminar a jornada, arrastava-se derreado para casa de Pere.
— Que se passa, rapaz? — interessou-se Ramon no dia seguinte, enquanto ambos carregavam fardos para os depósitos municipais.
Arnau não respondeu. Ramon ficou na dúvida de saber se aquele silêncio se deveria a ele não querer falar ou, por qualquer motivo, não o poder fazer. Voltava a ter o rosto congestionado pelo peso que carregava às costas.
— Se tens algum problema, talvez eu possa...
— Não, não — conseguiu Arnau articular. Como poderia contar-lhe que o seu corpo ardia de desejo por Aledis? Como lhe contaria que só encontrava calma carregando mais e mais peso sobre as costas, até que a sua mente, obcecada por chegar, conseguia esquecer os olhos dela, o sorriso dela, os seios dela, todo o corpo dela? Como poderia contar que, cada vez que Aledis brincava com ele, perdia o controlo dos seus pensamentos e a via nua, ao seu lado, acariciando-o? Então recordava-se das palavras do padre sobre as relações proibidas: «Pecado! Pecado!», avisava com voz firme aos seus paroquianos. Como poderia contar-lhe que só desejava chegar a casa morto de cansaço, para poder cair no colchão e poder conciliar o sono apesar da proximidade daquela rapariga?
— Não, não — repetiu. — Obrigado, Ramon...
— Vai rebentar — insistiu Josep no fim desse dia. Dessa vez, Ramon não se atreveu a dizer o contrário.
— Não te parece que te estás a exceder? — perguntou Alesta certa noite à irmã.
— Porquê?
— Se o pai soubesse...
— E que teria ele para saber?
— Que amas Arnau.
— Eu não amo Arnau! Simplesmente... simplesmente... sinto-me bem, Alesta. Agrada-me. Quando olha para mim...
— Ama-lo — insistiu a mais pequena.
— Não. Como te hei-de explicar? Quando vejo que ele olha para mim, quando cora, é como se uma cobra percorresse todo o meu corpo.
— Ama-lo.
— Não. Dorme. Que sabes tu disso? Dorme.
— Ama-lo, ama-lo, ama-lo.
Aledis decidiu não responder, mas... Amava-o? Apenas lhe agradava saber-se olhada e desejada. Agradava-lhe que os olhos de Arnau não se conseguissem afastar do seu corpo; satisfazia-a o evidente desconforto dele quando ela deixava de o tentar; seria isso amar? Aledis tentou encontrar a resposta, mas não passou muito tempo até que a sua mente voltou a vaguear por aquela satisfação, antes de cair no sono.
Uma manhã, Ramon abandonou a praia assim que viu Joan sair da casa de Pere.
— Que se passa com o teu irmão? — perguntou-lhe, antes mesmo de o saudar.
Joan pensou por uns segundos.
— Creio que se apaixonou por Aledis, a filha de Gasto, o curtidor.
Ramon soltou uma gargalhada.
— Pois então, esse amor está a deixá-lo louco — avisou-o. — Se continua assim, rebentará. Não se pode trabalhar a este ritmo. Não está preparado para esse esforço. Não seria o primeiro bastaix a ir-se abaixo... E o teu irmão é muito novo para acabar inválido. Faz qualquer coisa, Joan. Nessa mesma noite, Joan tentou falar com o irmão.
— Que se passa contigo, Arnau? — perguntou-lhe, do seu colchão.
Arnau ficou calado.
— Tens de me contar. Sou teu irmão e quero... Gostava de te ajudar. Sempre fizeste o mesmo comigo. Permite-me que partilhe os teus problemas.
Joan deixou que o irmão pensasse nas suas palavras.
— É... É por causa de Aledis — reconheceu. Joan não quis interrompê-lo. — Não sei que tenho com essa rapariga, Joan. Desde aquele passeio pela praia... qualquer coisa mudou entre nós. Olha-me como se quisesse... Não sei. Também...
— Também quê? — perguntou-lhe Joan ao ver que o irmão se calava.
«Não pretendo contar-lhe mais dos olhares», decidiu nesse momento Arnau, com os seios de Aledis na memória.
— Nada.
— Então, qual é o problema?
— E que tenho maus pensamentos, vejo-a nua. Bem, gostaria de a ver nua. Gostaria...
Joan pedira aos seus mestres que lhe aprofundassem o assunto, e eles, sem saberem que o interesse dele correspondia à preocupação que o irmão lhe estava a causar, e ao temor de que o rapaz pudesse cair na tentação e sair do caminho que tão decididamente tinha iniciado, alargaram-se em explicações acerca das teorias sobre o carácter e a perniciosa natureza da mulher.
— Não é culpa tua — sentenciou Joan.
— Não?
— Não. A malícia — explicou-lhe, sussurrando para o outro lado da chaminé a cujos lados dormiam — é uma das quatro enfermidades naturais do homem, que nascem connosco por culpa do pecado original, e a malícia da mulher é maior que qualquer outra das malícias que existem no mundo — Joan repetia de memória as explicações dos seus mestres.
— Quais são as outras três enfermidades?
— A avareza, a ignorância e a apatia, ou incapacidade de fazer o bem.
— E que tem a malícia a ver com Aledis?
— As mulheres são maliciosas por natureza e satisfazem-se a tentar o homem para os caminhos do mal — recitou Joan.
— Porquê?
— Ora, porque as mulheres são como ar em movimento, vaporosas. Não param de ir de um lado para o outro como se fossem correntes de ar. — Joan lembrou-se do sacerdote que fizera aquela comparação: os braços dele, com as mãos abertas e os dedos vibrando sem cessar, revolteavam em redor da sua cabeça. — Em segundo lugar, porque as mulheres, por natureza, por criação, têm pouco senso comum e, em consequência disso, não existe freio para a sua malícia natural.
Joan lera isto e muito mais, mas não era capaz de expressar tudo por palavras. Os sábios afirmavam que a mulher era, também por natureza, fria e fleumática, e é bem sabido que quando uma coisa fria acaba por se acender, arde com muita força. Segundo os entendidos, a mulher era, definitivamente, a antítese do homem, e portanto incoerente e absurda.
Bastava reparar em que até mesmo o seu corpo era oposto ao do homem: largo em baixo e delgado em cima, enquanto o corpo de um homem bem-feito devia ser o contrário; delgado do peito para baixo, largo no peito e nas costas, com o pescoço curto e grosso e a cabeça grande. Quando uma mulher nasce, a primeira letra que diz é «e», que é uma letra para atormentar, enquanto a primeira letra que um homem diz é «a», primeira do abecedário e oposta à «e».
— Não é possível. Aledis não é assim — contrapôs Arnau por fim.
— Não te deixes enganar. A excepção da Virgem, que concebeu Jesus sem pecado, todas as mulheres são iguais. Até as ordenações da tua confraria assim o entendem! Por acaso não proíbem as relações adúlteras? Por acaso não ordenam a expulsão de quem tenha uma amiga ou conviva com uma mulher desonesta?
Arnau não conseguia contrapor nada àquele argumento. Desconhecia as razões de sábios e filósofos e, por mais que Joan se empenhasse, podia passar por cima delas, mas dos ensinamentos da confraria, não. Essas regras, sim, conhecia--as. Os próceres da confraria tinham-no posto ao corrente delas e tinham-no avisado de que se não as cumprisse seria expulso. E a confraria não podia estar errada!
Arnau sentiu-se tremendamente confuso.
— Então, que devo fazer? Se todas as mulheres são más...
— Primeiro é preciso casar com uma delas — interrompeu Joan — e, uma vez contraído o matrimónio, agir conforme manda a Igreja.
Casar... Casar... Essa possibilidade jamais lhe tinha passado pela cabeça, mas... Se era essa a única solução...
— E que se tem de fazer depois de casados? — inquiriu com voz trémula perante a hipótese de se ver unido a Aledis para toda a vida.
Joan recuperou o fio da explicação que os seus professores da catedral lhe tinham dado:
— Um bom marido deve procurar controlar a malícia natural da esposa, de acordo com alguns princípios; o primeiro destes é que a mulher se encontra sob o domínio do homem, submetida a ele: Sub potestate viri eris, diz o Génesis. O segundo, do Eclesiastes: Mulier siprimatum habuerit, contraria est viro suo, o que significa que se a mulher tiver a primazia em casa, será contrária ao seu marido. Outro princípio é o que aparece nos Provérbios: Qui delicate nutrit servum suum, in-veniet contumacem, que quer dizer que quem trata com delicadeza aqueles que devem servi-lo, entre os quais se encontra a mulher, encontrará rebelião onde deveria encontrar humildade, submissão e obediência. E se, apesar de tudo, a malícia continuar a dar mostras de presença na sua mulher, o marido deve castigá-la com a vergonha e com o medo; corrigi-la desde logo, quando é jovem, sem esperar que envelheça.
Arnau ouviu em silêncio as palavras do irmão.
— Joan — disse-lhe quando ele terminou —, parece-te que eu poderia casar com Aledis?
— Claro que sim! Mas deverias esperar um pouco até prosperares na confraria e poderes sustentá-la. De qualquer forma, seria conveniente que falasses com o pai dela, antes que ele negoceie o casamento da filha com outra pessoa, porque nesse caso não poderias fazer nada.
A imagem de Gasto Segura, com os seus escassos dentes, todos eles negros, apareceu diante de Arnau como uma barreira intransponível. Joan imaginou os temores do irmão.
— Tens de o fazer — insistiu.
— Ajudar-me-ias?
— Claro!
Por alguns instantes, o silêncio voltou a reinar entre os dois colchões de palha que ladeavam a chaminé da casa de Pere.
— }oan — chamou Arnau, quebrando o silêncio.
— Diz.
— Obrigado.
— Não tens de quê — respondeu.
Os dois irmãos tentaram dormir, mas não conseguiam. Arnau, entusiasmado com a ideia de casar com a sua desejada Aledis; Joan perdido nas suas recordações, lembrando-se da mãe. Teria tido razão Ponç, o caldeireiro? A malícia é natural nas mulheres. A mulher deve estar submetida ao homem. O homem deve castigar a mulher. Teria razão o caldeireiro? Como podia ele respeitar a recordação da mãe e dar tais conselhos? Joan recordou a mão da mãe saindo pela pequena janela da sua prisão e a acariciar-lhe a cabeça. Recordou o ódio que sentira, e sentia ainda, para com Ponç... Mas tivera razão o caldeireiro?
Durante os dias seguintes, nenhum dos dois se atreveu a dirigir-se ao mal-humorado Gasto, um homem a quem a estada como inquilino na casa de Pere não fazia mais do que recordar-lhe o seu infortúnio, que o levara a perder a casa. O carácter azedo do curtidor piorava quando se encontrava em casa, que era precisamente quando os dois irmãos tinham oportunidade para lhe apresentar a sua proposta; mas os grunhidos, os protestos e as grosserias de Gasto faziam-nos desistir.
Entretanto, Arnau continuava enfeitiçado pela teia que Aledis deixava atrás de si. Via-a, perseguia-a com os olhos e com a imaginação, e não havia momento do dia em que os seus pensamentos não estivessem postos nela, a não ser quando Gasto aparecia; então, o seu espírito encolhia-se.
Porque, por mais que os sacerdotes e os confrades o proibissem, o rapaz não conseguia tirar os olhos de Aledis quando ela, sabendo-se sozinha com o seu joguete, aproveitava qualquer tarefa para ajustar a sua camisa descolorida. Arnau ficava pasmado perante a visão: aqueles mamilos, aqueles seios, todo o corpo de Aledis o chamava. Serás minha mulher; um dia serás minha mulher, pensava, acalorado. Tentava então imaginá-la nua, e a sua mente viajava por lugares proibidos e desconhecidos, porque, com a excepção do corpo torturado de Habiba, jamais vira uma mulher despida.
Noutras ocasiões, Aledis inclinava-se diante de Arnau, dobrando-se pela cintura, em vez de se agachar, para lhe mostrar as nádegas e as curvas das suas ancas; aproveitava igualmente qualquer situação propícia para subir a camisa por cima dos joelhos e deixar as pernas a descoberto; levava as mãos às costas, até aos rins, para, simulando alguma dor inexistente, se curvar tanto quanto a coluna vertebral lhe permitia, e mostrar assim como era duro e plano o seu ventre. Depois, Aledis sorria ou, fingindo descobrir subitamente a presença de Arnau, mostrava-se embaraçada. Quando desaparecia, Arnau tinha de se debater para afastar aquelas imagens da sua memória.
Nos dias em que vivia estas experiências, Arnau tentava a todo o custo encontrar o momento oportuno para falar com Gasto.
— Que diacho fazem aí parados? — atirou certa vez, quando os dois rapazes se tinha postado diante dele com a ingénua intenção de lhe pedirem a filha em casamento para Arnau.
O sorriso com que Joan tentou abordar Gasto desapareceu assim que o curtidor passou entre eles os dois, empurrando-os sem contemplações.
— Gasto... — disse Joan.
— Esfolo-o vivo! Arranco-lhe os testículos! — disparou o curtidor, cuspindo saliva através dos buracos que se abriam por entre os seus dentes podres. — Simó! —Joan dirigiu para Arnau, escondido a um canto da sala, um gesto de impotência. Entretanto, Simó tinha aparecido, respondendo ao grito do pai. — Como pudeste fazer esta costura? — gritou-lhe Gasto, encostando-lhe a peça de couro ao nariz.
Joan levantou-se da cadeira e retirou-se da discussão familiar. Mas não desistiram.
— Gasto — tornou a insistir Joan noutra ocasião em que, depois do jantar e, aparentemente de bom humor, o curtidor saiu para dar um passeio pela praia, e ambos se lançaram no seu encalço.
— Que queres — perguntou, sem parar de andar. Pelo menos, deixa-nos falar, pensaram os dois.
— Queria... Falar-te de Aledis...
Ao ouvir o nome da filha, Gasto estacou imediatamente e aproximou-se de Joan, tanto que o seu hálito fétido abalou o rapaz como uma chama.
— Que fez ela? — Gasto respeitava Joan; tinha-o por um jovem sério. A alusão a Aledis e a sua desconfiança inata levavam-no a acreditar que ele queria acusá-la de alguma coisa, e o curtidor não podia permitir-se a menor mancha na sua jóia.
— Nada — disse-lhe Joan.
— Como assim, nada? — continuou Gasto apressadamente, sem se afastar um milímetro de Joan. — Então, para que queres falar-me de Aledis? Diz-me a verdade, que fez ela?
— Nada. Não fez nada, a sério.
— Nada? E tu — disse, virando-se para Arnau, para alívio do irmão. — Que tens a dizer? Que sabes tu de Aledis?
— Eu... Nada... — O vacilar de Arnau aguçou as obsessivas suspeitas de Gasto.
— Conta-me!
— Não se passa nada... Não...
— Eulália! — Gasto não esperou mais e, gritando como um energúmeno o nome da mulher, regressou a casa de Pere.
Nessa noite, os dois rapazes, com a culpa na garganta, ouviram os gritos de Eulália enquanto Gasto, a estalos, tentava obter dela uma confissão impossível.
Tentaram por duas vezes mais, mas nem sequer conseguiram começar a explicar-se. Ao fim de algumas semanas, desalentados, contaram o seu problema ao padre Albert, que, sorrindo, se comprometeu a falar com Gasto.
— Lamento, Arnau — anunciou-lhe, passada uma semana, o padre Albert. Marcara encontro com Arnau e Joan na praia. — Gasto Segura não aprova o teu casamento com a filha.
— Porquê? — perguntou Joan. — Arnau é boa pessoa.
— Pretende que case a minha filha com um escravo da Ribera? — respondera o curtidor ao padre. — Um escravo que não ganha o suficiente para alugar um quarto.
O padre tentou convencê-lo:
— Na Ribera não trabalha nenhum escravo; isso era dantes. Bem sabes que é proibido que os escravos trabalhem em...
— É um trabalho de escravos.
— Isso era dantes — insistiu o padre. — Além disso — acrescentou —, consegui um bom dote para a tua filha. — Gasto Segura, que já dera por terminada a conversa, virou-se de repente para o sacerdote. — Com esse dote poderiam comprar uma casa...Gasto interrompeu-o de novo:
— A minha filha não precisa da caridade dos ricos! Guarde os seus bons ofícios para outros.
Depois de ouvir as palavras do padre Albert, Arnau olhou para o mar; o reflexo da Lua escorria do horizonte até à orla e perdia-se na espuma das ondas que se desfaziam na praia.
O padre Albert deixou que o rumor das ondas os envolvesse. E se Arnau lhe perguntasse sobre as razões? Que lhe diria então?
— Porquê? — balbuciou Arnau sem deixar de olhar para o horizonte.
— Gasto Segura é... é um homem estranho. — Não podia entristecer ainda mais o rapaz! — Quer um nobre para casar com a filha. Como pode um oficial curtidor pretender tal coisa?
Um nobre. Teria o rapaz acreditado naquilo? Ninguém podia sentir-se menosprezado perante a nobreza. Até o rumor das ondas, constante, paciente, parecia esperar pela resposta de Arnau.
Um soluço ecoou na praia.
O sacerdote passou um braço por cima do ombro de Arnau e sentiu as convulsões do rapaz. Depois, fez o mesmo com Joan, e ficaram ali os três, em frente ao mar.
— Encontrarás uma boa mulher — disse o padre, ao fim de algum tempo.
Mas não como ela, pensou Arnau.
SERVOS DA PAIXÃO
Segundo domingo de Julho de 1339
Igreja de Santa Mana de la Mar, Barcelona
Tinham passado quatro anos desde que Gasto Segura se negara a conceder a mão da sua filha a Arnau, o bastaix. Ao fim de poucos meses, Aledis tinha sido dada em matrimónio a um velho mestre curtidor viúvo, que aceitou com lascívia a falta de dote da rapariga. Até a entregarem ao seu esposo, a rapariga esteve sempre acompanhada pela mãe.
Por seu lado, Arnau tornara-se um homem de dezoito anos, alto, forte e recto. Durante esses quatro anos viveu para a confraria, para a igreja de Santa Maria de la Mar e para o seu irmão Joan — carregava mercadorias e pedras como ninguém, cumpria com a caixa dos bastaixos e participava com devoção nos actos religiosos —, mas não estava casado, e os próceres viam com preocupação o estado de solteiro de um jovem como ele: se caísse na tentação da carne, teriam de expulsá-lo, e era tão fácil que um rapaz de dezoito anos cometesse esse pecado.
No entanto, Arnau não queria ouvir falar de mulheres. Quando o padre lhe dissera que Gasto não queria saber dele, Arnau recordara, olhando para o mar, as mulheres que tinham passado pela sua vida: nem sequer chegara a conhecer a mãe; Guiamona acolhera-o com carinho, mas depois renegara-o; Habiba desaparecera entre sangue e dor — muitas noites ainda sonhava com o chicote de Grau estalando no corpo nu dela; Estranya tratava-o como a um escravo; Margarida troçara dele no momento mais humilhante da sua vida... E Aledis... Que dizer de Aledis? Perto dela, descobrira o homem que trazia dentro de si, mas depois ela abandonara-o.
— Tenho de cuidar do meu irmão — respondia aos próceres cada vez que o problema vinha à baila. — Bem sabem que ele está entregue à Igreja, dedicado a servir a Deus — acrescentava enquanto eles pensavam nas suas palavras —, que melhor propósito há que este? Então, os próceres calavam-se.
Assim viveu Arnau durante esses quatro anos: tranquilo, dedicado ao trabalho, à igreja de Santa Maria, e sobretudo a Joan.
Esse segundo domingo de Julho do ano de 1339 era um dia transcendente para Barcelona. Em Janeiro de 1336 falecera na cidade condal o rei Afonso, o Benigno, e depois da Páscoa desse mesmo ano, foi coroado em Saragoça o seu filho Pedro, que reinava sob o título de Pedro III da Catalunha, IV de Aragão e II de Valência.
Durante quase quatro anos, de 1336 a 1339, o novo monarca não visitara Barcelona, a cidade condal, a capital da Catalunha, e tanto a nobreza como os comerciantes viam com preocupação aquela falta de vontade de prestar homenagem à mais importante das cidades do reino. A aversão do novo monarca para com a nobreza catalã era bem conhecida de todos: Pedro III era filho da primeira mulher do falecido Afonso, Teresa de Entenza, condessa de Urgel e viscondessa de Ager. Teresa falecera antes de o marido ser coroado rei, e Afonso contraíra segundas núpcias com Leonor de Castela, mulher ambiciosa e cruel, de quem tinha tido dois filhos.
O rei Afonso, conquistador da Sardenha, era, não obstante, débil de carácter e influenciável, e a rainha Leonor depressa conseguiu para os seus filhos importantes concessões de terras e títulos. O seu desígnio seguinte foi a perseguição implacável dos enteados, filhos de Teresa de Entenza, herdeiros do trono do pai. Durante os oito anos de reinado de Afonso, o Benigno, e com conhecimento e anuência deste e da sua corte catalã, Leonor dedicou-se a atacar o infante Pedro, então uma criança, e o seu irmão Jaime, conde de Urgel. Apenas dois nobres catalães, Ot de Moncada, padrinho de Pedro, e Vidal de Vilanova, comendador de Montalban, apoiaram a causa dos filhos de Teresa de Entenza e aconselharam o rei Afonso e os próprios infantes a fugirem, a fim de não serem envenenados. Os infantes Pedro e Jaime assim fizeram e esconderam-se nas montanhas de Jaca, em Aragão; depois, conseguiram o apoio da nobreza aragonesa e refúgio na cidade de Saragoça, sob a protecção do arcebispo Pedro de Luna.
Por isso, a coroação de Pedro rompeu uma tradição que se mantinha desde que se tinham unido o reino de Aragão e o principado da Catalunha. Se o ceptro de Aragão era entregue em Saragoça, o principado da Catalunha, que correspondia ao rei na sua qualidade de conde de Barcelona, devia ser entregue na Catalunha. Até à coroação de Pedro III, os monarcas juravam primeiro em Barcelona, para depois serem coroados em Saragoça. Porque se o rei recebia a coroa pelo simples facto de ser monarca de Aragão, como conde de Barcelona só recebia o principado se jurasse lealdade aos foros e tradições da Catalunha, e até então o juramento dos foros considerava-se um trâmite prévio a qualquer coroação, O conde de Barcelona, príncipe da Catalunha, era apenas umprimus inter pares para a nobreza catalã, e assim o demonstrava o juramento de homenagem que recebia: «Nós, que somos tão bons como vós, juramos a vossa mercê, que não é melhor que nós, aceitar-vos como rei e senhor soberano, desde que respeiteis todas as nossas liberdades e leis; se não, não.» Daí que, quando Pedro III ia ser coroado rei, a nobreza catalã se dirigisse a Saragoça, para lhe exigir que primeiro jurasse em Barcelona, como tinham feito os seus antepassados. O rei negou-se, e os Catalães abandonaram a coroação. No entanto, o rei tinha de receber o juramento de fidelidade dos Catalães e, apesar dos protestos da nobreza e das autoridades de Barcelona, Pedro, o Cerimonioso, decidiu fazê-lo na cidade de Lérida, onde em Junho de 1336, depois de jurar os Usatges e foros catalães, recebeu a homenagem.
Nesse segundo domingo de Julho de 1339, o rei Pedro visitava pela primeira vez Barcelona, a cidade que tinha humilhado. Eram três os acontecimentos que levavam o rei a Barcelona: o juramento que como vassalo da coroa de Aragão devia ser-lhe prestado pelo seu cunhado Jaime III, rei de Maiorca, conde do Rossilhão e da Sardenha e senhor de Montpellier; o concílio-geral dos prelados da província tarra-gonense — na qual, para efeitos eclesiásticos, se encontrava incluída Barcelona — e a trasladação dos restos da mártir Santa Eulália da igreja de Santa Maria para a catedral.
Os dois primeiros actos foram levados a cabo sem a presença do povo simples. Jaime III solicitou expressamente que o seu juramento de homenagem não se celebrasse diante do povo, mas sim num local íntimo, na capela do palácio e diante da única presença de um escolhido grupo de nobres. O terceiro acontecimento, no entanto, tornou-se um espectáculo público. Nobres, eclesiásticos e todo o povo reuniram-se, uns para ver e outros, os mais privilegiados para acompanhar o seu rei e a comitiva real, que depois de ouvirem missa na catedral se dirigiram em procissão a Santa Maria, para, daí, regressarem à Sé com os restos da mártir.
Todo o percurso, da catedral até Santa Maria de la Mar, estava cheio de povo, que desejava aclamar o seu rei. Santa Maria já vira coberta a sua abside, trabalhava-se agora nas nervuras da segunda abóbada, e ainda restava uma pequena parte da igreja românica inicial.
Santa Eulália sofreu o martírio na época romana, no ano de 303. Os seus restos repousaram primeiro no cemitério romano, e depois na igreja de Santa Maria de las Arenas, que se construiu sobre a necrópole, assim que o édito do imperador Constantino permitiu o culto cristão. Com a invasão árabe, os responsáveis da pequena igreja decidiram esconder as relíquias da mártir. No ano de 801, quando o rei francês Luís, o Piedoso, libertou a cidade, o então bispo de Barcelona, Frodoí, decidiu procurar os restos da santa. Desde que tinham sido encontrados, descansavam numa pequena arca em Santa Maria.
Apesar de estar coberta de andaimes e materiais de construção, Santa Maria estava esplendorosa para a ocasião. O arcediago de la Mar, Bernat Roseli, juntamente com os membros da junta de obras, nobres, beneficiados e outros membros do clero, todos ataviados nas suas melhores vestes de gala, esperava a comitiva real. O colorido das vestes era espectacular. O sol da manhã de Julho derramava-se em catadupa através das abóbadas e dos vitrais inacabados, fazendo refulgir os dourados e os metais que vestiam os privilegiados, que podiam esperar o rei no interior.
O sol também brilhava no trabalhado punhal rombo de Arnau, pois junto daquelas importantes personagens estavam os humildes bastaixos. Alguns, entre os quais se encontrava Arnau, diante da capela do sacramento, da sua capela; e outros, como guardiães do portão-mor, junto à porta de acesso ao templo, que ainda era o da velha igreja românica.
Os bastaixos, aqueles antigos escravos, ou macips de ribera, gozavam de inúmeros privilégios devido ao que faziam por Santa Maria de la Mar, e Arnau desfrutara-os durante os últimos quatro anos. Além de lhes caber a capela mais importante do templo e de serem os guardiães do portão-mor, as missas das suas festividades celebravam-se no altar-mor, o prócer mais importante da confraria guardava a chave do sepulcro do Altíssimo, nas procissões do Corpus eram os bastaixos os encarregados de levar a Virgem e, a menor altura do que esta, Santa Tecla, Santa Catarina e Sant Macia. E quando um bastaix se encontrava às portas da morte, o Sagrado Víático saía de Santa Maria, fosse a que horas fosse, solenemente, pela porta principal, e debaixo de pálio.
Nessa manhã, Arnau superou, juntamente com os seus companheiros, as barreiras dos soldados do rei que controlavam o trajecto da comitiva; sabia-se invejado pelos numerosíssimos cidadãos que se amontoavam para ver o rei. Ele, um humilde trabalhador portuário, tinha tido acesso a Santa Maria juntamente com os nobres e os ricos mercadores, como um deles. Ao atravessar a igreja para chegar à capela do Santíssimo, deu de frente com Grau Puig, Isabel e os seus três primos, todos com vestes de seda, engalanados a ouro, altivos.
Arnau vacilou. Os cinco olhavam para ele. Baixou os olhos ao passar por eles.
— Arnau — ouviu chamarem-no precisamente quando deixava para trás de si Margarida. Não tinham já ficado satisfeitos por terem arruinado a vida do seu pai? Seriam capazes de humilhá-lo uma vez mais, agora, diante dos seus confrades, na sua igreja? — Arnau — tornou a ouvir.
Levantou os olhos e encontrou Berenguer de Montagut; os cinco Puig estavam a menos de um passo dele.
— Excelência — disse o mestre dirigindo-se ao arcediago de la Mar — apresento-vos Arnau... — «Estanyol», balbuciou Arnau. — Este é o bastaix de quem tanto vos falei. Era apenas uma criança e já carregava pedras para a Virgem. O prelado aprovou com um gesto da cabeça e ofereceu o anel a Arnau, que se inclinou para o beijar. Berenguer de Montagut deu-lhe uma palmada nas costas. Arnau viu como Grau e a sua família se inclinavam diante do prelado e do mestre, mas estes nem se deram conta deles, e seguiram o seu caminho em direcção a outros nobres. Arnau ergueu-se e, com passos firmes e os olhos no deambulatório, afastou-se dos Puig e dirigiu-se à capela do Santíssimo, onde se postou junto dos restantes confrades.
A gritaria da multidão anunciou a chegada do rei e da sua comitiva. O rei Pedro III; o rei Jaime de Maiorca; a rainha Maria, mulher de Pedro; a rainha Elisenda, viúva do rei Jaime, avô de Pedro; os infantes Pedro, Ramón Berenguer e Jaime, os dois primeiros, tios, e o último, irmão do rei; a rainha de Maiorca, também irmã do rei Pedro; o cardeal Rodes, legado papal; o arcebispo de Tarragona; bispos, prelados, nobres e cavaleiros dirigiam-se em procissão para Santa Maria pela Rua de la Mar. Nunca se vira em Barcelona maior leque de personalidades, de luxo e de pompa.
Pedro III, o Cerimonioso, queria impressionar o povo que tinha mantido abandonado durante mais de três anos, e conseguiu. Os dois reis, o cardeal e o arcebispo seguiam debaixo do pálio, levado por diversos bispos e nobres. No provisório altar-mor de Santa Maria, receberam das mãos do arcediago de la Mar a arca com os restos da mártir, sob o olhar atento dos presentes e o contido nervosismo de Arnau. O próprio rei transportou a pequena arca com os restos de Santa Maria até à catedral. Saiu sob pálio e regressou à Sé, onde os restos se inumaram na capela especialmente construída para eles debaixo do altar-mor.
Depois do enterro dos restos de Santa Eulália, o rei celebrou um banquete no seu palácio. Na mesa real, junto a Pedro, acomodaram-se o cardeal, os reis de Maiorca, a rainha de Aragão e a rainha-mãe, os infantes da casa real e vários prelados, até um total de vinte e cinco pessoas; noutras mesas, os nobres e, pela primeira vez na história dos banquetes reais, uma grande quantidade de cavaleiros. Mas não foi só o rei e os seus favoritos quem celebrou o acontecimento: em toda a Barcelona houve festa durante oito dias.
Às primeiras horas da manhã, Arnau e Joan iam à missa e às procissões solenes que percorriam a cidade ao som do repique dos sinos, Depois, como toda a gente, perdiam-se pelas ruas da cidade e assistiam às justas e torneios no Bom, onde os nobres e cavaleiros demonstravam as suas habilidades guerreiras, a pé, armados com as suas grandes espadas, ou a cavalo, lançando-se uns contra os outros a galope, com as lanças apontando aos oponentes. Os dois rapazes ficavam embasbacados a contemplar os simulacros de combates navais. «Fora do mar, parecem muito maiores», comentou Arnau para Joan, apontando para as naus e galeras que, montadas em cima de carros, percorriam a cidade, e onde os marinheiros simulavam abordagens e combates. Joan censurava Arnau com o olhar quando este apostava alguma moeda nas cartas ou aos dados, mas não viu inconveniente em partilhar com ele, sorridente, os jogos de bolas, o bòlit ou a escampella, em que o jovem estudante demonstrou uma habilidade inusitada para acertar nos paus, no caso do primeiro, ou para acertar nas moedas, no caso do segundo.
Mas o que Joan mais apreciava era ouvir, da boca dos muitos trovadores que tinham acorrido à cidade, as grandes gestas guerreiras dos Catalães. «Estas são as crónicas de Jaime I», comentou para Arnau numa ocasião, depois de escutar a história da conquista de Valência. «Esta, a crónica de Bernard Desclot», explicou-lhe doutra vez, quando o trovador pôs fim às histórias guerreiras do rei Pedro, o Grande, na sua conquista da Sicília ou na cruzada francesa contra a Catalunha.
— Hoje temos de ir ao Pia d'en Llull — disse-lhe Joan ao terminar a procissão do dia.
— Porquê?
— Soube que lá vai um trovador valenciano que conhece a Crónica de Ramon Muntaner. — Arnau interrogou-o com o olhar. — Ramon Muntaner é um afamado cronista de Ampurdán que foi chefe dos almogávares na sua conquista dos ducados de Atenas e Neopatria. Há sete anos que escreveu a crónica dessas guerras, e é decerto interessante... Pelo menos, será certa.
O Pia d'en Llull, um espaço aberto entre Santa Maria e o convento de Santa Clara, estava cheio, transbordando de gente. As pessoas tinham-se sentado no chão e conversavam sem tirar os olhos do sítio onde devia aparecer o trovador valenciano; a sua fama era tal, que até alguns nobres tinham acorrido a escutá-lo, acompanhados por escravos carregados com cadeiras para toda a família. «Não estão aqui», disse Joan a Arnau, ao observar como o irmão procurava com receio por entre os nobres. Arnau contara-lhe o encontro com os Puig em Santa Maria. Conseguiram encontrar um bom sítio junto de um grupo de bastaixos que já estava havia algum tempo à espera de que o espectáculo começasse. Arnau sentou-se no chão, não sem antes voltar a olhar para as famílias de nobres, que se destacavam por cima do povo comum.
— Deverias aprender a perdoar — sussurrou-lhe Joan. Arnau limitou-se a contestá-lo com um olhar duro. — O bom cristão...
— Joan — interrompeu-o Arnau —, nunca. Nunca esquecerei o que aquela harpia fez ao meu pai.
Nesse momento, apareceu o trovador, e as pessoas aplaudiram entusiasticamente. Marti de Xàtiva, um homem alto e magro que se movimentava com agilidade e elegância, pediu silêncio com as mãos.
— Vou contar-vos a história de como e porquê seis mil catalães conquistaram o Oriente e venceram os Turcos, os Bizantinos, os Alanos e todos os outros povos que tentaram enfrentá-los.
Os aplausos voltaram a ouvir-se no Pia d'en Llull; Arnau e Joan juntaram-se-lhes.
— Vou contar-vos, ainda, como o imperador de Bizâncio assassinou o nosso almirante Roger de Flor e numerosos catalães que tinha convidado para uma festa... — Alguém gritou: «Traidor!», conseguindo que o público correspondesse com insultos. — Vou contar-vos, por fim, como os catalães se vingaram da morte do seu caudilho e arrasaram o Oriente, semeando a morte e a destruição. Esta é a história da companhia dos almogávares catalães, que no ano de 1305 embarcou sob as ordens do almirante Roger de Flor...
O valenciano sabia como captar a atenção do seu público. Gesticulava, actuava e fazia-se acompanhar por dois ajudantes que, atrás dele, representavam as cenas que narrava. Também forçava o público a actuar.
— Agora, voltarei a falar do César — disse, ao começar o capítulo da morte de Roger de Flor —, que, acompanhado de trezentos homens a cavalo e mil a pé, acorreu a Andrinópolis, convidado por xor Miqueli, filho do imperador, para uma festa em sua honra — nesse momento, o trovador dirigiu-se a um dos nobres mais bem vestidos e pediu-lhe que subisse ao cenário, para representar o papel de Roger de Flor. «Se consegues puxar o público», dissera-lhe o seu mestre, «sobretudo tratando-se de nobres, receberás mais dinheiro.» Perante toda a gente, Roger de Flor foi adulado pelos dois ajudantes durante os seis dias que durou a sua estada em Andrinópolis, e ao sétimo dia xor Miqueli mandou chamar Girgan, chefe dos alanos, e Melic, chefe dos turcópolos, com oito mil homens a cavalo.
O valenciano moveu-se com inquietação pelo cenário. As pessoas começaram a gritar de novo, algumas levantaram-se, e só os seus acompanhantes as impediram de acorrer em defesa de Roger de Flor. O próprio trovador assassinou Roger e o nobre deixou-se cair por terra. As pessoas começaram a clamar por vingança pela traição ao almirante catalão. Joan aproveitou para observar Arnau, que, muito quieto, mantinha o olhar fixo no nobre caído. Os oito mil alanos e turcópolos assassinaram os mil e trezentos catalães que tinham acompanhado Roger de Flor. Os ajudantes mataram-se repetidamente um ao outro.
— Só três escaparam — prosseguiu o trovador, levantando a voz.
— Ramon de Arquer, cavaleiro de Castelló d'Empúries, Ramon de Tous...
A história prosseguiu com a vingança dos Catalães e a destruição da Trácia, da Calcídia, da Macedónia e de Tessália. Os cidadãos de Barcelona exultavam de cada vez que o trovador citava algum destes lugares. «Que a vingança dos Catalães vos aflija!», gritavam repetidamente. Todos tinham participado já nas conquistas dos almogávares quando estes chegaram ao ducado de Atenas. Também aí venceram depois de dar morte a mais de vinte mil homens e de nomearem capitão Roger des Laur, cantou o trovador, e deram-lhe por mulher aquela que fora do senhor de Sola, junto ao castelo de la Sola. O valenciano procurou outro nobre, convidou-o para o cenário e concedeu-lhe uma mulher, a primeira que encontrou entre o público, a quem acompanhou até ao novo capitão.
— E assim — disse o trovador com o nobre e a mulher pela mão —, repartiram entre si a cidade de Tebas e todas as vilas e os castelos do ducado, e deram todas as mulheres como esposas aos da companhia de almogávares, a cada um de acordo com o quanto fosse bom homem.
Enquanto o trovador cantava a Crónica de Muntaner, os ajudantes escolhiam homens e mulheres do público e colocavam-nos em duas filas, frente a frente. Muitos queriam ser escolhidos: estavam no ducado de Atenas, eles eram os catalães que dnham vingado a morte de Roger de Flor. O grupo de bastaixos chamou a atenção dos ajudantes. O único solteiro era Arnau e os seus companheiros fizeram-no levantar-se e apontaram-no como candidato a desfrutar a festa. Os ajudantes escolheram-no para alegria dos seus companheiros, que começaram a aplaudir. Arnau subiu ao cenário.
Quando o jovem se colocou na fila dos almogávares, uma mulher levantou-se de entre o público, cravando os seus imensos olhos castanhos no jovem bastaix. Os ajudantes viram-na. Ninguém podia deixar de reparar nela, bela e jovem como era, e exigindo altivamente que a escolhessem. Quando os ajudantes se dirigiram para ela, um velho mal-humorado agarrou-a pelo braço e tentou fazê-la sentar-se de novo, despertando a troça de toda a gente. A rapariga aguentou os puxões do velho. Os ajudantes olharam para o trovador e este acicatou-os com um gesto; não te preocupes com humilhar alguém, tinham-lhe ensinado, se com isso conseguires ganhar a maioria; e a maioria ria-se do idoso que, já de pé, se debatia com a jovem.
— É a minha mulher — queixou-se a um dos ajudantes, enquanto se debatia com ele.
— Os vencidos não têm esposas — respondeu o trovador de longe. — Todas as mulheres do ducado de Atenas são para os catalães.
O idoso hesitou, momento em que os ajudantes aproveitaram para lhe arrebatar a rapariga e colocá-la na fila das mulheres, entre os vivas da multidão.
Enquanto o trovador prosseguia com a sua representação, entregava as atenienses aos almogávares e fazia levantar gritos de alegria a cada novo casamento, Arnau e Aledís olhavam-se. «Quanto tempo passou, Arnau?», perguntaram-lhe aqueles olhos castanhos. «Quatro anos?» Arnau olhou para os bastaixos, que sorriam e o incitavam; evitou, no entanto, enfrentar Joan. «Olha para mim, Arnau.» Aledis não abrira a boca, mas a sua exigência chegou a Arnau estrondosamente. Arnau perdeu-se nos olhos dela. O valenciano tomou-a pelas mãos e fê-la atravessar o espaço que separava as filas. Pegou na mão de Arnau e apoiou a de Aledis sobre a do bastaix.
Levantou-se um novo clamor. Todos os pares estavam em fila, encabeçada por Arnau e Aledis, e voltados para o público. A jovem sentiu que todo o seu corpo tremia e apertou suavemente a mão de Arnau enquanto o bastaix observava de soslaio o velho que, de pé no meio de toda a gente, o trespassava com o olhar.
— Assim estabeleceram as suas vidas os almogávares — continuou a cantar o trovador, apontando para os casais. — Estabeleceram-se no ducado de Atenas e aí, no distante Oriente, continuam a viver para a grandeza da Catalunha.
O Pia d'en Llull ergueu-se em aplausos. Aledis chamou a atenção de Arnau apertando-lhe a mão. Ambos se entreolharam. «Toma-me, Arnau», pediram-lhe os olhos castanhos. De repente, Arnau sentiu a mão vazia. Aledis tinha desaparecido; o velho tinha-a agarrado pelo cabelo e puxava-a, por entre o público, em direcção a Santa Maria.
— Uma moeda, senhor — pediu-lhe o trovador, aproximando-se dele. O velho cuspiu e seguiu o seu caminho, puxando por Aledis.
— Rameira! Porque fizeste isto?
O velho mestre curtidor ainda tinha força nos braços, mas Aledis não sentiu a bofetada.
— Não... Não sei. As pessoas aos gritos... De repente, senti-me como se estivesse no Oriente... Como ia deixar que o entregassem a outra?
— No Oriente? Puta!
O curtidor agarrou numa tira de couro e Aledis esqueceu Arnau.
— Por favor, Pau. Por favor. Não sei porque o fiz. Juro-te. Perdoa-me, peço-te — Aledis pôs-se de joelhos em frente ao marido e baixou a cabeça. A tira de couro tremeu na mão do idoso.
— Ficarás nesta casa, sem sair dela, até que eu te diga — cedeu o homem.
Aledis não disse mais nada, nem se mexeu até ouvir o ruído da porta que dava para a rua.
Havia quatro anos que o pai a entregara em casamento. Sem qualquer dote, aquele fora o melhor partido que Gasto conseguira para a filha: um velho mestre curtidor, viúvo e sem filhos. «Um dia herdarás», foi a única explicação que lhe deu. Não acrescentou então que ele, Gasto, ocuparia o lugar do mestre e ficaria com o negócio, mas, na sua opinião, as filhas não precisavam de conhecer esses pormenores.
No dia da boda, o velho esperou que a festa terminasse para levar a sua bela mulher para o quarto. Aledis deixou-se despir por umas mãos trémulas e deixou os seios serem beijados por uma boca que se babava. A primeira vez que o idoso lhe tocou, encolheu-se ao sentir o contacto daquelas mãos calejadas e ásperas. Depois, Pau levou-a para a cama e caiu sobre ela, ainda vestido, babando-se, tremendo e agitando-se. O velho chupou-lhe e mordeu-lhe os seios. Beliscou-a nas coxas. Depois, em cima dela, ainda vestido, começou a abanar-se mais depressa e a mexer-se até que um suspiro o levou à quietude e ao sono.
Na manhã seguinte, Aledis perdeu a virgindade sob a torpeza de um corpo frágil e debilitado que a acometia com gana. Perguntou-se se chegaria a sentir algo que não fosse asco.
Aledis observava os jovens aprendizes do seu marido sempre que, por uma ou outra razão, tinha de descer à oficina. Porque não olhavam para ela? Ela via-os. Os seus olhos seguiam os músculos daqueles rapazes e deleitavam-se com as pérolas de suor que lhes nasciam na testa, lhes percorriam os rostos, lhes caíam pelo pescoço e se alojavam nos seus troncos, fortes e poderosos. O desejo de Aledis dançava ao ritmo do movimento constante dos braços deles enquanto curtiam as peles, uma vez e outra, uma vez e depois outra... Mas as ordens do seu marido tinham sido claras: «Dez açoites para quem olhar para a minha mulher pela primeira vez, vinte açoites à segunda vez, a fome à terceira.» E Aledis continuava a perguntar-se, noite após noite, onde estava o prazer de que lhe tinham falado, aquele prazer que a sua juventude reclamava, aquele que jamais lhe poderia ser proporcionado pelo decrépito marido a que a tinham entregado.
Umas noites, o velho mestre arranhava-a com as suas mãos ásperas, outras obrigava-a a masturbá-lo, e outras, apressando-a a ficar disposta antes que a debilidade o impedisse, penetrava-a. Depois, adormecia sempre. Numa dessas noites, Aledis levantou-se em silêncio, tentando não o acordar, mas o velho nem sequer mudou de posição.
Desceu à oficina. As mesas de trabalho, recortadas na penumbra, atraíram-na e passeou entre elas, deslizando os dedos de uma mão sobre os tampos polidos. Não me desejam? Não vos agrado? Aledis sonhava com os aprendizes, passando entre as suas mesas, acariciando-se nos seios e nas nádegas, quando um leve rebrilhar de luz num canto da oficina chamou a sua atenção. Um pequeno nó de uma das tábuas que separavam a oficina do dormitório dos aprendizes tinha caído. Aledis espreitou pelo buraco. Depois afastou-se. Tremia. Voltou a chegar o olho ao buraco. Estavam nus! Por um momento receou que a sua respiração pudesse denunciá-la. Um deles estava a tocar-se, deitado no colchão!
— Em quem estás a pensar? — perguntou o que estava mais perto da parede contra a qual se encontrava Aledis. — Na mulher do mestre?
O outro não respondeu e continuou a friccionar o pénis uma e outra vez... Aledis transpirava. Sem se dar conta, deslizou uma mão para entre as pernas e, olhando para o rapaz que pensava nela, aprendeu a dar-se prazer. Atingiu o clímax antes mesmo do jovem aprendiz e deixou-se cair no chão, com as costas apoiadas na parede.
Na manhã seguinte, Aledis passou em frente à mesa do aprendiz, emanando desejo. Inconscientemente, ficou parada diante da mesa. Por fim, o jovem levantou os olhos por um instante. Ela sabia que o rapaz se tinha masturbado enquanto pensava nela, e sorriu.
A tarde, Aledis foi chamada à oficina. O mestre esperava-a, atrás do aprendiz.
— Querida — disse-lhe o velho quando ela chegou perto dele —, já sabes que não gosto que ninguém distraia os meus aprendizes.
Aledis olhou para as costas do rapaz. Dez finas linhas de sangue atravessavam-nas. Não respondeu. Nessa noite não desceu à oficina, nem na seguinte, nem na outra, mas depois fê-lo, noite após noite, para se acariciar o corpo com as mãos de Arnau. Ele estava só. Os seus olhos tinham-lhe dito isso. Tinha de ser seu!
Barcelona ainda estava em festa.
Era uma casa humilde, como todas as casas dos bastaixos, ainda que aquela fosse a casa de Bartolomé, um dos próceres da confraria. Como a maioria das casas de bastaixos, ficava aninhada nas estreitas ruelas que iam de Santa Maria, do Born ou do Pia d'en Llull até à praia. O piso inferior, onde se encontrava a lareira, era de ladrilho de adobe, e o piso de cima, construído posteriormente, de madeira.
Arnau não parava de engolir em seco perante a comida que a mulher de Bartolomé preparava: pão branco de trigo candial; carne de vitela com verduras, frita com toucinho diante dos comensais numa grande sertã sobre o fogo e temperada com pimenta, canela e açafrão; vinho com mel; queijos e tortas doces.
— Que celebramos? — perguntou, sentado à mesa, com Joan à sua frente, Bartolomé à sua esquerda e o padre Albert à direita.
— Já vais saber — respondeu-lhe o padre.
Arnau virou-se para Joan, mas este limitou-se a ficar calado.
— Já saberás — insistiu Bartolomé. — Agora, come. Arnau encolheu os ombros enquanto a filha mais velha de Bartolomé lhe trazia uma escudela cheia de carne e meio pão.
— A minha filha, Maria — apresentou-a Bartolomé. Arnau moveu a cabeça, com a atenção fixa na escudela.
Quando os quatro homens estavam servidos e o padre benzeu a mesa, começaram a comer, em silêncio. A mulher de Bartolomé, a filha e mais quatro rapazinhos comeram no chão, espalhados pela sala, mas apenas comiam a habitual sopa.
Arnau provou a carne com verduras. Que sabores tão estranhos! Pimenta, canela e açafrão; aquilo era o que comiam os nobres e os ricos mercadores. «Quando nós, barqueiros, descarregamos alguma destas especiarias», tinham-lhe explicado um dia, na praia, «rezamos. Se nos caíssem à água ou se estragassem não teríamos dinheiro para pagar o seu valor; seria prisão certa.» Arrancou um pedaço de pão e levou-o à boca; depois, pegou no copo de vinho com mel... Mas porque olhavam para ele? Os outros três observavam-no, tinha a certeza disso, embora tentassem dissimular. Viu que Joan não levantava os olhos da comida. Arnau voltou a concentrar-se na carne; uma, duas, três colheradas e, de repente, levantou os olhos: Joan e o padre Albert trocavam gestos.
— Então? Que se passa? — Arnau pousou a colher na mesa.
Bartolomé franziu o sobrolho. «Que havemos de lhe fazer?», parecia dizer para os restantes.
— O teu irmão decidiu tomar os hábitos e entrar na ordem dos Franciscanos — disse-lhe então o padre Albert.
— Então era isso — Arnau pegou no copo de vinho e, virando-se para Joan, ergueu-o com um sorriso na boca. — Felicidades!
Mas Joan não brindou com ele. Nem Bartolomé, nem o padre. Arnau ficou parado com o copo erguido. Que se passava? A excepção dos quatro pequenos, que continuavam a comer, alheios a tudo, os restantes estavam à espera dele. Arnau pousou o copo na mesa.
— E então? — perguntou directamente ao irmão.
— Não posso fazê-lo — Arnau fez uma careta... — Não te quero deixar só. Apenas tomarei os hábitos quando vir que estás junto de... uma boa mulher, futura mãe dos teus filhos.
Joan acompanhou as suas palavras com um olhar rápido para a filha de Bartolomé, que escondeu a cara. Arnau suspirou.
— Tens de casar e formar uma família — interveio então o padre Albert.
— Não podes ficar sozinho — repetiu-lhe Joan.
— Sentir-me-ia muito honrado se aceitasses a minha filha Maria como tua mulher — interveio Bartolomé olhando para a jovem, que procurava o amparo da mãe. — És um homem bom e trabalhador, são e devoto. Ofereço-te uma boa mulher, a quem daria um dote suficiente para que pudessem optar por uma casa própria; além disso, sabes que a confraria paga mais dinheiro aos membros casados.
Arnau não se atreveu a seguir o olhar de Bartolomé.
— Procurámos muito e cremos que Maria é a pessoa indicada para ti — acrescentou o cura.
Arnau olhou para o sacerdote.
— Todo o bom cristão deve casar e trazer filhos ao mundo — indicou Joan.
Arnau voltou a cara para o irmão, mas ainda este não tinha acabado de falar quando uma voz à sua esquerda reclamou a sua atenção.
— Não penses mais, filho — aconselhou-o Bartolomé.
— Não tomarei os hábitos enquanto não casares — reiterou Joan.
— Ficaríamos todos muito felizes se te tornasses um homem casado — disse o padre.
— A confraria não veria com bons olhos que te negasses a casar e que, por causa disso, o teu irmão não seguisse o caminho da Igreja.
Ninguém disse mais nada. Arnau cerrou os lábios. A confraria! Já não tinha mais desculpas.
— E então, irmão? — perguntou-lhe Joan.
Arnau virou-se para Joan e encontrou pela primeira vez uma pessoa diferente daquela que conhecera: um homem que o interrogava com seriedade. Como pudera não se ter dado conta? Mantivera-se agarrado àquele sorriso, ao rapazinho que lhe tinha mostrado a cidade, aquele cujas pernas balouçavam de um caixote enquanto o braço da mãe lhe fazia festas na cabeça. Que pouco tinham falado durante os últimos quatro anos! Sempre a trabalhar, a descarregar barcos, a chegar a casa ao anoitecer, arrasado, sem vontade de falar, com o dever cumprido. Certamente, aquele já não era o pequeno Joanet.
— A sério que deixarias de tomar os hábitos por mim? De repente, estavam os dois sós.
— Sim.
Arnau levou uma mão ao queixo e pensou por alguns instantes. A confraria. Bartolomé era um dos próceres; que diriam os seus companheiros? Não podia falhar a Joan, depois de tantos esforços. E além disso, se Joan se fosse embora, que faria ele? Virou-se para Maria.
Bartolomé chamou-a com um gesto e a rapariga aproximou-se timidamente.
Arnau viu uma jovem simples, com o cabelo crespo e uma expressão bondosa.
— Tem quinze anos — ouviu Bartolomé dizer-lhe, quando Maria parou junto da mesa. Observada pelos quatro, a rapariga juntou as mãos no regaço e baixou os olhos para o chão. — Maria — chamou-a o pai.
A rapariga ergueu o rosto para Arnau, corando e apertando as mãos.
Dessa vez, foi Arnau quem desviou os olhos. Bartolomé ficou preocupado ao ver como ele afastava o olhar. A jovem suspirou. Choraria? Ele não queria ofendê-la.
— De acordo — afirmou.
Joan ergueu o copo, a que rapidamente se juntaram os de Bartolomé e do padre. Arnau pegou no seu.
— Fico muito feliz — disse-lhe Joan.
— Pelos noivos! — exclamou Bartolomé.
Cento e sessenta dias por ano! Por prescrição da Igreja, os cristãos tinham de guardar abstinência cento e sessenta dias por ano, e em todos esses dias, Aledis, como todas as outras mulheres de Barcelona, descia à praia, junto a Santa Maria, para comprar peixe numa das duas peixarias da cidade condal: a nova ou a velha.
Onde estás? Assim que via algum barco, Aledis olhava para a orla do mar, onde os barqueiros recolhiam ou descarregavam as mercadorias. Onde estás, Arnau? Um dia ou outro já o vira, com os músculos em tensão, como se quisessem rasgar a pele que os cobria. Santo Deus! Então Aledis estremecia e começava a contar as horas que restavam para o anoitecer, quando o marido adormeceria e ela poderia descer à oficina para estar com ele, com a sua recordação ainda fresca. A força de abstinências, Aledis acabou por ficar a conhecer a rotina dos bastaixos: quando não descarregavam algum barco, transportavam pedras para Santa Maria e, depois da primeira viagem, a fila de bastaixos desfazia-se e cada um fazia o seu caminho por sua conta, sem esperar pelos restantes. Nessa manhã, Arnau regressava para vir buscar outra pedra. Sozinho. Era Verão e Arnau seguia, gingando, com a capçana na mão. Com o tronco nu! Aledis viu-o passar em frente à peixaria. O sol reflectia-se no suor que cobria todo o corpo de Arnau, e sorria, sorria a quem quer que se cruzasse com ele. Aledis separou-se da fila. Arnau! O grito queria escapar-se dos seus lábios. Arnau! Não podia. As mulheres que estavam na fila estavam a olhar para ela. A velha que esperava vez atrás dela fez-lhe notar o espaço que a separava da mulher que estava à sua frente; Aledis fez-lhe sinal para que passasse à sua frente. Como distrair as atenções de todas aquelas curiosas? Simulou um vómito. Alguém se aproximou para a ajudar, mas Aledis recusou. Então, sorriram. Outro vómito, e Aledis saiu a correr enquanto algumas grávidas gesticulavam entre si.
Arnau ia para Montjuic, à pedreira, pela praia. Como poderia alcançá-lo? Aledis correu pela Rua de la Mar até à Praça do Blat, e daí, virando à esquerda sob o antigo portão da muralha romana, junto ao palácio do corregedor, seguiu sempre em frente até à Rua da Boquería e à porta do mesmo nome. Tinha de o alcançar. As pessoas olhavam-na; alguém a reconheceria? Não queria saber! Arnau ia sozinho. A rapariga atravessou a Porta da Boquería e voou pelo caminho que levava até Montjuic. Ele tinha de estar por ali... — Arnau! — Desta vez gritou mesmo. Arnau parou a meio da subida para a pedreira e virou-se para a mulher que corria para ele.
— Aledis! Que fazes aqui?
Aledis recuperou o fôlego. Que havia de lhe dizer agora?
— Passa-se alguma coisa, Aledis? Que havia de lhe dizer?
Dobrou-se pela cintura, agarrando-se ao estômago, e simulou outro vómito. Porque não? Arnau aproximou-se dela e tomou-a pelos braços. Esse simples contacto fez a rapariga estremecer.
— Que tens tu?
Que mãos! Agarravam-na com força, e cada uma cobria-lhe quase todo o antebraço. Aledis ergueu o rosto, encontrou o peito de Arnau, ainda suado, e aspirou o aroma.
— Que tens tu? — insistiu Arnau, tentando que ela se erguesse. Aledis aproveitou o momento e abraçou-se a ele.
— Santo Deus! — sussurrou.
Escondeu a cabeça no pescoço dele e começou a beijá-lo e a lamber-lhe o suor.
— Que fazes?
Arnau tentou afastá-la, mas a rapariga agarrava-se a ele.
Umas vozes que começavam a ouvir numa curva do caminho assustaram Arnau. Os bastaixos! Como poderia explicar? Talvez fosse o próprio Bartolomé. Se o encontrassem ali, com Aledis abraçada a ele, a beijá-lo... Expulsá-lo-iam da confraria! Arnau agarrou Aledis pela cintura e saiu do caminho, para se esconder nuns matagais; aí, tapou-lhe a boca com uma mão.
As vozes aproximaram-se e passaram de largo, mas Arnau não lhes prestou atenção. Estava sentado no chão, com Aledis em cima dele; agarrava-a pela cintura com uma mão e com a outra tapava-lhe a boca. A rapariga olhava-o. Aqueles olhos castanhos! De repente, Arnau deu-se conta de que a estava a abraçar. A sua mão apertava o estômago de Aledis, e os seios dela... Os seios dela balançavam-se contra ele, movendo-se convulsivamente. Quantas noites teria sonhado abraçá-la? Quantas noites teria fantasiado com o corpo dela? Aledis não se debatia; limitava-se a olhá-lo, trespassando-o com os seus enormes olhos castanhos.
Destapou-lhe a boca.
— Preciso de ti — ouviu os lábios dela a sussurrar.
Depois, esses lábios aproximaram-se dos dele e beijaram-no, doces, suaves, desejosos.
O sabor dela! Arnau estremeceu.
Aledis tremia.
O sabor dela, o corpo dela... o desejo dela.
Nenhum dos dois pronunciou mais palavras. Nessa noite, Aledis não desceu para espiar os aprendizes.
Havia mais de dois meses que Maria e Arnau tinham casado em Santa Maria de la Mar, numa celebração oficiada pelo padre Albert e em presença de todos os membros da confraria, de Pere e de Mariona, e de Joan, já tonsurado e vestido com o hábito dos Franciscanos. Com a garantia de aumento de salário que correspondia aos confrades casados, escolheram uma casa em frente à praia e mobilaram-na com a ajuda da família de Maria e de todos quantos quiseram colaborar com o jovem casal, e que foram muitos. Arnau não teve de fazer nada. A casa, os móveis, as escudelas, a roupa, a comida, tudo apareceu pela mão de Maria e da sua mãe, que insistiam em que ele descansasse. Na primeira noite, Maria entregou-se ao marido, sem voluptuosidade, mas sem reparos. Na manhã seguinte, quando Arnau acordou, ao amanhecer, o pequeno-almoço estava pronto: ovos, leite, carne salgada, pão. Ao meio-dia, a cena repetiu-se, e à noite também, e no dia seguinte, e no outro. Maria tinha sempre a comida feita para Arnau. Descalçava-o. Lavava-o e curava-lhe as feridas com delicadeza. Maria estava sempre disposta na cama. Dia após dia, Arnau encontrava tudo o que um homem podia desejar: comida, limpeza, obediência, atenção e o corpo de uma mulher bonita e jovem. Sim, Arnau; não, Arnau. Maria nunca discutia com ele. Se ele queria uma vela, Maria deixava tudo o que estivesse a fazer para ir buscar-lha. Se Arnau praguejava, Maria corria a precipitar-se sobre ele. Quando Arnau respirava, Maria corria a trazer-lhe ar.
Chovia torrencialmente. Escureceu de repente e a tormenta provocava relâmpagos que atravessavam com violência as nuvens negras e iluminavam o mar. Arnau e Bartolomé, encharcados, encontraram-se na praia. Todos os barcos tinham abandonado o perigoso porto de Barcelona para procurarem refúgio em Salou. A pedreira real estava fechada. Nesse dia, os bastaixos não tinham trabalho.
— Como vão as coisas, filho? — perguntou Bartolomé ao genro.
— Bem. Muito bem, mas...
— Há algum problema?
— E só que... Não estou acostumado a que me tratem tão bem como o faz Maria.
— Foi para isso que a educámos — respondeu Bartolomé com satisfação.
— É demasiado...
— Bem te disse que não te arrependerias de casar com ela — Bartolomé olhou para Arnau. — Vais ver que te habituas. Aproveita a tua mulher.
Estavam nisto quando chegaram à Rua das Dames, uma pequena ruela que desembocava na própria praia. Aí, mais de uma vintena de mulheres, jovens e velhas, bonitas e feias, sãs e doentes, mas todas pobres, passeavam debaixo de chuva.
— Vê-las? — disse Bartolomé apontando para as mulheres.
— Sabes o que esperam? — Arnau negou com a cabeça. — Em dias de temporal como hoje, quando os pilotos solteiros dos pesqueiros já esgotaram todos os seus recursos de marinhagem, quando já se encomendaram a todos os santos e virgens e, no entanto, não conseguiram capear o temporal, só lhes resta um recurso. As tripulações sabem-no, e exigem-no. Chegado esse momento, o piloto jura perante Deus em voz alta e na presença da sua tripulação que, se conseguir fazê-los arribar todos sãos e salvos, o pesqueiro e os seus homens, ao seu porto, casará com a primeira mulher que vir assim que pisar terra. Percebes, Arnau? — Arnau olhou de novo para a vintena de mulheres que se moviam, inquietas, rua acima, rua abaixo, olhando para o horizonte. — As mulheres nasceram para isto, para o casamento, para servirem o homem. Foi assim que educámos Maria, e foi assim que ta entreguei.
Os dias decorriam e Maria continuava dedicada a Arnau, mas este só pensava em Aledis.
— Essas pedras vão desfazer-te as costas — comentou Maria enquanto lhe fazia uma massagem, ajudada por um unguento, na ferida que Arnau mostrava à altura da omoplata.
Ele não respondeu.
— Esta noite vou arranjar-te a capçana. Não posso deixar que as pedras te façam cortes como estes.
Arnau não respondeu. Tinha chegado a casa quando era já noite. Maria descalçou-o, serviu-lhe um copo de vinho e obrigou-o a sentar-se para lhe massajar as costas, como durante toda a sua infância vira a mãe fazer ao pai. Arnau deixou-a fazer o que queria, como sempre. Agora escutava-a em silêncio. Aquela ferida nada tinha que ver com as pedras da Virgem, nem com a capçana. Maria estava a limpar e a curar a ferida da vergonha, o arranhão de outra mulher a quem Arnau não era capaz de renunciar.
— Essas pedras dão-vos cabo das costas a todos — repetiu a sua esposa.
Arnau bebeu um trago de vinho enquanto notava como as mãos de Maria percorriam as suas costas com delicadeza.
Desde que o marido a chamara à oficina para lhe mostrar as feridas do aprendiz que tinha ousado olhar para ela, Aledis limitava-se a espiar os jovens da oficina. Descobriu que muitas vezes eles iam durante a noite para a horta, onde se encontravam com mulheres que saltavam o muro para se reunirem com eles. Os rapazes tinham acesso ao material, às ferramentas e aos conhecimentos necessários para fabricarem uma espécie de capuzes de couro muito fino que, devidamente oleados, se acoplavam ao pénis antes de fornicar com a mulher. A certeza de que não iam ficar grávidas, juntamente com a juventude dos amantes e a escuridão da noite, era uma tentação irreprimível para muitas mulheres que desejavam uma aventura anónima. Aledis não teve dificuldade em entrar no dormitório dos aprendizes e roubar alguns daqueles capuzes; a ausência de risco nas suas relações com Arnau deu rédea-solta à sua luxúria.
Aledis disse-lhe que com aqueles capuzes não teriam filhos e Arnau via como ela os fazia deslizar ao longo do seu pénis. Seria a gordura que depois lhe ficava no membro? Seria um castigo por se opor aos desígnios da divina natureza? Maria não engravidava. Era uma rapariga forte e saudável. Que outra razão senão os pecados de Arnau poderia impedir que engravidasse? Que outro motivo poderia levar o Senhor a não o premiar com o desejado filho? Bartolomé precisava
de um neto. O padre Albert e Joan queriam ver Arnau tornar-se pai. A confraria inteira esperava ansiosa pelo momento em que os jovens cônjuges anunciassem a boa-nova; os homens faziam gracejos com Arnau e as mulheres dos bastaixos visitavam Maria para a aconselharem e para lhe contarem as excelências da vida familiar.
Arnau também desejava ter um filho.
— Não quero que me ponhas isso — opôs-se numa das vezes em que Aledis o assediou no caminho para a pedreira. Aledis não se demoveu.
— Não pretendo perder-te — disse-lhe. — Antes que isso aconteça, abandonarei o velho e reclamar-te-ei. Todo o mundo há-de saber o que houve entre nós, cairás em desgraça, serás expulso da confraria e provavelmente da cidade, e então só me terás a mim; só eu estarei disposta a seguir-te. Não consigo ver a minha vida sem ti, sentenciada como estou para toda a vida a ficar ao lado de um velho gordo e incapaz.
— Arruinarias a minha vida? Porque havias de fazer isso?
— Porque sei que no fundo me amas — respondeu Aledis com determinação. — Na realidade só te estaria a ajudar a dar um passo que tu não te atreves a dar.
Escondidos por entre o matagal da ladeira da montanha de Montjuic, Aledis fez deslizar o capuz sobre o membro do seu amante. Arnau observou-a. Seriam verdadeiras as palavras dela? Seria verdade que no fundo desejava viver com Aledis, abandonar a sua mulher e tudo o que tinha para fugir com ela? Se ao menos o seu membro não se mostrasse tão disposto... Que teria aquela mulher que era capaz de anular a sua vontade? Arnau esteve tentado a contar-lhe a história da mãe de Joan; a possibilidade de que, se revelasse as suas relações, fosse o velho a reclamar dela e a emparedá-la para o resto da vida; mas em vez disso, pôs-se em cima dela... mais uma vez. Aledis sacudiu-se ao ritmo dos empurrões de Arnau. O bastaix, no entanto, só podia ouvir os seus medos: Maria, o trabalho, a confraria, Joan, a desonra, Maria, a sua Virgem, Maria, a sua Virgem...
Do seu trono, o rei Pedro levantou uma mão. Flanqueado pelo seu tio e pelo seu irmão, os infantes D. Pedro e D. Jaime, de pé à sua direita, e pelo conde de Terranova e pelo padre Ot de Monteada à esquerda, o rei esperou que os restantes membros do conselho guardassem silêncio. Encontrava-se no palácio real de Valência, onde tinham recebido Pere Ramon de Codoler, mordomo e mensageiro do rei Jaime de Maiorca. Segundo o senhor de Codoler, o rei de Maiorca, conde de Rossilhão e da Sardenha e senhor de Montpellier, decidira declarar a guerra a França pelas constantes afrontas que os Franceses tinham desferido contra o seu senhorio e, como vassalo de Pedro, requeria que no dia 21 de Abril do ano seguinte de 1341 o seu senhor estivesse em Perpignan, ao comando dos exércitos catalães, para o ajudar e defender na guerra contra a França.
Durante toda aquela manhã, o rei Pedro e os seus conselheiros estudaram a solicitação do vassalo. Se não acorressem em ajuda do rei de Maiorca, este negaria a sua vassalagem e ficaria livre; mas se o fizessem — e todos estavam de acordo nisto — cairiam numa armadilha: assim que os exércitos catalães entrassem em Perpignan, Jaime aliar-se-ia ao rei de França contra eles.
Quando se fez silêncio, o rei falou:
— Todos haveis estado a pensar sobre este assunto, tentando encontrar a maneira de poder negar ao rei de Maiorca o requerimento que nos fez. Creio que já a encontrámos: vamos para Barcelona e convoquemos as Cortes; e uma vez convocadas estas, exigiremos ao rei de Maiorca que esteja no dia 25 de Março nessas Cortes, como é sua obrigação. E que poderá acontecer então? Que ele lá estará, ou não. Se estiver, terá feito o que lhe compete e, nesse caso, nós, seja como for, teremos de cumprir com o que nos peça... — Alguns conselheiros remexeram-se, inquietos; se o rei de Maiorca aparecesse nas Cortes, entrariam em guerra contra a França, ao mesmo tempo que contra Génova! Houve mesmo quem se atrevesse a contestar em voz alta, mas Pedro pediu tranquilidade com uma mão e sorriu antes de prosseguir, elevando a voz: — E procuraremos o conselho dos nossos vassalos, que decidirão o que será melhor fazermos. — Alguns conselheiros juntaram-se ao sorriso do rei, e outros assentiram com a cabeça. As Cortes eram competentes em matéria de política catalã e podiam decidir se se iniciava ou não uma guerra. Não seria, pois, o rei quem negaria ajuda ao seu vassalo, mas sim os nobres da Catalunha. — Se ele não vier — prosseguiu Pedro —, terá rompido a vassalagem e, nesse caso, não estaremos obrigados a ajudá-lo, nem a meter-nos em guerra por ele contra o rei de França.
Barcelona, 1341
Nobres, eclesiásticos e representantes das cidades livres do principado, os três braços que compunham as Cortes, tinham-se reunido na cidade condal, enchendo as ruas de cores e adornando-a com as sedas de Almería, de Barbaria, de Alexandria ou de Damasco; de lãs de Inglaterra ou de Bruxelas, da Flandres ou de Malinas; de Orlanda ou da fantástica roupa de bisso negro, tudo adornado com brocados de fios de ouro ou prata formando belos desenhos.
No entanto, Jaime de Maiorca ainda não tinha chegado à capital do principado. Desde havia alguns dias, barqueiros, bastaixos e outros trabalhadores portuários preparavam-se, depois de terem sido avisados pelo corregedor, para a possibilidade de o rei de Maiorca decidir vir às Cortes. O porto de Barcelona não estava preparado para o desembarque de grandes personalidades, que não se deixariam ir em bolandas nas humildes barcas dos barqueiros, como faziam os mercadores para não molharem as suas vestes. Por isso, quando alguma personagem arribava a Barcelona, os barqueiros enfileiravam as suas barcas, umas contra as outras, da orla até bem entrado no mar, e sobre elas construíam uma ponte para que reis e príncipes acedessem à praia de Barcelona com a solenidade que lhes cabia.
Os bastaixos, com Arriau entre eles, transportaram para a praia as grandes pranchas de madeira necessárias para construir a ponte e, como muitos dos cidadãos que se aproximavam da praia, como muitos dos nobres das Cortes que também o faziam, perscrutavam o horizonte em busca das galeras do senhor de Maiorca. As Cortes de Barcelona tinham-se tornado o objecto de todas as conversas; o pedido de ajuda do rei de Maiorca e o estratagema do rei Pedro estavam na boca de todos os barceloneses.
— É de supor — comentou um dia Arnau ao padre Albert, enquanto acendia as velas da capela do Santíssimo — que se toda a cidade sabe o que o rei Pedro pensa fazer, também Jaime já o saberá. Para que havemos então de o esperar?
— Por isso mesmo ele não virá - respondeu o padre, sem parar de limpar a capela.
— Então?
Arnau olhou para o padre, que se deteve e fez um gesto de preocupação.
— Receio bem que a Catalunha entre em guerra com Maiorca.
— Outra guerra?
— Sim. É bem conhecida a obsessão do rei Pedro por reunificar os antigos reinos catalães que Jaime I, o Conquistador, dividiu entre os seus herdeiros. Desde então, os reis de Maiorca não têm feito outra coisa a não ser atraiçoar os Catalães; ainda nem há cinquenta anos Pedro, o Grande, teve de vencer Franceses e Maiorquinos no desfiladeiro de Panissars. Depois, conquistou Maiorca, o Rossilhão e a Sardenha, mas o Papa obrigou-o a devolver tudo a Jaime II. — O padre virou-se para Arnau. — Vai haver guerra, Arnau, não sei quando nem porquê, mas vai haver guerra.
Jaime de Maiorca não veio às Cortes. O rei concedeu-lhe um novo prazo de três dias, mas decorrido esse tempo, as galeras dele ainda não tinham chegado ao porto de Barcelona.
— Aí tens o porquê — comentou nesse dia o padre Albert para Arnau. — Continuo a não saber quando será, mas já temos o porquê.
Ao encerrar as Cortes, Pedro II mandou iniciar um processo legal contra o seu vassalo, por desobediência, a que, para além disso, acrescentou a acusação de que nos condados de Rossilhão e da Sardenha se cunhava moeda catalã, quando só em Barcelona se podia cunhar a moeda real.
Jaime de Maiorca continuou a não fazer caso, mas o processo, dirigido pelo corregedor de Barcelona, Arnau d'Erill, assistido por Felip de Montroig e Arnau Çamorera, vice-chanceler real, prosseguiu à revelia, sem a presença do senhor de Maiorca, que começou a mostrar-se nervoso quando os seus conselheiros lhe comunicaram quais poderiam ser os resultados: o apresamento dos seus reinos e condados. Então, Jaime procurou a ajuda do rei de França, a quem prestou homenagem, e do Papa, para que servisse de mediador com o seu cunhado rei Pedro.
O Sumo Pontífice, defensor da causa do senhor de Maiorca, solicitou a Pedro um salvo-conduto para Jaime, a fim de que este, sem perigo para si e para os seus, pudesse dirigir-se a Barcelona para se desculpar e defender-se das acusações que lhe eram imputadas. O rei não podia recusar os desejos do Papa e concedeu o salvo-conduto, mas não sem antes solicitar que, de Valência, lhe mandassem quatro galeras sob o comando de Mateu Mercer, para que vigiassem as galeras do senhor de Maiorca.
Toda a cidade de Barcelona acorreu ao porto quando as velas das galeras do rei de Maiorca apareceram no horizonte. A frota capitaneada por Mateu Mercer esperava-as, armada, tal como a de Jaime III. Arnau d'Erill, corregedor da cidade, ordenou aos trabalhadores do porto que iniciassem a construção da ponte; os barqueiros atravessaram as suas barcas e os homens começaram a unir as pranchas de madeira por cima delas.
Quando as galeras do rei de Maiorca fundearam, os restantes barqueiros acorreram à galera real.
— Que se passa? — perguntou um dos bastaixos, ao ver que o estandarte real continuava içado a bordo e que apenas um nobre descia para a barca.
Arnau estava encharcado, tal como todos os seus companheiros. Todos olharam para o corregedor, que mantinha o olhar fixo na barca que se aproximava da praia.
Pela ponte só desembarcou uma pessoa: o visconde de Evol, um nobre do Rossilhão ricamente vestido e desarmado, que se deteve antes de pisar a praia, ainda sobre as pranchas. O corregedor foi ao seu encontro e, da areia, escutou as explicações de Evol, que não parava de apontar para Framenors e depois para as galeras do senhor de Maiorca. Quando a conversa terminou, o visconde regressou à galera real e o corregedor desapareceu em direcção à cidade; daí a pouco, regressava com instruções do rei Pedro.
— O rei Jaime de Maiorca — gritou, para que todos pudessem ouvir — e sua mulher, Constança, rainha de Maiorca, irmã do nosso bem-amado rei Pedro, ficarão alojados no convento de Framenors. É preciso construir uma ponte de madeira, fixa, coberta dos lados e com tecto, do local onde as galeras estão fundeadas até aos aposentos reais.
Um murmúrio elevou-se na praia, mas a severa expressão do corregedor calou-o. Depois, a maioria dos trabalhadores do porto virara-se para o convento de Framenors, que se elevava, imponente, sobre a linha da costa.
— É uma loucura — ouviu Arnau alguém dizer no grupo de bastaixos.
— Se se levantar um temporal, não se aguentará — vaticinou outro.
— Fechada e com tecto! Para que quererá o rei de Maiorca uma ponte assim?
Arnau virou-se para o corregedor precisamente quando Berenguer de Montagut chegava à praia. Arnau d'Erill apontou o convento de Framenors ao mestre-de-obras e, depois, com a mão direita, traçou a linha imaginária desse ponto até ao mar.
Arnau, bastaixos, barqueiros e carpinteiros de mar, calafates, remadores, ferreiros e cordoeiros permaneceram em silêncio quando o corregedor terminou as suas explicações e o mestre ficou pensativo.
Por ordem do rei, suspenderam-se as obras de Santa Maria e da catedral, e todos os operários foram destinados à construção da ponte. Sob a supervisão de Berenguer de Montagut, desmontou-se parte dos andaimes do templo, e nessa mesma manhã os bastaixos começaram a transportar materiais para Framenors.
— Que disparate — comentou Arnau para Ramon, enquanto ambos carregavam um pesado tronco. — Cansamo-nos a carregar pedras para Santa Maria, e agora desmontamos tudo, por causa do capricho...
— Cala-te! — instou-o Ramon. — Estamos a fazer isto por ordem do rei; ele lá saberá porquê.
A força de remos, as galeras do rei de Maiorca, sempre vigiadas de perto pelas valencianas, colocaram-se em frente a Framenors, fundeadas a considerável distância do convento. Carpinteiros e pedreiros começaram a montar um andaime encostado à fachada de mar do convento, uma imponente estrutura de madeira que descia até à orla, enquanto os bastaixos, ajudados por todos os que não tivessem uma tarefa concreta, iam e vinham de Santa Maria, carregando troncos e tábuas.
Ao anoitecer suspenderam-se os trabalhos. Arnau chegou a casa praguejando.
— Nunca o nosso rei pediu semelhante loucura; ele próprio se conforma com a ponte tradicional, sobre as barcas. Porque há-de permitir semelhante capricho a um traidor?
Mas as suas palavras foram-se apagando, e os seus pensamentos mudaram, ao sentir a massagem que Maria lhe dava nos ombros.
— Tens as feridas melhores — comentou a rapariga. — Há quem use gerânios com framboesa, mas nós sempre confiámos na sempre-viva. A minha avó curava o meu avô com ela, e a minha mãe o meu pai...
Arnau fechou os olhos. Sempre-viva? Havia dias que não via Aledis. Era essa a única razão das suas melhoras!
— Porque tens os músculos tão tensos? — repreendeu--o Maria, interrompendo-lhe os pensamentos. — Descontrai-te, tens de te descontrair para que...
Arnau continuou a não a ouvir. Para quê? Descontrair-se para que pudesse curar as feridas causadas por outra mulher? Se ao menos ela se zangasse...
Mas em vez de lhe gritar, Maria voltou a entregar-se-lhe nessa noite: procurou-o com carinho e ofereceu-se com doçura. Aledis não sabia o que era a doçura. Fornicavam como animais! Arnau aceitou-a, de olhos fechados. Como poderia olhar para ela? A rapariga acariciou-lhe o corpo... e a alma. Transportou-o ao prazer, a um prazer tanto mais doloroso quanto maior era.
De madrugada, Arnau levantou-se, para ir para Framenors. Maria já estava lá em baixo, junto ao fogo, trabalhando para ele.
Durante os três dias que as obras de construção da ponte duraram, nenhum membro da corte do rei de Maiorca abandonou as galeras; os valencianos também não o fizeram. Quando a estrutura encostada a Framenors ultrapassou a praia e tocou na água, os barqueiros agruparam-se, para permitir o transporte dos materiais. Arnau trabalhou sem descanso; se parasse, as mãos de Maria voltavam a acariciar--lhe o corpo, esse mesmo corpo que dias antes tinha sido mordido e arranhado por Aledis. Das barcas, os operários introduziam as estacas no fundo do porto de Barcelona, sempre dirigidos por Berenguer de Montagut, que, de pé na proa de uma barca, ia de um lado para outro comprovar a resistência dos pilares antes de permitir que se colocasse carga sobre eles.
Ao terceiro dia, a ponte de madeira, de mais de cinquenta metros de comprimento, coberta dos lados, rompeu a diáfana visão do porto da cidade condal. A galera real aproximou-se do extremo e, ao fim de uns instantes, Arnau e todos os que tinham estado na sua construção ouviram as pisadas do rei e do seu séquito sobre as pranchas de madeira; muitos levantaram as cabeças.
Já em Framenors, Jaime fez chegar um mensageiro ao rei Pedro, para lhe notificar que a rainha Constança e ele tinham adoecido devido às inclemências da travessia marítima, e que a sua irmã lhe rogava que fosse ao convento visitá-la. O rei estava disposto a fazer a vontade de Constança, quando o infante D. Pedro se lhe apresentou, acompanhado de um jovem frade franciscano.
— Fala, frade — ordenou o monarca, visivelmente irritado por ter de adiar a visita à irmã.
Joan encolheu-se, de tal forma que nem parecia ser mais alto uma cabeça que o próprio rei. «É muito baixinho», tinham dito a Joan, «e nunca se apresenta aos seus cortesãos de pé.» No entanto, dessa vez estava de pé e olhava directamente nos olhos de Joan, trespassando-o. Joan balbuciou.
— Fala — instou-o o infante D. Jaime. Joan começou a transpirar profusamente e notou como o hábito, embora áspero, se lhe colava ao corpo. E se a mensagem não fosse certa? Pela primeira vez pensou nisso. Ouvira-o da boca do velho frade que desembarcara com o rei de Maiorca e não esperou nem um momento. Saíra a correr em direcção ao palácio real, tivera de se debater com a guarda porque se negava a transmitir a mensagem a alguém a não ser o monarca, e depois cedera diante do infante D. Pedro. Mas agora... E se não fosse verdade? E se não fosse mais do que outro ardil do senhor de Maiorca?
— Por Deus! Fala! — gritou-lhe o rei. Joan falou de supetão, quase sem respirar.
— Majestade, não deveis ir visitar a vossa irmã, a rainha Constança. É uma armadilha do rei Jaime de Maiorca. Com a desculpa de a sua mulher estar tão débil e doente, o esbirro encarregado de guardar a porta dos aposentos da rainha tem ordens para não deixar passar mais ninguém, a não serdes vós e os infantes D. Pedro e D. Jaime. Mais ninguém poderá aceder aos aposentos da rainha; lá dentro, estarão à vossa espera uma dúzia de homens armados que vos farão prisioneiros, vos levarão pela ponte para as galeras, e partirão para
Maiorca, para o castelo de Alaró, onde eles vos manterão cativos até que liberteis o rei Jaime de toda a vassalagem e lhe concedais novas terras na Catalunha.
Já estava!
Semicerrando os olhos, o rei perguntou-lhe:
— E como é que um jovem frade como tu sabe de tudo isto?
— Contou-mo Fra Berenguer, parente de vossa Majestade.
— Fra Berenguer?
- Pedro assentiu em silêncio e o rei pareceu recordar-se subitamente do seu parente.
— Fra Berenguer — prosseguiu Joan — recebeu em confissão, da parte de um traidor arrependido, o encargo de vo-lo transmitir, mas como está já muito velho e não se consegue mover com agilidade, confiou em mim para esta missão.
— Para isso queria a ponte fechada — interveio D. Jaime. — Se nos prendessem em Framenors, ninguém se daria conta do sequestro.
— Seria fácil — acrescentou o infante D. Pedro, concordando com a cabeça.
— Bem sabeis — disse o rei, dirigindo-se aos infantes — que se a minha irmã, a rainha, está doente, não posso deixar de a ir ver quando está nos meus domínios. — Joan escutava, sem se atrever a olhar para eles. O rei calou-se por alguns instantes. — Marcarei a minha visita para esta noite, mas preciso... Ouves-me, frade? — Joan agitou-se. — Preciso de que esse penitente arrependido nos permita revelar publicamente a traição. Enquanto for segredo de confissão, terei de ir ver a rainha. Vai — ordenou-lhe.
Joan regressou, correndo, a Framenors e transmitiu o pedido real a Fra Berenguer. O rei não compareceu ao encontro e, para sua tranquilidade, acontecimento que Pedro entendeu como uma protecção da divina providência, declarou-se-lhe uma infecção no rosto, perto do olho, que teve de ser sangrada e que o obrigou a permanecer de cama durante alguns dias, os suficientes para Fra Berenguer conseguir do seu confessante a autorização solicitada por D. Pedro.
Desta vez, Joan não duvidou nem por um momento da veracidade da mensagem.
— A penitente de Fra Berenguer é a vossa própria irmã — comunicou Joan ao rei, assim que foi levado à presença dele —, a rainha Constança, que vos solicita que a façais vir para o palácio, por sua vontade ou à força. Aqui, longe da autoridade do marido e sob a vossa protecção, revelar-vos-á a traição com todos os pormenores.
O infante D. Jaime, acompanhado de um batalhão de soldados, apresentou-se em Framenors para cumprir os desejos de Constança. Os frades deram-lhe passagem e o infante e os seus soldados apresentaram-se directamente diante do rei. De pouco serviram as queixas deste; Constança partiu para o palácio real.
De pouco serviu também ao rei de Maiorca a visita subsequente que fez ao seu cunhado, o Cerimonioso.
— Pela palavra dada ao Papa — disse-lhe o rei Pedro —, respeitarei o vosso salvo-conduto. A vossa mulher ficará aqui, sob a minha protecção. Abandonai o meu reino.
Assim que Jaime de Maiorca partiu com as suas quatro galeras, o rei ordenou a Arnau d'Erill que acelerasse o processo instaurado ao seu cunhado, e daí a pouco o corregedor de Barcelona ditava a sentença segundo a qual as terras do vassalo infiel, julgado à revelia, passavam a estar sob o poder do rei Pedro; o Cerimonioso já tinha a desculpa que legitimava que declarasse guerra ao rei de Maiorca.
Entretanto, o rei, exultante perante a possibilidade de voltar a unir os reinos que o seu antepassado Jaime, o Conquistador, dividira, mandou chamar o jovem frade que lhe tinha revelado a trama.
— Serviste-nos bem e fielmente — disse-lhe o rei, desta vez já sentado no seu trono. — Concedo-te uma graça.
Joan já sabia da intenção do rei; os seus mensageiros já lho tinham comunicado. E pensou sobre isso longamente. Vestia o hábito franciscano por indicação dos seus mestres, mas depois de estar em Framenors o jovem tivera uma desilusão: onde estavam os livros? Onde estava o saber? Onde estavam o trabalho e o estudo? Quando por fim se dirigiu ao prior de Framenors, este recordou-lhe com paciência os três princípios estabelecidos pelo fundador da ordem, São Francisco de Assis:
— Simplicidade radical, pobreza absoluta e humildade. Assim devemos viver, nós, Franciscanos.
Mas Joan desejava saber, estudar, ler, aprender. Não lhe tinham assegurado também os seus mestres que esse também era o caminho do Senhor? Por isso, quando se cruzava com algum frade dominicano, Joan olhava-o com inveja. A ordem dos Dominicanos dedicava-se principalmente ao estudo da filosofia e da teologia, e criara diversas universidades. Joan queria pertencer à ordem dos Dominicanos e prosseguir os seus estudos na prestigiosa Universidade de Bolonha.
— Assim seja — sentenciou o rei depois de ouvir os argumentos de Joan. Todos os pêlos do corpo do jovem frade se eriçaram. — Confiamos em que algum dia regressarás aos nossos reinos investido da autoridade moral proporcionada pelo conhecimento e pela sabedoria, e que a aplicarás para bem do teu rei e do seu povo.
Maio de 1343
Igreja de Santa Mana de la Mar, Barcelona
Tinham decorrido quase dois anos desde que o corregedor de Barcelona condenara Jaime III. Os sinos de toda a cidade repicavam sem descanso e, no interior de Santa Maria, abertas as suas paredes, Arnau ouvia-os, encolhido. O rei chamara para a guerra contra Maiorca e a cidade enchera-se de soldados e de nobres. Arnau, de guarda em frente à capela do Santíssimo, observava-os, misturados por entre as pessoas que enchiam Santa Maria e transbordavam por toda a praça. Todas as igrejas de Barcelona oficiavam a missa pelo exército catalão.
Arnau estava cansado. O rei reunira a sua armada em Barcelona e já há dias que os bastaixos trabalhavam incansavelmente. Cento e dezassete navios! Nunca se vira tal quantidade de embarcações; vinte e duas grandes galeras aparelhadas para a guerra; sete cocas bojudas para o transporte de cavalos e oito grandes naus de duas e três cobertas, para transporte de soldados. O resto compunha-se de barcos médios ou pequenos. O mar estava coberto de mastros, e os navios entravam e saíam do porto.
Decerto fora numa daquelas galeras, agora armadas, que Joan embarcara, havia mais de um ano, vestido de negro, com o hábito dominicano e com destino a Bolonha. Arnau acompanhara-o até à orla. Joan saltara para uma barca e aco-modara-se, de costas para o mar; depois sorrira para Arnau. Vira-o subir para bordo da galera e, assim que os remadores tinham começado a impeli-la, sentira o estômago a contrair-se e as lágrimas a começarem a cair-lhe pela cara. Ficara sozinho. E assim continuava Arnau. Olhou à sua volta. Os sinos de todas as igrejas da cidade continuavam a repicar. Nobres, clérigos, soldados, mercadores, artesãos e povo simples apinhavam-se em Santa Maria; os seus companheiros de confraria, ao seu lado, mantinham-se firmes, mas ele sentia-se tão só! As suas ilusões, a sua vida inteira, tinham-se vindo a desmoronar como a velha igreja românica que dera vida ao novo templo. Já não existia. Não restava nenhum vestígio da pequena igreja, e de onde se encontrava conseguia ver a imensa e larga nave central, delimitada pelas colunas oitavadas sobre as quais se apoiariam as abóbadas. Para lá das colunas, no exterior, as paredes da igreja continuavam a erguer-se e a subir em direcção ao céu, pedra a pedra, pacientemente.
Arnau olhou para cima. A chave da segunda abóbada da nave central já tinha sido colocada e trabalhava-se agora nas naves laterais. O nascimento de Nosso Senhor: esse fora o motivo escolhido para essa segunda pedra de chave. A abóbada do presbitério estava totalmente coberta. A seguinte, a primeira da imensa nave central rectangular, ainda não coberta, parecia uma teia de aranha: as quatro nervuras dos arcos estavam a céu aberto, com a pedra de chave no centro, como uma aranha pronta a deslocar-se pelos finos fios da teia em busca da sua presa. O olhar de Arnau perdeu-se naquelas magras nervuras. Bem sabia ele como era sentir-se apanhado numa teia de aranha! Aledis perseguia-o cada vez com maior afinco. «Contarei tudo aos próceres da tua confraria», ameaçava-o quando Arnau hesitava; e ele voltava a pecar, uma e outra vez, e outra, e outra... Arnau virou-se para os outros bastaixos. Se eles soubessem... Ali estava Bartolomé, seu sogro, prócer, e Ramon, seu amigo e protector. Que diriam eles? E nem sequer tinha Joan consigo.
Até Santa Maria parecia ter-lhe virado as costas. Coberta já em parte e alçados os contrafortes que sustentavam os arcos das naves laterais da segunda abóbada, a nobreza e os ricos mercadores da cidade tinham começado a trabalhar nas capelas laterais, decididos a deixar a sua assinatura sob a forma de escudos heráldicos, imagens, sarcófagos e todo o tipo de relevos cinzelados na pedra.
Quando Arnau acorria em busca do auxílio da sua Virgem, havia sempre algum rico mercador, algum nobre percorrendo as obras. Era como se lhe tivessem roubado a sua igreja. Tinham aparecido de repente e detinham-se com orgulho nas onze capelas, das trinta e quatro previstas, que já se tinham construído ao longo do deambulatório. Ali estavam já os pássaros do escudo dos Busquets, na capela de Todos-os-Santos; a mão e o leão rampante dos Junyent, na de San Jaime; as três peras de Boronat de Pêra, cinzeladas na pedra de chave da capela ogival de San Paulo; a ferradura e faixas de Pau Ferran, no mármore da própria capela: os escudos dos Dufort e dos Dusay, ou a fonte dos Font, na capela de Santa Margarita. Até na capela do Santíssimo! Nesta, na sua, na dos bastaixos, estava a ser instalado o sarcófago do arcediago de Santa Maria de la Mar, que iniciara a construção do templo, Bernat Lull, junto aos escudos dos Ferrer.
Arnau passava cabisbaixo perto dos mercadores e dos nobres. Ele apenas carregava pedra, e ajoelhava-se diante da sua Virgem para o livrar daquela aranha que o perseguia.
Quando os ofícios religiosos terminaram, Barcelona inteira dirigiu-se para o porto. Ali estava D. Pedro III, ataviado para a guerra e rodeado pelos seus barões. Enquanto o infante D. Jaime, conde de Urgell, permanecia na Catalunha a fim de defender as fronteiras do Ampurdán, de Besalú e de Camprodón, que confinavam com os condados peninsulares do rei de Maiorca, os restantes partiam com o rei à conquista da ilha: o infante D. Pedro, senescal da Catalunha; mestre Pere de Monteada, almirante da frota; Pedro de Eixèrica e Blasoc de Alago; Gonzalo Díez de Arenós e Felipe de Castre; o padre Joan de Arbórea, Alfonso de Llòria; Galvany de Anglesola; Arcadic de Mur; Arnau d'Erill; o padre Gonzalo Garcia; Joan Ximénez de Urrea, e muitos outros nobres e cavaleiros, prontos para a guerra juntamente com as suas tropas e respectivos vassalos.
Maria, que se encontrou com Arnau fora da igreja, apontou para eles e, gritando, obrigou-o a seguir a direcção do seu dedo.
— O rei! O rei, Arnau. Olha para ele. Que porte! E a espada dele? Bela espada! E aquele nobre... Quem é ele, Arnau? Conhece-lo? E os escudos, as armaduras, os pendões...
Maria arrastou Arnau de um extremo ao outro da praia até que chegaram a Framenors. Aí, afastados de nobres e de soldados, um numeroso grupo de homens, sujos e esfarrapados, sem escudos nem armaduras, sem espadas, vestidos apenas com uma camisa longa e puída, de polainas e gorros de couro, estavam a embarcar nas barcas que os levariam aos navios.
Aqueles homens iam armados apenas de machetes e lanças!
— É a Companhia?
— Sim. Os almogávares.
Os dois somaram-se ao silencioso respeito com que os cidadãos de Barcelona observavam os mercenários contratados pelo rei Pedro. Os conquistadores de Bizâncio! Até as crianças e as mulheres, impressionadas pelas espadas e armaduras dos nobres, tal como acontecera a Maria, os olhavam com orgulho. Lutavam a pé e de peito descoberto, confiando unicamente na sua destreza e habilidade. Quem se atreveria a rir-se das suas indumentárias ou das suas armas?
Os Sicilianos tinham-no feito, segundo tinham contado a Arnau: tinham-se rido deles no campo de batalha. Que resistência poderiam oferecer aqueles esfarrapados contra nobres a cavalo? No entanto, os almogávares tinham-nos derrotado e conquistado a ilha. Também os Franceses o tinham feito; a história contava-se por toda a Catalunha, onde quer que alguém quisesse ouvi-la. Arnau já a ouvira em diversas ocasiões.
— Dizem — sussurrou Arnau a Maria — que uns cavaleiros franceses aprisionaram um almogávar e o levaram à presença do príncipe Carlos de Salerno, que o insultou, chamando-lhe miserável, pobre e selvagem, rindo-se das tropas catalãs. — Nem Arnau nem Maria desviavam o olhar dos mercenários, que continuavam a subir para as barcas. — Então, o almogávar, na presença do príncipe e dos cavaleiros, desafiou o melhor dos homens dele. Ele lutaria a pé, armado apenas com uma simples lança; o francês, a cavalo, com todo o seu armamento. — Arnau calou-se por um instante, mas Maria virou-se para ele, instando-o a continuar. — Os franceses riram-se do catalão, mas aceitaram o desafio. Partiram todos para um campo próximo do acampamento francês. Aí, o almogávar venceu o seu oponente, depois de lhe matar o cavalo, aproveitando-se de falta de agilidade do cavaleiro na luta a pé. Quando já se dispunha a degolá-lo, Carlos de Salerno concedeu-lhe a liberdade.
— É verdade — comentou alguém que estava por perto. — Lutam como verdadeiros demónios.
Arnau notou como Maria se encostava a ele e lhe agarrava o braço com força, sem desviar os olhos dos mercenários. «Que procuras, mulher? Protecção? Se soubesses! Nem sequer sou capaz de enfrentar as minhas debilidades. Julgas que algum deles te faria mais mal do que aquele que te ando a fazer eu próprio? Lutam como demónios.» Arnau olhou para eles: homens que partiam para a guerra contentes, alegres, deixando para trás as famílias. Por que razão... Por que razão não poderia ele fazer o mesmo?
O embarque dos homens prolongou-se durante horas. Maria foi para casa e Arnau acabou a vaguear pela praia, por entre as pessoas; encontrou-se, aqui e ali, com alguns companheiros.
— Porquê tanta pressa? — perguntou a Ramon, apontando para as barcas que iam e vinham sem cessar, cheias a transbordar de soldados. — Está bom tempo. Não parece que se vá levantar temporal.
— Já vais ver — respondeu-lhe Ramon.
Nesse momento, ouviu-se o primeiro relincho; depressa se lhe somaram centenas de outros. Os cavalos tinham estado à espera fora das muralhas, e agora era a vez de eles embarcarem. Das sete cocas destinadas ao transporte dos animais, algumas já estavam cheias de cavalos; eram as que tinham chegado com os nobres de Valência ou que tinham embarcado nos portos de Salou, Tarragona ou do Norte de Barcelona.
— Vamo-nos daqui — incitou-o Ramon. — Isto vai tornar-se um verdadeiro campo de batalha.
Mesmo no momento em que estavam a abandonar a praia, chegaram os primeiros animais, pelas mãos dos seus palafreneiros. Eram enormes cavalos de guerra, que escoiceavam, resfolegavam e mordiam, enquanto os seus tratadores tentavam controlá-los.
— Sabem que vão para a guerra — comentou Ramon, depois de se encontrarem ambos resguardados entre as barcas.
— Sabem?
— Claro. Sempre que embarcam é para irem para a guerra. Olha. — Arnau desviou o olhar para o mar. Quatro cocas bojudas, com uma quilha de pouco calado, aproximaram-se o mais que puderam da praia e abriram as rampas da popa; estas caíram na água e mostraram as entranhas das embarcações. — E os que não sabem são contagiados pelos outros — continuou Ramon.
Depressa a praia se encheu de cavalos. Havia centenas deles, todos grandes, fortes e poderosos; cavalos de guerra treinados para o combate. Os palafreneiros e os escudeiros corriam de um lado para o outro, tentando evitar os coices e as dentadas dos animais. Arnau viu mais de um sair disparado pelos ares ou acabar escoiceado ou pisado. A confusão era enorme e o ruído ensurdecedor.
— Que esperam? — gritou Arnau.
Então, Ramon voltou a apontar para as cocas. Vários escudeiros, com a água à altura do peito, levavam alguns cavalos para elas.
— Aqueles são os mais espertos. Quando estiverem lá dentro servirão de chamariz para os outros.
Assim foi. Quando os cavalos chegaram ao fim das rampas, os escudeiros trouxeram-nos até à praia. Então, começaram a relinchar freneticamente. Foi o sinal.
A manada meteu-se na água levantando tanta espuma que durante alguns instantes nada se conseguia ver. Por detrás da espuma e dos lados, encerrando-a e dirigindo-a para as cocas, alguns cavalariços experientes faziam estalar os chicotes. Os moços tinham perdido as rédeas dos seus cavalos e a maioria dos animais andava à solta pela água, empurrando-se uns aos outros. Durante um bom bocado, o caos foi total: gritos e estalar de chicotes, animais a relinchar e a esforçar-se por subirem para as cocas e as pessoas incentivando da praia. Depois, a tranquilidade voltou a reinar no porto. Quando os cavalos já estavam carregados nas cocas, içaram--se as rampas de popa e as bojudas embarcações ficaram prontas.
A galera do almirante Pere de Monteada deu a ordem para partir e os cento e dezassete navios começaram a navegar. Arnau e Ramon regressaram da praia.
— Lá se vão — comentou Ramon —, para conquistar Maiorca.
Arnau assentiu em silêncio. Sim, lá iam. Sós, deixando para trás os seus problemas e as suas misérias. Saudados como heróis, com a mente posta na guerra e apenas na guerra. Quanto daria ele por se encontrar numa daquelas galeras!
A 21 de Junho desse mesmo ano, Pedro III ouvia missa na catedral de Maiorca in sede majestatis, ataviado segundo o costume: com as vestes, as honras e a coroa correspondente ao rei de Maiorca. Jaime III fugira para os seus domínios do Rossilhão.
A notícia chegou a Barcelona e daí espalhou-se por toda a península: o rei Pedro acabara de dar o primeiro passo para cumprir a sua palavra de reunificar os domínios divididos por morte de Jaime I. Já só lhe faltava reconquistar o condado da Sardenha e as terras catalãs de além-Pirenéus: o Rossilhão. Durante o longo mês que a campanha de Maiorca durou, Arnau não conseguiu esquecer a imagem da armada real afastando-se do porto de Barcelona. Quando as embarcações se encontravam já a certa distância, as pessoas afastaram-se e regressaram às suas casas. E ele, para que ia voltar? Para receber um carinho e um afecto que não merecia? Sentou-se na areia e ali ficou até muito depois de a última vela desaparecer no horizonte. «Afortunados aqueles, que abandonam os seus problemas», repetia para consigo, uma e outra vez. Durante todo o mês, quando Aledis o agarrava no caminho de Montjuic ou quando tinha de enfrentar os cuidados de Maria, Arnau ouvia de novo os gritos e os risos dos almogávares e via a armada a afastar-se. Mais dia, menos dia, acabariam por descobri-lo. Não havia muito tempo que, enquanto Aledis se contorcia em cima dele, alguém gritara do caminho. Tê-los-iam ouvido? Os dois ficaram em silêncio por um momento; depois, ela riu-se e voltou a lançar-se sobre ele. No dia em que o descobrissem... o escárnio, a expulsão da confraria. Que faria então? De que iria viver?
Quando, a 29 de Junho de 1343, toda a cidade de Barcelona acorreu a receber a armada real, reunida na foz do rio Llobregat, Arnau já tomara uma decisão. O rei teria de partir à conquista do Rossilhão e da Sardenha, pois só assim cumpriria a sua promessa; e ele, Arnau Estanyol, estaria nesse exército. Tinha de fugir de Aledis! Talvez ela o esquecesse e, quando regressasse... Sentiu um calafrio: aquilo era a guerra; os homens morriam. Mas talvez quando regressasse pudesse retomar a sua vida com Maria, sem Aledis a persegui-lo.
Pedro III ordenou às embarcações que entrassem no porto da cidade, separadas e por ordem hierárquica: primeiro a galera real, depois a do infante D. Pedro, depois a do padre Pere de Monteada, depois a do senhor de Eixèrica, e assim sucessivamente.
Enquanto a frota esperava, a galera real entrou no porto e deu uma volta por ele, a fim de que toda a gente que se juntara na praia de Barcelona pudesse admirá-la e vitoriá-la.
Arnau ouviu os gritos esfuziantes do povo quando a embarcação passou à sua frente. Barqueiros e bastaixos estavam na praia, na orla, dispostos já para construir a ponte por onde deveria desembarcar o rei. Ao seu lado, esperando também, estavam Francesc Grony, Bernat Santcliment e Galcerà Carbó, próceres da cidade, ladeados pelos próceres das confrarias. Os barqueiros começaram a colocar as suas barcas, mas os próceres ordenaram-lhes que esperassem.
Que se passava? Arnau olhou para os outros bastaixos. Como iria o rei desembarcar, a não ser por uma ponte?
— Não deve desembarcar — ouviu Francesc Grony a dizer para o senhor de Santcliment. — O exército deve partir para o Rossilhão antes que o rei Jaime se reorganize ou pactue com os Franceses.
Todos os presentes apoiaram. Arnau desviou o olhar para a galera real, que continuava o seu percurso triunfal pelas águas da cidade. Se o rei não desembarcasse, se a armada real prosseguisse para o Rossilhão sem parar em Barcelona... As pernas fraquejaram-lhe. Tinha de desembarcar!
Até o conde de Terranova, conselheiro do rei, que permanecera ao cuidado da cidade, apoiava a ideia. Arnau olhou para ele com raiva.
Os três próceres de Barcelona, o conde de Terranova e algumas autoridades mais subiram para uma barca que os levou até à galera real. Arnau ouviu como os seus próprios companheiros apoiavam a ideia: «Não pode deixar que o de Maiorca se rearme», diziam, assentindo.
As conversações prolongaram-se durante horas. As pessoas, instaladas na praia, aguardaram a decisão do rei.
No fim, não se construiu a ponte, mas não porque a armada partisse à conquista do Rossilhão e da Sardenha. O rei decidira que não podia continuar a campanha nas circunstâncias em que se encontrava: precisava de dinheiro para continuar a guerra; grande parte dos seus cavaleiros tinha perdido a sua montada durante a travessia marítima e tinha de desembarcar; e, por fim, precisava de se reequipar para a conquista daquelas novas terras. Apesar do pedido das autoridades de que lhes concedesse alguns dias para prepararem os festejos pela conquista de Maiorca, o monarca recusou e alegou que nada se festejaria até que os seus reinos se voltassem a unir. Por isso, nesse dia 29 de Junho de 1343, Pedro III desembarcou em Barcelona como qualquer outro marinheiro, saltando da barca para a água.
Mas como iria Arnau dizer a Maria que pensava alistar-se no Exército? Aledis pouco importava, que ganharia ela em anunciar publicamente o seu adultério? Se ele ia para a guerra, para que haveria ela de o prejudicar e de se prejudicar a si mesma? Arnau lembrou-se de Joan e da mãe; era aquele o destino que Aledis poderia esperar se se chegasse a saber do seu adultério, e ela tinha consciência disso, mas Maria... Como ia dizer isso a Maria?
Arnau tentou. Tentou despedir-se da rapariga quando ela lhe dava massagens nas costas. «Vou para a guerra», poderia dizer-lhe. Ela choraria. Que culpa tinha Maria? Tentou quando ela lhe servia a comida, mas os olhos doces dela impediam-no. «Passa-se alguma coisa contigo?», perguntou-lhe ela. Tentou mesmo depois de fazer amor com ela, mas Maria acariciava-o.
Entretanto, Barcelona tornara-se um formigueiro. O povo desejava que o rei partisse à conquista da Sardenha e do Rossilhão, mas o rei não o fazia. Os cavaleiros exigiam ao monarca o pagamento dos seus soldados e as indemnizações pelas perdas dos cavalos e armamento que tinham sofrido, mas os cofres reais estavam vazios e o rei teve de permitir que muitos dos seus cavaleiros regressassem às suas terras. Fizeram-no Ramon de Anglesola, Joan de Arbórea, Alfonso de Llòria, Gonzalo Diéz de Arenós e muitos outros nobres.
Então, o rei convocou a host de toda a Catalunha; seriam os cidadãos que lutariam por ele. Os sinos tocaram a rebate por todo o principado e, por ordem do rei, dos púlpitos começaram a lançar-se arengas para que os homens livres se alistassem. Os nobres abandonavam o exército catalão! O padre Albert falava com fervor, alto e forte, gesticulando sem parar. Como ia o rei defender a Catalunha? E se o rei de Maiorca, sabendo que os nobres abandonavam o rei Pedro,
se aliasse com os Franceses e atacasse a Catalunha? Já sucedera uma vez! O padre Albert gritou por toda a paróquia de Santa Maria. Quem não se lembrava? Quem nunca ouvira falar da cruzada dos Franceses contra os Catalães? Dessa vez fora possível vencer o invasor. E agora? Conseguiriam o mesmo se deixassem que o rei Jaime se rearmasse?
Arnau olhou para a Virgem de pedra com o menino sobre o ombro. Se ao menos tivessem tido um filho. Certamente que, se tivessem tido um filho, nada daquilo teria acontecido. Aledis não teria sido tão cruel. Se tivessem tido um filho...
— Acabo de fazer uma promessa à Virgem — sussurrou Arnau a Maria, de repente, enquanto o sacerdote continuava a recrutar soldados do seu púlpito. — Vou alistar-me no exército real para que nos conceda a bênção de um filho.
Maria virou-se para ele e, antes de se voltar para a Virgem, agarrou-lhe a mão e apertou-lha com força.
— Não podes! — gritou Aledis quando Arnau lhe comunicou a sua decisão. Arnau fez-lhe sinal para que baixasse a voz, mas ela continuou a gritar: — Não podes deixar-me! Contarei a toda a gente...
— Que ganharás com isso, Aledis? — interrompeu-a ele. — Estarei com o exército. Só conseguirás arruinar a tua vida.
Os dois entreolharam-se, escondidos atrás do matagal, como sempre. O lábio inferior de Aledis começou a tremer. Que bonita que ela era! Arnau quis aproximar uma mão do rosto daquela mulher, por onde corriam as lágrimas, mas conteve-se.
— Adeus, Aledis.
— Não me podes deixar! — soluçou ela.
Arnau voltou-se para Aledis. Ela caíra de joelhos com a cabeça entre as mãos. O silêncio levou-a a erguer os olhos para Arnau.
— Porque me fazes isto? — chorou.
Arnau viu as lágrimas no rosto de Aledis; todo o seu corpo tremia. Arnau mordeu o lábio e dirigiu o olhar para o alto da montanha, onde ia à procura das pedras. Para quê fazer-lhe mais mal? Abriu os braços.
— Tenho de o fazer.
Ela começou a arrastar-se de joelhos até conseguir tocar-lhe nas pernas.
— Tenho de o fazer, Aledis! — repetiu Arnau, saltando para trás. E começou a descer de Montjuíc.
Eram prostitutas; os seus vestidos de cores proclamavam-no.
Aledis hesitou em aproximar-se delas, mas o aroma da panela de carne com verduras impelia-a. Tinha fome. Estava magra. As raparigas, jovens como ela, andavam e conversavam alegremente em roda do fogo. Convidaram-na a aproximar-se quando a viram a poucos passos das tendas do acampamento, mas eram prostitutas. Aledis examinou-se a si própria: esfarrapada, mal-cheirosa, suja. As prostitutas voltaram a convidá-la; os reflexos dos seus trajos de seda movendo-se ao sol distraíram-na. Ninguém lhe tinha oferecido alguma coisa para comer. Não tinha já tentado em todas as tendas, barracas ou simples fogueiras até onde se tinha arrastado? Alguém se tinha apiedado dela? Tinham-na tratado como a uma simples mendiga; pedira esmola: um pouco de pão, algum bocado de carne, uma simples hortaliça. Tinham-lhe cuspido na mão estendida. Depois, tinham-se rido. Aquelas mulheres eram rameiras, mas tinham-na convidado para partilhar com elas a sua panela.
O rei ordenou que os exércitos se reunissem na cidade de Figueras, a norte do principado, e para lá se dirigiram tanto os nobres que não tinham abandonado o monarca como as hosts da Catalunha, entre as quais estavam os soldados de
Barcelona e, com eles, Arnau Estanyol, liberado, optimista e armado com a balestra do pai e uma simples adaga romba. Mas se em Figueras o rei Pedro conseguiu reunir cerca de mil e duzentos homens a cavalo e quatro mil soldados a pé também conseguiu congregar outro exército: familiares dos soldados — principalmente dos almogávares, que, como nómadas que eram, levavam atrás de si a família e o lar —, comerciantes de todo o tipo de mercadorias — que esperavam comprar tudo o que os soldados conseguissem saquear —, mercadores de escravos, clérigos, batoteiros, ladrões, prostitutas, mendigos e todo o tipo de abutres sem mais nenhum objectivo na vida a não ser seguir os despojos. Todos eles formavam uma impressionante retaguarda que se movia ao ritmo dos exércitos e com as suas próprias leis, muitas vezes mais cruéis que as da contenda de que viviam como parasitas. Aledis era apenas mais uma no meio daquele grupo heterogéneo. A despedida de Arnau ainda lhe ecoava nos ouvidos. Uma vez mais, Aledis sentiu as mãos rugosas e calejadas do marido a percorrerem-lhe os recantos secretos da sua intimidade. Os estertores do velho curtidor misturaram-se com as suas recordações. O ancião beliscara-lhe a vulva. Aledis não se movera. O idoso beliscara de novo, com mais força, reclamando a falsa generosidade com que, até então, a mulher o tinha premiado. Aledis fechara as pernas. Porque me deixaste, Arnau?, pensou, sentindo Pau em cima dela, ajudando-se com as mãos a penetrá-la. Cedeu e abriu as pernas, ao mesmo tempo que a amargura se lhe instalava na garganta. Dissimulou um vómito. O velho mexia-se em cima dela como um réptil. Ela vomitou para um lado da cama. Ele nem se deu conta. Continuou a empurrar-se languidamente, ajudando-se com as mãos, aguentando o pénis, e com a cabeça sobre os seios dela, mordiscando uns mamilos que o asco impedia que crescessem. Quando acabou, deixou-se cair para o seu lado da cama e adormeceu. Na manhã seguinte, Aledis fez uma pequena trouxa com os seus escassos haveres, um pouco de dinheiro que furtou ao marido e um pouco de comida, e, como em qualquer outro dia, saiu para a rua.
Caminhou até ao mosteiro de Sant Pere des Puelles e abandonou Barcelona para tomar a antiga via romana que a levaria até Figueras. Passou as portas da cidade cabisbaixa, reprimindo o impulso de desatar a correr e evitando cruzar o olhar com os soldados; ergueu os olhos para o céu, azul e brilhante, e encaminhou-se para o seu novo futuro, sorrindo aos muitos viajantes que se cruzavam com ela a caminho da grande cidade. Arnau também abandonara a mulher; Aledis certificara-se disso. Certamente que se tinha ido embora por causa daquela mulher! Não poderia gostar de Maria. Quando faziam amor... notava isso! Sentia isso quando ele estava nela. Não poderia enganá-la: era a ela que Arnau desejava, a ela, Aledis. E quando a visse... Aledis imaginou-o correndo para ela com os braços abertos. Fugiriam! Sim, fugiriam juntos... para sempre.
Durante as primeiras horas de viagem, Aledis tomou o mesmo passo de um grupo de camponeses que, depois de terem vendido os seus produtos, regressava às suas terras. Explicou-lhes que ia à procura do marido, porque estava grávida e fizera a promessa de que ele havia de saber disso antes de entrar em combate. Soube pelos camponeses que Figueras ficava a cinco ou seis dias de caminhada a bom passo, seguindo por aquele mesmo caminho até Gerona. Mas também teve a oportunidade de ouvir os conselhos de duas idosas desdentadas que pareciam poder quebrar-se a qualquer momento sob o peso das cestas vazias que transportavam; no entanto, caminhavam e continuavam a caminhar, descalças, com uma energia inconcebível para aqueles corpos velhos e magros.
— Não é bom uma mulher andar sozinha por estes caminhos — disse-lhe uma delas, abanando a cabeça.
— Pois não, não é mesmo — confirmou a outra. Passaram alguns segundos, os necessários para que ambas tomassem o alento necessário.
— E muito menos se for jovem e bonita — acrescentou a segunda.
— Isso mesmo, isso mesmo — aprovou a outra.
— Que me pode acontecer? — perguntou ingenuamente Aledis.
— O caminho está cheio de gente, de gente boa como vós.
Teve de voltar a esperar enquanto as idosas davam alguns passos em silêncio, um pouco mais longos agora, para não se afastarem do grupo de camponeses.
— Sim, aqui encontrarás gente. Há muitas aldeias perto de Barcelona que, como nós, vivem da cidade. Mas um pouco mais para a frente — acrescentou sem levantar os olhos do chão —, quando as aldeias se começam a tornar mais distantes umas das outras e não há cidade a que se dirigir, os caminhos são solitários e perigosos.
Desta vez, a companheira absteve-se de fazer qualquer comentário. Contudo, e após a espera já habitual, foi ela quem voltou a dirigir-se a Aledis:
— Quando estiveres sozinha, procura não te deixar ver. Esconde-te ao menor ruído que ouças. Evita qualquer companhia.
— Mesmo que sejam cavaleiros? — perguntou.
— Sobretudo se o forem! — gritou uma das velhas. — Assim que ouvires os cascos de um cavalo, esconde-te e reza! — exclamou a outra.
Desta vez, ambas responderam em uníssono, encolerizadas e sem necessidade de respirar; fizeram até uma pequena paragem, e por isso o grupo afastou-se um pouco. A expressão de incredulidade de Aledis deve ter sido suficientemente ostensiva para que as duas idosas, assim que recuperaram o ritmo, voltassem a insistir:
— Olha, rapariga — aconselhou-a uma delas, enquanto a outra concordava, sem sequer ainda saber o que a outra ia dizer —, eu no teu lugar voltava para a cidade e ficava lá à espera do meu homem. Os caminhos são muito perigosos e mais ainda quando todos os soldados e oficiais estão em campanha com o rei. Nestas alturas não há autoridade, ninguém vigia ninguém e ninguém teme o castigo de um rei que está ocupado noutros assuntos.
Aledis caminhou pensativa ao lado das duas velhas. Esconder-se dos cavaleiros? Porque havia de o fazer? Todos os cavaleiros que acorriam à oficina do marido se tinham mostrado corteses e respeitosos com ela. Nunca, da boca dos numerosos mercadores que forneciam matéria-prima ao seu marido, tinha ouvido relatos de roubos ou assaltos ocorridos nos caminhos do principado. Em contrapartida, recordava-se das espantosas histórias com que costumavam entretê-los, acerca das acidentadas travessias marítimas, das viagens por terras dos mouros ou pelas terras ainda mais distantes do sultão do Egipto. O marido tinha-lhe contado que há mais de duzentos anos que os caminhos catalães estavam protegidos pelas leis e pelo rei, e qualquer pessoa que ousasse delinquir num caminho real recebia um castigo muito superior ao que corresponderia ao mesmo delito cometido noutro lugar. «O comércio exige paz nos caminhos!», acrescentara. «Como poderíamos vender os nossos produtos por toda a Catalunha se o rei não proporcionasse essa paz?» Então contava-lhe, como se ela fosse uma criança, que já há mais de duzentos anos que a Igreja começara a tomar medidas para defender os caminhos. Primeiro, tinha havido as Constituições de Paz e Trégua, que tinham sido ditadas em sínodos. Se alguém atentasse contra essas regras, era instantaneamente excomungado. Os bispos estabeleceram que os habitantes dos seus condados e bispados não podiam atacar os seus inimigos desde a nona hora do sábado até à primeira hora da segunda-feira, nem nas festas oficiais; além disso, a trégua protegia os clérigos, as igrejas e todos aqueles que se dirigissem a elas ou regressassem delas. As constituições, explicou-lhe, foram-se alargando e protegendo cada vez mais bens e pessoas: mercadores e animais agrícolas e de transporte, alfaias agrícolas, e casas de camponeses, habitantes das vilas, mulheres, colheitas, olivais, o vinho... Por fim, o rei Afonso I concedera a Paz às vias públicas e aos caminhos e estabelecera que quem a transgredisse cometeria um delito de lesa-majestade.
Aledis olhou para as idosas, que continuavam a caminhar em silêncio, carregadas com os seus fardos, arrastando os pés descalços. Quem iria ousar cometer um delito de lesa-majestade? Que cristão iria arriscar-se a ser excomungado por atacar alguém num caminho catalão? Estava a pensar nisto quando o grupo de camponeses se desviou para San Andrés.
— Adeus, rapariga — despediram-se as velhas. — Toma atenção ao que te dizem estas duas idosas — acrescentou uma delas. — Se decidires continuar, sê prudente. Não entres em nenhuma aldeia nem em nenhuma cidade. Poderiam ver-te e seguir-te. Pára apenas nas quintas, e só naquelas onde vires crianças e mulheres.
Aledis observou como o grupo se afastava; as duas idosas arrastavam os seus pés descalços e esforçavam-se por não perder o grosso dos camponeses. Em poucos minutos, ficou sozinha. Até então, tinha avançado em companhia daqueles camponeses, conversando e deixando que os seus pensamentos voassem tanto como a sua imaginação, despreocupadamente, ansiando por chegar perto de Arnau, emocionada pela aventura a que a sua precipitada decisão a levara; no entanto, quando as vozes e os ruídos dos seus companheiros de viagem se perderam na distância, Aledis sentiu-se só. Tinha um longo caminho por diante, que tratou de perscrutar, pondo a mão sobre a testa em pala, para se proteger de um Sol que já estava alto no céu, um céu azul-celeste, sem uma única nuvem que turvasse a imensidade daquela magnífica cúpula que se unia no horizonte às vastas e ricas terras da Catalunha.
Talvez não fosse unicamente a sensação de solidão que assaltou a rapariga depois de se ver abandonada pelos camponeses, ou a sensação de estranheza por se encontrar em paragens desconhecidas. Na realidade, Aledis jamais tinha enfrentado o céu e a terra quando nada se interpõe à visão do espectador, quando se pode vislumbrar o horizonte rodando sobre nós próprios... e vê-lo sempre! E olhou para ele. Aledis olhou para o horizonte, para onde lhe tinham dito que ficava Figueras. As pernas fraquejaram-lhe. Rodou sobre si própria e olhou para trás. Nada. Afastava-se de Bar celona e só via terras desconhecidas. Procurou os telhados dos edifícios que sempre se tinham interposto diante da maravilha de uma realidade desconhecida: o céu. Procurou os odores da cidade, o cheiro a couro, os gritos das pessoas, os rumores de uma cidade viva. Estava sozinha. De imediato, as palavras das duas idosas vieram-lhe à ideia. Tentou divisar Barcelona à distância. Cinco ou seis dias de caminhada! Onde iria dormir? O que iria comer? Sopesou a pequena trouxa. E se as palavras das idosas fossem acertadas? Que faria? Que poderia ela fazer contra um cavaleiro ou um delinquente? O Sol ia alto no céu. Aledis dirigiu o olhar para onde lhe tinham dito que ficava Figueras... e Arnau.
Redobrou os cuidados. Caminhou com os sentidos à flor da pele, atenta a qualquer ruído que perturbasse a solidão do caminho. Nas cercanias de Monteada, cujo castelo, erguido no cume do monte do mesmo nome, defendia a entrada para a planície de Barcelona, e já com o Sol no meio-dia, o caminho tornou a encher-se de camponeses e mercadores. Aledis juntou-se a eles como se fizesse parte de alguma das comitivas que se dirigiam para a cidade, mas quando chegou às portas desta, lembrou-se dos conselhos das idosas e afastou-se, cruzando a corta-mato até voltar a encontrar o caminho.
Aledis sentíu-se satisfeita ao sentir que quanto mais avançava mais se dissipavam os temores que a tinham tomado depois de se ver sozinha no caminho. Quando chegou a norte de Monteada, continuou a cruzar-se com camponeses e mercadores, a maioria a pé, e outros em carroças,mulas ou asnos. Todos se saudavam amavelmente e Aledis começou a desfrutar aquela generosidade no trato. Como já antes fizera, juntou-se a um grupo, desta vez de mercadores, que se dirigia para Ripollet. Ajudaram-na a vadear o rio Besòs, mas assim que o atravessaram, os mercadores desviaram-se para a esquerda, para Ripollet. Quando Aledis, de novo só, passou de largo e deixou para trás Val Romanas, encontrou-se com o verdadeiro rio Besós: uma corrente de água que, naquela época do ano, ainda não era suficientemente caudalosa para impedir que fosse atravessada a pé.
Aledis olhou para o rio e para o barqueiro, que esperava indolentemente na margem. O homem sorriu com uma absurda expressão de condescendência e mostrou-lhe uns dentes horrivelmente negros. Não lhe restava outro remédio, se queria prosseguir a sua viagem, senão usar os serviços daquele barqueiro de dentes negros. Tentou fechar o decote puxando os cordéis que se cruzavam sobre o peito, mas tinha de segurar a trouxa e não conseguiu. Abrandou o passo. Sempre lhe tinham dito como eram bonitos os seus movimentos, sempre se orgulhara deles quando se sentia observada. Mas todo ele era negrura! Desprendia sujidade. E se soltasse a trouxa? Não. Ele dar-se-ia conta. Não tinha por que temê-lo. A camisa do barqueiro estava ressequida de sujidade. E os pés dele? Santo Deus! Quase não se lhe viam os dedos! Devagar. Devagar. Santo Deus!Que homem mais horroroso!, pensou.
— Quero atravessar o rio — disse-lhe.
O barqueiro ergueu os olhos do peito de Aledis até aos seus grandes olhos castanhos.
— Pois — limitou-se a responder. Depois, descaradamente, voltou a fixar o olhar no peito dela.
— Não me ouviste?
— Pois sim — repetiu, sem sequer levantar os olhos.
O rumor das águas do Besós rompeu o silêncio. Aledis julgou que podia sentir o roçagar dos olhos do barqueiro sobre os seus seios. A respiração da rapariga acelerou-se, o que ainda lhe realçou mais o peito, e aqueles olhos sanguinolentos esquadrinharam-na até ao último recanto do seu corpo.
Aledis estava sozinha, perdida no interior da Catalunha, na margem de um rio de que nem sequer tinha ouvido falar e que julgava já ter atravessado com os de Ripollet, e na companhia de um homem embrutecido que a olhava com luxúria. Olhou em volta. Não se via vivalma. Alguns metros à sua esquerda, um pouco afastada da margem, estava uma cabana construída toscamente com troncos mal encaixados, tão arruinada e feia como o seu dono. Em frente à porta da cabana, entre despejos e desperdícios, uma fogueira aquecia uma panela pendurada de um tripé de ferro. Aledis nem quis imaginar o que estaria a cozinhar naquela panela, mas o odor que ela exalava pareceu-lhe repulsivo.
— Tenho de alcançar o exército do rei — começou a dizer-lhe, com voz vacilante.
— Pois — respondeu-lhe outra vez o barqueiro.
— O meu marido é oficial do rei — mentiu, elevando o tom de voz —, e tenho de lhe comunicar que estou grávida antes que ele entre em combate.
— Pois — respondeu ele, voltando a mostrar os dentes negros.
Um fio de baba apareceu na comissura dos lábios do homem. O barqueiro limpou-o com a manga da camisa.
— Por acaso não sabes dizer outra coisa?
— Sim — respondeu o homem semicerrando os olhos. — Os oficiais do rei costumam morrer muito em batalha.
Aledis nem se apercebeu do que lá vinha. O barqueiro desferiu-lhe uma tremenda bofetada na cara. Aledis rodou antes de cair aos pés imundos do seu agressor.
O homem inclinou-se, agarrou-a pelos cabelos e começou a arrastá-la para a cabana. Aledis cravou as unhas na mão dele até sentir que se lhe cravavam na carne, mas ele continuou a arrastá-la. Tentou levantar-se, mas tropeçou várias vezes e voltou a cair. Recuperou e lançou-se de gatas contra as pernas do seu agressor, tentando imobilizá-lo. O barqueiro desembaraçou-se dela e deu-lhe um pontapé na barriga.
Já dentro da cabana, enquanto tentava recuperar o fôlego, Aledis sentiu que o barro e a terra lhe arranhavam o corpo ao som da luxúria do barqueiro.
Enquanto esperava pelas diversas hostes e assembleias do principado, bem como pelos correspondentes víveres, o rei Pedro estabeleceu o seu quartel-general no albergue de Figueras, cidade com representação nas Cortes e próxima da fronteira com o condado do Rossilhão. O infante D. Pedro e os seus cavaleiros instalaram-se em Perelada, e o infante D.Jaime e os restantes nobres — o senhor de Eixèrica, o conde de Luna, Blasco de Alago, mestre Juan Ximénez de Urrea, Felipe de Castro e mestre Juan Ferrández de Luna, entre outros — espalharam-se, com as suas tropas, pelos arredores de Figueras.
Arnau Estanyol encontrava-se entre as tropas reais. Nos seus vinte e dois anos, nunca vivera uma experiência como a daqueles dias. O acampamento real, onde se encontravam mais de dois mil homens exultantes com a vitória obtida em Maiorca, ávidos de guerra, combates e saques, sem nada para fazer a não ser esperar pela ordem real de marchar para o Rossilhão, eram o pólo oposto da ordem que reinava em Barcelona. A não ser nos momentos em que a tropa recebia instrução ou fazia exercícios de tiro, a vida nos acampamentos girava em torno das apostas, das tertúlias em que os novatos escutavam as terríveis histórias de guerra da boca dos orgulhosos veteranos e, claro, dos gritos e das brigas.
Junto com três jovens vindos de Barcelona e tão inexperientes quanto ele nas artes da guerra, Arnau costumava passear pelo acampamento. Encantavam-no os cavalos e as armaduras, que os serventes se ocupavam de manter brilhantes a todo o momento, e mostravam-nas ao sol, em frente às tendas, numa espécie de competição em que venciam as armas e apetrechos que mais brilhassem ao sol. Mas se as montadas e as armas o encantavam, sofria, em contrapartida, com o suplício da sujidade, do mau cheiro e das miríades de insectos atraídos pelos dejectos de milhares de homens e animais. Os oficiais reais ordenaram a construção de umas longas e fundas valas, para servirem de latrinas, o mais afastadas possível do acampamento, junto a um riacho onde pretendiam depois despejar os detritos dos soldados. No entanto, o riacho estava quase seco e os dejectos amontoavam--se e decompunham-se, originando um fedor pegajoso e insuportável.
Uma manhã em que Arnau e os seus três novos companheiros passeavam por entre as tendas, viram aproximar-se um cavaleiro que regressava depois de se exercitar. O cavalo, que se dirigia para a estrebaria em busca de uma merecida refeição, e de que o descarregassem do peso da armadura que cobria o seu peito e flancos, resfolegava, levantando as patas, enquanto o cavaleiro tentava chegar à sua tenda sem fazer estragos, evitando os soldados e os haveres que se tinham amontoado nas ruas que tinham sido abertas entre as tendas. Mas o animal, grande e brioso, obrigado a submeter-se aos cruéis freios que tinha na boca, substituía os seus desejos de avançar por um espectacular baile a cujo som lançava o suor branco que empapava os seus costados para quem se cruzasse com ele.
Arnau e o seu grupo afastaram-se o mais que puderam à passagem do cavaleiro, mas com tanta má sorte que nesse preciso instante o animal deslocou a garupa lateralmente com violência e bateu em Jaume, o mais franzino dos quatro, que perdeu o equilíbrio e caiu ao chão. O embate não feriu o rapaz; o cavaleiro, por seu lado, nem sequer olhou para trás e seguiu o seu caminho para uma tenda próxima. No entanto, o pequeno Jaume caiu precisamente no local em que alguns veteranos jogavam o pré aos dados. Um deles perdera já uma quantia equivalente aos benefícios que lhe poderiam caber em todas as futuras campanhas do rei Pedro, e a altercação não se fez esperar. O azarado jogador levantou-se, disposto a descarregar em Jaume a ira que não podia descarregar nos seus companheiros. Era um homem robusto, com cabelos e barbas compridos e sujos, e com uma expressão no rosto, fruto de horas de perdas constantes, que teria amedrontado o mais valoroso dos inimigos.
O soldado agarrou no intrometido e levantou-o pelo colarinho até à altura dos seus olhos. Jaume nem sequer teve tempo de se aperceber do que lhe acontecia. Numa questão de segundos, o cavalo tinha-lhe dado um encontrão, ele caíra e agora era atacado por um energúmeno que lhe gritava e o sacudia até que, sem o soltar, o esbofeteou na cara, conseguindo fazer aparecer um fino fio de sangue na comissura dos lábios do rapaz.
Arnau viu como Jaume esperneava com os pés no ar. — Deixa-o! Porco! — As suas palavras surpreenderam-no até a si próprio.
Todos se começaram a afastar de Arnau e do veterano. Jaume, que, também surpreendido, deixara de espernear, caiu sentado quando o outro o largou para enfrentar aquele que tinha ousado insultá-lo. De repente, Arnau viu-se no centro de um círculo formado pelos muitos curiosos que se tinham aproximado para presenciar o espectáculo... Ele e um soldado enfurecido. Se ao menos não o tivesse insultado... Porque tinha de lhe ter chamado porco?
— Ele não teve a culpa... — balbuciou Arnau apontando para Jaume, que ainda nem entendera o que se estava a passar. Sem dizer uma palavra, o soldado arremeteu contra Arnau como um touro; bateu-lhe no peito e na cabeça e lançou-o vários metros mais para trás, pelo que o círculo se teve de afastar. Arnau sentiu uma dor como se lhe tivesse rebentado o peito. O ar hediondo que se tinha acostumado a respirar parecia ter desaparecido de repente. Respirou fundo. Tentou levantar-se, mas um pontapé na cara lançou-o de novo por terra. Uma dor intensa apoderou-se da sua cabeça enquanto tentava retomar o fôlego e, quando começava a recuperá-lo, um novo pontapé, desta vez nos rins, voltou a derrubá-lo. Depois, a sova foi terrível, ao ponto de Arnau fechar os olhos e se enrolar no chão.
Quando o veterano parou com os seus ataques, Arnau pensou que aquele louco o teria desfeito; contudo, e apesar da dor que sentia, pareceu-lhe ouvir qualquer coisa.
Do chão, onde ainda estava todo enrolado, aguçou o ouvido.
E então ouviu-os.
Ouviu outra vez.
E mais uma, e outra, e muitas outras. Abriu os olhos e olhou para os homens que formavam o círculo, que se fechava à sua volta, e que se riam dele. Apontavam para ele e riam-se. As palavras do pai ecoaram-lhe nos ouvidos maltratados: «Abandonei tudo o que tinha para que tu pudesses ser livre.» Na sua mente aturdida confundiram-se imagens e recordações. Viu o pai pendurado de uma corda na Praça do Blat... Levantou-se, com a cara ensanguentada. Lembrou-se da primeira pedra que tinha levado para a Virgem de la Mar... O veterano estava de costas para ele. O esforço que então tivera de fazer para transportar aquela pedra às costas... A dor, o sofrimento, o orgulho ao descarregá-la...
— Porco!
O barbudo girou nos calcanhares. O acampamento inteiro pôde ouvir o roçar das calças dele ao virar-se.
— Estúpido camponês! — gritou antes de se atirar de novo a Arnau com toda a força.
Nenhuma pedra podia pesar mais do que aquele porco. Nenhuma pedra... Arnau lançou-se ao veterano, agarrou-se a ele, para impedir que lhe batesse e ambos rolaram pelo chão. Arnau conseguiu levantar-se antes do soldado e, em vez de o agarrar, puxou-o pelo cabelo e pelo cinturão de couro que vestia, levantou-o por cima de si como se fosse uma marioneta e atirou-o pelo ar para cima do círculo de curiosos.
O barbudo caiu estrepitosamente sobre os espectadores.
No entanto, aquela demonstração de força não fez arredar o soldado. Acostumado a lutar, em poucos segundos estava de novo diante de Arnau, que se mantinha firmemente fincado no chão, à espera dele. Desta vez, em vez de se lançar sobre ele, o veterano tentou esmurrá-lo, mas Arnau tornou a ser o mais rápido: parou o golpe apanhando-o pelo antebraço e, depois de girar sobre si próprio, tornou a deitá-lo por terra, vários metros mais para trás. No entanto, a forma como Arnau se defendia não feria o soldado e os ataques repetiam-se uma e outra vez.
Por fim, quando o veterano esperava que o seu oponente o tornasse a lançar pelos ares, Arnau descarregou-lhe um soco em cheio na cara, num golpe em que o bastaix colocou toda a raiva que trazia dentro de si.
Os gritos que tinham acompanhado a briga pararam. O barbudo caiu inconsciente aos pés de Arnau, que só queria encolher a mão com que golpeara o outro e aliviar a dor que sentia nos nós dos dedos, mas aguentou os olhares dos outros com os punhos cerrados, como se estivesse pronto para esmurrar de novo. Não te levantes, pensou, olhando para o soldado. Por Deus, não te levantes.
Desajeitadamente, o soldado tentou levantar-se. Não faças isso! Arnau apoiou o pé direito na cara do veterano e empurrou-o para o chão. Não te levantes, filho-da-puta. O outro não se levantou, e os companheiros aproximaram-se para o levar. — Rapaz! — A voz que o chamava era autoritária. Arnau virou-se e deu com o cavaleiro que causara a briga, ainda vestido com a sua armadura. — Aproxima-te.
Arnau obedeceu, massajando a mão disfarçadamente. — Chamo-me Eiximèn d'Esparça, escudeiro de sua majestade o rei D. Pedro III, e quero que sirvas sob as minhas ordens. Apresenta-te aos meus oficiais.
As três raparigas calaram-se e entreolharam-se quando Aledis se lançou sobre a panela como um animal esfaimado, sem respirar, de joelhos, metendo as duas mãos na sopa para recolher os bocados de carne e de verduras, e depois sem parar de olhar para elas por cima da escudela. Uma delas, a mais jovem, com uma cascata de cabelos louros encaracolados que lhe caíam sobre um vestido azul-celeste, cerrou os lábios para as outras duas: qual delas não tinha passado pelo mesmo, parecia perguntar-lhes. As companheiras assentiram com o olhar e afastaram-se as três alguns passos de Aledis.
Depois de se terem afastado, a rapariga do cabelo louro virou-se para o interior da tenda, onde, protegidas do sol de Julho que caía a pique sobre o acampamento, outras quatro raparigas, algo mais velhas que as de fora, e a patroa, sentada num tamborete, não tiravam os olhos de Aledis. A patroa tinha consentido com um aceno de cabeça quando Aledis aparecera, e permitira que lhe dessem comida; desde então, não parara de observá-la: esfarrapada e suja, mas bonita... e jovem. Que fazia ali aquela rapariga? Não era uma vagabunda, nem uma mendiga como elas. Também não era uma prostituta; recuara instintivamente quando se encontrara com aquelas que o eram. Estava suja, sim; tinha a camisa rasgada, também; o cabelo era um emaranhado de farrapos oleosos, claro. No entanto, os seus dentes eram brancos como a neve. Aquela jovem nunca conhecera a fome, nem as doenças que escureciam os dentes. Que faria ela ali? Tinha de estar a fugir de alguma coisa, mas de quê?
A patroa fez um gesto a uma das mulheres que a acompanhavam no interior da tenda.
— Quero-a limpa e arranjada — sussurrou quando a outra se inclinou para ela. A mulher olhou para Aledis, sorriu e assentiu.
Aledis não conseguiu resistir: «Precisas de tomar um banho», disse-lhe, quando acabou de comer, outra das prostitutas, que saíra do interior da tenda. Um banho! Há quantos dias que não se lavava? Dentro da tenda prepararam-lhe uma selha de água fresca e Aledis sentou-se nela, com as pernas encolhidas. As mesmas três raparigas que a tinham acompanhado enquanto comia ocuparam-se dela e lavaram-na. Porque não havia de deixar? Não poderia apresentar-se diante de Arnau naquele estado. O exército estava acampado ali muito perto, e nele estaria Arnau. Conseguira! Porque não deixar-se lavar? Também deixou que a vestissem. Procuraram para ela um vestido menos vistoso, mas mesmo assim... «As mulheres públicas devem vestir-se com tecidos coloridos», dissera-lhe a mãe quando, em pequena, confundira uma prostituta com uma mulher nobre e tentara dar-lhe passagem. «Então, como é que as distinguimos?», perguntara Aledis. «O rei obriga-as a vestirem-se assim, mas proíbe-lhes o uso de capa ou agasalho, mesmo no Inverno. Assim poderás distinguir as prostitutas: nunca usam nada por cima dos ombros.»
Aledis voltou a olhar-se. As mulheres da sua classe, as esposas dos artesãos, nunca podiam vestir-se de cor — assim mandava o rei; e, no entanto, que bonitos eram aqueles tecidos! Mas como ia apresentar-se diante de Arnau, vestida daquela maneira? Os soldados tomá-la-iam por... Levantou um braço para ver as costas.
— Gostas?
Aledis virou-se e viu a patroa junto à entrada da tenda. Antónia, que assim se chamava a loura de cabelo encrespado que a tinha ajudado a vestir-se, desapareceu a um sinal da primeira.
— Sim... Não... — Aledis voltou a olhar-se. O vestido era verde-claro. Teriam aquelas mulheres alguma coisa que pudesse pôr por cima dos ombros? Se se tapasse, ninguém pensaria que ela fosse uma prostituta.
A patroa olhou-a de alto a baixo. Não se enganara. Um corpo voluptuoso que faria as delícias de qualquer oficial. E os olhos? As duas mulheres olharam-se. Eram enormes. Castanhos. E, no entanto, pareciam tristes.
— O que te trouxe aqui, rapariga?
— O meu marido. Está no exército e abalou sem saber que vai ser pai. Queria dizer-lhe isso, antes que entre em combate.
Disse isto a correr, tal como dissera aos mercadores que a tinham recolhido em Besós, quando o barqueiro, depois de consumar a violação e enquanto tentava desfazer-se dela afogando-a no rio, se vira surpreendido pela presença deles e desatara a fugir. Aledis acabara por se render àquele homem e soluçara deitada no barro enquanto ele a forçava ou enquanto a arrastava para o rio. O mundo não existia, o sol apagara-se e os empurrões do barqueiro perdiam-se no seu interior, misturando-se com as recordações e a impotência Quando os mercadores chegaram perto dela e a viram ultrajada, apiedaram-se dela.
— Temos de o denunciar ao corregedor — disseram--lhe.
Mas... Que haveria ela de dizer ao representante do rei? E se o marido a estivesse a perseguir? E se a descobrissem? Começaria um processo e ela não podia...
— Não. Tenho de chegar ao acampamento real antes que as tropas partam para o Rossilhão — dissera-lhes, depois de explicar que estava grávida e que o marido não sabia. — Então, contarei ao meu marido e ele decidirá.
Os mercadores tinham-na acompanhado até Gerona. Aledis separou-se deles na igreja de Sant Feliu, fora de muros da cidade; o mais velho de entre eles abanara a cabeça ao vê-la só e desorientada junto às paredes da igreja. Aledis recordou-se do conselho das velhas: «não entres em nenhuma vila ou cidade», e ela não o fizera em Gerona, uma cidade de seis mil habitantes. De onde se encontrava conseguia ver o telhado da igreja de Santa Maria, a sé, em construção; ao lado, o palácio do bispo, e ao lado deste a torre Gironella, alta e forte, e a maior defesa da cidade. Olhou para tudo durante uns instantes e voltou a pôr-se a caminho para Figueras.
A patroa, que continuava a observar enquanto Aledis recordava a sua viagem, viu que a rapariga tremia.
A presença do exército em Figueras levara para ali centenas de pessoas. Aledis somou-se a elas, acossada pela fome. Não conseguia lembrar-se dos rostos. Deram-lhe pão e água fresca. Alguém lhe dera umas verduras. Passaram a noite a norte do rio Fluviá, aos pés do castelo de Pontons, que protegia a passagem do rio pela cidade de Baseara, a meio caminho entre Gerona e Figueras. Aí, os viajantes cobraram-lhe a comida e dois deles montaram-na selvaticamente durante a noite. Já nem se importava! Aledis procurou na memória o rosto de Arnau e protegeu-se nele. No dia seguinte seguiu-os como um animal, uns passos mais atrás, mas não lhe deram comida, nem sequer lhe falaram e, por fim, deixaram-na no acampamento.
E agora... Que estava aquela mulher a olhar? Os olhos dela não se afastavam do seu ventre! Aledis notou como o vestido lhe estava justo na barriga, plana e rija. Mexeu-se, inquieta, e baixou os olhos.
A patroa deixou escapar um esgar de satisfação que Aledis não conseguiu ver. Quantas vezes assistira àquelas confissões silenciosas? Raparigas que inventavam histórias, incapazes de manter as suas mentiras perante a mais leve pressão. Punham-se nervosas e baixavam os olhos, como esta. Quantas gravidezes já vira? Dezenas, centenas? Nunca uma rapariga lhe dissera estar grávida tendo uma barriga tão plana e rija como aquela. Um atraso? Podia ser que sim. Mas era inimaginável que apenas por uma falta viesse a correr contar isso ao marido, a caminho da guerra.
— Assim vestida, não te podes apresentar no acampamento real. — Aledis levantou os olhos e voltou a mirar-se. — Estamos proibidas de lá ir. Se quiseres, eu posso encontrar o teu marido.
— A senhora? Seria capaz de me ajudar? Porque havia de o fazer?
— Por acaso não te ajudei já? Dei-te de comer, lavei-te e vesti-te. Mais ninguém o fez neste acampamento de loucos, pois não? — Aledis anuiu. Um calafrio percorreu-lhe o corpo ao lembrar-se de como a tinham tratado. — Então porque achas estranho? — prosseguiu a mulher. Aledis hesitou. — Somos mulheres públicas, é certo, mas isso não significa que não tenhamos coração. Se alguém me tivesse ajudado, há uns anos... — A patroa parou com o olhar perdido e as suas palavras flutuaram no interior da tenda. — Bem, não interessa. Se quiseres, posso fazê-lo. Conheço muita gente no acampamento e não me seria difícil fazer vir o teu marido.
Aledis avaliou a oferta. Porque não? A patroa pensou na sua futura aquisição. Não seria difícil fazer desaparecer o marido, bastava uma simples corrida pelo acampamento... Devíam-lhe muitos favores, aqueles soldados. Depois, quem acudiria à rapariga? Estaria sozinha. Entregar-se-lhe-ia. A gravidez, a ser verdade, não seria problema: quantas não tinha já solucionado por apenas algumas moedas?
— Agradeço-lhe — consentiu Aledis. Já estava. Já era sua.
— Como se chama o teu marido e de onde vem?
— Vem com a host de Barcelona e chama-se Arnau, Arnau Estanyol — a patroa estremeceu. — Algum problema? — perguntou Aledis.
A mulher procurou o tamborete e sentou-se. Transpirava.
— Não — respondeu. — Deve ser este maldito calor. Chega-me esse leque.
— Não podia ser! — dizia a mulher para consigo enquanto Aledis atendia ao que lhe pedira. Arfava e os seios elevavam-se. Arnau Estanyol! Não podia ser.
— Descreve-me o teu marido — disse-lhe, sentada e aba-ando-se com o leque.
— Oh, deve ser muito fácil dar com ele. É bastaix do porto. É jovem e forte, alto e elegante, e tem um sinal perto do olho direito.
A patroa continuou a abanar-se em silêncio. O seu olhar ia muito para lá de Aledis: ia até uma aldeia chamada Navarcles, até uma festa de casamento, a uma enxerga e a um castelo... Até Llorenç de Bellera, ao escárnio, à fome, à dor... Quantos anos tinham passado? Vinte? Sim, deviam ser vinte, talvez até mais. E agora...
Aledis interrompeu-lhe o silêncio:
— Conhece-o?
— Não... não.
Tinha chegado a conhecê-lo? Na verdade, pouco recordava dele. Ela própria era apenas uma criança, então!
— Ajuda-me a encontrá-lo? — voltou a interrompê-la Aledis.
«E quem me ajudará a mim se me encontrar com ele a sós?» Precisava de ficar sozinha.
— Assim farei — afirmou, apontando-lhe a saída da tenda.
Quando Aledis saiu, Francesca levou as mãos à cara. Arnau! Chegara a esquecê-lo. Obrigara-se a fazê-lo, e agora, vinte anos mais tarde... Se a rapariga estivesse a falar verdade, aquele filho que trazia nas entranhas seria... seu neto! E ela que chegara a pensar em matá-lo. Vinte anos! Como seria ele? Aledis tinha-lhe dito que era alto, forte e elegante. Mas não o recordava, nem sequer como recém-nascido. Conseguira-lhe o calor da forja, mas depressa deixara de conseguir chegar perto do sítio onde se encontrava o filho.
«Malditos! Eu era ainda uma criança e todos faziam fila para me violar!» Uma lágrima começou a deslizar-lhe pelo rosto. Há quanto tempo não chorava? Vinte anos antes não o fizera. 0 menino ficará melhor com Bernat, pensara. Ao ínteirar-se de tudo aquilo, Dona Catarina esbofeteara-a e ela acabara arras-tando-se entre a soldadesca, primeiro, e entre os desperdícios e o lixo, depois, junto à muralha do castelo. Já ninguém a queria, e vagueava por entre imundícies e lixos, juntamente com uma chusma de desgraçados como ela, lutando por restos de comida apodrecida e cheia de vermes. Aí encontrara uma rapariguinha. Estava magra, mas era bonita. Ninguém a vigiava. Talvez se... Ofereceu-lhe restos de comida, dos que guardava para si. A garota sorriu e os seus olhos iluminaram-se: provavelmente, não conhecia outra vida a não ser aquela. Lavou-a num riacho e esfregou-lhe a pele com areia até que ela gritou de dor e de frio. Depois, só tivera de levá-la a um dos oficiais do castelo do senhor de Bellera. Aí começara tudo. «Endureci, filho, endureci ao ponto de o meu coração se ter empedernido. Que te contou de mim o teu pai? Que te abandonei à morte?»
Nessa mesma noite, quando os oficiais do rei e os soldados bafejados pela sorte aos dados ou às cartas vieram à tenda, Francesca perguntou por Arnau.
— O bastaix?— respondeu um deles. — Claro que o conheço; toda a gente o conhece. — Francesca inclinou a cabeça. — Dizem que venceu um veterano que toda a gente receava — explicou o oficial —, e que Eiximèn d'Esparça, o escudeiro do rei, o recrutou para a sua guarda pessoal. Tem um sinal junto do olho. Treinaram-no para usar o punhal, sabes? Desde aí, já competiu em várias lutas, e venceu em todas. Vale a pena apostar a favor dele — o oficial sorriu.
— Porque te interessas por ele? — acrescentou, abrindo o sorriso.
Porque não haveria de dar asas a uma imaginação reconfortante, pensou Francesca. Era difícil oferecer outra explicação. E piscou um olho ao oficial.
— Estás muito velha para tanto homem — riu-se o soldado.
Francesca não se demoveu.
— Traz-mo, e não te arrependerás.
— Aonde? Aqui?
E se, no fim de contas, Aledis estivesse a mentir? Nunca as suas primeiras impressões lhe tinham falhado.
— Não. Aqui, não.
Aledis afastou-se alguns passos da tenda de Francesca. A noite estava bonita, com o céu estrelado, e quente, com uma Lua que tingia de amarelo a escuridão. A rapariga olhava para o céu e para os homens que entravam na tenda e saíam acompanhados por algumas das raparigas; depois, dirigiam-se para uns arbustos, de onde regressavam passado algum tempo, umas vezes a rir, outras vezes em silêncio. E faziam isso uma e outra vez. De cada vez que o faziam, as mulheres dirigiam-se à selha onde Aledis se banhara e lavavam as partes, olhando-a com descaramento, como fizera aquela mulher a quem, certa vez, a mãe não lhe permitira que cedesse a passagem.
— Porque não a prendem? — perguntara então Aledis à mãe.
Eulália olhara para a filha, avaliando se já era suficientemente adulta para receber uma explicação.
— Não podem fazê-lo; tanto o rei como a Igreja permitem-lhes exercer a sua profissão — Aledis olhava para a mãe, incrédula. — Sim, filha, sim. A Igreja diz que as mulheres públicas não podem ser castigadas pela lei terrena, que isso será feito pela lei divina — como poderia explicar a uma criança que a verdadeira razão pela qual a Igreja mantinha aquela regra era apenas para evitar o adultério ou as relações contranatura? Eulália olhara de novo para a filha. Não, ainda não podia saber o que eram relações contranatura.
Antónia, a jovem dos cabelos louros frisados, estava junto da selha e sorriu-lhe. Aledis cerrou os lábios num trejeito a fazer de sorriso e deixou-a tratar da sua vida.
Que mais lhe contara a mãe?, pensava, tentando distrair-se. Que não podiam viver em cidade, vila ou lugar algum em que vivessem pessoas honestas, sob pena de serem expulsas mesmo das suas próprias casas se os vizinhos assim o pedissem. Que estavam obrigadas a escutar sermões religiosos para procurar a sua reabilitação. Que não podiam usar os banhos públicos a não ser às segundas e às quintas-feiras, dias reservados a judeus e sarracenos. E que com o seu dinheiro podiam fazer caridade, mas nunca uma oferenda diante do altar.
Antónia, de pé sobre a selha, com a saia repuxada numa mão, continuava a lavar-se com a outra, e continuava a sorrir-lhe! De cada vez que se erguia depois de apanhar água com a mão para a levar entre as pernas, olhava-a e sorria-lhe. E Aledis tratava de lhe devolver o sorriso, tentando não baixar o olhar para o púbis dela, exposto à luz da Lua.
Porque lhe sorria ela? Devia ser apenas uma criança ainda, e já estava condenada. Uns anos antes, logo depois de o pai ter negado o seu casamento com Arnau, a mãe levara-as, a ela e a Ales ta, ao mosteiro de São Pedro de Barcelona. «Que o vejam!», ordenara o curtidor à mulher. O átrio estava cheio de portas que tinham sido arrancadas dos gonzos, e estavam encostadas às arcadas ou atiradas para o pátio. O rei Pedro concedera à abadessa de São Pedro o privilégio de, com a sua autoridade e sem implorar auxílio de ninguém, poder ordenar às mulheres desonestas que saíssem das suas paróquias, e depois arrancar as portas das casas delas e levá-las para o átrio do mosteiro. A abadessa pusera de imediato mãos à obra e de que maneira!
— Tudo isto é de gente despejada? — perguntara Alesta enquanto agitava uma mão aberta e recordava como os tinham despejado a eles de sua casa, antes de irem para a de Pere e Mariona: tinham arrancado a porta por falta de pagamento.
— Não, filha — respondera a mãe. — Isto é o que acontece às mulheres que não cumprem com a castidade.
Aledis reviveu aquele momento. Enquanto falava, a mãe olhara para ela directamente, com os olhos semicerrados.
Afastou aquela má recordação da mente movendo a cabeça de um lado para o outro, até se encontrar de novo com Antónia e o seu púbis louro, coberto de pêlos encaracolados, como os cabelos da sua cabeça. Que faria com Antónia a abadessa de São Pedro?
Francesca saiu da tenda em busca da rapariga. «Menina!», gritou-lhe. Aledis observou como Antónia saltava da selha, se calçava e entrava a correr na tenda. Depois, o seu olhar encontrou o de Francesca por alguns segundos, antes de a patroa regressar aos seus afazeres. Que escondia aquele olhar?
Eiximèn d'Esparça, escudeiro de sua majestade o rei Pedro III, era uma personagem importante, bastante mais importante pelo seu estatuto que pela sua compleição, porque no momento em que se apeou do imponente cavalo de guerra e tirou a armadura mostrou-se um homem baixo e magro. Débil, concluiu Arnau, temendo que o nobre adivinhasse os seus pensamentos.
Eiximèn d'Esparça estava no comando de uma companhia de almogávares que pagava do seu próprio pecúlio. Quando olhava para os seus homens, era assaltado por dúvidas. Onde estaria a lealdade daqueles mercenários? Na sua mesnada, apenas na sua mesnada. Por isso, gostava de se rodear de uma guarda pretoriana, e o combate de Arnau tinha-o impressionado.
— Que arma sabes utilizar? — perguntou a Arnau o oficial do escudeiro real. O bastaix mostrou a balestra do pai. — Isso já eu imaginava. Todos os catalães sabem usá-la; é sua obrigação. Alguma outra?
Arnau fez que não com a cabeça.
— E esse punhal? — O oficial apontou para a arma que Arnau trazia à cinta, e desatou a rir em gargalhadas sonoras, lançando a cabeça para trás, quando Arnau lhe mostrou o punhal rombo. — Com isso — acrescentou, ainda a rir — não conseguirias rasgar nem sequer o hímen de uma donzela. Treinarás com um punhal de verdade, no corpo-a-corpo.
Procurou numa arca e entregou-lhe um machete, muito maior e mais longo que o seu punhal de bastaix. Arnau passou um dedo pela lâmina. A partir daí, dia após dia, Arnau juntou-se à guarda de Eiximèn d'Esparça para treinar a luta
corpo-a-corpo com o seu novo punhal. Também lhe forneceram um uniforme colorido que incluía uma cota de malha, um elmo — que procurava polir até ficar reluzente — e fortes sapatos de couro que se atavam às pernas por meio de tiras cruzadas. Os duros treinos alternavam com combates reais, corpo-a-corpo, sem armas, organizados pelos oficiais dos nobres do acampamento. Arnau tornou-se o representante das tropas do escudeiro real e não passou um dia sem que participasse numa ou duas lutas diante de toda a gente, que se amontoava em seu redor, gritando e trocando apostas.
Foram suficientes umas quantas lutas para que Arnau alcançasse fama entre os soldados. Quando passeava entre eles, nos poucos momentos de folga que tinha, sentia-se observado e apontado. Que estranha sensação era aquela de sentir que provocava o silêncio à sua passagem!
O oficial de Eiximèn d'Esparça sorriu quando o seu companheiro lhe fez a pergunta:
— Também posso desfrutar de uma das mulheres dela? — quis saber.
— Claro. A velha está empenhada no teu soldado. Nem podes imaginar como lhe brilhavam os olhos.
Os dois riram-se.
— Aonde devo levá-lo?
Francesca escolheu para a ocasião uma pequena taberna nos arredores de Figueras.
— Não faças perguntas e obedece — disse o oficial a Arnau —, há alguém que te quer ver.
Os dois oficiais acompanharam-no até à taberna e, uma vez lá, até ao mísero quarto onde o esperava Francesca.
Quando Arnau entrou, fecharam a porta e trancaram-na por fora. Arnau virou-se e tentou abri-la; depois, bateu na porta.
— Que se passa? — gritou. — Que significa isto?
Teve por resposta as gargalhadas dos oficiais.
Arnau escutou-os durante uns segundos. Que significava aquilo?
De repente, notou que não estava sozinho e virou-se. Francesca, de pé, observava-o apoiada contra a janela, tenuemente iluminada pela luz de uma vela que estava pendurada numa das paredes; apesar da penumbra, o seu vestido verde brilhava. Uma prostituta! Quantas histórias de mulheres tinha ouvido ao calor das fogueiras do acampamento, quantos se gabavam de ter gasto o seu dinheiro com uma rapariga, sempre melhor, mais bela e mais voluptuosa que a do anterior. Então, Arnau calava-se e baixava os olhos: ele chegara ali fugindo de duas mulheres! Talvez... Talvez aquela partida tivesse sido o resultado dos seus silêncios, da sua aparente falta de interesse pelas mulheres... Quantas vezes lhe tinham lançado provocações perante os seus silêncios?
— Que brincadeira é esta? — perguntou a Francesca. — Que queres de mim?
Ainda não o via. A vela não iluminava o suficiente, mas aquela voz... A voz era já a de um homem, e era grande e alto, como a rapariga lhe dissera. Notou que os joelhos lhe tremiam e as pernas lhe fraquejavam. O seu filho!
Francesca teve de pigarrear antes de falar.
— Tranquiliza-te. Não quero nada que possa comprometer a tua honra. Em qualquer caso — acrescentou —, estamos sós; que poderia fazer eu, uma fraca mulher, contra um homem jovem e forte como tu?
— Então, porque se riem aqueles lá fora? — perguntou Arnau, ainda junto da porta.
— Deixa que se riam o que quiserem. A mente dos homens é retorcida, e em geral agrada-lhes acreditar sempre no pior. Talvez, se lhes tivesse dito a verdade, se lhes tivesse contado as razões da minha insistência em ver-te, não se tivessem mostrado tão dispostos como estiveram quando a imaginação lhes avivou a luxúria.
— Que haviam eles de pensar de uma prostituta e de um homem fechados num quarto de uma taberna? Que se pode esperar de uma prostituta?
O tom dele foi duro, contundente. Francesca conseguiu recompor-se.
— Também somos pessoas — disse, levantando a voz. — Santo Agostinho escreveu que seria Deus quem havia de julgar as meretrizes.
— Não me terás feito vir até aqui para falar de Deus?
— Não — Francesca aproximou-se dele; tinha de lhe ver o rosto.
— Disse-te para vires para te falar da tua mulher. Arnau hesitou. Era de facto muito elegante.
— Que se passa? Como é possível...
— Está grávida.
— Maria?
— Aledis... — corrigiu Francesca, sem pensar; mas ele tinha dito Maria?
— Aledis?
Francesca viu que o jovem estremecera. Que significava aquilo?
— Que fazem aí, falando tanto? — ouviu-se gritarem do outro lado da porta, entre fortes pancadas e gargalhadas. — Que se passa, patroa? E demasiado homem para ti?
Arnau e Francesca olharam-se. Ela fez-lhe sinal para que se afastasse da porta e Arnau obedeceu. Os dois baixaram a voz.
— Disseste Maria? — perguntou-lhe Francesca quando já estavam perto da janela, no extremo oposto do quarto.
— Sim. A minha mulher chama-se Maria.
— E quem é Aledis, então? Ela disse-me...
Arnau disse que não com a cabeça. Seria tristeza o que aparecera nos seus olhos?, perguntou-se Francesca. Arnau perdera a compostura: os braços caíam-lhe dos ombros e o pescoço, antes tão direito, parecia incapaz de suportar o peso da cabeça. No entanto, não respondeu. Francesca sentiu uma dor no mais profundo do seu ser. Que se passa, filho? — Quem é Aledis? — insistiu.
Arnau tornou a negar com a cabeça. Tinha deixado tudo; Maria, o seu trabalho, a Virgem... e agora, ali estava, grávida! Toda a gente ia saber. Como poderia regressar a Barcelona, ao seu trabalho, à sua casa?
Francesca desviou o olhar para a janela. Lá fora estava escuro. O que era aquela dor que a oprimia? Vira homens arrastando-se, mulheres escorraçadas; presenciara a morte e a miséria, a doença e a agonia, mas nunca, até então, se sentira assim.
— Não acredito que esteja a falar verdade — afirmou, com a garganta apertada, sem deixar de olhar pela janela. Notou como Arnau se aproximava dela.
— Que queres dizer?
— Que creio que não está grávida, que está a mentir.
— Que diferença faz? — ouviu-se Arnau dizer a si próprio.
Estava ali, era o suficiente. Seguia-o, voltando a acossá-lo. De nada servia tudo o que tinha feito.
— Eu podia ajudar-te.
— E porque havias de o fazer?
Francesca virou-se para ele. Quase se tocavam. Podia senti-lo. Conseguia sentir o cheiro dele. «Porque és meu filho!» poderia dizer-lhe; seria esse o momento certo, mas... que teria contado Bernat acerca dela? De que serviria que aquele rapaz soubesse que a sua mãe era uma mulher pública? Francesca estendeu uma mão, a tremer. Arnau não se mexeu. De que serviria? Deteve o gesto. Tinham-se passado mais de vinte anos e ela não passava de uma prostituta.
— Porque ela me enganou a mim — respondeu-lhe. — Dei-lhe de comer, vestia e acolhia. Não gosto que me enganem. Pareces-me boa pessoa e creio que também te está a tentar enganar a ti.
Arnau olhou-a directamente nos olhos. Que diferença lhe fazia isso agora? Livre do marido e longe de Barcelona, Aledis contaria tudo, e ainda por cima aquela mulher... Que havia nela que se tornava tranquilizador?
Arnau baixou a cabeça e começou a falar.
O rei Pedro III, o Cerimonioso, estava já há seis dias em Figueras quando, a 28 de Julho de 1343, ordenou que levantassem o acampamento e iniciassem a marcha para o Rossilhão.
— Terás de esperar — disse Francesca a Aledis, enquanto as raparigas desmontavam a tenda para seguirem o exército. — Quando o rei dá ordem de marcha, os soldados não podem abandonar as fileiras. Talvez no próximo acampamento...
Aledis interrogou-a com o olhar.
— Já lhe mandei recado — acrescentou Francesca, sem dar importância. — Vens connosco?
Aledis assentiu.
— Pois então, ajuda — ordenou-lhe Francesca.
Mil e duzentos homens a cavalo e mais de quatro mil a pé, armados para a guerra e com provisões para oito dias, puseram-se em movimento em direcção a La Junquera, a pouco mais de meia jornada de Figueras. Atrás do exército, uma infinidade de carros, mulas e todo o tipo de gente. Uma vez em La Junquera, o rei mandou acampar outra vez; um novo mensageiro do Papa, um frade agostinho, trazia outra carta de Jaime III. Quando Pedro III conquistara Maiorca, o rei Jaime acorrera ao Papa, em busca de ajuda; frades, bispos e cardeais tinham mediado sem êxito perante o Cerimonioso.
Como acontecera com os anteriores, o rei não fez caso do novo enviado papal. O exército passou a noite em La Junquera. Seria o momento?, pensava Francesca enquanto observava como Aledis ajudava as outras raparigas com a comida. Não, concluiu. Quanto mais longe estivessem de Barcelona, da antiga vida de Aledis, mais oportunidade teria Francesca. «Temos de esperar», respondera, quando a rapariga perguntara por Arnau.
Na manhã seguinte, o rei levantou o acampamento de novo.
— Para Panissars! Em ordem de batalha! Em quatro grupos dispostos para combate.
A ordem correu pelas fileiras do exército. Arnau ouviu-a junto à guarda pessoal de Eiximèn d'Esparça, pronta para marchar. Para Panissars! Alguns gritavam-no, outros apenas o sussurravam, mas todos o faziam com orgulho e respeito. O desfiladeiro de Panissars! A passagem pelos Pirenéus, das terras catalãs para as do Rossilhão. A apenas meia légua de La Junquera, nessa noite, em redor de todas as fogueiras, podiam ouvir-se as façanhas de Panissars.
Tinham sido eles, os Catalães, seus pais, seus avós, que tinham vencido os Franceses. Só eles, os Catalães! Anos antes, o rei Pedro, o Grande, fora excomungado pelo Papa por ter conquistado a Sicília sem o seu consentimento. Os Franceses, sob o comando do rei Filipe, o Atrevido, declararam guerra ao herege, em nome da Cristandade, e com a ajuda de alguns traidores, atravessaram os Pirenéus pela passagem de la Maçana.
Pedro, o Grande, teve de bater em retirada. E os nobres e cavaleiros de Aragão abandonaram o rei e partiram com os seus exércitos para as suas terras.
— Só restávamos nós! — disse alguém no meio da noite, fazendo calar mesmo o sussurro da fogueira.
— E Roger de Llúria! — respondeu outro.
O rei, desbaratados os seus exércitos, teve de deixar que os Franceses invadissem a Catalunha, enquanto esperava que chegassem reforços da Sicília, por mão do almirante Roger de Llúria. Pedro, o Grande, ordenou ao visconde Ramon Folch de Cardona, defensor de Gerona, que resistisse ao assédio dos Franceses até que Roger de Llúria chegasse à Catalunha. O visconde de Cardona assim fez e defendeu epicamente a cidade até o seu monarca lhe permitir que rendesse a cidade ao invasor.
Roger de Llúria chegou e derrotou a armada francesa; entretanto, em terra, o exército francês viu-se assolado por uma epidemia.
— Profanaram o túmulo de São Narciso quando tomaram Gerona — interveio alguém.
Milhões de moscas saíram do sepulcro do santo, segundo diziam os velhos do lugar, quando os Franceses o profanaram. Esses insectos propagaram a epidemia entre as fileiras francesas. Derrotados no mar, doentes em terra, o rei Filipe, o Atrevido, solicitou uma trégua para retirar sem que houvesse uma matança.
Pedro, o Grande, permitiu-a, mas, avisou, apenas em seu nome, no dos nobres e dos seus cavaleiros.
Arnau ouviu os gritos dos almogávares que entravam em Panissars. Protegendo os olhos, olhou para cima, para as montanhas que rodeavam a passagem, e onde reverberavam os gritos dos mercenários. Ali, junto a Roger de Llúria, observados de cima por Pedro, o Grande, e os seus nobres, os mercenários acabaram com o exército francês, depois de matarem milhares de homens. No dia seguinte, em Perpignan, morreu Filipe, o Atrevido, e acabou a cruzada contra a Catalunha.
Os almogávares continuavam a gritar ao longo de todo o desfiladeiro, desafiando um inimigo que não apareceu; talvez se lembrassem do que lhes tinham contado os seus pais ou avós sobre o que se tinha passado ali mesmo, uns cinquenta anos antes.
Aqueles homens esfarrapados, que quando não guerreavam como mercenários viviam nos bosques e nas montanhas, dedicando-se a saquear e a devastar terras sarracenas, fazendo letra morta de qualquer tratado que os reis cristãos da península tivessem combinado com os chefes mouros, andavam ali à vontade. Arnau comprovou isso no caminho de Figueras para La Junquera, e agora via-o de novo: dos quatro grupos em que o rei dividira o exército, os três restantes marchavam em formação, sob os seus pendões, mas o dos almogávares fazia-o em desordem, gritando, ameaçando, rindo e até troçando do inimigo que não aparecia e do que noutros tempos o tinha feito.
— Não têm chefes? — perguntou Arnau depois de ver como os almogávares, quando Eiximèn d'Esparça ordenara que fizessem alto, os ultrapassavam de forma desordenada e despreocupada, e prosseguiam o seu caminho.
— Não parece, pois não? — respondeu um veterano, firme ao seu lado, como todos os que compunham a guarda pessoal do escudeiro real.
— Não. Não parece.
— Mas sim, têm chefes, e que se atrevam a desobedecer-lhes... Não são chefes como os nossos. — O veterano apontou para Eiximèn d'Esparça; depois, tirou um insecto imaginário da sua escudela e agitou-o no ar. Vários soldados juntaram-se aos risos de Arnau.
— Isso, sim, são chefes — continuou o veterano, pondo-se sério de repente. — Ali, não serve de nada ser filho de alguém, chamar-se fulano ou beltrano, ou ser o protegido do conde, ou o que seja. Os mais importantes são os adalils. — Arnau olhou para os almogávares, que continuavam a passar ao seu lado. — Não, não te esforces; não conseguirias distingui-los. Vestem-se todos de igual, mas eles sabem muito bem quem são. Para se chegar a ser adalil são precisas quatro virtudes: sabedoria para conduzir as hostes; ser esforçado e saber exigir o mesmo esforço aos homens que cada um comanda; ter dotes naturais para o comando e, sobretudo, ser leal.
— Isso é o mesmo que dizem que ele tem — interrompeu-o Arnau, apontando para o escudeiro real e fazendo o mesmo gesto com os dedos da mão direita.
— Sim, mas a esse ninguém lho discutiu, nem se discute. Para se chegar a ser adalil dos almogávares é necessário que doze outros adalils jurem, sob pena de morte, que o aspirante cumpre essas condições. Não restariam nobres no mundo se tivessem de jurar da mesma forma sobre os seus iguais... sobretudo quando se trata de lealdade.
Os soldados que ouviam a conversa anuíram, sorrindo. Arnau tornou a olhar para os almogávares. Como podiam matar um cavalo com uma simples lança e em plena carga?
— Abaixo dos adalils — continuou a explicar o veterano — estão os almogatens; têm de ser peritos na guerra, esforçados, ligeiros e leais, e a sua forma de escolha é a mesma; doze almogatens têm de jurar que o candidato reúne essas qualidades.
— Sob pena de morte? — perguntou Arnau.
— Sob pena de morte — confirmou o veterano. O que Arnau não podia imaginar era que a rebeldia daqueles guerreiros chegara ao ponto de desobedecerem ao rei. Pedro III ordenara que, depois de atravessado o desfiladeiro de Panissars, o exército se dirigisse para a capital do Rossilhão: Perpignan. No entanto, quando as tropas o tinham acabado de cruzar, os almogávares separaram-se delas em direcção ao castelo de Bellaguarda, erguido no cimo do pico do mesmo nome, situado sobre o desfiladeiro de Panissars.
Arnau e os soldados do escudeiro real viram como eles marchavam, subindo ao topo do Bellaguarda. Continuavam a gritar, como tinham feito ao longo de todo o desfiladeiro. Eiximèn d'Esparça voltou-se para onde se encontrava o rei, que também os observava.
Mas Pedro III não fez nada. Como deter aqueles mercenários? Virou costas e continuou o seu caminho para Perpignan. Esse foi o sinal para Eiximèn d'Esparça: o rei admitia o assalto ao castelo de Bellaguarda, mas era ele quem pagava aos almogávares; se havia algum saque, ele teria de estar lá. Assim, enquanto o grosso do exército continuava em formação, Eiximèn d'Esparça e os seus homens iniciaram a subida até Bellaguarda, atrás dos almogávares.
Os catalães sitiaram o castelo e, durante o resto do dia e durante toda a noite, os mercenários dedicaram-se a abater árvores para construírem máquinas de assédio: escadas de assalto e um grande aríete montado sobre rodas, que oscilava
por meio de umas cordas que pendiam de um tronco superior, coberto de peles para proteger os homens que o iriam manejar.
Arnau estivera a fazer guarda em frente aos muros de Bellaguarda. Como se assaltava um castelo? Teriam de ir de peito descoberto, para cima, enquanto os defensores se limitariam a disparar contra eles, resguardados pelas ameias. Ali estavam. Via como eles assomavam e os olhavam. A certa altura, pareceu-lhe que algum dos defensores estava a olhar directamente para ele. Pareciam tranquilos, enquanto ele tremia ao notar a atenção daqueles assediados.
— Parecem muito seguros de si — comentou para um dos veteranos que estava a seu lado.
— Não te deixes enganar — respondeu o outro. — Ali dentro, estão a passar por muito pior que nós. Além disso, já viram os almogávares.
Os almogávares; sempre os almogávares. Arnau voltou-se para eles. Trabalhavam sem descanso, agora perfeitamente organizados. Ninguém ria, nem discutia; trabalhavam.
— Como podem eles fazer tanto medo aos que estão por detrás destas muralhas? — perguntou.
O veterano riu-se.
— Nunca os viste a lutar, pois não? — Arnau fez que não com a cabeça. — Pois espera, e verás.
Esperou, dormitando no chão, ao longo de uma noite tensa em que os mercenários não pararam de construir as suas máquinas, à luz de tochas que iam e vinham sem descanso.
Ao romper do dia, quando a luz do Sol começava a surgir no horizonte, Eiximèn d'Esparça deu ordens às suas tropas para que se dispusessem em formação. A escuridão da noite mal se tinha desvanecido com aquela luz distante. Arnau procurou os almogávares. Tinham obedecido e estavam formados em frente às muralhas de Bellaguarda. Depois, olhou para o castelo, acima deles. Tinham desaparecido todas as luzes, mas eles estavam lá; durante toda a noite não tinham feito outra coisa senão preparar-se para o assalto. Arnau sentiu um calafrio. Que fazia ele ali? O amanhecer estava fresco e, no entanto, as suas mãos, agarradas à balestra, não paravam de suar. O silêncio era total. Poderia morrer. Durante o dia, os defensores tinham-no olhado por várias vezes, tinham olhado para ele, um simples bastaix; os rostos daqueles homens, então perdidos na distância, ganharam vida. Ali estavam, esperando-o! Tremeu. As pernas tremeram-lhe e teve de fazer um esforço para evitar que os dentes começassem a bater. Apertou a balestra contra o peito para que ninguém se apercebesse do tremor das suas mãos. O oficial tinha-lhe indicado que quando desse a ordem de atacar se aproximasse das muralhas e se protegesse atrás de umas pedras, para disparar a sua balestra contra os defensores. O problema seria chegar até essas pedras. Chegaria lá? Arnau não descolava os olhos do sítio onde as pedras estavam; tinha de lá chegar, proteger-se, disparar, esconder-se e voltar a disparar... Um grito rasgou o silêncio.
A ordem! As pedras! Arnau ia correr para as pedras, mas a mão do oficial agarrou-o pelo ombro.
— Ainda não — disse-lhe.
— Mas...
— Ainda não — insistiu o oficial. — Olha. O soldado apontou para os almogávares.
Outro grito ecoou, vindo das fileiras:
— Acorda, ferro!
Arnau não conseguiu afastar o olhar dos mercenários. Em pouco tempo, todos eles estavam a gritar em uníssono.
— Acorda, ferro! Acorda, ferro!
Começaram a bater com as lanças e as facas até que o som do metal se tornou mais forte que as suas próprias vozes.
— Acorda, ferro!
E o aço começou a acordar: lançava chispas à medida que as armas batiam e voltavam a bater, entre si ou contra as pedras. O clamor arrebatou Arnau. Pouco a pouco, as chispas, centenas delas, milhares delas, rasgaram a escuridão e os almogávares apareceram, rodeados por um halo luminoso.
Arnau surpreendeu-se a si mesmo golpeando o ar com a sua balestra.
— Acorda, ferro! — gritava. Já não suava, já não tremia. — Acorda, ferro!
Olhou para as muralhas; parecia que iriam derrubar-se sob os gritos dos almogávares. O chão retumbava e o resplendor das chispas crescia à sua volta. De repente soou uma trombeta e a gritaria transformou-se num ulular estarrecedor:
— Sant Jordi! Sant Jordi!
— Desta vez, sim — gritou-lhe o oficial, empurrando-o para a frente, atrás das centenas de homens que se lançavam ferozmente ao assalto.
Arnau correu para se colocar atrás das pedras, junto ao oficial e a um corpo de balestreiros, ao pé das muralhas. Concentrou-se numa das escadas que os almogávares tinham apoiado contra a muralha e tentou fazer pontaria às figuras que, das ameias, lutavam para impedir o assalto dos mercenários, que continuavam a gritar como possessos. E assim fez. Por duas vezes, acertou nos corpos dos defensores, no local onde as suas cotas de malha não os defendiam, e viu-os desaparecer após o impacto das flechas.
Um grupo de assaltantes conseguiu superar os muros da fortaleza e Arnau notou como o oficial, batendo-lhe no ombro, lhe chamava a atenção para que não disparasse mais. O aríete não foi necessário. Quando os almogávares alcançaram as ameias, as portas do castelo abriram-se e vários cavaleiros fugiram a toda a brida para não serem tomados como reféns. Dois deles caíram sob os tiros das balestras catalãs; os restantes conseguiram escapar. Alguns ocupantes, órfãos de autoridade, renderam-se. Eiximèn d'Esparça e os seus cavaleiros acederam ao interior do castelo com os seus cavalos de guerra e mataram quantos continuavam a opor-se-lhes. Depois, entraram a correr os homens a pé.
Arnau ficou quieto depois de cruzadas as muralhas, com a balestra pendurada do ombro e o punhal na mão. Já não era necessário. O pátio do castelo estava cheio de cadáveres, e os que não tinham perecido estavam de joelhos, desarmados, suplicando aos cavaleiros que percorriam o pátio com as suas longas espadas desembainhadas. Os almogávares entregavam-se ao saque; uns na torre, outros revistando os cadáveres com uma avidez que obrigou Arnau a desviar o olhar. Um dos almogávares dirigiu-se a ele e ofereceu-lhe um punhado de flechas; algumas procedentes de disparos falhados, muitas manchadas de sangue, outras mesmo com pedaços de carne agarrados. Arnau hesitou. O almogávar, um homem já mais idoso, magro como as flechas que lhe oferecia, surpreendeu-se; depois, sorriu mostrando uma boca sem dentes e ofereceu as flechas a outro soldado.
— Que fazes? — perguntou este último a Arnau. — Por acaso esperas que Eiximèn te reponha as flechas que gastaste? Limpa-as — disse-lhe, atirando-lhas para os pés.
Em poucas horas, tudo estava acabado. Os homens vivos foram agrupados e manietados. Nessa noite, seriam vendidos como escravos no acampamento que seguia o exército. As tropas de Eiximèn d'Esparça puseram-se de novo em marcha, na esteira do rei; transportavam os seus feridos e deixavam atrás de si dezassete catalães mortos e uma fortaleza em chamas que não voltaria a ser útil aos seguidores do rei Jaime III.
Eiximèn d'Esparça e os seus homens alcançaram o exército real nas proximidades da vila de Elna, a Orgulhosa, a apenas duas léguas de Perpignan, e em cujos arredores o rei decidiu passar a noite, e onde recebeu a visita de outro bispo, que, mais uma vez infrutiferamente, tentou mediar em nome de Jaime de Maiorca.
Embora o rei não tivesse posto objecções a que Eiximèn d'Esparça e os seus almogávares tomassem o castelo de Bellaguarda, desta vez tentou impedir que, no trajecto para Elna, outro grupo de cavaleiros tomasse pelas armas a torre de Nidoleres. No entanto, quando o rei lá chegou, os cavaleiros já a tinham assaltado, matado os ocupantes e incendiado o local.
Em contrapartida, ninguém ousou aproximar-se de Elna, nem molestar os seus habitantes.
O exército inteiro reuniu-se em redor das fogueiras de campo e olhou para as luzes da cidade. Elna mantinha as suas portas abertas, em claro desafio aos Catalães.
— Por que razão... — começou Arnau a perguntar, sentado junto da fogueira.
— A Orgulhosa? — interrompeu-o um dos mais veteranos.
— Sim. Por que razão é tão respeitada? Porque não fecham as suas portas?
O veterano olhou para a cidade antes de responder.
— A Orgulhosa pesa-nos nas nossas consciências... Na consciência catalã. Eles sabem que não nos aproximaremos
— O veterano calou-se. Arnau aprendera já a respeitar a maneira de ser dos soldados. Sabia que se o apressasse, o outro o olharia com desprezo e já não falaria mais. Todos os veteranos gostavam de se deleitar com as suas recordações ou com as suas histórias, verdadeiras ou falsas, exageradas ou não. Manter a intriga era uma das manias deles. Por fim, o outro recomeçou o discurso:
— Na guerra contra os Franceses, quando Elna nos pertencia, Pedro, o Grande, prometeu defendê-la e mandou um destacamento de cavaleiros catalães. Mas estes traíram-na: fugiram durante a noite e deixaram-na à mercê do inimigo
— O veterano cuspiu para o fogo. — Os Franceses profanaram as igrejas, assassinaram as crianças atirando-as contra as paredes, violaram as mulheres e executaram todos os homens... menos um. A matança de Elna pesa na nossa consciência. Nenhum catalão ousará aproximar-se de Elna.
Arnau voltou a olhar para as portas abertas da Orgulhosa. Depois, observou os diversos agrupamentos que formavam o acampamento; havia sempre alguém que olhava para Elna em silêncio.
— Quem foi esse a quem perdoaram? — perguntou, rompendo com as suas próprias regras.
O veterano escutou-o do outro lado da fogueira.
— Foi um homem chamado Bastard de Rosselló — Arnau tornou a esperar até que o homem se decidisse a progredir. — Anos mais tarde, esse soldado conduziu as tropas francesas através da passagem de la Maçana para invadir a Catalunha.
O exército dormiu à sombra da cidade de Elna.
Também assim fizeram, afastadas dele, centenas de pessoas que o seguiam. Francesca olhou para Aledis. Seria aquele o local adequado? A história de Elna percorrera tendas e barracas, e no acampamento reinava um silêncio pouco habitual. Ela própria olhou várias vezes para as portas abertas da Orgulhosa. Sim, encontravam-se em terras pouco hospitaleiras: nenhum catalão seria bem recebido em Elna ou nos seus arredores. Aledis estava longe de casa. Só faltava que, além disso, ficasse sozinha.
— O teu Arnau morreu — disse-lhe, quando Aledis acorreu, depois de a chamar.
A rapariga foi-se abaixo; Francesca viu-a empalidecer dentro do vestido verde. Aledis levou as mãos à cara e o seu choro rompeu aquele estranho silêncio.
— Como... Como foi? — perguntou ao fim de um pouco.
— Enganaste-me — limitou-se a responder-lhe Francesca, friamente.
Aledis olhou para ela, com os olhos cheios de lágrimas, soluçando, tremendo. Depois, baixou os olhos.
— Enganaste-me — repetiu Francesca. E Aledis não respondeu. — Queres saber como foi? Matou-o o teu marido, o verdadeiro, o mestre curtidor.
Pau? Impossível! Aledis levantou a cabeça. Era impossível que aquele velho...
— Apresentou-se no acampamento real, acusando esse tal Arnau de te ter sequestrado — prosseguiu Francesca, interrompendo os pensamentos da jovem. Queria observar as reacções dela. Arnau tinha-lhe contado que ela receava o marido. — O rapaz negou e o teu marido desafíou-o — Aledis tentou interromper: como poderia Pau desafiar alguém? — Pagou a um oficial para que lutasse por ele — continuou Francesca, obrigando-a a manter-se em silêncio. — Não sabias disso? Quando alguém é demasiado velho para lutar, pode pagar a outro para que o faça em seu lugar. O teu Arnau morreu a defender a sua honra.
Aledis ficou desesperada. Francesca viu-a tremer. Pouco a pouco, as pernas começaram a ceder e caiu ao chão, de joelhos diante de Francesca, mas esta não se apiedou.
— Dizem-me que o teu marido anda à tua procura. Aledis voltou a levar as mãos à cara.
— Terás de abandonar-nos. Antónia vai dar-te as tuas roupas antigas.
Era aquele o olhar que queria ver. Medo! Pânico!
As perguntas voavam na cabeça de Aledis. Que ia fazer? Aonde havia de ir? Barcelona ficava do outro lado do mundo e, de qualquer forma, o que a esperava lá? Arnau, morto! A viagem desde Barcelona até Figueras passou-lhe pela mente como um raio e todo o seu corpo sentiu o horror, a humilhação, a vergonha... a dor. E Pau à procura dela!
— Não... — tentou dizer Aledis. — Não poderia...
— Não posso arranjar problemas — respondeu Francesca com seriedade.
— Protege-me — suplicou. — Não tenho para onde ir. Não tenho a quem acudir.
Soluçava. Ficou de joelhos diante de Francesca, sem se atrever a olhar para ela.
— Não poderia fazer isso. Estás grávida.
— Também isso era mentira — gritou a rapariga.
Já chegara até às pernas dela. Francesca não se mexeu.
— Que farás em troca?
— O que tu quiseres! — gritou Aledis. Francesca escondeu um sorriso. Era aquela a promessa que estava à espera de ouvir. Quantas vezes já tinha obtido o mesmo de outras raparigas como Aledis? — O que tu quiseres — repetiu a rapariga. — Protege-me, esconde-me do meu marido, e farei tudo o que desejares.
— Já sabes o que somos — insistiu a patroa.
E que lhe importava isso? Arnau estava morto. Não tinha nada. Não lhe restava nada... a não ser um marido que a mandaria lapidar se a encontrasse.
— Esconde-me, peço-te. Farei tudo o que queiras — repetiu Aledis.
Francesca mandou que Aledis não se misturasse com os soldados; Arnau era conhecido nas fileiras do exército.
— Trabalharás escondida — disse-lhe no dia seguinte, quando se preparavam para partir. — Não gostaria que o teu marido... — Aledis anuiu antes que ela terminasse a frase. — Não deves deixar-te ver antes que a guerra acabe — Aledis voltou a anuir.
Nessa mesma noite, Francesca mandou recado a Arnau: «Tudo tratado. Não voltará a incomodar-te.»
No dia seguinte, em vez de avançar para Perpignan, onde se encontrava o rei Jaime de Maiorca, Pedro III decidiu prosseguir caminho em direcção ao mar, para a vila de Canet, onde Ramon, visconde do lugar, deveria entregar-lhe o seu castelo, em virtude da vassalagem que lhe jurara após a conquista de Maiorca, quando o monarca catalão, depois da fuga do rei Jaime, o deixara em liberdade depois de lhe render o castelo de Bellver.
E assim foi. O visconde de Canet entregou o castelo ao rei Pedro e o exército pôde descansar e comer em abundância graças à generosidade dos habitantes locais, que confiavam em que os catalães levantariam dentro em breve o acampamento, para se dirigirem a Perpignan. Mesmo assim, o rei pôde estabelecer uma testa-de-ponte com a sua armada, que imediatamente reabasteceu.
Estabelecido em Canet, Pedro III recebeu um novo mediador; desta vez, tratava-se de um cardeal, e era o segundo que intercedia por Jaime de Maiorca. Também desta vez não fez caso, mandou-o embora e começou a estudar com os seus conselheiros a melhor forma de assediar a cidade de Perpignan. Enquanto o rei esperava as provisões vindas por mar e as armazenava no castelo de Canet, o exército catalão esteve assentado seis dias na vila, durante os quais se dedicou a tomar os castelos e fortalezas que se encontravam entre Canet e Perpignan.
A host de Manresa tomou, em nome do rei Pedro, o castelo de Santa Maria de la Mar; outras companhias assaltaram o castelo de Castellarnau Sobirà, e Eiximèn d'Esparça, com os seus almogávares e outros cavaleiros, assediou e tomou Castell-Rosselló.
Castell-Rosselló não era um simples posto fronteiriço como Bellaguarda, mas constituía uma das defesas avançadas da capital do condado de Rossilhão. Aí se repetiram os gritos de guerra e o entrechocar de lanças dos almogávares, que
desta vez foram acompanhados pelos rugidos de algumas centenas de soldados desejosos de entrarem em combate. A fortaleza não caiu com tanta facilidade como acontecera com Bellaguarda; a luta nas muralhas foi encarniçada e o uso de aríetes foi imprescindível para derrubar as defesas.
Os balestreiros foram os últimos a passar pelas defesas abertas do castelo. Aquilo nada tinha que ver com o assalto a Bellaguarda. Soldados e civis, incluindo as mulheres e as crianças, defendiam a praça com as suas vidas. No interior, Arnau teve um encarniçado combate corpo-a-corpo.
Deixando de lado a sua balestra, empunhou a faca. Centenas de homens lutavam à sua volta. O silvo de uma espada fê-lo mergulhar no combate. Instintivamente, desviou-se, e a espada passou roçando-lhe pelas costas. Com a mão livre, Arnau agarrou o punho que manejava a espada e cravou o punhal. Fê-lo mecanicamente, conforme lhe tinham ensinado nas intermináveis aulas com o oficial de Eiximèn d'Espar-ça. Tinham-lhe ensinado a lutar; tinham-lhe ensinado como se matava, mas ninguém lhe tinha ensinado como afundar um punhal no abdómen de um homem. A cota de malha do seu oponente resistiu à punhalada e, embora agarrado pelo punho, o defensor do castelo volteou a espada com violência e feriu Arnau no ombro.
Foram apenas uns segundos; os suficientes para se dar conta de que tinha de matar.
Arnau apertou o punhal com raiva. A lâmina trespassou a cota de malha e afundou-se no estômago do seu inimigo. A espada perdeu força mas continuou a voltear perigosamente. Arnau puxou o punhal para cima. A sua mão sentiu o calor das entranhas. O corpo do inimigo levantou-se do chão, o punhal raspou o abdómen, a espada caiu no chão e Arnau encontrou o rosto do seu rival sobre o seu. Aqueles lábios moveram-se a escassa distância do seu rosto. Queria dizer-lhe alguma coisa? Apesar do fragor do combate, Arnau escutou o estertor do oponente. Pensaria em alguma coisa? Veria a morte? Os olhos esbugalhados pareceram avisá-lo, e Arnau virou-se no mesmo instante em que outro defensor de Castell-Rosselló se lançava sobre ele.
Não hesitou. O punhal rasgou o ar e o pescoço do seu novo rival. Deixou de pensar. Foi ele quem mais mortes provocou. Lutou e gritou. Avançou o punhal e fundiu-o na carne do inimigo, uma e outra vez, sem reparar nos seus rostos nem na sua dor. Matou.
Quando tudo estava terminado e os defensores de Castell Rosselló se renderam, Arnau viu-se a si próprio ensanguentado e tremendo pelo esforço.
Olhou em volta e os cadáveres recordaram-lhe a batalha. Não teve oportunidade de se fixar em nenhum dos seus oponentes. Não pôde participar da sua dor ou de se compadecer das suas almas. A partir desse preciso instante, os rostos que não tinha visto, cego pelo sangue, começaram a aparecer-lhe, reclamando os seus direitos, a honra do vencido. Arnau recordaria muitas vezes as caras transfiguradas dos que tinham morrido sob o seu punhal.
Em meados de Agosto, o exército encontrava-se de novo acampado entre o castelo de Canet e o mar. Arnau assaltou Castell Rosselló a 4 de Agosto. Dois dias mais tarde, o rei Pedro III pôs em marcha as suas tropas, e durante uma semana, não tendo a cidade de Perpignan prestado homenagem ao rei Pedro, os exércitos catalães dedicaram-se a devastar os arredores da capital do Rossilhão: Basoles, Vernet, Soles, Sant Esteve... Arrasaram vinhas, olivais e todas as árvores que se interpusessem à passagem de um exército em marcha por ordem do seu rei, com excepção das figueiras: capricho do Cerimonioso? Queimaram moinhos e colheitas, destroçaram campos de cultivo e vilas, mas em momento nenhum chegaram a assediar a capital e refúgio do rei Jaime: Perpignan.
15 de Agosto de 1343 Missa campal solene
O exército inteiro, concentrado na praia, prestava culto à Virgem de la Mar. Pedro III tinha cedido às pressões do Santo Padre e pactuado uma trégua com Jaime de Maiorca. O rumor correu por entre o exército. Arnau não escutava o sacerdote; poucos o faziam, e a maioria tinha o rosto contrito. A Virgem não consolava Arnau. Tinha matado. Tinha derrubado árvores. Tinha arrasado vinhas e campos de cultivo diante dos olhos assustados dos camponeses e dos seus filhos. Tinha destruído vilas inteiras e, com elas, casas de gente de bem. O rei Jaime tinha conseguido a sua trégua e o rei Pedro tinha cedido. Arnau recordou as arengas de Santa Maria de la Mar: «A Catalunha precisa de vós! O rei Pedro precisa de vós! Partam para a guerra!» Que guerra? Tinham sido apenas matanças. Escaramuças em que os únicos que perdiam eram as gentes humildes, os soldados leais... e as crianças, que passariam fome no próximo Inverno por falta de trigo. Que guerra? A que tinha sido feita por bispos e cardeais, paus-mandados de reis matreiros? O sacerdote prosseguia com a sua homilia, mas Arnau não ouvia as palavras dele. Para que tinha tido de matar? De que serviam os seus mortos?
A missa terminou. Os soldados espalharam-se, formando pequenos grupos.
— E o saque prometido?
— Perpignan é rica, muito rica — ouviu Arnau.
— Como vai o rei pagar aos seus soldados, se já antes não podia fazê-lo?
Arnau deambulava entre os grupos de soldados. Que lhe importava a ele o saque? Era o olhar das crianças que lhe importava; o olhar daquele pequeno que, agarrado à mão da irmã, presenciara como Arnau e um grupo de soldados arrasavam a sua horta e espalhavam o cereal que deveria sustentá-los durante o Inverno. «Porquê?», tinham perguntado aqueles olhos inocentes. «Que mal vos fizemos nós?» Provavelmente, aquelas crianças tinham a seu cargo tratar daquela horta, e ali ficaram, com as lágrimas caindo-lhes pela cara, até que o grande exército catalão acabou de destruir as suas escassas posses. Quando terminaram, Arnau nem sequer foi capaz de voltar a olhar para eles.
O exército regressava a casa. As colunas de soldados espalhavam-se pelos caminhos da Catalunha, acompanhadas por prostitutas e comerciantes, desencantados pelos benefícios que não iriam ter.
Barcelona aproximava-se. As diferentes hosts do principado desviavam-se para os seus locais de origem; outras atravessariam a cidade condal. Arnau notou que os seus companheiros estugavam o passo, tal como ele próprio fizera. Apareceram alguns sorrisos nos rostos dos soldados. Regressavam a casa. O rosto de Maria veio-lhe à ideia pelo caminho. «Tudo tratado», tinham-lhe dito, «Aledis não voltará a incomodar-te.» Era a única coisa que desejava, a única coisa de que tinha fugido.
O rosto de Maria começou a sorrir-lhe.
Finais de Março de 1348 , Barcelona
Despontava a madrugada e Arnau e os bastaixos esperavam na praia a descarga de uma galera maiorquina que tinha arribado ao porto durante a noite. Os próceres da confraria ordenavam as suas gentes. O mar estava calmo e as ondas lambiam a praia com delicadeza, chamando os cidadãos de Barcelona a iniciarem a jornada. O sol começava a desenhar faixas de cores no sítio onde as águas ondulavam, e os bastaixos, enquanto esperavam a chegada dos barqueiros com as mercadorias, deixavam-se levar pelo encanto do momento, com o olhar perdido no horizonte e o espírito dançando com o mar.
— Que estranho — disse alguém no grupo. — Não descarregam.
Todos fixaram a atenção na galera. Os barqueiros tinham-se aproximado da embarcação e alguns deles regressavam à praia vazios; outros falavam aos gritos com os marinheiros na coberta, alguns dos quais se lançavam à água e se empoleiravam nas barcas. Mas ninguém descarregava fardos da galera.
— A peste! — Os gritos dos primeiros barqueiros ouviram-se na praia muito antes de as barcas arribarem. — A peste chegou a Maiorca!
Arnau sentiu um calafrio. Era possível que aquele mar tão belo lhes trouxesse uma tal notícia? Um dia cinzento, de temporal, talvez... mas naquela manhã tudo parecia mágico. Durante meses, esse fora o tema de conversa dos barceloneses: a peste assolava o Oriente distante, estendera-se para ocidente e devastava...
Ildefonso Falcones
O melhor da literatura para todos os gostos e idades