



Biblio VT




Por muito tempo, tanto no entender do governo quanto no da maioria da população, o subsídio aos transportes públicos foi associado à negação da liberdade individual. Como os vários serviços entravam em colapso duas vezes por dia na hora do rush, Stephen se deu conta de que era mais rápido caminhar de seu apartamento até Whitehall do que pegar um táxi. Era o fim de maio, pouco antes das nove e meia da manhã, e a temperatura já se aproximava dos trinta graus. Caminhou rumo à Ponte Vauxhall, passando por filas duplas e triplas de carros resfolegantes que não tinham para onde escapar, cada um com seu motorista solitário. Pelo jeito, a busca da liberdade era mais um exercício de resignação que de paixão. Dedos com anéis tamborilavam pacientemente no metal dos tetos quentes, cotovelos cobertos por camisas brancas despontavam através das janelas abaixadas. Viam-se jornais abertos sobre os volantes. Stephen andava rápido através da multidão, através da balbúrdia sonora vinda dos carros — jingles, locutores veementes de programas matinais, noticiários, alertas de trânsito. Os motoristas que não estavam lendo ouviam estoicamente. O avanço incessante da turba nas calçadas devia transmitir-lhes uma sensação de movimento relativo, de estarem deslizando aos poucos para trás.
Com ágeis manobras para ultrapassar os mais lentos, Stephen, embora de forma quase inconsciente, permanecia como sempre à espreita de crianças, em especial uma com cinco anos de idade. Era mais que um hábito, pois um hábito pode ser abandonado. Tratava-se de uma profunda predisposição, uma silhueta que a experiência tinha gravado em sua mente. Não era exatamente uma busca, apesar de haver sido uma caça obsessiva — e por muito tempo. Passados dois anos, só restavam vestígios daquilo: agora era uma grande saudade, uma fome insaciada. Havia um relógio biológico, impiedoso em seu progresso inescapável, que fazia com que sua filha continuasse a crescer, aumentasse e enriquecesse seu vocabulário antes bastante simples, se fortalecesse, firmasse seus movimentos. O relógio, fibroso como um coração, era fiel a uma condição permanente: ela estaria aprendendo a desenhar, começando a ler, perdendo um dente de leite. Ela seria alguma coisa bem conhecida, vista como algo rotineiro. Era como se a proliferação de ocorrências pudesse erodir aquele condicional, o biombo, frágil e semiopaco, cujos tênues tecidos de tempo e acaso a separavam dele: ela está de volta da escola e cansada, o dente foi posto sob o travesseiro, procura pelo pai.
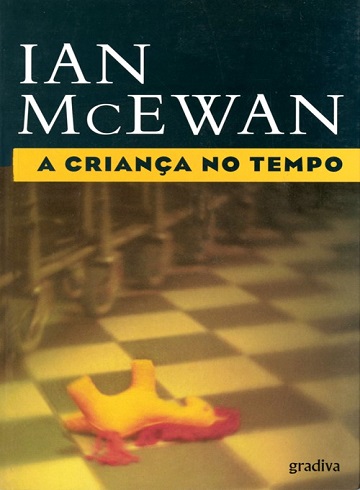
Qualquer menina de cinco anos — embora os garotos também servissem — emprestava substância à sua continuada existência. Nas lojas, ao passar pelos parquinhos, na casa de amigos, ele não podia deixar de procurar por Kate em outras crianças, ou nelas ignorar as lentas mudanças, as competências crescentes, ou deixar de sentir a potência irresistível de semanas e meses, do tempo que deveria ser dela. O crescimento de Kate tinha se transformado na própria essência do tempo. Seu crescimento espectral, o produto de uma tristeza obsessiva, era não apenas inevitável — nada era capaz de fazer parar o relógio fibroso — mas necessário. Sem a fantasia de sua continuada existência, ele estava perdido, o tempo pararia. Era o pai de uma criança invisível.
Mas ali, no Millbank, só havia ex-crianças se arrastando rumo ao trabalho. Mais adiante, pouco antes da praça do Parlamento, via-se um grupo de pedintes com as devidas autorizações. A rigor, não lhes era permitido mendigar perto do Parlamento ou de Whitehall, ou mesmo nas proximidades da praça. No entanto, alguns deles estavam se valendo da confluência das artérias que vinham dos subúrbios. Ele viu seus distintivos brilhando a uma distância de quase duzentos metros. Aquela era a melhor época do ano para eles, que pareciam arrogantes na sua liberdade. Os assalariados tinham de lhes dar passagem. Uns dez mendigos trabalhavam nos dois lados da rua, caminhando inelutavelmente em sua direção, na contracorrente dos demais pedestres. Stephen vinha observando uma criança. Não de cinco anos, mas uma magricela na pré-pubescência. Ela reparara nele de longe. Andava devagar, como uma sonâmbula, estendendo a tigela preta regulamentar. Os funcionários de escritório se dividiam diante dela e voltavam a se juntar mais além. Tinha os olhos fixados em Stephen. Ele sentiu a ambivalência costumeira. Dar um trocado garantia o êxito do programa de governo. Não dar envolvia a decisão consciente de ignorar um sofrimento pessoal. Não havia saída. A arte do mau governo consistia em romper o vínculo entre as políticas públicas e o sentimento privado, o instinto com relação ao que era correto. Ultimamente ele vinha deixando por conta do acaso. Se tivesse moedas no bolso, dava. Caso contrário, não dava nada. Jamais entregava notas.
A garota tinha a pele bronzeada porque passava os dias nas ruas ensolaradas. Usava uma bata encardida de algodão amarelo, os cabelos cortados bem curtos. Talvez para matar os piolhos. À medida que se aproximavam, viu que ela era bonita, com ar travesso e sardenta, o queixo pontudo. Estavam a menos de sete metros de distância quando ela disparou e apanhou na calçada um bocado de chiclete ainda reluzente. Pôs na boca e começou a mastigar. Dobrou para trás a cabeça pequena ao voltar a olhar na direção dele.
E então se viram frente a frente, a tigela erguida entre os dois. Ela o selecionara havia alguns minutos, era um truque que tinham. Horrorizado, ele meteu a mão no bolso de trás da calça para pegar uma nota de cinco libras. Ela observou inexpressiva quando Stephen depositou a nota em cima das moedas.
Tão logo ele afastou a mão, a garota agarrou a nota, enrolou-a bem enrolada e disse: “Se fodeu, tio”. E já passava a seu lado.
Stephen plantou a mão em seu ombro duro e estreito, apertando-o. “O que foi que você disse?”
Num rodopio, a garota se libertou. Os olhos se estreitaram, e falou com uma voz aflautada: “Eu disse valeu, tio”. Já estava fora de alcance quando acrescentou: “Seu rico de merda!”.
Stephen mostrou as palmas das mãos vazias numa admoestação amena. Sorriu sem entreabrir os lábios para manifestar sua imunidade ao insulto. Mas a garota retomara a caminhada sistemática ao longo da rua, ainda como uma sonâmbula. Acompanhou-a por um minuto antes que se perdesse em meio à multidão. Ela não olhou para trás.
A Comissão Oficial de Assistência à Infância, sabidamente um projeto visto com muito bons olhos pelo primeiro-ministro, havia gerado catorze subcomitês cuja tarefa consistia em fazer recomendações ao órgão superior. Sua verdadeira função, diziam os cínicos, era satisfazer os ideais disparatados de uma infinidade de grupos de interesse — os lobbies do açúcar e do fast food, os fabricantes de roupas, brinquedos, leite em pó e fogos de artifício, as instituições de caridade, as organizações de mulheres, as associações interessadas em criar faixas para pedestres — pressões de todos os lados. Entre os segmentos da sociedade que abrigavam os formadores de opinião, poucos se recusaram a servir. Concordava-se em geral com o fato de que o país estava cheio de gente de má índole. Havia fortes correntes de opinião sobre o que era um bom cidadão e o que cabia fazer pelas crianças a fim de que constituíssem uma cidadania digna no futuro. Todo mundo participava de algum subcomitê — até mesmo Stephen Lewis, autor de livros infantis, embora isso se devesse inteiramente à influência de seu amigo, Charles Darke, que tinha pedido demissão pouco depois de os comitês começarem a trabalhar. Stephen era membro do Subcomitê de Leitura e Escrita, presidido pelo reptiliano lorde Parmenter. Semanalmente, ao longo dos meses ressequidos daquele que se revelou ser o último verão decente do século XX, Stephen frequentou as reuniões numa sala lúgubre do Whitehall, onde, lhe disseram, haviam sido planejados em 1944 os bombardeios noturnos contra a Alemanha. Ele teria muito a dizer com respeito à leitura e à escrita em outros momentos de sua vida, mas, naquelas sessões, tendia a descansar os braços sobre a grande e lustrosa mesa, inclinar a cabeça numa atitude de respeitosa atenção e manter a boca fechada. Ele vinha passando muito tempo sozinho. Uma sala apinhada não diminuía sua introspecção, como havia esperado, e sim a intensificava e tornava mais sólida.
Pensava em especial na mulher e na filha, e no que deveria fazer consigo próprio. Ou matutava acerca da repentina saída de Darke da vida pública. À sua frente havia uma janela alta através da qual, mesmo no meio do verão, os raios solares jamais penetravam. Mais além, um retângulo de grama cortada bem rente emoldurava um pátio onde cabia meia dúzia de limusines ministeriais. Nas horas de folga, os motoristas relaxavam e fumavam, lançando olhares desinteressados para os membros do comitê. Stephen remoía recordações e devaneios, o que era e o que podia ter sido. Ou era remoído por tudo aquilo? Às vezes pronunciava mentalmente seus discursos compulsivos, acusações tristes ou amargas cujas diversas versões eram revisadas de forma meticulosa. Enquanto isso, mal e mal acompanhava as discussões em volta dele. O comitê estava cindido entre os teóricos, que tinham feito todas as suas reflexões muito tempo antes, e os pragmáticos, que achavam que iam descobrir o que pensavam durante o processo de dizer o que pensavam. Os limites da polidez eram testados, porém nunca rompidos.
Lorde Parmenter presidia com uma banalidade solene e astuta, indicando quem devia falar com um movimento rápido dos olhos semicerrados e sem cílios, erguendo um braço frágil para controlar os arroubos, fazendo seus raros pronunciamentos de macaquinho com uma língua seca e sarapintada. Somente o jaquetão escuro denunciava uma origem humanoide. Ele possuía um jeito aristocrático de usar lugares-comuns. Uma longa e mal-humorada discussão sobre a teoria do desenvolvimento infantil tinha terminado num útil impasse graças à sua decisiva e substancial intervenção: “As crianças são assim mesmo”. As crianças detestavam sabonete e água, aprendiam bem depressa e cresciam rápido demais, tudo era apresentado na forma de axiomas igualmente difíceis. A trivialidade de Parmenter, além de desdenhosa, era destemida ao proclamar a circunstância de ser ele um homem demasiado importante e invulnerável para se importar com a possibilidade de parecer um imbecil quando abria a boca. Não precisava impressionar ninguém. Não se curvava sequer à conveniência de ser interessante. Stephen não tinha dúvida de que se tratava de um sujeito muito inteligente.
Os membros do comitê não consideravam necessário se conhecer muito bem. Terminadas as longas sessões, enquanto papéis e livros eram enfiados nas pastas, tinham início conversas corteses que se mantinham ao longo dos corredores pintados em duas cores e se tornavam meros ecos à medida que todos desciam a escada de concreto em caracol, dispersando-se nos vários níveis da garagem subterrânea do ministério.
Nos meses de calor sufocante e mesmo depois, Stephen empreendeu a viagem semanal a Whitehall. Era seu único compromisso numa vida livre de qualquer outra obrigação. A maior parte desse tempo disponível ele passava de cueca, estendido no sofá diante da televisão, bebericando melancolicamente uísque sem gelo, lendo revistas de trás para a frente e assistindo às Olimpíadas. À noite, ele bebia mais. Comia num restaurante da região, sozinho. Não procurava os amigos. Nunca retornava as chamadas registradas na secretária eletrônica. Em geral não se importava com a imundície do apartamento, com as avantajadas moscas pretas em suas rondas sem pressa. Quando saía, temia rever a deprimente configuração de suas velhas posses, o modo como as poltronas vazias se acocoravam tendo a seus pés pratos sujos e jornais antigos. Era a teimosa conspiração dos objetos — assento de privada, roupas de cama, sujeira no chão —, desejosos de permanecer tal como haviam sido deixados. Em casa também nunca estava distante de seus temas: a filha, a mulher, o que fazer. Mas ali lhe faltava concentração para manter um pensamento continuado. Seus devaneios eram fragmentários, desordenados, quase inconscientes.
Os membros faziam questão de ser pontuais. Lorde Parmenter sempre chegava por último. Ao se acomodar na cadeira, abria a sessão emitindo um tênue gargarejo que, com muito engenho, se transformava em suas primeiras palavras. O secretário do comitê, Peter Canham, sentava-se à sua direita, com a cadeira afastada da mesa a fim de simbolizar seu distanciamento das atividades. Tudo que se exigia de Stephen era parecer plausivelmente alerta durante duas horas e meia. Essa útil moldura era-lhe familiar desde os seus tempos de estudante, das centenas ou milhares de horas de aulas dedicadas à vadiagem mental. A própria sala era familiar. Sentia-se em casa com os interruptores de baquelite marrom, os fios elétricos dentro de canos empoeirados presos sem elegância às paredes. Na escola que havia frequentado, a sala onde eram dadas as aulas de história se parecia muito com aquela: o mesmo conforto desgastado e generoso, a mesma mesa comprida maltratada que alguém ainda se dava ao trabalho de encerar, os vestígios de solenidade convivendo soporificamente com a burocracia maçante. Quando Parmenter, com sua afabilidade de réptil, traçou as diretrizes do trabalho da manhã, Stephen ouviu a balsâmica cadência galesa de seu professor dissertando sobre as glórias da corte de Carlos Magno ou os ciclos de depravação e reforma no papado medieval. Pela janela, via não o pátio de estacionamento murado e os carros cozidos pelo sol, mas, como se estivesse dois andares acima, um roseiral, campos esportivos, uma balaustrada cinzenta bem enodoada e, mais além, terras acidentadas e sem cultivo que desciam em direção aos carvalhos e faias, terminando no largo litoral do braço de mar, bem azul, um quilômetro e meio separando uma margem da outra. Tratava-se de um tempo perdido e de uma paisagem perdida: ele voltara certa vez para descobrir que as árvores haviam sido eficientemente derrubadas, as terras aradas e o estuário atravessado por uma ponte para veículos. E, como vivia obcecado pela perda, foi fácil transportar-se para um dia gélido e ensolarado no lado de fora de um supermercado no sul de Londres. Ele segurava a mão da filha. Ela usava um cachecol de lã vermelha tricotado pela mãe dele e carregava junto ao peito um burrico bem gasto. Caminhavam para a entrada. Era um sábado, havia muita gente em volta. Ele segurou sua mão com firmeza.
Parmenter tinha terminado de falar, agora um dos professores universitários fazia uma defesa hesitante dos méritos de um alfabeto fonético recém-elaborado. As crianças aprenderiam a ler e escrever mais cedo e com maior prazer; a seu juízo, a transição para o alfabeto convencional seria feita sem esforço. Stephen segurava um lápis e parecia prestes a tomar notas. Com a testa franzida, movia a cabeça ligeiramente, embora fosse difícil precisar se em sinal de concordância ou repulsa.
Kate estava na idade em que lhe causavam pesadelos a linguagem em rápida expansão e as ideias que daí surgiam. Era incapaz de descrevê-los aos pais, mas certamente continham elementos encontrados nos seus livros infantis — peixes falantes, uma grande rocha com uma cidade dentro, um monstro solitário que desejava profundamente ser amado. Havia tido pesadelos na noite anterior. Várias vezes Julie precisou sair da cama para ir vê-la, e só voltou a dormir bem depois do raiar do dia. Dormia agora. Stephen preparou o café da manhã e vestiu Kate. Ela estava bem acesa, apesar da provação noturna, ansiosa para ir ao supermercado e passear no carrinho de compras. Aquele sol estranho num dia gélido a intriga. Coisa rara, cooperou na tarefa de ser vestida. Postou-se entre os joelhos dele enquanto Stephen fazia entrar os braços e as pernas na roupa de inverno. Seu corpo era tão compacto, tão imaculado! Ele a levantou e encostou o rosto em sua barriga, fingindo que ia mordê-la. O corpinho cheirava a cama e a leite. Ela soltou um gritinho e se contorceu, mas suplicou para que fizesse de novo quando a pôs no chão.
Stephen abotoou a camisa de lã, a ajudou a vestir o grosso suéter e fechou o macacão. Ela começou uma cantoria vaga e abstraída que resvalava para a improvisação, cantigas de ninar e trechos de canções natalinas. Sentou-a na cadeira, calçou as meias e deu laço nas botinhas. Quando ele se ajoelhou, Kate acariciou seus cabelos. Como muitas menininhas, ela tinha uma típica atitude protetora com relação ao pai. Antes de saírem do apartamento, se certificaria de que Stephen havia abotoado o casaco até em cima.
Levou uma xícara de chá para Julie, que se encontrava semiacordada, com os joelhos erguidos contra o peito. Ela disse alguma coisa que se perdeu entre os travesseiros. Ele enfiou a mão por baixo das cobertas e massageou a parte inferior de suas costas. Ela se virou e puxou o rosto dele na direção de seus seios. Ao se beijarem, ele sentiu na boca de Julie o gosto denso e metálico do sono profundo. Mais além da escuridão do quarto, Kate ainda cantarolava seu pot-pourri de melodias. Durante alguns segundos, Stephen se sentiu tentado a desistir de ir às compras e plantar Kate com alguns livros diante da televisão. Podia se meter debaixo das pesadas cobertas ao lado de sua mulher. Tinham feito amor logo ao nascer do sol, mas sonolentos, sem chegar ao fim. Ela o acariciava agora, desfrutando de seu dilema. Ele voltou a beijá-la.
Estavam casados havia seis anos, um período de lentos e delicados ajustes aos princípios conflitantes do prazer físico, das obrigações domésticas e da necessidade de solidão. Quando um deles era negligenciado, na certa vinha prejuízo ou caos para os demais. Mesmo enquanto apertava levemente o mamilo de Julie entre o indicador e o polegar, ele fazia seus cálculos. Depois da noite conturbada e da expedição para fazer as compras, Kate necessitaria tirar uma soneca ao meio-dia. Teriam então a certeza de um tempo ininterrupto. Mais tarde, nos tristes meses e anos que se seguiram, Stephen se esforçava para recapturar aquele momento. Para achar de volta o caminho entre as dobras que separavam os eventos, enfiar-se por baixo das cobertas, reverter sua decisão. Mas o tempo — não necessariamente como ele é, mas como o pensamos — proíbe de forma monomaníaca as segundas oportunidades. Não há um tempo absoluto, sua amiga Thelma lhe disse várias vezes, nenhuma entidade independente. Só a nossa compreensão pessoal e frágil. Ele postergou o prazer, cedeu ao dever. Apertou a mão de Julie e se pôs de pé. No hall, Kate veio em sua direção falando alto, erguendo o burrico bastante puído. Ele se curvou para dar mais uma volta no cachecol em torno do pescoço dela. Ela se pôs na ponta dos pés a fim de verificar se os botões do casaco de Stephen estavam abotoados. Deram-se as mãos antes mesmo de passar pela porta da frente.
Pisaram na calçada como se enfrentassem uma tempestade. A rua era uma artéria importante que levava ao sul, de tráfego feroz. O dia muito frio, anticiclônico, ficou muito bem gravado numa memória obsessiva por sua intensa luminosidade, que punha em relevo cada detalhe impudente. Perto dos degraus e sob o sol, havia uma lata amassada de coca-cola cujo canudinho, ainda tridimensional, permanecia no lugar. Kate mostrou vontade de salvá-lo, mas foi proibida por Stephen. Mais adiante, junto a uma árvore e como se iluminado por dentro, um cachorro fazia cocô com o traseiro trêmulo e uma expressão radiante, sonhadora. A árvore era um carvalho cansado cuja casca parecia recém-esculpida, os relevos engenhosos e brilhantes, os sulcos em profunda sombra.
Em dois minutos se chegava ao supermercado cruzando a rua de quatro pistas numa faixa de pedestres. Perto da zebra, onde aguardaram para atravessar, havia uma loja de motocicletas, um local de encontro internacional para os fãs daquele tipo de veículo. Homens com barrigões e roupas de couro surradas estavam encostados ou montados nas máquinas paradas. Quando Kate tirou da boca o dedo que vinha chupando e apontou, o sol baixo iluminou o que parecia ser um revólver fumegante. No entanto, ela não encontrou palavras que exprimissem o que via. Por fim atravessaram diante de uma matilha de carros impacientes que saltaram para a frente, rosnando, no instante em que os dois alcançaram a ilha central. Kate procurou pela senhora que vendia pirulitos e sempre acenava para ela. Stephen explicou que era sábado. Como havia muita gente, segurou sua mão com mais força enquanto caminhavam para a entrada. Em meio ao vozerio, aos gritos e ao matraquear das registradoras, encontraram um carrinho. Kate sorria prazerosamente ao se aboletar no assento.
Os fregueses dividiam-se em dois grupos, tão distintos quanto tribos ou nações. Os primeiros eram proprietários nas vizinhanças de casas vitorianas que tinham sido reformadas. Os segundos moravam em altos prédios dentro de conjuntos habitacionais erguidos nas vizinhanças. Os que compunham o primeiro grupo tendiam a comprar frutas e legumes frescos, pão de centeio, café em grão, peixes recém-pescados num balcão especial, vinho e bebidas alcoólicas, enquanto os do segundo compravam legumes em lata ou congelados, feijão cozido, sopas instantâneas, açúcar branco, bolos, cerveja, bebidas alcoólicas e cigarros. No segundo grupo havia aposentados comprando carne para seus gatos e biscoitos para eles próprios. E jovens mães, magras e fatigadas, com cigarros pendurados nos lábios, que às vezes perdiam o controle no caixa e davam uns tabefes em alguma criança. O primeiro grupo continha casais jovens e sem filhos, com roupas vistosas, que na pior das hipóteses estavam pressionados pela falta de tempo. Também se viam mães fazendo compras na companhia das babás, além de pais, como Stephen, comprando salmão fresco, dando sua contribuição.
O que mais ele comprou? Pasta de dente, lenços de papel, sabonete líquido, o melhor bacon disponível, um pernil de cordeiro, bifes, pimentões verdes e vermelhos, rabanetes, batatas, papel-alumínio, um litro de uísque. E quem estava lá quando sua mão se estendia para pegar esses produtos? Alguém que o seguiu enquanto ele empurrava Kate entre as prateleiras abarrotadas, alguém que se mantinha a alguns passos de distância quando ele parava, que fingia estar interessado num rótulo, mas depois continuava a caminhar atrás dele? Ele havia retornado mil vezes, visto sua própria mão, uma prateleira, os produtos se acumulando, tinha ouvido Kate tagarelando, e tentou mover os olhos, erguê-los contra o peso do tempo, para divisar a figura encoberta na periferia de sua visão, aquela que estava sempre ligeiramente de lado e atrás, aquela que, movida por um estranho desejo, calculava as probabilidades ou apenas esperava. Mas o tempo fixava para sempre sua vista nas tarefas mundanas, e em volta dele formas indistintas vagavam e se dissolviam, enquadradas em categorias.
Quinze minutos depois chegaram ao caixa. Havia oito bancadas paralelas. Ele se juntou a uma pequena fila no balcão mais próximo da saída porque sabia que a moça daquele caixa trabalhava com rapidez. Havia três pessoas à sua frente quando parou o carrinho, e ninguém atrás quando se voltou para levantar Kate de seu assento. Ela estava se divertindo e pouco propensa a ser perturbada. Choramingou e prendeu o pé de propósito no assento. Ele foi obrigado a erguê-la mais alto para liberar o pé. Notou sua irritabilidade com certa satisfação: era um sinal seguro de que estava cansada. Terminada essa pequena luta, só havia duas pessoas à sua frente, uma das quais se preparava para sair. Ele contornou o carrinho a fim de esvaziá-lo na esteira transportadora. Kate segurava a barra larga na outra extremidade do carrinho, fingindo que o empurrava. Ninguém atrás dela. Nesse momento, a pessoa logo à frente de Stephen, um homem encurvado, se preparava para pagar por várias latas de ração para cachorros. Stephen pôs os primeiros itens na esteira. Quando endireitou o corpo, julgou ter sentido uma figura atrás de Kate usando um casaco escuro. Mas nem chegou a ser uma percepção, foi antes uma debilíssima suspeita criada por uma memória em desespero. O casaco podia ser um vestido, um saco de compras ou sua própria invenção. Ele estava empenhado em uma atividade banal, louco para terminar logo. Naquele instante, mal era um ser consciente.
O homem com a comida de cachorro estava indo embora. A moça do caixa já entrara em ação, os dedos de uma das mãos movendo-se velozmente sobre o teclado enquanto a outra puxava para perto os produtos comprados por Stephen. Ao tirar o salmão do carrinho, Stephen deu uma olhada para baixo, na direção de Kate, e piscou o olho. Ela o imitou, mas desajeitadamente, enrugando o nariz e fechando os dois olhos. Ele pôs o peixe na esteira e pediu à moça um saquinho. Ela meteu a mão debaixo de uma prateleira e lhe entregou o saquinho. Ele pegou e olhou para trás. Kate havia desaparecido. Não havia ninguém na fila atrás dele. Sem pressa, afastou o carrinho, imaginando que ela houvesse se escondido atrás do balcão. Depois deu mais alguns passos, varrendo com os olhos o único corredor que ela teria tido tempo de alcançar. Caminhou de volta, olhou para a esquerda e para a direita. De um lado havia filas de fregueses, do outro uma área vazia, depois a catraca cromada, as portas automáticas que davam para a calçada. Poderia ter havido uma figura encasacada correndo para se afastar dele, mas naquele momento Stephen procurava por uma criança de três anos, e sua preocupação imediata era o tráfego.
Tratava-se de uma ansiedade teórica, mera precaução. Ao abrir caminho entre os fregueses e chegar à larga calçada, sabia que a filha não estaria lá. Aventuras daquele tipo não eram com ela. Não costumava sumir. Era demasiado sociável, preferia a companhia de quem estivesse com ela. Também tinha pavor da rua. Ele deu meia-volta e se acalmou. Tinha de estar na loja, onde não corria nenhum risco sério. Esperava vê-la surgir por trás das filas dos fregueses nos caixas. Era bastante fácil ignorar uma criança na primeira onda de preocupação, olhar rápido demais, com um excesso de concentração. Mesmo assim, quando voltou lhe vieram uma certa náusea e um aperto na base da garganta, uma leveza desagradável nos pés. Passando pelos caixas, sem ligar para a moça que o atendera e que irritadamente tentava chamar sua atenção, sentiu um frio na boca do estômago. Acelerando o passo — ainda não superara o desejo de evitar parecer um idiota —, percorreu todos os corredores, deixando para trás montes de laranjas, rolos de papel higiênico, latas de sopa. Somente ao retornar ao ponto de partida é que perdeu toda noção de boas maneiras, encheu os pulmões retraídos e berrou o nome de Kate.
Agora dava passadas largas, urrando o nome dela ao longo de um corredor e rumando de novo para a porta. Os rostos se voltavam para ele. Não havia como confundi-lo com um dos bêbados que entravam trôpegos no supermercado para comprar cidra. Seu medo, demasiado evidente, demasiado enérgico, projetava no espaço impessoal, sob as lâmpadas fluorescentes, um calor humano impossível de ser ignorado. Dentro de poucos momentos cessaram todas as compras a seu redor. Cestas e carrinhos foram postos de lado, as pessoas convergiam em sua direção, pronunciavam o nome de Kate e, sabe-se lá como, rapidamente todos sabiam se tratar de uma menina de três anos, vista pela última vez no caixa, que vestia um macacão verde e levava um burrico de pelúcia. As mães se mostravam tensas, alertas. Vários fregueses tinham visto a menina sentada no carrinho. Alguém se recordava da cor do seu suéter. O anonimato típico de uma loja na cidade comprovou-se tênue, uma fina camada sob a qual as pessoas observavam, julgavam, lembravam. Um grupo de fregueses que cercavam Stephen se moveu rumo à porta. A seu lado estava a moça do caixa, o rosto rígido, concentrada. Havia outros funcionários da hierarquia do supermercado com paletós marrons, paletós brancos, ternos azuis, que de repente não mais eram trabalhadores no depósito, subgerentes ou representantes da companhia, e sim pais, reais ou potenciais. Estavam todos agora na calçada, alguns em volta de Stephen fazendo perguntas ou oferecendo consolo, enquanto outros, de modo mais útil, seguiam em diferentes direções para percorrer as lojas vizinhas.
A menina perdida era propriedade de todos. Mas Stephen estava só. Olhou os rostos bondosos que o cercavam, e olhou mais além. Eram irrelevantes. Suas vozes não chegavam até ele, eram obstáculos em seu campo de visão. Estavam bloqueando sua possibilidade de localizar Kate. Tinha que abrir caminho entre eles, mesmo empurrá-los, para chegar até ela. Sentia falta de ar, era incapaz de raciocinar. Ouviu-se pronunciando a palavra “roubada”, que logo se espalhou até a periferia, aos transeuntes atraídos pela comoção. A moça alta de dedos ágeis, que dera a impressão de ser tão forte, chorava. Stephen teve tempo de se sentir momentaneamente desapontado com ela. Como se chamado pela palavra que ele pronunciara, um carro de polícia branco, salpicado de lama, estacionou junto ao meio-fio. A confirmação oficial do desastre o deixou nauseado. Algo subia em sua garganta, ele se dobrou. Talvez tenha vomitado, mas não se recordava disso. A próxima coisa de que se lembra é de novo o supermercado, e dessa vez as regras do que era adequado, da ordem social, já haviam selecionado as pessoas que se postavam a seu lado — um gerente, uma jovem mulher que poderia ser sua assistente pessoal, um subgerente e dois policiais. Tudo de repente ficou silencioso.
Eles caminhavam rapidamente para os fundos da vasta loja. Passaram-se alguns momentos até que Stephen se desse conta de que estava sendo levado, e não seguido. O estabelecimento tinha sido evacuado. Através da parede de vidro à sua direita viu outro policial do lado de fora cercado por fregueses, tomando notas. O gerente falava rápido em meio ao silêncio, em parte tecendo hipóteses, em parte se queixando. A criança — ele sabe o nome dela, Stephen pensou, mas sua posição o impede de usá-lo — poderia ter ido parar na área de entrega. Deviam ter pensado nisso antes. Às vezes, deixavam aberta a porta do depósito refrigerado, por mais que reclamasse com seus subordinados.
Aceleraram o passo. Uma voz ininteligível era ouvida em curtas explosões através do rádio de um dos policiais. Na seção de queijos, atravessaram uma porta e chegaram a uma área onde todo o fingimento era deixado para trás, onde o piso de plástico era substituído pelo chão de concreto em que partículas de mica espalhavam fagulhas frias e a luz crua provinha de lâmpadas presas a um teto invisível. Havia uma empilhadeira estacionada junto a uma montanha de caixas de papelão dobradas. Saltando uma poça de leite sujo, o gerente se apressou a atingir a porta do depósito refrigerado, que estava escancarada.
Todos o seguiram para dentro de uma sala baixa e atulhada, em que dois corredores se perdiam na penumbra. Latas e caixas estavam empilhadas desordenadamente de ambos os lados, e no centro, suspensas por ganchos, havia enormes carcaças. O grupo se dividiu em dois e percorreu os corredores. Stephen foi com os policiais. O ar frio penetrou seco na parte de trás do seu nariz, trazendo um gosto de estanho gelado. Caminhavam lentamente, examinando os espaços atrás das caixas nas prateleiras. Um dos policiais quis saber quanto tempo alguém sobreviveria ali. Através dos intervalos na cortina de carne que os separava, Stephen viu o gerente lançar um olhar na direção do subordinado. O rapaz limpou a garganta e respondeu com tato, dizendo que, desde que a pessoa continuasse a se movimentar, nada havia a temer. Escapava vapor de sua boca. Stephen soube que, se achassem Kate ali, ela estaria morta. Mas foi abstrato o alívio que sentiu quando os dois grupos se reuniram na outra extremidade. Ele se distanciara mentalmente de um modo enérgico e calculista. Se era para Kate ser encontrada, eles iriam encontrá-la porque ele estava preparado para não fazer nenhuma outra coisa senão procurá-la; se não era para Kate ser encontrada, então, passado algum tempo, isso teria de ser encarado de uma forma sensata, racional. Mas não agora.
Saíram para um ilusório calor tropical, seguindo rumo ao escritório do gerente. Os policiais pegaram seus cadernos de anotações, e Stephen contou a história com tanta intensidade emocional quanto riqueza de pormenores. Ele se encontrava suficientemente distante de seus próprios sentimentos para apreciar a brevidade competente do relato, a hábil apresentação dos fatos relevantes. Estava observando a si próprio, e viu um homem sob pressão funcionando com admirável autocontrole. Foi capaz de esquecer de Kate no detalhamento meticuloso de suas roupas, no retrato preciso de suas feições. Apreciou também as perguntas rotineiras porém incisivas dos policiais, o cheiro de óleo e couro de suas cartucheiras bem enceradas. Eles e Stephen estavam unidos diante de uma inenarrável dificuldade. Um dos policiais transmitiu sua descrição de Kate pelo rádio, e ouviram a resposta distorcida de um carro-patrulha nas redondezas. Tudo muito reconfortante. Stephen estava chegando a um estado próximo à exultação. A assistente pessoal do gerente lhe falava com um ar receoso, que parecia bem despropositado. Apertava seu antebraço, estimulando-o a beber o chá que tinha trazido. O gerente, do lado de fora do escritório, queixava-se a um empregado de que os supermercados eram o território predileto dos sequestradores de crianças. A assistente pessoal tratou de fechar a porta com o pé. O movimento súbito liberou o perfume das dobras de suas roupas sóbrias e levou Stephen a pensar em Julie. Confrontou a escuridão que emanava do interior de sua cabeça. Agarrou o lado da cadeira e esperou, deixando que sua mente se esvaziasse; quando sentiu que recobrara o controle, se pôs de pé. As perguntas tinham terminado. Os policiais fechavam seus cadernos e também se erguiam. A assistente pessoal se ofereceu para levá-lo até sua casa, mas Stephen recusou, sacudindo vigorosamente a cabeça.
Então, sem nenhum intervalo aparente, sem eventos intermediários, ele estava do lado de fora do supermercado, aguardando na faixa de pedestres com mais meia dúzia de pessoas. Carregava uma sacola cheia. Lembrou-se de que não havia pagado. O salmão e o papel-alumínio eram presentes, uma compensação. Os carros desaceleraram com relutância e pararam. Ele atravessou junto com os demais fregueses e tentou absorver o insulto da normalidade do mundo. Viu como era rigorosamente simples — fora fazer compras com a filha, a perdera, e agora voltava sem ela para contar à mulher. Os motociclistas continuavam lá, como também, mais adiante, a lata de coca-cola e o canudinho. Até o mesmo cachorro debaixo da mesma árvore. Subindo a escada, parou num degrau quebrado. Havia uma música retumbante dentro de sua cabeça, um grande zumbido orquestral cuja dissonância foi se diluindo enquanto continuava agarrado ao corrimão, mas que recomeçou no momento em que ele voltou a subir.
Abriu a porta da frente e ficou escutando. O ar e a luz no apartamento lhe disseram que Julie ainda dormia. Tirou o casaco. Quando o levantou para pendurar, seu estômago se contraiu, e um raio — pensou naquilo como um raio negro — do café matinal foi disparado contra sua boca. Cuspiu nas mãos em concha e foi lavá-las na cozinha. Teve que saltar o pijama que Kate havia largado no chão. Não pareceu tão difícil. Entrou no quarto de dormir sem saber o que lá faria ou diria. Sentou-se na beirada da cama. Julie virou-se para seu lado mas não abriu os olhos. Ela encontrou sua mão. A dela estava quente, insuportavelmente quente. Sonolenta, disse algo sobre a mão de Stephen estar tão fria. Puxou-a para si, enfiando-a debaixo do queixo. Ainda sem abrir os olhos. Estava se deleitando com a segurança da presença dele.
Stephen contemplou a mulher, e certos clichês — mãe devotada, apaixonada pela filha, amorosa — pareceram ganhar um novo significado; eram expressões úteis e decentes, ele pensou, longamente testadas. Sobre a maçã do rosto dela havia um anel perfeito de cabelo negro, logo abaixo do olho. Era uma mulher calma, observadora, com um sorriso adorável, que o amava intensamente e gostava de lhe dizer isso. Ele havia construído sua vida em torno da intimidade dos dois e agora dependia dela. Julie era violinista, dava aulas no Guildhall. Formava com três amigas um quarteto de cordas. Estavam sendo convidadas para tocar e tinham recebido um comentário sucinto mas favorável num jornal de grande circulação. O futuro era, tinha sido, muito promissor. Os dedos da mão esquerda dela, com as pontas calejadas, acariciavam o pulso dele, que agora a contemplava de uma imensa distância, a centenas de metros de altura. Podia ver o quarto, o quarteirão de apartamentos eduardianos, anexos nos quintais com seus telhados cobertos de asfalto e cisternas tortas de grossas tampas, a confusão urbana do sul de Londres, a curvatura enevoada da Terra. Julie era pouco mais que um pontinho em meio à bagunça dos lençóis. Ele estava subindo ainda mais, e mais depressa. Ao menos, pensou, de lá, onde o ar era rarefeito e a cidade abaixo ganhava contornos geométricos, seus sentimentos não seriam visíveis, ele poderia reter algum autocontrole.
Foi então que ela abriu os olhos e encontrou o rosto dele. Precisou de alguns segundos para ler o que estava lá antes de se pôr de pé na cama de um salto e emitir um som de incredulidade, um pequeno ganido ao puxar asperamente o ar para dentro dos pulmões. Por um instante, as explicações não eram nem possíveis nem necessárias.
Em geral, o comitê não via com bons olhos um alfabeto fonético. O coronel Jack Tackle, do Diga Não à Violência Doméstica, disse que aquilo lhe parecia uma idiotice completa. Uma jovem mulher, chamada Rachael Murray, manifestou uma áspera recusa cujo emprego da terminologia dos linguistas profissionais não foi capaz de esconder seu indignado desdém. Depois disso, Tessa Spankey dirigiu a todos um sorriso radioso. Ela era editora de livros infantis, uma mulher corpulenta, com dobras carnudas na base de cada dedo. Sua cara simpática e com queixo duplo era só sardas e rugas. Fez questão de incluir um por um em seu olhar carinhoso. Falou devagar e num tom tranquilizador, como se estivesse se dirigindo a um grupo de crianças nervosas. Não havia língua no mundo, ela disse, que não fosse difícil de aprender a ler e escrever. Se o aprendizado pudesse ser divertido, seria ótimo. Mas a diversão era algo periférico. Os professores e pais deviam admitir o fato de que no cerne do aprendizado da linguagem estava a dificuldade. O triunfo sobre a dificuldade era o que dava às crianças dignidade e senso de disciplina mental. A língua inglesa, disse ela, era um campo minado de irregularidades, as exceções eram mais numerosas que as regras. Mas cumpria vencer tal campo, e isso exigia empenho. Os professores temiam muito a impopularidade, gostavam muito de dourar a pílula. Deviam aceitar as dificuldades, comemorá-las e levar seus alunos a fazer o mesmo. Só havia uma maneira de aprender a soletrar, e era por meio do contato com a palavra escrita, da imersão nos textos impressos. De que outro jeito — e ela desfiou uma lista bem ensaiada — a gente aprende a grafia correta de exceção, obsessão, fricção, persuasão? O olhar maternal da sra. Spankey percorreu os rostos atentos. Esforço, ela disse, aplicação, disciplina, trabalho duro.
Ouviu-se um murmúrio de aprovação. O professor universitário que propusera o alfabeto fonético começou a falar em dislexia, em venda de escolas estatais, em déficit habitacional. Houve grunhidos espontâneos. O intelectual comedido prosseguiu. Dois terços das crianças de onze anos nas escolas urbanas, disse ele, eram analfabetas. Parmenter interveio com a alacridade digna de um réptil. As necessidades dos grupos especiais estavam fora dos termos de referência do comitê. A seu lado, Canham concordava com a cabeça. As preocupações do comitê eram os meios e os fins, e não as patologias. O debate se tornou fragmentário. Por algum motivo, propôs-se uma votação.
Stephen ergueu a mão em favor do que sabia ser um alfabeto inútil. Pouco importava, porque ele estava atravessando a larga faixa de asfalto esburacado e com fissuras que separava dois blocos de apartamentos. Carregava uma pasta com fotos e listas de nomes e endereços, cuidadosamente datilogrados e dispostos em ordem alfabética. As fotos — ampliações de instantâneos tirados nas férias — eram mostradas a todos a quem conseguia interessar. As listas, compiladas na biblioteca a partir de exemplares antigos dos jornais locais, eram de pais cujos filhos tinham morrido nos seis meses anteriores. Sua teoria, uma de muitas, era que Kate havia sido roubada a fim de substituir uma criança morta. Ele batia às portas e falava com mães, que de início se mostravam perplexas, e depois hostis. Visitava pessoas que cuidavam de crianças. Subia e descia as ruas de comércio exibindo as fotos. Ficava perto da entrada do supermercado e da farmácia ao lado. Foi alargando sua área de busca, que compreendia agora um raio de cinco quilômetros. Anestesiava-se com atividade.
Ia sozinho a todos os lugares, saindo todos os dias pouco depois da hora mais tardia em que o sol nascia no inverno. A polícia perdera interesse no caso depois de uma semana. Distúrbios de rua nos subúrbios do norte, diziam eles, estavam levando ao limite seus recursos. E Julie ficava em casa. Tinha obtido uma dispensa especial na escola de música. Quando ele saía pela manhã, ela estava sentada numa poltrona do quarto, de frente para a lareira apagada. Era ali que a encontrava ao voltar à noite e acender as luzes.
No início, houvera uma grande movimentação do tipo mais desolador: entrevistas com inspetores veteranos e equipes de policiais, cães farejadores, algum interesse jornalístico, mais explicações, tristeza e pânico. Durante esse período, Stephen e Julie se apoiaram, compartilhando aturdidas perguntas retóricas, passando noites insones, tecendo teorias esperançosas num momento, entrando em desespero no momento seguinte. Mas isso foi antes que o tempo, o acúmulo impiedoso dos dias, tivesse exposto a verdade amarga e absoluta. O silêncio se infiltrou e se adensou. As roupas e brinquedos de Kate ainda se encontravam espalhados pelo apartamento, sua cama ainda por fazer. Então, certa tarde, a desordem havia desaparecido. Stephen descobriu a cama nua e três sacos plásticos estufados junto à porta do quarto. Zangou-se com Julie, irritado com o que considerou uma autodestruição feminina, um derrotismo deliberado. Mas não podia falar com ela sobre isso. Não havia espaço para a raiva, nenhuma abertura. Eles se moviam como figuras num pântano, sem forças para uma confrontação. De repente, seus sofrimentos se tornaram separados, insulares, incomunicáveis. Seguiram caminhos diferentes: ele com suas listas e longas incursões diárias, ela na poltrona, mergulhada num pesar profundo e particular. Agora não havia consolo mútuo, nenhum toque entre os dois, nenhum amor. A velha intimidade, a presunção habitual de estarem do mesmo lado, tinha morrido. Debruçados sobre suas perdas distintas, os ressentimentos inarticulados começaram a crescer.
Ao final de um dia na rua não havia nada que machucasse Stephen mais do que a consciência de que sua mulher estaria sentada no escuro, de como ela mal se mexeria para assinalar seu retorno, e de como ele não possuiria nem a disposição nem a engenhosidade capazes de romper seu silêncio. Suspeitava — e viu depois que tinha razão — que ela considerava seus esforços uma evasão tipicamente masculina, uma tentativa de ocultar os sentimentos sob manifestações de competência, organização e esforço físico. A perda os levara aos extremos de suas personalidades. Tinham descoberto um grau de intolerância mútua que a tristeza e o choque tornavam insuperável. Não suportavam mais comer juntos. Ele comia sanduíches, de pé nas lanchonetes, ansioso para não perder tempo, relutante em se sentar e escutar seus pensamentos. Tanto quanto sabia, ela não comia nada. No começo, ele havia trazido pão e queijo, que, no correr dos dias, desenvolviam tranquilamente seus próprios mofos na cozinha jamais visitada. Uma refeição conjunta teria implicado o reconhecimento e a aceitação da família diminuída.
Chegou uma hora em que Stephen não se sentia em condições de olhar para Julie. Não apenas porque via reflexos tresnoitados de Kate ou de si mesmo no rosto dela. Era a inércia, o colapso da vontade, o sofrimento quase extático que o desgostavam e ameaçavam minar seus esforços. Ele acharia a filha e mataria o homem que a tinha sequestrado. Bastava se valer do impulso correto e mostrar a fotografia à pessoa certa, e seria levado a ele. Se houvesse mais horas de sol, se pudesse resistir à tentação que crescia a cada manhã de manter a cabeça debaixo dos lençóis, se conseguisse andar mais depressa, manter a concentração, lembrar-se de olhar para trás vez por outra, e então perder menos tempo comendo sanduíches, confiar em sua intuição, percorrer ruas laterais, se movimentar mais depressa, cobrir uma área maior, quem sabe até passar a correr, correr…
Parmenter se pôs de pé, hesitando ao ajustar a caneta prateada no bolso interno do paletó. Quando se dirigiu à porta, que Canham mantinha aberta para ele, deu um sorriso geral de despedida. Os membros do comitê, recolhendo os papéis, iniciaram a conversa amena de costume que os conduziria para fora do prédio. Stephen caminhou ao longo do quente corredor com o professor universitário que tinha sido derrotado de forma tão convincente na votação. Chamava-se Morley. Naquele seu estilo civilizado e vacilante, ele explicava como os desacreditados sistemas alfabéticos do passado tinham tornado seu trabalho bem mais difícil. Stephen sabia que, em breve, estaria de novo a sós. Mas mesmo então não podia deixar de divagar, não podia deixar de refletir que a situação havia se deteriorado tanto que não tinha sentido nenhuma emoção particular quando, voltando de sua busca numa tarde de fevereiro, encontrou a poltrona de Julie vazia. Um bilhete no chão trazia o nome e o número de telefone de um retiro nas Chilterns. Nenhuma outra mensagem. Rodou pelo apartamento, acendendo luzes, examinando cômodos abandonados, pequenos cenários prestes a ser demolidos.
Por fim voltou à poltrona de Julie, ficou por lá uns segundos, a mão pousada nas costas do móvel como se calculasse as probabilidades de alguma ação perigosa. Após certo tempo, saiu do torpor, contornou a poltrona com dois passos e se sentou. Contemplou a lareira enegrecida onde fósforos usados, dispostos desordenadamente, podiam ser vistos ao lado de um pedaço de papel-alumínio; passaram-se vários minutos, tempo suficiente para sentir que o estofo da poltrona substituía os contornos de Julie pelos seus, minutos vazios como todos os outros. Então desabou, ficou imóvel pela primeira vez em semanas. Permaneceu assim por horas, a noite toda, cochilando um pouco às vezes e, quando acordado, sem mover um músculo ou afastar os olhos da lareira. Durante todo esse tempo parecia que algo se formava no silêncio em volta dele, uma lenta onda de compreensão com a força de uma maré montante que não quebrava ou explodia dramaticamente, mas que o levou nas altas horas da noite ao primeiro grande fluxo de entendimento da verdadeira natureza de sua perda. Tudo antes tinha sido uma fantasia, uma imitação banal e frenética do sofrimento. Pouco antes do amanhecer começou a chorar, e foi a partir desse momento, na semiescuridão, que assumiu o luto.
Dois
Torne claro para a criança que não se pode discutir com o relógio e que, quando é hora de sair para a escola, de papai ir para o trabalho, de mamãe executar suas tarefas, então essas mudanças são tão incontestáveis quanto as marés.
Manual autorizado de puericultura,
Departamento Real de Imprensa
O fato de Stephen Lewis ter um bocado de dinheiro e ser famoso entre os jovens em idade escolar era fruto de um erro administrativo, da inatenção momentânea do encarregado de distribuir a correspondência na editora Gott, que levara o pacote contendo um original para a mesa errada. O fato de Stephen não mais mencionar tal erro — passados tantos anos — se devia em parte aos cheques de direitos autorais e pagamentos adiantados que desde então tinham fluído da Gott e de muitas editoras estrangeiras, e em parte à aceitação do destino que chega quando a pessoa começa a envelhecer: aos vinte e poucos anos, lhe parecia arbitrariamente hilário que ele fosse um bem-sucedido escritor de livros infantis porque havia numerosas outras coisas que ainda podia vir a ser. Já agora não conseguia imaginar ser qualquer outra coisa.
O que mais podia fazer? Os velhos colegas dos tempos de estudante, os experimentadores estéticos e políticos, os drogados visionários, haviam agora se acomodado com muito menos. Alguns de seus conhecidos, no passado homens realmente livres, estavam resignados a ganhar a vida como professores de inglês para estrangeiros. Outros entravam na meia-idade esgotando-se nas aulas de inglês para alunos repetentes ou ensinando “habilidades sociais” a adolescentes relutantes em escolas secundárias nos cafundós de judas. Esses eram os sortudos, porque haviam encontrado emprego. Outros limpavam o chão de hospitais ou dirigiam táxis. Uma colega conseguira se qualificar para receber um distintivo de pedinte. Stephen morria de medo de esbarrar com ela na rua. Todas aquelas almas promissoras, bem formadas, brindadas com uma vida intelectual excitante graças ao estudo da literatura inglesa, na qual haviam recolhido seus breves lemas — “a energia é uma delícia perpétua”, “a maldição revigora, a bênção debilita” —, tinham sumido das bibliotecas, no final da década de 1960 e início da seguinte, decididas a empreender viagens internas ou seguir rumo ao leste em ônibus pintados. Voltaram para casa quando o mundo se tornou menor e mais sério a fim de servir à Educação, agora uma profissão sem viço, desprestigiada: as escolas estavam sendo vendidas a investidores privados, a idade de término dos estudos em breve seria reduzida.
A ideia de que quanto mais educada a população mais facilmente seus problemas poderiam ser resolvidos tinha saído de moda sem que ninguém notasse. Desvanecera-se juntamente com o princípio mais amplo de que, em geral, a vida iria melhorar para mais e mais pessoas, sendo os governos responsáveis por encenar e dirigir aquele espetáculo de potenciais realizados, aquela ampliação de oportunidades. O rol dos atores que produziriam tais melhorias tinha sido imenso, havendo sempre empregos para gente como Stephen e seus amigos. Professores, museólogos, mímicos, atores, contadores de histórias itinerantes — uma grande trupe inteiramente patrocinada pelo Estado. Agora, as responsabilidades do governo tinham sido redefinidas em termos mais simples e puros: manter a ordem e defender o Estado contra seus inimigos. Durante certo tempo, Stephen alimentara a vaga ambição de ensinar numa escola pública. Via-se junto ao quadro-negro, alto e de rosto vincado, tendo diante de si uma turma calada e respeitosa, intimidada por seus rompantes de sarcasmo, os alunos inclinados para a frente, sorvendo cada palavra. Sabia agora a sorte que havia tido. Permanecia como autor de livros infantis, tendo quase esquecido de que tudo aquilo se devia a um erro.
Um ano após terminar o University College, Stephen voltara a Londres com uma disenteria amebiana depois de uma excursão à Turquia, Afeganistão e Khyber envolta numa nuvem estonteante de haxixe; descobriu que a ética do trabalho, que tinha feito o possível para destruir junto com os seus companheiros de geração, continuava forte dentro dele. Ansiava pela ordem e pelo senso de propósito. Alugou um lugarzinho para dormir, empregou-se como arquivista numa agência de recortes de jornal e se pôs a escrever um romance. Trabalhava quatro a cinco horas todas as noites, deliciando-se com a aura romântica, a nobreza da empreitada. Estava imune à chatice de seu emprego: guardava um segredo que crescia à taxa de mil palavras por dia. E tinha todas as fantasias de praxe. Era Thomas Mann, era James Joyce, talvez fosse William Shakespeare. Intensificava a excitação de sua faina escrevendo à luz de duas velas.
Queria escrever sobre suas viagens num romance intitulado Haxixe, em que figurariam hippies esfaqueados em seus sacos de dormir, uma moça muito bem-criada condenada à prisão perpétua num presídio turco, pretensões místicas, sexo turbinado por drogas, disenteria amebiana. Em primeiro lugar, precisava explorar a formação de seu protagonista principal, algo acerca de sua infância que mostrasse a distância física e moral que ele precisaria vencer em suas viagens. Mas o primeiro capítulo teimava em em não terminar. Ganhou vida própria, e foi assim que Stephen acabou escrevendo um romance baseado nas férias de verão que tinha passado aos onze anos com suas primas, uma história de calças curtas e cabelos curtos para os meninos e, para as meninas, tiaras de cabelo e calções largos presos à altura dos joelhos, com desejos dissimulados, dedos pudicamente entrelaçados em vez de sexo alucinado, bicicletas com cestas para compras em vez de ônibus da Volkswagen pintados com tintas fluorescentes, passado não em Jalalabad mas nas cercanias de Reading. Foi escrito em três meses e recebeu o título de Limonada.
Durante uma semana, ele manuseou e folheou o manuscrito, preocupado com o fato de ser curto demais. Então, numa manhã de segunda-feira, alegou estar doente, fez uma fotocópia e a entregou pessoalmente ao escritório da Gott em Bloomsbury, a famosa editora literária. Como de praxe, ficou muito tempo sem notícias. Quando a carta finalmente chegou, não era de Charles Darke, o editor sênior ainda jovem cujo perfil tinha sido publicado nos jornais de domingo por ter salvado a reputação periclitante da Gott. Era da srta. Amanda Rien, cujo sobrenome — como ela explicou com uma risada aguda ao convidá-lo para entrar em seu escritório — não era pronunciado como a palavra francesa, mas como “rim”.
Stephen sentou-se com os tornozelos apertados contra a mesa da srta. Rien, pois ela estava instalada num antigo depósito de vassouras. Não tinha janelas. Nas paredes, em vez dos retratos emoldurados em preto e branco dos gigantes do início do século que haviam feito a fama da editora, estava um retrato não de Evelyn Waugh, como era de esperar, mas de um sapo de terno com colete e apoiado numa bengala junto à balaustrada de uma mansão no campo. Nos outros pequenos espaços disponíveis, havia desenhos de ursinhos de pelúcia, pelo menos meia dúzia deles, tentando fazer pegar o motor de um carro de bombeiros, uma camundonga de biquíni apontando um revólver para sua própria cabeça e um corvo, com uma expressão soturna e um estetoscópio pendurado ao pescoço, verificando o pulso de um pálido menino que parecia ter caído da árvore.
A srta. Rien estava sentada a menos de um metro de distância, contemplando Stephen com o ar de encanto de alguém que aprecia uma propriedade sua. Ele sorriu de volta, desconfortável, e baixou a vista. Aquele era realmente seu primeiro romance?, ela desejava saber. Todos na Gott estavam empolgados, grandemente empolgados. Ele fez que sim com a cabeça, suspeitando se tratar de um erro terrível. Não conhecia suficientemente o mundo editorial para se abrir, e a última coisa que queria era fazer papel de bobo. Sentiu-se mais seguro quando a srta. Rien disse que Charles sabia de sua presença e estava interessadíssimo em conhecê-lo. Minutos depois a porta se abriu de um golpe e Darke, sem sair do corredor, curvou-se para a frente e apertou a mão de Stephen. Falou rapidamente, dispensando as apresentações. Era um livro brilhante e é claro que queria publicá-lo. Sem dúvida queria. Mas tinha de sair correndo. Nova York e Frankfurt aguardavam ao telefone. Porém almoçariam. Em breve. E parabéns. A porta se fechou de imediato e Stephen se voltou para encontrar a srta. Rien estudando em seu rosto os primeiros sinais da adulação. Ela falou solenemente e em voz baixa. Um grande homem. Um grande homem e um grande editor. Não havia nada a fazer senão concordar.
Retornou ao seu quarto alugado excitado e insultado. Como um Joyce, um Mann ou um Shakespeare em potencial, ele pertencia sem a menor dúvida à tradição cultural europeia, a adulta. Verdade que, desde o começo, ansiara por ser compreendido. Tinha escrito numa linguagem simples e precisa. Quis ser acessível, mas não a qualquer um. Após longas reflexões, decidiu não fazer nada até voltar a se encontrar com Darke. No meio-tempo, para complicar ainda mais seus sentimentos, chegarem pelo correio um contrato e a oferta de um adiantamento de duas mil libras, o equivalente a dois anos de seu salário. Investigou aqui e ali, descobrindo que era uma quantia excepcional para um primeiro romance. A agência de recortes era agora insuportavelmente tediosa depois que havia terminado de escrever. Durante oito horas por dia recortava artigos de jornal, carimbava a data e os arquivava. As pessoas no escritório tinham emburrecido com aquele trabalho. Estava louco para anunciar que ia deixar o emprego. Várias vezes pegou a caneta, preparando-se para assinar e recolher o dinheiro, mas, pelo canto dos olhos, via uma multidão de irônicos ursinhos, camundongos e corvos que zombavam dele ao recebê-lo em suas fileiras.
E, quando por fim chegou a hora de pôr a gravata que havia comprado para aquela ocasião, a primeira que usava desde os tempos de universitário, e de manifestar sua confusão na tranquilidade discreta de um restaurante e durante a refeição mais cara que comera em sua vida, nada ficou esclarecido. Darke ouviu, balançando a cabeça com impaciência sempre que Stephen se aproximava do fim de uma frase. Antes que ele terminasse, Darke descansou a colher de sopa, pousou sua mão pequena e lisa sobre o pulso de Stephen e explicou de um modo cordial, como se falasse a uma criança, que a distinção entre a ficção para adultos e para crianças era, ela própria, uma ficção. Algo inteiramente falso, mera conveniência. Tinha de ser, quando todos os grandes escritores possuíam uma visão semelhante à de uma criança, uma simplicidade de abordagem — por mais complicada que fosse sua manifestação — que trazia o gênio do adulto ao nível da infância. E, vice-versa — Stephen estava puxando a mão para liberá-la —, os melhores livros supostamente infantis eram aqueles que falavam tanto às crianças quanto aos adultos, ao adulto incipiente na criança, à criança esquecida dentro do adulto.
Darke estava se deliciando com seu discurso. Estar num restaurante famoso fazendo observações generosas para um jovem autor era um dos mais desejáveis privilégios de sua profissão. Stephen terminou os camarões servidos num potinho e se recostou para observar e ouvir. Darke tinha cabelos cor de areia, com um tufo indisciplinado que se erguia na parte de trás da cabeça. Tinha também o hábito de tatear em busca desse tufo e domá-lo com a palma da mão enquanto falava. Os cabelos pulavam de volta para o alto tão logo os liberava.
Apesar de toda sua segurança cosmopolita, do terno escuro e da camisa feita à mão, Darke era apenas seis anos mais velho que Stephen. No entanto, eram seis anos cruciais: da parte de Darke, representavam a reverência pela maturidade que faz com que os adolescentes ambicionem aparentar o dobro da idade; da parte de Stephen, a convicção de que a maturidade era traição, timidez e cansaço, enquanto a juventude constituía um estado abençoado a ser mantido por tanto tempo quanto fosse social e biologicamente viável. À época em que almoçaram juntos pela primeira vez, Darke estava casado com Thelma havia sete anos. A grande casa em Eaton Square estava solidamente montada. As então quase valiosas pinturas a óleo de batalhas navais e cenas de caça já estavam em seus lugares. Como também as toalhas limpas e felpudas no quarto de hóspedes, a arrumadeira que trabalhava quatro horas por dia e não falava uma palavra de inglês. Enquanto Stephen e seus amigos circulavam por Goa e Cabul com frisbees e cachimbos de haxixe, Charles e Thelma tinham um manobrista para estacionar seu carro, uma secretária eletrônica, jantares para convidados, livros de capa dura. Eram adultos. Stephen vivia num quarto alugado e podia guardar tudo que possuía em duas malas. Seu romance era adequado para crianças.
E havia mais que a casa de Eaton Square. Darke já fora o dono de uma produtora de discos e a vendera. Quando terminou a Universidade de Cambridge, todos sabiam, menos as pessoas comercialmente astutas, que a música popular era o domínio exclusivo dos jovens. Os astutos se recordavam da outra Inglaterra, a dos pais que tinham atravessado a Depressão e lutado numa guerra mundial. Com aqueles pesadelos no passado, precisavam de doçura, calor e uma dose ocasional de melancolia em sua música. Darke se especializou em easy listening, nos clássicos prediletos, melodias inesquecíveis com arranjos orquestrais para duzentos violinos.
Contrariando os ditames da moda, foi também muito bem-sucedido na escolha de uma esposa doze anos mais velha que ele. Thelma ensinava física na Birkbeck, com uma respeitada tese, recém-concluída — tanto quanto os colunistas de mexericos podiam afirmar —, sobre a natureza do tempo. Não era a mulher óbvia para um milionário tão jovem da área de música kitsch, um homem com idade, como se comentava maldosamente, para ser seu filho. Thelma convenceu o marido a criar um clube de leitura cujo êxito o levou à empoeirada Gott, que dois anos depois registrou seu primeiro lucro em um quarto de século. Ele estava havia quatro anos à testa da editora quando levou Stephen para almoçar, porém se passaram outros cinco anos, quando então Darke comandava um canal independente de televisão e o próprio Stephen era um sucesso limitado, antes que os dois se tornassem amigos íntimos e Stephen — tendo renunciado a seu anseio de uma juventude eterna — passasse a ser um visitante regular em Eaton Square.
A chegada de novos pratos e a prova perfunctória de um vinho diferente não interromperam nem por um instante a preleção séria, amistosa e narcisística de Darke. Ele falava depressa, com uma espécie de autoafirmação defensiva, como se estivesse se dirigindo a acionistas céticos, como se temesse que o silêncio o levasse de volta a seus próprios pensamentos. Levou um bom tempo até que Stephen entendesse que o discurso tinha origens profundas. Naquele momento, pareceu um esforço de convencimento no qual o editor fez um uso positivo e instintivo do primeiro nome do autor.
“Escute, Stephen. Stephen, fale com um menino de dez anos no meio do verão sobre o Natal. Seria a mesma coisa que conversar com um adolescente sobre seus planos de aposentadoria, sua pensão. Para as crianças, a infância não está vinculada a uma noção de tempo. É sempre o presente. Tudo acontece no presente do indicativo. Claro que elas têm recordações. Claro que há um movimento do tempo para elas, o Natal finalmente chega. Mas elas não sentem isso. O que sentem é o hoje e, ao dizerem: ‘Quando eu crescer…’, sempre há uma ponta de descrença — como é que poderão algum dia ser diferentes do que são? Você então me diz que Limonada não foi escrito para crianças, e acredito em você, Stephen. Como todos os bons escritores, você o escreveu para si próprio. E é exatamente isso o que eu estou querendo dizer: você se dirigiu para o menino que você era aos dez anos. Esse livro não é para crianças, é para uma criança, e essa criança é você. Limonada é uma mensagem que você está enviando para um eu anterior que nunca deixará de existir. E a mensagem é amarga. É isso que torna o livro tão perturbador. Quando a filha de Mandy Rien o leu, ela chorou, lágrimas amargas, mas também lágrimas úteis, Stephen. Outras crianças reagiram do mesmo modo. Você falou diretamente às crianças. Tenha desejado ou não, se comunicou com elas por cima do abismo que separa a criança do adulto, e lhes deu uma primeira e fantasmagórica insinuação da mortalidade. Ao ler o que você escreveu, elas têm uma indicação de que são finitas como crianças. Em vez de simplesmente ouvirem isso, de fato compreendem que não durará, que não pode durar, que mais cedo ou mais tarde tudo termina, que a infância não é para sempre. Você transmitiu a elas alguma coisa chocante e triste sobre os adultos, sobre aqueles que deixaram de ser crianças. Algo ressequido, impotente, um tédio, um sentimento de que as coisas são o que são. A partir do que você escreveu, entendem que tudo isso virá para elas, tão certo quanto o Natal. É uma mensagem triste, mas verdadeira. Este é um livro para crianças pelos olhos de um adulto.”
Charles Darke tomou um gole vigoroso do vinho que havia provado com distraído discernimento alguns minutos antes. Dobrou a cabeça, saboreando a implicação de suas próprias palavras. Depois, erguendo a taça, a esvaziou e repetiu: “Uma mensagem triste, mas muito, muito verdadeira”. Stephen levantou os olhos rapidamente quando algo o fez crer que o editor estava com a voz embargada.
Excetuadas as duas semanas que foram objeto do romance, a infância de Stephen tinha sido agradavelmente monótona apesar das locações exóticas. Se tivesse que mandar de volta uma mensagem agora, ela seria de austero encorajamento: as coisas vão melhorar — bem devagar. Mas havia também uma mensagem para adultos?
A boca de Darke estava cheia de miúdos. Ele fez pequenos círculos no ar com o garfo, muito ansioso para falar; por fim conseguiu, junto com um bafo de alho que temporariamente alterou o gosto do salmão de Stephen. “Claro. Mas não vai mudar a vida de ninguém. Vai vender três mil exemplares e ganhar umas resenhas bem decentes. Mas, se for comercializado para crianças…” Darke se deixou cair na cadeira e levantou a taça.
Stephen fez que não com a cabeça e falou baixinho: “Não vou permitir. Não vou permitir nunca”.
Turner Malbert fez as ilustrações em aquarelas límpidas e de bom gosto. Na semana do lançamento, um famoso psicólogo infantil apareceu na televisão para fazer um ataque candente ao livro. Era mais do que uma criança seria capaz de absorver, perturbaria cabeças com alguma instabilidade latente. Outros peritos o defenderam, um punhado de bibliotecários incentivou as vendas recusando-se a oferecer a obra. Durante um ou dois meses se transformou em tópico de conversa nos jantares. Limonada vendeu duzentos e cinquenta mil exemplares de capa dura e, com o tempo, vários milhões em todo o mundo. Stephen largou o emprego, comprou um carro veloz e um apartamento cavernoso, de teto alto, no sul de Londres, dando origem a uma cobrança de impostos que, dois anos depois, praticamente obrigou que publicasse seu segundo romance também como livro para crianças.
Em retrospecto, os acontecimentos no ano de Stephen, o ano do comitê, pareciam ter sido organizados em torno de um único resultado. Enquanto vivia aquele ano, contudo, ele sentia que estava num tempo vazio, sem significado ou propósito. Seu retraimento usual foi espetacularmente exacerbado. Por exemplo, o segundo dia dos Jogos Olímpicos gerou uma repentina ameaça de extinção global: durante doze horas as coisas ficaram bem fora de controle, e Stephen, esparramado de cueca no sofá por causa do calor, não se sentiu especialmente mobilizado.
Dois corredores de curta distância, um russo e um americano, ambos com a constituição de galgos nervosos, se entrechocaram na linha de partida e se estranharam. O americano deu um soco no russo, que revidou e esfolou seriamente o olho do contendor. A violência e a ideia da violência se expandiram e foram subindo através de complexos sistemas de comando. Primeiro outros atletas, depois os treinadores, tentaram intervir, se enfureceram e entraram na briga. Os poucos espectadores russos e americanos nas arquibancadas partiram para o confronto. Houve um incidente grave com uma garrafa quebrada e, dentro de alguns minutos, um jovem americano — infelizmente um soldado de folga — sofreu uma hemorragia fatal. Na pista, dois dirigentes que representavam as potências em conflito se atracaram, puxando os respectivos blazers, e uma lapela foi arrancada. Alguém disparou a pistola que serve para dar a largada da corrida e atingiu o rosto de uma mulher russa, cegando mais uma pessoa — olho por olho. Mesmo na tribuna de imprensa houve hostilidades e empurrões.
Dentro de meia hora, as duas equipes tinham se retirado dos jogos e, em coletivas de imprensa separadas, trocavam insultos com intensidade escatológica. Pouco depois, o assassino do soldado foi preso, havendo alegações de que ele era vinculado à KGB e tinha motivações militares. Houve uma troca de notas virulentas entre as duas embaixadas. O presidente norte-americano, recém-empossado e ele próprio com um físico de corredor, estava ansioso para demonstrar não ser um fracote em matéria de política externa, como proclamavam com frequência seus oponentes, e procurava algo para fazer. Ponderava ainda quando os russos surpreenderam o mundo ao fechar a travessia da fronteira em Helmstedt.
Nos Estados Unidos, esse ato foi atribuído às prevaricações de um presidente dócil, que então silenciou seus críticos elevando ao máximo a prontidão das forças nucleares. Os russos fizeram o mesmo. Submarinos nucleares deslizaram silenciosamente para seus locais de disparo, os depósitos subterrâneos de mísseis foram abertos e as ogivas despontaram em meio aos arbustos da quente zona rural de Oxfordshire e nas florestas de faias dos Cárpatos. As colunas dos jornais e as telas de televisão foram tomadas por professores de dissuasão, que advogavam a importância de disparar os foguetes antes que fossem destruídos em terra. Numa questão de horas, os supermercados da Grã-Bretanha ficaram sem açúcar, chá, feijão cozido em lata e rolos de papel higiênico sedoso. A confrontação durou meio dia, até que as nações não alinhadas iniciassem a redução simultânea e supervisionada da prontidão nuclear. Como a vida na Terra afinal continuaria, em meio a muitas manifestações veementes sobre o espírito olímpico a prova de cem metros rasos foi retomada, e o alívio foi planetário quando um neutro sueco chegou em primeiro lugar.
Pode ter sido o verão excepcional, ou o uísque que bebia desde o fim da manhã, o que o fazia se sentir melhor do que de fato estava, mas Stephen honestamente não se importava se a vida na Terra ia ou não continuar. Aquilo lembrava muito uma final de campeonato mundial de futebol disputada entre dois países estrangeiros. O drama prendia a atenção dele, mas o resultado pouco importava, qualquer um podia ganhar. O universo era enorme, pensou com cansaço, e a vida inteligente ocupava uma camada bem fina mas num número provavelmente incontável de planetas. No grupo daqueles em que por acaso ocorria a convertibilidade entre matéria e energia, era inevitável que muitos tivessem virado pó numa explosão, exatamente os que talvez não merecessem mesmo sobreviver. Não se tratava de um dilema humano, ele refletiu indolentemente, coçando-se debaixo da cueca; derivava da própria estrutura da matéria e não havia muito o que fazer.
De modo similar, outros eventos mais pessoais, alguns dos quais bastante estranhos ou intensos, o fascinavam enquanto aconteciam, mas com certo afastamento, como se outra pessoa e não ele estivesse envolvida; mais tarde, não pensava muito neles e sem dúvida não os conectava entre si. Serviam como pano de fundo para as coisas realmente importantes, tal como beber deitado e com frequência, evitar os amigos e o trabalho, não conseguir se concentrar quando chamado a uma conversa, ser incapaz de ler mais que vinte linhas de qualquer texto antes de voltar a divagar, fantasiar, relembrar.
E, quando Darke pediu demissão — o anúncio oficial foi feito dois dias após o início dos trabalhos do comitê de Parmenter —, Stephen visitou Eaton Square porque Thelma lhe telefonou e pediu que fosse. Ele se envolveu não por ser um velho amigo e naturalmente se preocupar, nem por dever favores a Charles e Thelma. Não tomou, ou pareceu não tomar, nenhuma decisão na matéria; seus amigos necessitavam de uma testemunha, alguém a quem pudessem se explicar, capaz de representar o mundo exterior. Embora tenha sido escolhido, Stephen mais tarde questionou a extensão de sua própria passividade; afinal de contas, o casal Darke tinha muitos amigos, porém ele era o único observador adequado do que Charles ia pôr em prática.
Duas horas depois que Thelma telefonou, Stephen decidiu ir a pé de Stockwell para Eaton Square atravessando a Chelsea Bridge. O ar ameno do início da noite deslizava macio pela garganta, e as calçadas na frente dos pubs estavam apinhadas de bebedores de cerveja, bronzeados e falando muito, aparentemente distraídos do mundo. O temperamento nacional tinha sido transformado pela prolongada onda de calor. No meio da ponte, ele parou para ler o jornal vespertino. O pedido de demissão tinha aparecido na primeira página, embora não fosse manchete. Uma matéria destacada no pé da página falava de problemas de saúde, sugerindo, com um toque de escândalo, algum tipo de colapso nervoso. Dizia que o primeiro-ministro estava “vagamente irritado” com o fato de não ter sido avisado com antecedência. Na coluna de notas esparsas, um curto parágrafo afirmava que Darke era muito distante da política, com uma atitude demasiado blasé para aspirar a altos cargos públicos. O primeiro-ministro desconfiava de sua associação prévia com os livros. Somente os amigos íntimos, terminava a matéria, lamentariam muito sua saída. Stephen dobrou o jornal e continuou a travessia da ponte ao reparar que se aproximavam dois mendigos usando casacos compridos apesar do calor.
Muitos anos antes, durante uma noitada num restaurante grego, Darke havia iniciado uma brincadeira de salão. Estava considerando abandonar a direção de um canal de televisão, em que tivera bastante sucesso, para entrar na política. Mas a que partido devia se filiar? Exultante, Darke servia o vinho ao lado de Julie, exibindo-se como um freguês exigente diante do garçom, fazendo o pedido de todos. A conversa, bem-humorada e com um quê cínico, incorporava contudo um elemento de verdade. Darke não tinha convicções políticas, apenas capacidade gerencial e uma grande ambição. Podia aderir a qualquer partido. Uma amiga de Julie, que morava em Nova York, levou a coisa a sério e insistiu que a escolha era entre dar ênfase à dimensão coletiva da experiência ou à sua singularidade. Darke espalmou as mãos e disse que era capaz de argumentar em favor das duas posições: no apoio aos fracos, no encorajamento aos fortes. A questão mais fundamental era — ele fez uma pausa enquanto alguém completou a frase: entre seus conhecidos, quem pode conseguir que o selecionem como candidato? Darke riu mais alto que qualquer um.
Quando o café turco foi servido, já tinha sido decidido que ele deveria fazer sua carreira na direita. Os argumentos eram simples. Os conservadores estavam no poder e provavelmente lá se manteriam. De seus tempos como homem de negócios, Darke conhecia um bom número de pessoas com conexões na máquina partidária. Na esquerda, os métodos de seleção eram tortuosamente democráticos e injustificadamente punitivos para os que nunca haviam pertencido ao partido. “É tudo muito simples, Charles”, disse Julie quando eles saíam do restaurante. “Tudo que você deve temer é o desprezo eterno de todos os seus amigos.” Mais uma vez, Darke soltou uma gargalhada.
No começo houve dificuldades, mas não levou muito tempo para que aparecesse a chance de uma candidatura na área rural de Suffolk, onde ele foi capaz de reduzir pela metade a maioria obtida por seu antecessor graças a algumas observações impensadas sobre porcos. Ele e Thelma venderam o chalé de Gloucestershire onde passavam os fins de semana e compraram outro nas bordas de sua circunscrição eleitoral. A política trouxe para a superfície algo em Darke que a indústria fonográfica, as funções editoriais e a direção do canal de televisão mal haviam tocado. Dentro de semanas, ele começou a aparecer na televisão ostensivamente para comentar alguma irregularidade em sua circunscrição — um aposentado cujo fornecimento de eletricidade tinha sido suspenso morrera de hipotermia. Rompendo a regra tácita, Darke se dirigia à câmera e não ao entrevistador, conseguindo inserir rápidos resumos dos sucessos recentes do governo. Suas palavras eram disparadas como salvas de artilharia. Voltou ao estúdio duas semanas mais tarde para refutar com competência alguma verdade evidente. Os amigos que o tinham ajudado estavam impressionados. Sua atuação foi notada no quartel-general do partido. Num momento em que o governo sofria com a hostilidade de seus próprios membros, Darke mostrou ser um defensor feroz. Dizia coisas que soavam razoáveis e demonstrava preocupação social ao mesmo tempo que advogava que os pobres deviam ser autossuficientes e os ricos deviam receber incentivos. Depois de longas reflexões e mais brincadeiras de salão à mesa do jantar, ele decidiu se pronunciar contra os partidários do enforcamento no debate sobre a pena de morte que ocorria na conferência anual do partido. A ideia era ser duro mas compreensivo, duro e compreensivo. Falou bem sobre o tema numa discussão acerca da lei e da ordem transmitida pelo rádio — merecendo três solenes manifestações de aplauso da plateia presente no estúdio e sendo citado num artigo de relevo do Times.
Durante os três anos seguintes, compareceu a jantares e estudou os campos onde acreditava haver possibilidades de cargos — educação, transporte, agricultura. Manteve-se ocupado. Pulou de paraquedas a fim de angariar fundos para projetos de caridade e quebrou o tornozelo. As câmeras de televisão estavam lá. Participou de um painel de juízes que concedeu um famoso prêmio literário e fez comentários indiscretos acerca do presidente. Foi escolhido para apresentar o projeto de lei que impedia os homens de dirigir devagar junto ao meio-fio para negociar com prostitutas. O projeto não avançou por falta de tempo, porém o tornou popular entre os jornais sensacionalistas. E, durante todo esse tempo, continuou falando, espetando o indicador para cima, expressando opiniões que nunca imaginou ter, desenvolvendo o estilo oracular dos porta-vozes — “Acho que falo por todos nós quando digo…” e “Que ninguém negue…” e “O governo tornou clara sua posição…”.
Escreveu um artigo para o Times passando em revista os primeiros dois anos da mendicância autorizada, que leu em voz alta para Stephen na magnífica sala de estar de Eaton Square. “Com vistas a gerar um setor público de caridade mais ágil e eficiente ao remover a escória da época que antecedeu a essa legislação, o governo se ofereceu, em escala reduzida, um ideal a que devem aspirar suas políticas econômicas. Dezenas de milhões de libras foram poupadas em gastos com proteção social, e um grande número de homens, mulheres e crianças passaram a experimentar tanto os imprevistos quanto as vigorosas satisfações da autossuficiência que são bem familiares à comunidade de homens de negócio deste país.”
Stephen nunca duvidou de que, mais cedo ou mais tarde, seu amigo se cansaria da política e iniciaria nova aventura. Manteve um distanciamento irônico, zombando de Charles por seu oportunismo.
“Se você tivesse decidido ir para o outro lado”, Stephen lhe disse, “estaria agora argumentando com igual paixão em favor da estatização do sistema financeiro, de menores gastos de defesa, da abolição do ensino privado.”
Darke deu um tapa na testa, fingindo estar atônito com a ingenuidade do amigo. “Não seja bobo! Defendi o programa do governo. Uma maioria me elegeu por causa dele. Não interessa o que eu penso. Tenho um mandato — um sistema financeiro mais livre, mais armas, boas escolas particulares.”
“Então você não está aí para pôr em prática suas ideias.”
“Claro que não. Presto um serviço!” E os dois riram antes de voltar a beber.
Na verdade, o cinismo de Stephen escondia uma fascinação com a carreira de Charles. Stephen não conhecia nenhum outro membro do Parlamento. Seu amigo já era bem famoso de um modo modesto, e tinha um monte de histórias de bebedeiras e até mesmo de violência no bar da Câmara dos Comuns, dos pequenos absurdos dos rituais parlamentares, dos malignos mexericos nos gabinetes dos ministros. E quando Darke ganhou um cargo de nível ministerial após três anos de trabalho nos estúdios de televisão e salas de jantar, Stephen ficou realmente empolgado. Ter o velho amigo ocupando um alto posto transformava o governo num processo quase humano, fazendo com que Stephen se sentisse um homem do mundo. Agora uma limusine — embora bem pequena e amassada — ia até Eaton Square todas as manhãs a fim de levar ao trabalho o ministro, que adquirira certo ar de fatigada autoridade. Stephen às vezes se perguntava se seu amigo tinha finalmente sucumbido às opiniões que assumira sem maior esforço.
Foi Thelma quem recebeu Stephen à porta.
“Estamos na cozinha”, ela disse, conduzindo-o através do hall. Depois mudou de ideia e deu meia-volta.
Ele apontou para as paredes nuas, onde retângulos cinzentos e enodoados substituíam os quadros.
“É, o pessoal da mudança começou a trabalhar esta tarde.” Ela o levou à sala de visitas, falando rapidamente em voz baixa. “Charles está muito frágil. Não pergunte nada a ele, não o faça se sentir culpado por te deixar naquele comitê.”
Desde a ascensão política de Darke, Stephen tinha passado mais tempo na companhia de Thelma, sobretudo às noites, e tentava aprender um pouco de física teórica. Ela gostava de fingir que Stephen era mais íntimo dela que o marido, que entre os dois havia um entendimento especial, uma espécie de conspiração. Aquilo nada tinha de traição, e sim de adulação. Era embaraçoso e irresistível. Ele assentiu com a cabeça, como sempre feliz em agradá-la. Charles era o filho difícil de Thelma, e ela havia recrutado a ajuda de Stephen muitas vezes; certa ocasião, para limitar o consumo de álcool pelo ministro na véspera de um debate parlamentar; noutra, para impedi-lo, na mesa de jantar, de provocar um jovem físico amigo dela, socialista.
“Me conta o que aconteceu”, Stephen pediu, mas ela estava caminhando de volta para o ecoante hall e falando num tom de falsa admoestação.
“Acabou de sair da cama? Está muito pálido.”
Ela fez um sinal enérgico com a cabeça quando Stephen protestou, sugerindo que mais tarde iria arrancar a verdade dele. Começaram de novo a cruzar o hall, desceram alguns degraus e passaram por uma porta de baeta verde, algo que Charles mandara instalar pouco depois de ganhar uma posição no governo.
O ex-ministro estava sentado à mesa da cozinha, bebendo um copo de leite. Pôs-se de pé e caminhou na direção de Stephen, enxugando um bigode de leite com as costas da mão. A voz soou leve, estranhamente melodiosa. “Stephen… Stephen, muitas mudanças. Espero que você seja tolerante…”
Havia muito tempo Stephen não via o amigo sem um terno escuro, camisa listrada e gravata de seda. Agora ele vestia uma calça larga de veludo cotelê e uma camiseta branca. Tinha uma aparência mais flexível, mais jovem; sem o enchimento dos ternos feitos à mão, os ombros ganhavam um contorno delicado. Thelma estava servindo uma taça de vinho para Stephen, Charles o conduzia para uma cadeira de madeira. Todos se sentaram com os cotovelos sobre a mesa. Pairava no ar uma calma excitação, notícias demasiado difíceis de serem transmitidas. Thelma disse: “Decidimos que não podemos te contar tudo de uma vez. Na verdade, achamos que seria melhor te mostrar em vez de contar. Por isso, seja paciente, vai saber de tudo mais cedo ou mais tarde. Você é a única pessoa a quem estamos nos abrindo, por isso…”.
Stephen sacudiu a cabeça.
Charles perguntou: “Você viu o noticiário da televisão?”.
“Vi o jornal vespertino.”
“A história é que estou tendo um colapso nervoso.”
“E então?”
Charles olhou para Thelma, que disse: “Tomamos algumas decisões bem ponderadas. Charles está abandonando a carreira e eu pedindo demissão do emprego. Estamos vendendo a casa e nos mudando para o chalé”.
Charles foi até a geladeira e reencheu o copo com leite. Não voltou à sua cadeira, pondo-se atrás de Thelma, uma das mãos pousada de leve no ombro dela. Desde que Stephen a conhecera, Thelma tinha vontade de deixar de ser professora universitária, mudar-se para algum lugar no campo e escrever seu livro. Como teria convencido Charles? Ela estava olhando para Stephen, à espera de uma reação. Difícil não ler uma expressão de triunfo no sorriso ligeiro, difícil seguir as instruções dela e não fazer perguntas.
Stephen se dirigiu diretamente a Charles sem responder a Thelma. “O que é que você vai fazer em Suffolk? Criar porcos?”
Ele deu um sorriso sardônico.
Fez-se silêncio. Thelma deu um tapinha na mão do marido e disse sem virar o rosto na direção dele: “Você prometeu que ia dormir cedo…”. Ele já estava esticando o corpo. Não eram nem oito e meia. Stephen observou seu amigo atentamente, mal podendo acreditar em como ele parecia muito menor, mais magro. Será que as altas funções tinham realmente deixado Charles mais corpulento?
“Sim”, ele estava dizendo, “vou subir.” Beijou a mulher na face e disse para Stephen da porta: “Nós realmente gostaríamos que você fosse nos ver em Suffolk. Vai ser mais fácil explicar”. Ergueu a mão numa saudação irônica e foi embora.
Thelma encheu novamente a taça de Stephen e apertou os lábios num sorriso eficiente. Estava prestes a falar, porém mudou de ideia e se pôs de pé. “Volto num minuto”, ela disse ao atravessar a cozinha. Momentos depois ele a ouviu na escada chamando por Charles e o som de uma porta que se abria e fechava. Depois a casa ficou em silêncio exceto pelo zumbido dos equipamentos de cozinha num registro grave de barítono.
* * *
Um dia depois que Julie partiu para o retiro nas Chilterns, Thelma chegou em meio a uma tempestade de neve para pegar Stephen. Enquanto ele procurava atabalhoadamente no quarto algumas roupas e uma mala para levá-las, ela limpou a cozinha, pôs o lixo num saco e levou para a lata que ficava no lado de fora do prédio. Recolheu os montes de contas não abertas e enfiou na bolsa. No quarto, supervisionou Stephen enquanto ele empacotava suas coisas. Trabalhou com uma eficiência enérgica e maternal, só falando com ele quando necessário. Ele tinha apanhado um número suficiente de pares de meia? Calças? Esse suéter é realmente bem grosso? Levou-o até o banheiro e fez com que escolhesse os itens para levar num saquinho. Onde estava a escova de dentes? Ia deixar crescer a barba? Se não, onde estava o creme de barbear? Não havia nenhuma ação para a qual Stephen pudesse conceber um motivo. Não havia razão para se manter aquecido, usar meias ou ter dentes. Ele era capaz de executar ordens simples desde que não precisasse refletir sobre sua razão de ser.
Seguiu Thelma até o carro, esperou que abrisse a porta do passageiro para ele, e permaneceu sentado sem se mexer no cheiroso banco de couro enquanto ela voltava ao apartamento a fim de desligar a água e o gás. Ficou olhando para a frente, observando os grandes flocos de neve derreterem ao contato com o para-brisas. Vieram-lhe imagens de um melodrama dickenseniano em que sua tiritante filha de três anos abria caminho na neve para chegar em casa, mas então a encontrava trancada e deserta. Deveriam deixar um bilhete na porta para ela?, perguntou a Thelma quando ela voltou. Em vez de argumentar que Kate não sabia ler e não iria mais voltar, Thelma subiu de novo a escada e pregou seu endereço e telefone na porta da frente do apartamento.
Passaram-se semanas esquecidas na tranquilidade atapetada, cercada de mármore e mogno, do quarto de hóspedes do casal Darke. Ele viveu um caos de emoções em meio à ordem impecável das toalhas com monogramas, superfícies enceradas e sem um grão de pó, roupa de cama lavada com aroma de alfazema. Depois, quando ficou mais estável, Thelma permaneceu várias noites a seu lado falando sobre o gato de Schroedinger, o tempo fluindo para trás, o fato de Deus ser destro e outras mágicas quânticas.
Ela pertencia a uma honrosa tradição de mulheres que eram físicas teóricas, embora proclamasse não ter feito uma única descoberta, nem mesmo algo bem insignificante. Seu trabalho consistia em refletir e ensinar. As descobertas, ela dizia, eram agora uma corrida de ratos que significava o fim da ciência, além de ser coisa para os jovens. Tinha ocorrido uma revolução científica neste século e quase ninguém, mesmo entre os cientistas, estava refletindo de modo adequado sobre ela. Durante as noites frias de uma desenxabida primavera, ela se sentava com ele junto à lareira e dizia como a mecânica do quantum iria tornar a física mais feminina, toda a ciência, fazê-la mais suave, menos arrogantemente distanciada das pessoas, mais disposta a participar de um mundo que desejava descrever. Ela tinha alguns tópicos prediletos, temas que desenvolvia a cada oportunidade. O luxo e o desafio da solidão, a ignorância dos supostos artistas, sobre como o maravilhamento bem informado teria de constituir parte integral do equipamento intelectual dos cientistas. A ciência era o filho de Thelma (Charles era o outro) a quem ela dedicava as maiores e mais apaixonadas esperanças, e no qual queria infundir modos mais gentis e um temperamento mais doce. Esse filho estava prestes a crescer e a fazer menores reivindicações sobre seu valor. O período de egotismo frenético e infantil — quatrocentos anos! — chegava ao fim.
Passo a passo, usando metáforas em vez de matemática, ela o conduziu através dos paradoxos fundamentais, o tipo de coisas, ela disse, que seus alunos do primeiro ano deveriam saber: como era possível demonstrar num laboratório que algo podia ser ao mesmo tempo uma onda e uma partícula; como as partículas pareciam “ter consciência” umas das outras, dando a impressão — ao menos em teoria — de comunicarem essa consciência instantaneamente através de imensas distâncias; como o espaço e o tempo não eram categorias separáveis, mas aspectos um do outro, o mesmo ocorrendo com matéria e energia, matéria e o espaço por ela ocupado, movimento e tempo; como a própria matéria não consistia em pedacinhos duros de alguma coisa, mais se assemelhando a um movimento padronizado; como quanto mais a gente sabia sobre alguma coisa em detalhe, menos sabia sobre ela em geral. A vida no magistério lhe inculcara úteis hábitos pedagógicos. Fazia pausas regulares a fim de ver se ele a acompanhava. Ao falar, seus olhos vasculhavam o rosto de Stephen para verificar se nele havia uma concentração total. Inevitavelmente, descobria que ele não apenas tinha deixado de entender, mas se perdera em devaneios nos últimos quinze minutos. Isso, por sua vez, podia suscitar um de seus temas prediletos. Ela apertava o indicador e o polegar contra a testa. Era necessário um pouco de teatro.
“Seu ignorantão!” — era como às vezes chamava Stephen quando ele ajustava o rosto para expressar arrependimento. Talvez esses fossem seus momentos de maior intimidade. “Uma revolução científica, não, uma revolução intelectual, uma explosão emocional e sensual, uma história fabulosa apenas começando a se revelar para nós, e você e gente como você não concedem a isso um segundo do seu tempo com o mínino de seriedade. As pessoas costumavam pensar que o mundo era sustentado por elefantes. Isso não é nada! A realidade, o que quer que signifique essa palavra, se mostra mil vezes mais estranha. O que você quer? Lutero? Copérnico? Darwin? Marx? Freud? Nenhum deles reinventou o mundo e nosso lugar nele de modo tão radical e esquisito quanto os físicos deste século. As pessoas que medem o mundo não podem mais se pôr de fora. São obrigadas também a se medir. Matéria, tempo, espaço, forças — todas ilusões belas e complexas com as quais devemos agora conspirar. Que sacudidela estupenda, Stephen! Shakespeare teria sacado as funções de onda, Donne teria compreendido a complementaridade e o tempo relativo. Eles teriam se empolgado. Que riqueza! Teriam pilhado essa nova ciência para dela extrair suas imagens. E também teriam educado o público. Mas vocês, ‘artistas’, não apenas desconhecem essas coisas magníficas, mas têm bastante orgulho de não saber nada. Pelo visto, vocês devem achar que alguma moda passageira como o modernismo — modernismo! — é a maior conquista intelectual de nossos tempos. Patético! Agora, pare com esse sorriso idiota e faça um drinque para mim.”
Ela apareceu dez minutos depois na porta da cozinha, fazendo sinal para que ele a acompanhasse até a sala de visitas. Dois gigantescos sofás Chesterfield ficavam frente a frente, separados por uma mesinha baixa com tampo de mármore. Uma garrafa térmica fechada e duas xícaras de café tinham sido postas ali por Thelma ou pela empregada. As batalhas navais também haviam sido substituídas por manchas cinzentas retangulares. Ela seguiu seu olhar e disse: “Os quadros e os enfeites vão à parte. Algo a ver com o seguro”.
Acomodaram-se lado a lado como sempre faziam quando Charles trabalhava até tarde no ministério ou na Câmara. Ela jamais levara a sério sua carreira política. Tolerara, com um distanciamento benigno, a agitação na casa enquanto ele avançava e garantia sua posição. O posto no governo tinha ressuscitado na conversa sobre a aposentadoria, sobre seu livro, sobre a vontade de se instalar de vez no chalé. Mas como remover agora Charles, depois que ele se tornara uma pequena figura nacional, depois que um jornalista do Times disse incidentalmente que ele tinha “potencial para ser primeiro-ministro”? Que mágica quântica feminina ela teria usado?
Thelma estava se desvencilhando dos sapatos com a despreocupação de uma adolescente, dobrando as pernas debaixo do corpo. Tinha quase sessenta e um anos. Mantinha as sobrancelhas bem cuidadas. As maçãs do rosto pronunciadas lhe davam um ar vivaz e radiante que lembrava a Stephen um esquilo altamente inteligente. A inteligência brilhava em seu rosto, e a severidade de seus modos tinha sempre um quê de brincadeira, de autogozação. O cabelo grisalho era preso num coque descuidado — de rigueur, ela dizia, para mulheres em seu campo científico —, e mantido no lugar por um pente antigo.
Ela ajeitou alguns fios soltos atrás da orelha, sem dúvida arrumando seus pensamentos metódicos. As janelas estavam abertas de par em par, e através delas vinha o som distante e melodioso do tráfego pesado, bem como os trinados e lamúrias dos carros de patrulha.
“Digamos o seguinte”, ela disse por fim. “Ninguém seria capaz de adivinhar, mas Charles tem uma vida interior. Na verdade, mais do que uma vida interior, uma obsessão íntima, um mundo separado. Você vai ter que acreditar em mim. Na maior parte do tempo ele nega que exista, mas está presente permanentemente, o consome, faz dele o que é. O que Charles deseja — se esta é a palavra —, aquilo de que precisa conflita muito com o que faz, com o que tem feito. São as contradições que o tornam tão frenético, tão impaciente para obter sucesso. Esta mudança, pelo menos no que lhe diz respeito, tem a ver com a necessidade de resolvê-las.” Ela apressou-se a sorrir. “E tem ainda as minhas necessidades, mas essa é outra questão, que aliás você conhece muito bem.” Ela se recostou no sofá, aparentemente satisfeita por ter deixado tudo claro.
Stephen deixou que meio minuto se passasse. “Muito bem, qual é exatamente essa vida interior dele?”
Ela balançou a cabeça. “Sinto muito se isso soa obscuro. Seria melhor que viesse nos visitar. Ver com seus próprios olhos. Não quero explicar antes do tempo.”
Descreveu como pedira demissão do emprego e o prazer que lhe dava a perspectiva de escrever seu livro. Consistiria na elaboração de seus temas prediletos. Ele viu os dois, Thelma no escritório do piso superior com as tábuas que estalavam, sentada à escrivaninha em que os raios do sol faziam luzir os papéis espalhados e de onde, através da janela de gelosias, podia ver Charles em manga de camisa parado junto ao carrinho de mão. Mais além do jardim, telefones tocavam, ministros cruzavam a cidade em limusines a caminho de almoços importantes. Charles, de joelhos, compactava pacientemente a terra na base de um arbusto enfermo.
Mais tarde, ela trouxe uma bandeja de frios. Enquanto comiam, ele descreveu as reuniões do comitê, tentando torná-las mais engraçadas do que eram. A conversa perdeu pique, ficou reduzida a comentários sobre amigos comuns. Lá para o fim, Thelma parecia querer se desculpar, como se receasse que ele pudesse pensar que havia feito uma viagem à toa. Tinha pouca ideia de como ele passava a maior parte de suas noites.
Como não visitaria a casa de novo antes que fosse vendida, ele aceitou o convite para passar a noite lá. Bem antes da meia-noite, Stephen encarava um bem conhecido papel de parede com desenhos de centáureas enquanto, sentado na beira da cama, tirava os sapatos. Considerava os objetos do quarto como seus. Havia passado tanto tempo contemplando-os — a tigela azul de louça vidrada com as flores amassadas sobre uma cômoda de carvalho com enfeites de latão, um pequeno busto de Dante feito de peltre, um pote de vidro com tampa para guardar as abotoaduras. Fora prisioneiro daquele quarto durante três ou quatro catatônicas semanas. Agora, ao tirar as meias e atravessá-lo para abrir um pouco mais as janelas, esperava as piores recordações. Ficar tinha sido um erro. O burburinho constante da cidade não era capaz de mitigar o silêncio pesado que emanava do grosso tapete, das toalhas felpudas no suporte de madeira, das dobras graníticas das cortinas de veludo. Ainda vestido, deitou-se na cama. Aguardava as imagens, as que só podia apagar sacudindo a cabeça.
O que veio não foi a filha exibindo cambalhotas, mas seus pais num momento aleatório de sua última visita. A mãe estava junto à pia da cozinha, com luvas de borracha. O pai, ao lado dela, tinha um copo de cerveja limpo numa mão e um pano de prato na outra. Voltavam-se para vê-lo à porta. Ela manteve uma postura desajeitada, com as mãos ainda na pia. Não queria espuma no chão. Nada de importante aconteceu. Ele achou que seu pai estava prestes a falar. Na posição desconfortável em que se encontrava, sua mãe dobrou a cabeça para o lado preparando-se para ouvir. Stephen também havia adotado esse hábito. Podia ver o rosto dos dois, as expressões bem marcadas de ternura e ansiedade. Era o envelhecimento, as essências de cada um resistindo enquanto os corpos se deterioravam. Ele sentiu a urgência do tempo que se contraía, das tarefas inconclusas. Havia conversas que ainda não tivera com eles e para as quais sempre acreditou que haveria tempo.
Por exemplo, tinha uma recordação não localizada, uma coisinha que só eles poderiam explicar. Estava numa bicicleta, no assento para crianças. À sua frente, as volumosas costas do pai, as dobras e arestas da camisa branca trocando de lugar com a subida e descida dos pedais. À esquerda, a mãe em sua bicicleta. Seguiam por uma estrada pavimentada. A intervalos regulares sentiam um solavanco ao passar pelas finas linhas de asfalto que uniam as seções de concreto. Desmontaram diante de um grande monte de seixos. O mar estava do outro lado, ele podia ouvir seu rugido e estrépito quando começaram a íngreme subida. Não guardava a menor recordação do mar, somente a expectativa medrosa à medida que seu pai o puxava pelo braço até o topo. Mas quando foi isso, e onde? Nunca viveram perto do mar ou passaram férias em praias como aquela. Seus pais nunca possuíram bicicletas.
Quando os visitava agora, a conversa seguia trilhas bem batidas. Era difícil escapar e perseguir os detalhes inúteis e importantes. Sua mãe tinha problemas de visão e sentia dores à noite. O coração do pai produzia murmúrios e palpitava irregularmente. Doenças menores se avolumavam. Havia acessos de gripe de que ele só era informado depois de superados. Um duro desmonte estava em progresso. O telegrama poderia chegar, a sombria chamada telefônica — e ele estaria confrontado com a frustração e a culpa de uma conversa jamais iniciada.
Só quando você é adulto, talvez só quando tem filhos, compreende perfeitamente que seus pais tiveram uma existência completa e intrincada antes de seu nascimento. Ele conhecia apenas esboços e pormenores de histórias — sua mãe numa loja de departamentos elogiada pela perfeição do laço que dava às suas costas; seu pai caminhando por uma cidade arruinada na Alemanha, ou atravessando a pista de um campo de pouso para comunicar oficialmente a vitória ao comandante do esquadrão. Até quando as histórias deles passaram a incluí-lo, Stephen nada sabia sobre como seus pais tinham se conhecido, o que os atraiu, como decidiram se casar, ou como ele tinha aparecido. É difícil certo dia recuar do momento e fazer a pergunta desnecessária e essencial, ou se dar conta de que, embora muito próximos, os pais também permanecem como estranhos para os filhos.
Ele devia isso ao amor que sentia por eles: não deixar que desaparecessem, que tivessem as vidas esquecidas. Estava pronto para levantar-se da cama, sair na ponta dos pés da residência dos Darke e fazer uma longuíssima viagem de táxi durante toda a noite até a casa deles, chegar sobraçando um montão de perguntas, sua súmula de acusação contra os apagamentos devastadores do tempo. Sem dúvida estava pronto, ia pegar uma caneta, deixar um bilhete para Thelma e sair naquele mesmo instante, já procurava as meias e os sapatos. Tudo que o mantinha ali era a necessidade de fechar os olhos e demorar-se em reflexões adicionais.
CONTINUA
Por muito tempo, tanto no entender do governo quanto no da maioria da população, o subsídio aos transportes públicos foi associado à negação da liberdade individual. Como os vários serviços entravam em colapso duas vezes por dia na hora do rush, Stephen se deu conta de que era mais rápido caminhar de seu apartamento até Whitehall do que pegar um táxi. Era o fim de maio, pouco antes das nove e meia da manhã, e a temperatura já se aproximava dos trinta graus. Caminhou rumo à Ponte Vauxhall, passando por filas duplas e triplas de carros resfolegantes que não tinham para onde escapar, cada um com seu motorista solitário. Pelo jeito, a busca da liberdade era mais um exercício de resignação que de paixão. Dedos com anéis tamborilavam pacientemente no metal dos tetos quentes, cotovelos cobertos por camisas brancas despontavam através das janelas abaixadas. Viam-se jornais abertos sobre os volantes. Stephen andava rápido através da multidão, através da balbúrdia sonora vinda dos carros — jingles, locutores veementes de programas matinais, noticiários, alertas de trânsito. Os motoristas que não estavam lendo ouviam estoicamente. O avanço incessante da turba nas calçadas devia transmitir-lhes uma sensação de movimento relativo, de estarem deslizando aos poucos para trás.
Com ágeis manobras para ultrapassar os mais lentos, Stephen, embora de forma quase inconsciente, permanecia como sempre à espreita de crianças, em especial uma com cinco anos de idade. Era mais que um hábito, pois um hábito pode ser abandonado. Tratava-se de uma profunda predisposição, uma silhueta que a experiência tinha gravado em sua mente. Não era exatamente uma busca, apesar de haver sido uma caça obsessiva — e por muito tempo. Passados dois anos, só restavam vestígios daquilo: agora era uma grande saudade, uma fome insaciada. Havia um relógio biológico, impiedoso em seu progresso inescapável, que fazia com que sua filha continuasse a crescer, aumentasse e enriquecesse seu vocabulário antes bastante simples, se fortalecesse, firmasse seus movimentos. O relógio, fibroso como um coração, era fiel a uma condição permanente: ela estaria aprendendo a desenhar, começando a ler, perdendo um dente de leite. Ela seria alguma coisa bem conhecida, vista como algo rotineiro. Era como se a proliferação de ocorrências pudesse erodir aquele condicional, o biombo, frágil e semiopaco, cujos tênues tecidos de tempo e acaso a separavam dele: ela está de volta da escola e cansada, o dente foi posto sob o travesseiro, procura pelo pai.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_CRIAN_A_NO_TEMPO.jpg
Qualquer menina de cinco anos — embora os garotos também servissem — emprestava substância à sua continuada existência. Nas lojas, ao passar pelos parquinhos, na casa de amigos, ele não podia deixar de procurar por Kate em outras crianças, ou nelas ignorar as lentas mudanças, as competências crescentes, ou deixar de sentir a potência irresistível de semanas e meses, do tempo que deveria ser dela. O crescimento de Kate tinha se transformado na própria essência do tempo. Seu crescimento espectral, o produto de uma tristeza obsessiva, era não apenas inevitável — nada era capaz de fazer parar o relógio fibroso — mas necessário. Sem a fantasia de sua continuada existência, ele estava perdido, o tempo pararia. Era o pai de uma criança invisível.
Mas ali, no Millbank, só havia ex-crianças se arrastando rumo ao trabalho. Mais adiante, pouco antes da praça do Parlamento, via-se um grupo de pedintes com as devidas autorizações. A rigor, não lhes era permitido mendigar perto do Parlamento ou de Whitehall, ou mesmo nas proximidades da praça. No entanto, alguns deles estavam se valendo da confluência das artérias que vinham dos subúrbios. Ele viu seus distintivos brilhando a uma distância de quase duzentos metros. Aquela era a melhor época do ano para eles, que pareciam arrogantes na sua liberdade. Os assalariados tinham de lhes dar passagem. Uns dez mendigos trabalhavam nos dois lados da rua, caminhando inelutavelmente em sua direção, na contracorrente dos demais pedestres. Stephen vinha observando uma criança. Não de cinco anos, mas uma magricela na pré-pubescência. Ela reparara nele de longe. Andava devagar, como uma sonâmbula, estendendo a tigela preta regulamentar. Os funcionários de escritório se dividiam diante dela e voltavam a se juntar mais além. Tinha os olhos fixados em Stephen. Ele sentiu a ambivalência costumeira. Dar um trocado garantia o êxito do programa de governo. Não dar envolvia a decisão consciente de ignorar um sofrimento pessoal. Não havia saída. A arte do mau governo consistia em romper o vínculo entre as políticas públicas e o sentimento privado, o instinto com relação ao que era correto. Ultimamente ele vinha deixando por conta do acaso. Se tivesse moedas no bolso, dava. Caso contrário, não dava nada. Jamais entregava notas.
A garota tinha a pele bronzeada porque passava os dias nas ruas ensolaradas. Usava uma bata encardida de algodão amarelo, os cabelos cortados bem curtos. Talvez para matar os piolhos. À medida que se aproximavam, viu que ela era bonita, com ar travesso e sardenta, o queixo pontudo. Estavam a menos de sete metros de distância quando ela disparou e apanhou na calçada um bocado de chiclete ainda reluzente. Pôs na boca e começou a mastigar. Dobrou para trás a cabeça pequena ao voltar a olhar na direção dele.
E então se viram frente a frente, a tigela erguida entre os dois. Ela o selecionara havia alguns minutos, era um truque que tinham. Horrorizado, ele meteu a mão no bolso de trás da calça para pegar uma nota de cinco libras. Ela observou inexpressiva quando Stephen depositou a nota em cima das moedas.
Tão logo ele afastou a mão, a garota agarrou a nota, enrolou-a bem enrolada e disse: “Se fodeu, tio”. E já passava a seu lado.
Stephen plantou a mão em seu ombro duro e estreito, apertando-o. “O que foi que você disse?”
Num rodopio, a garota se libertou. Os olhos se estreitaram, e falou com uma voz aflautada: “Eu disse valeu, tio”. Já estava fora de alcance quando acrescentou: “Seu rico de merda!”.
Stephen mostrou as palmas das mãos vazias numa admoestação amena. Sorriu sem entreabrir os lábios para manifestar sua imunidade ao insulto. Mas a garota retomara a caminhada sistemática ao longo da rua, ainda como uma sonâmbula. Acompanhou-a por um minuto antes que se perdesse em meio à multidão. Ela não olhou para trás.
A Comissão Oficial de Assistência à Infância, sabidamente um projeto visto com muito bons olhos pelo primeiro-ministro, havia gerado catorze subcomitês cuja tarefa consistia em fazer recomendações ao órgão superior. Sua verdadeira função, diziam os cínicos, era satisfazer os ideais disparatados de uma infinidade de grupos de interesse — os lobbies do açúcar e do fast food, os fabricantes de roupas, brinquedos, leite em pó e fogos de artifício, as instituições de caridade, as organizações de mulheres, as associações interessadas em criar faixas para pedestres — pressões de todos os lados. Entre os segmentos da sociedade que abrigavam os formadores de opinião, poucos se recusaram a servir. Concordava-se em geral com o fato de que o país estava cheio de gente de má índole. Havia fortes correntes de opinião sobre o que era um bom cidadão e o que cabia fazer pelas crianças a fim de que constituíssem uma cidadania digna no futuro. Todo mundo participava de algum subcomitê — até mesmo Stephen Lewis, autor de livros infantis, embora isso se devesse inteiramente à influência de seu amigo, Charles Darke, que tinha pedido demissão pouco depois de os comitês começarem a trabalhar. Stephen era membro do Subcomitê de Leitura e Escrita, presidido pelo reptiliano lorde Parmenter. Semanalmente, ao longo dos meses ressequidos daquele que se revelou ser o último verão decente do século XX, Stephen frequentou as reuniões numa sala lúgubre do Whitehall, onde, lhe disseram, haviam sido planejados em 1944 os bombardeios noturnos contra a Alemanha. Ele teria muito a dizer com respeito à leitura e à escrita em outros momentos de sua vida, mas, naquelas sessões, tendia a descansar os braços sobre a grande e lustrosa mesa, inclinar a cabeça numa atitude de respeitosa atenção e manter a boca fechada. Ele vinha passando muito tempo sozinho. Uma sala apinhada não diminuía sua introspecção, como havia esperado, e sim a intensificava e tornava mais sólida.
Pensava em especial na mulher e na filha, e no que deveria fazer consigo próprio. Ou matutava acerca da repentina saída de Darke da vida pública. À sua frente havia uma janela alta através da qual, mesmo no meio do verão, os raios solares jamais penetravam. Mais além, um retângulo de grama cortada bem rente emoldurava um pátio onde cabia meia dúzia de limusines ministeriais. Nas horas de folga, os motoristas relaxavam e fumavam, lançando olhares desinteressados para os membros do comitê. Stephen remoía recordações e devaneios, o que era e o que podia ter sido. Ou era remoído por tudo aquilo? Às vezes pronunciava mentalmente seus discursos compulsivos, acusações tristes ou amargas cujas diversas versões eram revisadas de forma meticulosa. Enquanto isso, mal e mal acompanhava as discussões em volta dele. O comitê estava cindido entre os teóricos, que tinham feito todas as suas reflexões muito tempo antes, e os pragmáticos, que achavam que iam descobrir o que pensavam durante o processo de dizer o que pensavam. Os limites da polidez eram testados, porém nunca rompidos.
Lorde Parmenter presidia com uma banalidade solene e astuta, indicando quem devia falar com um movimento rápido dos olhos semicerrados e sem cílios, erguendo um braço frágil para controlar os arroubos, fazendo seus raros pronunciamentos de macaquinho com uma língua seca e sarapintada. Somente o jaquetão escuro denunciava uma origem humanoide. Ele possuía um jeito aristocrático de usar lugares-comuns. Uma longa e mal-humorada discussão sobre a teoria do desenvolvimento infantil tinha terminado num útil impasse graças à sua decisiva e substancial intervenção: “As crianças são assim mesmo”. As crianças detestavam sabonete e água, aprendiam bem depressa e cresciam rápido demais, tudo era apresentado na forma de axiomas igualmente difíceis. A trivialidade de Parmenter, além de desdenhosa, era destemida ao proclamar a circunstância de ser ele um homem demasiado importante e invulnerável para se importar com a possibilidade de parecer um imbecil quando abria a boca. Não precisava impressionar ninguém. Não se curvava sequer à conveniência de ser interessante. Stephen não tinha dúvida de que se tratava de um sujeito muito inteligente.
Os membros do comitê não consideravam necessário se conhecer muito bem. Terminadas as longas sessões, enquanto papéis e livros eram enfiados nas pastas, tinham início conversas corteses que se mantinham ao longo dos corredores pintados em duas cores e se tornavam meros ecos à medida que todos desciam a escada de concreto em caracol, dispersando-se nos vários níveis da garagem subterrânea do ministério.
Nos meses de calor sufocante e mesmo depois, Stephen empreendeu a viagem semanal a Whitehall. Era seu único compromisso numa vida livre de qualquer outra obrigação. A maior parte desse tempo disponível ele passava de cueca, estendido no sofá diante da televisão, bebericando melancolicamente uísque sem gelo, lendo revistas de trás para a frente e assistindo às Olimpíadas. À noite, ele bebia mais. Comia num restaurante da região, sozinho. Não procurava os amigos. Nunca retornava as chamadas registradas na secretária eletrônica. Em geral não se importava com a imundície do apartamento, com as avantajadas moscas pretas em suas rondas sem pressa. Quando saía, temia rever a deprimente configuração de suas velhas posses, o modo como as poltronas vazias se acocoravam tendo a seus pés pratos sujos e jornais antigos. Era a teimosa conspiração dos objetos — assento de privada, roupas de cama, sujeira no chão —, desejosos de permanecer tal como haviam sido deixados. Em casa também nunca estava distante de seus temas: a filha, a mulher, o que fazer. Mas ali lhe faltava concentração para manter um pensamento continuado. Seus devaneios eram fragmentários, desordenados, quase inconscientes.
Os membros faziam questão de ser pontuais. Lorde Parmenter sempre chegava por último. Ao se acomodar na cadeira, abria a sessão emitindo um tênue gargarejo que, com muito engenho, se transformava em suas primeiras palavras. O secretário do comitê, Peter Canham, sentava-se à sua direita, com a cadeira afastada da mesa a fim de simbolizar seu distanciamento das atividades. Tudo que se exigia de Stephen era parecer plausivelmente alerta durante duas horas e meia. Essa útil moldura era-lhe familiar desde os seus tempos de estudante, das centenas ou milhares de horas de aulas dedicadas à vadiagem mental. A própria sala era familiar. Sentia-se em casa com os interruptores de baquelite marrom, os fios elétricos dentro de canos empoeirados presos sem elegância às paredes. Na escola que havia frequentado, a sala onde eram dadas as aulas de história se parecia muito com aquela: o mesmo conforto desgastado e generoso, a mesma mesa comprida maltratada que alguém ainda se dava ao trabalho de encerar, os vestígios de solenidade convivendo soporificamente com a burocracia maçante. Quando Parmenter, com sua afabilidade de réptil, traçou as diretrizes do trabalho da manhã, Stephen ouviu a balsâmica cadência galesa de seu professor dissertando sobre as glórias da corte de Carlos Magno ou os ciclos de depravação e reforma no papado medieval. Pela janela, via não o pátio de estacionamento murado e os carros cozidos pelo sol, mas, como se estivesse dois andares acima, um roseiral, campos esportivos, uma balaustrada cinzenta bem enodoada e, mais além, terras acidentadas e sem cultivo que desciam em direção aos carvalhos e faias, terminando no largo litoral do braço de mar, bem azul, um quilômetro e meio separando uma margem da outra. Tratava-se de um tempo perdido e de uma paisagem perdida: ele voltara certa vez para descobrir que as árvores haviam sido eficientemente derrubadas, as terras aradas e o estuário atravessado por uma ponte para veículos. E, como vivia obcecado pela perda, foi fácil transportar-se para um dia gélido e ensolarado no lado de fora de um supermercado no sul de Londres. Ele segurava a mão da filha. Ela usava um cachecol de lã vermelha tricotado pela mãe dele e carregava junto ao peito um burrico bem gasto. Caminhavam para a entrada. Era um sábado, havia muita gente em volta. Ele segurou sua mão com firmeza.
Parmenter tinha terminado de falar, agora um dos professores universitários fazia uma defesa hesitante dos méritos de um alfabeto fonético recém-elaborado. As crianças aprenderiam a ler e escrever mais cedo e com maior prazer; a seu juízo, a transição para o alfabeto convencional seria feita sem esforço. Stephen segurava um lápis e parecia prestes a tomar notas. Com a testa franzida, movia a cabeça ligeiramente, embora fosse difícil precisar se em sinal de concordância ou repulsa.
Kate estava na idade em que lhe causavam pesadelos a linguagem em rápida expansão e as ideias que daí surgiam. Era incapaz de descrevê-los aos pais, mas certamente continham elementos encontrados nos seus livros infantis — peixes falantes, uma grande rocha com uma cidade dentro, um monstro solitário que desejava profundamente ser amado. Havia tido pesadelos na noite anterior. Várias vezes Julie precisou sair da cama para ir vê-la, e só voltou a dormir bem depois do raiar do dia. Dormia agora. Stephen preparou o café da manhã e vestiu Kate. Ela estava bem acesa, apesar da provação noturna, ansiosa para ir ao supermercado e passear no carrinho de compras. Aquele sol estranho num dia gélido a intriga. Coisa rara, cooperou na tarefa de ser vestida. Postou-se entre os joelhos dele enquanto Stephen fazia entrar os braços e as pernas na roupa de inverno. Seu corpo era tão compacto, tão imaculado! Ele a levantou e encostou o rosto em sua barriga, fingindo que ia mordê-la. O corpinho cheirava a cama e a leite. Ela soltou um gritinho e se contorceu, mas suplicou para que fizesse de novo quando a pôs no chão.
Stephen abotoou a camisa de lã, a ajudou a vestir o grosso suéter e fechou o macacão. Ela começou uma cantoria vaga e abstraída que resvalava para a improvisação, cantigas de ninar e trechos de canções natalinas. Sentou-a na cadeira, calçou as meias e deu laço nas botinhas. Quando ele se ajoelhou, Kate acariciou seus cabelos. Como muitas menininhas, ela tinha uma típica atitude protetora com relação ao pai. Antes de saírem do apartamento, se certificaria de que Stephen havia abotoado o casaco até em cima.
Levou uma xícara de chá para Julie, que se encontrava semiacordada, com os joelhos erguidos contra o peito. Ela disse alguma coisa que se perdeu entre os travesseiros. Ele enfiou a mão por baixo das cobertas e massageou a parte inferior de suas costas. Ela se virou e puxou o rosto dele na direção de seus seios. Ao se beijarem, ele sentiu na boca de Julie o gosto denso e metálico do sono profundo. Mais além da escuridão do quarto, Kate ainda cantarolava seu pot-pourri de melodias. Durante alguns segundos, Stephen se sentiu tentado a desistir de ir às compras e plantar Kate com alguns livros diante da televisão. Podia se meter debaixo das pesadas cobertas ao lado de sua mulher. Tinham feito amor logo ao nascer do sol, mas sonolentos, sem chegar ao fim. Ela o acariciava agora, desfrutando de seu dilema. Ele voltou a beijá-la.
Estavam casados havia seis anos, um período de lentos e delicados ajustes aos princípios conflitantes do prazer físico, das obrigações domésticas e da necessidade de solidão. Quando um deles era negligenciado, na certa vinha prejuízo ou caos para os demais. Mesmo enquanto apertava levemente o mamilo de Julie entre o indicador e o polegar, ele fazia seus cálculos. Depois da noite conturbada e da expedição para fazer as compras, Kate necessitaria tirar uma soneca ao meio-dia. Teriam então a certeza de um tempo ininterrupto. Mais tarde, nos tristes meses e anos que se seguiram, Stephen se esforçava para recapturar aquele momento. Para achar de volta o caminho entre as dobras que separavam os eventos, enfiar-se por baixo das cobertas, reverter sua decisão. Mas o tempo — não necessariamente como ele é, mas como o pensamos — proíbe de forma monomaníaca as segundas oportunidades. Não há um tempo absoluto, sua amiga Thelma lhe disse várias vezes, nenhuma entidade independente. Só a nossa compreensão pessoal e frágil. Ele postergou o prazer, cedeu ao dever. Apertou a mão de Julie e se pôs de pé. No hall, Kate veio em sua direção falando alto, erguendo o burrico bastante puído. Ele se curvou para dar mais uma volta no cachecol em torno do pescoço dela. Ela se pôs na ponta dos pés a fim de verificar se os botões do casaco de Stephen estavam abotoados. Deram-se as mãos antes mesmo de passar pela porta da frente.
Pisaram na calçada como se enfrentassem uma tempestade. A rua era uma artéria importante que levava ao sul, de tráfego feroz. O dia muito frio, anticiclônico, ficou muito bem gravado numa memória obsessiva por sua intensa luminosidade, que punha em relevo cada detalhe impudente. Perto dos degraus e sob o sol, havia uma lata amassada de coca-cola cujo canudinho, ainda tridimensional, permanecia no lugar. Kate mostrou vontade de salvá-lo, mas foi proibida por Stephen. Mais adiante, junto a uma árvore e como se iluminado por dentro, um cachorro fazia cocô com o traseiro trêmulo e uma expressão radiante, sonhadora. A árvore era um carvalho cansado cuja casca parecia recém-esculpida, os relevos engenhosos e brilhantes, os sulcos em profunda sombra.
Em dois minutos se chegava ao supermercado cruzando a rua de quatro pistas numa faixa de pedestres. Perto da zebra, onde aguardaram para atravessar, havia uma loja de motocicletas, um local de encontro internacional para os fãs daquele tipo de veículo. Homens com barrigões e roupas de couro surradas estavam encostados ou montados nas máquinas paradas. Quando Kate tirou da boca o dedo que vinha chupando e apontou, o sol baixo iluminou o que parecia ser um revólver fumegante. No entanto, ela não encontrou palavras que exprimissem o que via. Por fim atravessaram diante de uma matilha de carros impacientes que saltaram para a frente, rosnando, no instante em que os dois alcançaram a ilha central. Kate procurou pela senhora que vendia pirulitos e sempre acenava para ela. Stephen explicou que era sábado. Como havia muita gente, segurou sua mão com mais força enquanto caminhavam para a entrada. Em meio ao vozerio, aos gritos e ao matraquear das registradoras, encontraram um carrinho. Kate sorria prazerosamente ao se aboletar no assento.
Os fregueses dividiam-se em dois grupos, tão distintos quanto tribos ou nações. Os primeiros eram proprietários nas vizinhanças de casas vitorianas que tinham sido reformadas. Os segundos moravam em altos prédios dentro de conjuntos habitacionais erguidos nas vizinhanças. Os que compunham o primeiro grupo tendiam a comprar frutas e legumes frescos, pão de centeio, café em grão, peixes recém-pescados num balcão especial, vinho e bebidas alcoólicas, enquanto os do segundo compravam legumes em lata ou congelados, feijão cozido, sopas instantâneas, açúcar branco, bolos, cerveja, bebidas alcoólicas e cigarros. No segundo grupo havia aposentados comprando carne para seus gatos e biscoitos para eles próprios. E jovens mães, magras e fatigadas, com cigarros pendurados nos lábios, que às vezes perdiam o controle no caixa e davam uns tabefes em alguma criança. O primeiro grupo continha casais jovens e sem filhos, com roupas vistosas, que na pior das hipóteses estavam pressionados pela falta de tempo. Também se viam mães fazendo compras na companhia das babás, além de pais, como Stephen, comprando salmão fresco, dando sua contribuição.
O que mais ele comprou? Pasta de dente, lenços de papel, sabonete líquido, o melhor bacon disponível, um pernil de cordeiro, bifes, pimentões verdes e vermelhos, rabanetes, batatas, papel-alumínio, um litro de uísque. E quem estava lá quando sua mão se estendia para pegar esses produtos? Alguém que o seguiu enquanto ele empurrava Kate entre as prateleiras abarrotadas, alguém que se mantinha a alguns passos de distância quando ele parava, que fingia estar interessado num rótulo, mas depois continuava a caminhar atrás dele? Ele havia retornado mil vezes, visto sua própria mão, uma prateleira, os produtos se acumulando, tinha ouvido Kate tagarelando, e tentou mover os olhos, erguê-los contra o peso do tempo, para divisar a figura encoberta na periferia de sua visão, aquela que estava sempre ligeiramente de lado e atrás, aquela que, movida por um estranho desejo, calculava as probabilidades ou apenas esperava. Mas o tempo fixava para sempre sua vista nas tarefas mundanas, e em volta dele formas indistintas vagavam e se dissolviam, enquadradas em categorias.
Quinze minutos depois chegaram ao caixa. Havia oito bancadas paralelas. Ele se juntou a uma pequena fila no balcão mais próximo da saída porque sabia que a moça daquele caixa trabalhava com rapidez. Havia três pessoas à sua frente quando parou o carrinho, e ninguém atrás quando se voltou para levantar Kate de seu assento. Ela estava se divertindo e pouco propensa a ser perturbada. Choramingou e prendeu o pé de propósito no assento. Ele foi obrigado a erguê-la mais alto para liberar o pé. Notou sua irritabilidade com certa satisfação: era um sinal seguro de que estava cansada. Terminada essa pequena luta, só havia duas pessoas à sua frente, uma das quais se preparava para sair. Ele contornou o carrinho a fim de esvaziá-lo na esteira transportadora. Kate segurava a barra larga na outra extremidade do carrinho, fingindo que o empurrava. Ninguém atrás dela. Nesse momento, a pessoa logo à frente de Stephen, um homem encurvado, se preparava para pagar por várias latas de ração para cachorros. Stephen pôs os primeiros itens na esteira. Quando endireitou o corpo, julgou ter sentido uma figura atrás de Kate usando um casaco escuro. Mas nem chegou a ser uma percepção, foi antes uma debilíssima suspeita criada por uma memória em desespero. O casaco podia ser um vestido, um saco de compras ou sua própria invenção. Ele estava empenhado em uma atividade banal, louco para terminar logo. Naquele instante, mal era um ser consciente.
O homem com a comida de cachorro estava indo embora. A moça do caixa já entrara em ação, os dedos de uma das mãos movendo-se velozmente sobre o teclado enquanto a outra puxava para perto os produtos comprados por Stephen. Ao tirar o salmão do carrinho, Stephen deu uma olhada para baixo, na direção de Kate, e piscou o olho. Ela o imitou, mas desajeitadamente, enrugando o nariz e fechando os dois olhos. Ele pôs o peixe na esteira e pediu à moça um saquinho. Ela meteu a mão debaixo de uma prateleira e lhe entregou o saquinho. Ele pegou e olhou para trás. Kate havia desaparecido. Não havia ninguém na fila atrás dele. Sem pressa, afastou o carrinho, imaginando que ela houvesse se escondido atrás do balcão. Depois deu mais alguns passos, varrendo com os olhos o único corredor que ela teria tido tempo de alcançar. Caminhou de volta, olhou para a esquerda e para a direita. De um lado havia filas de fregueses, do outro uma área vazia, depois a catraca cromada, as portas automáticas que davam para a calçada. Poderia ter havido uma figura encasacada correndo para se afastar dele, mas naquele momento Stephen procurava por uma criança de três anos, e sua preocupação imediata era o tráfego.
Tratava-se de uma ansiedade teórica, mera precaução. Ao abrir caminho entre os fregueses e chegar à larga calçada, sabia que a filha não estaria lá. Aventuras daquele tipo não eram com ela. Não costumava sumir. Era demasiado sociável, preferia a companhia de quem estivesse com ela. Também tinha pavor da rua. Ele deu meia-volta e se acalmou. Tinha de estar na loja, onde não corria nenhum risco sério. Esperava vê-la surgir por trás das filas dos fregueses nos caixas. Era bastante fácil ignorar uma criança na primeira onda de preocupação, olhar rápido demais, com um excesso de concentração. Mesmo assim, quando voltou lhe vieram uma certa náusea e um aperto na base da garganta, uma leveza desagradável nos pés. Passando pelos caixas, sem ligar para a moça que o atendera e que irritadamente tentava chamar sua atenção, sentiu um frio na boca do estômago. Acelerando o passo — ainda não superara o desejo de evitar parecer um idiota —, percorreu todos os corredores, deixando para trás montes de laranjas, rolos de papel higiênico, latas de sopa. Somente ao retornar ao ponto de partida é que perdeu toda noção de boas maneiras, encheu os pulmões retraídos e berrou o nome de Kate.
Agora dava passadas largas, urrando o nome dela ao longo de um corredor e rumando de novo para a porta. Os rostos se voltavam para ele. Não havia como confundi-lo com um dos bêbados que entravam trôpegos no supermercado para comprar cidra. Seu medo, demasiado evidente, demasiado enérgico, projetava no espaço impessoal, sob as lâmpadas fluorescentes, um calor humano impossível de ser ignorado. Dentro de poucos momentos cessaram todas as compras a seu redor. Cestas e carrinhos foram postos de lado, as pessoas convergiam em sua direção, pronunciavam o nome de Kate e, sabe-se lá como, rapidamente todos sabiam se tratar de uma menina de três anos, vista pela última vez no caixa, que vestia um macacão verde e levava um burrico de pelúcia. As mães se mostravam tensas, alertas. Vários fregueses tinham visto a menina sentada no carrinho. Alguém se recordava da cor do seu suéter. O anonimato típico de uma loja na cidade comprovou-se tênue, uma fina camada sob a qual as pessoas observavam, julgavam, lembravam. Um grupo de fregueses que cercavam Stephen se moveu rumo à porta. A seu lado estava a moça do caixa, o rosto rígido, concentrada. Havia outros funcionários da hierarquia do supermercado com paletós marrons, paletós brancos, ternos azuis, que de repente não mais eram trabalhadores no depósito, subgerentes ou representantes da companhia, e sim pais, reais ou potenciais. Estavam todos agora na calçada, alguns em volta de Stephen fazendo perguntas ou oferecendo consolo, enquanto outros, de modo mais útil, seguiam em diferentes direções para percorrer as lojas vizinhas.
A menina perdida era propriedade de todos. Mas Stephen estava só. Olhou os rostos bondosos que o cercavam, e olhou mais além. Eram irrelevantes. Suas vozes não chegavam até ele, eram obstáculos em seu campo de visão. Estavam bloqueando sua possibilidade de localizar Kate. Tinha que abrir caminho entre eles, mesmo empurrá-los, para chegar até ela. Sentia falta de ar, era incapaz de raciocinar. Ouviu-se pronunciando a palavra “roubada”, que logo se espalhou até a periferia, aos transeuntes atraídos pela comoção. A moça alta de dedos ágeis, que dera a impressão de ser tão forte, chorava. Stephen teve tempo de se sentir momentaneamente desapontado com ela. Como se chamado pela palavra que ele pronunciara, um carro de polícia branco, salpicado de lama, estacionou junto ao meio-fio. A confirmação oficial do desastre o deixou nauseado. Algo subia em sua garganta, ele se dobrou. Talvez tenha vomitado, mas não se recordava disso. A próxima coisa de que se lembra é de novo o supermercado, e dessa vez as regras do que era adequado, da ordem social, já haviam selecionado as pessoas que se postavam a seu lado — um gerente, uma jovem mulher que poderia ser sua assistente pessoal, um subgerente e dois policiais. Tudo de repente ficou silencioso.
Eles caminhavam rapidamente para os fundos da vasta loja. Passaram-se alguns momentos até que Stephen se desse conta de que estava sendo levado, e não seguido. O estabelecimento tinha sido evacuado. Através da parede de vidro à sua direita viu outro policial do lado de fora cercado por fregueses, tomando notas. O gerente falava rápido em meio ao silêncio, em parte tecendo hipóteses, em parte se queixando. A criança — ele sabe o nome dela, Stephen pensou, mas sua posição o impede de usá-lo — poderia ter ido parar na área de entrega. Deviam ter pensado nisso antes. Às vezes, deixavam aberta a porta do depósito refrigerado, por mais que reclamasse com seus subordinados.
Aceleraram o passo. Uma voz ininteligível era ouvida em curtas explosões através do rádio de um dos policiais. Na seção de queijos, atravessaram uma porta e chegaram a uma área onde todo o fingimento era deixado para trás, onde o piso de plástico era substituído pelo chão de concreto em que partículas de mica espalhavam fagulhas frias e a luz crua provinha de lâmpadas presas a um teto invisível. Havia uma empilhadeira estacionada junto a uma montanha de caixas de papelão dobradas. Saltando uma poça de leite sujo, o gerente se apressou a atingir a porta do depósito refrigerado, que estava escancarada.
Todos o seguiram para dentro de uma sala baixa e atulhada, em que dois corredores se perdiam na penumbra. Latas e caixas estavam empilhadas desordenadamente de ambos os lados, e no centro, suspensas por ganchos, havia enormes carcaças. O grupo se dividiu em dois e percorreu os corredores. Stephen foi com os policiais. O ar frio penetrou seco na parte de trás do seu nariz, trazendo um gosto de estanho gelado. Caminhavam lentamente, examinando os espaços atrás das caixas nas prateleiras. Um dos policiais quis saber quanto tempo alguém sobreviveria ali. Através dos intervalos na cortina de carne que os separava, Stephen viu o gerente lançar um olhar na direção do subordinado. O rapaz limpou a garganta e respondeu com tato, dizendo que, desde que a pessoa continuasse a se movimentar, nada havia a temer. Escapava vapor de sua boca. Stephen soube que, se achassem Kate ali, ela estaria morta. Mas foi abstrato o alívio que sentiu quando os dois grupos se reuniram na outra extremidade. Ele se distanciara mentalmente de um modo enérgico e calculista. Se era para Kate ser encontrada, eles iriam encontrá-la porque ele estava preparado para não fazer nenhuma outra coisa senão procurá-la; se não era para Kate ser encontrada, então, passado algum tempo, isso teria de ser encarado de uma forma sensata, racional. Mas não agora.
Saíram para um ilusório calor tropical, seguindo rumo ao escritório do gerente. Os policiais pegaram seus cadernos de anotações, e Stephen contou a história com tanta intensidade emocional quanto riqueza de pormenores. Ele se encontrava suficientemente distante de seus próprios sentimentos para apreciar a brevidade competente do relato, a hábil apresentação dos fatos relevantes. Estava observando a si próprio, e viu um homem sob pressão funcionando com admirável autocontrole. Foi capaz de esquecer de Kate no detalhamento meticuloso de suas roupas, no retrato preciso de suas feições. Apreciou também as perguntas rotineiras porém incisivas dos policiais, o cheiro de óleo e couro de suas cartucheiras bem enceradas. Eles e Stephen estavam unidos diante de uma inenarrável dificuldade. Um dos policiais transmitiu sua descrição de Kate pelo rádio, e ouviram a resposta distorcida de um carro-patrulha nas redondezas. Tudo muito reconfortante. Stephen estava chegando a um estado próximo à exultação. A assistente pessoal do gerente lhe falava com um ar receoso, que parecia bem despropositado. Apertava seu antebraço, estimulando-o a beber o chá que tinha trazido. O gerente, do lado de fora do escritório, queixava-se a um empregado de que os supermercados eram o território predileto dos sequestradores de crianças. A assistente pessoal tratou de fechar a porta com o pé. O movimento súbito liberou o perfume das dobras de suas roupas sóbrias e levou Stephen a pensar em Julie. Confrontou a escuridão que emanava do interior de sua cabeça. Agarrou o lado da cadeira e esperou, deixando que sua mente se esvaziasse; quando sentiu que recobrara o controle, se pôs de pé. As perguntas tinham terminado. Os policiais fechavam seus cadernos e também se erguiam. A assistente pessoal se ofereceu para levá-lo até sua casa, mas Stephen recusou, sacudindo vigorosamente a cabeça.
Então, sem nenhum intervalo aparente, sem eventos intermediários, ele estava do lado de fora do supermercado, aguardando na faixa de pedestres com mais meia dúzia de pessoas. Carregava uma sacola cheia. Lembrou-se de que não havia pagado. O salmão e o papel-alumínio eram presentes, uma compensação. Os carros desaceleraram com relutância e pararam. Ele atravessou junto com os demais fregueses e tentou absorver o insulto da normalidade do mundo. Viu como era rigorosamente simples — fora fazer compras com a filha, a perdera, e agora voltava sem ela para contar à mulher. Os motociclistas continuavam lá, como também, mais adiante, a lata de coca-cola e o canudinho. Até o mesmo cachorro debaixo da mesma árvore. Subindo a escada, parou num degrau quebrado. Havia uma música retumbante dentro de sua cabeça, um grande zumbido orquestral cuja dissonância foi se diluindo enquanto continuava agarrado ao corrimão, mas que recomeçou no momento em que ele voltou a subir.
Abriu a porta da frente e ficou escutando. O ar e a luz no apartamento lhe disseram que Julie ainda dormia. Tirou o casaco. Quando o levantou para pendurar, seu estômago se contraiu, e um raio — pensou naquilo como um raio negro — do café matinal foi disparado contra sua boca. Cuspiu nas mãos em concha e foi lavá-las na cozinha. Teve que saltar o pijama que Kate havia largado no chão. Não pareceu tão difícil. Entrou no quarto de dormir sem saber o que lá faria ou diria. Sentou-se na beirada da cama. Julie virou-se para seu lado mas não abriu os olhos. Ela encontrou sua mão. A dela estava quente, insuportavelmente quente. Sonolenta, disse algo sobre a mão de Stephen estar tão fria. Puxou-a para si, enfiando-a debaixo do queixo. Ainda sem abrir os olhos. Estava se deleitando com a segurança da presença dele.
Stephen contemplou a mulher, e certos clichês — mãe devotada, apaixonada pela filha, amorosa — pareceram ganhar um novo significado; eram expressões úteis e decentes, ele pensou, longamente testadas. Sobre a maçã do rosto dela havia um anel perfeito de cabelo negro, logo abaixo do olho. Era uma mulher calma, observadora, com um sorriso adorável, que o amava intensamente e gostava de lhe dizer isso. Ele havia construído sua vida em torno da intimidade dos dois e agora dependia dela. Julie era violinista, dava aulas no Guildhall. Formava com três amigas um quarteto de cordas. Estavam sendo convidadas para tocar e tinham recebido um comentário sucinto mas favorável num jornal de grande circulação. O futuro era, tinha sido, muito promissor. Os dedos da mão esquerda dela, com as pontas calejadas, acariciavam o pulso dele, que agora a contemplava de uma imensa distância, a centenas de metros de altura. Podia ver o quarto, o quarteirão de apartamentos eduardianos, anexos nos quintais com seus telhados cobertos de asfalto e cisternas tortas de grossas tampas, a confusão urbana do sul de Londres, a curvatura enevoada da Terra. Julie era pouco mais que um pontinho em meio à bagunça dos lençóis. Ele estava subindo ainda mais, e mais depressa. Ao menos, pensou, de lá, onde o ar era rarefeito e a cidade abaixo ganhava contornos geométricos, seus sentimentos não seriam visíveis, ele poderia reter algum autocontrole.
Foi então que ela abriu os olhos e encontrou o rosto dele. Precisou de alguns segundos para ler o que estava lá antes de se pôr de pé na cama de um salto e emitir um som de incredulidade, um pequeno ganido ao puxar asperamente o ar para dentro dos pulmões. Por um instante, as explicações não eram nem possíveis nem necessárias.
Em geral, o comitê não via com bons olhos um alfabeto fonético. O coronel Jack Tackle, do Diga Não à Violência Doméstica, disse que aquilo lhe parecia uma idiotice completa. Uma jovem mulher, chamada Rachael Murray, manifestou uma áspera recusa cujo emprego da terminologia dos linguistas profissionais não foi capaz de esconder seu indignado desdém. Depois disso, Tessa Spankey dirigiu a todos um sorriso radioso. Ela era editora de livros infantis, uma mulher corpulenta, com dobras carnudas na base de cada dedo. Sua cara simpática e com queixo duplo era só sardas e rugas. Fez questão de incluir um por um em seu olhar carinhoso. Falou devagar e num tom tranquilizador, como se estivesse se dirigindo a um grupo de crianças nervosas. Não havia língua no mundo, ela disse, que não fosse difícil de aprender a ler e escrever. Se o aprendizado pudesse ser divertido, seria ótimo. Mas a diversão era algo periférico. Os professores e pais deviam admitir o fato de que no cerne do aprendizado da linguagem estava a dificuldade. O triunfo sobre a dificuldade era o que dava às crianças dignidade e senso de disciplina mental. A língua inglesa, disse ela, era um campo minado de irregularidades, as exceções eram mais numerosas que as regras. Mas cumpria vencer tal campo, e isso exigia empenho. Os professores temiam muito a impopularidade, gostavam muito de dourar a pílula. Deviam aceitar as dificuldades, comemorá-las e levar seus alunos a fazer o mesmo. Só havia uma maneira de aprender a soletrar, e era por meio do contato com a palavra escrita, da imersão nos textos impressos. De que outro jeito — e ela desfiou uma lista bem ensaiada — a gente aprende a grafia correta de exceção, obsessão, fricção, persuasão? O olhar maternal da sra. Spankey percorreu os rostos atentos. Esforço, ela disse, aplicação, disciplina, trabalho duro.
Ouviu-se um murmúrio de aprovação. O professor universitário que propusera o alfabeto fonético começou a falar em dislexia, em venda de escolas estatais, em déficit habitacional. Houve grunhidos espontâneos. O intelectual comedido prosseguiu. Dois terços das crianças de onze anos nas escolas urbanas, disse ele, eram analfabetas. Parmenter interveio com a alacridade digna de um réptil. As necessidades dos grupos especiais estavam fora dos termos de referência do comitê. A seu lado, Canham concordava com a cabeça. As preocupações do comitê eram os meios e os fins, e não as patologias. O debate se tornou fragmentário. Por algum motivo, propôs-se uma votação.
Stephen ergueu a mão em favor do que sabia ser um alfabeto inútil. Pouco importava, porque ele estava atravessando a larga faixa de asfalto esburacado e com fissuras que separava dois blocos de apartamentos. Carregava uma pasta com fotos e listas de nomes e endereços, cuidadosamente datilogrados e dispostos em ordem alfabética. As fotos — ampliações de instantâneos tirados nas férias — eram mostradas a todos a quem conseguia interessar. As listas, compiladas na biblioteca a partir de exemplares antigos dos jornais locais, eram de pais cujos filhos tinham morrido nos seis meses anteriores. Sua teoria, uma de muitas, era que Kate havia sido roubada a fim de substituir uma criança morta. Ele batia às portas e falava com mães, que de início se mostravam perplexas, e depois hostis. Visitava pessoas que cuidavam de crianças. Subia e descia as ruas de comércio exibindo as fotos. Ficava perto da entrada do supermercado e da farmácia ao lado. Foi alargando sua área de busca, que compreendia agora um raio de cinco quilômetros. Anestesiava-se com atividade.
Ia sozinho a todos os lugares, saindo todos os dias pouco depois da hora mais tardia em que o sol nascia no inverno. A polícia perdera interesse no caso depois de uma semana. Distúrbios de rua nos subúrbios do norte, diziam eles, estavam levando ao limite seus recursos. E Julie ficava em casa. Tinha obtido uma dispensa especial na escola de música. Quando ele saía pela manhã, ela estava sentada numa poltrona do quarto, de frente para a lareira apagada. Era ali que a encontrava ao voltar à noite e acender as luzes.
No início, houvera uma grande movimentação do tipo mais desolador: entrevistas com inspetores veteranos e equipes de policiais, cães farejadores, algum interesse jornalístico, mais explicações, tristeza e pânico. Durante esse período, Stephen e Julie se apoiaram, compartilhando aturdidas perguntas retóricas, passando noites insones, tecendo teorias esperançosas num momento, entrando em desespero no momento seguinte. Mas isso foi antes que o tempo, o acúmulo impiedoso dos dias, tivesse exposto a verdade amarga e absoluta. O silêncio se infiltrou e se adensou. As roupas e brinquedos de Kate ainda se encontravam espalhados pelo apartamento, sua cama ainda por fazer. Então, certa tarde, a desordem havia desaparecido. Stephen descobriu a cama nua e três sacos plásticos estufados junto à porta do quarto. Zangou-se com Julie, irritado com o que considerou uma autodestruição feminina, um derrotismo deliberado. Mas não podia falar com ela sobre isso. Não havia espaço para a raiva, nenhuma abertura. Eles se moviam como figuras num pântano, sem forças para uma confrontação. De repente, seus sofrimentos se tornaram separados, insulares, incomunicáveis. Seguiram caminhos diferentes: ele com suas listas e longas incursões diárias, ela na poltrona, mergulhada num pesar profundo e particular. Agora não havia consolo mútuo, nenhum toque entre os dois, nenhum amor. A velha intimidade, a presunção habitual de estarem do mesmo lado, tinha morrido. Debruçados sobre suas perdas distintas, os ressentimentos inarticulados começaram a crescer.
Ao final de um dia na rua não havia nada que machucasse Stephen mais do que a consciência de que sua mulher estaria sentada no escuro, de como ela mal se mexeria para assinalar seu retorno, e de como ele não possuiria nem a disposição nem a engenhosidade capazes de romper seu silêncio. Suspeitava — e viu depois que tinha razão — que ela considerava seus esforços uma evasão tipicamente masculina, uma tentativa de ocultar os sentimentos sob manifestações de competência, organização e esforço físico. A perda os levara aos extremos de suas personalidades. Tinham descoberto um grau de intolerância mútua que a tristeza e o choque tornavam insuperável. Não suportavam mais comer juntos. Ele comia sanduíches, de pé nas lanchonetes, ansioso para não perder tempo, relutante em se sentar e escutar seus pensamentos. Tanto quanto sabia, ela não comia nada. No começo, ele havia trazido pão e queijo, que, no correr dos dias, desenvolviam tranquilamente seus próprios mofos na cozinha jamais visitada. Uma refeição conjunta teria implicado o reconhecimento e a aceitação da família diminuída.
Chegou uma hora em que Stephen não se sentia em condições de olhar para Julie. Não apenas porque via reflexos tresnoitados de Kate ou de si mesmo no rosto dela. Era a inércia, o colapso da vontade, o sofrimento quase extático que o desgostavam e ameaçavam minar seus esforços. Ele acharia a filha e mataria o homem que a tinha sequestrado. Bastava se valer do impulso correto e mostrar a fotografia à pessoa certa, e seria levado a ele. Se houvesse mais horas de sol, se pudesse resistir à tentação que crescia a cada manhã de manter a cabeça debaixo dos lençóis, se conseguisse andar mais depressa, manter a concentração, lembrar-se de olhar para trás vez por outra, e então perder menos tempo comendo sanduíches, confiar em sua intuição, percorrer ruas laterais, se movimentar mais depressa, cobrir uma área maior, quem sabe até passar a correr, correr…
Parmenter se pôs de pé, hesitando ao ajustar a caneta prateada no bolso interno do paletó. Quando se dirigiu à porta, que Canham mantinha aberta para ele, deu um sorriso geral de despedida. Os membros do comitê, recolhendo os papéis, iniciaram a conversa amena de costume que os conduziria para fora do prédio. Stephen caminhou ao longo do quente corredor com o professor universitário que tinha sido derrotado de forma tão convincente na votação. Chamava-se Morley. Naquele seu estilo civilizado e vacilante, ele explicava como os desacreditados sistemas alfabéticos do passado tinham tornado seu trabalho bem mais difícil. Stephen sabia que, em breve, estaria de novo a sós. Mas mesmo então não podia deixar de divagar, não podia deixar de refletir que a situação havia se deteriorado tanto que não tinha sentido nenhuma emoção particular quando, voltando de sua busca numa tarde de fevereiro, encontrou a poltrona de Julie vazia. Um bilhete no chão trazia o nome e o número de telefone de um retiro nas Chilterns. Nenhuma outra mensagem. Rodou pelo apartamento, acendendo luzes, examinando cômodos abandonados, pequenos cenários prestes a ser demolidos.
Por fim voltou à poltrona de Julie, ficou por lá uns segundos, a mão pousada nas costas do móvel como se calculasse as probabilidades de alguma ação perigosa. Após certo tempo, saiu do torpor, contornou a poltrona com dois passos e se sentou. Contemplou a lareira enegrecida onde fósforos usados, dispostos desordenadamente, podiam ser vistos ao lado de um pedaço de papel-alumínio; passaram-se vários minutos, tempo suficiente para sentir que o estofo da poltrona substituía os contornos de Julie pelos seus, minutos vazios como todos os outros. Então desabou, ficou imóvel pela primeira vez em semanas. Permaneceu assim por horas, a noite toda, cochilando um pouco às vezes e, quando acordado, sem mover um músculo ou afastar os olhos da lareira. Durante todo esse tempo parecia que algo se formava no silêncio em volta dele, uma lenta onda de compreensão com a força de uma maré montante que não quebrava ou explodia dramaticamente, mas que o levou nas altas horas da noite ao primeiro grande fluxo de entendimento da verdadeira natureza de sua perda. Tudo antes tinha sido uma fantasia, uma imitação banal e frenética do sofrimento. Pouco antes do amanhecer começou a chorar, e foi a partir desse momento, na semiescuridão, que assumiu o luto.
Dois
Torne claro para a criança que não se pode discutir com o relógio e que, quando é hora de sair para a escola, de papai ir para o trabalho, de mamãe executar suas tarefas, então essas mudanças são tão incontestáveis quanto as marés.
Manual autorizado de puericultura,
Departamento Real de Imprensa
O fato de Stephen Lewis ter um bocado de dinheiro e ser famoso entre os jovens em idade escolar era fruto de um erro administrativo, da inatenção momentânea do encarregado de distribuir a correspondência na editora Gott, que levara o pacote contendo um original para a mesa errada. O fato de Stephen não mais mencionar tal erro — passados tantos anos — se devia em parte aos cheques de direitos autorais e pagamentos adiantados que desde então tinham fluído da Gott e de muitas editoras estrangeiras, e em parte à aceitação do destino que chega quando a pessoa começa a envelhecer: aos vinte e poucos anos, lhe parecia arbitrariamente hilário que ele fosse um bem-sucedido escritor de livros infantis porque havia numerosas outras coisas que ainda podia vir a ser. Já agora não conseguia imaginar ser qualquer outra coisa.
O que mais podia fazer? Os velhos colegas dos tempos de estudante, os experimentadores estéticos e políticos, os drogados visionários, haviam agora se acomodado com muito menos. Alguns de seus conhecidos, no passado homens realmente livres, estavam resignados a ganhar a vida como professores de inglês para estrangeiros. Outros entravam na meia-idade esgotando-se nas aulas de inglês para alunos repetentes ou ensinando “habilidades sociais” a adolescentes relutantes em escolas secundárias nos cafundós de judas. Esses eram os sortudos, porque haviam encontrado emprego. Outros limpavam o chão de hospitais ou dirigiam táxis. Uma colega conseguira se qualificar para receber um distintivo de pedinte. Stephen morria de medo de esbarrar com ela na rua. Todas aquelas almas promissoras, bem formadas, brindadas com uma vida intelectual excitante graças ao estudo da literatura inglesa, na qual haviam recolhido seus breves lemas — “a energia é uma delícia perpétua”, “a maldição revigora, a bênção debilita” —, tinham sumido das bibliotecas, no final da década de 1960 e início da seguinte, decididas a empreender viagens internas ou seguir rumo ao leste em ônibus pintados. Voltaram para casa quando o mundo se tornou menor e mais sério a fim de servir à Educação, agora uma profissão sem viço, desprestigiada: as escolas estavam sendo vendidas a investidores privados, a idade de término dos estudos em breve seria reduzida.
A ideia de que quanto mais educada a população mais facilmente seus problemas poderiam ser resolvidos tinha saído de moda sem que ninguém notasse. Desvanecera-se juntamente com o princípio mais amplo de que, em geral, a vida iria melhorar para mais e mais pessoas, sendo os governos responsáveis por encenar e dirigir aquele espetáculo de potenciais realizados, aquela ampliação de oportunidades. O rol dos atores que produziriam tais melhorias tinha sido imenso, havendo sempre empregos para gente como Stephen e seus amigos. Professores, museólogos, mímicos, atores, contadores de histórias itinerantes — uma grande trupe inteiramente patrocinada pelo Estado. Agora, as responsabilidades do governo tinham sido redefinidas em termos mais simples e puros: manter a ordem e defender o Estado contra seus inimigos. Durante certo tempo, Stephen alimentara a vaga ambição de ensinar numa escola pública. Via-se junto ao quadro-negro, alto e de rosto vincado, tendo diante de si uma turma calada e respeitosa, intimidada por seus rompantes de sarcasmo, os alunos inclinados para a frente, sorvendo cada palavra. Sabia agora a sorte que havia tido. Permanecia como autor de livros infantis, tendo quase esquecido de que tudo aquilo se devia a um erro.
Um ano após terminar o University College, Stephen voltara a Londres com uma disenteria amebiana depois de uma excursão à Turquia, Afeganistão e Khyber envolta numa nuvem estonteante de haxixe; descobriu que a ética do trabalho, que tinha feito o possível para destruir junto com os seus companheiros de geração, continuava forte dentro dele. Ansiava pela ordem e pelo senso de propósito. Alugou um lugarzinho para dormir, empregou-se como arquivista numa agência de recortes de jornal e se pôs a escrever um romance. Trabalhava quatro a cinco horas todas as noites, deliciando-se com a aura romântica, a nobreza da empreitada. Estava imune à chatice de seu emprego: guardava um segredo que crescia à taxa de mil palavras por dia. E tinha todas as fantasias de praxe. Era Thomas Mann, era James Joyce, talvez fosse William Shakespeare. Intensificava a excitação de sua faina escrevendo à luz de duas velas.
Queria escrever sobre suas viagens num romance intitulado Haxixe, em que figurariam hippies esfaqueados em seus sacos de dormir, uma moça muito bem-criada condenada à prisão perpétua num presídio turco, pretensões místicas, sexo turbinado por drogas, disenteria amebiana. Em primeiro lugar, precisava explorar a formação de seu protagonista principal, algo acerca de sua infância que mostrasse a distância física e moral que ele precisaria vencer em suas viagens. Mas o primeiro capítulo teimava em em não terminar. Ganhou vida própria, e foi assim que Stephen acabou escrevendo um romance baseado nas férias de verão que tinha passado aos onze anos com suas primas, uma história de calças curtas e cabelos curtos para os meninos e, para as meninas, tiaras de cabelo e calções largos presos à altura dos joelhos, com desejos dissimulados, dedos pudicamente entrelaçados em vez de sexo alucinado, bicicletas com cestas para compras em vez de ônibus da Volkswagen pintados com tintas fluorescentes, passado não em Jalalabad mas nas cercanias de Reading. Foi escrito em três meses e recebeu o título de Limonada.
Durante uma semana, ele manuseou e folheou o manuscrito, preocupado com o fato de ser curto demais. Então, numa manhã de segunda-feira, alegou estar doente, fez uma fotocópia e a entregou pessoalmente ao escritório da Gott em Bloomsbury, a famosa editora literária. Como de praxe, ficou muito tempo sem notícias. Quando a carta finalmente chegou, não era de Charles Darke, o editor sênior ainda jovem cujo perfil tinha sido publicado nos jornais de domingo por ter salvado a reputação periclitante da Gott. Era da srta. Amanda Rien, cujo sobrenome — como ela explicou com uma risada aguda ao convidá-lo para entrar em seu escritório — não era pronunciado como a palavra francesa, mas como “rim”.
Stephen sentou-se com os tornozelos apertados contra a mesa da srta. Rien, pois ela estava instalada num antigo depósito de vassouras. Não tinha janelas. Nas paredes, em vez dos retratos emoldurados em preto e branco dos gigantes do início do século que haviam feito a fama da editora, estava um retrato não de Evelyn Waugh, como era de esperar, mas de um sapo de terno com colete e apoiado numa bengala junto à balaustrada de uma mansão no campo. Nos outros pequenos espaços disponíveis, havia desenhos de ursinhos de pelúcia, pelo menos meia dúzia deles, tentando fazer pegar o motor de um carro de bombeiros, uma camundonga de biquíni apontando um revólver para sua própria cabeça e um corvo, com uma expressão soturna e um estetoscópio pendurado ao pescoço, verificando o pulso de um pálido menino que parecia ter caído da árvore.
A srta. Rien estava sentada a menos de um metro de distância, contemplando Stephen com o ar de encanto de alguém que aprecia uma propriedade sua. Ele sorriu de volta, desconfortável, e baixou a vista. Aquele era realmente seu primeiro romance?, ela desejava saber. Todos na Gott estavam empolgados, grandemente empolgados. Ele fez que sim com a cabeça, suspeitando se tratar de um erro terrível. Não conhecia suficientemente o mundo editorial para se abrir, e a última coisa que queria era fazer papel de bobo. Sentiu-se mais seguro quando a srta. Rien disse que Charles sabia de sua presença e estava interessadíssimo em conhecê-lo. Minutos depois a porta se abriu de um golpe e Darke, sem sair do corredor, curvou-se para a frente e apertou a mão de Stephen. Falou rapidamente, dispensando as apresentações. Era um livro brilhante e é claro que queria publicá-lo. Sem dúvida queria. Mas tinha de sair correndo. Nova York e Frankfurt aguardavam ao telefone. Porém almoçariam. Em breve. E parabéns. A porta se fechou de imediato e Stephen se voltou para encontrar a srta. Rien estudando em seu rosto os primeiros sinais da adulação. Ela falou solenemente e em voz baixa. Um grande homem. Um grande homem e um grande editor. Não havia nada a fazer senão concordar.
Retornou ao seu quarto alugado excitado e insultado. Como um Joyce, um Mann ou um Shakespeare em potencial, ele pertencia sem a menor dúvida à tradição cultural europeia, a adulta. Verdade que, desde o começo, ansiara por ser compreendido. Tinha escrito numa linguagem simples e precisa. Quis ser acessível, mas não a qualquer um. Após longas reflexões, decidiu não fazer nada até voltar a se encontrar com Darke. No meio-tempo, para complicar ainda mais seus sentimentos, chegarem pelo correio um contrato e a oferta de um adiantamento de duas mil libras, o equivalente a dois anos de seu salário. Investigou aqui e ali, descobrindo que era uma quantia excepcional para um primeiro romance. A agência de recortes era agora insuportavelmente tediosa depois que havia terminado de escrever. Durante oito horas por dia recortava artigos de jornal, carimbava a data e os arquivava. As pessoas no escritório tinham emburrecido com aquele trabalho. Estava louco para anunciar que ia deixar o emprego. Várias vezes pegou a caneta, preparando-se para assinar e recolher o dinheiro, mas, pelo canto dos olhos, via uma multidão de irônicos ursinhos, camundongos e corvos que zombavam dele ao recebê-lo em suas fileiras.
E, quando por fim chegou a hora de pôr a gravata que havia comprado para aquela ocasião, a primeira que usava desde os tempos de universitário, e de manifestar sua confusão na tranquilidade discreta de um restaurante e durante a refeição mais cara que comera em sua vida, nada ficou esclarecido. Darke ouviu, balançando a cabeça com impaciência sempre que Stephen se aproximava do fim de uma frase. Antes que ele terminasse, Darke descansou a colher de sopa, pousou sua mão pequena e lisa sobre o pulso de Stephen e explicou de um modo cordial, como se falasse a uma criança, que a distinção entre a ficção para adultos e para crianças era, ela própria, uma ficção. Algo inteiramente falso, mera conveniência. Tinha de ser, quando todos os grandes escritores possuíam uma visão semelhante à de uma criança, uma simplicidade de abordagem — por mais complicada que fosse sua manifestação — que trazia o gênio do adulto ao nível da infância. E, vice-versa — Stephen estava puxando a mão para liberá-la —, os melhores livros supostamente infantis eram aqueles que falavam tanto às crianças quanto aos adultos, ao adulto incipiente na criança, à criança esquecida dentro do adulto.
Darke estava se deliciando com seu discurso. Estar num restaurante famoso fazendo observações generosas para um jovem autor era um dos mais desejáveis privilégios de sua profissão. Stephen terminou os camarões servidos num potinho e se recostou para observar e ouvir. Darke tinha cabelos cor de areia, com um tufo indisciplinado que se erguia na parte de trás da cabeça. Tinha também o hábito de tatear em busca desse tufo e domá-lo com a palma da mão enquanto falava. Os cabelos pulavam de volta para o alto tão logo os liberava.
Apesar de toda sua segurança cosmopolita, do terno escuro e da camisa feita à mão, Darke era apenas seis anos mais velho que Stephen. No entanto, eram seis anos cruciais: da parte de Darke, representavam a reverência pela maturidade que faz com que os adolescentes ambicionem aparentar o dobro da idade; da parte de Stephen, a convicção de que a maturidade era traição, timidez e cansaço, enquanto a juventude constituía um estado abençoado a ser mantido por tanto tempo quanto fosse social e biologicamente viável. À época em que almoçaram juntos pela primeira vez, Darke estava casado com Thelma havia sete anos. A grande casa em Eaton Square estava solidamente montada. As então quase valiosas pinturas a óleo de batalhas navais e cenas de caça já estavam em seus lugares. Como também as toalhas limpas e felpudas no quarto de hóspedes, a arrumadeira que trabalhava quatro horas por dia e não falava uma palavra de inglês. Enquanto Stephen e seus amigos circulavam por Goa e Cabul com frisbees e cachimbos de haxixe, Charles e Thelma tinham um manobrista para estacionar seu carro, uma secretária eletrônica, jantares para convidados, livros de capa dura. Eram adultos. Stephen vivia num quarto alugado e podia guardar tudo que possuía em duas malas. Seu romance era adequado para crianças.
E havia mais que a casa de Eaton Square. Darke já fora o dono de uma produtora de discos e a vendera. Quando terminou a Universidade de Cambridge, todos sabiam, menos as pessoas comercialmente astutas, que a música popular era o domínio exclusivo dos jovens. Os astutos se recordavam da outra Inglaterra, a dos pais que tinham atravessado a Depressão e lutado numa guerra mundial. Com aqueles pesadelos no passado, precisavam de doçura, calor e uma dose ocasional de melancolia em sua música. Darke se especializou em easy listening, nos clássicos prediletos, melodias inesquecíveis com arranjos orquestrais para duzentos violinos.
Contrariando os ditames da moda, foi também muito bem-sucedido na escolha de uma esposa doze anos mais velha que ele. Thelma ensinava física na Birkbeck, com uma respeitada tese, recém-concluída — tanto quanto os colunistas de mexericos podiam afirmar —, sobre a natureza do tempo. Não era a mulher óbvia para um milionário tão jovem da área de música kitsch, um homem com idade, como se comentava maldosamente, para ser seu filho. Thelma convenceu o marido a criar um clube de leitura cujo êxito o levou à empoeirada Gott, que dois anos depois registrou seu primeiro lucro em um quarto de século. Ele estava havia quatro anos à testa da editora quando levou Stephen para almoçar, porém se passaram outros cinco anos, quando então Darke comandava um canal independente de televisão e o próprio Stephen era um sucesso limitado, antes que os dois se tornassem amigos íntimos e Stephen — tendo renunciado a seu anseio de uma juventude eterna — passasse a ser um visitante regular em Eaton Square.
A chegada de novos pratos e a prova perfunctória de um vinho diferente não interromperam nem por um instante a preleção séria, amistosa e narcisística de Darke. Ele falava depressa, com uma espécie de autoafirmação defensiva, como se estivesse se dirigindo a acionistas céticos, como se temesse que o silêncio o levasse de volta a seus próprios pensamentos. Levou um bom tempo até que Stephen entendesse que o discurso tinha origens profundas. Naquele momento, pareceu um esforço de convencimento no qual o editor fez um uso positivo e instintivo do primeiro nome do autor.
“Escute, Stephen. Stephen, fale com um menino de dez anos no meio do verão sobre o Natal. Seria a mesma coisa que conversar com um adolescente sobre seus planos de aposentadoria, sua pensão. Para as crianças, a infância não está vinculada a uma noção de tempo. É sempre o presente. Tudo acontece no presente do indicativo. Claro que elas têm recordações. Claro que há um movimento do tempo para elas, o Natal finalmente chega. Mas elas não sentem isso. O que sentem é o hoje e, ao dizerem: ‘Quando eu crescer…’, sempre há uma ponta de descrença — como é que poderão algum dia ser diferentes do que são? Você então me diz que Limonada não foi escrito para crianças, e acredito em você, Stephen. Como todos os bons escritores, você o escreveu para si próprio. E é exatamente isso o que eu estou querendo dizer: você se dirigiu para o menino que você era aos dez anos. Esse livro não é para crianças, é para uma criança, e essa criança é você. Limonada é uma mensagem que você está enviando para um eu anterior que nunca deixará de existir. E a mensagem é amarga. É isso que torna o livro tão perturbador. Quando a filha de Mandy Rien o leu, ela chorou, lágrimas amargas, mas também lágrimas úteis, Stephen. Outras crianças reagiram do mesmo modo. Você falou diretamente às crianças. Tenha desejado ou não, se comunicou com elas por cima do abismo que separa a criança do adulto, e lhes deu uma primeira e fantasmagórica insinuação da mortalidade. Ao ler o que você escreveu, elas têm uma indicação de que são finitas como crianças. Em vez de simplesmente ouvirem isso, de fato compreendem que não durará, que não pode durar, que mais cedo ou mais tarde tudo termina, que a infância não é para sempre. Você transmitiu a elas alguma coisa chocante e triste sobre os adultos, sobre aqueles que deixaram de ser crianças. Algo ressequido, impotente, um tédio, um sentimento de que as coisas são o que são. A partir do que você escreveu, entendem que tudo isso virá para elas, tão certo quanto o Natal. É uma mensagem triste, mas verdadeira. Este é um livro para crianças pelos olhos de um adulto.”
Charles Darke tomou um gole vigoroso do vinho que havia provado com distraído discernimento alguns minutos antes. Dobrou a cabeça, saboreando a implicação de suas próprias palavras. Depois, erguendo a taça, a esvaziou e repetiu: “Uma mensagem triste, mas muito, muito verdadeira”. Stephen levantou os olhos rapidamente quando algo o fez crer que o editor estava com a voz embargada.
Excetuadas as duas semanas que foram objeto do romance, a infância de Stephen tinha sido agradavelmente monótona apesar das locações exóticas. Se tivesse que mandar de volta uma mensagem agora, ela seria de austero encorajamento: as coisas vão melhorar — bem devagar. Mas havia também uma mensagem para adultos?
A boca de Darke estava cheia de miúdos. Ele fez pequenos círculos no ar com o garfo, muito ansioso para falar; por fim conseguiu, junto com um bafo de alho que temporariamente alterou o gosto do salmão de Stephen. “Claro. Mas não vai mudar a vida de ninguém. Vai vender três mil exemplares e ganhar umas resenhas bem decentes. Mas, se for comercializado para crianças…” Darke se deixou cair na cadeira e levantou a taça.
Stephen fez que não com a cabeça e falou baixinho: “Não vou permitir. Não vou permitir nunca”.
Turner Malbert fez as ilustrações em aquarelas límpidas e de bom gosto. Na semana do lançamento, um famoso psicólogo infantil apareceu na televisão para fazer um ataque candente ao livro. Era mais do que uma criança seria capaz de absorver, perturbaria cabeças com alguma instabilidade latente. Outros peritos o defenderam, um punhado de bibliotecários incentivou as vendas recusando-se a oferecer a obra. Durante um ou dois meses se transformou em tópico de conversa nos jantares. Limonada vendeu duzentos e cinquenta mil exemplares de capa dura e, com o tempo, vários milhões em todo o mundo. Stephen largou o emprego, comprou um carro veloz e um apartamento cavernoso, de teto alto, no sul de Londres, dando origem a uma cobrança de impostos que, dois anos depois, praticamente obrigou que publicasse seu segundo romance também como livro para crianças.
Em retrospecto, os acontecimentos no ano de Stephen, o ano do comitê, pareciam ter sido organizados em torno de um único resultado. Enquanto vivia aquele ano, contudo, ele sentia que estava num tempo vazio, sem significado ou propósito. Seu retraimento usual foi espetacularmente exacerbado. Por exemplo, o segundo dia dos Jogos Olímpicos gerou uma repentina ameaça de extinção global: durante doze horas as coisas ficaram bem fora de controle, e Stephen, esparramado de cueca no sofá por causa do calor, não se sentiu especialmente mobilizado.
Dois corredores de curta distância, um russo e um americano, ambos com a constituição de galgos nervosos, se entrechocaram na linha de partida e se estranharam. O americano deu um soco no russo, que revidou e esfolou seriamente o olho do contendor. A violência e a ideia da violência se expandiram e foram subindo através de complexos sistemas de comando. Primeiro outros atletas, depois os treinadores, tentaram intervir, se enfureceram e entraram na briga. Os poucos espectadores russos e americanos nas arquibancadas partiram para o confronto. Houve um incidente grave com uma garrafa quebrada e, dentro de alguns minutos, um jovem americano — infelizmente um soldado de folga — sofreu uma hemorragia fatal. Na pista, dois dirigentes que representavam as potências em conflito se atracaram, puxando os respectivos blazers, e uma lapela foi arrancada. Alguém disparou a pistola que serve para dar a largada da corrida e atingiu o rosto de uma mulher russa, cegando mais uma pessoa — olho por olho. Mesmo na tribuna de imprensa houve hostilidades e empurrões.
Dentro de meia hora, as duas equipes tinham se retirado dos jogos e, em coletivas de imprensa separadas, trocavam insultos com intensidade escatológica. Pouco depois, o assassino do soldado foi preso, havendo alegações de que ele era vinculado à KGB e tinha motivações militares. Houve uma troca de notas virulentas entre as duas embaixadas. O presidente norte-americano, recém-empossado e ele próprio com um físico de corredor, estava ansioso para demonstrar não ser um fracote em matéria de política externa, como proclamavam com frequência seus oponentes, e procurava algo para fazer. Ponderava ainda quando os russos surpreenderam o mundo ao fechar a travessia da fronteira em Helmstedt.
Nos Estados Unidos, esse ato foi atribuído às prevaricações de um presidente dócil, que então silenciou seus críticos elevando ao máximo a prontidão das forças nucleares. Os russos fizeram o mesmo. Submarinos nucleares deslizaram silenciosamente para seus locais de disparo, os depósitos subterrâneos de mísseis foram abertos e as ogivas despontaram em meio aos arbustos da quente zona rural de Oxfordshire e nas florestas de faias dos Cárpatos. As colunas dos jornais e as telas de televisão foram tomadas por professores de dissuasão, que advogavam a importância de disparar os foguetes antes que fossem destruídos em terra. Numa questão de horas, os supermercados da Grã-Bretanha ficaram sem açúcar, chá, feijão cozido em lata e rolos de papel higiênico sedoso. A confrontação durou meio dia, até que as nações não alinhadas iniciassem a redução simultânea e supervisionada da prontidão nuclear. Como a vida na Terra afinal continuaria, em meio a muitas manifestações veementes sobre o espírito olímpico a prova de cem metros rasos foi retomada, e o alívio foi planetário quando um neutro sueco chegou em primeiro lugar.
Pode ter sido o verão excepcional, ou o uísque que bebia desde o fim da manhã, o que o fazia se sentir melhor do que de fato estava, mas Stephen honestamente não se importava se a vida na Terra ia ou não continuar. Aquilo lembrava muito uma final de campeonato mundial de futebol disputada entre dois países estrangeiros. O drama prendia a atenção dele, mas o resultado pouco importava, qualquer um podia ganhar. O universo era enorme, pensou com cansaço, e a vida inteligente ocupava uma camada bem fina mas num número provavelmente incontável de planetas. No grupo daqueles em que por acaso ocorria a convertibilidade entre matéria e energia, era inevitável que muitos tivessem virado pó numa explosão, exatamente os que talvez não merecessem mesmo sobreviver. Não se tratava de um dilema humano, ele refletiu indolentemente, coçando-se debaixo da cueca; derivava da própria estrutura da matéria e não havia muito o que fazer.
De modo similar, outros eventos mais pessoais, alguns dos quais bastante estranhos ou intensos, o fascinavam enquanto aconteciam, mas com certo afastamento, como se outra pessoa e não ele estivesse envolvida; mais tarde, não pensava muito neles e sem dúvida não os conectava entre si. Serviam como pano de fundo para as coisas realmente importantes, tal como beber deitado e com frequência, evitar os amigos e o trabalho, não conseguir se concentrar quando chamado a uma conversa, ser incapaz de ler mais que vinte linhas de qualquer texto antes de voltar a divagar, fantasiar, relembrar.
E, quando Darke pediu demissão — o anúncio oficial foi feito dois dias após o início dos trabalhos do comitê de Parmenter —, Stephen visitou Eaton Square porque Thelma lhe telefonou e pediu que fosse. Ele se envolveu não por ser um velho amigo e naturalmente se preocupar, nem por dever favores a Charles e Thelma. Não tomou, ou pareceu não tomar, nenhuma decisão na matéria; seus amigos necessitavam de uma testemunha, alguém a quem pudessem se explicar, capaz de representar o mundo exterior. Embora tenha sido escolhido, Stephen mais tarde questionou a extensão de sua própria passividade; afinal de contas, o casal Darke tinha muitos amigos, porém ele era o único observador adequado do que Charles ia pôr em prática.
Duas horas depois que Thelma telefonou, Stephen decidiu ir a pé de Stockwell para Eaton Square atravessando a Chelsea Bridge. O ar ameno do início da noite deslizava macio pela garganta, e as calçadas na frente dos pubs estavam apinhadas de bebedores de cerveja, bronzeados e falando muito, aparentemente distraídos do mundo. O temperamento nacional tinha sido transformado pela prolongada onda de calor. No meio da ponte, ele parou para ler o jornal vespertino. O pedido de demissão tinha aparecido na primeira página, embora não fosse manchete. Uma matéria destacada no pé da página falava de problemas de saúde, sugerindo, com um toque de escândalo, algum tipo de colapso nervoso. Dizia que o primeiro-ministro estava “vagamente irritado” com o fato de não ter sido avisado com antecedência. Na coluna de notas esparsas, um curto parágrafo afirmava que Darke era muito distante da política, com uma atitude demasiado blasé para aspirar a altos cargos públicos. O primeiro-ministro desconfiava de sua associação prévia com os livros. Somente os amigos íntimos, terminava a matéria, lamentariam muito sua saída. Stephen dobrou o jornal e continuou a travessia da ponte ao reparar que se aproximavam dois mendigos usando casacos compridos apesar do calor.
Muitos anos antes, durante uma noitada num restaurante grego, Darke havia iniciado uma brincadeira de salão. Estava considerando abandonar a direção de um canal de televisão, em que tivera bastante sucesso, para entrar na política. Mas a que partido devia se filiar? Exultante, Darke servia o vinho ao lado de Julie, exibindo-se como um freguês exigente diante do garçom, fazendo o pedido de todos. A conversa, bem-humorada e com um quê cínico, incorporava contudo um elemento de verdade. Darke não tinha convicções políticas, apenas capacidade gerencial e uma grande ambição. Podia aderir a qualquer partido. Uma amiga de Julie, que morava em Nova York, levou a coisa a sério e insistiu que a escolha era entre dar ênfase à dimensão coletiva da experiência ou à sua singularidade. Darke espalmou as mãos e disse que era capaz de argumentar em favor das duas posições: no apoio aos fracos, no encorajamento aos fortes. A questão mais fundamental era — ele fez uma pausa enquanto alguém completou a frase: entre seus conhecidos, quem pode conseguir que o selecionem como candidato? Darke riu mais alto que qualquer um.
Quando o café turco foi servido, já tinha sido decidido que ele deveria fazer sua carreira na direita. Os argumentos eram simples. Os conservadores estavam no poder e provavelmente lá se manteriam. De seus tempos como homem de negócios, Darke conhecia um bom número de pessoas com conexões na máquina partidária. Na esquerda, os métodos de seleção eram tortuosamente democráticos e injustificadamente punitivos para os que nunca haviam pertencido ao partido. “É tudo muito simples, Charles”, disse Julie quando eles saíam do restaurante. “Tudo que você deve temer é o desprezo eterno de todos os seus amigos.” Mais uma vez, Darke soltou uma gargalhada.
No começo houve dificuldades, mas não levou muito tempo para que aparecesse a chance de uma candidatura na área rural de Suffolk, onde ele foi capaz de reduzir pela metade a maioria obtida por seu antecessor graças a algumas observações impensadas sobre porcos. Ele e Thelma venderam o chalé de Gloucestershire onde passavam os fins de semana e compraram outro nas bordas de sua circunscrição eleitoral. A política trouxe para a superfície algo em Darke que a indústria fonográfica, as funções editoriais e a direção do canal de televisão mal haviam tocado. Dentro de semanas, ele começou a aparecer na televisão ostensivamente para comentar alguma irregularidade em sua circunscrição — um aposentado cujo fornecimento de eletricidade tinha sido suspenso morrera de hipotermia. Rompendo a regra tácita, Darke se dirigia à câmera e não ao entrevistador, conseguindo inserir rápidos resumos dos sucessos recentes do governo. Suas palavras eram disparadas como salvas de artilharia. Voltou ao estúdio duas semanas mais tarde para refutar com competência alguma verdade evidente. Os amigos que o tinham ajudado estavam impressionados. Sua atuação foi notada no quartel-general do partido. Num momento em que o governo sofria com a hostilidade de seus próprios membros, Darke mostrou ser um defensor feroz. Dizia coisas que soavam razoáveis e demonstrava preocupação social ao mesmo tempo que advogava que os pobres deviam ser autossuficientes e os ricos deviam receber incentivos. Depois de longas reflexões e mais brincadeiras de salão à mesa do jantar, ele decidiu se pronunciar contra os partidários do enforcamento no debate sobre a pena de morte que ocorria na conferência anual do partido. A ideia era ser duro mas compreensivo, duro e compreensivo. Falou bem sobre o tema numa discussão acerca da lei e da ordem transmitida pelo rádio — merecendo três solenes manifestações de aplauso da plateia presente no estúdio e sendo citado num artigo de relevo do Times.
Durante os três anos seguintes, compareceu a jantares e estudou os campos onde acreditava haver possibilidades de cargos — educação, transporte, agricultura. Manteve-se ocupado. Pulou de paraquedas a fim de angariar fundos para projetos de caridade e quebrou o tornozelo. As câmeras de televisão estavam lá. Participou de um painel de juízes que concedeu um famoso prêmio literário e fez comentários indiscretos acerca do presidente. Foi escolhido para apresentar o projeto de lei que impedia os homens de dirigir devagar junto ao meio-fio para negociar com prostitutas. O projeto não avançou por falta de tempo, porém o tornou popular entre os jornais sensacionalistas. E, durante todo esse tempo, continuou falando, espetando o indicador para cima, expressando opiniões que nunca imaginou ter, desenvolvendo o estilo oracular dos porta-vozes — “Acho que falo por todos nós quando digo…” e “Que ninguém negue…” e “O governo tornou clara sua posição…”.
Escreveu um artigo para o Times passando em revista os primeiros dois anos da mendicância autorizada, que leu em voz alta para Stephen na magnífica sala de estar de Eaton Square. “Com vistas a gerar um setor público de caridade mais ágil e eficiente ao remover a escória da época que antecedeu a essa legislação, o governo se ofereceu, em escala reduzida, um ideal a que devem aspirar suas políticas econômicas. Dezenas de milhões de libras foram poupadas em gastos com proteção social, e um grande número de homens, mulheres e crianças passaram a experimentar tanto os imprevistos quanto as vigorosas satisfações da autossuficiência que são bem familiares à comunidade de homens de negócio deste país.”
Stephen nunca duvidou de que, mais cedo ou mais tarde, seu amigo se cansaria da política e iniciaria nova aventura. Manteve um distanciamento irônico, zombando de Charles por seu oportunismo.
“Se você tivesse decidido ir para o outro lado”, Stephen lhe disse, “estaria agora argumentando com igual paixão em favor da estatização do sistema financeiro, de menores gastos de defesa, da abolição do ensino privado.”
Darke deu um tapa na testa, fingindo estar atônito com a ingenuidade do amigo. “Não seja bobo! Defendi o programa do governo. Uma maioria me elegeu por causa dele. Não interessa o que eu penso. Tenho um mandato — um sistema financeiro mais livre, mais armas, boas escolas particulares.”
“Então você não está aí para pôr em prática suas ideias.”
“Claro que não. Presto um serviço!” E os dois riram antes de voltar a beber.
Na verdade, o cinismo de Stephen escondia uma fascinação com a carreira de Charles. Stephen não conhecia nenhum outro membro do Parlamento. Seu amigo já era bem famoso de um modo modesto, e tinha um monte de histórias de bebedeiras e até mesmo de violência no bar da Câmara dos Comuns, dos pequenos absurdos dos rituais parlamentares, dos malignos mexericos nos gabinetes dos ministros. E quando Darke ganhou um cargo de nível ministerial após três anos de trabalho nos estúdios de televisão e salas de jantar, Stephen ficou realmente empolgado. Ter o velho amigo ocupando um alto posto transformava o governo num processo quase humano, fazendo com que Stephen se sentisse um homem do mundo. Agora uma limusine — embora bem pequena e amassada — ia até Eaton Square todas as manhãs a fim de levar ao trabalho o ministro, que adquirira certo ar de fatigada autoridade. Stephen às vezes se perguntava se seu amigo tinha finalmente sucumbido às opiniões que assumira sem maior esforço.
Foi Thelma quem recebeu Stephen à porta.
“Estamos na cozinha”, ela disse, conduzindo-o através do hall. Depois mudou de ideia e deu meia-volta.
Ele apontou para as paredes nuas, onde retângulos cinzentos e enodoados substituíam os quadros.
“É, o pessoal da mudança começou a trabalhar esta tarde.” Ela o levou à sala de visitas, falando rapidamente em voz baixa. “Charles está muito frágil. Não pergunte nada a ele, não o faça se sentir culpado por te deixar naquele comitê.”
Desde a ascensão política de Darke, Stephen tinha passado mais tempo na companhia de Thelma, sobretudo às noites, e tentava aprender um pouco de física teórica. Ela gostava de fingir que Stephen era mais íntimo dela que o marido, que entre os dois havia um entendimento especial, uma espécie de conspiração. Aquilo nada tinha de traição, e sim de adulação. Era embaraçoso e irresistível. Ele assentiu com a cabeça, como sempre feliz em agradá-la. Charles era o filho difícil de Thelma, e ela havia recrutado a ajuda de Stephen muitas vezes; certa ocasião, para limitar o consumo de álcool pelo ministro na véspera de um debate parlamentar; noutra, para impedi-lo, na mesa de jantar, de provocar um jovem físico amigo dela, socialista.
“Me conta o que aconteceu”, Stephen pediu, mas ela estava caminhando de volta para o ecoante hall e falando num tom de falsa admoestação.
“Acabou de sair da cama? Está muito pálido.”
Ela fez um sinal enérgico com a cabeça quando Stephen protestou, sugerindo que mais tarde iria arrancar a verdade dele. Começaram de novo a cruzar o hall, desceram alguns degraus e passaram por uma porta de baeta verde, algo que Charles mandara instalar pouco depois de ganhar uma posição no governo.
O ex-ministro estava sentado à mesa da cozinha, bebendo um copo de leite. Pôs-se de pé e caminhou na direção de Stephen, enxugando um bigode de leite com as costas da mão. A voz soou leve, estranhamente melodiosa. “Stephen… Stephen, muitas mudanças. Espero que você seja tolerante…”
Havia muito tempo Stephen não via o amigo sem um terno escuro, camisa listrada e gravata de seda. Agora ele vestia uma calça larga de veludo cotelê e uma camiseta branca. Tinha uma aparência mais flexível, mais jovem; sem o enchimento dos ternos feitos à mão, os ombros ganhavam um contorno delicado. Thelma estava servindo uma taça de vinho para Stephen, Charles o conduzia para uma cadeira de madeira. Todos se sentaram com os cotovelos sobre a mesa. Pairava no ar uma calma excitação, notícias demasiado difíceis de serem transmitidas. Thelma disse: “Decidimos que não podemos te contar tudo de uma vez. Na verdade, achamos que seria melhor te mostrar em vez de contar. Por isso, seja paciente, vai saber de tudo mais cedo ou mais tarde. Você é a única pessoa a quem estamos nos abrindo, por isso…”.
Stephen sacudiu a cabeça.
Charles perguntou: “Você viu o noticiário da televisão?”.
“Vi o jornal vespertino.”
“A história é que estou tendo um colapso nervoso.”
“E então?”
Charles olhou para Thelma, que disse: “Tomamos algumas decisões bem ponderadas. Charles está abandonando a carreira e eu pedindo demissão do emprego. Estamos vendendo a casa e nos mudando para o chalé”.
Charles foi até a geladeira e reencheu o copo com leite. Não voltou à sua cadeira, pondo-se atrás de Thelma, uma das mãos pousada de leve no ombro dela. Desde que Stephen a conhecera, Thelma tinha vontade de deixar de ser professora universitária, mudar-se para algum lugar no campo e escrever seu livro. Como teria convencido Charles? Ela estava olhando para Stephen, à espera de uma reação. Difícil não ler uma expressão de triunfo no sorriso ligeiro, difícil seguir as instruções dela e não fazer perguntas.
Stephen se dirigiu diretamente a Charles sem responder a Thelma. “O que é que você vai fazer em Suffolk? Criar porcos?”
Ele deu um sorriso sardônico.
Fez-se silêncio. Thelma deu um tapinha na mão do marido e disse sem virar o rosto na direção dele: “Você prometeu que ia dormir cedo…”. Ele já estava esticando o corpo. Não eram nem oito e meia. Stephen observou seu amigo atentamente, mal podendo acreditar em como ele parecia muito menor, mais magro. Será que as altas funções tinham realmente deixado Charles mais corpulento?
“Sim”, ele estava dizendo, “vou subir.” Beijou a mulher na face e disse para Stephen da porta: “Nós realmente gostaríamos que você fosse nos ver em Suffolk. Vai ser mais fácil explicar”. Ergueu a mão numa saudação irônica e foi embora.
Thelma encheu novamente a taça de Stephen e apertou os lábios num sorriso eficiente. Estava prestes a falar, porém mudou de ideia e se pôs de pé. “Volto num minuto”, ela disse ao atravessar a cozinha. Momentos depois ele a ouviu na escada chamando por Charles e o som de uma porta que se abria e fechava. Depois a casa ficou em silêncio exceto pelo zumbido dos equipamentos de cozinha num registro grave de barítono.
* * *
Um dia depois que Julie partiu para o retiro nas Chilterns, Thelma chegou em meio a uma tempestade de neve para pegar Stephen. Enquanto ele procurava atabalhoadamente no quarto algumas roupas e uma mala para levá-las, ela limpou a cozinha, pôs o lixo num saco e levou para a lata que ficava no lado de fora do prédio. Recolheu os montes de contas não abertas e enfiou na bolsa. No quarto, supervisionou Stephen enquanto ele empacotava suas coisas. Trabalhou com uma eficiência enérgica e maternal, só falando com ele quando necessário. Ele tinha apanhado um número suficiente de pares de meia? Calças? Esse suéter é realmente bem grosso? Levou-o até o banheiro e fez com que escolhesse os itens para levar num saquinho. Onde estava a escova de dentes? Ia deixar crescer a barba? Se não, onde estava o creme de barbear? Não havia nenhuma ação para a qual Stephen pudesse conceber um motivo. Não havia razão para se manter aquecido, usar meias ou ter dentes. Ele era capaz de executar ordens simples desde que não precisasse refletir sobre sua razão de ser.
Seguiu Thelma até o carro, esperou que abrisse a porta do passageiro para ele, e permaneceu sentado sem se mexer no cheiroso banco de couro enquanto ela voltava ao apartamento a fim de desligar a água e o gás. Ficou olhando para a frente, observando os grandes flocos de neve derreterem ao contato com o para-brisas. Vieram-lhe imagens de um melodrama dickenseniano em que sua tiritante filha de três anos abria caminho na neve para chegar em casa, mas então a encontrava trancada e deserta. Deveriam deixar um bilhete na porta para ela?, perguntou a Thelma quando ela voltou. Em vez de argumentar que Kate não sabia ler e não iria mais voltar, Thelma subiu de novo a escada e pregou seu endereço e telefone na porta da frente do apartamento.
Passaram-se semanas esquecidas na tranquilidade atapetada, cercada de mármore e mogno, do quarto de hóspedes do casal Darke. Ele viveu um caos de emoções em meio à ordem impecável das toalhas com monogramas, superfícies enceradas e sem um grão de pó, roupa de cama lavada com aroma de alfazema. Depois, quando ficou mais estável, Thelma permaneceu várias noites a seu lado falando sobre o gato de Schroedinger, o tempo fluindo para trás, o fato de Deus ser destro e outras mágicas quânticas.
Ela pertencia a uma honrosa tradição de mulheres que eram físicas teóricas, embora proclamasse não ter feito uma única descoberta, nem mesmo algo bem insignificante. Seu trabalho consistia em refletir e ensinar. As descobertas, ela dizia, eram agora uma corrida de ratos que significava o fim da ciência, além de ser coisa para os jovens. Tinha ocorrido uma revolução científica neste século e quase ninguém, mesmo entre os cientistas, estava refletindo de modo adequado sobre ela. Durante as noites frias de uma desenxabida primavera, ela se sentava com ele junto à lareira e dizia como a mecânica do quantum iria tornar a física mais feminina, toda a ciência, fazê-la mais suave, menos arrogantemente distanciada das pessoas, mais disposta a participar de um mundo que desejava descrever. Ela tinha alguns tópicos prediletos, temas que desenvolvia a cada oportunidade. O luxo e o desafio da solidão, a ignorância dos supostos artistas, sobre como o maravilhamento bem informado teria de constituir parte integral do equipamento intelectual dos cientistas. A ciência era o filho de Thelma (Charles era o outro) a quem ela dedicava as maiores e mais apaixonadas esperanças, e no qual queria infundir modos mais gentis e um temperamento mais doce. Esse filho estava prestes a crescer e a fazer menores reivindicações sobre seu valor. O período de egotismo frenético e infantil — quatrocentos anos! — chegava ao fim.
Passo a passo, usando metáforas em vez de matemática, ela o conduziu através dos paradoxos fundamentais, o tipo de coisas, ela disse, que seus alunos do primeiro ano deveriam saber: como era possível demonstrar num laboratório que algo podia ser ao mesmo tempo uma onda e uma partícula; como as partículas pareciam “ter consciência” umas das outras, dando a impressão — ao menos em teoria — de comunicarem essa consciência instantaneamente através de imensas distâncias; como o espaço e o tempo não eram categorias separáveis, mas aspectos um do outro, o mesmo ocorrendo com matéria e energia, matéria e o espaço por ela ocupado, movimento e tempo; como a própria matéria não consistia em pedacinhos duros de alguma coisa, mais se assemelhando a um movimento padronizado; como quanto mais a gente sabia sobre alguma coisa em detalhe, menos sabia sobre ela em geral. A vida no magistério lhe inculcara úteis hábitos pedagógicos. Fazia pausas regulares a fim de ver se ele a acompanhava. Ao falar, seus olhos vasculhavam o rosto de Stephen para verificar se nele havia uma concentração total. Inevitavelmente, descobria que ele não apenas tinha deixado de entender, mas se perdera em devaneios nos últimos quinze minutos. Isso, por sua vez, podia suscitar um de seus temas prediletos. Ela apertava o indicador e o polegar contra a testa. Era necessário um pouco de teatro.
“Seu ignorantão!” — era como às vezes chamava Stephen quando ele ajustava o rosto para expressar arrependimento. Talvez esses fossem seus momentos de maior intimidade. “Uma revolução científica, não, uma revolução intelectual, uma explosão emocional e sensual, uma história fabulosa apenas começando a se revelar para nós, e você e gente como você não concedem a isso um segundo do seu tempo com o mínino de seriedade. As pessoas costumavam pensar que o mundo era sustentado por elefantes. Isso não é nada! A realidade, o que quer que signifique essa palavra, se mostra mil vezes mais estranha. O que você quer? Lutero? Copérnico? Darwin? Marx? Freud? Nenhum deles reinventou o mundo e nosso lugar nele de modo tão radical e esquisito quanto os físicos deste século. As pessoas que medem o mundo não podem mais se pôr de fora. São obrigadas também a se medir. Matéria, tempo, espaço, forças — todas ilusões belas e complexas com as quais devemos agora conspirar. Que sacudidela estupenda, Stephen! Shakespeare teria sacado as funções de onda, Donne teria compreendido a complementaridade e o tempo relativo. Eles teriam se empolgado. Que riqueza! Teriam pilhado essa nova ciência para dela extrair suas imagens. E também teriam educado o público. Mas vocês, ‘artistas’, não apenas desconhecem essas coisas magníficas, mas têm bastante orgulho de não saber nada. Pelo visto, vocês devem achar que alguma moda passageira como o modernismo — modernismo! — é a maior conquista intelectual de nossos tempos. Patético! Agora, pare com esse sorriso idiota e faça um drinque para mim.”
Ela apareceu dez minutos depois na porta da cozinha, fazendo sinal para que ele a acompanhasse até a sala de visitas. Dois gigantescos sofás Chesterfield ficavam frente a frente, separados por uma mesinha baixa com tampo de mármore. Uma garrafa térmica fechada e duas xícaras de café tinham sido postas ali por Thelma ou pela empregada. As batalhas navais também haviam sido substituídas por manchas cinzentas retangulares. Ela seguiu seu olhar e disse: “Os quadros e os enfeites vão à parte. Algo a ver com o seguro”.
Acomodaram-se lado a lado como sempre faziam quando Charles trabalhava até tarde no ministério ou na Câmara. Ela jamais levara a sério sua carreira política. Tolerara, com um distanciamento benigno, a agitação na casa enquanto ele avançava e garantia sua posição. O posto no governo tinha ressuscitado na conversa sobre a aposentadoria, sobre seu livro, sobre a vontade de se instalar de vez no chalé. Mas como remover agora Charles, depois que ele se tornara uma pequena figura nacional, depois que um jornalista do Times disse incidentalmente que ele tinha “potencial para ser primeiro-ministro”? Que mágica quântica feminina ela teria usado?
Thelma estava se desvencilhando dos sapatos com a despreocupação de uma adolescente, dobrando as pernas debaixo do corpo. Tinha quase sessenta e um anos. Mantinha as sobrancelhas bem cuidadas. As maçãs do rosto pronunciadas lhe davam um ar vivaz e radiante que lembrava a Stephen um esquilo altamente inteligente. A inteligência brilhava em seu rosto, e a severidade de seus modos tinha sempre um quê de brincadeira, de autogozação. O cabelo grisalho era preso num coque descuidado — de rigueur, ela dizia, para mulheres em seu campo científico —, e mantido no lugar por um pente antigo.
Ela ajeitou alguns fios soltos atrás da orelha, sem dúvida arrumando seus pensamentos metódicos. As janelas estavam abertas de par em par, e através delas vinha o som distante e melodioso do tráfego pesado, bem como os trinados e lamúrias dos carros de patrulha.
“Digamos o seguinte”, ela disse por fim. “Ninguém seria capaz de adivinhar, mas Charles tem uma vida interior. Na verdade, mais do que uma vida interior, uma obsessão íntima, um mundo separado. Você vai ter que acreditar em mim. Na maior parte do tempo ele nega que exista, mas está presente permanentemente, o consome, faz dele o que é. O que Charles deseja — se esta é a palavra —, aquilo de que precisa conflita muito com o que faz, com o que tem feito. São as contradições que o tornam tão frenético, tão impaciente para obter sucesso. Esta mudança, pelo menos no que lhe diz respeito, tem a ver com a necessidade de resolvê-las.” Ela apressou-se a sorrir. “E tem ainda as minhas necessidades, mas essa é outra questão, que aliás você conhece muito bem.” Ela se recostou no sofá, aparentemente satisfeita por ter deixado tudo claro.
Stephen deixou que meio minuto se passasse. “Muito bem, qual é exatamente essa vida interior dele?”
Ela balançou a cabeça. “Sinto muito se isso soa obscuro. Seria melhor que viesse nos visitar. Ver com seus próprios olhos. Não quero explicar antes do tempo.”
Descreveu como pedira demissão do emprego e o prazer que lhe dava a perspectiva de escrever seu livro. Consistiria na elaboração de seus temas prediletos. Ele viu os dois, Thelma no escritório do piso superior com as tábuas que estalavam, sentada à escrivaninha em que os raios do sol faziam luzir os papéis espalhados e de onde, através da janela de gelosias, podia ver Charles em manga de camisa parado junto ao carrinho de mão. Mais além do jardim, telefones tocavam, ministros cruzavam a cidade em limusines a caminho de almoços importantes. Charles, de joelhos, compactava pacientemente a terra na base de um arbusto enfermo.
Mais tarde, ela trouxe uma bandeja de frios. Enquanto comiam, ele descreveu as reuniões do comitê, tentando torná-las mais engraçadas do que eram. A conversa perdeu pique, ficou reduzida a comentários sobre amigos comuns. Lá para o fim, Thelma parecia querer se desculpar, como se receasse que ele pudesse pensar que havia feito uma viagem à toa. Tinha pouca ideia de como ele passava a maior parte de suas noites.
Como não visitaria a casa de novo antes que fosse vendida, ele aceitou o convite para passar a noite lá. Bem antes da meia-noite, Stephen encarava um bem conhecido papel de parede com desenhos de centáureas enquanto, sentado na beira da cama, tirava os sapatos. Considerava os objetos do quarto como seus. Havia passado tanto tempo contemplando-os — a tigela azul de louça vidrada com as flores amassadas sobre uma cômoda de carvalho com enfeites de latão, um pequeno busto de Dante feito de peltre, um pote de vidro com tampa para guardar as abotoaduras. Fora prisioneiro daquele quarto durante três ou quatro catatônicas semanas. Agora, ao tirar as meias e atravessá-lo para abrir um pouco mais as janelas, esperava as piores recordações. Ficar tinha sido um erro. O burburinho constante da cidade não era capaz de mitigar o silêncio pesado que emanava do grosso tapete, das toalhas felpudas no suporte de madeira, das dobras graníticas das cortinas de veludo. Ainda vestido, deitou-se na cama. Aguardava as imagens, as que só podia apagar sacudindo a cabeça.
O que veio não foi a filha exibindo cambalhotas, mas seus pais num momento aleatório de sua última visita. A mãe estava junto à pia da cozinha, com luvas de borracha. O pai, ao lado dela, tinha um copo de cerveja limpo numa mão e um pano de prato na outra. Voltavam-se para vê-lo à porta. Ela manteve uma postura desajeitada, com as mãos ainda na pia. Não queria espuma no chão. Nada de importante aconteceu. Ele achou que seu pai estava prestes a falar. Na posição desconfortável em que se encontrava, sua mãe dobrou a cabeça para o lado preparando-se para ouvir. Stephen também havia adotado esse hábito. Podia ver o rosto dos dois, as expressões bem marcadas de ternura e ansiedade. Era o envelhecimento, as essências de cada um resistindo enquanto os corpos se deterioravam. Ele sentiu a urgência do tempo que se contraía, das tarefas inconclusas. Havia conversas que ainda não tivera com eles e para as quais sempre acreditou que haveria tempo.
Por exemplo, tinha uma recordação não localizada, uma coisinha que só eles poderiam explicar. Estava numa bicicleta, no assento para crianças. À sua frente, as volumosas costas do pai, as dobras e arestas da camisa branca trocando de lugar com a subida e descida dos pedais. À esquerda, a mãe em sua bicicleta. Seguiam por uma estrada pavimentada. A intervalos regulares sentiam um solavanco ao passar pelas finas linhas de asfalto que uniam as seções de concreto. Desmontaram diante de um grande monte de seixos. O mar estava do outro lado, ele podia ouvir seu rugido e estrépito quando começaram a íngreme subida. Não guardava a menor recordação do mar, somente a expectativa medrosa à medida que seu pai o puxava pelo braço até o topo. Mas quando foi isso, e onde? Nunca viveram perto do mar ou passaram férias em praias como aquela. Seus pais nunca possuíram bicicletas.
Quando os visitava agora, a conversa seguia trilhas bem batidas. Era difícil escapar e perseguir os detalhes inúteis e importantes. Sua mãe tinha problemas de visão e sentia dores à noite. O coração do pai produzia murmúrios e palpitava irregularmente. Doenças menores se avolumavam. Havia acessos de gripe de que ele só era informado depois de superados. Um duro desmonte estava em progresso. O telegrama poderia chegar, a sombria chamada telefônica — e ele estaria confrontado com a frustração e a culpa de uma conversa jamais iniciada.
Só quando você é adulto, talvez só quando tem filhos, compreende perfeitamente que seus pais tiveram uma existência completa e intrincada antes de seu nascimento. Ele conhecia apenas esboços e pormenores de histórias — sua mãe numa loja de departamentos elogiada pela perfeição do laço que dava às suas costas; seu pai caminhando por uma cidade arruinada na Alemanha, ou atravessando a pista de um campo de pouso para comunicar oficialmente a vitória ao comandante do esquadrão. Até quando as histórias deles passaram a incluí-lo, Stephen nada sabia sobre como seus pais tinham se conhecido, o que os atraiu, como decidiram se casar, ou como ele tinha aparecido. É difícil certo dia recuar do momento e fazer a pergunta desnecessária e essencial, ou se dar conta de que, embora muito próximos, os pais também permanecem como estranhos para os filhos.
Ele devia isso ao amor que sentia por eles: não deixar que desaparecessem, que tivessem as vidas esquecidas. Estava pronto para levantar-se da cama, sair na ponta dos pés da residência dos Darke e fazer uma longuíssima viagem de táxi durante toda a noite até a casa deles, chegar sobraçando um montão de perguntas, sua súmula de acusação contra os apagamentos devastadores do tempo. Sem dúvida estava pronto, ia pegar uma caneta, deixar um bilhete para Thelma e sair naquele mesmo instante, já procurava as meias e os sapatos. Tudo que o mantinha ali era a necessidade de fechar os olhos e demorar-se em reflexões adicionais.
CONTINUA
Por muito tempo, tanto no entender do governo quanto no da maioria da população, o subsídio aos transportes públicos foi associado à negação da liberdade individual. Como os vários serviços entravam em colapso duas vezes por dia na hora do rush, Stephen se deu conta de que era mais rápido caminhar de seu apartamento até Whitehall do que pegar um táxi. Era o fim de maio, pouco antes das nove e meia da manhã, e a temperatura já se aproximava dos trinta graus. Caminhou rumo à Ponte Vauxhall, passando por filas duplas e triplas de carros resfolegantes que não tinham para onde escapar, cada um com seu motorista solitário. Pelo jeito, a busca da liberdade era mais um exercício de resignação que de paixão. Dedos com anéis tamborilavam pacientemente no metal dos tetos quentes, cotovelos cobertos por camisas brancas despontavam através das janelas abaixadas. Viam-se jornais abertos sobre os volantes. Stephen andava rápido através da multidão, através da balbúrdia sonora vinda dos carros — jingles, locutores veementes de programas matinais, noticiários, alertas de trânsito. Os motoristas que não estavam lendo ouviam estoicamente. O avanço incessante da turba nas calçadas devia transmitir-lhes uma sensação de movimento relativo, de estarem deslizando aos poucos para trás.
Com ágeis manobras para ultrapassar os mais lentos, Stephen, embora de forma quase inconsciente, permanecia como sempre à espreita de crianças, em especial uma com cinco anos de idade. Era mais que um hábito, pois um hábito pode ser abandonado. Tratava-se de uma profunda predisposição, uma silhueta que a experiência tinha gravado em sua mente. Não era exatamente uma busca, apesar de haver sido uma caça obsessiva — e por muito tempo. Passados dois anos, só restavam vestígios daquilo: agora era uma grande saudade, uma fome insaciada. Havia um relógio biológico, impiedoso em seu progresso inescapável, que fazia com que sua filha continuasse a crescer, aumentasse e enriquecesse seu vocabulário antes bastante simples, se fortalecesse, firmasse seus movimentos. O relógio, fibroso como um coração, era fiel a uma condição permanente: ela estaria aprendendo a desenhar, começando a ler, perdendo um dente de leite. Ela seria alguma coisa bem conhecida, vista como algo rotineiro. Era como se a proliferação de ocorrências pudesse erodir aquele condicional, o biombo, frágil e semiopaco, cujos tênues tecidos de tempo e acaso a separavam dele: ela está de volta da escola e cansada, o dente foi posto sob o travesseiro, procura pelo pai.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_CRIAN_A_NO_TEMPO.jpg
Qualquer menina de cinco anos — embora os garotos também servissem — emprestava substância à sua continuada existência. Nas lojas, ao passar pelos parquinhos, na casa de amigos, ele não podia deixar de procurar por Kate em outras crianças, ou nelas ignorar as lentas mudanças, as competências crescentes, ou deixar de sentir a potência irresistível de semanas e meses, do tempo que deveria ser dela. O crescimento de Kate tinha se transformado na própria essência do tempo. Seu crescimento espectral, o produto de uma tristeza obsessiva, era não apenas inevitável — nada era capaz de fazer parar o relógio fibroso — mas necessário. Sem a fantasia de sua continuada existência, ele estava perdido, o tempo pararia. Era o pai de uma criança invisível.
Mas ali, no Millbank, só havia ex-crianças se arrastando rumo ao trabalho. Mais adiante, pouco antes da praça do Parlamento, via-se um grupo de pedintes com as devidas autorizações. A rigor, não lhes era permitido mendigar perto do Parlamento ou de Whitehall, ou mesmo nas proximidades da praça. No entanto, alguns deles estavam se valendo da confluência das artérias que vinham dos subúrbios. Ele viu seus distintivos brilhando a uma distância de quase duzentos metros. Aquela era a melhor época do ano para eles, que pareciam arrogantes na sua liberdade. Os assalariados tinham de lhes dar passagem. Uns dez mendigos trabalhavam nos dois lados da rua, caminhando inelutavelmente em sua direção, na contracorrente dos demais pedestres. Stephen vinha observando uma criança. Não de cinco anos, mas uma magricela na pré-pubescência. Ela reparara nele de longe. Andava devagar, como uma sonâmbula, estendendo a tigela preta regulamentar. Os funcionários de escritório se dividiam diante dela e voltavam a se juntar mais além. Tinha os olhos fixados em Stephen. Ele sentiu a ambivalência costumeira. Dar um trocado garantia o êxito do programa de governo. Não dar envolvia a decisão consciente de ignorar um sofrimento pessoal. Não havia saída. A arte do mau governo consistia em romper o vínculo entre as políticas públicas e o sentimento privado, o instinto com relação ao que era correto. Ultimamente ele vinha deixando por conta do acaso. Se tivesse moedas no bolso, dava. Caso contrário, não dava nada. Jamais entregava notas.
A garota tinha a pele bronzeada porque passava os dias nas ruas ensolaradas. Usava uma bata encardida de algodão amarelo, os cabelos cortados bem curtos. Talvez para matar os piolhos. À medida que se aproximavam, viu que ela era bonita, com ar travesso e sardenta, o queixo pontudo. Estavam a menos de sete metros de distância quando ela disparou e apanhou na calçada um bocado de chiclete ainda reluzente. Pôs na boca e começou a mastigar. Dobrou para trás a cabeça pequena ao voltar a olhar na direção dele.
E então se viram frente a frente, a tigela erguida entre os dois. Ela o selecionara havia alguns minutos, era um truque que tinham. Horrorizado, ele meteu a mão no bolso de trás da calça para pegar uma nota de cinco libras. Ela observou inexpressiva quando Stephen depositou a nota em cima das moedas.
Tão logo ele afastou a mão, a garota agarrou a nota, enrolou-a bem enrolada e disse: “Se fodeu, tio”. E já passava a seu lado.
Stephen plantou a mão em seu ombro duro e estreito, apertando-o. “O que foi que você disse?”
Num rodopio, a garota se libertou. Os olhos se estreitaram, e falou com uma voz aflautada: “Eu disse valeu, tio”. Já estava fora de alcance quando acrescentou: “Seu rico de merda!”.
Stephen mostrou as palmas das mãos vazias numa admoestação amena. Sorriu sem entreabrir os lábios para manifestar sua imunidade ao insulto. Mas a garota retomara a caminhada sistemática ao longo da rua, ainda como uma sonâmbula. Acompanhou-a por um minuto antes que se perdesse em meio à multidão. Ela não olhou para trás.
A Comissão Oficial de Assistência à Infância, sabidamente um projeto visto com muito bons olhos pelo primeiro-ministro, havia gerado catorze subcomitês cuja tarefa consistia em fazer recomendações ao órgão superior. Sua verdadeira função, diziam os cínicos, era satisfazer os ideais disparatados de uma infinidade de grupos de interesse — os lobbies do açúcar e do fast food, os fabricantes de roupas, brinquedos, leite em pó e fogos de artifício, as instituições de caridade, as organizações de mulheres, as associações interessadas em criar faixas para pedestres — pressões de todos os lados. Entre os segmentos da sociedade que abrigavam os formadores de opinião, poucos se recusaram a servir. Concordava-se em geral com o fato de que o país estava cheio de gente de má índole. Havia fortes correntes de opinião sobre o que era um bom cidadão e o que cabia fazer pelas crianças a fim de que constituíssem uma cidadania digna no futuro. Todo mundo participava de algum subcomitê — até mesmo Stephen Lewis, autor de livros infantis, embora isso se devesse inteiramente à influência de seu amigo, Charles Darke, que tinha pedido demissão pouco depois de os comitês começarem a trabalhar. Stephen era membro do Subcomitê de Leitura e Escrita, presidido pelo reptiliano lorde Parmenter. Semanalmente, ao longo dos meses ressequidos daquele que se revelou ser o último verão decente do século XX, Stephen frequentou as reuniões numa sala lúgubre do Whitehall, onde, lhe disseram, haviam sido planejados em 1944 os bombardeios noturnos contra a Alemanha. Ele teria muito a dizer com respeito à leitura e à escrita em outros momentos de sua vida, mas, naquelas sessões, tendia a descansar os braços sobre a grande e lustrosa mesa, inclinar a cabeça numa atitude de respeitosa atenção e manter a boca fechada. Ele vinha passando muito tempo sozinho. Uma sala apinhada não diminuía sua introspecção, como havia esperado, e sim a intensificava e tornava mais sólida.
Pensava em especial na mulher e na filha, e no que deveria fazer consigo próprio. Ou matutava acerca da repentina saída de Darke da vida pública. À sua frente havia uma janela alta através da qual, mesmo no meio do verão, os raios solares jamais penetravam. Mais além, um retângulo de grama cortada bem rente emoldurava um pátio onde cabia meia dúzia de limusines ministeriais. Nas horas de folga, os motoristas relaxavam e fumavam, lançando olhares desinteressados para os membros do comitê. Stephen remoía recordações e devaneios, o que era e o que podia ter sido. Ou era remoído por tudo aquilo? Às vezes pronunciava mentalmente seus discursos compulsivos, acusações tristes ou amargas cujas diversas versões eram revisadas de forma meticulosa. Enquanto isso, mal e mal acompanhava as discussões em volta dele. O comitê estava cindido entre os teóricos, que tinham feito todas as suas reflexões muito tempo antes, e os pragmáticos, que achavam que iam descobrir o que pensavam durante o processo de dizer o que pensavam. Os limites da polidez eram testados, porém nunca rompidos.
Lorde Parmenter presidia com uma banalidade solene e astuta, indicando quem devia falar com um movimento rápido dos olhos semicerrados e sem cílios, erguendo um braço frágil para controlar os arroubos, fazendo seus raros pronunciamentos de macaquinho com uma língua seca e sarapintada. Somente o jaquetão escuro denunciava uma origem humanoide. Ele possuía um jeito aristocrático de usar lugares-comuns. Uma longa e mal-humorada discussão sobre a teoria do desenvolvimento infantil tinha terminado num útil impasse graças à sua decisiva e substancial intervenção: “As crianças são assim mesmo”. As crianças detestavam sabonete e água, aprendiam bem depressa e cresciam rápido demais, tudo era apresentado na forma de axiomas igualmente difíceis. A trivialidade de Parmenter, além de desdenhosa, era destemida ao proclamar a circunstância de ser ele um homem demasiado importante e invulnerável para se importar com a possibilidade de parecer um imbecil quando abria a boca. Não precisava impressionar ninguém. Não se curvava sequer à conveniência de ser interessante. Stephen não tinha dúvida de que se tratava de um sujeito muito inteligente.
Os membros do comitê não consideravam necessário se conhecer muito bem. Terminadas as longas sessões, enquanto papéis e livros eram enfiados nas pastas, tinham início conversas corteses que se mantinham ao longo dos corredores pintados em duas cores e se tornavam meros ecos à medida que todos desciam a escada de concreto em caracol, dispersando-se nos vários níveis da garagem subterrânea do ministério.
Nos meses de calor sufocante e mesmo depois, Stephen empreendeu a viagem semanal a Whitehall. Era seu único compromisso numa vida livre de qualquer outra obrigação. A maior parte desse tempo disponível ele passava de cueca, estendido no sofá diante da televisão, bebericando melancolicamente uísque sem gelo, lendo revistas de trás para a frente e assistindo às Olimpíadas. À noite, ele bebia mais. Comia num restaurante da região, sozinho. Não procurava os amigos. Nunca retornava as chamadas registradas na secretária eletrônica. Em geral não se importava com a imundície do apartamento, com as avantajadas moscas pretas em suas rondas sem pressa. Quando saía, temia rever a deprimente configuração de suas velhas posses, o modo como as poltronas vazias se acocoravam tendo a seus pés pratos sujos e jornais antigos. Era a teimosa conspiração dos objetos — assento de privada, roupas de cama, sujeira no chão —, desejosos de permanecer tal como haviam sido deixados. Em casa também nunca estava distante de seus temas: a filha, a mulher, o que fazer. Mas ali lhe faltava concentração para manter um pensamento continuado. Seus devaneios eram fragmentários, desordenados, quase inconscientes.
Os membros faziam questão de ser pontuais. Lorde Parmenter sempre chegava por último. Ao se acomodar na cadeira, abria a sessão emitindo um tênue gargarejo que, com muito engenho, se transformava em suas primeiras palavras. O secretário do comitê, Peter Canham, sentava-se à sua direita, com a cadeira afastada da mesa a fim de simbolizar seu distanciamento das atividades. Tudo que se exigia de Stephen era parecer plausivelmente alerta durante duas horas e meia. Essa útil moldura era-lhe familiar desde os seus tempos de estudante, das centenas ou milhares de horas de aulas dedicadas à vadiagem mental. A própria sala era familiar. Sentia-se em casa com os interruptores de baquelite marrom, os fios elétricos dentro de canos empoeirados presos sem elegância às paredes. Na escola que havia frequentado, a sala onde eram dadas as aulas de história se parecia muito com aquela: o mesmo conforto desgastado e generoso, a mesma mesa comprida maltratada que alguém ainda se dava ao trabalho de encerar, os vestígios de solenidade convivendo soporificamente com a burocracia maçante. Quando Parmenter, com sua afabilidade de réptil, traçou as diretrizes do trabalho da manhã, Stephen ouviu a balsâmica cadência galesa de seu professor dissertando sobre as glórias da corte de Carlos Magno ou os ciclos de depravação e reforma no papado medieval. Pela janela, via não o pátio de estacionamento murado e os carros cozidos pelo sol, mas, como se estivesse dois andares acima, um roseiral, campos esportivos, uma balaustrada cinzenta bem enodoada e, mais além, terras acidentadas e sem cultivo que desciam em direção aos carvalhos e faias, terminando no largo litoral do braço de mar, bem azul, um quilômetro e meio separando uma margem da outra. Tratava-se de um tempo perdido e de uma paisagem perdida: ele voltara certa vez para descobrir que as árvores haviam sido eficientemente derrubadas, as terras aradas e o estuário atravessado por uma ponte para veículos. E, como vivia obcecado pela perda, foi fácil transportar-se para um dia gélido e ensolarado no lado de fora de um supermercado no sul de Londres. Ele segurava a mão da filha. Ela usava um cachecol de lã vermelha tricotado pela mãe dele e carregava junto ao peito um burrico bem gasto. Caminhavam para a entrada. Era um sábado, havia muita gente em volta. Ele segurou sua mão com firmeza.
Parmenter tinha terminado de falar, agora um dos professores universitários fazia uma defesa hesitante dos méritos de um alfabeto fonético recém-elaborado. As crianças aprenderiam a ler e escrever mais cedo e com maior prazer; a seu juízo, a transição para o alfabeto convencional seria feita sem esforço. Stephen segurava um lápis e parecia prestes a tomar notas. Com a testa franzida, movia a cabeça ligeiramente, embora fosse difícil precisar se em sinal de concordância ou repulsa.
Kate estava na idade em que lhe causavam pesadelos a linguagem em rápida expansão e as ideias que daí surgiam. Era incapaz de descrevê-los aos pais, mas certamente continham elementos encontrados nos seus livros infantis — peixes falantes, uma grande rocha com uma cidade dentro, um monstro solitário que desejava profundamente ser amado. Havia tido pesadelos na noite anterior. Várias vezes Julie precisou sair da cama para ir vê-la, e só voltou a dormir bem depois do raiar do dia. Dormia agora. Stephen preparou o café da manhã e vestiu Kate. Ela estava bem acesa, apesar da provação noturna, ansiosa para ir ao supermercado e passear no carrinho de compras. Aquele sol estranho num dia gélido a intriga. Coisa rara, cooperou na tarefa de ser vestida. Postou-se entre os joelhos dele enquanto Stephen fazia entrar os braços e as pernas na roupa de inverno. Seu corpo era tão compacto, tão imaculado! Ele a levantou e encostou o rosto em sua barriga, fingindo que ia mordê-la. O corpinho cheirava a cama e a leite. Ela soltou um gritinho e se contorceu, mas suplicou para que fizesse de novo quando a pôs no chão.
Stephen abotoou a camisa de lã, a ajudou a vestir o grosso suéter e fechou o macacão. Ela começou uma cantoria vaga e abstraída que resvalava para a improvisação, cantigas de ninar e trechos de canções natalinas. Sentou-a na cadeira, calçou as meias e deu laço nas botinhas. Quando ele se ajoelhou, Kate acariciou seus cabelos. Como muitas menininhas, ela tinha uma típica atitude protetora com relação ao pai. Antes de saírem do apartamento, se certificaria de que Stephen havia abotoado o casaco até em cima.
Levou uma xícara de chá para Julie, que se encontrava semiacordada, com os joelhos erguidos contra o peito. Ela disse alguma coisa que se perdeu entre os travesseiros. Ele enfiou a mão por baixo das cobertas e massageou a parte inferior de suas costas. Ela se virou e puxou o rosto dele na direção de seus seios. Ao se beijarem, ele sentiu na boca de Julie o gosto denso e metálico do sono profundo. Mais além da escuridão do quarto, Kate ainda cantarolava seu pot-pourri de melodias. Durante alguns segundos, Stephen se sentiu tentado a desistir de ir às compras e plantar Kate com alguns livros diante da televisão. Podia se meter debaixo das pesadas cobertas ao lado de sua mulher. Tinham feito amor logo ao nascer do sol, mas sonolentos, sem chegar ao fim. Ela o acariciava agora, desfrutando de seu dilema. Ele voltou a beijá-la.
Estavam casados havia seis anos, um período de lentos e delicados ajustes aos princípios conflitantes do prazer físico, das obrigações domésticas e da necessidade de solidão. Quando um deles era negligenciado, na certa vinha prejuízo ou caos para os demais. Mesmo enquanto apertava levemente o mamilo de Julie entre o indicador e o polegar, ele fazia seus cálculos. Depois da noite conturbada e da expedição para fazer as compras, Kate necessitaria tirar uma soneca ao meio-dia. Teriam então a certeza de um tempo ininterrupto. Mais tarde, nos tristes meses e anos que se seguiram, Stephen se esforçava para recapturar aquele momento. Para achar de volta o caminho entre as dobras que separavam os eventos, enfiar-se por baixo das cobertas, reverter sua decisão. Mas o tempo — não necessariamente como ele é, mas como o pensamos — proíbe de forma monomaníaca as segundas oportunidades. Não há um tempo absoluto, sua amiga Thelma lhe disse várias vezes, nenhuma entidade independente. Só a nossa compreensão pessoal e frágil. Ele postergou o prazer, cedeu ao dever. Apertou a mão de Julie e se pôs de pé. No hall, Kate veio em sua direção falando alto, erguendo o burrico bastante puído. Ele se curvou para dar mais uma volta no cachecol em torno do pescoço dela. Ela se pôs na ponta dos pés a fim de verificar se os botões do casaco de Stephen estavam abotoados. Deram-se as mãos antes mesmo de passar pela porta da frente.
Pisaram na calçada como se enfrentassem uma tempestade. A rua era uma artéria importante que levava ao sul, de tráfego feroz. O dia muito frio, anticiclônico, ficou muito bem gravado numa memória obsessiva por sua intensa luminosidade, que punha em relevo cada detalhe impudente. Perto dos degraus e sob o sol, havia uma lata amassada de coca-cola cujo canudinho, ainda tridimensional, permanecia no lugar. Kate mostrou vontade de salvá-lo, mas foi proibida por Stephen. Mais adiante, junto a uma árvore e como se iluminado por dentro, um cachorro fazia cocô com o traseiro trêmulo e uma expressão radiante, sonhadora. A árvore era um carvalho cansado cuja casca parecia recém-esculpida, os relevos engenhosos e brilhantes, os sulcos em profunda sombra.
Em dois minutos se chegava ao supermercado cruzando a rua de quatro pistas numa faixa de pedestres. Perto da zebra, onde aguardaram para atravessar, havia uma loja de motocicletas, um local de encontro internacional para os fãs daquele tipo de veículo. Homens com barrigões e roupas de couro surradas estavam encostados ou montados nas máquinas paradas. Quando Kate tirou da boca o dedo que vinha chupando e apontou, o sol baixo iluminou o que parecia ser um revólver fumegante. No entanto, ela não encontrou palavras que exprimissem o que via. Por fim atravessaram diante de uma matilha de carros impacientes que saltaram para a frente, rosnando, no instante em que os dois alcançaram a ilha central. Kate procurou pela senhora que vendia pirulitos e sempre acenava para ela. Stephen explicou que era sábado. Como havia muita gente, segurou sua mão com mais força enquanto caminhavam para a entrada. Em meio ao vozerio, aos gritos e ao matraquear das registradoras, encontraram um carrinho. Kate sorria prazerosamente ao se aboletar no assento.
Os fregueses dividiam-se em dois grupos, tão distintos quanto tribos ou nações. Os primeiros eram proprietários nas vizinhanças de casas vitorianas que tinham sido reformadas. Os segundos moravam em altos prédios dentro de conjuntos habitacionais erguidos nas vizinhanças. Os que compunham o primeiro grupo tendiam a comprar frutas e legumes frescos, pão de centeio, café em grão, peixes recém-pescados num balcão especial, vinho e bebidas alcoólicas, enquanto os do segundo compravam legumes em lata ou congelados, feijão cozido, sopas instantâneas, açúcar branco, bolos, cerveja, bebidas alcoólicas e cigarros. No segundo grupo havia aposentados comprando carne para seus gatos e biscoitos para eles próprios. E jovens mães, magras e fatigadas, com cigarros pendurados nos lábios, que às vezes perdiam o controle no caixa e davam uns tabefes em alguma criança. O primeiro grupo continha casais jovens e sem filhos, com roupas vistosas, que na pior das hipóteses estavam pressionados pela falta de tempo. Também se viam mães fazendo compras na companhia das babás, além de pais, como Stephen, comprando salmão fresco, dando sua contribuição.
O que mais ele comprou? Pasta de dente, lenços de papel, sabonete líquido, o melhor bacon disponível, um pernil de cordeiro, bifes, pimentões verdes e vermelhos, rabanetes, batatas, papel-alumínio, um litro de uísque. E quem estava lá quando sua mão se estendia para pegar esses produtos? Alguém que o seguiu enquanto ele empurrava Kate entre as prateleiras abarrotadas, alguém que se mantinha a alguns passos de distância quando ele parava, que fingia estar interessado num rótulo, mas depois continuava a caminhar atrás dele? Ele havia retornado mil vezes, visto sua própria mão, uma prateleira, os produtos se acumulando, tinha ouvido Kate tagarelando, e tentou mover os olhos, erguê-los contra o peso do tempo, para divisar a figura encoberta na periferia de sua visão, aquela que estava sempre ligeiramente de lado e atrás, aquela que, movida por um estranho desejo, calculava as probabilidades ou apenas esperava. Mas o tempo fixava para sempre sua vista nas tarefas mundanas, e em volta dele formas indistintas vagavam e se dissolviam, enquadradas em categorias.
Quinze minutos depois chegaram ao caixa. Havia oito bancadas paralelas. Ele se juntou a uma pequena fila no balcão mais próximo da saída porque sabia que a moça daquele caixa trabalhava com rapidez. Havia três pessoas à sua frente quando parou o carrinho, e ninguém atrás quando se voltou para levantar Kate de seu assento. Ela estava se divertindo e pouco propensa a ser perturbada. Choramingou e prendeu o pé de propósito no assento. Ele foi obrigado a erguê-la mais alto para liberar o pé. Notou sua irritabilidade com certa satisfação: era um sinal seguro de que estava cansada. Terminada essa pequena luta, só havia duas pessoas à sua frente, uma das quais se preparava para sair. Ele contornou o carrinho a fim de esvaziá-lo na esteira transportadora. Kate segurava a barra larga na outra extremidade do carrinho, fingindo que o empurrava. Ninguém atrás dela. Nesse momento, a pessoa logo à frente de Stephen, um homem encurvado, se preparava para pagar por várias latas de ração para cachorros. Stephen pôs os primeiros itens na esteira. Quando endireitou o corpo, julgou ter sentido uma figura atrás de Kate usando um casaco escuro. Mas nem chegou a ser uma percepção, foi antes uma debilíssima suspeita criada por uma memória em desespero. O casaco podia ser um vestido, um saco de compras ou sua própria invenção. Ele estava empenhado em uma atividade banal, louco para terminar logo. Naquele instante, mal era um ser consciente.
O homem com a comida de cachorro estava indo embora. A moça do caixa já entrara em ação, os dedos de uma das mãos movendo-se velozmente sobre o teclado enquanto a outra puxava para perto os produtos comprados por Stephen. Ao tirar o salmão do carrinho, Stephen deu uma olhada para baixo, na direção de Kate, e piscou o olho. Ela o imitou, mas desajeitadamente, enrugando o nariz e fechando os dois olhos. Ele pôs o peixe na esteira e pediu à moça um saquinho. Ela meteu a mão debaixo de uma prateleira e lhe entregou o saquinho. Ele pegou e olhou para trás. Kate havia desaparecido. Não havia ninguém na fila atrás dele. Sem pressa, afastou o carrinho, imaginando que ela houvesse se escondido atrás do balcão. Depois deu mais alguns passos, varrendo com os olhos o único corredor que ela teria tido tempo de alcançar. Caminhou de volta, olhou para a esquerda e para a direita. De um lado havia filas de fregueses, do outro uma área vazia, depois a catraca cromada, as portas automáticas que davam para a calçada. Poderia ter havido uma figura encasacada correndo para se afastar dele, mas naquele momento Stephen procurava por uma criança de três anos, e sua preocupação imediata era o tráfego.
Tratava-se de uma ansiedade teórica, mera precaução. Ao abrir caminho entre os fregueses e chegar à larga calçada, sabia que a filha não estaria lá. Aventuras daquele tipo não eram com ela. Não costumava sumir. Era demasiado sociável, preferia a companhia de quem estivesse com ela. Também tinha pavor da rua. Ele deu meia-volta e se acalmou. Tinha de estar na loja, onde não corria nenhum risco sério. Esperava vê-la surgir por trás das filas dos fregueses nos caixas. Era bastante fácil ignorar uma criança na primeira onda de preocupação, olhar rápido demais, com um excesso de concentração. Mesmo assim, quando voltou lhe vieram uma certa náusea e um aperto na base da garganta, uma leveza desagradável nos pés. Passando pelos caixas, sem ligar para a moça que o atendera e que irritadamente tentava chamar sua atenção, sentiu um frio na boca do estômago. Acelerando o passo — ainda não superara o desejo de evitar parecer um idiota —, percorreu todos os corredores, deixando para trás montes de laranjas, rolos de papel higiênico, latas de sopa. Somente ao retornar ao ponto de partida é que perdeu toda noção de boas maneiras, encheu os pulmões retraídos e berrou o nome de Kate.
Agora dava passadas largas, urrando o nome dela ao longo de um corredor e rumando de novo para a porta. Os rostos se voltavam para ele. Não havia como confundi-lo com um dos bêbados que entravam trôpegos no supermercado para comprar cidra. Seu medo, demasiado evidente, demasiado enérgico, projetava no espaço impessoal, sob as lâmpadas fluorescentes, um calor humano impossível de ser ignorado. Dentro de poucos momentos cessaram todas as compras a seu redor. Cestas e carrinhos foram postos de lado, as pessoas convergiam em sua direção, pronunciavam o nome de Kate e, sabe-se lá como, rapidamente todos sabiam se tratar de uma menina de três anos, vista pela última vez no caixa, que vestia um macacão verde e levava um burrico de pelúcia. As mães se mostravam tensas, alertas. Vários fregueses tinham visto a menina sentada no carrinho. Alguém se recordava da cor do seu suéter. O anonimato típico de uma loja na cidade comprovou-se tênue, uma fina camada sob a qual as pessoas observavam, julgavam, lembravam. Um grupo de fregueses que cercavam Stephen se moveu rumo à porta. A seu lado estava a moça do caixa, o rosto rígido, concentrada. Havia outros funcionários da hierarquia do supermercado com paletós marrons, paletós brancos, ternos azuis, que de repente não mais eram trabalhadores no depósito, subgerentes ou representantes da companhia, e sim pais, reais ou potenciais. Estavam todos agora na calçada, alguns em volta de Stephen fazendo perguntas ou oferecendo consolo, enquanto outros, de modo mais útil, seguiam em diferentes direções para percorrer as lojas vizinhas.
A menina perdida era propriedade de todos. Mas Stephen estava só. Olhou os rostos bondosos que o cercavam, e olhou mais além. Eram irrelevantes. Suas vozes não chegavam até ele, eram obstáculos em seu campo de visão. Estavam bloqueando sua possibilidade de localizar Kate. Tinha que abrir caminho entre eles, mesmo empurrá-los, para chegar até ela. Sentia falta de ar, era incapaz de raciocinar. Ouviu-se pronunciando a palavra “roubada”, que logo se espalhou até a periferia, aos transeuntes atraídos pela comoção. A moça alta de dedos ágeis, que dera a impressão de ser tão forte, chorava. Stephen teve tempo de se sentir momentaneamente desapontado com ela. Como se chamado pela palavra que ele pronunciara, um carro de polícia branco, salpicado de lama, estacionou junto ao meio-fio. A confirmação oficial do desastre o deixou nauseado. Algo subia em sua garganta, ele se dobrou. Talvez tenha vomitado, mas não se recordava disso. A próxima coisa de que se lembra é de novo o supermercado, e dessa vez as regras do que era adequado, da ordem social, já haviam selecionado as pessoas que se postavam a seu lado — um gerente, uma jovem mulher que poderia ser sua assistente pessoal, um subgerente e dois policiais. Tudo de repente ficou silencioso.
Eles caminhavam rapidamente para os fundos da vasta loja. Passaram-se alguns momentos até que Stephen se desse conta de que estava sendo levado, e não seguido. O estabelecimento tinha sido evacuado. Através da parede de vidro à sua direita viu outro policial do lado de fora cercado por fregueses, tomando notas. O gerente falava rápido em meio ao silêncio, em parte tecendo hipóteses, em parte se queixando. A criança — ele sabe o nome dela, Stephen pensou, mas sua posição o impede de usá-lo — poderia ter ido parar na área de entrega. Deviam ter pensado nisso antes. Às vezes, deixavam aberta a porta do depósito refrigerado, por mais que reclamasse com seus subordinados.
Aceleraram o passo. Uma voz ininteligível era ouvida em curtas explosões através do rádio de um dos policiais. Na seção de queijos, atravessaram uma porta e chegaram a uma área onde todo o fingimento era deixado para trás, onde o piso de plástico era substituído pelo chão de concreto em que partículas de mica espalhavam fagulhas frias e a luz crua provinha de lâmpadas presas a um teto invisível. Havia uma empilhadeira estacionada junto a uma montanha de caixas de papelão dobradas. Saltando uma poça de leite sujo, o gerente se apressou a atingir a porta do depósito refrigerado, que estava escancarada.
Todos o seguiram para dentro de uma sala baixa e atulhada, em que dois corredores se perdiam na penumbra. Latas e caixas estavam empilhadas desordenadamente de ambos os lados, e no centro, suspensas por ganchos, havia enormes carcaças. O grupo se dividiu em dois e percorreu os corredores. Stephen foi com os policiais. O ar frio penetrou seco na parte de trás do seu nariz, trazendo um gosto de estanho gelado. Caminhavam lentamente, examinando os espaços atrás das caixas nas prateleiras. Um dos policiais quis saber quanto tempo alguém sobreviveria ali. Através dos intervalos na cortina de carne que os separava, Stephen viu o gerente lançar um olhar na direção do subordinado. O rapaz limpou a garganta e respondeu com tato, dizendo que, desde que a pessoa continuasse a se movimentar, nada havia a temer. Escapava vapor de sua boca. Stephen soube que, se achassem Kate ali, ela estaria morta. Mas foi abstrato o alívio que sentiu quando os dois grupos se reuniram na outra extremidade. Ele se distanciara mentalmente de um modo enérgico e calculista. Se era para Kate ser encontrada, eles iriam encontrá-la porque ele estava preparado para não fazer nenhuma outra coisa senão procurá-la; se não era para Kate ser encontrada, então, passado algum tempo, isso teria de ser encarado de uma forma sensata, racional. Mas não agora.
Saíram para um ilusório calor tropical, seguindo rumo ao escritório do gerente. Os policiais pegaram seus cadernos de anotações, e Stephen contou a história com tanta intensidade emocional quanto riqueza de pormenores. Ele se encontrava suficientemente distante de seus próprios sentimentos para apreciar a brevidade competente do relato, a hábil apresentação dos fatos relevantes. Estava observando a si próprio, e viu um homem sob pressão funcionando com admirável autocontrole. Foi capaz de esquecer de Kate no detalhamento meticuloso de suas roupas, no retrato preciso de suas feições. Apreciou também as perguntas rotineiras porém incisivas dos policiais, o cheiro de óleo e couro de suas cartucheiras bem enceradas. Eles e Stephen estavam unidos diante de uma inenarrável dificuldade. Um dos policiais transmitiu sua descrição de Kate pelo rádio, e ouviram a resposta distorcida de um carro-patrulha nas redondezas. Tudo muito reconfortante. Stephen estava chegando a um estado próximo à exultação. A assistente pessoal do gerente lhe falava com um ar receoso, que parecia bem despropositado. Apertava seu antebraço, estimulando-o a beber o chá que tinha trazido. O gerente, do lado de fora do escritório, queixava-se a um empregado de que os supermercados eram o território predileto dos sequestradores de crianças. A assistente pessoal tratou de fechar a porta com o pé. O movimento súbito liberou o perfume das dobras de suas roupas sóbrias e levou Stephen a pensar em Julie. Confrontou a escuridão que emanava do interior de sua cabeça. Agarrou o lado da cadeira e esperou, deixando que sua mente se esvaziasse; quando sentiu que recobrara o controle, se pôs de pé. As perguntas tinham terminado. Os policiais fechavam seus cadernos e também se erguiam. A assistente pessoal se ofereceu para levá-lo até sua casa, mas Stephen recusou, sacudindo vigorosamente a cabeça.
Então, sem nenhum intervalo aparente, sem eventos intermediários, ele estava do lado de fora do supermercado, aguardando na faixa de pedestres com mais meia dúzia de pessoas. Carregava uma sacola cheia. Lembrou-se de que não havia pagado. O salmão e o papel-alumínio eram presentes, uma compensação. Os carros desaceleraram com relutância e pararam. Ele atravessou junto com os demais fregueses e tentou absorver o insulto da normalidade do mundo. Viu como era rigorosamente simples — fora fazer compras com a filha, a perdera, e agora voltava sem ela para contar à mulher. Os motociclistas continuavam lá, como também, mais adiante, a lata de coca-cola e o canudinho. Até o mesmo cachorro debaixo da mesma árvore. Subindo a escada, parou num degrau quebrado. Havia uma música retumbante dentro de sua cabeça, um grande zumbido orquestral cuja dissonância foi se diluindo enquanto continuava agarrado ao corrimão, mas que recomeçou no momento em que ele voltou a subir.
Abriu a porta da frente e ficou escutando. O ar e a luz no apartamento lhe disseram que Julie ainda dormia. Tirou o casaco. Quando o levantou para pendurar, seu estômago se contraiu, e um raio — pensou naquilo como um raio negro — do café matinal foi disparado contra sua boca. Cuspiu nas mãos em concha e foi lavá-las na cozinha. Teve que saltar o pijama que Kate havia largado no chão. Não pareceu tão difícil. Entrou no quarto de dormir sem saber o que lá faria ou diria. Sentou-se na beirada da cama. Julie virou-se para seu lado mas não abriu os olhos. Ela encontrou sua mão. A dela estava quente, insuportavelmente quente. Sonolenta, disse algo sobre a mão de Stephen estar tão fria. Puxou-a para si, enfiando-a debaixo do queixo. Ainda sem abrir os olhos. Estava se deleitando com a segurança da presença dele.
Stephen contemplou a mulher, e certos clichês — mãe devotada, apaixonada pela filha, amorosa — pareceram ganhar um novo significado; eram expressões úteis e decentes, ele pensou, longamente testadas. Sobre a maçã do rosto dela havia um anel perfeito de cabelo negro, logo abaixo do olho. Era uma mulher calma, observadora, com um sorriso adorável, que o amava intensamente e gostava de lhe dizer isso. Ele havia construído sua vida em torno da intimidade dos dois e agora dependia dela. Julie era violinista, dava aulas no Guildhall. Formava com três amigas um quarteto de cordas. Estavam sendo convidadas para tocar e tinham recebido um comentário sucinto mas favorável num jornal de grande circulação. O futuro era, tinha sido, muito promissor. Os dedos da mão esquerda dela, com as pontas calejadas, acariciavam o pulso dele, que agora a contemplava de uma imensa distância, a centenas de metros de altura. Podia ver o quarto, o quarteirão de apartamentos eduardianos, anexos nos quintais com seus telhados cobertos de asfalto e cisternas tortas de grossas tampas, a confusão urbana do sul de Londres, a curvatura enevoada da Terra. Julie era pouco mais que um pontinho em meio à bagunça dos lençóis. Ele estava subindo ainda mais, e mais depressa. Ao menos, pensou, de lá, onde o ar era rarefeito e a cidade abaixo ganhava contornos geométricos, seus sentimentos não seriam visíveis, ele poderia reter algum autocontrole.
Foi então que ela abriu os olhos e encontrou o rosto dele. Precisou de alguns segundos para ler o que estava lá antes de se pôr de pé na cama de um salto e emitir um som de incredulidade, um pequeno ganido ao puxar asperamente o ar para dentro dos pulmões. Por um instante, as explicações não eram nem possíveis nem necessárias.
Em geral, o comitê não via com bons olhos um alfabeto fonético. O coronel Jack Tackle, do Diga Não à Violência Doméstica, disse que aquilo lhe parecia uma idiotice completa. Uma jovem mulher, chamada Rachael Murray, manifestou uma áspera recusa cujo emprego da terminologia dos linguistas profissionais não foi capaz de esconder seu indignado desdém. Depois disso, Tessa Spankey dirigiu a todos um sorriso radioso. Ela era editora de livros infantis, uma mulher corpulenta, com dobras carnudas na base de cada dedo. Sua cara simpática e com queixo duplo era só sardas e rugas. Fez questão de incluir um por um em seu olhar carinhoso. Falou devagar e num tom tranquilizador, como se estivesse se dirigindo a um grupo de crianças nervosas. Não havia língua no mundo, ela disse, que não fosse difícil de aprender a ler e escrever. Se o aprendizado pudesse ser divertido, seria ótimo. Mas a diversão era algo periférico. Os professores e pais deviam admitir o fato de que no cerne do aprendizado da linguagem estava a dificuldade. O triunfo sobre a dificuldade era o que dava às crianças dignidade e senso de disciplina mental. A língua inglesa, disse ela, era um campo minado de irregularidades, as exceções eram mais numerosas que as regras. Mas cumpria vencer tal campo, e isso exigia empenho. Os professores temiam muito a impopularidade, gostavam muito de dourar a pílula. Deviam aceitar as dificuldades, comemorá-las e levar seus alunos a fazer o mesmo. Só havia uma maneira de aprender a soletrar, e era por meio do contato com a palavra escrita, da imersão nos textos impressos. De que outro jeito — e ela desfiou uma lista bem ensaiada — a gente aprende a grafia correta de exceção, obsessão, fricção, persuasão? O olhar maternal da sra. Spankey percorreu os rostos atentos. Esforço, ela disse, aplicação, disciplina, trabalho duro.
Ouviu-se um murmúrio de aprovação. O professor universitário que propusera o alfabeto fonético começou a falar em dislexia, em venda de escolas estatais, em déficit habitacional. Houve grunhidos espontâneos. O intelectual comedido prosseguiu. Dois terços das crianças de onze anos nas escolas urbanas, disse ele, eram analfabetas. Parmenter interveio com a alacridade digna de um réptil. As necessidades dos grupos especiais estavam fora dos termos de referência do comitê. A seu lado, Canham concordava com a cabeça. As preocupações do comitê eram os meios e os fins, e não as patologias. O debate se tornou fragmentário. Por algum motivo, propôs-se uma votação.
Stephen ergueu a mão em favor do que sabia ser um alfabeto inútil. Pouco importava, porque ele estava atravessando a larga faixa de asfalto esburacado e com fissuras que separava dois blocos de apartamentos. Carregava uma pasta com fotos e listas de nomes e endereços, cuidadosamente datilogrados e dispostos em ordem alfabética. As fotos — ampliações de instantâneos tirados nas férias — eram mostradas a todos a quem conseguia interessar. As listas, compiladas na biblioteca a partir de exemplares antigos dos jornais locais, eram de pais cujos filhos tinham morrido nos seis meses anteriores. Sua teoria, uma de muitas, era que Kate havia sido roubada a fim de substituir uma criança morta. Ele batia às portas e falava com mães, que de início se mostravam perplexas, e depois hostis. Visitava pessoas que cuidavam de crianças. Subia e descia as ruas de comércio exibindo as fotos. Ficava perto da entrada do supermercado e da farmácia ao lado. Foi alargando sua área de busca, que compreendia agora um raio de cinco quilômetros. Anestesiava-se com atividade.
Ia sozinho a todos os lugares, saindo todos os dias pouco depois da hora mais tardia em que o sol nascia no inverno. A polícia perdera interesse no caso depois de uma semana. Distúrbios de rua nos subúrbios do norte, diziam eles, estavam levando ao limite seus recursos. E Julie ficava em casa. Tinha obtido uma dispensa especial na escola de música. Quando ele saía pela manhã, ela estava sentada numa poltrona do quarto, de frente para a lareira apagada. Era ali que a encontrava ao voltar à noite e acender as luzes.
No início, houvera uma grande movimentação do tipo mais desolador: entrevistas com inspetores veteranos e equipes de policiais, cães farejadores, algum interesse jornalístico, mais explicações, tristeza e pânico. Durante esse período, Stephen e Julie se apoiaram, compartilhando aturdidas perguntas retóricas, passando noites insones, tecendo teorias esperançosas num momento, entrando em desespero no momento seguinte. Mas isso foi antes que o tempo, o acúmulo impiedoso dos dias, tivesse exposto a verdade amarga e absoluta. O silêncio se infiltrou e se adensou. As roupas e brinquedos de Kate ainda se encontravam espalhados pelo apartamento, sua cama ainda por fazer. Então, certa tarde, a desordem havia desaparecido. Stephen descobriu a cama nua e três sacos plásticos estufados junto à porta do quarto. Zangou-se com Julie, irritado com o que considerou uma autodestruição feminina, um derrotismo deliberado. Mas não podia falar com ela sobre isso. Não havia espaço para a raiva, nenhuma abertura. Eles se moviam como figuras num pântano, sem forças para uma confrontação. De repente, seus sofrimentos se tornaram separados, insulares, incomunicáveis. Seguiram caminhos diferentes: ele com suas listas e longas incursões diárias, ela na poltrona, mergulhada num pesar profundo e particular. Agora não havia consolo mútuo, nenhum toque entre os dois, nenhum amor. A velha intimidade, a presunção habitual de estarem do mesmo lado, tinha morrido. Debruçados sobre suas perdas distintas, os ressentimentos inarticulados começaram a crescer.
Ao final de um dia na rua não havia nada que machucasse Stephen mais do que a consciência de que sua mulher estaria sentada no escuro, de como ela mal se mexeria para assinalar seu retorno, e de como ele não possuiria nem a disposição nem a engenhosidade capazes de romper seu silêncio. Suspeitava — e viu depois que tinha razão — que ela considerava seus esforços uma evasão tipicamente masculina, uma tentativa de ocultar os sentimentos sob manifestações de competência, organização e esforço físico. A perda os levara aos extremos de suas personalidades. Tinham descoberto um grau de intolerância mútua que a tristeza e o choque tornavam insuperável. Não suportavam mais comer juntos. Ele comia sanduíches, de pé nas lanchonetes, ansioso para não perder tempo, relutante em se sentar e escutar seus pensamentos. Tanto quanto sabia, ela não comia nada. No começo, ele havia trazido pão e queijo, que, no correr dos dias, desenvolviam tranquilamente seus próprios mofos na cozinha jamais visitada. Uma refeição conjunta teria implicado o reconhecimento e a aceitação da família diminuída.
Chegou uma hora em que Stephen não se sentia em condições de olhar para Julie. Não apenas porque via reflexos tresnoitados de Kate ou de si mesmo no rosto dela. Era a inércia, o colapso da vontade, o sofrimento quase extático que o desgostavam e ameaçavam minar seus esforços. Ele acharia a filha e mataria o homem que a tinha sequestrado. Bastava se valer do impulso correto e mostrar a fotografia à pessoa certa, e seria levado a ele. Se houvesse mais horas de sol, se pudesse resistir à tentação que crescia a cada manhã de manter a cabeça debaixo dos lençóis, se conseguisse andar mais depressa, manter a concentração, lembrar-se de olhar para trás vez por outra, e então perder menos tempo comendo sanduíches, confiar em sua intuição, percorrer ruas laterais, se movimentar mais depressa, cobrir uma área maior, quem sabe até passar a correr, correr…
Parmenter se pôs de pé, hesitando ao ajustar a caneta prateada no bolso interno do paletó. Quando se dirigiu à porta, que Canham mantinha aberta para ele, deu um sorriso geral de despedida. Os membros do comitê, recolhendo os papéis, iniciaram a conversa amena de costume que os conduziria para fora do prédio. Stephen caminhou ao longo do quente corredor com o professor universitário que tinha sido derrotado de forma tão convincente na votação. Chamava-se Morley. Naquele seu estilo civilizado e vacilante, ele explicava como os desacreditados sistemas alfabéticos do passado tinham tornado seu trabalho bem mais difícil. Stephen sabia que, em breve, estaria de novo a sós. Mas mesmo então não podia deixar de divagar, não podia deixar de refletir que a situação havia se deteriorado tanto que não tinha sentido nenhuma emoção particular quando, voltando de sua busca numa tarde de fevereiro, encontrou a poltrona de Julie vazia. Um bilhete no chão trazia o nome e o número de telefone de um retiro nas Chilterns. Nenhuma outra mensagem. Rodou pelo apartamento, acendendo luzes, examinando cômodos abandonados, pequenos cenários prestes a ser demolidos.
Por fim voltou à poltrona de Julie, ficou por lá uns segundos, a mão pousada nas costas do móvel como se calculasse as probabilidades de alguma ação perigosa. Após certo tempo, saiu do torpor, contornou a poltrona com dois passos e se sentou. Contemplou a lareira enegrecida onde fósforos usados, dispostos desordenadamente, podiam ser vistos ao lado de um pedaço de papel-alumínio; passaram-se vários minutos, tempo suficiente para sentir que o estofo da poltrona substituía os contornos de Julie pelos seus, minutos vazios como todos os outros. Então desabou, ficou imóvel pela primeira vez em semanas. Permaneceu assim por horas, a noite toda, cochilando um pouco às vezes e, quando acordado, sem mover um músculo ou afastar os olhos da lareira. Durante todo esse tempo parecia que algo se formava no silêncio em volta dele, uma lenta onda de compreensão com a força de uma maré montante que não quebrava ou explodia dramaticamente, mas que o levou nas altas horas da noite ao primeiro grande fluxo de entendimento da verdadeira natureza de sua perda. Tudo antes tinha sido uma fantasia, uma imitação banal e frenética do sofrimento. Pouco antes do amanhecer começou a chorar, e foi a partir desse momento, na semiescuridão, que assumiu o luto.
Dois
Torne claro para a criança que não se pode discutir com o relógio e que, quando é hora de sair para a escola, de papai ir para o trabalho, de mamãe executar suas tarefas, então essas mudanças são tão incontestáveis quanto as marés.
Manual autorizado de puericultura,
Departamento Real de Imprensa
O fato de Stephen Lewis ter um bocado de dinheiro e ser famoso entre os jovens em idade escolar era fruto de um erro administrativo, da inatenção momentânea do encarregado de distribuir a correspondência na editora Gott, que levara o pacote contendo um original para a mesa errada. O fato de Stephen não mais mencionar tal erro — passados tantos anos — se devia em parte aos cheques de direitos autorais e pagamentos adiantados que desde então tinham fluído da Gott e de muitas editoras estrangeiras, e em parte à aceitação do destino que chega quando a pessoa começa a envelhecer: aos vinte e poucos anos, lhe parecia arbitrariamente hilário que ele fosse um bem-sucedido escritor de livros infantis porque havia numerosas outras coisas que ainda podia vir a ser. Já agora não conseguia imaginar ser qualquer outra coisa.
O que mais podia fazer? Os velhos colegas dos tempos de estudante, os experimentadores estéticos e políticos, os drogados visionários, haviam agora se acomodado com muito menos. Alguns de seus conhecidos, no passado homens realmente livres, estavam resignados a ganhar a vida como professores de inglês para estrangeiros. Outros entravam na meia-idade esgotando-se nas aulas de inglês para alunos repetentes ou ensinando “habilidades sociais” a adolescentes relutantes em escolas secundárias nos cafundós de judas. Esses eram os sortudos, porque haviam encontrado emprego. Outros limpavam o chão de hospitais ou dirigiam táxis. Uma colega conseguira se qualificar para receber um distintivo de pedinte. Stephen morria de medo de esbarrar com ela na rua. Todas aquelas almas promissoras, bem formadas, brindadas com uma vida intelectual excitante graças ao estudo da literatura inglesa, na qual haviam recolhido seus breves lemas — “a energia é uma delícia perpétua”, “a maldição revigora, a bênção debilita” —, tinham sumido das bibliotecas, no final da década de 1960 e início da seguinte, decididas a empreender viagens internas ou seguir rumo ao leste em ônibus pintados. Voltaram para casa quando o mundo se tornou menor e mais sério a fim de servir à Educação, agora uma profissão sem viço, desprestigiada: as escolas estavam sendo vendidas a investidores privados, a idade de término dos estudos em breve seria reduzida.
A ideia de que quanto mais educada a população mais facilmente seus problemas poderiam ser resolvidos tinha saído de moda sem que ninguém notasse. Desvanecera-se juntamente com o princípio mais amplo de que, em geral, a vida iria melhorar para mais e mais pessoas, sendo os governos responsáveis por encenar e dirigir aquele espetáculo de potenciais realizados, aquela ampliação de oportunidades. O rol dos atores que produziriam tais melhorias tinha sido imenso, havendo sempre empregos para gente como Stephen e seus amigos. Professores, museólogos, mímicos, atores, contadores de histórias itinerantes — uma grande trupe inteiramente patrocinada pelo Estado. Agora, as responsabilidades do governo tinham sido redefinidas em termos mais simples e puros: manter a ordem e defender o Estado contra seus inimigos. Durante certo tempo, Stephen alimentara a vaga ambição de ensinar numa escola pública. Via-se junto ao quadro-negro, alto e de rosto vincado, tendo diante de si uma turma calada e respeitosa, intimidada por seus rompantes de sarcasmo, os alunos inclinados para a frente, sorvendo cada palavra. Sabia agora a sorte que havia tido. Permanecia como autor de livros infantis, tendo quase esquecido de que tudo aquilo se devia a um erro.
Um ano após terminar o University College, Stephen voltara a Londres com uma disenteria amebiana depois de uma excursão à Turquia, Afeganistão e Khyber envolta numa nuvem estonteante de haxixe; descobriu que a ética do trabalho, que tinha feito o possível para destruir junto com os seus companheiros de geração, continuava forte dentro dele. Ansiava pela ordem e pelo senso de propósito. Alugou um lugarzinho para dormir, empregou-se como arquivista numa agência de recortes de jornal e se pôs a escrever um romance. Trabalhava quatro a cinco horas todas as noites, deliciando-se com a aura romântica, a nobreza da empreitada. Estava imune à chatice de seu emprego: guardava um segredo que crescia à taxa de mil palavras por dia. E tinha todas as fantasias de praxe. Era Thomas Mann, era James Joyce, talvez fosse William Shakespeare. Intensificava a excitação de sua faina escrevendo à luz de duas velas.
Queria escrever sobre suas viagens num romance intitulado Haxixe, em que figurariam hippies esfaqueados em seus sacos de dormir, uma moça muito bem-criada condenada à prisão perpétua num presídio turco, pretensões místicas, sexo turbinado por drogas, disenteria amebiana. Em primeiro lugar, precisava explorar a formação de seu protagonista principal, algo acerca de sua infância que mostrasse a distância física e moral que ele precisaria vencer em suas viagens. Mas o primeiro capítulo teimava em em não terminar. Ganhou vida própria, e foi assim que Stephen acabou escrevendo um romance baseado nas férias de verão que tinha passado aos onze anos com suas primas, uma história de calças curtas e cabelos curtos para os meninos e, para as meninas, tiaras de cabelo e calções largos presos à altura dos joelhos, com desejos dissimulados, dedos pudicamente entrelaçados em vez de sexo alucinado, bicicletas com cestas para compras em vez de ônibus da Volkswagen pintados com tintas fluorescentes, passado não em Jalalabad mas nas cercanias de Reading. Foi escrito em três meses e recebeu o título de Limonada.
Durante uma semana, ele manuseou e folheou o manuscrito, preocupado com o fato de ser curto demais. Então, numa manhã de segunda-feira, alegou estar doente, fez uma fotocópia e a entregou pessoalmente ao escritório da Gott em Bloomsbury, a famosa editora literária. Como de praxe, ficou muito tempo sem notícias. Quando a carta finalmente chegou, não era de Charles Darke, o editor sênior ainda jovem cujo perfil tinha sido publicado nos jornais de domingo por ter salvado a reputação periclitante da Gott. Era da srta. Amanda Rien, cujo sobrenome — como ela explicou com uma risada aguda ao convidá-lo para entrar em seu escritório — não era pronunciado como a palavra francesa, mas como “rim”.
Stephen sentou-se com os tornozelos apertados contra a mesa da srta. Rien, pois ela estava instalada num antigo depósito de vassouras. Não tinha janelas. Nas paredes, em vez dos retratos emoldurados em preto e branco dos gigantes do início do século que haviam feito a fama da editora, estava um retrato não de Evelyn Waugh, como era de esperar, mas de um sapo de terno com colete e apoiado numa bengala junto à balaustrada de uma mansão no campo. Nos outros pequenos espaços disponíveis, havia desenhos de ursinhos de pelúcia, pelo menos meia dúzia deles, tentando fazer pegar o motor de um carro de bombeiros, uma camundonga de biquíni apontando um revólver para sua própria cabeça e um corvo, com uma expressão soturna e um estetoscópio pendurado ao pescoço, verificando o pulso de um pálido menino que parecia ter caído da árvore.
A srta. Rien estava sentada a menos de um metro de distância, contemplando Stephen com o ar de encanto de alguém que aprecia uma propriedade sua. Ele sorriu de volta, desconfortável, e baixou a vista. Aquele era realmente seu primeiro romance?, ela desejava saber. Todos na Gott estavam empolgados, grandemente empolgados. Ele fez que sim com a cabeça, suspeitando se tratar de um erro terrível. Não conhecia suficientemente o mundo editorial para se abrir, e a última coisa que queria era fazer papel de bobo. Sentiu-se mais seguro quando a srta. Rien disse que Charles sabia de sua presença e estava interessadíssimo em conhecê-lo. Minutos depois a porta se abriu de um golpe e Darke, sem sair do corredor, curvou-se para a frente e apertou a mão de Stephen. Falou rapidamente, dispensando as apresentações. Era um livro brilhante e é claro que queria publicá-lo. Sem dúvida queria. Mas tinha de sair correndo. Nova York e Frankfurt aguardavam ao telefone. Porém almoçariam. Em breve. E parabéns. A porta se fechou de imediato e Stephen se voltou para encontrar a srta. Rien estudando em seu rosto os primeiros sinais da adulação. Ela falou solenemente e em voz baixa. Um grande homem. Um grande homem e um grande editor. Não havia nada a fazer senão concordar.
Retornou ao seu quarto alugado excitado e insultado. Como um Joyce, um Mann ou um Shakespeare em potencial, ele pertencia sem a menor dúvida à tradição cultural europeia, a adulta. Verdade que, desde o começo, ansiara por ser compreendido. Tinha escrito numa linguagem simples e precisa. Quis ser acessível, mas não a qualquer um. Após longas reflexões, decidiu não fazer nada até voltar a se encontrar com Darke. No meio-tempo, para complicar ainda mais seus sentimentos, chegarem pelo correio um contrato e a oferta de um adiantamento de duas mil libras, o equivalente a dois anos de seu salário. Investigou aqui e ali, descobrindo que era uma quantia excepcional para um primeiro romance. A agência de recortes era agora insuportavelmente tediosa depois que havia terminado de escrever. Durante oito horas por dia recortava artigos de jornal, carimbava a data e os arquivava. As pessoas no escritório tinham emburrecido com aquele trabalho. Estava louco para anunciar que ia deixar o emprego. Várias vezes pegou a caneta, preparando-se para assinar e recolher o dinheiro, mas, pelo canto dos olhos, via uma multidão de irônicos ursinhos, camundongos e corvos que zombavam dele ao recebê-lo em suas fileiras.
E, quando por fim chegou a hora de pôr a gravata que havia comprado para aquela ocasião, a primeira que usava desde os tempos de universitário, e de manifestar sua confusão na tranquilidade discreta de um restaurante e durante a refeição mais cara que comera em sua vida, nada ficou esclarecido. Darke ouviu, balançando a cabeça com impaciência sempre que Stephen se aproximava do fim de uma frase. Antes que ele terminasse, Darke descansou a colher de sopa, pousou sua mão pequena e lisa sobre o pulso de Stephen e explicou de um modo cordial, como se falasse a uma criança, que a distinção entre a ficção para adultos e para crianças era, ela própria, uma ficção. Algo inteiramente falso, mera conveniência. Tinha de ser, quando todos os grandes escritores possuíam uma visão semelhante à de uma criança, uma simplicidade de abordagem — por mais complicada que fosse sua manifestação — que trazia o gênio do adulto ao nível da infância. E, vice-versa — Stephen estava puxando a mão para liberá-la —, os melhores livros supostamente infantis eram aqueles que falavam tanto às crianças quanto aos adultos, ao adulto incipiente na criança, à criança esquecida dentro do adulto.
Darke estava se deliciando com seu discurso. Estar num restaurante famoso fazendo observações generosas para um jovem autor era um dos mais desejáveis privilégios de sua profissão. Stephen terminou os camarões servidos num potinho e se recostou para observar e ouvir. Darke tinha cabelos cor de areia, com um tufo indisciplinado que se erguia na parte de trás da cabeça. Tinha também o hábito de tatear em busca desse tufo e domá-lo com a palma da mão enquanto falava. Os cabelos pulavam de volta para o alto tão logo os liberava.
Apesar de toda sua segurança cosmopolita, do terno escuro e da camisa feita à mão, Darke era apenas seis anos mais velho que Stephen. No entanto, eram seis anos cruciais: da parte de Darke, representavam a reverência pela maturidade que faz com que os adolescentes ambicionem aparentar o dobro da idade; da parte de Stephen, a convicção de que a maturidade era traição, timidez e cansaço, enquanto a juventude constituía um estado abençoado a ser mantido por tanto tempo quanto fosse social e biologicamente viável. À época em que almoçaram juntos pela primeira vez, Darke estava casado com Thelma havia sete anos. A grande casa em Eaton Square estava solidamente montada. As então quase valiosas pinturas a óleo de batalhas navais e cenas de caça já estavam em seus lugares. Como também as toalhas limpas e felpudas no quarto de hóspedes, a arrumadeira que trabalhava quatro horas por dia e não falava uma palavra de inglês. Enquanto Stephen e seus amigos circulavam por Goa e Cabul com frisbees e cachimbos de haxixe, Charles e Thelma tinham um manobrista para estacionar seu carro, uma secretária eletrônica, jantares para convidados, livros de capa dura. Eram adultos. Stephen vivia num quarto alugado e podia guardar tudo que possuía em duas malas. Seu romance era adequado para crianças.
E havia mais que a casa de Eaton Square. Darke já fora o dono de uma produtora de discos e a vendera. Quando terminou a Universidade de Cambridge, todos sabiam, menos as pessoas comercialmente astutas, que a música popular era o domínio exclusivo dos jovens. Os astutos se recordavam da outra Inglaterra, a dos pais que tinham atravessado a Depressão e lutado numa guerra mundial. Com aqueles pesadelos no passado, precisavam de doçura, calor e uma dose ocasional de melancolia em sua música. Darke se especializou em easy listening, nos clássicos prediletos, melodias inesquecíveis com arranjos orquestrais para duzentos violinos.
Contrariando os ditames da moda, foi também muito bem-sucedido na escolha de uma esposa doze anos mais velha que ele. Thelma ensinava física na Birkbeck, com uma respeitada tese, recém-concluída — tanto quanto os colunistas de mexericos podiam afirmar —, sobre a natureza do tempo. Não era a mulher óbvia para um milionário tão jovem da área de música kitsch, um homem com idade, como se comentava maldosamente, para ser seu filho. Thelma convenceu o marido a criar um clube de leitura cujo êxito o levou à empoeirada Gott, que dois anos depois registrou seu primeiro lucro em um quarto de século. Ele estava havia quatro anos à testa da editora quando levou Stephen para almoçar, porém se passaram outros cinco anos, quando então Darke comandava um canal independente de televisão e o próprio Stephen era um sucesso limitado, antes que os dois se tornassem amigos íntimos e Stephen — tendo renunciado a seu anseio de uma juventude eterna — passasse a ser um visitante regular em Eaton Square.
A chegada de novos pratos e a prova perfunctória de um vinho diferente não interromperam nem por um instante a preleção séria, amistosa e narcisística de Darke. Ele falava depressa, com uma espécie de autoafirmação defensiva, como se estivesse se dirigindo a acionistas céticos, como se temesse que o silêncio o levasse de volta a seus próprios pensamentos. Levou um bom tempo até que Stephen entendesse que o discurso tinha origens profundas. Naquele momento, pareceu um esforço de convencimento no qual o editor fez um uso positivo e instintivo do primeiro nome do autor.
“Escute, Stephen. Stephen, fale com um menino de dez anos no meio do verão sobre o Natal. Seria a mesma coisa que conversar com um adolescente sobre seus planos de aposentadoria, sua pensão. Para as crianças, a infância não está vinculada a uma noção de tempo. É sempre o presente. Tudo acontece no presente do indicativo. Claro que elas têm recordações. Claro que há um movimento do tempo para elas, o Natal finalmente chega. Mas elas não sentem isso. O que sentem é o hoje e, ao dizerem: ‘Quando eu crescer…’, sempre há uma ponta de descrença — como é que poderão algum dia ser diferentes do que são? Você então me diz que Limonada não foi escrito para crianças, e acredito em você, Stephen. Como todos os bons escritores, você o escreveu para si próprio. E é exatamente isso o que eu estou querendo dizer: você se dirigiu para o menino que você era aos dez anos. Esse livro não é para crianças, é para uma criança, e essa criança é você. Limonada é uma mensagem que você está enviando para um eu anterior que nunca deixará de existir. E a mensagem é amarga. É isso que torna o livro tão perturbador. Quando a filha de Mandy Rien o leu, ela chorou, lágrimas amargas, mas também lágrimas úteis, Stephen. Outras crianças reagiram do mesmo modo. Você falou diretamente às crianças. Tenha desejado ou não, se comunicou com elas por cima do abismo que separa a criança do adulto, e lhes deu uma primeira e fantasmagórica insinuação da mortalidade. Ao ler o que você escreveu, elas têm uma indicação de que são finitas como crianças. Em vez de simplesmente ouvirem isso, de fato compreendem que não durará, que não pode durar, que mais cedo ou mais tarde tudo termina, que a infância não é para sempre. Você transmitiu a elas alguma coisa chocante e triste sobre os adultos, sobre aqueles que deixaram de ser crianças. Algo ressequido, impotente, um tédio, um sentimento de que as coisas são o que são. A partir do que você escreveu, entendem que tudo isso virá para elas, tão certo quanto o Natal. É uma mensagem triste, mas verdadeira. Este é um livro para crianças pelos olhos de um adulto.”
Charles Darke tomou um gole vigoroso do vinho que havia provado com distraído discernimento alguns minutos antes. Dobrou a cabeça, saboreando a implicação de suas próprias palavras. Depois, erguendo a taça, a esvaziou e repetiu: “Uma mensagem triste, mas muito, muito verdadeira”. Stephen levantou os olhos rapidamente quando algo o fez crer que o editor estava com a voz embargada.
Excetuadas as duas semanas que foram objeto do romance, a infância de Stephen tinha sido agradavelmente monótona apesar das locações exóticas. Se tivesse que mandar de volta uma mensagem agora, ela seria de austero encorajamento: as coisas vão melhorar — bem devagar. Mas havia também uma mensagem para adultos?
A boca de Darke estava cheia de miúdos. Ele fez pequenos círculos no ar com o garfo, muito ansioso para falar; por fim conseguiu, junto com um bafo de alho que temporariamente alterou o gosto do salmão de Stephen. “Claro. Mas não vai mudar a vida de ninguém. Vai vender três mil exemplares e ganhar umas resenhas bem decentes. Mas, se for comercializado para crianças…” Darke se deixou cair na cadeira e levantou a taça.
Stephen fez que não com a cabeça e falou baixinho: “Não vou permitir. Não vou permitir nunca”.
Turner Malbert fez as ilustrações em aquarelas límpidas e de bom gosto. Na semana do lançamento, um famoso psicólogo infantil apareceu na televisão para fazer um ataque candente ao livro. Era mais do que uma criança seria capaz de absorver, perturbaria cabeças com alguma instabilidade latente. Outros peritos o defenderam, um punhado de bibliotecários incentivou as vendas recusando-se a oferecer a obra. Durante um ou dois meses se transformou em tópico de conversa nos jantares. Limonada vendeu duzentos e cinquenta mil exemplares de capa dura e, com o tempo, vários milhões em todo o mundo. Stephen largou o emprego, comprou um carro veloz e um apartamento cavernoso, de teto alto, no sul de Londres, dando origem a uma cobrança de impostos que, dois anos depois, praticamente obrigou que publicasse seu segundo romance também como livro para crianças.
Em retrospecto, os acontecimentos no ano de Stephen, o ano do comitê, pareciam ter sido organizados em torno de um único resultado. Enquanto vivia aquele ano, contudo, ele sentia que estava num tempo vazio, sem significado ou propósito. Seu retraimento usual foi espetacularmente exacerbado. Por exemplo, o segundo dia dos Jogos Olímpicos gerou uma repentina ameaça de extinção global: durante doze horas as coisas ficaram bem fora de controle, e Stephen, esparramado de cueca no sofá por causa do calor, não se sentiu especialmente mobilizado.
Dois corredores de curta distância, um russo e um americano, ambos com a constituição de galgos nervosos, se entrechocaram na linha de partida e se estranharam. O americano deu um soco no russo, que revidou e esfolou seriamente o olho do contendor. A violência e a ideia da violência se expandiram e foram subindo através de complexos sistemas de comando. Primeiro outros atletas, depois os treinadores, tentaram intervir, se enfureceram e entraram na briga. Os poucos espectadores russos e americanos nas arquibancadas partiram para o confronto. Houve um incidente grave com uma garrafa quebrada e, dentro de alguns minutos, um jovem americano — infelizmente um soldado de folga — sofreu uma hemorragia fatal. Na pista, dois dirigentes que representavam as potências em conflito se atracaram, puxando os respectivos blazers, e uma lapela foi arrancada. Alguém disparou a pistola que serve para dar a largada da corrida e atingiu o rosto de uma mulher russa, cegando mais uma pessoa — olho por olho. Mesmo na tribuna de imprensa houve hostilidades e empurrões.
Dentro de meia hora, as duas equipes tinham se retirado dos jogos e, em coletivas de imprensa separadas, trocavam insultos com intensidade escatológica. Pouco depois, o assassino do soldado foi preso, havendo alegações de que ele era vinculado à KGB e tinha motivações militares. Houve uma troca de notas virulentas entre as duas embaixadas. O presidente norte-americano, recém-empossado e ele próprio com um físico de corredor, estava ansioso para demonstrar não ser um fracote em matéria de política externa, como proclamavam com frequência seus oponentes, e procurava algo para fazer. Ponderava ainda quando os russos surpreenderam o mundo ao fechar a travessia da fronteira em Helmstedt.
Nos Estados Unidos, esse ato foi atribuído às prevaricações de um presidente dócil, que então silenciou seus críticos elevando ao máximo a prontidão das forças nucleares. Os russos fizeram o mesmo. Submarinos nucleares deslizaram silenciosamente para seus locais de disparo, os depósitos subterrâneos de mísseis foram abertos e as ogivas despontaram em meio aos arbustos da quente zona rural de Oxfordshire e nas florestas de faias dos Cárpatos. As colunas dos jornais e as telas de televisão foram tomadas por professores de dissuasão, que advogavam a importância de disparar os foguetes antes que fossem destruídos em terra. Numa questão de horas, os supermercados da Grã-Bretanha ficaram sem açúcar, chá, feijão cozido em lata e rolos de papel higiênico sedoso. A confrontação durou meio dia, até que as nações não alinhadas iniciassem a redução simultânea e supervisionada da prontidão nuclear. Como a vida na Terra afinal continuaria, em meio a muitas manifestações veementes sobre o espírito olímpico a prova de cem metros rasos foi retomada, e o alívio foi planetário quando um neutro sueco chegou em primeiro lugar.
Pode ter sido o verão excepcional, ou o uísque que bebia desde o fim da manhã, o que o fazia se sentir melhor do que de fato estava, mas Stephen honestamente não se importava se a vida na Terra ia ou não continuar. Aquilo lembrava muito uma final de campeonato mundial de futebol disputada entre dois países estrangeiros. O drama prendia a atenção dele, mas o resultado pouco importava, qualquer um podia ganhar. O universo era enorme, pensou com cansaço, e a vida inteligente ocupava uma camada bem fina mas num número provavelmente incontável de planetas. No grupo daqueles em que por acaso ocorria a convertibilidade entre matéria e energia, era inevitável que muitos tivessem virado pó numa explosão, exatamente os que talvez não merecessem mesmo sobreviver. Não se tratava de um dilema humano, ele refletiu indolentemente, coçando-se debaixo da cueca; derivava da própria estrutura da matéria e não havia muito o que fazer.
De modo similar, outros eventos mais pessoais, alguns dos quais bastante estranhos ou intensos, o fascinavam enquanto aconteciam, mas com certo afastamento, como se outra pessoa e não ele estivesse envolvida; mais tarde, não pensava muito neles e sem dúvida não os conectava entre si. Serviam como pano de fundo para as coisas realmente importantes, tal como beber deitado e com frequência, evitar os amigos e o trabalho, não conseguir se concentrar quando chamado a uma conversa, ser incapaz de ler mais que vinte linhas de qualquer texto antes de voltar a divagar, fantasiar, relembrar.
E, quando Darke pediu demissão — o anúncio oficial foi feito dois dias após o início dos trabalhos do comitê de Parmenter —, Stephen visitou Eaton Square porque Thelma lhe telefonou e pediu que fosse. Ele se envolveu não por ser um velho amigo e naturalmente se preocupar, nem por dever favores a Charles e Thelma. Não tomou, ou pareceu não tomar, nenhuma decisão na matéria; seus amigos necessitavam de uma testemunha, alguém a quem pudessem se explicar, capaz de representar o mundo exterior. Embora tenha sido escolhido, Stephen mais tarde questionou a extensão de sua própria passividade; afinal de contas, o casal Darke tinha muitos amigos, porém ele era o único observador adequado do que Charles ia pôr em prática.
Duas horas depois que Thelma telefonou, Stephen decidiu ir a pé de Stockwell para Eaton Square atravessando a Chelsea Bridge. O ar ameno do início da noite deslizava macio pela garganta, e as calçadas na frente dos pubs estavam apinhadas de bebedores de cerveja, bronzeados e falando muito, aparentemente distraídos do mundo. O temperamento nacional tinha sido transformado pela prolongada onda de calor. No meio da ponte, ele parou para ler o jornal vespertino. O pedido de demissão tinha aparecido na primeira página, embora não fosse manchete. Uma matéria destacada no pé da página falava de problemas de saúde, sugerindo, com um toque de escândalo, algum tipo de colapso nervoso. Dizia que o primeiro-ministro estava “vagamente irritado” com o fato de não ter sido avisado com antecedência. Na coluna de notas esparsas, um curto parágrafo afirmava que Darke era muito distante da política, com uma atitude demasiado blasé para aspirar a altos cargos públicos. O primeiro-ministro desconfiava de sua associação prévia com os livros. Somente os amigos íntimos, terminava a matéria, lamentariam muito sua saída. Stephen dobrou o jornal e continuou a travessia da ponte ao reparar que se aproximavam dois mendigos usando casacos compridos apesar do calor.
Muitos anos antes, durante uma noitada num restaurante grego, Darke havia iniciado uma brincadeira de salão. Estava considerando abandonar a direção de um canal de televisão, em que tivera bastante sucesso, para entrar na política. Mas a que partido devia se filiar? Exultante, Darke servia o vinho ao lado de Julie, exibindo-se como um freguês exigente diante do garçom, fazendo o pedido de todos. A conversa, bem-humorada e com um quê cínico, incorporava contudo um elemento de verdade. Darke não tinha convicções políticas, apenas capacidade gerencial e uma grande ambição. Podia aderir a qualquer partido. Uma amiga de Julie, que morava em Nova York, levou a coisa a sério e insistiu que a escolha era entre dar ênfase à dimensão coletiva da experiência ou à sua singularidade. Darke espalmou as mãos e disse que era capaz de argumentar em favor das duas posições: no apoio aos fracos, no encorajamento aos fortes. A questão mais fundamental era — ele fez uma pausa enquanto alguém completou a frase: entre seus conhecidos, quem pode conseguir que o selecionem como candidato? Darke riu mais alto que qualquer um.
Quando o café turco foi servido, já tinha sido decidido que ele deveria fazer sua carreira na direita. Os argumentos eram simples. Os conservadores estavam no poder e provavelmente lá se manteriam. De seus tempos como homem de negócios, Darke conhecia um bom número de pessoas com conexões na máquina partidária. Na esquerda, os métodos de seleção eram tortuosamente democráticos e injustificadamente punitivos para os que nunca haviam pertencido ao partido. “É tudo muito simples, Charles”, disse Julie quando eles saíam do restaurante. “Tudo que você deve temer é o desprezo eterno de todos os seus amigos.” Mais uma vez, Darke soltou uma gargalhada.
No começo houve dificuldades, mas não levou muito tempo para que aparecesse a chance de uma candidatura na área rural de Suffolk, onde ele foi capaz de reduzir pela metade a maioria obtida por seu antecessor graças a algumas observações impensadas sobre porcos. Ele e Thelma venderam o chalé de Gloucestershire onde passavam os fins de semana e compraram outro nas bordas de sua circunscrição eleitoral. A política trouxe para a superfície algo em Darke que a indústria fonográfica, as funções editoriais e a direção do canal de televisão mal haviam tocado. Dentro de semanas, ele começou a aparecer na televisão ostensivamente para comentar alguma irregularidade em sua circunscrição — um aposentado cujo fornecimento de eletricidade tinha sido suspenso morrera de hipotermia. Rompendo a regra tácita, Darke se dirigia à câmera e não ao entrevistador, conseguindo inserir rápidos resumos dos sucessos recentes do governo. Suas palavras eram disparadas como salvas de artilharia. Voltou ao estúdio duas semanas mais tarde para refutar com competência alguma verdade evidente. Os amigos que o tinham ajudado estavam impressionados. Sua atuação foi notada no quartel-general do partido. Num momento em que o governo sofria com a hostilidade de seus próprios membros, Darke mostrou ser um defensor feroz. Dizia coisas que soavam razoáveis e demonstrava preocupação social ao mesmo tempo que advogava que os pobres deviam ser autossuficientes e os ricos deviam receber incentivos. Depois de longas reflexões e mais brincadeiras de salão à mesa do jantar, ele decidiu se pronunciar contra os partidários do enforcamento no debate sobre a pena de morte que ocorria na conferência anual do partido. A ideia era ser duro mas compreensivo, duro e compreensivo. Falou bem sobre o tema numa discussão acerca da lei e da ordem transmitida pelo rádio — merecendo três solenes manifestações de aplauso da plateia presente no estúdio e sendo citado num artigo de relevo do Times.
Durante os três anos seguintes, compareceu a jantares e estudou os campos onde acreditava haver possibilidades de cargos — educação, transporte, agricultura. Manteve-se ocupado. Pulou de paraquedas a fim de angariar fundos para projetos de caridade e quebrou o tornozelo. As câmeras de televisão estavam lá. Participou de um painel de juízes que concedeu um famoso prêmio literário e fez comentários indiscretos acerca do presidente. Foi escolhido para apresentar o projeto de lei que impedia os homens de dirigir devagar junto ao meio-fio para negociar com prostitutas. O projeto não avançou por falta de tempo, porém o tornou popular entre os jornais sensacionalistas. E, durante todo esse tempo, continuou falando, espetando o indicador para cima, expressando opiniões que nunca imaginou ter, desenvolvendo o estilo oracular dos porta-vozes — “Acho que falo por todos nós quando digo…” e “Que ninguém negue…” e “O governo tornou clara sua posição…”.
Escreveu um artigo para o Times passando em revista os primeiros dois anos da mendicância autorizada, que leu em voz alta para Stephen na magnífica sala de estar de Eaton Square. “Com vistas a gerar um setor público de caridade mais ágil e eficiente ao remover a escória da época que antecedeu a essa legislação, o governo se ofereceu, em escala reduzida, um ideal a que devem aspirar suas políticas econômicas. Dezenas de milhões de libras foram poupadas em gastos com proteção social, e um grande número de homens, mulheres e crianças passaram a experimentar tanto os imprevistos quanto as vigorosas satisfações da autossuficiência que são bem familiares à comunidade de homens de negócio deste país.”
Stephen nunca duvidou de que, mais cedo ou mais tarde, seu amigo se cansaria da política e iniciaria nova aventura. Manteve um distanciamento irônico, zombando de Charles por seu oportunismo.
“Se você tivesse decidido ir para o outro lado”, Stephen lhe disse, “estaria agora argumentando com igual paixão em favor da estatização do sistema financeiro, de menores gastos de defesa, da abolição do ensino privado.”
Darke deu um tapa na testa, fingindo estar atônito com a ingenuidade do amigo. “Não seja bobo! Defendi o programa do governo. Uma maioria me elegeu por causa dele. Não interessa o que eu penso. Tenho um mandato — um sistema financeiro mais livre, mais armas, boas escolas particulares.”
“Então você não está aí para pôr em prática suas ideias.”
“Claro que não. Presto um serviço!” E os dois riram antes de voltar a beber.
Na verdade, o cinismo de Stephen escondia uma fascinação com a carreira de Charles. Stephen não conhecia nenhum outro membro do Parlamento. Seu amigo já era bem famoso de um modo modesto, e tinha um monte de histórias de bebedeiras e até mesmo de violência no bar da Câmara dos Comuns, dos pequenos absurdos dos rituais parlamentares, dos malignos mexericos nos gabinetes dos ministros. E quando Darke ganhou um cargo de nível ministerial após três anos de trabalho nos estúdios de televisão e salas de jantar, Stephen ficou realmente empolgado. Ter o velho amigo ocupando um alto posto transformava o governo num processo quase humano, fazendo com que Stephen se sentisse um homem do mundo. Agora uma limusine — embora bem pequena e amassada — ia até Eaton Square todas as manhãs a fim de levar ao trabalho o ministro, que adquirira certo ar de fatigada autoridade. Stephen às vezes se perguntava se seu amigo tinha finalmente sucumbido às opiniões que assumira sem maior esforço.
Foi Thelma quem recebeu Stephen à porta.
“Estamos na cozinha”, ela disse, conduzindo-o através do hall. Depois mudou de ideia e deu meia-volta.
Ele apontou para as paredes nuas, onde retângulos cinzentos e enodoados substituíam os quadros.
“É, o pessoal da mudança começou a trabalhar esta tarde.” Ela o levou à sala de visitas, falando rapidamente em voz baixa. “Charles está muito frágil. Não pergunte nada a ele, não o faça se sentir culpado por te deixar naquele comitê.”
Desde a ascensão política de Darke, Stephen tinha passado mais tempo na companhia de Thelma, sobretudo às noites, e tentava aprender um pouco de física teórica. Ela gostava de fingir que Stephen era mais íntimo dela que o marido, que entre os dois havia um entendimento especial, uma espécie de conspiração. Aquilo nada tinha de traição, e sim de adulação. Era embaraçoso e irresistível. Ele assentiu com a cabeça, como sempre feliz em agradá-la. Charles era o filho difícil de Thelma, e ela havia recrutado a ajuda de Stephen muitas vezes; certa ocasião, para limitar o consumo de álcool pelo ministro na véspera de um debate parlamentar; noutra, para impedi-lo, na mesa de jantar, de provocar um jovem físico amigo dela, socialista.
“Me conta o que aconteceu”, Stephen pediu, mas ela estava caminhando de volta para o ecoante hall e falando num tom de falsa admoestação.
“Acabou de sair da cama? Está muito pálido.”
Ela fez um sinal enérgico com a cabeça quando Stephen protestou, sugerindo que mais tarde iria arrancar a verdade dele. Começaram de novo a cruzar o hall, desceram alguns degraus e passaram por uma porta de baeta verde, algo que Charles mandara instalar pouco depois de ganhar uma posição no governo.
O ex-ministro estava sentado à mesa da cozinha, bebendo um copo de leite. Pôs-se de pé e caminhou na direção de Stephen, enxugando um bigode de leite com as costas da mão. A voz soou leve, estranhamente melodiosa. “Stephen… Stephen, muitas mudanças. Espero que você seja tolerante…”
Havia muito tempo Stephen não via o amigo sem um terno escuro, camisa listrada e gravata de seda. Agora ele vestia uma calça larga de veludo cotelê e uma camiseta branca. Tinha uma aparência mais flexível, mais jovem; sem o enchimento dos ternos feitos à mão, os ombros ganhavam um contorno delicado. Thelma estava servindo uma taça de vinho para Stephen, Charles o conduzia para uma cadeira de madeira. Todos se sentaram com os cotovelos sobre a mesa. Pairava no ar uma calma excitação, notícias demasiado difíceis de serem transmitidas. Thelma disse: “Decidimos que não podemos te contar tudo de uma vez. Na verdade, achamos que seria melhor te mostrar em vez de contar. Por isso, seja paciente, vai saber de tudo mais cedo ou mais tarde. Você é a única pessoa a quem estamos nos abrindo, por isso…”.
Stephen sacudiu a cabeça.
Charles perguntou: “Você viu o noticiário da televisão?”.
“Vi o jornal vespertino.”
“A história é que estou tendo um colapso nervoso.”
“E então?”
Charles olhou para Thelma, que disse: “Tomamos algumas decisões bem ponderadas. Charles está abandonando a carreira e eu pedindo demissão do emprego. Estamos vendendo a casa e nos mudando para o chalé”.
Charles foi até a geladeira e reencheu o copo com leite. Não voltou à sua cadeira, pondo-se atrás de Thelma, uma das mãos pousada de leve no ombro dela. Desde que Stephen a conhecera, Thelma tinha vontade de deixar de ser professora universitária, mudar-se para algum lugar no campo e escrever seu livro. Como teria convencido Charles? Ela estava olhando para Stephen, à espera de uma reação. Difícil não ler uma expressão de triunfo no sorriso ligeiro, difícil seguir as instruções dela e não fazer perguntas.
Stephen se dirigiu diretamente a Charles sem responder a Thelma. “O que é que você vai fazer em Suffolk? Criar porcos?”
Ele deu um sorriso sardônico.
Fez-se silêncio. Thelma deu um tapinha na mão do marido e disse sem virar o rosto na direção dele: “Você prometeu que ia dormir cedo…”. Ele já estava esticando o corpo. Não eram nem oito e meia. Stephen observou seu amigo atentamente, mal podendo acreditar em como ele parecia muito menor, mais magro. Será que as altas funções tinham realmente deixado Charles mais corpulento?
“Sim”, ele estava dizendo, “vou subir.” Beijou a mulher na face e disse para Stephen da porta: “Nós realmente gostaríamos que você fosse nos ver em Suffolk. Vai ser mais fácil explicar”. Ergueu a mão numa saudação irônica e foi embora.
Thelma encheu novamente a taça de Stephen e apertou os lábios num sorriso eficiente. Estava prestes a falar, porém mudou de ideia e se pôs de pé. “Volto num minuto”, ela disse ao atravessar a cozinha. Momentos depois ele a ouviu na escada chamando por Charles e o som de uma porta que se abria e fechava. Depois a casa ficou em silêncio exceto pelo zumbido dos equipamentos de cozinha num registro grave de barítono.
* * *
Um dia depois que Julie partiu para o retiro nas Chilterns, Thelma chegou em meio a uma tempestade de neve para pegar Stephen. Enquanto ele procurava atabalhoadamente no quarto algumas roupas e uma mala para levá-las, ela limpou a cozinha, pôs o lixo num saco e levou para a lata que ficava no lado de fora do prédio. Recolheu os montes de contas não abertas e enfiou na bolsa. No quarto, supervisionou Stephen enquanto ele empacotava suas coisas. Trabalhou com uma eficiência enérgica e maternal, só falando com ele quando necessário. Ele tinha apanhado um número suficiente de pares de meia? Calças? Esse suéter é realmente bem grosso? Levou-o até o banheiro e fez com que escolhesse os itens para levar num saquinho. Onde estava a escova de dentes? Ia deixar crescer a barba? Se não, onde estava o creme de barbear? Não havia nenhuma ação para a qual Stephen pudesse conceber um motivo. Não havia razão para se manter aquecido, usar meias ou ter dentes. Ele era capaz de executar ordens simples desde que não precisasse refletir sobre sua razão de ser.
Seguiu Thelma até o carro, esperou que abrisse a porta do passageiro para ele, e permaneceu sentado sem se mexer no cheiroso banco de couro enquanto ela voltava ao apartamento a fim de desligar a água e o gás. Ficou olhando para a frente, observando os grandes flocos de neve derreterem ao contato com o para-brisas. Vieram-lhe imagens de um melodrama dickenseniano em que sua tiritante filha de três anos abria caminho na neve para chegar em casa, mas então a encontrava trancada e deserta. Deveriam deixar um bilhete na porta para ela?, perguntou a Thelma quando ela voltou. Em vez de argumentar que Kate não sabia ler e não iria mais voltar, Thelma subiu de novo a escada e pregou seu endereço e telefone na porta da frente do apartamento.
Passaram-se semanas esquecidas na tranquilidade atapetada, cercada de mármore e mogno, do quarto de hóspedes do casal Darke. Ele viveu um caos de emoções em meio à ordem impecável das toalhas com monogramas, superfícies enceradas e sem um grão de pó, roupa de cama lavada com aroma de alfazema. Depois, quando ficou mais estável, Thelma permaneceu várias noites a seu lado falando sobre o gato de Schroedinger, o tempo fluindo para trás, o fato de Deus ser destro e outras mágicas quânticas.
Ela pertencia a uma honrosa tradição de mulheres que eram físicas teóricas, embora proclamasse não ter feito uma única descoberta, nem mesmo algo bem insignificante. Seu trabalho consistia em refletir e ensinar. As descobertas, ela dizia, eram agora uma corrida de ratos que significava o fim da ciência, além de ser coisa para os jovens. Tinha ocorrido uma revolução científica neste século e quase ninguém, mesmo entre os cientistas, estava refletindo de modo adequado sobre ela. Durante as noites frias de uma desenxabida primavera, ela se sentava com ele junto à lareira e dizia como a mecânica do quantum iria tornar a física mais feminina, toda a ciência, fazê-la mais suave, menos arrogantemente distanciada das pessoas, mais disposta a participar de um mundo que desejava descrever. Ela tinha alguns tópicos prediletos, temas que desenvolvia a cada oportunidade. O luxo e o desafio da solidão, a ignorância dos supostos artistas, sobre como o maravilhamento bem informado teria de constituir parte integral do equipamento intelectual dos cientistas. A ciência era o filho de Thelma (Charles era o outro) a quem ela dedicava as maiores e mais apaixonadas esperanças, e no qual queria infundir modos mais gentis e um temperamento mais doce. Esse filho estava prestes a crescer e a fazer menores reivindicações sobre seu valor. O período de egotismo frenético e infantil — quatrocentos anos! — chegava ao fim.
Passo a passo, usando metáforas em vez de matemática, ela o conduziu através dos paradoxos fundamentais, o tipo de coisas, ela disse, que seus alunos do primeiro ano deveriam saber: como era possível demonstrar num laboratório que algo podia ser ao mesmo tempo uma onda e uma partícula; como as partículas pareciam “ter consciência” umas das outras, dando a impressão — ao menos em teoria — de comunicarem essa consciência instantaneamente através de imensas distâncias; como o espaço e o tempo não eram categorias separáveis, mas aspectos um do outro, o mesmo ocorrendo com matéria e energia, matéria e o espaço por ela ocupado, movimento e tempo; como a própria matéria não consistia em pedacinhos duros de alguma coisa, mais se assemelhando a um movimento padronizado; como quanto mais a gente sabia sobre alguma coisa em detalhe, menos sabia sobre ela em geral. A vida no magistério lhe inculcara úteis hábitos pedagógicos. Fazia pausas regulares a fim de ver se ele a acompanhava. Ao falar, seus olhos vasculhavam o rosto de Stephen para verificar se nele havia uma concentração total. Inevitavelmente, descobria que ele não apenas tinha deixado de entender, mas se perdera em devaneios nos últimos quinze minutos. Isso, por sua vez, podia suscitar um de seus temas prediletos. Ela apertava o indicador e o polegar contra a testa. Era necessário um pouco de teatro.
“Seu ignorantão!” — era como às vezes chamava Stephen quando ele ajustava o rosto para expressar arrependimento. Talvez esses fossem seus momentos de maior intimidade. “Uma revolução científica, não, uma revolução intelectual, uma explosão emocional e sensual, uma história fabulosa apenas começando a se revelar para nós, e você e gente como você não concedem a isso um segundo do seu tempo com o mínino de seriedade. As pessoas costumavam pensar que o mundo era sustentado por elefantes. Isso não é nada! A realidade, o que quer que signifique essa palavra, se mostra mil vezes mais estranha. O que você quer? Lutero? Copérnico? Darwin? Marx? Freud? Nenhum deles reinventou o mundo e nosso lugar nele de modo tão radical e esquisito quanto os físicos deste século. As pessoas que medem o mundo não podem mais se pôr de fora. São obrigadas também a se medir. Matéria, tempo, espaço, forças — todas ilusões belas e complexas com as quais devemos agora conspirar. Que sacudidela estupenda, Stephen! Shakespeare teria sacado as funções de onda, Donne teria compreendido a complementaridade e o tempo relativo. Eles teriam se empolgado. Que riqueza! Teriam pilhado essa nova ciência para dela extrair suas imagens. E também teriam educado o público. Mas vocês, ‘artistas’, não apenas desconhecem essas coisas magníficas, mas têm bastante orgulho de não saber nada. Pelo visto, vocês devem achar que alguma moda passageira como o modernismo — modernismo! — é a maior conquista intelectual de nossos tempos. Patético! Agora, pare com esse sorriso idiota e faça um drinque para mim.”
Ela apareceu dez minutos depois na porta da cozinha, fazendo sinal para que ele a acompanhasse até a sala de visitas. Dois gigantescos sofás Chesterfield ficavam frente a frente, separados por uma mesinha baixa com tampo de mármore. Uma garrafa térmica fechada e duas xícaras de café tinham sido postas ali por Thelma ou pela empregada. As batalhas navais também haviam sido substituídas por manchas cinzentas retangulares. Ela seguiu seu olhar e disse: “Os quadros e os enfeites vão à parte. Algo a ver com o seguro”.
Acomodaram-se lado a lado como sempre faziam quando Charles trabalhava até tarde no ministério ou na Câmara. Ela jamais levara a sério sua carreira política. Tolerara, com um distanciamento benigno, a agitação na casa enquanto ele avançava e garantia sua posição. O posto no governo tinha ressuscitado na conversa sobre a aposentadoria, sobre seu livro, sobre a vontade de se instalar de vez no chalé. Mas como remover agora Charles, depois que ele se tornara uma pequena figura nacional, depois que um jornalista do Times disse incidentalmente que ele tinha “potencial para ser primeiro-ministro”? Que mágica quântica feminina ela teria usado?
Thelma estava se desvencilhando dos sapatos com a despreocupação de uma adolescente, dobrando as pernas debaixo do corpo. Tinha quase sessenta e um anos. Mantinha as sobrancelhas bem cuidadas. As maçãs do rosto pronunciadas lhe davam um ar vivaz e radiante que lembrava a Stephen um esquilo altamente inteligente. A inteligência brilhava em seu rosto, e a severidade de seus modos tinha sempre um quê de brincadeira, de autogozação. O cabelo grisalho era preso num coque descuidado — de rigueur, ela dizia, para mulheres em seu campo científico —, e mantido no lugar por um pente antigo.
Ela ajeitou alguns fios soltos atrás da orelha, sem dúvida arrumando seus pensamentos metódicos. As janelas estavam abertas de par em par, e através delas vinha o som distante e melodioso do tráfego pesado, bem como os trinados e lamúrias dos carros de patrulha.
“Digamos o seguinte”, ela disse por fim. “Ninguém seria capaz de adivinhar, mas Charles tem uma vida interior. Na verdade, mais do que uma vida interior, uma obsessão íntima, um mundo separado. Você vai ter que acreditar em mim. Na maior parte do tempo ele nega que exista, mas está presente permanentemente, o consome, faz dele o que é. O que Charles deseja — se esta é a palavra —, aquilo de que precisa conflita muito com o que faz, com o que tem feito. São as contradições que o tornam tão frenético, tão impaciente para obter sucesso. Esta mudança, pelo menos no que lhe diz respeito, tem a ver com a necessidade de resolvê-las.” Ela apressou-se a sorrir. “E tem ainda as minhas necessidades, mas essa é outra questão, que aliás você conhece muito bem.” Ela se recostou no sofá, aparentemente satisfeita por ter deixado tudo claro.
Stephen deixou que meio minuto se passasse. “Muito bem, qual é exatamente essa vida interior dele?”
Ela balançou a cabeça. “Sinto muito se isso soa obscuro. Seria melhor que viesse nos visitar. Ver com seus próprios olhos. Não quero explicar antes do tempo.”
Descreveu como pedira demissão do emprego e o prazer que lhe dava a perspectiva de escrever seu livro. Consistiria na elaboração de seus temas prediletos. Ele viu os dois, Thelma no escritório do piso superior com as tábuas que estalavam, sentada à escrivaninha em que os raios do sol faziam luzir os papéis espalhados e de onde, através da janela de gelosias, podia ver Charles em manga de camisa parado junto ao carrinho de mão. Mais além do jardim, telefones tocavam, ministros cruzavam a cidade em limusines a caminho de almoços importantes. Charles, de joelhos, compactava pacientemente a terra na base de um arbusto enfermo.
Mais tarde, ela trouxe uma bandeja de frios. Enquanto comiam, ele descreveu as reuniões do comitê, tentando torná-las mais engraçadas do que eram. A conversa perdeu pique, ficou reduzida a comentários sobre amigos comuns. Lá para o fim, Thelma parecia querer se desculpar, como se receasse que ele pudesse pensar que havia feito uma viagem à toa. Tinha pouca ideia de como ele passava a maior parte de suas noites.
Como não visitaria a casa de novo antes que fosse vendida, ele aceitou o convite para passar a noite lá. Bem antes da meia-noite, Stephen encarava um bem conhecido papel de parede com desenhos de centáureas enquanto, sentado na beira da cama, tirava os sapatos. Considerava os objetos do quarto como seus. Havia passado tanto tempo contemplando-os — a tigela azul de louça vidrada com as flores amassadas sobre uma cômoda de carvalho com enfeites de latão, um pequeno busto de Dante feito de peltre, um pote de vidro com tampa para guardar as abotoaduras. Fora prisioneiro daquele quarto durante três ou quatro catatônicas semanas. Agora, ao tirar as meias e atravessá-lo para abrir um pouco mais as janelas, esperava as piores recordações. Ficar tinha sido um erro. O burburinho constante da cidade não era capaz de mitigar o silêncio pesado que emanava do grosso tapete, das toalhas felpudas no suporte de madeira, das dobras graníticas das cortinas de veludo. Ainda vestido, deitou-se na cama. Aguardava as imagens, as que só podia apagar sacudindo a cabeça.
O que veio não foi a filha exibindo cambalhotas, mas seus pais num momento aleatório de sua última visita. A mãe estava junto à pia da cozinha, com luvas de borracha. O pai, ao lado dela, tinha um copo de cerveja limpo numa mão e um pano de prato na outra. Voltavam-se para vê-lo à porta. Ela manteve uma postura desajeitada, com as mãos ainda na pia. Não queria espuma no chão. Nada de importante aconteceu. Ele achou que seu pai estava prestes a falar. Na posição desconfortável em que se encontrava, sua mãe dobrou a cabeça para o lado preparando-se para ouvir. Stephen também havia adotado esse hábito. Podia ver o rosto dos dois, as expressões bem marcadas de ternura e ansiedade. Era o envelhecimento, as essências de cada um resistindo enquanto os corpos se deterioravam. Ele sentiu a urgência do tempo que se contraía, das tarefas inconclusas. Havia conversas que ainda não tivera com eles e para as quais sempre acreditou que haveria tempo.
Por exemplo, tinha uma recordação não localizada, uma coisinha que só eles poderiam explicar. Estava numa bicicleta, no assento para crianças. À sua frente, as volumosas costas do pai, as dobras e arestas da camisa branca trocando de lugar com a subida e descida dos pedais. À esquerda, a mãe em sua bicicleta. Seguiam por uma estrada pavimentada. A intervalos regulares sentiam um solavanco ao passar pelas finas linhas de asfalto que uniam as seções de concreto. Desmontaram diante de um grande monte de seixos. O mar estava do outro lado, ele podia ouvir seu rugido e estrépito quando começaram a íngreme subida. Não guardava a menor recordação do mar, somente a expectativa medrosa à medida que seu pai o puxava pelo braço até o topo. Mas quando foi isso, e onde? Nunca viveram perto do mar ou passaram férias em praias como aquela. Seus pais nunca possuíram bicicletas.
Quando os visitava agora, a conversa seguia trilhas bem batidas. Era difícil escapar e perseguir os detalhes inúteis e importantes. Sua mãe tinha problemas de visão e sentia dores à noite. O coração do pai produzia murmúrios e palpitava irregularmente. Doenças menores se avolumavam. Havia acessos de gripe de que ele só era informado depois de superados. Um duro desmonte estava em progresso. O telegrama poderia chegar, a sombria chamada telefônica — e ele estaria confrontado com a frustração e a culpa de uma conversa jamais iniciada.
Só quando você é adulto, talvez só quando tem filhos, compreende perfeitamente que seus pais tiveram uma existência completa e intrincada antes de seu nascimento. Ele conhecia apenas esboços e pormenores de histórias — sua mãe numa loja de departamentos elogiada pela perfeição do laço que dava às suas costas; seu pai caminhando por uma cidade arruinada na Alemanha, ou atravessando a pista de um campo de pouso para comunicar oficialmente a vitória ao comandante do esquadrão. Até quando as histórias deles passaram a incluí-lo, Stephen nada sabia sobre como seus pais tinham se conhecido, o que os atraiu, como decidiram se casar, ou como ele tinha aparecido. É difícil certo dia recuar do momento e fazer a pergunta desnecessária e essencial, ou se dar conta de que, embora muito próximos, os pais também permanecem como estranhos para os filhos.
Ele devia isso ao amor que sentia por eles: não deixar que desaparecessem, que tivessem as vidas esquecidas. Estava pronto para levantar-se da cama, sair na ponta dos pés da residência dos Darke e fazer uma longuíssima viagem de táxi durante toda a noite até a casa deles, chegar sobraçando um montão de perguntas, sua súmula de acusação contra os apagamentos devastadores do tempo. Sem dúvida estava pronto, ia pegar uma caneta, deixar um bilhete para Thelma e sair naquele mesmo instante, já procurava as meias e os sapatos. Tudo que o mantinha ali era a necessidade de fechar os olhos e demorar-se em reflexões adicionais.













