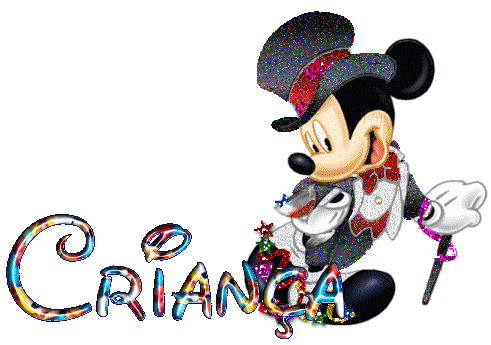Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




A FOGUEIRA DAS VAIDADES
21- O Fabuloso Koala
Nunca antes vira as coisas, as coisas da vida de todos os dias, com tanta clareza. E agora os seus olhos envenenavam-nas a todas, sem excepção!
No Banco de Nassau Street, onde já entrara centenas de vezes, onde o caixa, os empregados e o próprio gerente o conheciam como o digno Mr. McCoy da Pierce & Pierce e o tratavam pelo nome, onde o prezavam tanto que lhe tinham concedido um empréstimo pessoal de 1,8 milhões de dólares para comprar o seu apartamento — onde é que agora ia buscar esse dinheiro? — Oh, meu Deus! — nesse banco observava agora os mais ínfimos pormenores... a moldura em relevo junto à cornija no piso principal... os abajures antigos dos candeeiros de bronze sobre as mesinhas de jogo no meio do átrio... os canelados em espiral nas colunas que suportavam o gradeamento de separação entre o átrio e a zona onde estavam instalados os funcionários... Tudo tão sólido!, tão preciso!, tão ordenado!... e agora tão enganoso!, tão irrisório!... tão desprovido de valor, tão incapaz de lhe oferecer protecção...
Toda a gente lhe sorria sorria. Almas amáveis, deferentes, sem suspeitas... Hoje ainda era Mr. McCoy, Mr. McCoy, Mr. McCoy, Mr. McCoy, Mr. McCoy... Como era triste pensar que naquele local sólido e ordenado... no dia seguinte...
Dez mil em dinheiro... Killian dissera que a fiança tinha de ser paga em dinheiro... A caixa era uma jovem negra, que não teria mais de vinte e cinco anos e vestia uma blusa de gola subida, com um alfinete de ouro... uma nuvem com olhos e boca, soprando o vento... de ouro... Os olhos de Sherman atentaram na estranha tristeza da cara de ouro do vento... Se ele lhe apresentasse um cheque de 10000 dólares, ela levantaria problemas? Seria necessário dar explicações a algum funcionário do banco? E o que é que ele diria? Para pagar uma fiança? O digno Mr. McCoy, Mr. McCoy, Mr. McCoy, Mr. McCoy...
Afinal, a única coisa que ela disse foi: — Sabe que temos que comunicar todas as transacções de 10000 dólares ou mais, não é verdade, Mr. McCoy?
«Comunicar? A um guarda do banco!»
Ela deve ter-se dado conta da sua perplexidade porque acrescentou: — Comunicar ao Governo. Temos de preencher um impresso.
Então ele compreendeu do que se tratava. Era uma norma concebida para identificar os traficantes de droga, que movimentavam sempre grandes quantidades de dinheiro.
— Quanto tempo demora? É coisa que dê muito trabalho?
— Não, é só preencher o impresso. Temos no ficheiro todas as informações de que precisamos, a sua morada e essas coisas.
— Bom... óptimo, então.
— Como é que o quer? Em notas de cem?
— Ah, sim, em notas de cem. — Não fazia a menor ideia do volume que teriam 10000 dólares em notas de cem.
Ela saiu do guichet e regressou logo a seguir com aquilo que parecia um pequeno tijolo de papel com uma tira de papel à volta. — Aqui tem. São cem notas de cem dólares.
Ele sorriu novamente. — É só isso? Não parece grande coisa, pois não?
— Bom... depende. Todas as notas vêm em maços de cem, tanto as de um dólar como as de cem. Quando se vê que as notas são de cem, acho que já faz uma certa impressão.
Poisou a pasta no parapeito de mármore do guichet, abriu a tampa, pegou no tijolo de notas, arrumou-o na pasta, que tornou a fechar, e depois olhou de novo para o rosto da rapariga. Ela sabia, com certeza! Sabia que havia algum motivo sórdido para ele precisar de levantar aquela soma desesperada de dinheiro. Tinha de haver!
A verdade era que o rosto dela não traía aprovação nem desaprovação. Sorria, educadamente, para mostrar a sua boa vontade — e submergiu-o uma vaga de medo. Boa vontade! O que pensaria ela ou qualquer outro negro que amanhã olhasse o rosto de Sherman McCoy...
...do homem que atropelara um jovem negro, um aluno brilhante, e o abandonara à sua sorte!
Ao descer a Nassau Street em direcção à Wall Street, a caminho da Dunning Sponget & Leach, teve um acesso de ansiedade monetária. Aqueles 10000 tinham deixado praticamente a zero a sua conta à ordem. Tinha mais 16000 numa chamada «conta-poupança», que podiam ser transferidos a qualquer momento para a conta à ordem. Era o dinheiro que ele tinha ali à mão para... o que desse e viesse! — para as contas do costume, que tinham de ser pagas todos os meses! Que iam continuar a ter de ser pagas! — umas atrás das outras, como ondas na praia — e agora, como é que ele ia fazer? Teria muito em breve de recorrer ao capital — que também não era muito. Tinha que parar de pensar naquilo. Pensou no pai. Estaria com ele dentro de cinco minutos... Não conseguia imaginar a cena. E não ia ser nada comparado com Judy e Campbell.
Quando entrou no gabinete do pai, este levantou-se da sua cadeira atrás da secretária... mas os olhos envenenados de Sherman fixaram-se no pormenor mais insignificante... mais triste... Mesmo em frente da janela do pai, numa janela do prédio novo, de vidro e alumínio, do outro lado da rua, uma mulher jovem e branca olhava para a rua, lá em baixo, e sondava a cartilagem da orelha esquerda com um clip... uma jovem bastante feia, de cabelo encaracolado, a olhar para a rua e a limpar os ouvidos... Que coisa mais triste... A rua era tão estreita que parecia possível estender o braço e tocar no vidro fumado da janela onde ela se encontrava. O novo edifício mergulhara o pequeno gabinete do seu pai numa perpétua obscuridade. Tinha de ter sempre as luzes acesas. Na Dunning Sponget & Leach, os sócios mais velhos, como John Campbell McCoy, não eram obrigados a reformar-se, mas esperava-se deles que fizessem o que lhes competia, ou seja, que abandonassem os grandes gabinetes com vistas panorâmicas para dar lugar aos colegas de meia-idade ainda na fase ascendente da carreira, advogados de quarenta e tal ou cinquenta e poucos anos, inchados de ambição e sonhos de panoramas ainda grandiosos, de gabinetes mais sumptuosos ainda.
— Entra, Sherman — disse o pai... o velho Leão... com um sorriso, mas num tom ligeiramente receoso. Com certeza tinha percebido pela voz de Sherman ao telefone que aquela não ia ser uma visita como outra qualquer. O Leão... Ainda era uma figura imponente, com o seu queixo aristocrático, o seu cabelo branco e espesso, penteado para trás, o seu fato inglês e a grossa corrente do relógio atravessada na barriga do colete. Mas a sua pele tinha uma aparência frágil e delicada, como se de um momento para o outro aquele corpo leonino fosse mirrar, encarquilhar-se sob as magníficas roupas de veludo. Apontou para a poltrona ao lado da secretária e disse, em tom de brincadeira: — O mercado de obrigações deve andar muito por baixo, para eu receber assim uma visita a meio do dia.
Uma visita a meio do dia — o antigo gabinete do Leão não só ficava num dos cantos do prédio como tinha uma vista esplêndida sobre o porto de Nova Iorque. O prazer que era, em rapaz, ir visitar o papá ao seu gabinete! A partir do instante em que saía do elevador no décimo oitavo andar, ele era Sua Majestade a Criança. Toda a gente, a recepcionista, os sócios mais novos, até os paquetes, sabiam o seu nome e pronunciavam-no como se nada pudesse dar mais alegria aos leais súbditos da Dunning Sponget do que ver o seu rostozinho e o seu queixo aristocrático ainda em botão. Todo o trânsito parecia interromper-se quando escoltavam Sua Majestade a Criança pelo corredor, atravessando depois as várias salas da suite da administração, até chegar ao gabinete do Leão em pessoa, na esquina do prédio, onde a porta se abria e — que maravilha! — o Sol invadia tudo com a sua luz, e o porto espraiava-se lá em baixo para seu deleite. A Estátua da Liberdade, os ferries de Staten Island, os rebocadores, os barcos da Polícia marítima, os cargueiros a entrar nos Narrows, lá ao longe... Que espectáculo — para ele! Que alegria!
Por várias vezes nesse magnífico escritório, pai e filho haviam estado à beira de terem uma verdadeira conversa. Apesar de muito jovem, Sherman apercebera-se de que o pai se esforçava por abrir uma porta no seu formalismo, convidando-o a entrar. Mas nunca soubera fazê-lo. E agora, num abrir e fechar de olhos, Sherman tinha já trinta e oito anos, e essa porta não existia. Como é que havia de pôr o problema? Em toda a sua vida, nunca se atrevera a embaraçar o pai com a menor confissão de fraqueza, e muito menos de decadência moral e vulnerabilidade abjecta.
— Bom, então como vão as coisas na Pierce & Pierce?
Sherman riu sem alegria. — Não sei. Vão andando sem mim. É a única coisa que te posso dizer.
O pai inclinou-se para a frente. — Não vais sair de lá, pois não?
— Num certo sentido, vou sair, sim. — Continuava sem saber como havia de pôr o problema. Por isso, na sua fraqueza, e com uma funda sensação de culpa, decidiu-se pela abordagem de choque, pela exigência brutal de compaixão, que funcionara tão bem com Gene Lopwitz. — Vou ser preso amanhã de manhã.
O pai olhou-o fixamente durante muito tempo, ou pelo menos assim pareceu; a seguir abriu a boca e tornou a fechá-la com um ligeiro suspiro, como que rejeitando todas as reacções humanas habituais de surpresa ou incredulidade quando é anunciada alguma desgraça. O que acabou por dizer, embora fosse perfeitamente lógico, deixou Sherman perplexo.
— Por quem?
— Ora... pela Polícia. Pela Polícia de Nova Iorque.
— Sob que acusação? — O seu rosto traduzia um imenso espanto, uma imensa dor. Oh, não havia dúvida que o atordoara, destruindo, muito provavelmente, a sua capacidade de se enfurecer... mas era uma estratégia tão reles...
— Fazer perigar a vida de terceiros, abandono do local do acidente, não-participação da ocorrência.
— Automóvel — disse o pai, como se falasse consigo mesmo. — E vão-te prender amanhã?
Sherman disse que sim com a cabeça e começou a contar a sua história sórdida, sem deixar de examinar o rosto do pai, e notando, com alívio e remorso, que ele continuava atordoado. Sherman abordou o seu caso com Maria com uma delicadeza vitoriana. Mal a conhecia. Só a tinha visto três ou quatro vezes, em situações perfeitamente inocentes. Não lhe devia ter feito a corte, é claro. Feito a corte.
— Quem é essa mulher, Sherman?
— É casada com um homem chamado Arthur Ruskin.
— Ah, acho que já sei quem é. Ele é judeu, não é verdade?
«Mas o que é que isso interessa?» — É, sim.
— E ela, quem é?
— É de uma terra qualquer da Carolina do Sul.
— Qual era o nome dela de solteira?
«Nome de solteira?» — Dean. Mas não me parece que ela seja propriamente uma Grande Dama Colonial, Pai.
Quando começou a falar das primeiras notícias dos jornais sobre o caso, Sherman percebeu que o pai não estava interessado em saber mais pormenores sórdidos. Tornou a interrompê-lo.
— Quem é que te vai representar, Sherman? Presumo que já terás um advogado.
— Tenho. Chama-se Tommy Killian.
— Nunca ouvi falar. Quem é?
Com um peso no coração: — Pertence a uma firma chamada Dershkin, Bellavita, Fishbein & Schlossel.
As narinas do Leão estremeceram, e os seus músculos da face contraíram-se, como se ele fizesse um esforço para não vomitar. — És capaz de me explicar onde é que foste desencantar essa firma?
— Eles são especialistas em direito criminal. Foi o Freddy Button que mos recomendou.
— O Freddy? Tu deixaste o Freddy... — Abanou a cabeça. Não conseguiu achar palavras para continuar.
— Ele é o meu advogado!
— Eu sei, Sherman, mas o Freddy... — O Leão deitou uma olhadela à porta e depois baixou a voz. — O Freddy é uma excelente pessoa, mas isto é um assunto sério!
— Foste tu que me indicaste o Freddy, pai, há anos e anos!
— Eu sei! Mas não foi para nada assim importante! — Tornou a abanar a cabeça. Surpresa atrás de surpresa.
— Bom, seja como for, vou ser representado por um advogado que se chama Tommy Killian.
— Ah, Sherman! — Um cansaço distante. O mal já está feito. — Só queria que tivesses vindo falar comigo quando isso aconteceu. Agora, neste ponto... bom, mas é o ponto em que estamos, não é? Vamos tentar fazer alguma coisa a partir de agora. De uma coisa tenho eu a certeza. Tens de ser representado pelo melhor advogado que houver. Tens de encontrar alguém em quem confies, implicitamente, porque é a tua sorte que lhes vais pôr nas mãos. Não podes dar-te ao luxo de te meteres com um Dershbein qualquer, ou lá o que é. Vou telefonar ao Chester Whitman e ao Ed LaPrade para os sondar.
Chester Whitman e Ed La Prade? Dois velhos juizes federais que já estavam reformados ou andavam lá muito perto. Eram tão remotas as probabilidades de saberem o que quer que fosse acerca das maquinações de um procurador do Bronx ou de um demagogo de Harlem... E, de repente, Sherman sentiu uma imensa tristeza, não por si mas poraquele velho que ali estava à sua frente, ainda confiado na influência de amizades e conhecimentos que tinham tido o seu peso, sim, mas nos anos 50 e no início dos anos 60...
— Miss Needleman? — O Leão já agarrara no telefone. — Quer fazer o favor de me ligar para o juiz Chester Whitman?... Como?... Bom, está bem. Quando acabar, então. — Poisou o auscultador. Como os outros sócios mais velhos, o pai já não tinha uma secretária só para si. Partilhava-a com uma meia-dúzia de pessoas, e era óbvio que Miss Needleman não saltava assim que o Leão abria a boca. Enquanto esperava, o Leão espreitou pela sua janela solitária, franziu os lábios e pareceu de súbito muito mais velho.
E nesse momento Sherman fez a terrível descoberta que todos os homens fazem, mais tarde ou mais cedo, acerca do pai. Pela primeira vez compreendeu que o homem que tinha à sua frente não era um pai envelhecido mas sim um rapaz, um rapaz como ele próprio, um rapaz que crescera e tivera um filho e que assumira o melhor possível, por sentido do dever e talvez também por amor, um papel chamado «ser pai», para que esse filho tivesse na vida uma coisa mítica e imensamente importante: um Protector que o resguardaria de todas as eventualidades caóticas e catastróficas da vida. E agora esse rapaz, esse excelente actor, estava velho e frágil e cansado, mais cansado que nunca, com a ideia de ter de envergar uma vez mais a armadura do Protector, agora, já tão próximo do fim.
O Leão desviou os olhos da janela e fitou Sherman e sorriu, com uma expressão que Sherman interpretou como um misto de embaraço e afabilidade.
— Sherman — disse — tens de me prometer uma coisa. Não vais desanimar. Preferia que tivesses vindo falar comigo mais cedo, mas não interessa. Podes contar com todo o meu apoio, e com o apoio da mãe. Faremos por ti tudo o que pudermos.
Por um momento, Sherman julgou que ele estava a falar de dinheiro. Mas, pensando melhor, percebeu que não era isso. Pelos padrões do resto do mundo, do mundo exterior a Nova Iorque, os seus pais eram ricos. Mas, na realidade, o que tinham chegava apenas para gerar o rendimento que lhes permitia sustentar a casa da Rua 73 e a de Long Island, pagar aos empregados que trabalhavam alguns dias por semana em ambas as casas e cobrir as despesas de rotina que garantiam o seu estatuto aristocrático. Mas reduzir-lhes o capital seria como abrir-lhes as veias. Não podia fazer semelhante coisa ao homem grisalho e bem-intencionado que tinha ali à suafrente, naquele gabinetezinho acanhado. Aliás, estava longe de ter a certeza que era isso que lhe estavam a oferecer.
— E a Judy? — perguntou o pai.
— A Judy?
— Como é que ela reagiu a isto tudo?
— Ela ainda não sabe.
— Não sabe?
— Não, não sabe de nada.
O rosto do velho rapaz grisalho ficou sem o menor vestígio de expressão.
Quando Sherman pediu a Judy que fosse com ele para a biblioteca, a sua intenção, a sua intenção consciente, era ser completamente honesto. Mas assim que abriu a boca deu pela presença do seu duplo secreto e incómodo, o dissimula-dor. Foi o dissimulador que deu à sua voz aquele tom solene de barítono e apontou a poltrona de orelhas a Judy como o teria feito o director de uma agência funerária; foi ele quem fechou a porta da biblioteca com determinação lúgubre e depois fez meia volta e uniu as sobrancelhas acima do nariz para que Judy percebesse, antes de ele dizer fosse o que fosse, que a situação era grave.
O dissimulador não se sentou à secretária — seria uma atitude demasiado formal — mas sim na poltrona. E disse:
— Judy, peço-te que tentes dominar-te. Eu...
— Se me vais falar da tua não sei quantas, não vale a pena. Não fazes ideia do pouco que isso me interessa.
Estarrecido: — Da minha quê?
— Da tua... amante... se é que é disso que vais falar, aviso-te que não quero saber de nada.
Ficou a olhar para ela de boca aberta, dando voltas à cabeça em busca de alguma coisa para dizer: «Isso é só uma parte do que eu tenho para te dizer»... «Ainda se fosse só isso»... «Desculpa, mas acho que vais ter de me ouvir»... «As coisas já foram mais longe»... Tudo tão coxo, tão mal alinhavado — que se decidiu uma vez mais pela bomba. Sim, ia deixar cair a bomba em cheio sobre ela.
— Judy... eu vou ser preso amanhã de manhã.
Deu resultado. O rosto dela perdeu logo aquela expressão condescendente. Deixou descair os ombros. Agora era apenas uma mulher pequenina num grande cadeirão.
— Preso?
— Lembras-te da noite em que vieram cá a casa os dois detectives? Por causa daquela história que aconteceu no Bronx?
— Foste tu?
— Fui eu.
— Não acredito!
— Infelizmente é verdade. Fui eu.
Tinha conseguido. Ela estava profundamente abalada. Tornou a sentir-se reles e culpado. Mas as dimensões da sua catástrofe sobrepunham-se uma vez mais às considerações de ordem moral.
Começou a contar a sua história. Até as palavras lhe saírem da boca, era sua intenção ser absolutamente verídico no que dizia respeito a Maria. Mas... de que é que isso serviria? Para quê deixar a mulher completamente devastada? Para quê apresentar-lhe um marido completamente odioso? Por isso disse-lhe que tinha sido apenas um vago namoro. Só conhecia aquela mulher há três semanas.
— Disse-lhe que a ia buscar ao aeroporto. Propus-lhe isso, assim, de repente. Bom, provavelmente... acho que as minhas intenções não seriam das mais honestas... não vou estar a enganar-te nem a enganar-me a mim próprio... mas, Judy, juro-te que nem sequer cheguei a beijar essa mulher, quanto mais a ser amante dela. Depois aconteceu esta coisa incrível, este pesadelo, e não a tornei a ver desde essa altura, a não ser uma vez, quando dei por mim, de repente, sentado ao lado dela em casa dos Bavardages. Judy, juro por Deus que não houve mais nada.
Examinou a expressão dela para ver se ela por acaso teria acreditado. Mas aquele rosto não traduzia nada, só atordoamento. Continuou a falar.
— Eu sei que devia ter-te contado isto tudo na altura. Mas foi logo a seguir àquele estúpido telefonema que eu fiz. Por isso eu sabia que tu ias pensar que eu tinha uma história com essa mulher, o que não era verdade. Judy, eu devo tê-la visto umas cinco vezes ao todo, e sempre em público. Quer dizer, mesmo tê-la ido buscar ao aeroporto foi uma situação pública.
Calou-se e tentou sondá-la uma vez mais. Nada. O silêncio dela esmagava-o. Sentia-se obrigado a substituir por palavras suas as que ela não dizia.
Continuou a falar acerca dos artigos do jornal, dos seus problemas no emprego, de Freddy Button, de Thomas Killian, de Gene Lopwitz. E assim que começava a explicar uma coisa o seu espírito saltava para a seguinte. Devia ou não contar-lhe a conversa que tivera com o pai? Talvez conquistasse assim a simpatia dela, fazendo-a perceber como sofrera com a situação. Não! Podia ficar zangada por saberque ele tinha falado primeiro ao pai... Mas antes de chegar a esse ponto, apercebeu-se de que ela já não o ouvia. O seu rosto tomara uma expressão estranha, quase sonhadora. Depois desatou a rir baixinho. O único som que se ouvia era uma espécie de glu glu glu glu vindo do fundo da sua garganta.
Chocado e ofendido: — Não me digas que achas graça!
Com um sorriso quase imperceptível: — É de mim que eu estou a rir. Passei o fim de semana mal disposta a pensar na... na triste figura que tu tinhas feito em casa dos Bavar-dages. Tinha medo que isso diminuísse as minhas hipóteses de ser escolhida para organizar a gala do museu.
Apesar de tudo o resto, Sherman sentiu-se desgostoso ao saber que fizera uma triste figura em casa dos Bavardages.
Judy disse: — Tem a sua graça, não te parece? Eu toda preocupada com a gala do museu?
Entredentes: — Tenho muita pena de estar a prejudicar as tuas ambições.
— Sherman, agora quero que me oiças tu a mim. — Disse aquilo com uma afabilidade tão calma, tão maternal, que ele sentiu um arrepio. — Não estou a reagir como uma boa esposa, pois não? Eu bem queria. Mas não é possível. Eu bem queria oferecer-te o meu amor, ou se não o meu amor, a minha... sei lá!... a minha solidariedade, o meu apoio, o meu consolo. Mas não consigo. Nem sequer consigo fingir. Tu não me deixaste chegar perto de ti. Percebes? Não me deixaste chegar perto de ti. Enganaste-me, Sherman. Sabes o que significa enganar uma pessoa? — Fez esta pergunta com a mesma afabilidade maternal com que dissera o resto.
— Enganei-te? Meu Deus, foi um simples namoro, se é que chegou a ser alguma coisa. Se tu... fizeres olhinhos a uma pessoa... podes dizer que me estás a enganar, se quiseres, mas eu não usaria uma palavra tão forte.
Ela tornou a arvorar o mesmo sorrisinho e abanou a cabeça. — Sherman, Sherman, Sherman.
— Juro que é verdade.
— Oh, eu não sei o que é que fizeste com a tua Maria Ruskin, nem me interessa. A sério que não me interessa. Isso ainda seria o menos grave, mas não me parece que tu sejas capaz de compreender.
— O menos grave de quê?
— Do que tu me tens feito, e não tem sido só a mim. Do que me tens feito a mim e à Campbell.
— À Campbell?
— À tua família. Nós somos uma família. Esta coisa, esta coisa que nos afecta a todos, aconteceu há duas semanas, e tu não disseste nada. Escondeste-me tudo. Estiveste sentado aqui ao meu lado, nesta mesma sala, a ver o noticiário, a manifestação, e não disseste uma palavra que fosse. Depois a Polícia veio a nossa casa — a nossa casa! — e eu até te perguntei porque é que era aquele teu estado de nervos, e tu fingiste que era tudo uma coincidência. E depois — nessa mesma noite — ficaste sentado ao lado da tua... da tua amiga... da tua cúmplice... da tua parceira... Diz-me tu como é que lhe hei-de chamar... e continuaste sem dizer nada. Deixaste-me na ilusão de que não havia problema nenhum. Deixaste-me continuar a alimentar os meus sonhos idiotas, e deixaste a Campbell continuar a ter os seus sonhos de criança, sonhos de ser uma menina normal numa família normal, de brincar com as amigas, de fazer os seus coelhi-nhos, as suas tartarugas e os seus pinguins. Na noite em que o mundo tomava conhecimento da tua escapadela, a Campbell esteve-te a mostrar um coelho de barro. Lembras-te? Lembras? E tu foste lá vê-lo e disseste aquelas coisas que se espera que um pai diga! E agora chegas a casa — de repente, os olhos dela encheram-se de lágrimas — chegas a casa ao fim do dia e dizes-me que... vais... ser... preso... amanhã... de manhã.
A frase saiu entrecortada pelos soluços. Sherman pôs-se de pé. Devia tentar abraçá-la? Ou ainda pioraria as coisas se o fizesse? Deu um passo em direcção a ela.
Ela endireitou-se na cadeira e ergueu as mãos à sua frente, num gesto muito delicado e hesitante.
— Não — disse baixinho. — Deixa-te estar aí e ouve o que eu tenho para te dizer. — Tinha as faces sulcadas de lágrimas. — Eu vou tentar ajudar-te, e à Campbell, em tudo o que estiver ao meu alcance. Mas não te posso dar o meu amor, nem te posso dar ternura. Não sou assim tão boa actriz. Quem me dera sê-lo, porque tu vais precisar bastante de amor e ternura, Sherman.
Sherman disse: — Não me podes perdoar?
— Acho que sim, que podia — disse ela. — Mas isso mudava alguma coisa?
Ele ficou sem resposta.
Falou com Campbell no quarto dela. Só o facto de ali entrar já lhe partia o coração. Campbell estava sentada à sua mesa (uma mesa redonda coberta por uns oitocentos dólares de tecido de algodão Laura Ashley, às florinhas, e tendosobre o tampo um vidro especialíssimo que custara 280 dólares), ou melhor, estava quase em cima da mesa, com a cara praticamente colada ao vidro, a escrever com um grande lápis cor-de-rosa. Era o quarto perfeito para uma menina. Havia bonecas e animais de pelúcia empoleirados por toda a parte. Havia-os nas estantes branco-esmaltado com pilastras caneladas e nas duas cadeiras de toucador em miniatura (mais tecido às florinhas de Laura Ashley). Havia-os encostados à cabeceira entrançada da cama Chippendale e aos pés da cama, sobre a bem estudada pilha de almofadas de folhos e nas duas mesinhas de cabeceira redondas com mais uma fortuna em tecido caindo até ao chão. Sherman nunca regateara um cêntimo sequer das espantosas somas de dinheiro que Judy gastara naquele quarto, e também não lamentava agora o modo como esse dinheiro fora empregue. O que lhe partia o coração era ter agora de encontrar palavras para explicar a Campbell que o mundo de sonho daquele quarto tinha acabado, muitos anos mais cedo do que ele desejaria.
— Olá, minha querida, o que é que estás a fazer? Sem erguer os olhos: — Estou a escrever um livro.
— Um livro! Isso é uma maravilha. Um livro sobre quê? Silêncio; sem erguer os olhos; embrenhada no seu
trabalho.
— Minha querida, eu queria falar contigo de uma coisa, uma coisa muito importante.
Ela então olhou-o. — Papá, podes-me fazer um livro? Fazer um livro ? — Fazer um livro? Não sei se estou a perceber bem o que tu queres dizer.
— Fazer um livro! — Um pouco exasperada por ele se mostrar tão obtuso.
— Queres dizer fabricar um livro a sério? Não, isso só se pode fazer numa fábrica.
— A Mackenzie vai fazer um. O pai dela está a ajudá-la. E eu também quero fazer um.
Garland Reed e os seus malditos «livros». Evitando uma resposta directa: — Bom, primeiro tens de escrever o teu livro.
Grande sorriso: — Já escrevi! — Apontou para a folha em cima da mesa.
— Escreveste? — Sherman nunca corrigia directamente os erros de gramática da filha.
— Pois! Ajudas-me ou não a fazer o meu livro? Desalentadamente, tristemente: — Bom, vou tentar.
— Queres ler?
— Campbell, eu tenho que te falar de uma coisa muito importante. Queria que prestasses muita atenção ao que eu te vou dizer.
— Queres ler o meu livro?
— Campbell... — Um suspiro; sentia-se impotente ante o egocentrismo da filha. — Quero. Gostava imenso de ler o teu livro.
Cheia de modéstia: — Não é muito grande. — Juntou duas ou três folhas de papel e estendeu-lhas. Em letras grandes, bem desenhadas:
O KOALA
por Campbell McCoy
Era uma vez um koala chamado Kelly. Ele vivia na floresta e tinha muitos amigos. Um dia um omem foi passear para a floresta e comeu a comida do Kelly.
Ele ficou muito triste. Ele queria ver a cidade. Kelly veio para a cidade. Ele também queria ver os prédios. Assim que ele ia a agarrar a massaneta para abrir uma porta, apareceu um cão a correr! Mas não apanhou o Kelly. O Kelly saltou pela janela, e por engano fez tocar o alarme. Então vieram muitos carros da políssia, a apitar. Kelly ficou cheio de medo. Mas conseguiu escapar.
Depois uma pessoa apanhou o Kelly e levou-o para o Jardim Zulógico. Agora o Kelly gosta muito do Jardim Zulógico.
Sherman sentia a cabeça prestes a estalar. Aquilo era sobre ele! Por um instante perguntou a si próprio se, de alguma maneira inexplicável, ela poderia ter adivinhado... captado as vibrações do perigo... que talvez já impregnassem a atmosfera daquela casa... Por engano fez tocar o alarme. Então vieram muitos carros da polícia... Não era possível, e no entanto estava ali!
— Gostaste?
— Sim... ah!... eu...
— Papá? Gostaste?
— É uma maravilha, minha querida. Tens muito talento... Não há muitas meninas da tua idade... não há muitas... é uma maravilha...
— Então sempre me ajudas a fazer o livro?
— Eu... eu tenho que te dizer uma coisa. O.K.?
— O.K. Mas gostaste mesmo?
— Gostei, gostei imenso. Campbell, agora queria que prestasses atenção. O.K.? Olha, Campbell, tu deves saber que as pessoas nem sempre dizem a verdade sobre as outras pessoas.
— A verdade?
— Às vezes as pessoas dizem coisas más, e que não são verdade.
— O quê?
— Às vezes as pessoas dizem coisas más sobre outras pessoas, coisas que não se deviam dizer, coisas que fazem a outra pessoa ficar muito triste. Percebes o que eu te estou a dizer?
— Papá, achas que eu faça um desenho do Kelly para o livro?
Kelly? — Por favor, presta atenção, Campbell. Isto é importante.
— Estáááááá beeeeem! — Um suspiro de desânimo.
— Lembras-te de uma vez que a Mackenzie disse de ti uma coisa que não era nada simpática, e que não era verdade?
— A Mackenzie? — Agora sim, conseguira captar-lhe a atenção.
— Sim. Não te lembras, quando ela disse que tu... — Por muito que se esforçasse, não se lembrava do que Mackenzie tinha dito. — Acho que disse que não eras amiga dela.
— A Mackenzie é a minha melhor amiga, e eu sou a melhor amiga dela.
— Eu sei. É isso mesmo que eu te estou a explicar. Ela disse uma coisa que não era verdade. Não foi por mal, mas disse, e às vezes as pessoas fazem coisas assim. Dizem coisas que magoam as outras pessoas, e nem sempre fazem por mal, mas dizem, e magoam os outros, que é uma coisa que não se faz.
Insistindo: — E não são só as crianças. Às vezes os crescidos também fazem isso. As pessoas crescidas também podem ser muito más, às vezes. Muito más, mesmo. Agora, Campbell, presta atenção. Há umas pessoas que andam a dizer coisas muito más acerca de mim, coisas que não são verdade.
— Andam?
— Pois andam. Dizem que eu atropelei um rapaz com o meu carro e o magoei muito. Campbell, olha para mim. Quero que saibas que isso não é verdade. Eu não fiz nada disso, mas há pessoas más que dizem que sim, agora o que tu tens de saber é que não é verdade. Mesmo que te digam que é verdade, tu sabes que não é.
— Então porque é que não lhes dizes que não é verdade?
— Eu vou dizer, mas essas pessoas talvez não queiram acreditar em mim. Há pessoas más que gostam de acreditar que as outras pessoas também fizeram coisas más.
— Mas porque é que não lhes dizes?
— Eu vou-lhes dizer. Mas essas pessoas vão pôr coisas feias nos jornais e na televisão, e toda a gente vai acreditar nelas, porque vão ler nos jornais e ver na telrvisão que foi assim. Mas não é verdade. E eu não me importo com o que eles pensam, mas importo-me com o que tu pensas, Campbell, porque gosto muito de ti, e quero que saibas que o teu papá é uma pessoa boa que não fez o que essa gente diz que ele fez.
— Vais aparecer nos jornais e na televisão?
— Parece-me que sim, Campbell, infelizmente. Talvez apareça já amanhã. E as tuas amigas no colégio talvez te digam alguma coisa sobre isso. Mas tu não lhes vais ligar, porque sabes que aquilo que vem nos jornais e na televisão não é verdade. Sabes, não sabes, minha querida?
— Quer dizer que vais ser famoso?
— Famoso?
— Vais ficar na história, papá?
Na história? — Não, Campbell, não vou ficar na história. Vou é ser espezinhado, amesquinhado, arrastado na lama.
Sabia que ela não perceberia uma palavra. Foi uma coisa que lhe saiu, assim, como consequência da frustração de tentar explicar o mundo da imprensa a uma criança de seis anos.
Mas alguma coisa na expressão do seu rosto ela percebeu. Com toda a seriedade e ternura, olhou-o nos olhos e disse:
— Não te rales, papá. Eu gosto de ti.
— Campbell...
Tomou-a nos braços e enterrou-lhe a cabeça no ombro para esconder as lágrimas.
Era uma vez um koala e um lindo quartinho onde viviam e dormiam o sono confiante dos justos muitas cria-turinhas amáveis e macias, que doravante não mais poderiam dormir assim.
22 - Amendoins de Esferovite
Sherman virou-se para o lado esquerdo, mas em breve sentiu uma dor no joelho esquerdo, como se o peso da perna direita lhe fizesse parar a circulação. O seu coração batia um pouco mais depressa que o habitual. Voltou-se para o lado direito. Sem saber muito bem como, acabou por ficar com a mão direita debaixo da face direita. Dir-se-ia que precisava de segurar a cabeça, que a almofada não bastava, mas isso não fazia sentido, e, fosse como fosse, como é que ia conseguir adormecer com a mão debaixo da cabeça? Um bocadinho mais depressa, só um bocadinho... Não era nenhum tropel... Tornou a virar-se para o lado esquerdo e depois deitou-se de barriga para baixo, mas assim doíam-lhe os rins, por isso voltou a rolar para o lado direito. Geralmente dormia sobre o seu lado direito. Agora o coração batia mais depressa. Mas as pulsações eram regulares. Ainda estava tudo sob controlo.
Resistiu à tentação de abrir os olhos para avaliar a intensidade da luz que entrava por baixo das persianas. A fresta ia clareando à medida que se aproximava a manhã, por isso, naquela altura do ano, era fácil saber se ainda faltava muito para as 5 e meia ou 6 da manhã. E se já fosse manhã clara? Mas não era possível. Não podiam ser mais de três horas, na pior das hipóteses 3.30. Mas talvez ele tivesse dormido uma hora ou mais, sem dar por isso! — e se a linha luminosa...
Não conseguiu resistir mais tempo. Abriu os olhos. Graças a Deus; escuro ainda; ainda estava em segurança.
Nesse momento — o coração fugiu ao seu controlo. Começou a bater a uma velocidade incrível e com toda a força, tentando evadir-se da caixa torácica. Fazia tremer o seu corpo inteiro. O que é que importava ter ainda algumas horas para ficar ali a contorcer-se na cama ou ver-se já a luz da manhã pela fresta das persianas, indicando que era chegado o momento...
Vou para a cadeia.
Com o coração a bater e os olhos abertos, tinha agora aguda consciência de se encontrar sozinho naquela cama enorme. Ondas de seda desciam do tecto aos quatro cantos da cama. Tinha custado mais de 125 dólares a jarda, aquela seda. Era a melhor aproximação que Judy, a Decoradora, conseguira de um quarto de cama real do séculoXVIII. Real! Como todo o quarto parecia rir-se dele, pedaço palpitante de carne e de medo, a tremer na cama no meio da noite!
Vou para a cadeia.
Se Judy estivesse ali ao seu lado, se não tivesse ido dormir para o quarto de hóspedes, tê-la-ia abraçado, ter-se-ia agarrado a ela como se disso dependesse a sua vida. Queria abraçá-la, ansiava por abraçá-la...
No instante seguinte: Mas de que é que serviria? De nada, absolutamente. Fá-lo-ia sentir-se ainda mais fraco e impotente. Estaria ela a dormir? E se ele fosse até ao quarto de hóspedes? Ela muitas vezes dormia deitada de costas, como uma estátua jacente, como a estátua de... Não se lembrava de quem era a estátua. Via perfeitamente o mármore amarelado e as pregas da mortalha que cobria o corpo — alguém célebre, muito amado e morto. Bom, ao fundo do corredor, Campbell, pelo menos, dormia. Disso tinha a certeza. Fora espreitar ao quarto dela e ficara um minuto a olhá-la, como se fosse a última vez que a veria. Ela dormia com os lábios ligeiramente entreabertos, de corpo e alma abandonados à segurança e à paz da sua casa e da sua família. Adormecera quase logo a seguir à conversa. Nada do que ele lhe dissera era real... prisão... jornais... «Vais ficar na história?»... Se ao menos soubesse o que ela estava a pensar! Dizem que as crianças percebem muito mais coisas do que uma pessoa julga, pelo tom de voz, pela expressão do rosto... Mas Campbell só parecia ter compreendido que ia acontecer uma coisa triste e inesperada, e que o pai estava muito infeliz. Completamente isolada do mundo... no seio da sua família... de lábios ligeiramente entreabertos... ao fundo do corredor...
Por amor a ela, tinha de se dominar. E, pelo menos de momento, conseguiu. O seu coração abrandou de ritmo. Retomou o controlo do seu corpo. Seria forte, por ela, mesmo que não houvesse no mundo mais ninguém por quem ser forte. Sou um homem. Quando fora preciso lutar, lutara. Lutara na selva, e vencera. O instante de fúria em que atirara o pneu àquele... brutamontes... O brutamontes estendido no chão... Henry!... Se fosse necessário, tornaria a lutar. E seria tudo assim tão mau, no fundo?
Na noite anterior, ao falar com Killian, resolvera muito bem o problema na sua cabeça. Não ia ser tão mau como isso. Killian explicara-lhe tudo, passo a passo. Seria uma formalidade, não muito agradável, é certo, mas apesar de tudo muito diferente de ir para a cadeia. Não seria uma prisão como as outras. Killian trataria disso, Killian e o seu amigo Fitzgibbon. Um contrato. Não seria uma prisão como as outras, não seria uma prisão como as outras; agarrava-se àquela frase com todas as suas forças. Se não seria assim, seria como, então? Tentou imaginar o que ia acontecer, e quando deu por isso já o seu coração corria, voava, apavorado, desvairado de medo.
Killian combinara que os dois detectives, Martin e Goldberg, passariam a buscá-lo às sete e meia da manhã, a caminho do trabalho, pois no dia seguinte entravam ao serviço no turno das oito. Viviam os dois em Long Island, e vinham todos os dias de carro para o Bronx, por isso fariam um desvio para o apanhar na Park Avenue. Killian já lá estaria quando eles chegassem, iria com eles ao Bronx e estaria presente quando o prendessem — e tudo isto era um tratamento de favor.
Ali estendido na cama, com cascatas de seda de 125 dólares a jarda a cada canto, fechou os olhos e tentou pensar como as coisas se passariam. Entraria no carro com os dois detectives, o pequenino e o gordo. Killian estaria com ele. Seguiriam pela via rápida FDR até ao Bronx. Os detectives conduzi-lo-iam sem demoras ao Registo Central, logo no início do turno da manhã, e ele cumpriria todas as formalidades antes que começasse a enchente do dia. O Registo Central — mas o que era isso? Na noite anterior fora um nome que Killian dissera com o ar mais natural deste mundo. Mas agora, ali deitado, apercebia-se de que não tinha a menor ideia de como seria. As formalidades — que formalidades? As formalidades de ser preso! Apesar de tudo o que Killian se esforçara por lhe explicar, era inimaginável. Tirar-lhe-iam as impressões digitais? Como? E as impressões seriam enviadaspara Albany por computador. Porquê? Para verificar, sem margem para dúvida, se não haveria outros mandatos de captura em seu nome. Que diabo, mas isso já deviam eles saber! Até chegar a resposta de Albany, também por computador, ele teria de esperar lá em baixo numa cela. A palavra que Killian empregava era «gaiola». Gaiola!) — para que espécie de animais! Como se lhe lesse os pensamentos, Killian dissera-lhe para não se afligir com as coisas que muitas vezes se lêem acerca das prisões. A expressão que não chegou a ser dita era violação homossexual. As «gaiolas» eram celas temporárias para pessoas que acabavam de ser presas e estavam à espera de serem formalmente acusadas. Uma vez que eram raras as prisões às primeiras horas da manhã, até era possível que ele tivesse uma cela só para ele. Quando chegasse o relatório seria levado «lá acima», à presença de um juiz. Lá acima! Mas o que é que isso queria dizer? Acima em relação a quê? Declarar-se-ia inocente e seria posto em liberdade mediante o pagamento de 10000 dólares de fiança — amanhã — dentro de poucas horas — quando a luz começar a entrar por baixo da persiana...
Vou para a cadeia — como o homem que atropelou um promissor estudante negro e o abandonou à sua sorte!
Agora o seu coração batia violentamente. Tinha o pijama húmido de suor. Tinha que parar de pensar. Tinha que fechar os olhos. Tinha que dormir. Tentou concentrar-se num ponto imaginário entre os seus olhos. Atrás das pálpebras... uma espécie de filme... formas sinuosas... um par de mangas tufadas... que se transformaram numa camisa, a sua camisa branca. Não leve vestido nada muito bom, dissera Killian, porque as celas às vezes estão imundas. Mas, apesar de tudo, um fato e uma gravata, claro, porque aquilo não era uma prisão como as outras, não era uma prisão como as outras... O fato velho de tweed azul-acinzentado, aquele mandado fazer em Inglaterra... uma camisa branca, uma gravata lisa, azul-marinho, ou talvez a outra azul às pin-tinhas... Não, a gravata lisa, que seria correcta mas não vistosa de mais — para ir para a cadeia!
Abriu os olhos. A seda descia do tecto em grandes vagas. — Vê se te dominas! — Disse isto em voz alta. Não, não podia ser mesmo verdade. Vou para a cadeia.
(1) A palavra empregue no original é pen, que além de ser o termo de gíria para «cela de prisão» significa também cercado para animais, curral, chiqueiro. (N. do T.)
Por volta das cinco e meia, quando a luz sob a persiana ganhou uma tonalidade amarela, Sherman desistiu da ideia de dormir, ou mesmo de descansar, e levantou-se. Para sua surpresa, sentiu-se um pouco melhor com isso. O seu coração batia depressa, mas o pânico estava sob controlo. Sempre ajudava estar a fazer alguma coisa, ainda que fosse apenas tomar um banho e vestir o fato de tweed azul-acinzentado com a gravata azul... o meu trajo de prisão. O rosto que viu no espelho não tinha um ar tão cansado como ele se sentia. O queixo de Yale; pelo menos parecia forte.
Queria tomar o pequeno-almoço e sair do apartamento antes que Campbell se levantasse. Não tinha a certeza de conseguir ser suficientemente corajoso diante dela. E também não queria ter de falar com Bonita. Seria demasiado embaraçoso. Quanto a Judy, não sabia bem o que queria. Não queria ver a expressão dos olhos dela, que era a expressão apática de uma pessoa traída mas também chocada e assustada. E, no entanto, queria ter a sua mulher consigo. Na realidade, mal tivera tempo de tomar um sumo de laranja quando Judy entrou na cozinha, já vestida e arranjada. Não tinha dormido muito mais do que ele. Instantes depois Bonita veio da ala dos criados e começou silenciosamente a preparar-lhes o pequeno-almoço. Em breve Sherman ficou satisfeito por Bonita ali estar. Não sabia o que dizer a Judy. Com Bonita presente era óbvio que não podia dizer grande coisa. Mal conseguiu comer. Tomou três chávenas de café, na esperança de aclarar as ideias.
Às 7 e 15 o porteiro comunicou pelo telefone que Mr. Killian estava lá em baixo. Judy acompanhou Sherman até à galeria da entrada. Ele parou e olhou-a. Ela esboçou um sorriso de encorajamento, mas só conseguiu dar ao seu rosto um ar de enorme cansaço. Em voz baixa mas firme, disse: — Sherman, tens de ser corajoso. Lembra-te de quem és. — Abriu a boca como se fosse dizer mais alguma coisa, mas não disse.
E era tudo! Era o melhor que ela era capaz de fazer! Eu bem tento ver em ti mais alguma coisa, Sherman, mas já não resta mais nada além da casca, a tua dignidade!
Ele fez que sim com a cabeça. Não conseguiu dizer uma única palavra. Virou costas e encaminhou-se para o elevador.
Killian estava debaixo do toldo, em frente à porta do prédio. Vestia um fato cinzento às riscas, sapatos castanhos de camurça e chapéu de feltro castanho. (Como é que tem o descaramento de se apresentar tão elegante no dia da minhadesgraça?) A Park Avenue tinha uma tonalidade pardacenta, de cinza. O céu estava escuro. Parecia prestes a começar a chover... Sherman apertou a mão de Killian, depois andou uns vinte pés pelo passeio, para o porteiro não poder ouvir o que dissessem.
— Como é que se sente? — perguntou Killian. Fez-lhe a pergunta como a faria a um doente.
— O melhor possível — disse Sherman, com um sorriso de desânimo.
— Não vai ser assim tão mau, garanto-lhe. Tornei a falar com o Bernie Fitzgibbon ontem à noite, depois de falar consigo. Ele vai fazer por o despachar o mais rapidamente possível. O sacana do Abe Weiss, também, é um perfeito cagarola. Ficou em pânico com esta publicidade toda. Senão, nem mesmo um idiota como ele fazia uma coisa destas.
Sherman limitou-se a abanar a cabeça. Na sua situação, já pouco lhe importava especular acerca da mentalidade de Abe Weiss. Vou para a cadeia!
Pelo canto do olho, Sherman viu um carro encostar ao passeio perto deles, e depois viu o detective, Martin, ao volante. O carro era um Oldsmobile Cutlass de duas portas, razoavelmente novo, e Martin vinha de fato e gravata, por isso talvez o porteiro não percebesse do que se tratava. Oh, mas não tardariam a saber do caso, todos os porteiros, e matronas e directores de bancos e sócios de firmas e corretores e presidentes de conselhos de administração e todos os seus filhos inscritos em colégios particulares e respectivas amas e governantas, todos os habitantes daquela fortaleza social. Mas a ideia de que alguém o visse ser levado pela Polícia era mais do que ele podia suportar.
O carro estacionara suficientemente longe da entrada do prédio para o porteiro não vir cá fora. Martin saiu, abriu a porta e rebateu o banco da frente, para Sherman e Killian poderem entrar para o banco de trás. Martin sorriu para Sherman. O sorriso do torcionário!
— Bom dia, doutor! — disse Martin a Killian. Também muito jovial, o cumprimento. — Bill Martin — disse, estendendo a mão, que Killian apertou. — O Bernie Fitzgibbon disse-me que trabalhou em tempos consigo.
— Pois foi — disse Killian.
— O Bernie é um fanfarrão!
— É muito pior que isso. Podia-vos contar cada história!
Martin riu, e Sherman sentiu-se vagamente esperançado. Killian conhecia esse tal Fitzgibbon, que era chefe do Departamento de Homicídios da Procuradoria do Bronx, e Fitzgibbon conhecia Martin, e agora Martin conhecia Killian... e Killian — Killian era o seu protector!... — Tenham cuidado com a vossa roupa aí atrás. Isso está cheio dessa merda (desculpem a linguagem!) dessa merda de amendoins de esferovite. O meu puto abriu aí uma caixa e espalhou uma data desses amendoins brancos com que eles agora embalam tudo, e é uma porcaria que se pega à roupa e sei lá mais a quê, até mete raiva.
Ao curvar-se para entrar, Sherman viu o gordo do bigode, Goldberg, no lugar da frente. O seu sorriso ainda era mais largo que o de Martin.
— Sherman! — Disse aquilo no mesmo tom em que diria «olá» ou «bom dia». Com toda a cordialidade. E o mundo inteiro pareceu gelar de repente. O meu nome próprio! Um criado... um escravo... um prisioneiro... Sherman não disse nada. Martin apresentou Killian a Goldberg. Mais um pouco de conversa de circunstância, no mesmo tom jovial.
Sherman ia atrás de Goldberg. Havia, realmente, amendoins brancos de esferovite por toda a parte. Sherman já tinha dois colados à perna das calças. Um deles estava praticamente em cima do seu joelho. Apanhou-o, e depois teve uma certa dificuldade em soltá-lo dos dedos. Sentia um terceiro debaixo do rabo, e pôs-se a tentar agarrá-lo.
Mal tinham arrancado, iam ainda a subir a Park Avenue em direcção à Rua 96 e aos acessos da via rápida FDR, quando Goldberg se voltou para trás no assento e disse: — Sabe, eu tenho uma filha que anda no liceu e adora ler, e há pouco tempo andou a ler um livro onde falam dessa tal firma onde você trabalha — é a Pierce & Pierce, não é?
— Ah, sim? — conseguiu Sherman responder. — E que livro era?
— Acho que se chamava Murder Mania, ou coisa no género.
Murder Mania? O livro chamava-se Merger Mania(1). Seria de propósito para o atormentar, aquela piada de mau gosto?
— Murder Mania! — disse Martin. — Por amor de Deus, Goldberg, é Mer-ger Mania. — E, por cima do ombro,...
(1) «Lapso» intraduzível. As palavras murder e merger, foneticamente bastante próximas, significam respectivamente «assassínio» e «fusão» (de empresas, neste caso). (N. do T.)
...para Killian e Sherman: — É porreiro ter-se um colega assim intelectual. — De novo para o seu companheiro: — Diz-me lá que forma tem um livro, Goldberg. Circular ou triangular?
— Eu digo-te que forma tem — disse Goldberg, espetando o dedo médio da mão direita. Depois tornou a virar-se para Sherman. — Pois é, mas ela gostou imenso do livro, apesar de ainda andar só no liceu. Agora diz que quando acabar a universidade quer ir trabalhar para a Wall Street. Enfim, pelo menos esta semana o projecto é esse.
E agora também aquele Goldberg! A mesma condescendência acabrunhante, impertinente, de um senhor para com o seu escravo! Se calhar ainda tinha que gostar daqueles dois! Agora que a partida terminara e ele saíra vencido, agora que lhes pertencia, não devia querer-lhes mal. Devia admirá-los. Tinham deitado a mão a um corretor da Wall Street, e o que é que faziam dele? A sua presa? O seu trofeu! O seu animal de estimação! Num Oldsmobile Cutlass! Os brutamontes das outras zonas da cidade — o tipo de gente que se via na Rua 58 ou 59, a caminho da ponte de Queens-boro — tipos gordos de bigode descaído, como Goldberg... e agora ele estava nas mãos dessa gente.
Na Rua 93, um porteiro ajudava uma senhora de idade a sair para o passeio. Ela trazia vestido um sobretudo de pele de caracal. Era o género de casaco de pele sumptuoso que já não se via em parte nenhuma. Uma vida longa, feliz e isolada do mundo, ali na Park Avenue. Impiedosa, a Park Avenue, le tout New York, continuaria a viver a sua vida de sempre.
— Ora bem — disse Killian a Martin — vamos lá combinar exactamente como é que as coisas se vão passar. Entramos pela porta da Rua 161, não é? E depois descemos até à cave, e o Angel(1) leva o Sherman — Mr. McCoy — directamente para as impressões digitais. — O Angel ainda lá está?
— Ainda — disse Martin — ainda lá está, mas nós temos de entrar pelo outro lado, pela porta exterior do Registo Central.
— Para quê?
— São as ordens que eu tenho. O comandante da zona vai lá estar, e a imprensa também.
— A imprensa!
— A imprensa. E temos de o ter algemado quando lá chegarmos.
(1) O nome desta personagem surge umas vezes precedido de artigo e outras vezes não, pelo que se torna indecidível se se trata de um nome próprio, se de uma alcunha («Anjo»). (N. do T.)
— Estão a gozar comigo? Eu falei com o Bernie ontem à noite. Ele deu-me a palavra de honra que não ia haver palhaçadas dessas.
— Lá o que é que o Bernie disse, não sei. Isto é coisa do Abe Weiss. É assim que o Weiss quer que se faça, e eu recebi as minhas ordens directamente do comandante de zona. Temos de fazer tudo como mandam as regras. Mesmo assim, já vão com sorte. Sabe o que é que eles queriam fazer, não sabe? Queriam mandar a merda dos jornalistas a casa dele, e algemá-lo logo ali, em frente à porta.
Killian olhou para Martin de cenho carregado. — Quem é que lhe disse isso?
— O Comandante Crowther.
— Quando?
— Ontem à noite. Telefonou para minha casa. Escute, você sabe como é o Weiss. O que é que quer que eu lhe diga?
— Isto... não... está... certo — disse Killian. — Eu tinha a palavra do Bernie. Isto... não... é... coisa... que... se... faça. Não está certo.
Martin e Goldberg viraram-se para trás e olharam-no.
— Não me vou esquecer disto — disse Killian — e devo dizer que não estou nada satisfeito.
— HEiii!i... o que é que quer? — disse Martin. — Não nos esteja a culpar a nós, que para nós é igual fazer isto de uma maneira ou de outra. O seu problema é com o Weiss.
Estavam agora na via rápida FDR, avançando para norte, em direcção ao Bronx. Começara a chover. O trânsito da manhã começava já a engrossar do lado de lá da divisória central da via rápida, mas do lado de cá nada os impedia de avançar. Passaram perto de uma ponte de peões que formava um arco sobre o rio, ligando o lado de Manhattan a uma pequena ilha. A armação metálica fora pintada de um tom púrpura de heliotrópio, num acesso de euforia dos anos 70. A falsa esperança que aquela cor parecia querer inspirar deprimiu profundamente Sherman.
«Vou para a cadeia.»
Goldberg tornou a virar-se para trás. — Ouça — disse. — Tenho muita pena, mas vamos ter de lhe pôr as algemas. Não posso aparecer com elas na mão quando lá chegarmos.
— Isto é uma perfeita palhaçada — disse Killian. — Espero que tenham consciência disso.
— E a lEiii!i — disse Goldberg em tom lamentoso, prolongando o final da palavra lei. — Quando se prende uma pessoa por um crime, tem que se lhe pôr as algemas.
Reconheço que nem sempre fiz isso, mas desta vez vai lá estar o comandante de zona, porra!
Goldberg ergueu a mão direita, exibindo umas algemas. — Dê-me as suas mãos — disse a Sherman. — Vamos resolver o assunto de uma vez.
Sherman olhou para Killian. Este tinha os músculos do maxilar contraídos. — Sim, faça lá o que ele quer! — disse em voz alta a Sherman, naquele tom enfático que insinua. «Alguém vai pagar por isto!»
Martin disse: — Vamos fazer uma coisa. Porque é que não tira o casaco? Ele algema-o à frente em vez de ser atrás, e você pode pôr o casaco por cima dos pulsos, que assim ninguém vê a merda das algemas.
Disse aquilo como se eles os quatro fossem amigos lutando juntos contra um destino inclemente. Por um instante, isso fez Sherman sentir-se melhor. Tirou, com algum esforço, o casaco de tweed. Depois inclinou-se para a frente e enfiou as mãos no espaço entre os lugares da frente.
Iam a passar uma ponte... talvez a ponte da Willis Avenue... a verdade é que não sabia que ponte era. Só sabia que era uma ponte, uma ponte sobre o rio Harlem, e que ao passá-la se afastavam ainda mais de Manhattan. Goldberg fechou-lhe as algemas nos pulsos. Sherman tornou a afundar-se no assento e olhou para baixo: sim, ali estava ele, de algemas postas.
A chuva caía agora com mais força. Chegaram ao outro extremo da ponte. Bom, ali estava o famoso Bronx. Fazia lembrar uma zona velha e decrépita de Providence, Rhode Island. Havia alguns prédios maciços mas baixos, decadentes e encardidos, e ruas negras, largas e indolentes, subindo e descendo as encostas das colinas. Martin enfiou o carro por uma rampa e entrou noutra via rápida.
Sherman estendeu as mãos para a direita, para apanhar o casaco e cobrir com ele as algemas. Quando percebeu que tinha de mover ambas as mãos para agarrar o casaco, e quando o esforço fez as algemas enterrarem-se-lhe nos pulsos, sentiu que o submergia uma onda de humilhação... e vergonha! Era ele próprio, a pessoa que ocupava o cadinho único, sacrossanto e impenetrável no âmago do seu espírito, quem agora se via assim algemado... no Bronx... Era com certeza uma alucinação, um pesadelo, uma ilusão, e com certeza não tardaria a dissipar-se aquela camada translúcida e... Chovia ainda mais, e os limpa-pára-brisas iam e vinham à frente dos dois polícias.
Com as algemas postas, não conseguia pendurar o casaco nos pulsos. Só conseguia amarrotá-lo. Por isso Killian ajudou-o. Havia três ou quatro amendoins de esfe-rovite colados ao casaco. E, na perna das calças, outros dois. Não tinha maneira de lhes chegar com os dedos. Talvez Killian... Mas o que é que isso importava?
Mais adiante, do lado direito... o Yankee Stadium!... Uma âncora!... Uma coisa a que se agarrar! Ele já tinha estado naquele estádio! Para assistir a um ou dois jogos do Campeonato do Mundo, mais nada... Mas tinha lá estado! O estádio fazia parte de um mundo razoável e decente! Não tinha nada a ver com aquele... Congo!
O carro desceu uma rampa de acesso, abandonando a via rápida. A estrada contornava a base da grande taça que era o estádio. Nem quarenta pés os separavam de lá. Viu um homem gordo de cabelos brancos com um blusão dos New York Yankees, diante daquilo que parecia uma porta de serviço do estádio. Sherman fora ao Campeonato do Mundo com Gordon Schoenburg, porque a companhia dele tinha camarotes de graça para toda a época, e Gordon servira uma ceia volante entre a quinta e a sexta jogada, uma ceia trazida num desses cestos de verga próprios para piqueniques, com vários compartimentos e utensílios de aço inoxidável; servira pão integral, patê e caviar a toda a gente, o que enfurecera uns bêbedos que estavam na bancada lá atrás e viram tudo, e começaram a dizer coisas francamente insultuosas e a repetir uma palavra que tinham ouvido a Gordon. A palavra era «realmente», e eles repetiam-na vezes sem conta, pronunciando ralmente. «Oh, ralmente!», diziam. Era quase o mesmo que chamar maricas a Gordon, e Sherman nunca se esquecera daquilo, embora ninguém tivesse tocado no assunto depois disso. A insolência! A hostilidade gratuita! O ressentimento! Martin e Goldberg! Todos eles eram Martins e Goldbergs.
Então Martin enfiou por uma rua muito larga; passaram debaixo de uma linha aérea de metropolitano e começaram a subir uma encosta. No passeio quase só se viam rostos escuros, apressados, debaixo de chuva. Todos tão escuros e encharcados... Uma data de lojinhas pardacentas e decrépitas, como nos bairros comerciais decadentes das cidades da América inteira, como em Chicago, em Akron, em Allen-town... A Daffyteria, o pronto-a-comer Snooker, as Bagagens Korn, a agência de viagens B. & G. Davidoff Travel & Cruise...
Os limpa-pára-brisas varriam toalhas de água da chuva. No alto da colina havia um imponente edifício de calcário que parecia ocupar um quarteirão inteiro, o género de construção monumental que se vê muito na zona de Colúmbia. Do outro lado da rua, na fachada de um prédio baixo de escritórios, um letreiro prodigiosamente grande dizia: ANGELO CÓLON, U.S. CONGRESS. Passaram o alto da colina. O que Sherman viu do outro lado não pôde deixar de o chocar. Não só estava tudo decrépito e encharcado como em ruínas, que se diriam resultado de alguma catástrofe. Do lado direito, um quarteirão inteiro não era mais que um grande buraco no chão com uma cerca de protecção à volta e uma ou outra árvore mirrada que conseguira resistir. À primeira vista, parecia uma lixeira. Depois Sherman viu que era um parque de estacionamento, um enorme poço, aparentemente por pavimentar, para albergar carros e camiões. Do lado esquerdo havia um prédio novo, moderno no sentido mais reles da palavra, a que aquele tempo de chuva conferia um aspecto ainda mais deprimente.
Martin parou e esperou que passassem os carros que vinham em sentido contrário, para poder virar à esquerda. O que é aquilo? — perguntou Sherman a Killian, apontando com o queixo para o edifício.
— É o Tribunal Criminal do Bronx.
— É para lá que nós vamos?
Killian disse que sim com a cabeça e depois pôs-se a olhar fixamente em frente. Parecia tenso. O coração de Sherman começou a bater desenfreadamente. De vez em quando sentia palpitações.
Em vez de estacionar em frente do edifício, Martin meteu por uma rampa lateral. Aí, junto de uma pequena porta metálica, via-se uma fila de homens e, atrás deles, um amontoado promíscuo de pessoas, umas trinta ou quarenta, na sua maioria brancas, todas encolhidas por causa da chuva, envoltas em ponchos, em anoraks, em gabardinas surradas. Uma repartição da Assistência, pensou Sherman. Não, uma sopa dos pobres. Aquelas pessoas lembravam-lhe as que vira fazer bicha para a sopa dos pobres na igreja da Madison Avenue e da Rua 71. Mas nesse momento todos aqueles olhos aflitos, acossados, se viraram, como que obedecendo a uma ordem, para o carro — para ele — e então apercebeu-se da presença das câmaras.
A turba pareceu sacudir-se, como um enorme cão coberto de sujidade, e aproximou-se do carro em tropel.
Algumas pessoas corriam, e Sherman via as câmaras de televisão oscilarem para cima e para baixo.
— Jesus — disse Martin a Goldberg. — Sai do carro e vê se me abres essa porta, senão nem sequer conseguimos tirá-lo do carro para fora, porra!
Goldberg saiu. De um momento para o outro, aquela gente encharcada e hirsuta estava em toda a parte. Sherman já não via o edifício. Só via a turba a cercar o carro.
Killian disse a Sherman: — Agora escute. Você não diz nada. Não mostra expressão nenhuma. Não esconde a cara nem deixa pender a cabeça. Você nem sequer repara que eles aqui estão. Com estes sacanas nunca se leva a melhor, por isso nem tente. Deixe-me sair primeiro.
Pumba! — sem que Sherman percebesse bem como, Killian passou os dois pés por cima dos seus joelhos e rolou sobre ele, tudo num único movimento. Os seus cotovelos bateram nas mãos cruzadas de Sherman e enterraram-lhe as algemas no baixo ventre. O casaco de tweed ficou todo amarrotado em cima das suas mãos. Havia cinco ou seis amendoins de esferovite no casaco, mas quanto a isso não podia ele fazer fosse o que fosse. A porta abriu-se, e Killian saiu do carro. Goldberg e Killian tinham as mãos estendidas para ele. Sherman passou os pés para o lado de fora. Killian, Goldberg e Martin tinham formado com os seus corpos uma clareira junto da porta. A turba dos repórteres, fotógrafos e operadores de câmara estava em cima deles. Algumas pessoas gritavam. A princípio julgou que aquilo fosse acabar num massacre. Queriam apanhá-lo, a ele! Killian enfiou a mão por baixo do casaco de Sherman e ajudou-o a pôr-se de pé, puxando-o pelas algemas. Alguém enfiou uma câmara bem diante da sua cara, por cima do ombro de Killian. Sherman encolheu-se. Ao baixar os olhos, viu que tinha cinco, seis, sete, só Deus sabe quantos amendoins de esferovite agarrados às pernas das calças. Tinha o casaco e as calças cheios deles. A chuva escorria-lhe pela testa e pelas faces. Dispunha-se a limpar a cara, mas depois percebeu que teria de levantar as duas mãos e o casaco para o fazer, e não queria que eles lhe vissem as algemas. Por isso a água continuou a escorrer. Sentia-a escorrer pelo colarinho da camisa. Por causa das algemas, tinha os ombros descaídos para a frente. Tentou endireitá-los, mas nesse instante Goldberg puxou-o para diante por um cotovelo, tentando fazê-lo atravessar a multidão.
— Sherman!
— Olha para aqui, Sherman!
— Hei, Sherman!
Todos berravam Sherman! O seu nome próprio! Então também lhes pertencia a eles! E a expressão daqueles rostos! A fúria impiedosa! Os jornalistas atropelavam-se para lhe meter os microfones debaixo do nariz. Um homem chocou com Goldberg com toda a força, empurrando-o para trás, de encontro a Sherman. Surgiu uma máquina fotográfica por cima do ombro de Goldberg. Goldberg estendeu para diante, com uma força tremenda, o cotovelo e o antebraço, ouviu-se um baque, e a máquina foi parar ao chão. Goldberg ainda tinha o outro braço enfiado no de Sherman. O ímpeto do murro desequilibrou Sherman. Sherman deu um passo para o lado, e o seu pé foi aterrar na perna de um homem que se contorcia no chão. Era um homem baixinho de cabelo escuro, aos caracóis. Goldberg pisou-o no abdómen, para que lhe servisse de emenda. O homem gritou Uuuuuuhahhhhh!.
— Hei, Sherman! Psssst! Monte de merda! Colhido de surpresa, Sherman olhou para o lado. Era
um fotógrafo. A máquina tapava-lhe metade da cara. Na outra metade trazia agarrado um pedaço de papel. Papel higiénico. Sherman via moverem-se os lábios do homem. — Isso mesmo, meu monte de merda, olha para aqui!
Martin ia um passo à frente de Sherman, tentando abrir caminho. — Deixem passar! Deixem passar! Saiam da frente!
Killian agarrou no outro cotovelo de Sherman e tentou resguardá-lo desse lado. Mas assim, com os outros a puxarem-lhe os cotovelos, ele via-se obrigado a avançar aos repelões, e ainda por cima ensopado, de ombros curvados. Não conseguia erguer a cabeça.
— Sherman! — Uma voz de mulher. Um microfone diante do seu nariz. — Já alguma vez esteve preso?
— Sherman! Quem é a morena?
— Sherman! Atropelou-o de propósito?
Enfiavam os microfones entre Killian e Martin e entre Martin e Goldberg. Sherman tentou manter a cabeça erguida, mas um dos microfones bateu-lhe no queixo. Continuou a cambalear. Sempre que olhava para baixo, via os amendoins brancos de esferovite agarrados ao casaco e às calças.
— Hei, Sherman! Cara de caralho! O que é que achas deste cocktail?
Aqueles insultos! Tudo aquilo vinha dos fotógrafos. Tudo para o fazerem olhar para o lado deles, mas — que
grosseria! Que baixeza! Nenhum insulto era reles de mais para lho lançarem à cara! E ele agora... pertencia-lhes! Era uma criatura deles! Fora-lhes lançado, lançado àquelas feras! Podiam fazer com ele o quisessem! Odiava-os — mas tinha tanta vergonha. A chuva escorria-lhe para os olhos. Não podia fazer nada para o remediar. Tinha a camisa ensopada. Agora já não avançavam, como antes. A pequena porta metálica já só estava a uns vinte e cinco pés de distância. Diante deles havia uma fila de vários homens. Esses não eram jornalistas, nem fotógrafos, nem operadores de câmara. Alguns eram polícias de uniforme. Os outros pareciam latino-americanos, e eram quase todos bastante novos. Havia também dois ou três brancos... miseráveis... com ar de bêbedos... mas não, esses também tinham distintivos. Eram polícias. Estavam todos ali de pé, à chuva. Todos ensopados até aos ossos. Martin e Goldberg tentavam empurrar os latino-americanos e os polícias, levando Sherman e Killian no encalço. Goldberg e Killian continuavam a agarrar os cotovelos de Sherman. Os repórteres e os operadores de câmara não paravam de o assediar, por trás e pelos lados.
— Sherman! Hei! Faça uma declaração!
— Só uma fotografia!
— Hei, Sherman! Porque é que o atropelou?
— ... Park Avenue!...
— ... intencionalmente!...
Martin voltou-se e disse a Goldberg: — Meu Deus, resolveram meter dentro a malta toda daquele clube da Rua 167. Estão pelo menos uns doze carambas em bicha para entrarem no Registo Central!
— Bonito! — disse Goldberg.
— Ouçam lá — disse Killian — vocês têm que o meter lá dentro. Falem com o Crowther, se for preciso, mas arranjem maneira de o tirar daqui.
Martin abriu caminho pelo meio da turba, e instantes depois já estava de volta.
— Nada feito — disse Martin, abanando a cabeça com ar de quem pede desculpa. — Ele diz que temos de fazer tudo de acordo com as regras. Vamos ter de esperar na bicha.
— Isto não se faz — disse Killian.
Martin arqueou as sobrancelhas. (Bem sei, bem sei, mas o que é que quer?)
— Sherman! Porque é que não faz uma declaração?
— Sherman! Hei, meu panasca!
-
Muito bem! — Era Killian que assim berrava. — Querem uma declaração? Mr. McCoy não vai prestar declaraçõesnenhumas. Eu sou o advogado dele, e quem vai prestar a declaração sou eu.
Mais empurrões e encontrões. Os microfones e câmaras convergiam agora para Killian.
Sherman estava mesmo atrás dele. Killian largara-lhe um dos cotovelos, mas Goldberg continuava agarrado ao outro.
Alguém gritou: — Como é que se chama?
— Thomas Killian.
— Como é que isso se escreve?
— K-I-L-L-I-A-N. O. K.? Esta prisão é uma palhaçada! O meu cliente sempre se mostrou disposto a comparecer perante um júri para serem formalizadas as acusações contra ele. E em vez disso encenaram esta palhaçada, em perfeita violação de um acordo entre o procurador e o meu cliente.
— O que é que ele andava a fazer no Bronx?
— A declaração é aquilo que eu disse e mais nada.
— Está a dizer que ele é inocente?
— Mr. McCoy nega todas as acusações, e esta palhaçada infame nunca devia ter sido autorizada.
Os ombros do casaco de Killian estavam ensopados. A chuva atravessara a camisa de Sherman, que agora sentia a água escorrer-lhe pela pele.
— Mira! Mira! — Um dos latino-americanos não parava de dizer aquela palavra, «Mira!»
Sherman deixou-se ali ficar, de ombros ensopados e descaídos. Sentia o peso do casaco encharcado sobre os pulsos. Por cima do ombro de Killian, via um matagal de microfones. Ouvia os estalidos das máquinas fotográficas. O fogo terrível que lhes iluminava os rostos! Só queria morrer. Nunca na sua vida quisera realmente morrer, embora, como tantas outras almas, já lhe tivesse acontecido acarinhar a ideia. Agora queria realmente que Deus ou a Morte o viessem libertar. Eis a medida do horror do sentimento que o invadia, e esse sentimento era nem mais nem menos que uma vergonha intolerável.
— Sherman!
— Ó meu cabrão!
— Mira! Mira!
E depois ficou morto, tão morto que já nem morrer podia. Nem sequer tinha a força de vontade para se deixar cair. Os repórteres, os operadores de câmara e os fotógrafos — que insultos tão reles! — ainda ali, a menos de três pés de distância! — eram os vermes e as moscas, e ele era a carcaçamorta que eles tinham encontrado para nela passearem e se alojarem.
A pseudo-declaração de Killian só os distraíra por um momento. Killian! — que tinha supostamente as suas influências e que ia evitar que aquilo fosse uma prisão como as outras! Não era uma prisão como as outras. Era a morte. Todos os vestígios de honra, respeito por si próprio, dignidade, que ele, um indivíduo chamado Sherman McCoy, pudesse alguma vez ter possuído, haviam-lhe sido roubados, assim, sem mais nem menos, e era a sua alma morta que agora ali estava à chuva, algemada, no Bronx, diante de uma portazinha metálica, no fim de uma bicha de uma dúzia de presos. Os vermes chamavam-lhe Sherman. Estavam mesmo em cima dele.
— Hei, Sherman!
— Vai-se declarar culpado ou inocente, Sherman? Sherman olhava fixamente em frente. Killian e os dois
detectives, Martin e Goldberg, continuavam a esforçar-se por proteger Sherman dos vermes. Um operador de câmara da televisão chegou-se mais, um indivíduo gordo. Trazia a câmara em cima do ombro como um lança-granadas.
Goldberg virou-se para o homem e berrou: — Tire essa coisa de cima de mim, caralho!
O cameraman bateu em retirada. Que estranho! Que perfeito desespero! Goldberg era agora o seu protector. Ele era uma criatura de Goldberg, era o seu animal. Goldberg e Martin tinham trazido até ali o seu animal, e agora estavam decididos a garantir que ele seria entregue a quem de direito.
Killian disse a Martin: — Isto não está certo. Vocês têm de fazer alguma coisa.
Martin encolheu os ombros. Então Killian disse, com toda a seriedade: — Porra, é que estou a ficar com os sapatos todos lixados.
— Mr. McCoy.
Mr. McCoy. Sherman virou a cabeça. Um homem alto e pálido, de cabelos louros e compridos, estava na primeira linha de um magote de repórteres e cameramen.
— Peter Fallow, do City Light — disse o homem. Tinha um sotaque inglês, um sotaque tão solene que parecia a uma paródia de sotaque inglês. Estaria a gozar à sua custa? — Já lhe tentei telefonar várias vezes. Gostaria muito de ouvir a sua versão desta história.
Sherman desviou os olhos... Fallow, o seu perseguidor obcecado, o do City Light... Não tinha o menor pejo em aparecer ali e apresentar-se... claro que não... a presa jáestava morta... Devia odiá-lo, mas não conseguia, porque se detestava ainda mais a si próprio. Até para si próprio estava morto.
Finalmente, todos os indivíduos presos na rusga do clube transpuseram a porta, e só Sherman, Killian, Martin e Goldberg ficaram à porta. — O.K., Doutor — disse Martin a Killian—, agora tratamos nós do resto.
Sherman olhou interrogadoramente para Killian. «Vai entrar comigo, não é verdade?» Killian disse: — Eu vou estar lá em cima quando o levarem para a acusação formal. Não se preocupe com nada. Lembre-se só de uma coisa: não preste declarações, não fale do caso, nem sequer aos outros presos, especialmente aos outros presos.
Aos outros presos! Mais gritos atrás da porta.
— Quanto tempo vai demorar? — perguntou Sherman.
— Não sei ao certo. Meteram estes gajos à sua frente. — Depois disse a Martin: — Escute. Tente endireitar as coisas. Veja se o consegue fazer passar pelas impressões digitais antes desses tipos. É que isto passa das marcas, caramba!
— Vou tentar — disse Martin — mas já lhe disse. Não sei lá porquê, eles neste caso querem que a gente cumpra as regras todas.
— Pois, mas vocês estão em dívida para connosco — disse Killian. — Estão em dívida, e de que maneira, e... — Calou-se. — Veja lá se endireita as coisas.
No instante seguinte Goldberg puxou Sherman para dentro pelo cotovelo. Martin estava mesmo atrás dele. Sherman virou-se para não perder logo Killian de vista. O chapéu de Killian estava tão molhado que parecia preto. A gravata e os ombros do fato estavam também ensopados.
— Não se preocupe — disse Killian —, vai correr tudo bem.
Pela maneira como Killian disse aquilo, Sherman percebeu que o seu rosto devia ser a perfeita máscara do desespero. Depois a porta fechou-se; deixou de ver Killian. Sherman ficava isolado do resto do mundo. Julgava já não ser capaz de sentir medo, só desespero. Mas nessa altura tornou a ficar apavorado. O seu coração começou a bater desordenadamente. A porta fechara-se, e ele fora tragado pelo mundo de Martin e Goldberg, pelo mundo do Bronx.
Encontrava-se numa sala grande, de tecto baixo, dividida em cubículos, alguns dos quais com janelas de vidro fumado, como as janelas interiores de um estúdio de rádio. Não havia janelas exteriores. Uma espécie de névoa eléctrica, luminosa, enchia a sala. Homens de uniforme andavam deum lado para o outro, mas os uniformes não eram todos iguais. Dois homens com as mãos algemadas atrás das costas estavam diante de um balcão. Junto deles viam-se dois jovens andrajosos. Um dos presos espreitou por cima do ombro, viu Sherman e deu uma cotovelada ao outro, que se voltou também para observar Sherman, e ambos riram. Vindo de um dos lados, ouvia-se o mesmo grito que lá fora, um homem a berrar Mira! Mira! Ouviam-se também gargalhadas, e depois o ronco sonoro e flatulento de uns intestinos. Uma voz grave disse: — Agggghhh. Que nojo!
Outra voz disse: — Vá lá, tirem-nos daí. Reguem isso.
Os dois jovens andrajosos debruçavam-se agora para as costas dos dois presos. Atrás do balcão estava um polícia corpulento, completamente careca, com um grande nariz e um acentuado prognatismo. Aparentava pelo menos sessenta anos. Os homens andrajosos estavam a tirar as algemas aos dois presos. Um dos jovens esfarrapados vestia um anorak sem mangas sobre uma T-shirt preta toda rasgada. Trazia ténis e calças de camuflado, muito sujas, apertadas nos tornozelos. Via-se um distintivo, um distintivo da Polícia, preso ao anorak. Então Sherman reparou que o outro também tinha um distintivo. Outro polícia velho aproximou-se do balcão e disse: — Olha, Angel, Albany foi-se abaixo.
— Bonito — disse o polícia careca. — Já aqui temos esta malta toda, e o turno ainda agora começou.
Goldberg olhou para Martin, revirou os olhos, sorriu e depois olhou para Sherman. Continuava a agarrá-lo pelo cotovelo. Sherman baixou os olhos. Amendoins de esfero-vite! Estava coberto daqueles amendoins que apanhara no banco de trás do carro de Martin. Colavam-se à trouxa que era agora o seu casaco, pendurado nos pulsos. As calças estavam cheias deles. Tinha as calças molhadas, amarrotadas, informes, como que enroladas à volta das suas coxas e joelhos, e os amendoins de esferovite agarravam-se a elas como parasitas.
Goldberg disse a Sherman: — Está a ver aquela sala ali?
Sherman espreitou para a sala por uma grande janela de vidro fumado. Viam-se vários ficheiros e muitas resmas de papel. Um grande aparelho bege e cinzento ocupava o centro da sala. Era para ele que os polícias olhavam.
-
É a máquina Fax, que manda as impressões digitais para Albany — disse Goldberg. Disse-o num tom agradável de cantilena, como se falasse com uma criança assustada e confusa. Só aquele tom de voz bastou para aterrorizar Sherman.
— Aí há uns dez anos — disse Goldberg —, um esperto qualquer teve a ideia... foi há dez anos, Marty?
— Não sei — disse Martin. — Só sei que foi uma merda de uma ideia estúpida.
— Bom, mas o caso é que alguém teve a ideia de meter as impressões digitais todas do Estado de Nova Iorque num gabinete único, em Albany... percebe?... e os Registos Centrais estão todos ligados a Albany, e mandam para lá as impressões por computador; quando chega o relatório o suspeito vai lá para cima para ser citado... percebe?... Só que aquilo lá em Albany é uma confusão do caraças, especialmente quando a máquina se vai abaixo, como aconteceu agora.
— Pois é — disse Martin a Sherman—, dê graças a Deus por serem oito e meia da manhã e não quatro e meia da tarde, porra! Se isto acontecesse à tarde, o mais provável era ter de passar a noite na Casa de Detenção do Bronx ou mesmo em Rikers.
— Rikers Island? — perguntou Sherman. Tinha a garganta rouca. Mal conseguiu pronunciar aquelas palavras.
— Pois — disse Martin — quando Albany se vai abaixo durante a tarde, não há nada a fazer. Não se pode passar aqui a noite, portanto levam toda a gente para Rikers. Acredite em mim, olhe que tem muita sorte.
Aquele homem dizia-lhe que ele tinha muita sorte! Agora esperavam que Sherman gostasse deles! Ali dentro, eram os seus únicos amigos! Sherman sentiu-se profundamente assustado.
Alguém berrou: — Quem é que fez nas calças, porra?
O cheiro chegava ao balcão.
— Oh, que coisa nojenta — disse o careca chamado Angel. Olhou à sua volta. — Limpem-me aquilo à mangueirada!
Sherman seguiu-lhe o olhar. De um dos lados, ao fundo de um corredor, distinguiu duas celas. Azulejos brancos e grades; pareciam ser revestidas de azulejos brancos, como as casas de banho públicas. Estavam dois polícias diante de uma delas.
Um deles berrou para dentro das grades: — Mas o que é que tu tens?
Sherman sentiu a pressão da manápula de Goldberg no seu ombro, empurrando-o para a frente. Estava agora diante do balcão, a olhar cara a cara para Angel. Martin tinha na mão uma quantidade de papéis.
O Angel disse: — Nome?
Sherman tentou falar mas não conseguiu. Tinha a boca perfeitamente seca. A língua parecia colada ao céu da boca.
— Nome?
— Sherman McCoy. — Não fora mais que um murmúrio.
— Morada?
— 816, Park Avenue. Nova Iorque. — Acrescentou «Nova Iorque» com a intenção de ser tão modesto e obediente quanto possível. Não queria comportar-se como se partisse do princípio que toda a gente ali no Bronx sabia onde ficava a Park Avenue.
— Park Avenue, Nova Iorque. Idade?
— Trinta e oito anos.
— Já tinha sido preso alguma vez?
— Não.
— Ouve lá, Angel — disse Martin. — Aqui o Mr. McCoy tem colaborado connosco da melhor vontade... e... ah... porque é que não o deixas sentar-se aí nalgum lado em vez de o enfiares ali com aqueles tarados? Os sacanas dos jornalistas, que mereciam mas era outro nome, já lhe deram bastante cabo da paciência.
Sherman sentiu-se invadido por uma vaga de gratidão, de gratidão profunda e sentimental. No próprio instante em que o sentiu apercebeu-se de que aquilo era irracional, mas sentiu-o na mesma.
O Anjo encheu as bochechas de ar e olhou para o vazio, como se ruminasse. Depois disse: — Não pode ser, Marty. — Fechou os olhos e apontou para cima com o seu grande queixo, como se dissesse: «A malta lá de cima.»
— O que é que eles querem mais? Esses filhos da mãe da televisão já o obrigaram a estar ali meia hora a apanhar chuva. Olhe para ele. Parece que cá chegou pelo cano de esgoto.
Goldberg soltou uma gargalhadinha. Depois, para não ofender Sherman, disse-lhe: — Você não está na sua melhor forma, tem que confessar que não está.
Os seus únicos amigos! Sherman tinha vontade de chorar, tanto mais quanto aquele sentimento horrível e patético era perfeitamente genuíno.
— Não posso — disse Angel. — Tenho de seguir a rotina do costume. — Tornou a fechar os olhos e a erguer o queixo. — Pode tirar as algemas.
Martin olhou para Sherman e torceu a boca para um dos lados. (Bom, meu amigo, pelo menos tentámos.) Goldberg abriu as algemas e tirou-as dos pulsos de Sherman. Ficaram círculos brancos nos pulsos, no lugar onde tinham estado as algemas. As veias das costas das mãos estavam inchadas de sangue. «A minha tensão arterial deve estar bonita!» Tinha as calças cheias de amendoins de esferovite. Martin estendeu-lhe o casaco ensopado. Também cheio de amendoins de esferovite, o casaco.
— Esvazie os bolsos e dê-me o conteúdo — disse Angel.
Seguindo os conselhos de Killian, Sherman não trouxera muita coisa consigo. Quatro notas de cinco dólares, cerca de um dólar em trocos, a chave do apartamento, um lenço, uma esferográfica, a carta de condução — não sabia bem porquê, achara melhor trazer alguma identificação. À medida que ia entregando as coisas, Angel descrevia em voz alta cada objecto — «vinte dólares em moedas», «uma esferográfica de prata» — e passava-o a uma pessoa que Sherman não via.
Sherman disse: — Posso... posso ficar com o lenço?
— Deixe-mo ver.
Sherman mostrou-lho. A sua mão tremia intensamente.
— Pode ficar com ele, sim. Mas tem de me dar o relógio.
— É só... é um relógio barato — disse Sherman. Ergueu o braço. O relógio era de plástico, com uma correia de nylon.
— Não me importo nada se lhe acontecer alguma coisa.
— Não pode ser nada.
Sherman desapertou a correia e entregou o pequeno relógio. Percorreu-o um espasmo de pânico.
— Por favor — disse. Assim que a palavra lhe saiu da boca, percebeu que não a devia ter pronunciado. Estava a implorar. — Como é que eu vou saber... não posso mesmo ficar com o relógio?
— Tem algum encontro, ou quê? — Angel esboçou um sorriso para mostrar que aquilo não pretendia ser mais que uma brincadeira. Mas não devolveu o relógio. Depois disse:
— O.K., e também vou precisar do seu cinto e dos atacadores.
Sherman ficou a olhar para ele. Apercebeu-se de que tinha a boca aberta. Olhou para Martin. Martin olhava para Angel. Então Martin fechou os olhos e ergueu o queixo, imitando Angel, e disse: — Meu Deus. (Estão mesmo apostados em dar cabo do homem.)
Sherman desapertou o cinto e desenfiou-o das presilhas. Assim que o fez, as calças descaíram-lhe para as ancas. Já não vestia aquele fato de tweed há muito tempo, e as calças estavam-lhe muito largas na cintura. Puxou-as para cima emeteu a fralda da camisa para dentro, mas tornaram a cair. Tinha de as segurar à frente. Agachou-se para tirar os atacadores. Agora era uma criatura abjecta acocorada aos pés de Martin e Goldberg. Tinha a cara ao pé dos amendoins de esferovite que vinham colados às calças. Distinguia neles pequenas rugazinhas. Uma espécie de insectos ou parasitas horríveis! O seu corpo suado e a fazenda de lã das calças exalavam um odor desagradável. Apercebeu-se do cheiro húmido dos seus sovacos sob a camisa pegajosa. Uma perfeita desgraça. Não podia haver duas opiniões sobre isso. Tinha a sensação de que um deles, Martin, Goldberg, Angel, acabaria por lhe pôr um pé em cima, e pop, seria o fim de tudo. Tirou os atacadores dos sapatos e tornou a pôr-se de pé. Levantar-se assim de repente deixou-o zonzo. Por um instante pensou que ia desmaiar. As calças estavam outra vez a cair-lhe. Puxou-as para cima com uma das mãos, enquanto com a outra estendia os atacadores a Angel. Eram duas coisinhas ressequidas e mortas.
A voz atrás do balcão disse: — Dois atacadores castanhos.
— O.K., Angel — disse Martin — é todo teu.
— Certo — disse Angel.
— Bom, então boa sorte, Sherman — disse Goldberg, com um sorriso amável.
— Obrigado — disse Sherman. Era horrível. Ele ficara realmente agradecido por aquela pequena atenção.
Ouviu abrir-se a porta de uma das celas. Ao fundo do corredor viam-se três polícias a mudarem um grupo de latino-americanos de uma cela para a cela contígua. Sherman reconheceu vários dos homens que tinham estado lá fora na bicha, à sua frente.
— Vá lá, parem com isso e entrem para aí.
— Mira! Mira!
Um homem continuava no corredor. Um polícia segurava-o pelo braço. O homem era alto, de pescoço comprido e deixava pender a cabeça. Parecia muito bêbedo. Resmungava qualquer coisa para consigo. Depois ergueu os olhos aos céus e gritou: — Mira! Segurava as calças com a mão, exactamente como Sherman.
— Hei, Anjo, o que é que eu faço a este? Está com as calças todas borradas! — O polícia disse «borradas» com um ar de enorme repugnância.
— Ora, merda — disse Angel. — Tira-lhe as calças e enterra-as aí nalgum lado, e depois lava-o também a ele e dá-lhe umas dessas calças verdes que para aí há.
— Eu nem lhe quero tocar com um dedo, sargento. Por acaso não tem uma daquelas coisas com que se tiram as latas das prateleiras nos supermercados?
— Tenho, tenho — disse Angel — e vê lá não me dê para tirar a tua lata da prateleira.
O polícia tornou a empurrar o homem alto para a primeira cela. As pernas do homem pareciam as de uma marioneta.
Angel disse: — E o que é isso que você tem nas suas calças?
Sherman olhou para baixo. — Não sei — disse. — Eram umas coisas que estavam no banco de trás do carro.
— Qual carro?
— O carro do detective Martin.
Angel abanou a cabeça como se, com aquilo, já pudesse dizer que tinha visto de tudo na vida. — O.K., Tanooch, podes levá-lo ao Gabsie.
Um jovem polícia agarrou Sherman pelo cotovelo. A mão de Sherman segurava as calças, por isso o cotovelo ficava espetado como a asa de um pássaro. Até o cós das calças estava molhado. No outro braço trazia o casaco molhado. Começou a andar. O pé direito saiu-lhe do sapato, por já não ter os atacadores. Parou, mas o polícia continuou a andar, fazendo o seu cotovelo descrever um arco para a frente do corpo. Sherman tornou a calçar o sapato, e o polícia encaminhou-se para o pequeno corredor. Sherman começou a arrastar os pés, para evitar perder os sapatos. Os sapatos faziam um som de água a esparrinhar, de tão molhados que estavam.
Sherman foi conduzido para um cubículo de grandes janelas. Agora via, do outro lado do corredor, o interior das duas celas. Numa deviam estar uns doze indivíduos, doze vultos cinzentos e negros, encostados às paredes. A outra tinha a porta aberta. Só havia uma pessoa lá dentro, o homem alto, caído numa espécie de banqueta. No chão via-se um monte de imundície castanha. O cheiro a excremento era insuportável.
O polícia conduziu Sherman para o cubículo das janelas. Lá dentro estava outro polícia, sardento e grandalhão, de cara redonda e cabelo louro ondulado, que o olhou dos pés à cabeça. O polícia chamado Tanooch disse «McCoy» e estendeu uma folha de papel ao grandalhão. A sala parecia cheia de objectos metálicos. Um deles era igual a uma dessas portas de detecção de metais que se vêem nos aeroportos. Havia também uma máquina fotográfica num tripé, e uma coisaque parecia uma estante de música mas não tinha em cima nenhuma peça suficientemente grande para poder suportar uma partitura.
— O.K., McCoy — disse o polícia grandalhão — passe aqui por esta porta.
Squish, squish, squish... segurando as calças com uma das mãos e o casaco molhado na outra, Sherman passou pela porta, a arrastar os pés. A máquina emitiu logo um bip sonoro e agudo.
— Ora bem — disse o polícia. — O.K., dê-me o seu casaco.
Sherman estendeu-lhe o casaco. O homem revistou-lhe os bolsos e depois começou a apalpar-lhe o casaco de uma ponta à outra. Atirou o casaco para cima de uma mesa.
— O.K., afaste as pernas e abra os braços, assim.
O polícia abriu os braços como se fosse dar um mergulho. Sherman ficou a olhar para a mão direita do polícia. Ele tinha calçada uma luva cirúrgica translúcida, que lhe chegava a meio do antebraço!
Sherman afastou as pernas. Quando abriu os braços, as calças caíram-lhe quase até aos joelhos. O homem aproximou-se dele e começou a dar-lhe pancadinhas nos braços, no peito, nas costelas, nas costas e depois nas ancas e nas pernas. A luva de borracha dava uma sensação desagradável de fricção e secura. Uma nova onda de pânico... Olhou para aquela luva com terror. O homem olhou-o e soltou um grunhido que parecia ser de divertimento; em seguida ergueu a mão direita. A mão e o pulso eram enormes. A horrível luva de borracha estava mesmo em frente da cara de Sherman. — Não se aflija com a luva — disse o outro. — É só porque eu vou ter de lhe tirar as impressões digitais, agarrar nos seus dedos um a um e pô-los na almofada de tinta... Percebe?... — Falava num tom de cavaqueira amigável, como se estivesse sozinho com ele no quintal de sua casa e lhe começasse a explicar o funcionamento do motor do seu Mazda novo. — Passo o dia a fazer isto, e encho as mãos de tinta; como ainda por cima tenho a pele um bocado áspera, nem sempre consigo tirar a tinta toda, e vou para casa, e a minha mulher tem a sala toda decorada em branco; e se ponho a mão no sofá ou noutra coisa qualquer, quando me levanto ficam lá três ou quatro dedadas, e a minha mulher tem um ataque. — Sherman ficou a olhar para ele. Não sabia0 que dizer. Aquele homem enorme e com ar de fera queria Que gostassem dele. Era tão estranho. Talvez todos quisessem que se gostasse deles.
— O.K., torne lá a passar pela porta.
Sherman tornou a transpor a porta, arrastando os pés, e o alarme tornou a tocar.
— Merda — disse o homem. — Tente outra vez. O alarme tocou uma terceira vez.
— Raios me partam se percebo — disse o homem. — Espere um minuto. Chegue aqui. Abra a boca.
Sherman abriu a boca.
— Deixe-a estar assim aberta... Espere um minuto, vire-a para aqui. Assim não tenho luz. — Queria colocar a cabeça de Sherman num ângulo estranho. Sherman sentia o cheiro da luva de borracha. — Filho da mãe. Porra, tem aqui uma autêntica mina de prata! Espere lá, que eu já lhe digo. Ponha-se assim dobrado pela cintura. Dobre-se o mais que puder.
Sherman curvou-se, segurando as calças com a mão. Com certeza ele não ia...
— Agora recue até à porta, mas muito devagar. Sherman começou a recuar, arrastando os pés, com o
corpo a formar um ângulo de pouco mais de noventa graus.
— O.K., vá devagarinho, devagarinho, devagarinho... isso mesmo... ah!
Sherman já quase transpusera a porta. Só os ombros e a cabeça continuavam do outro lado.
— O.K., continue... mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho, um bocadinho...
O alarme tornou a tocar.
— Ah! Isso mesmo! Deixe-se estar, não se mexa! — O alarme continuou a tocar.
— Filho da mãe! — disse o grandalhão. Começou a andar de um lado para o outro e a suspirar. Bateu com as mãos nas pernas. — Apanhei um assim no ano passado. O.K., já se pode endireitar.
Sherman endireitou-se. Olhou para o outro, estupefacto. O homem enfiou a cabeça pela abertura da porta e berrou: — Hei, Tanooch! Chega aqui! Anda ver uma coisa!
Do outro lado do pequeno corredor, estava um polícia na cela aberta com uma mangueira, a lavar o chão. O ruído da água ecoava nos azulejos.
— Hei, Tanooch!
O polícia que trouxera Sherman para aquela sala veio do outro extremo do corredor.
— Olha-me para isto, Tanooch. — E depois disse a Sherman: — O.K., dobre-se lá e torne a fazer a mesma coisa. Torne a passar pela porta, bem devagar.
Sherman curvou-se e fez o que lhe mandavam. — O.K., hã, hã... Estás a ver, Tanooch? Até agora, nada. O.K., agora recue mais um bocadinho, mais um bocadinho... — O alarme começou a tocar. O grandalhão tornou a ficar fora de si. Pôs-se a passear de um lado para o outro, suspirou e juntou as mãos. — Estás a ver, Tanooch? É a cabeça! Não tenho a menor dúvida!... É a cabeça do gajo!... O.K., endireite-se lá. Abra a boca... isso. Não, vire-se antes para este lado. — Tornou a virar a cabeça de Sherman, para apanhar mais luz. — Olha-me para aqui, se queres ver o que é uma bela quantidade de metal!
O polícia chamado Tanooch não disse uma palavra a Sherman. Espreitou para dentro da sua boca, como se examinasse um viveiro ou um aquário.
— Jesus — disse Tanooch. — Tens razão. É uma dentadura que mais parece uma máquina de fazer trocos. — E a seguir disse a Sherman, como se reparasse pela primeira vez na sua presença: — Costumam deixá-lo entrar nos aviões? O grandalhão fartou-se de rir com isto. — Não é um caso único — disse. — Tive um assim no ano passado. Ia-me dando cabo do juízo. Não conseguia perceber... que raio... sabe uma coisa? — Voltara de repente ao tom de conversa-de-vizinhos-ao-sábado-no-quintal. — Este aparelho é muito sensível, mas devo-lhe dizer que você tem a boca cheia de metal, caramba!
Sherman sentiu-se mortificado, absolutamente humilhado. Mas o que é que podia fazer? Talvez estes dois, se alinhasse no jogo deles, pudessem não o meter... nas celas! Com aquela gente! Sherman deixou-se ali ficar, segurando as calças com a mão.
— O que é isso que tem nas calças? — perguntou Tanooch.
— Esferovite. — Disse Sherman.
— Esferovite — repetiu Tanooch, acenando com a cabeça, mas com ar de quem não tinha percebido. E saiu da sala.
Então o polícia grandalhão conduziu Sherman até junto de uma craveira metálica e tirou-lhe duas fotografias, uma de frente e outra de perfil. Sherman percebeu então que aquilo eram as suas fotografias do cadastro. Aquele urso enorme acabava de lhe tirar fotografias para o cadastro, com ele ali de calças na mão. Depois conduziu-o a uma espécie de balcão, agarrou nos dedos de Sherman um a um e apoiou-os numa almofada de tinta para depois os estampar num formulário impresso. Era uma operação surpreendentemente brutal. O homem agarrava cada um dos dedos de Sherman como se pegasse numa faca ou num martelo, afundando-o na almofada com violência. Depois pediu desculpa.
— Um gajo tem de fazer o trabalho todo sozinho — disse a Sherman. — Aqui ninguém levanta um dedo para ajudar seja quem for.
Do outro lado do corredor veio o ruído convulsivo de alguém a vomitar. Três latino-americanos aproximaram-se das grades.
— Eiii!iiiii! — berrou um deles. — O gajo está a vomitar! Como ele vomita!
Tanooch foi o primeiro polícia a lá chegar.
— Oh, meu Deus do céu. Que bonito! Hei, Angel! Este gajo é um esgoto ambulante! O que é que eu lhe faço?
O cheiro a vomitado começava a alastrar.
— Ora, o que é que lhe queres fazer? — disse Angel. — Lava isso com a mangueira e deixa-o aí estar.
Abriram a cela, e dois polícias ficaram de guarda à porta enquanto um terceiro entrava com a mangueira. Os presos saltavam de um lado para o outro para não se molharem.
— Hei!, sargento — disse o polícia. — O gajo tem as calças todas vomitadas.
— As que tu lhe deste?
— Pois.
— Ora foda-se. Limpa-as com a mangueira. Isto não é nenhuma lavandaria.
Sherman via o homem alto sentado na banqueta com a cabeça caída. Tinha os joelhos cobertos de vomitado, e os cotovelos apoiados nos joelhos.
O polícia grandalhão observava tudo isto pela janela da sala das impressões digitais, e ia abanando a cabeça. Sherman aproximou-se dele.
— Ouça, Sr. guarda, será que não posso esperar noutro lado? Eu não posso ir para ali. Eu... é que eu não consigo.
O grandalhão pôs a cabeça de fora da sala de impressões digitais e berrou: — Hei, Angel, o que é que eu faço aqui com o McCoy?
Angel levantou os olhos do seu balcão, fitou Sherman e coçou a cabeça calva com a mão.
— Booooommmm... — Mas apontou com a mão para a cela. — Tem que ir para aí.
Tanooch entrou na sala e tornou a puxar Sherman pelo braço. Alguém abriu as grades da cela. Tanooch impeliu Sherman lá para dentro, e ele avançou arrastando os pés pelo chão de azulejo, sempre a segurar as calças. As gradesfecharam-se atrás dele. Sherman olhou para os latino-americanos que estavam sentados na banqueta. Eles devolveram-lhe o olhar, todos menos o homem alto, que continuava de cabeça caída sobre o peito, enterrando os cotovelos no vomitado que lhe cobria os joelhos.
O pavimento da sala era todo inclinado em direcção a um ralo central. O chão ainda estava molhado. Sherman sentia o declive com os pés, agora que entrara na cela. Algumas gotas de água escoavam-se ainda pelo ralo. Era assim. Era um cano de esgoto onde a humanidade descia ao seu mais baixo nível, e a torneira de carne humana estava agora aberta.
Ouviu as grades deslizarem nas calhas atrás de si, e ficou especado no meio da cela, a segurar as calças com a mão direita. Levava o casaco aninhado no braço esquerdo. Não sabia o que fazer nem sequer para onde olhar, por isso escolheu um espaço vazio na parede e tentou... observá-los discretamente com a sua visão periférica. As roupas deles eram uma mancha indistinta de cinzento, preto e castanho, à excepção dos ténis, que formavam um padrão multicor de riscas e ziguezagues junto ao chão. Sabia que estavam todos a olhar para ele. Espreitou para o lado das grades. Nem um único polícia! Será que se davam ao trabalho de mexer um músculo que fosse caso alguma coisa...
Os latinos-americanos tinham ocupado os lugares todos da banqueta. Sherman escolheu um sítio a uns quatro pés de distância da extremidade da banqueta e encostou-se à parede. A parede magoava-lhe a espinha. Levantou o pé direito, e caiu-lhe o sapato. Ao olhar para baixo, o contraste do sapato com os azulejos brilhantes fê-lo sentir vertigens, e julgou que ia desmaiar. Os amendoins de esferovite! Ainda tinha as pernas das calças cheias deles.
Apoderou-se dele um medo horrível de que o tomassem por um louco, o tipo de caso desesperado que eles poderiam massacrar sem consequências. Sentia o cheiro a vomitado... vomitado e fumo de cigarro... Baixou a cabeça, como se dormitasse, e espreitou-os pelo canto do olho. Continuavam a olhá-lo fixamente! Fitavam-no e fumavam os seus cigarros. O mais alto, o que antes não parava de dizer «Mira! Mira!» continuava sentado na banqueta de cabeça baixa e cotovelos apoiados nos joelhos cobertos de vomitado.
Um dos latinos erguia-se agora da banqueta e aproximava-se dele! Via-o perfeitamente pelo canto do olho. Iam começar! Nem se davam ao trabalho de esperar um bocado!
O homem instalou-se ao lado dele, encostando-se também à parede. Tinha cabelo fino e encaracolado, um bigode curvo que lhe contornava o lábio superior, a pele ligeiramente amarelada, ombros estreitos, ventre proeminente, e um olhar tresloucado. Devia ter uns trinta e cinco anos. Sorriu, o que lhe deu uma expressão mais tresloucada ainda.
— Hei, meu, eu vi-te lá fora. «Viu-me lá fora!»
— Com a televisão, meu. Porque é que estás aqui?
— Por «fazer perigar a vida de terceiros» — disse Sherman. Sentia-se como se tivesse pronunciado as últimas palavras que diria neste mundo.
— O que é isso de «fazer perigar a vida de terceiros?»
— É... é atropelar uma pessoa com o automóvel.
— Como automóvel? Atropelaste um gajo, e a televisão veio cá só por causa disso?
Sherman encolheu os ombros. Não queria dizer mais nada, mas o medo de parecer superior foi mais forte que ele.
— E você, porque é que aqui está?
— Oh, meu: o 220, o 265, o 225. — O indivíduo estendeu a mão, como se quisesse abarcar o mundo inteiro. — Droga, porte de armas, jogo... enfim, tudo e mais alguma coisa, estás a ver?
O homem parecia ter um certo orgulho em tamanha calamidade.
— Com que então atropelaste um gajo? — tornou a perguntar. Aparentemente, achava aquilo trivial e pouco viril. Sherman ergueu as sobrancelhas e fez que sim com a cabeça, com ar de enfado.
O homem regressou ao seu lugar na banqueta, e Sherman viu-o falar com dois ou três dos seus companheiros, que tornaram a olhar para Sherman e depois desviaram os olhos, como se as notícias trazidas pelo outro não fizessem mais do que aborrecê-los. Sherman ficou com a sensação de que os desapontaria. Que estranho! E no entanto era o que ele sentia.
O medo de Sherman foi rapidamente suplantado pelo tédio. Os minutos arrastavam-se. A articulação da anca esquerda começou a doer-lhe. Apoiou o peso do corpo na anca direita, mas começaram a doer-lhe as costas. Depois doeu-lhe também a anca direita. O chão era de azulejos. A parede era de azulejos. Enrolou o casaco para formar uma almofada. Poisou-o no chão, junto à parede, e sentou-se, apoiando as costas. O casaco estava húmido, bem como ascalças. A sua bexiga começava a encher-se, e sentia pequenas pontadas dos gases acumulados nos intestinos.
O homenzinho que viera falar com ele, o homenzinho que sabia os números, aproximou-se das grades. Tinha um cigarro na boca. Tirou o cigarro e berrou: — EeeEiii!i! Preciso de lume! — Não houve resposta do polícia lá ao fundo. — Eeeeiii! Preciso de lume!
Por fim, lá apareceu o polícia chamado Tanooch. — Qual é o teu problema?
— Eiii, preciso de lume. — Mostrou o cigarro.
Tanooch extraiu do bolso uma caixa de fósforos, acendeu um e deixou-se ficar com ele na mão, a uns quatro pés de distância das grades. O homenzinho esperou, depois enfiou o cigarro na boca e encostou a cara às grades, de modo a que o cigarro ficasse do lado de fora. Tanooch continuou imóvel, com o fósforo aceso na mão. O fósforo apagou-se.
— Eiii! — disse o homenzinho.
Tanooch encolheu os ombros e atirou o fósforo para o chão.
— Eeeiii! — O homenzinho voltou-se para os seus camaradas e ergueu o cigarro no ar. (Viram o que ele me fez?) Um dos homens sentados na banqueta desatou a rir. O homenzinho fez uma careta ante aquela traição, à solidariedade esperada. Depois olhou para Sherman. Sherman não sabia se havia de mostrar que ficara com pena dele se havia de desviar os olhos. Acabou por ficar a olhar para ele. O homem aproximou-se e pôs-se de cócoras ao lado dele. Continuava com o cigarro apagado entre os lábios.
— Viste aquilo? — perguntou.
— Vi — disse Sherman.
— Se fosses tu a pedir lume, aposto que te davam. Filho da mãe. Eiii... tens cigarros?
— Não, tiraram-me tudo o que eu tinha. Até os atacadores.
— A sério? — Olhou para os sapatos de Sherman. Sherman reparou que o outro tinha atacadores nos sapatos.
Sherman ouviu então uma voz de mulher. Uma mulher irritada com alguma coisa. Viu-a surgir no corredor diante da cela. Tanooch conduzia-a pelo braço. Era uma mulher alta e magra de cabelo castanho encaracolado e pele morena, que vestia calças pretas e um casaco esquisito de ombros muito largos. Tanooch levava-a para a sala das impressões digitais. De repente ela fez meia volta e disse a alguém que Sherman não via: — Meu grande monte de... — Não chegou a completar a frase. — Pelo menos não vou passar o diainteiro aqui nesta estrumeira, como tu! Não te esqueças disso, bucha!
Grandes gargalhadas zombeteiras dos polícias lá ao fundo.
— Cuidado, não vá ele esborrachar-te, Mabel. Tanooch empurrava-a. — Anda lá, Mabel.
Ela virou-se para Tanooch. — Se queres falar comigo, trata-me pelo meu nome! Pára de me chamar Mabel!
Tanooch disse: — Estou aqui, estou a chamar-te muito pior — e continuou a empurrá-la para a sala das impressões.
— Dois, vinte e trinta e um — disse o homenzinho. — Venda de droga.
— Como é que sabe? — perguntou Sherman.
O homenzinho limitou-se a arregalar os olhos e a arvorar uma expressão entendida. (Há coisas que se vêem logo.) Depois abanou a cabeça e disse: — Chegou a merda da carrinha.
— Carrinha?
Ao que parecia, quando as pessoas eram presas costumavam ser levadas primeiro para uma esquadra, onde ficavam algumas horas. De tempos a tempos, uma carrinha da Polícia fazia a ronda das esquadras e transportava os presos para o Registo Central, para lhes serem tiradas as impressões digitais e se proceder à acusação formal. E acabava de chegar um novo lote. Iam todos para aquelas celas, excepto as mulheres, que eram levadas para uma cela diferente, ao fundo do corredor, à direita. E nada funcionava, porque «Albany se tinha ido abaixo».
Passaram mais três mulheres. Eram mais novas que a primeira.
— Dois, trinta — disse o homenzinho. — Prostitutas. O homenzinho que sabia os números tinha acertado.
Chegara a carrinha. Começou a procissão, da secretária de Angel para a sala das impressões digitais e para a cela. A sensação de medo que Sherman tivera a princípio tornou a apoderar-se dele. Um por um, três jovens negros muito altos, de cabeça rapada, blusão e grandes ténis brancos entraram na cela. Todos os recém-chegados eram negros ou latino-americanos. Quase todos eram bastante jovens. Vários pareciam estar embriagados. O homenzinho que sabia os números pôs-se de pé e foi ter com os seus companheiros, para não se arriscar a perder o lugar na banqueta. Sherman estava decidido a não se mexer. Queria ser invisível. De uma maneira ou de outra, achava que... enquanto não movesse um músculo... eles não o veriam.
Sherman pôs-se a olhar fixamente para o chão e esforçou-se por não pensar nos seus intestinos e bexiga doridos. Uma das linhas pretas entre os azulejos do chão começou a mover-se. Uma barata! Logo depois viu outra... e uma terceira. Fascinante! — e horrível. Sherman olhou à sua volta a ver se mais alguém reparava. Ninguém parecia dar por nada — mas o seu olhar cruzou-se com o de um dos três jovens negros. Estavam os três a olhar para ele! Aqueles rostos magros, duros, malévolos! O seu coração entrou imediatamente em taquicardia. Via o seu próprio pé estremecer com a força das pulsações. Pôs-se a observar as baratas, tentando acalmar-se. Uma das baratas estava agora junto do latino-americano embriagado, que deslizara entretanto até ao chão. Começou a subir pelo tacão do seu sapato. Começou a subir-lhe pela perna. Desapareceu dentro da perna das calças. Depois reapareceu. Trepou para o lado de fora das calças. Começou a subir, até ao joelho. Quando lá chegou, instalou-se no meio do vomitado já meio seco.
Sherman ergueu os olhos. Um dos jovens negros aproximava-se dele. Vinha com um sorrisinho zombeteiro. Parecia incrivelmente alto. Tinha os olhos muito juntos. Vestia calças pretas muito justas e calçava uns grandes ténis brancos apertados à frente com fitas Velcro em lugar de atacadores. Inclinou-se diante de Sherman. O seu rosto era absolutamente inexpressivo. Mais assustador ainda! Olhou Sherman bem nos olhos.
— Ei, meu, tens um cigarro?
Sherman respondeu que não. Mas não quis que o outro pensasse que ele estava a armar em duro ou a evitar o contacto, por isso acrescentou: — Lamento muito, mas é que me tiraram tudo o que eu trazia.
Assim que disse aquilo, percebeu que cometera um erro. Estava a desculpar-se, dando a entender que era fraco.
— Não faz mal, meu. — O jovem parecia relativamente amigável. — Porque é que te meteram dentro?
Sherman hesitou: — Homicídio involuntário — acabou por dizer. «Fazer perigar a vida de terceiros» não lhe pareceu suficiente.
— Pois é. Isso é mau à brava — disse o jovem, num tom que se poderia dizer quase solícito. — O que é que aconteceu?
— Nada — disse Sherman. — Nem sei de que é que eles estão a falar quando me acusam disso. E a si, porque é que o prenderam?
— Oh, um 160 -15 — disse o rapaz. Depois acrescentou: — Assalto à mão armada.
O rapaz franziu os lábios. Sherman não percebeu se aquilo queria dizer: «Assalto à mão armada não é nada de especial» ou «Eu não fiz nada disso, a acusação é uma treta».
O rapaz sorriu para Sherman, olhando-o bem de frente. — O.K., Sr. Homicídio Involuntário — disse, pondo-se de pé e regressando ao seu lugar do outro lado da cela.
«Sr. Homicídio Involuntário! Ele percebeu logo que podia tratar-me desta maneira arrogante!» O que é que eles lhe podiam fazer? Com certeza não podiam... Houvera uma vez um incidente — onde teria sido? — em que alguns dos presos de uma cela tinham tapado as grades com os seus corpos enquanto os outros... Mas estaria algum dos outros dispostos a fazer isso por aqueles três? Prestar-se-iam os latinos a uma coisa dessas?
A boca de Sherman estava seca, absolutamente ressequida. A vontade de urinar era premente. Tinha o coração a bater nervosamente, embora não tão depressa como antes. Nesse momento, as grades abriram-se. Mais polícias. Um deles trazia duas bandejas de cartão, do tipo das que se usam nas confeitarias. Poisou-as no meio do chão da cela. Numa vinha uma pilha de sanduíches; na outra, várias filas de copos de plástico.
O polícia endireitou-se e disse. — O.K., são horas da paparoca. Partilhem isto irmãmente, que eu não quero ouvir a merda das discussões do costume.
Não se precipitaram logo todos para a comida. Mesmo assim, Sherman deu-se por feliz por não estar demasiado longe das duas bandejas. Enfiou o seu casaco imundo debaixo do braço, deu alguns passos, arrastando os pés, e agarrou uma sanduíche embrulhada em celofane e um copo de plástico contendo um líquido translúcido e rosado. Depois tornou a sentar-se em cima do casaco e provou a bebida. Tinha um vago sabor açucarado. Poisou o copo de plástico ao seu lado, no chão, e desembrulhou a sanduíche. Afastou as duas fatias de pão e espreitou lá para dentro. Viu uma fatia de carne assada, de uma doentia tonalidade amarela. À luz fluorescente da cela, quase parecia esverdeada. Tinha uma superfície lisa e pegajosa. Aproximou a sanduíche da cara e cheirou-a. A carne exalava um intenso odor a substâncias químicas. Sherman separou as duas fatias de pão, puxou para fora a carne e embrulhou-a no celofane, formando uma bola que poisou no chão. Comeria o pão, sem nada. Mas o pão estava impregnado do aroma desagradável da carne que desistiu. Laboriosamente, desembrulhou o celofane, fez uma bola com o pão e tornou a embrulharaquela porcaria toda, o pão e a carne. Reparou então que estava alguém diante dele. Ténis brancos com fitas Velcro. Ergueu os olhos. O jovem negro olhava para ele com um curioso sorrisinho. Pôs-se de cócoras, ficando com a cabeça quase ao nível da de Sherman.
— Ei, meu — disse. — Estou com um bocado de sede. Dá-me a tua bebida.
Dá-me a tua bebida! Sherman apontou com o queixo para as bandejas de cartão.
— Já não há, meu. Dá-me a tua.
Sherman deu voltas à cabeça em busca de alguma coisa para dizer. Abanou a cabeça.
— Ouviste o que o gajo disse. Partilhem irmãmente. Julguei que nós os dois fôssemos compinchas.
Aquele tom sobranceiro, de desilusão fingida! Sherman sabia que era tempo de pôr os pontos nos , de acabar com aquela... aquela... Num abrir e fechar de olhos, o braço do rapaz estendeu-se para o copo de plástico que estava no chão ao lado de Sherman. O rapaz pôs-se de pé, atirou a cabeça para trás, engoliu ostensivamente a bebida, suspendeu o copo por cima da cabeça de Sherman e disse:
— Eu pedi-te com bons modos... Percebes?... Aqui dentro, uma pessoa tem de usar a cabeça e saber fazer amigos.
Em seguida abriu a mão, deixando cair o copo no colo de Sherman, e afastou-se. Sherman apercebeu-se de que a sala inteira o olhava. «Eu devia... devia», mas estava paralisado de medo e confusão. Do outro lado da cela, um latino estava a tirar a carne da sanduíche e a jogá-la para o chão. Havia fatias de carne por toda a parte. Aqui e ali viam-se bolas de celofane e sanduíches inteiras atiradas para o chão. O latino começara a comer o pão sem nada — e tinha os olhos cravados em Sherman. Estavam a olhar para ele... naquela gaiola humana... carne assada amarela, pão, celofane, copos de plástico... baratas! Aqui... mais além... Olhou para o latino-americano bêbedo. Continuava caído no chão. Havia três baratas a passear nas pregas da perna esquerda das suas calças, no sítio do joelho. De repente, Sherman viu uma coisa a mexer-se na abertura do bolso do homem. Outra barata — não, era grande de mais... cinzento... um rato!... um rato a sair do bolso do homem... O rato ficou um momento agarrado ao tecido, depois saltou para o chão de azulejo e tornou a parar. A seguir deu uma corrida até junto de um pedaço de carne assada amarela. Tornou a parar, como que avaliando a iguaria...
— Mira! — Um dos latinos tinha visto o rato.
Um pé veio a voar do lado da banqueta. O rato deslizou pelo chão de azulejo como uma bola de hóquei. Outra perna disparou um pontapé. O rato veio de novo a voar até à banqueta... Um riso, uma casquinada... «Mira!»... outro pé... O rato deslizou, agora de costas, ressaltou num pedaço de carne, o que o fez ficar outra vez de pé... Risos, gritos... «-Mira! Mira!»... mais um pontapé... O rato veio a rodopiar, de costas, na direcção de Sherman. E ficou ali deitado, a duas ou três polegadas do seu pé, atordoado, com as pernas a estremecer. Depois conseguiu virar-se, quase sem sair do sítio. O pequeno roedor estava desfeito, acabado. Já nem o medo o conseguia fazer andar. Lá acabou por dar um ou dois passos... Mais gargalhadas... «Será que eu devia dar-lhe um pontapé em sinal de solidariedade com os meus companheiros de cela?...» Foi o que Sherman perguntou a si próprio. ...Sem pensar, pôs-se de pé. Estendeu a mão e agarrou no rato. Segurando-o na mão direita, aproximou-se das grades... Filho da mãe!... Uma dor horrível no dedo indicador... O rato tinha-o mordido!... Sherman deu um pulo e sacudiu a mão direita. O rato continuou agarrado ao dedo com os dentes. Sherman agitou o dedo para cima e para baixo, como se descesse um termómetro. O animalejo não largava!... «Mira! Mira!»... risos, casquinadas...era um belo espectáculo! Estavam a divertir-se imenso! Sherman bateu com a parte carnuda do dedo numa das grades horizontais. O rato foi pelos ares... mesmo em frente de Tanooch, que trazia na mão uma pilha de papéis e se aproximava nesse momento da cela. Tanooch saltou para trás.
— Chiça! — disse. Depois franziu o sobrolho para Sherman: — Você não deve estar bom da cabeça!
O rato estava caído no chão. Tanooch pisou-o com o tacão do sapato. O animal ficou esborrachado, de boca aberta.
A mão de Sherman doía horrivelmente da pancada nas grades. Amparou-a com a outra mão. Pronto, parti-a! Viu as marcas dos dentes do rato no indicador, e uma única e minúscula gota de sangue. Estendeu a mão esquerda atrás das costas e tirou o lenço do bolso direito das calças. Teve de se contorcer todo para conseguir fazer isto. Estavam todos a olhar. Oh, sim... todos a olhar. Limpou o sangue e embrulhou a mão no lenço. Ouviu Tanooch dizer a outro polícia:
— Aquele gajo da Park Avenue atirou um rato cá para fora.
Sherman voltou, arrastando os pés, ao lugar onde tinha o casaco amarrotado no chão. Tornou a sentar-se em cima do casaco. A mão agora já lhe doía muito menos. «Talvez não a tenha partido. Mas a mordedura pode infectar!» Afastou o lenço o suficiente para espreitar o dedo. Não estava com muito mau aspecto. O sangue tinha desaparecido.
Lá vinha outra vez o jovem negro! Sherman ergueu os olhos para ele, e depois olhou para o lado. O tipo tornou a acocorar-se diante dele, como da outra vez.
— Ei, meu — disse — sabes uma coisa? Tenho frio. Sherman tentou ignorá-lo. Virou a cabeça. Tinha
consciência de que a expressão do seu rosto era petulante. A expressão errada! Uma expressão de fraco!
— Ó tu! Olha para mim quando eu falo contigo! Sherman voltou a cara para ele. Pura malevolência!
— Pedi-te uma bebida e tu não foste nada simpático, mas vou-te dar uma oportunidade para compensares isso... estás a ver?... Estou com frio, meu. Quero o teu casaco. Dá-me o teu casaco.
«O meu casaco! A minha roupa!»
No espírito de Sherman, as ideias atropelavam-se. Não conseguiu dizer nada. Abanou a cabeça negativamente.
Mas o que é que tu tens, meu? Devias esforçar-te por seres mais simpático, Sr. Homicídio Involuntário. Aqui o meu amigo diz que te conhece. Viu-te na televisão. Vives na Park Avenue, mas agora correu-te mal a vida. É pena, meu. Mas olha que isto aqui não é a Park Avenue. Percebes? O melhor que tens a fazer é arranjar amigos aqui dentro, percebes? Até agora portaste-te mal, muito mal mesmo, mas vou-te dar uma oportunidade de compensares isso. Anda, passa-me a porra do casaco!
Sherman parou de pensar. Tinha o cérebro em brasa! Apoiou as palmas das mãos no chão, levantou o traseiro e inclinou-se para a frente até ficar apoiado num joelho. Depois levantou-se de um salto, agarrando o casaco com a mão direita. Fez isto tão de repente que apanhou de surpresa o jovem negro.
— Cale a boca! — ouviu-se a si próprio dizer. — Você e eu não temos nada de que conversar!
O rapaz fitou-o com um olhar absolutamente inexpressivo. Depois sorriu. — «Cale a boca?» — disse. — «Cale a boca?» — Riu e fungou com ar de desprezo. — Faz-me lá calar a boca.
— Hei!Seus desgraçados! Acabem com isso! — Era Tanooch, diantedas grades. Estava a olhar para eles os dois.
O jovem negro endereçou a Sherman um grande sorriso e espetou a língua contra o interior da bochecha (Aproveita bem! Ainda vais passar mais sessenta segundos com os ossos todos inteiros!) Voltou para a banqueta e sentou-se sem deixar de olhar para Sherman.
Tanooch leu na folha de papel que trazia na mão: — Solinas! Gutiérrez! McCoy!
McCoy! Sherman vestiu o casaco à pressa, não fosse o seu perseguidor atirar-se a ele e tirar-lho antes de ele ter tempo de sair da cela. O casaco estava molhado, engordurado, fedorento, completamente informe. As calças caíram-lhe para as pernas enquanto o vestia. O casaco estava cheio de amendoins de esferovite e... mexiam-se!... duas baratas tinham-se enfiado entre as dobras. Sacudiu-as freneticamente para o chão. Continuava a respirar depressa e com ruído.
Quando Sherman saiu da cela atrás dos latinos, Tanooch disse-lhe em voz baixa: — Está a ver? Não nos esquecemos de si. Antes do seu nome ainda havia pelo menos mais uns seis.
— Obrigado — disse Sherman. — Fico-vos muito grato.
Tanooch encolheu os ombros. — Prefiro que saia pelo seu pé a ter de varrer os seus restos dali para fora.
A sala maior estava agora cheia de polícias e presos. No balcão, o balcão de Angel, Sherman foi entregue a um guarda da Polícia Correccional, que lhe algemou as mãos atrás das costas e o pôs em bicha atrás dos latinos. Agora não havia hipótese de as calças não lhe descaírem da cintura. Não tinha maneira de as puxar para cima. Não parava de olhar por cima do ombro, com medo que pusessem o jovem negro atrás de si. Mas era ele o último da pequena bicha. Os polícias correccionais encaminharam-nos para uma escada estreita. Ao cimo da escada havia mais uma sala sem janelas. Mais polícias correccionais estavam aí instalados em velhas secretárias de metal. E, para lá das secretárias — mais celas! Eram mais pequenas, mais cinzentas, mais sombrias do que as celas de azulejos brancos do andar de baixo. Autênticas celas de prisão, estas. Na primeira estava pendurado um letreiro esmurrado que dizia: HOMENS MAIORES DE 21 ANOS CAPACIDADE DE 8 A 10. O «MAIORES DE 21 ANOS» tinha sido riscado com um marcador ou coisa parecida. Todos os presos da fila foram conduzidos para essa cela. Não lhes tiraram as algemas. Sherman não desfitava os olhos da porta por onde tinham entrado. Se o jovem negro aparecessee o pusessem junto com ele numa cela tão pequena!, ele... ele... estava desvairado de medo. Suava abundantemente. Perdera por completo a noção do tempo. Baixou a cabeça para tentar facilitar a circulação.
Então fizeram-nos sair da cela e levaram-nos até uma porta de barras metálicas. Do outro lado da porta Sherman viu uma fila de presos sentados no chão de um corredor. O corredor nem trinta e seis polegadas de largura devia ter. Um dos presos era um jovem branco com um gesso enorme na perna direita. Vestia calções, pelo que era visível o gesso inteiro. Estava sentado no chão. Encostado à parede, a seu lado, estava um par de muletas. No outro extremo do corredor havia outra porta. Junto dela estava um guarda. Tinha um enorme revólver na anca. Ocorreu a Sherman que aquela era a primeira arma que via desde que ali entrara. À medida que os presos iam saindo da área de detenção e passando pela porta, tiravam-lhes as algemas. Sherman sentou-se encostado à parede, como os outros. O corredor era abafado. Não havia janelas. Estava cheio de uma espécie de névoa fluorescente e do calor e do cheiro de demasiados corpos. A torneira de carne humana! O alçapão era o matadouro! A seguir iam... para onde?
Abriu-se a porta ao fundo do corredor, e uma voz do outro lado disse. — Lantier. — O polícia correccional que estava no corredor disse: — O.K., Lantier. — O jovem das muletas pôs-se de pé com esforço. O latino-americano que se encontrava ao seu lado deu-lhe uma ajuda. O rapaz equilibrou-se no pé são até conseguir enfiar as muletas debaixo dos braços. «Que raio de crime teria ele conseguido cometer naquele estado?» O polícia abriu-lhe a porta, e Sherman ouviu uma voz do outro lado dizer alguns números e depois: — Herbert Lantier?... o advogado que representa Herbert Lantier?
O tribunal? O alçapão dava para o tribunal!
Quando chegou a vez de Sherman, ele sentia-se atordoado, zonzo, febril. A voz do outro lado disse: — Sherman McCoy. — O polícia do lado de cá disse: — McCoy. Sherman transpôs a porta segurando as calças, e arrastando os pés para não lhe caírem os sapatos. Quando deu por si estava numa sala clara e moderna, com imensa gente a andar de um lado para o outro. Viu a tribuna do juiz, as secretárias, os bancos, tudo de uma madeira clara de má qualidade. De um dos lados havia ondas de gente a mover-se em torno do poleiro de madeira clara do juiz, e do outro mais ondas de gente naquilo que parecia ser a zona dos espectadores. Tantagente... que luz tão intensa... que confusão... que agitação... Entre as duas zonas havia uma divisória, também de madeira clara. E, junto à divisória, estava Killian... Estava ali! Tinha um ar muito fresco e elegante, com o seu fato novo. Sorria. Era o sorriso reconfortante que se tem de reserva para os inválidos. Ao aproximar-se dele, Sherman tomou uma consciência aguda do que devia ser o seu próprio aspecto... o casaco e as calças imundos e ensopados... os amendoins de esferovite... a camisa amarrotada, os sapatos molhados e sem atacadores... Sentia o seu próprio fedor de sujidade de desespero e de medo.
Alguém leu alguns números em voz alta; a seguir ouviu o seu nome, e depois ouviu Killian a repetir o seu nome, e o juiz a perguntar: — Declara-se culpado ou inocente? — Killian disse a Sherman, sotto você; — Diga: «Inocente». — Sherman pronunciou a palavra, numa espécie de gemido.
Parecia reinar na sala uma grande confusão. A imprensa? Há quanto tempo estaria ele ali, naquele edifício? Então estalou uma discussão. Estava diante do juiz um homem ainda novo, muito excitado, musculoso e já meio careca. Parecia ser alguém da Procuradoria. O juiz dizia bzz bzz bzz bzz Mr. Kramer. Mr. Kramer.
Sherman achou o juiz muito novo. Era um homem branco e bochechudo, de cabelo encaracolado, já com entradas, e cuja toga mais parecia ter sido alugada para um exame do que pertencer-lhe.
Sherman ouviu Killian resmungar: — Filho da mãe.
Kramer dizia: — Bem sei, Meretíssimo, que o nosso departamento concordou em que a fiança fosse apenas de 10000 dólares neste caso. Mas alguns desenvolvimentos ulteriores, dados que entretanto chegaram ao nosso conhecimento, impossibilitam-nos de aceitar fiança tão baixa. Meretíssimo, este caso envolve lesões graves, provavelmente até fatais, e temos conhecimento seguro e confirmado de que há neste caso mais uma testemunha que não se apresentou, uma testemunha que ia no automóvel conduzido pelo acusado, Mr. McCoy; ora nós temos todos os motivos para pensar que foram ou vão ser feitas tentativas no sentido de evitar que essa testemunha se apresente, e não acreditamos que seja servir os interesses da justiça...
Killian disse: — Meretíssimo...
— ... permitir que este réu saia em liberdade mediante o pagamento de uma quantia simbólica...
Um burburinho, um rugido, um imenso murmúrio raivoso elevou-se na zona dos espectadores, e uma voz grave eisolada gritou: — Nada de fiança! — Seguiu-se um enorme coro de murmúrios: — Nada de fiança!... — Metam-no dentro!... — É engavetá-lo!
O juiz bateu com o seu martelo. Os murmúrios extinguiram-se.
Killian disse então: — Meretíssimo, Mr. Kramer sabe perfeitamente...
De novo o mesmo burburinho.
Kramer continuou, falando por cima de Killian: — Dadas as emoções da comunidade, muito compreensivel-mente agitadas por este caso, em que se veio a demonstrar que a justiça castiga sem olhar a quem...
Killian no contra-ataque, dizendo bem alto: — Meretíssimo, isto é um perfeito disparate!
Grande agitação e burburinho.
O burburinho converteu-se num rugido; os murmúrios, em grandes berros inarticulados: — Auuuuu, meu!... Buuuuu!... Ieegggghhh!... Cala-me essa merda dessa boca e deixa o homem falar!
O juiz tornou a bater com o martelo. — Silêncio! — O alarido diminuiu de intensidade. E, dirigindo-se a Killian: — Deixe-o terminar a declaração. Depois pode responder.
— Obrigado, Meretíssimo — disse Kramer. — Meretíssimo, gostaria de chamar a atenção do tribunal para o facto de este caso ter muito rapidamente, ainda neste estádio de formalização da acusação, suscitado uma reacção maciça da parte da comunidade e mais especificamente dos amigos e vizinhos da vítima, Henry Lamb, que continua internado no hospital, em estado crítico.
Kramer voltou-se e apontou para a zona dos espectadores. Estava cheia de gente. Até havia pessoas de pé. Sherman reparou num grupo de negros de camisas azuis de trabalho. Um deles era muito alto e usava um brinco de ouro.
— Tenho aqui uma petição — disse Kramer, brandindo algumas folhas de papel acima da cabeça. — Este documento foi assinado por mais de cem membros da comunidade e entregue ao procurador do Bronx com um apelo para que a Procuradoria se constitua em representante da comunidade, de modo a que se faça justiça neste caso — e é claro que representar a comunidade não é mais do que o nosso dever, um dever que jurámos cumprir.
— Meu Deus do céu — murmurou Killian.
— A vizinhança, a comunidade, o povo do Bronx, tenciona seguir este caso atentamente, em todos os passos do processo judicial.
— Isso mesmo!... Yááááál An-hannnnnh!... Diz-lhes como é! — Um berreiro incrível recomeçou na zona dos espectadores.
O juiz gorducho bateu com o martelo e berrou: — Silêncio! Isto é uma sessão de tribunal, não é nenhum comício. Já terminou, Mr. Kramer?
Alarido, alarido, burburinho, burburinho, buuuuul
— Meretíssimo — disse Kramer — recebi instruções da Procuradoria, de Mr. Weiss em pessoa, para pedir uma fiança de 250000 dólares neste caso.
— Boa!... Iáaaaaa!... diz-lhes!... — Vivas, aplausos, pateada.
Sherman olhou para Killian. «Diga-me — diga-me — diga-me que isto não pode acontecer de maneira nenhuma!» Mas Killian estava todo esticado na direcção do juiz. Tinha o braço no ar. Os seus lábios já se moviam. O juiz batia com o martelo.
— Se isto se repetir mando evacuar a sala!
— Meretíssimo — disse Killian, quando o murmúrio se extinguiu — Mr. Kramer pelos vistos, não se contenta com ter violado um acordo entre a Procuradoria e o meu cliente. O que ele quer é transformar isto num perfeito circo! Hoje de manhã o meu cliente foi sujeito a uma autêntica fantochada, apesar de se ter mostrado sempre disponível para vir testemunhar na presença de um júri. E agora, Mr. Kramer inventa uma ameaça fictícia a uma misteriosa testemunha e pede ao tribunal que fixe uma fiança perfeitamente absurda. O meu cliente é um habitante de longa data desta cidade, tem uma família, está profundamente enraizado nesta comunidade; tínhamos chegado a acordo sobre a fiança, como o próprio Mr. Kramer reconhece, e não sucedeu nada que alterasse as premissas desse acordo.
— Muita coisa mudou, Meretíssimo! — disse Kramer.
— Pois foi — disse Killian — mudou a Procuradoria do Bronx, ao que estou a ver!
— Muito bem! — disse o juiz. — Mr. Kramer, se o seu departamento tem novos dados relativos à questão da fiança neste caso, aconselho-o a compilar esses dados e a apresentar um requerimento formal ao tribunal, para que o problema seja revisto. Até lá, o tribunal vai pôr em liberdade o réu, Sherman McCoy, mediante o pagamento de uma fiança no valor de 10000 dólares, até à apresentação desta queixa a um júri.
Berros e guinchos! Buuuuu!... legggghhh!.-Nãaaaaoooo!... Agarrem-no!... Depois começou a ouvir-seum cântico: «Nada de fiança — cadeia com ele!... Nada de fiança — cadeia com ele!»
Killian conduzia-o agora para longe da tribuna. Para saírem da sala tinham de passar pelo meio da zona dos espectadores, pelo meio de uma massa de gente furiosa que entretanto se pusera de pé. Sherman via os punhos erguidos no ar. Depois viu vários polícias aproximarem-se dele, pelo menos uma meia-dúzia. Usavam camisas brancas, cinturões de balas e coldres colossais com a coronha à mostra. Na verdade, não eram polícias, mas sim guardas do tribunal. Formaram um círculo à sua volta. «Vão-me levar outra vez para a cela!» Depois compreendeu que eles estavam a criar uma espécie de cunha para abrir caminho pelo meio da multidão. Tantos semblantes carregados, brancos e negros! «Assassino!»... «Sacana!»... «Vais ter a mesma sorte que o Henry Lambh... «Podes ir dizendo as tuas orações, Park Avenue!»... « McCoy? Diz antes Mc Morto, filho!...» Foi avançando aos tropeções, entre os seus protectores de camisa branca. Ouvia-os gemer de esforço ao afastar a multidão. — Deixem passar! Deixem passar!... — Aqui e ali aparecia um outro rosto, movendo os lábios... O inglês alto e louro... Fallow... a imprensa... depois mais gritos... «Vais-te lixar, ó Pencudo!»... «Vai contando os segundos!»... «Acabou-se a brincadeira, trouxa!»... «Olhem-me para ele — Park Avenue!»
Ali no meio da tormenta, Sherman sentiu-se estranhamente indiferente ao que se estava a passar. O pensamento dizia-lhe que tudo aquilo era horrível, mas ele não o sentia. «É que já estou morto.»
A tempestade deslocou-se da sala de audiências para uma espécie de átrio. O átrio estava cheio de pessoas paradas à espera. Sherman viu a expressão destas pessoas passar da consternação ao medo. Fugiram todas para junto das paredes, para dar passagem àquela galáxia móvel de corpos que de repente saíra da sala de audiências. Agora Killian e os guardas impeliam-no para uma escada rolante. Na parede havia um mural feiíssimo. A escada rolante descia para o andar de baixo. Empurravam-no por trás — desequilibrou-se para diante, indo aterrar nas costas de um guarda que ia no degrau abaixo do seu. Por um momento, receou que uma avalanche de corpos... mas o guarda conseguiu agarrar-se aos corrimões. Depois a galáxia ululante precipitou-se para a entrada principal e para a escadaria da Rua 161. Uma murada de corpos barrava-lhes o caminho. Câmaras de televisão,
umas seis ou oito, microfones, uns quinze ou vinte, indivíduos aos gritos — a imprensa.
As duas massas humanas encontraram-se, fundiram-se, imobilizaram-se. Killian pôs-se à frente de Sherman. Tinha os microfones apontados à cara, e começou a declamar, em tom oratório:
— Gostaria que mostrassem a toda a cidade de Nova Iorque — lok — aquilo a que acabam de assistir aqui dentro — **assexir aqui dentro. Com uma estranha distanciação, Sherman deu por si a registar todas as inflexões populares das palavras do peralvilho. — O que viram foi um perfeito circo, tanto a prisão como a acusação formal; e viram também a Procuradoria a prostituir-se e a preverter a lei para benefício das vossas câmaras e para conquistar a aprovação de uma turba de fanáticos!
«Buuuuu!... Yegggh!... Fanático és tu, meu sacana das ventas esborrachadas!»... Algures atrás dele, a escassas polegadas de distância, Sherman ouvia alguém cantarolar em falsete: — Diz as tuas orações, McCoy... Chegou a tua hora... Diz as tuas orações, McCoy... Chegou a tua hora...
Killian dizia: — Chegámos ontem a acordo com o procurador...
A voz de falsete cantarolava: — Diz as tuas orações, McCoy... Vai contando os segundos...
McCoy ergueu os olhos para o céu. Parara de chover. O Sol rompera as nuvens. Estava agora um lindo e quente dia de Junho. O céu por cima do Bronx era uma amena cúpula azul.
Continuou a olhar para o céu e a ouvir os sons, apenas os sons, as frases pomposas e os efeitos de estilo, as cantilenas em falsete, os berros inquisitoriais, os murmúrios, e pensou: «nunca mais torno a entrar aqui, nunca mais». Faço o que for preciso para não voltar a pôr cá os pés, nem que tenha de enfiar na boca o cano de uma espingarda.
A única espingarda que ele tinha, aliás, era de dois canos. Era um objecto grande e antigo. Sherman, ali parado, na Rua 161, a dois passos do Grand Concourse, no Bronx, só perguntava a si próprio se lhe caberiam na boca os dois canos.
23 - Interior da Cavidade
— Olhe, lá está você, Larry — disse Abe Weiss com um grande sorriso. — Caramba, puseram-lhe a cabeça toda luzidia!
Uma vez que Weiss o convidava agora a fazê-lo, Kramer fez aquilo que havia quarenta e cinco segundos estava com vontade de fazer, ou seja, voltar completamente as costas a Weiss e olhar para a bateria de televisões na parede oposta.
E, realmente, lá estava ele.
A videocassette chegara à parte do noticiário da véspera do Canal 1 em que mostravam o desenho da artista representando a cena da sala do tribunal. O som bastante baixo, mas Kramer ouvia a voz do locutor, Robert Corso, como se o tivesse dentro da cabeça: — O procurador-adjunto Lawrence Kramer brandiu as folhas de petição diante do juiz Sammy Auerbach e disse: «Meretíssimo, o povo do Bronx...» — No desenho, o alto da sua cabeça aparecia completamente careca, o que era injusto e pouco realista, porque ele não era calvo, começava apenas a ficar calvo. Mas, apesar de tudo, lá estava ele. Não era uma Daquelas pessoas Que se Vêem na Televisão. Era ele próprio, e se alguma vez existira um vigoroso guerreiro da Justiça, era ele, ali, naquele écran. O seu pescoço, os ombros, o peito, os braços, eram enormes, como se ele estivesse a lançar o peso nos Jogos Olímpicos e não simplesmente a acenar com meia-dúzia de folhas depapel diante de Sammy Auerbach. É verdade que um dos motivos para ele aparecer assim tão grande era o facto de o desenho ser um pouco desproporcionado, mas provavelmente fora assim que a artista o vira: Maior do Que o Tamanho Natural. A artista... que italiana suculenta... lábios como nectarinas... Belos seios sob uma camisola brilhante, sedosa... Lucy Dellafloria, chamava-se ela... Se não tivesse havido tanta agitação e confusão, teria sido a coisa mais fácil deste mundo. Afinal de contas, ela tinha estado ali na sala a concentrar-se na figura dele, no meio do palco, atenta às expressões do rosto dele, à paixão do seu discurso, à segurança do seu desempenho em pelo campo de batalha. Hipnotizada como artista e como mulher... com os seus lábios carnudos de Italiana Suja... hipnotizada por ele.
De repente, muito mais cedo do que seria de desejar, o desenho desapareceu e Weiss surgiu no écran com uma floresta de microfones diante da cara. Os microfones estavam sobre a sua secretária, em pequenos suportes metálicos, pois aquilo era a conferência de imprensa que ele dera logo a seguir à formalização da acusação. E já dera outra esta manhã. Weiss sabia perfeitamente como manter as atenções concentradas na sua pessoa. Oh, sim! O espectador de televisão médio concluiria que aquilo era tudo obra de Abe Weiss e que o procurador-adjunto que apresentara o caso na sala de audiências, aquele Larry Kramer, não passava de um instrumento da clarividência estratégica de Abe Weiss. Weiss não punha os pés numa sala de audiências desde que entrara em funções, ia já para quatro anos. Mas Kramer não levava isso a mal; ou pelo menos, não muito. Isso era o dado. Era assim que as coisas funcionavam. Era assim em todas as Procuradorias, e não apenas na de Weiss. Não, nessa manhã Kramer achava o capitão Ahab um tipo às direitas. O nome Lawrence Kramer aparecera muitas vezes na televisão e nos jornais, e ela, a deliciosa Lucy Dellafloria, Lucy Delicada Flor, fizera o seu retrato e captara as formas robustas do procurador-adjunto. Não, estava tudo bem. E Weiss ainda agora se tinha dado ao trabalho de lhe chamar a atenção para isso, ao passar a videocassette. A mensagem implícita era: «Está bem, eu fico com o papel da estrela, porque sou eu que estou à frente deste departamento e sou eu que tenho as eleições à porta. Mas estás a ver que não te deixo de fora. O segundo papel é para ti.»
Por isso ficaram os dois a ver o resto da reportagem do Canal 4 na bateria de televisões da parede apainelada. Diantedo Tribunal Criminal do Bronx estava agora Thomas Killian, com os microfones apontados para a sua cara.
— Foda-se, olhe-me só para aquelas roupas — resmungou Weiss. — Que ridículo! — O que passou pela cabeça de Kramer foi um cálculo do dinheiro que aquela roupa devia ter custado.
Killian explicava nesse momento como aquela prisão tinha sido um «perfeito circo». Parecia extremamente irritado.
— Chegámos ontem a um acordo com o procurador. Mr. McCoy ficou de se apresentar aqui esta manhã para a formalização da acusação, sossegadamente, voluntariamente, mas o procurador preferiu violar o acordo e prender Mr. McCoy como um criminoso violento, como um animal — e para quê? Para obter a atenção das vossas câmaras e os vossos votos.
— Vaitimbora! — disse Weiss para o écran.
Killian continuava: — Mr. McCoy não só nega todas as acusações como está ansioso por que sejam conhecidos todos os dados deste caso; e quando forem conhecidos, o público verá que a versão do caso que está a ser divulgada não tem o menor fundamento.
— Blá, blá, blá — disse Weiss para o écran.
A câmara focava agora uma figura meia escondida atrás de Killian. Era McCoy. Tinha a gravata desapertada e puxada para um dos lados. A camisa e o casaco estavam todos amarrotados. Tinha o cabelo emaranhado. Parecia meio afogado. Tinha os olhos revirados para cima, fitando o céu. Dir-se-ia que o seu espírito já ali não estava.
Agora era o rosto de Robert Corso que estava no écran, a falar acerca de McCoy, McCoy, McCoy. Já não era o caso Lamb. Era o caso McCoy. O grande WASP da Wall Street, com o seu perfil aristocrático, dera ao caso um certo sex appeal. A imprensa não se cansava de dar voltas ao tema.
A secretária de Weiss estava coberta de jornais. Em cima de todos estava ainda o City Light da véspera. Em letras enormes, a primeira página dizia:
COLUNÁVEL DA WALL STREET PRESO POR ATROPELAMENTO E FUGA
As palavras surgiam ao lado de uma fotografia estreita e comprida de McCoy, completamente ensopado, com asmãos diante do corpo e o casaco dobrado sobre elas, obviamente para esconder as algemas. Tinha o seu grande e belo queixo muito espetado e uma expressão ferozmente carrancuda no olhar de cima para baixo que lançara à máquina fotográfica. Parecia dizer: «Pois sim, e depois?» Até o Times trazia hoje uma notícia de primeira página sobre o caso, mas quem mais embandeirava em arco era o City Light. O título desta manhã dizia:
PROCURA-SEMISTERIOSA MORENA SEXY
Um título em caracteres mais pequenos, ao cimo da página, dizia: Equipa Mercedes: Ele Atropelou, Ela fugiu. A fotografia era a da revista mundana W, a que Roland Auburn escolhera, aquela em que McCoy aparecia de smoking, sorridente, ao lado da mulher muito distinta e insípida. A legenda dizia: Testemunha ocular afirmou que a companheira de McCoy era mais jovem, mais sexy, mais «Boazona» que a esposa, Judy, de quarenta anos, que aqui vemos com o maridinho numa festa de caridade. Uma linha de letras brancas numa barra preta ao fundo da página acrescentava: Manifestantes exigem: «Nada de Fiança — Cadeia, Já!» para o Menino Bonito da Wall Street. Ver Página 3. E ainda: Chez McCoy e chez Lamb: Uma História em Duas Cidades. Fotos nas páginas 4 e 5. Nas páginas 4 e 5 viam-se de um lado, fotografias da casa dos McCoys na Park Avenue, as fotografias da Architectural Digest, e do outro fotos do minúsculo apartamento dos Lambs no bairro camarário. Uma longa legenda começava assim: Duas Nova Iorques bem diferentes colidiram quando Sherman McCoy, funcionário superior de um banco de investimentos da Wall Street, atropelou com o seu Mercedes-Benz desportivo o brilhante aluno de liceu Henry Lamb. McCoy vive num apartamento de 3 milhões de dólares, 14divisões e dois andares na Park Avenue; Lamb num apartamento de três divisões e 247 dólares por mês num bairro social do Sul do Bronx.
Weiss saboreou cada milímetro quadrado da reportagem. Aquilo acabava de vez com todas as histórias de «justiça branca» e «Joanesbronx». Não tinham conseguido subir a fiança de McCoy para 250000 dólares, mas pelo menos tinham tentado, e agressivamente. Agressivamente? Kramer sorriu. Os olhos de Sammy Auerbach tinham-se arregaladotanto que mais pareciam dois guarda-chuvas abertos, quando ele lhe acenara com a petição. Talvez o gesto tivesse sido um bocadinho exagerado, mas mostrava bem qual era a posição deles. A Procuradoria do Bronx estava em contacto com o povo. E o povo ia continuar a exigir uma fiança mais alta.
Não, Weiss estava satisfeito. Era óbvio que sim. Esta era a primeira vez que Kramer fora chamado ao gabinete de Weiss sozinho, sem Bernie Fitzgibbon.
Weiss carregou num botão, e a televisão apagou-se. Depois disse a Kramer: — Viu o aspecto do McCoy lá fora, era frente à porta? Porra, parecia saído do caixote do lixo. O Milt disse que era assim que ele estava quando entrou ontem na sala do tribunal. Disse que o tipo estava um nojo. Porque é que foi isso?
— Bom — disse Kramer —, o que aconteceu foi que estava a chover. E ele ficou todo molhado enquanto esperava lá fora, à porta do Registo Central. Deixaram-no à espera na bicha como os outros, que era o que se pretendia. A ideia era não lhe dar um tratamento de favor.
— Está bem — disse Weiss — mas que diabo, então a gente leva a Park Avenue a tribunal e quando o gajo aparece, ao que me disse o Milt, vem com ar de quem acaba de ser pescado do rio. E o Bernie também me esteve a dar cabo do juízo por causa disso. Ele nem queria que o tipo passasse pelo Registo Central.
— Oh, o homem também não estava assim com tão mau aspecto, Mr. Weiss.
— Trate-me por Abe.
Kramer acenou com a cabeça, mas decidiu esperar um lapso de tempo decente antes de tentar o seu primeiro Abe. — Não estava muito diferente de todos os outros que saem das celas de detenção.
— E o Tommy Killian também resolveu armar um escarcéu à volta do caso. — Fez um gesto na direcção dos televisores.
Kramer pensou: Bom, finalmente lá te decidiste a levantar cabelo contra os dois Burros. O Bernie tinha ficado bastante incomodado, para não dizer pior, quando Weiss o desautorizara e ordenara a Kramer que requeresse um aumento de fiança de 10000 para 250000 dólares, depois de Bernie ter acordado com Killian que o montante seriam só 10000 dólares. Weiss dissera a Bernie que aquilo era apenas Para aplacar os moradores descontentes, que julgavam que McCoy ia receber um tratamento de favor, e que sabia muitobem que Auerbach não fixaria uma fiança tão alta. Mas, para Bernie, tratava-se de uma violação de contrato, de uma infracção às regras do Banco de Favores, do código sagrado de lealdade entre irlandeses que vigorava no sistema de justiça criminal.
Kramer viu passar uma nuvem no semblante de Weiss, que disse, depois de uns instantes de silêncio: — Bom, o Tommy que barafuste se quiser. Uma pessoa dá em doida se anda a tentar agradar a toda a gente. Eu tinha de tomar uma decisão e tomei-a. O Bernie gosta do Tommy, e eu acho muito bem. Eu também gosto do Tommy. Mas o Bernie quer-lhe dar tudo de mão beijada! Com as promessas que ele fez ao Tommy, o McCoy passava por aqui todo descansado, como se fosse o príncipe Carlos! Quanto tempo é que o McCoy esteve nas celas?
— Oh, umas quatro horas.
— Bom, gaita, isso é o costume, não é?
— Mais ou menos. Eu até já tenho visto réus mandados de uma esquadra para outra e depois aqui para o Registo Central, e depois para Rikers Island e outra vez para o Registo, antes da acusação formal. Se são presos numa sexta à tarde, arriscam-se a passar o fim-de-semana inteiro a andar de um lado para o outro. E aí sim, aí é que os tipos ficam com bastante mau aspecto. O McCoy nem sequer teve de passar por uma esquadra, nem que vir de carrinha para o Registo Central.
— Bom, então não sei para que é tanto barulho. Acon-teceu-lhe alguma coisa nas celas? O que é que foi a desgraça?
— Não aconteceu nada. Acho que o computador se avariou, e daí o atraso. Mas isso também acontece quase todos os dias. É perfeitamente normal.
-
Quer saber o que eu acho? Acho que o Bernie, sem dar por isso — não me interprete mal, eu gosto muito do Bernie, e respeito-o — mas acho que, sem dar por isso, ele no fundo pensa que um indivíduo como o McCoy deve receber um tratamento de favor, por ser branco e por ser conhecido. Ora bem, isto é uma coisa bastante subtil. O Bernie é irlandês, tal como o Tommy, e os Irlandeses têm na massa do sangue uma boa dose daquilo a que os Ingleses chamam «deferência», e nem sequer dão por isso. Estes WASPs, como o McCoy, conseguem intimidá-los, muito embora, conscien-temente, eles possam pensar e agir como membros do IRA. Não é que isto seja muito importante, mas a verdade é que um tipo como o Bernie vive constantemente com esta história da deferência, com esta coisa inconsciente, tipicamente irlandesa, e nem sequer dá por isso. Mas nós não representamos os WASPs, Larry. Pergunto a mim próprio se haverá algum WASP a viver no Bronx. Deve haver um ou outro em Riverdale.
Kramer deu uma risadinha.
— Não, estou a falar a sério — disse Weiss. — Isto aqui é o Bronx. Isto é o Laboratório das Relações Humanas. É assim que eu lhe chamo, o Laboratório das Relações Humanas.
E era verdade; ele chamava ao Bronx o Laboratório das Relações Humanas. Chamava-lhe assim todos os dias, esquecendo que todos os que alguma vez tinham passado pelo seu gabinete já o tinham ouvido dizer aquilo. Mas hoje, Kramer estava disposto a perdoar o lado teatral de Weiss. Mais do que perdoar... a compreender e aperceber-se da verdade essencial que estava por trás do seu modo algo cómico de pôr os problemas. Weiss tinha razão. Não era possível estar à frente do sistema de justiça criminal do Bronx e fingir que se estava numa espécie de Manhattan deslocada.
— Chegue aqui — disse Weiss. Levantou-se do seu grande cadeirão e foi até à janela que ficava atrás de si, chamando Kramer com a mão. Dali do sexto andar, no alto da colina, o panorama era esplêndido. A altura a que estavam anulava os pormenores sórdidos, valorizando aos olhos do espectador a bela topologia ondulada do Bronx. Olharam para o Yankee Stadium e para o Parque John Mullaly, que visto dali parecia realmente verde e selvagem. Em frente, ao longe, do outro lado do rio Harlem, recortavam-se no horizonte os prédios da parte alta de Manhattan, da zona do Centro Médico Colúmbia-Presbyterian, que dali parecia um quadro absolutamente pastoral, como os antigos estudos de paisagens onde aparecem ao fundo umas árvores de contornos indistintos e nuvens suaves e cinzentas.
Weiss disse: — Olhe lá para baixo, para estas ruas, Larry. O que é que vê? Quem é que vê?
Kramer não via senão algumas silhuetas minúsculas a andar na Rua 161 e na Walton Avenue. Estavam tão lá em baixo que mais pareciam insectos.
— Todos negros e porto-riquenhos — disse Weiss. — Já nem sequer se vêem judeus velhos a passear por aí, nem italianos, e estamos no centro cívico do Bronx. Isto aqui está para o Bronx como a Montague Street para Brooklyn ou a City Hall Plaza para Manhattan. Dantes, no Verão, osjudeus sentavam-se à noite no passeio, ali mesmo, na Grand Concourse, a ver passar os carros. Agora nem o Charles Bronson conseguíamos convencer a sentar-se lá. É a nova era, a era moderna, que ninguém compreende ainda. Quando eu era miúdo, eram os irlandeses que mandavam no Bronx. Mandaram aqui durante muito tempo. Lembra-se do Charlie Buckley? Charley Buckley, o congressista? Não, você é muito novo. Charlie Buckley, o dono do Bronx, o mais irlandês dos Irlandeses. Aí há uns trinta anos ainda era Charlie Buckley quem mandava no Bronx. E agora acabou-se; e quem é que manda em vez deles? Os judeus e os italianos. Mas por quanto tempo? Não há nenhuns lá em baixo na rua, por isso quanto tempo é que os vai haver aqui dentro, neste edifício? Mas isto é o Bronx, o Laboratório das Relações Humanas. É assim que eu lhe chamo, o Laboratório das Relações Humanas. Estas pessoas que está a ver lá em baixo são pessoas pobres, Larry, e a pobreza gera o crime, e o crime nesta zona... bom, você não precisa que eu lho diga. Eu, em parte, sou um idealista. Gostava de tratar cada caso numa base individual, e cada pessoa por si. Mas, com o número de casos que nós temos? Eiii!iii... A outra parte da minha pessoa sabe que nós no fundo somos é um bando de vaqueiros a conduzir uma manada. Com uma manada, o melhor que se pode esperar é mantê-la unida — fez um grande gesto circular com as mãos — e sob controlo, e fazer votos para que não se percam muitas cabeças pelo caminho. Oh, há-de vir o dia, e talvez muito em breve, em que essa gente lá de baixo terá os seus próprios chefes e as suas próprias organizações, em que serão eles o Partido Democrático do Bronx e tudo o mais, e em que nós já não estaremos nesta casa. Mas por enquanto eles precisam de nós, e nós temos que fazer o que for mais certo para eles. Temos que os fazer perceber que não estamos longe deles, e que eles fazem parte de Nova Iorque, tanto como nós. Temos que transmitir as mensagens certas. Temos que lhes dar a entender que, se caímos em cima deles quando eles pisam o risco, não é por serem negros ou hispânicos ou pobres. Temos que lhes dar a entender que a justiça é realmente cega. Temos que lhes dar a entender que quando se é branco e rico, as coisas funcionam da mesma maneira. E uma mensagem muito importante. É mais importante do que qualquer ponto específico ou pormenor técnico da lei. É para o que este organismo serve, Larry. Nós não estamos aqui para despachar processos. Estamos aqui para criar esperança. É isso que o Bernie não percebe. — A forma correcta do auxiliar, doesnt, em vez do dont irlandês, testemunhavada elevação dos pensamentos do procurador naquele momento.
— O Bernie continua a fazer política à irlandesa — continuou Weiss — exactamente da mesma maneira que Charlie Buckley a fazia, e isso é uma coisa que acabou. Não tem futuro. Chegámos a uma nova era no Laboratório das Relações Humanas, e é nosso dever representar essa gente que você está a ver lá em baixo.
Kramer espreitou diligentemente para os insectos. Quanto a Weiss, a elevação dos seus sentimentos enchera-lhe a voz e o rosto de emoção. Endereçou a Kramer um olhar sincero e um sorriso cansado, como se dissesse: «É isto que conta, na vida, uma vez postas de parte as considerações mais mesquinhas.»
— Nunca tinha pensado nisso assim, Abe — disse Kramer — mas tem toda a razão. — Pareceu-lhe um bom momento para o primeiro Abe.
— A princípio fiquei preocupado com este caso McCoy — disse Weiss. — O Bacon e essa gente estavam a forçar a nota, e parecia que a gente não conseguia fazer outra coisa a não ser reagir aos ataques. Mas não faz mal. Afinal foi uma boa coisa. Como é que nós tratamos um figurão da Park Avenue? Como tratamos toda a gente, nem melhor nem pior! Prendemo-lo, algemamo-lo, levamo-lo para o Registo, tiramos-lhe as impressões digitais, deixamo-lo à espera nas celas, como qualquer outra pessoa que ande aí nas ruas! Ora, eu acho que isto transmite uma mensagem francamente positiva. Dá a entender a essas pessoas que é a elas que nós representamos, e que elas também fazem parte de Nova Iorque.
Weiss olhou para a Rua 161 como um pastor para o seu rebanho. Kramer ficou satisfeito por não haver ninguém além dele a presenciar a cena. Se houvesse mais de uma testemunha, reinaria o cinismo. Não seria possível pensar noutra coisa a não ser que Abe Weiss estava a cinco meses das eleições, e que 70 por cento dos habitantes do Bronx eram negros e latino-americanos. Mas como não havia mais testemunhas, Kramer pôde chegar ao cerne da questão, ou seja, ao facto de que aquela criatura maníaca que tinha à sua frente, o Capitão Ahab, tinha razão.
— Você fez um excelente trabalho ontem, Larry — disse Weiss — e quero que continue a fazê-lo. Não se sente bem quando usa assim o seu talento numa coisa que tem algum sentido? Caramba, você sabe com certeza quanto é que eu ganho. — Kramer sabia, sim. Eram 82000 dólares por ano.
— Houve pelo menos uma dúzia de encruzilhadas em que eu podia ter escolhido outro caminho, saído daqui para ir ganhar três vezes mais, cinco vezes mais, com uma clientela particular. Mas para quê? Só temos uma vida, Larry. Como é que eu quero ser recordado pelas outras pessoas? Como aquele gajo que tinha uma merda de uma mansão em River-dale, em Greenwich ou em Locust Valley? Ou como alguém que teve a sua influência no curso das coisas? Eu tenho pena do Tommy Killian. Ele era um bom procurador-adjunto, mas queria ganhar dinheiro, e agora lá está a ganhar dinheiro, mas a que preço? Tem de dar a mão e limpar o ranho a uma súcia de vigaristas, psicóticos e drogados. Um tipo como o McCoy só lhe dá bom aspecto. Nestes anos todos, desde que saiu daqui, aposto que não apanhou nenhum cliente assim. Não, eu cá prefiro estar à frente do Laboratório das Relações Humanas. Prefiro influir no curso das coisas.
«Você fez um excelente trabalho ontem. E eu quero que continue a fazê-lo».
— Meu Deus, só queria saber que horas serão — disse Weiss. — Estou a ficar com fome.
Kramer olhou para o relógio com alacridade. — Quase 12.15.
— Porque é que não fica para o almoço? Vem aí o juiz Tonneto, mais um tipo do Times, um Overton Não-sei-quantos — esqueço-me sempre, eles chamam-se todos Overton ou Clifton ou uma gaita de uns nomes assim parecidos — e o Bobby Vitello e o Lew Weintraub. Conhece o Lew Weintraub? Não? Então deixe-se ficar. Sempre aprende alguma coisa.
— Bom, se lhe parece...
— Mas com certeza! — Weiss fez um gesto na direcção da sua gigantesca mesa de reuniões, como que a dizer que espaço não faltava. — É só pedir umas sanduíches.
Disse isto como se se tratasse de uma combinação de última hora, em que de repente resolvia mandar pedir sanduíches em vez de ir ao restaurante, como se ele ou qualquer outro dos pastores da ilha fortificada se atrevessem a passear no meio do rebanho e a ir almoçar no centro cívico do Bronx.
Mas Kramer baniu dos seus pensamentos todos os vestígios de cinismo reles. Almoçar com o juiz Tonneto, com Bobby Vitello, com Lew Weintraub, o promotor imobiliário, com Overton Qualquer Coisa Wasp do New York Times, e com o procurador em pessoa!
Sentia que começava a destacar-se da massa anónima. «Obrigado, meu Deus, pelo Grande Réu Branco. Obrigado, meu Deus, por Mr. Sherman McCoy».
Com um lampejo de curiosidade, pôs-se a pensar em McCoy. McCoy não era muito mais velho que ele. Como seria a sensação daquele mergulhinho gelado no mundo real, para um WASP que toda a vida tivera tudo o que queria? Mas foi um mero lampejo, mais nada.
Os índios Bororó, uma tribo primitiva que vive nas margens do rio Vermelho, na selva amazónica do Brasil, não acreditam na existência de um eu individual. Para os Bororós o espírito é uma cavidade aberta, como uma gruta, um túnel ou uma arcada, se quiserem, onde vive a aldeia inteira e a selva se desenvolve. Em 1969, José M. R. Delgado, o eminente fisiologista cerebral espanhol, deu razão aos Bororós. Durante perto de três milénios, os filósofos ocidentais tinham encarado o eu como uma coisa única, uma coisa, por assim dizer, encerrada no interior do crânio de cada indivíduo. Este eu interno tinha, é claro, que entrar em contacto e que aprender com o mundo exterior, e podia revelar-se incompetente nessa tarefa. No entanto, presumia-se que o cerne do eu era qualquer coisa de irredutível e inviolado. Mas Delgado afirmou que não era assim. «Cada pessoa é um composto transitório de materiais extraídos do ambiente.» A palavra importante, aqui, era transitório, e ao escrevê-la ele não pensava em termos de anos mas sim de horas. Citava experiências em que estudantes universitários saudáveis, calçando luvas grossas para reduziras sensações tácteis e pondo óculos translúcidos que os impediam de ver distintamente, começavam a sofrer de alucinações ao fim de algumas horas. Sem a aldeia inteira e a selva inteira a ocupar a cavidade, os seus espíritos deixavam de existir.
O autor, porém, não citou nenhuma experiência de sentido contrário. Não discutiu o que acontece quando o eu de uma pessoa — ou àquilo que se considera ser o seu eu — não se limita a ser uma cavidade aberta ao mundo exterior mas se converte de repente num parque de diversões em que toda a gente, todo el mundo, tout le monde, se precipita, aos saltos, aos pulos e aos gritos, de nervos alerta e corpo palpitante, pronta para tudo, ávida de tudo o que uma pessoa tiver Para dar, risos, lágrimas, gemidos, tonturas, arquejos, horrores, tudo, e quanto mais sinistro melhor. Ou, para dizer de outra maneira, ele não nos disse nada acerca do espírito de um indivíduo que se encontra no meio de um escândalo no último quartel do século xx.
A princípio, nas semanas que se seguiram ao acidente no Bronx, Sherman McCoy vira na imprensa um inimigo que o rondava lá fora. Temia os jornais e os noticiários de cada dia como alguém recearia as armas mortíferas de um inimigo impessoal e invisível, como recearia que uma bomba ou uma granada se abatesse sobre ele. Mesmo na véspera, diante da porta do Registo Central, no meio da chuva e do lixo, quando lhes vira o branco dos olhos e o amarelo dos dentes, quando o tinham insultado, escarnecido e atormentado, quando o tinham espezinhado e conspurcado de todas as maneiras, haviam continuado a ser o inimigo lá de fora. Tinham-no cercado para o matar, ferindo-o e humilhando-o, mas sem conseguirem atingir o seu eu inviolável, o eu de Sherman McCoy, encerrado no cadinho metálico do seu espírito.
Tinham-no cercado para o matar. E depois tinham-no matado.
Não conseguia lembrar-se se morrera ainda cá fora, na bicha, antes de se abrir a porta do Registo Central, se já na cela. Mas quando tornara a sair do edifício, quando Killian dera a sua conferência de imprensa improvisada, tinha já morrido e renascido. Na sua nova incarnação, a imprensa já não era um inimigo e já não estava lá fora. A imprensa era agora um estado seu, como o lúpus eritematoso ou a granulomatose de Wegener. Todo o seu sistema nervoso central estava agora ligado ao vasto, ao incalculável circuito da rádio, da televisão e dos jornais, e o seu corpo vibrava, inflamava-se e ressoava a energia da imprensa e o gozo daqueles que ela atingia, ou seja toda a gente, do vizinho mais próximo ao estranho mais enfadado e mais distante, só momentaneamente estimulado pela sua desgraça. Milhares de pessoas, não, milhões, vinham agora invadir a cavidade daquilo que ele supusera ser o seu eu, o eu de Sherman McCoy. Já não podia impedi-los de entrarem na sua pele, tal como não podia impedir o ar de entrar nos seus pulmões. (Ou, melhor dizendo, podia impedi-los apenas do mesmo modo que podia recusar, de uma vez por todas, o ar aos seus pulmões. Essa solução ocorreu-lhe mais de uma vez durante aquele longo dia, mas ele lutou contra a morbidez, lutou e tornou a lutar, ele que já morrera uma vez.)
A coisa começou minutos depois de ele e Killian conseguirem libertar-se da turba dos manifestantes, dos repórteres, dos fotógrafos, e das equipas de televisão e entrar no automóvel que Killian alugara. O motorista estava a ouvirum programa musical no rádio do carro, mas passados instantes veio o noticiário da meia hora, e Sherman começou logo por ouvir o seu nome e todas as palavras-chave que veria e ouviria vezes sem conta durante o resto do dia: Wall Street, colunável, atropelamento e fuga, brilhante aluno de liceu do Bronx, companheira não-identificada, enquanto via no retrovisor os olhos do motorista, fitando a cavidade aberta conhecida por Sherman McCoy. Na altura em que chegaram ao escritório de Killian, a edição do meio-dia do City Light já lá estava, com o seu rosto contorcido a olhá-lo na primeira página; e todos os habitantes de Nova Iorque eram agora livres de lhe penetrar na alma através daqueles seus olhos horrorizados. Ao fim da tarde, quando regressou à Park Avenue, teve de passar pelas varas de mais um grupo de repórteres e equipas de televisão para entrar no seu prédio. Tratavam-no alegre e familiarmente, imperiosamente, por «Sherman», e Eddie, o porteiro, olhou-o nos olhos e espreitou demoradamente para o interior da cavidade. Para tornar as coisas ainda piores, teve de subir no elevador com os Morriseys, que viviam no último andar. Os outros não disseram nada. Limitaram-se a enfiar os seus longos narizes na cavidade e a farejar, a farejar a sua vergonha, até ficarem com os rostos hirtos, tal era o fedor. Sherman contara com o facto de o seu número de telefone não vir na lista para o proteger, mas a imprensa já conseguira resolver o problema na altura em que ele chegou a casa, e Bonita, a compassiva Bonita, que só lançou uma olhadela rápida para o interior da cavidade, tinha que atender todas as chamadas. Todas as empresas noticiosas imagináveis telefonaram, e houve também algumas chamadas para Judy. E para ele? Quem teria tanta falta de dignidade, quem se mostraria imune ao embaraço ao ponto de fazer um telefonema pessoal para esta arcada pública, para esta massa de vergonha e mau cheiro que era a pessoa de Sherman McCoy? Só a mãe, o pai e Rawlie Thorpe. Bom, pelo menos Rawlie marcara um ponto a seu favor. Judy — vagueando no apartamento, chocada e distante. Campbell — confusa mas não chorosa; ainda não. Ele não se julgara capaz de enfrentar o écran da televisão, e no entanto ligou-a. Não havia canal que não o vilipendiasse. Conhecido corretor de um banco de investimentos da Wall Street, funcionário superior da Pierce & Pierce, colunável, colégio particular, Yale, filho único e mimado do antigo administrador da Dunning Sponget & Leach, a firma de advogados da Wall Street, no seu Mercedes desportivo de "0000 dólares (agora já custava mais 10000), com uma
morena sexy que não é sua mulher nem se parece nada com a sua mulher, e que por comparação faz a mulher parecer completamente desengraçada, atropela o filho exemplar de uma família pobrezinha mas honesta, um jovem estudante promissor criado num bairro social, e foge no seu belo carro sem um instante de compaixão, ou sequer de auxílio, à sua vítima, agora às portas da morte. O que era sinistro — e, ainda sentado diante do televisor, ele tinha consciência de que aquilo era uma sensação sinistra — era que ele não ficava chocado nem furioso com aquelas distorções grosseiras e manifestas faltas à verdade. Não, sentia-se envergonhado. Ao cair da noite tudo aquilo já fora repetido tantas vezes, no vasto circuito a que a sua pele parecia agora estar ligada, que ganhava o peso da verdade, pela simples razão de que milhões de pessoas tinham visto aquele Sherman McCoy, aquele Sherman McCoy do écran, e sabiam que era ele o homem que cometera uma acção desumana. Eles estavam agora presentes, em multidão, tagarelando e indignando-se e dispondo-se muito provavelmente a fazer coisas piores, no interior da arcada pública que ele julgara outrora ser o eu individual de Sherman McCoy. Toda a gente, todos os que agora o olhassem, com a possível excepção de Maria, se é que ela alguma vez ia tornar a olhá-lo, conhecê-lo-iam como aquela pessoa que aparecia na primeira página de dois milhões, três milhões, quatro milhões de jornais e nos écrans de só Deus sabe quantos televisores. A energia das suas acusações, carreada pelo vasto circuito da imprensa, que se encontrava ligado ao seu sistema nervoso central, fazia-lhe vibrar e arder a pele e provocava-lhe constantes descargas de adrenalina. Tinha o pulso constantemente acelerado, embora já não estivesse no mesmo estado de pânico. Em vez disso reinava nele um torpor triste, melancólico. Não se conseguia concentrar em... nada durante o tempo suficiente para alguma coisa o conseguir entristecer. Pensou no que aquilo devia estar a fazer a Judy e a Campbell, mas já não sentia a angústia de outrora... a angústia anterior à sua morte. Aquilo alarmou-o. Olhou para a filha e tentou sentir a mesma angústia, mas era um puro exercício intelectual. Tudo tão triste e tão pesado, pesado, pesado.
A única coisa que conseguia sentir realmente era medo. Era medo de voltar para aquele lugar.
À noite, exausto, foi-se deitar pensando que não conseguiria dormir. Mas a verdade é que adormeceu quase de seguida e teve um sonho. Era ao fim da tarde. Ele ia num autocarro que seguia pela First Avenue. Isto era estranho,porque havia pelo menos dez anos que ele não tomava um autocarro em Nova Iorque. Quando deu por isso, o autocarro estava a virar para a Rua 110, e escurecera. Ele tinha deixado passar a sua paragem, embora não soubesse qual era a sua paragem. Estava agora num bairro negro. A verdade é que devia ser um bairro latino-americano, a saber, o Harlem espanhol, mas no sonho era um bairro negro. Saiu do autocarro, receando que, se continuasse lá dentro, as coisas ainda ficassem piores. Nas entradas das casas, nos alpendres, no passeio, via silhuetas no escuro, mas eles ainda não o tinham visto. Correu pelas ruas, no meio das sombras, tentando encaminhar-se para oeste. O bom senso mandaria que tornasse a descer a First Avenue, mas parecia terrivelmente importante dirigir-se para oeste. Então percebeu que os vultos formavam um círculo. Não diziam nada e nem sequer se aproximavam muito... por enquanto. Eles tinham todo o tempo deste mundo. Sherman correu, no escuro, procurando seguir sempre pela sombra, e gradualmente os vultos foram-se aproximando; gradualmente, porque tinham todo o tempo do mundo. Acordou perfeitamente em pânico, todo transpirado, com o coração aos pulos no peito. Dormira menos de duas horas.
De manhã cedo, quando o Sol nasceu, sentiu-se mais forte. As vibrações e a inflamação tinham cessado, e começou a perguntar a si próprio: Estarei livre deste meu horrível estado? Era evidente que ele não percebia o que se passava. O vasto circuito limitara-se a parar durante a noite. Os milhões de olhos acusadores estavam fechados. Fosse como fosse, decidiu: serei forte. Que outra escolha lhe restava? Nenhuma, a não ser morrer de novo, devagar ou depressa; e de vez. Foi nesse espírito que resolveu não ficar preso no seu próprio apartamento. Viveria a sua vida o melhor que pudesse e cerraria os dentes para enfrentar a multidão. Começaria por levar Campbell à carrinha, como sempre fazia.
Às sete horas, Tony, o porteiro, telefonou para cima, pedindo desculpas, para dizer que havia uma meia-dúzia de fotógrafos e repórteres acampados à porta do prédio, no passeio e em automóveis. Bonita transmitiu o recado, e Sherman cerrou os dentes, espetou o queixo e resolveu encarar os jornalistas da mesma maneira que se encara o mau tempo. Saíram os dois do elevador, Sherman com o seu mais discreto fato inglês de fazenda de lã às risquinhas, e Campbell com o seu uniforme do colégio; aproximaram-se da Porta e Tony disse então, com uma inquietação genuína: — Boa sorte. Olhe que eles são brutos que se fartam. — Lá fora,no passeio, o primeiro a vir ao seu encontro foi um rapaz muito novo, com cara de bebé, que o abordou com uma atitude próxima da delicadeza, dizendo: — Mr. McCoy, gostava de lhe perguntar...
Sherman agarrou na mão de Campbell, ergueu o seu queixo de Yale e disse: — Não tenho comentários a fazer. E agora, se me dão licença...
De repente estavam uns cinco, seis, sete jornalistas à volta dele e de Campbell, e já ninguém o tratava por «Mr. McCoy.»
— Sherman! Só um minuto! Quem é a mulher?
— Sherman! Aguente só um bocadinho! Só uma fotografia!
— Hei, Sherman! O seu advogado diz...
Um deles dirigia-se agora a Campbell, chamando-a «Minha Linda»! Consternado e furioso, voltou-se para o lugar de onde vinha a voz. O mesmo tipo — com o cabelo emaranhado e oleoso colado à cabeça — e agora dois bocados de papel higiénico na cara.
Sherman tornou a virar-se para Campbell. Ela sorria com ar confuso. As máquinas fotográficas! As fotografias sempre haviam sido para ela sinónimo de ocasiões festivas.
— Como é que ela se chama, Sherman?
— Olá, minha linda, como é que te chamas?
O tipo nojento do papel higiénico na cara inclinava-se para a sua menina e falava com ela num tom untuoso e protector.
— Deixe-a em paz! — disse Sherman. Viu o medo estampar-se no rosto de Campbell ao ouvi-lo dizer aquilo com tanta aspereza.
No instante seguinte tinha um microfone diante do nariz, tapando-lhe a visibilidade.
Uma mulher alta, jovem e ossuda, de queixo proeminente: — Henry Lamb está no hospital às portas da morte, e você está aqui a descer a Park Avenue. Como é que se sente por Henry...
Sherman fez um gesto violento com o antebraço para afastar o microfone da cara. A mulher desatou a berrar:
— Seu grande sacana! — E, para os colegas: — Vocês viram! Ele bateu-me! O filho da mãe bateu-me! Vocês viram! Viram todos! Vou fazer com que te prendam por agressão, filho da mãe!
A matilha não os largava, a Sherman e à sua menina. Sherman estendeu a mão e enlaçou os ombros de Campbell procurando puxá-la o mais possível para si e ao mesmo tempo caminhar depressa para a esquina da paragem.
— Vá lá, Sherman! Só umas perguntinhas e já o deixamos em paz!
Lá atrás, a mulher continuava a berrar e a queixar-se: — Hei! Apanhaste uma fotografia do que ele fez? Quero ver! É uma prova! Vais ter de ma mostrar! — E, mais alto, para o fundo da rua: — Pouco te importa bater ou não nas pessoas, não é, meu cabrão racista!
Cabrão racista! A mulher era branca.
O rosto de Campbell estava hirto de medo e consternação.
O sinal mudou, e a matilha atravessou a rua com eles, acotovelando-se e cacarejando à sua volta até ao outro lado da Park Avenue. Sherman e Campbell, de mão dada, seguiram em frente, e os repórteres e fotógrafos que os rodeavam correram atrás deles, ao lado deles, e também diante deles, às arrecuas.
— Sherman!
— Sherman!
— Olha para mim, minha linda!
Os pais, as criadas e as meninas que estavam à espera na paragem da carrinha do colégio recuaram. Não queriam ter nada a ver com a erupção repugnante que viam aproximar-se, com aquele enxame ruidoso de vergonha, culpa, humilhação e sofrimento. Em contrapartida, também não queriam que as suas meninas perdessem a carrinha, que entretanto se aproximava. Por isso recuaram alguns pés, estremecendo, e cerraram fileiras, como se o vento os tivesse varrido para junto uns dos outros. Por um instante Sherman pensou que alguém se disporia a intervir para lhe dar uma ajuda, não tanto por ele como por Campbell, mas estava enganado. Alguns olhavam fixamente em frente como se não o conhecessem. Outros desviavam os olhos. A linda Mrs. Lueger! Tinha as duas mãos nos ombros da filha, que via tudo aquilo, fascinada, de olhos muito abertos. Mrs. Lueger olhou-o como se ele fosse um vagabundo do Arsenal da Rua 67.
Campbell, com o seu uniforme cor de borgonha, subiu os degraus da carrinha e depois lançou-lhe um último olhar por cima do ombro. Corriam-lhe lágrimas pelas faces, sem um único som.
Então Sherman sentiu como que uma dor violenta no plexo solar. Ainda não tinha tornado a morrer. Ainda não estava morto pela segunda vez; ainda não. O fotógrafo dopapel higiénico na cara estava mesmo atrás dele, a menos de dezoito polegadas de distância, com o seu horrível instrumento colado à órbita.
Agarra-o! Esborracha-lhe a máquina na cabeça! Atreves-te a dizer «Minha Linda» à carne da minha carne...
Mas de que serviria? É que eles já não eram o inimigo lá de fora, pois não? Eram parasitas instalados no interior da sua própria pele. A vibração, a inflamação recomeçavam, e não o abandonariam antes do fim do dia.
Fallow atravessou, pavoneando-se, a sala de redacção, dando a toda a gente uma oportunidade de observar a sua figura imponente. Meteu a barriga para dentro e endireitou as costas. No dia seguinte iniciaria um regime sério de exercício. Não havia motivo nenhum para não ter um físico de herói. A caminho da baixa parara no Herzfeld, um camiseiro da Madison Avenue que tinha roupas europeias e inglesas, e comprara uma gravata de seda grenat às pintinhas. As pin-tinhas eram bordadas a branco sobre a seda da gravata. Pusera-a ali mesmo, na loja, até para o empregado ver bem o seu colarinho postiço. Tinha vestida a sua melhor camisa, que era da Bowring, Arundel & Co. de Savile Row. Era uma camisa honesta, e uma gravata honesta. Se ao menos pudesse comprar um blazer novo, com lapelas bem cortadas e sem lustro... Ora, ora — em breve seria! Parou ao lado de uma secretária e agarrou um City Light de um monte de edições recentes ali colocadas para uso do pessoal. PROCURA-SE MISTERIOSA MORENA SEXY. Mais um artigo de primeira página assinado por Peter Fallow. O resto das letras impressas vogavam no meio da névoa que lhe toldava os olhos. Mas continuou a olhar para o jornal, para dar a toda a gente uma oportunidade de captar a presença de... Peter Fallow... Olhem para aqui, pobres escravos, curvados sobre os vossos processadores de texto, aí a martelar nas teclas, a mourejar e a lamuriarem-se por causa de «cem das grandes». Nesse instante sentiu-se tão magnânimo que pensou no gesto superior que seria ir até junto do pobre Goldmann e entregar-lhe os seus cem dólares. Bom, havia de se lembrar de fazer isso um dia destes.
Quando chegou ao seu cubículo, já tinha uns cinco ou seis recados na secretária. Percorreu-os distraidamente, na vaga esperança de que algum deles fosse de um produtor de cinema.
Sir Gerald Steiner, ex-Rato Morto, aproximava-se em mangas de camisa, com uns suspensórios de feltro vermelho vivo sobre a camisa às riscas e um largo sorriso, um sorriso encantador, um sorriso cativante, em vez do olhar malévolo, de lobo, de algumas semanas atrás. O cantil de vodka ainda estava escondido no bolso da gabardina, que continuava pendurada no cabide de plástico do canto. Provavelmente, poderia agora tirá-lo do bolso e emborcar uma boa golada na presença do Rato, sem que nada acontecesse. Nada, a não ser um sorriso entendido de camaradagem da parte do Rato, se bem o conhecia.
— Peter! — disse Steiner. Peter; já passara o tempo do Fallow dito no tom de um director de colégio a falar com um aluno indisciplinado. — Quer ver uma coisa para começar bem o dia?
Steiner atirou a fotografia para cima da secretária de Fallow. Mostrava Sherman McCoy, de sobrolho ameaçadoramente carregado, a dar uma bofetada com as costas da mão na cara de uma mulher alta que tinha na mão uma espécie de vara que, após exame mais atento, se descobria ser um microfone. Com a outra mão Sherman segurava a mão de uma rapariguinha com um uniforme de colégio. A menina olhava para a objectiva da máquina com expressão perplexa e atordoada. Ao fundo via-se o toldo em frente à entrada de um prédio e um porteiro.
Steiner ria. — A mulher (uma mulher horrível, aliás, de uma estação de rádio qualquer) tem-nos telefonado aí umas cinco vezes por hora. Diz que vai fazer com que prendam o McCoy por agressão. E quer a fotografia. Pode estar descansada, que vai tê-la. Vai tê-la na primeira página da próxima edição.
Fallow pegou na fotografia e examinou-a mais atentamente. — Hmmmm! Bonita, a rapariguinha. Deve ser difícil ter um pai que anda para aí a maltratar as minorias, rapazes negros, mulheres... Já reparou que os Américas têm a mania de se referir às mulheres como sendo uma minoria?
— Pobre língua mãe — disse Steiner.
— É uma maravilha, a fotografia — disse Fallow, com toda a sinceridade. — Quem é que a tirou?
— O Silverstein. O tipo tem mesmo lata. Tem mesmo.
— É o Silverstein que anda atrás do homem? — perguntou Fallow.
-
É, é ele — disse Steiner. — Ele adora este género de coisas. Sabe, Peter — Peter — eu tenho um certo respeito, talvez um respeito às avessas, mas sincero, por tipos como este Silverstein. É que eles são os lavradores deste ofício do jornalismo. Têm amor à terra rica e fértil, um amor desinteressado, independente do ordenado... gostam de mergulhar as mãos na lama. — Steiner calou-se, confuso. Ficava sempre embaraçado com os seus próprios jogos de palavras.
Oh, como Sir Gerald, o menino bonito do Velho Steiner, gostaria de ser capaz de se rebolar na lama com o mesmo abandono dionisíaco! — como um tipo «cheio de lata»! Os seus olhos marejaram-se de emoção sincera: talvez amor, ou então nostalgia da lama.
— «OsVândalos Sorridentes» — disse Steiner, com um largo sorriso, abanando a cabeça ao pensar nas repetidas proezas do fotógrafo descarado. O assunto, por seu turno, conduziu-o a outra fonte de satisfação ainda mais importante.
— Quero-lhe dizer uma coisa, Peter. Não sei se tem ou não plena consciência disso, mas a verdade é que você está a explorar um filão muito importante com esta história Lamb-McCoy. Oh, é uma coisa sensacional, mas é muito mais do que isso. É uma espécie de fábula. Pense nisso só um instante. Uma fábula. Você ainda agora falou das minorias. Bem sei que estava a brincar, mas o facto é que nós já começámos a receber reacções dessas minorias, das organizações da comunidade negra e outras que tais, precisamente as mesmas que andavam para aí a dizer que éramos racistas e as asneiras do costume, e que agora nos elogiam e vêem em nós uma espécie de... guia. É uma reviravolta de respeito, num espaço de tempo tão curto. Esses tipos da Liga Contra a Difamação do Terceiro Mundo, os mesmos que tinham ficado tão indignados com os Vândalos Sorridentes, acabam de me mandar a mais entusiástica das cartas. Caramba, agora somos nós os porta-estandartes do liberalismo e dos direitos civis! A propósito, a si consideram-no um génio. Parece que quem está à frente da organização é esse tal homem, o Reverendo Bacon, como lhe chamam. Se isso estivesse na mão dele, acho que lhe dava o Prémio Nobel, Peter! Hei-de dizer ao Brian que lhe mostre a carta.
Fallow não disse nada. Os imbecis podiam ser um bocadinho mais subtis, apesar de tudo.
— O que eu lhe estou a tentar dizer, Peter, é que isto é um passo muito importante na evolução do jornal. Os nossos leitores pouco se importam com a nossa respeitabilidade, venha ela de que lado vier. Mas os anunciantes importam-se. Já pus o Brian em campo, a ver se conseguimos que alguns desses grupos de negros formalizem de alguma maneira a sua nova opinião acerca do City Light, através de uma menção honrosa, de um prémio, ou... bom, não sei, mas o Brianhá-de saber como pegar no problema. Espero que você possa dispensar algum tempo para participar naquilo que ele conseguir arranjar. Mas vamos esperar para ver o que é que sai daqui.
— Oh, com certeza — disse Fallow. — É claro. Eu sei como são fortes os sentimentos dessa gente. Sabia que o juiz que recusou ontem aumentar a fiança do McCoy já recebeu ameaças de morte?
— Ameaças de morte? Não pode ser. — O rosto do Rato contorceu-se de excitação e horror.
— É verdade. E o próprio leva-as bastante a sério.
— Meu Deus do céu — disse Steiner. — Isto é um país espantoso.
Fallow viu aqui um momento apropriado para sugerir a Sir Gerald um passo importante de outra natureza: um adiantamento de mil dólares, que por seu turno talvez sugerisse ao eminente Rato a ideia de um aumento de ordenado.
E acertou em cheio em ambas as coisas. Assim que o blazer novo estivesse pronto, queimaria aquele que traziavestido com o maior prazer.
Menos de um minuto depois de Steiner se ir embora, o telefone de Fallow tocou. Era Albert Vogel.
— Hei, Pete! Como vai isso? As coisas estão a avançar, a avançar, a avançar! Pete, tem que me fazer um favor. Tem que me dar o número de telefone do McCoy. É que não vem na lista.
Sem que soubesse ao certo porquê, Fallow achou aquilo desconcertante. — Para que é que quer o número de telefone , dele, Al?
— Bom, é que fui contactado pela Annie Lamb, quequer apresentar uma queixa em nome do filho. Duas queixas, aliás: uma contra o hospital, por negligência criminosa, e outra contra o McCoy.
— E para que é que quer o número de telefone da casa
dele?
— Para quê? Podemos precisar de negociar com ele!
— Nesse caso, não percebo porque é que não telefona antes ao advogado.
— Caramba, Pete. — A voz de Vogel traduzia agora uma certa irritação. — Eu não lhe telefonei para pedir conselhos em matéria jurídica. Só quero a merda do número do
telefone. Tem-no ou não?
O bom senso de Fallow aconselhava-o a dizer que não. Mas a sua vaidade não lhe permitia confessar a Vogel queEu, Fallow, proprietário do caso McCoy, não tinha conseguido obter o número de telefone de McCoy.
— Está bem, Al. Então proponho-lhe uma troca. Você dá-me os dados acerca dessas duas queixas e um dia de avanço para publicar um artigo, e eu dou-lhe o número de telefone.
— Ouça, Pete, eu quero dar uma conferência de imprensa acerca das queixas. Só lhe estou a pedir um miserável número de telefone.
— Pode dar na mesma a conferência de imprensa. Ainda tem mais audiência depois de eu escrever o meu artigo.
Uma pausa. — O.K., Pete. — Vogel riu, mas sem grande convicção. — Acho que criei um monstro quando o pus na pista do Henry Lamb. Quem é que você julga que é, o Lincoln Steffens?
— Lincoln quê?
— Deixe lá. Não é nada que lhe interesse. O.K., pode ficar com a merda do exclusivo. Ainda não está farto de tanto exclusivo? E agora dê-me lá o número.
E foi o que ele fez.
Pensando bem no caso, que diferença fazia ele ter ou não ter o número de telefone?
24 - Os Informadores
A horrível alcatifa cor de laranja rebrilhava. Mesmo ao lado do sofá de fórmica em que ele estava enroscado, a alcatifa descolara-se do chão rente à parede, e as fibras metálicas e onduladas começavam a esfiapar-se. Sherman concentrou-se naquela nota de desmazelo para não ter de encarar as figuras sinistras instaladas no sofá em frente ao seu. Receava que estivessem a olhar para ele e soubessem quem ele era. O facto de Killian o fazer assim esperar punha um ponto final no assunto, confirmava o acerto do que ele se preparava para fazer. Seria a sua última visita a este lugar, a sua última descida à vulgaridade dos Bancos de Favores, dos contratos, dos janotas de segunda ordem e das reles filosofias de sarjeta.
Mas em breve a curiosidade o dominou, e olhou para os pés dos outros... Dois homens... Um deles calçava uns sapatinhos muito elegantes, sem atacadores, com uma cadeia de ouro decorativa no peito do pé. O outro calçava uns ténis Reebok, imaculadamente brancos. Os sapatos moviam-se um pouco sempre que os traseiros dos homens escorregavam no assento do sofá e eles se endireitavam, contraindo as pernas, para logo tornarem a escorregar e a endireitar-se, a escorregar e a endireitar-se. Sherman escorregava e endireitava-se. Eles escorregavam e endireitavam-se. Sherman escorregava e endireitava-se. Tudo naquele lugar, até mesmo a inclinação obscena dos sofás, traduzia falta de gosto, inépcia, vulgaridade e, por trás de tudo isso, ignorância pura. Os dois homens falavam numa língua que Sherman deduziu ser o espanhol. — Oy el meemo — repetia um deles. — Oy el meemo. — Sherman deixou que os seus olhos subissem até ao nível do tronco dos outros dois. Ambos vestiam camisas de malha e blusões de couro; mais Fanáticos do Couro. — Oy el meemo. — Resolveu então correr o maior risco: as caras. Tornou imediatamente a baixar os olhos. Estavam a olhá-lo fixamente! E que olhares cruéis! Pareciam ter ambos uns trinta e poucos anos. Usavam o cabelo preto e espesso muito bem penteado e aparado, num corte de mau gosto mas provavelmente bastante caro. Ambos tinham risca ao meio e os cabelos penteados de tal maneira que pareciam jorrar em negros repuxos cerimoniais. Aqueles rostos contorcidos a olharem para ele! Saberiam ou não?
Agora ouvia a voz de Killian. Confessar. Lei. Tá bem. Consolou-se com a ideia de que não teria de ouvir aquilo por muito mais tempo. O Leão tinha razão. Como é que ele podia ter confiado o seu destino a um indivíduo imerso naquele ambiente sórdido? Killian apareceu à porta, vindo lá de dentro, do corredor. Tinha o braço por cima dos ombros de um homenzinho branco, gorducho e completamente desanimado, envergando um fato patético com um colete ainda mais patético que lhe assentava horrivelmente mal na barriga.
— O que é que quer que eu lhe diga, Dennis? — dizia Killian. — O direito é como tudo. Recebe-se aquilo por que se paga. Percebe? — O homenzinho foi-se embora sem sequer olhar para ele. De todas as vezes que Sherman se avistara com Killian, o principal tema de conversa fora sempre o dinheiro — o dinheiro devido a Thomas Killian.
— Eiii!ii — disse Killian, sorrindo para Sherman — desculpe, não queria deixá-lo aqui à espera. — Lançou um olhar cheio de intenção à figura do homenzinho, que já se afastava, e depois franziu as sobrancelhas.
Enquanto ele e Sherman seguiam pelo corredor, à luz intensa dos projectores, em direcção ao gabinete de Killian, este disse: — Aquele, sim — e inclinou a cabeça para trás, na direcção do homenzinho — é um homem com problemas. Um vice-director de colégio, católico irlandês, mulher e filhos, que de repente é preso e acusado de ter feito propostas a uma rapariguinha de sete anos. O guarda que o prendeu diz que ele começou por oferecer uma banana à miúda e depois se entusiasmou.
Sherman não disse nada. Julgaria aquele janota espertalhão e insensível, com o seu cinismo constante, que aquilo o ia fazer sentir-se melhor? Percorreu-o um arrepio. Era como se o destino do homenzinho gordo fosse o seu destino.
— Topou aqueles dois tipos que estavam à sua frente? Sherman ficou hirto. Qual seria o inferno daqueles dois?
— Têm os dois vinte e oito ou vinte e nove anos, e se o negócio deles publicasse relatórios anuais já tinham aparecido na lista Forbes das Quatrocentas Mais. Já fica com uma ideia do dinheiro que os gajos têm. São cubanos, mas importam da Colômbia. São clientes do Mike Bellavita.
O ressentimento de Sherman ia-se avolumando a cada palavra do espertalhão. Seria possível que aquele janota achasse que os seus comentários joviais sobre as personagens em cena, o seu desprendimento, o seu tom insensível o lisonjeavam, o faziam sentir-se superior aos detritos apanhados na maré de lama que por ali passava? Eu não sou superior, ó meu entendido, ó meu tolo ignorante! Sou um deles! O meu coração é com eles que está! Um velho pedófilo irlandês... dois jovens traficantes de droga cubanos, com as suas tristes e pomposas cabeleiras — em suma, Sherman estava a aprender à sua custa a verdade do ditado: «Um liberal é um conservador que passou pela prisão.»
No gabinete de Killian, Sherman sentou-se e observou o janota irlandês enquanto ele se reclinava na sua cadeira e inchava os ombros dentro do casaco assertoado, pavoneando-se. Ficou ainda mais profundamente ressentido com ele. Killian estava muitíssimo bem disposto. Viam-se pilhas de jornais em cima da sua secretária. Equipa Mercedes: Ele Atropelou, Ela Fugiu. Mas é claro! O caso criminal mais «quente» de Nova Iorque pertencia-lhe.
Pois bem, mas agora ia deixar de lhe pertencer. Como é que havia de lho dizer? Queria que fosse de rompante, deixando-o sem fala. Mas as palavras que lhe saíram da boca revelavam uma certa dose de tacto.
— Espero que compreenda — disse Sherman — que fiquei muito descontente com o que sucedeu ontem.
— Eiii!, também quem é que não ficava? Foi uma vergonha, até mesmo para um tipo como o Weiss.
— Não me parece que você esteja a perceber. Eu não estou a falar daquilo a que fui sujeito, per se, mas sim do facto que você...
Foi interrompido pela voz da recepcionista, transmitida Pelo intercomunicador sobre a secretária de Killian: — Neil Flannagan do Daily News na linha 3-0.
Killian inclinou-se para a frente na cadeira. — Diga-lhe que eu torno a telefonar. Não, espere lá. Diga-lhe que eu torno a telefonar daqui a meia hora. Se ele não estiver no jornal, então que me telefone ele daqui a meia hora. — E, para Sherman: — Desculpe.
Sherman fez uma pausa, olhou para o janota com ar ressentido e disse: — Do que eu estava a falar era de outra coisa. Estava a falar...
Killian interrompeu-o: — Eu não quis dizer que só tínhamos meia hora para conversar. O dia é todo seu, se você quiser e se for preciso. Mas eu quero falar com este tipo, este Flannagan do News. Vai ser ele o nosso antídoto... contra o veneno.
— Bom, isso é óptimo — disse Sherman o mais inexpressivamente possível — mas a verdade é que nós temos um problema. Você assegurou-me que tinha «contactos» especiais na Procuradoria do Bronx. Disse-me que tinha um «contrato» com esse tal Fitzgibbon. Creio recordar-me até de uma longa dissertação acerca de uma coisa chamada o «Banco dos Favores». Ora bem, eu não quero que interprete mal o que eu lhe estou a dizer. Tanto quanto sei, você empenhou-se neste caso com todos os seus conhecimentos legais...
A voz no intercomunicador: — Peter Fallow do City Light na linha 3-0.
— Fique com o número dele. Diga-lhe que eu torno a telefonar. — Para Sherman: — Estávamos nós a falar do veneno... e a serpente-mor resolve vir também meter o nariz.
O coração de Sherman foi sacudido por palpitações, depois recompôs-se.
— Continue. Você estava a dizer...
— Eu não duvido da sua competência legal, mas a verdade é que você me deu uma série de garantias, e eu avancei, ingenuamente, e... — Calou-se por instantes para escolher a palavra adequada.
Killian aproveitou a pausa: — Você foi traído, Sherman. Eu fui traído. O Bernie Fitzgibbon foi traído. O que o Weiss fez é inconcebível. Não... se... faz... aquilo que ele fez. Não se faz!
— Mas apesar disso ele fê-lo, e depois de você me ter dito que...
— Eu sei como é que foi. Foi como ser lançado para dentro de uma cloaca. Mas o Bernie ainda conseguiu travar um pouco as coisas. O Weiss ainda queria fazer pior. Você tem que ver isso. O filho da mãe queria prendê-lo em casa572
Queria uma prisão na ParkAvenue! O homem é louco, louco de todo! E sabe como é que tinha sido se ele levasse a sua avante? Mandava os polícias algemarem-no em sua casa, depois despachava-o para uma esquadra, para ter primeiro um cheirinho das celas de detenção da Polícia, depois enfiava-o numa carrinha de janelas gradeadas, com uma data daqueles animais, e só então é que o levava para o Registo Central para passar pelas coisas porque passou. Era isso que ele queria.
— Mesmo assim...
— Mr. Killian, Irv Stone do Canal 1 na linha 3-2. É a terceira vez que ele fala para cá.
— Tome nota do número e diga que eu lhe telefono. — Para Sherman: — Hoje tenho de falar com esta gente, mesmo que não tenha nada para lhes dizer. Só para manter os canais abertos. E amanhã começamos a virar as coisas a nosso favor.
— Virar as coisas? — disse Sherman num tom que pretendia ser amargamente irónico. O janota nem reparou. Todo ele transpirava excitação por se ver assim alvo das atenções da imprensa. É da minha ignomínia que ele tira a sua glória reles!
Por isso tornou a tentar: — Então agora vamos virar as coisas? — perguntou.
Killian sorriu. — Mr. McCoy, estou a ver que não acredita em mim. Bom, mas eu tenho notícias para si. Uma data de notícias, aliás. — Carregou no botão do intercomunicador. — Hei, Nina. Peça ao Quigley que venha até aqui. Diga-lhe que está cá Mr. McCoy. — E, para Sherman: — Ed Quigley é o nosso detective, o tipo de quem eu lhe falei, o tal que trabalhava na Polícia.
Apareceu à porta um homem alto e careca. Era o mesmo que Sherman vira à luz crua da sala de espera na sua primeira visita. Trazia um revólver num coldre preso à anca esquerda. Vestia uma camisa branca, mas não trazia gravata. Tinha as mangas arregaçadas, revelando um par de pulsos e mãos enormes. Tinha na mão esquerda um envelope de papelão. Era o tipo de homem alto, anguloso e ossudo que parece mais forte e mais perigoso aos cinquenta anos do que aos vinte e cinco. Tinha os ombros largos mas com uma inclinação frouxa. Os seus olhos pareciam profundamente enterrados nas órbitas.
— Ed — disse Killian —, este é Mr. McCoy. Sherman cumprimentou-o sem entusiasmo, com um aceno de cabeça.
— Muito prazer — disse o homem. Endereçou a Sherman o mesmo sorriso inexpressivo que lhe dirigira da primeira vez.
Killian disse: — Tem aí a fotografia? Quigley tirou um papel do envelope e estendeu-o a Killian, que o passou a Sherman.
— É só uma fotocópia, mas mesmo assim... você nem imagina o que foi preciso fazer para conseguir essa fotografia. Reconhece-o?
Um perfil e um retrato de frente de um homem negro, com números. Um rosto quadrado, um pescoço maciço.
Sherman suspirou. — Parece ser ele. O outro rapaz, o grandalhão, aquele que disse: «Ouça lá! Precisa de ajuda?»
— É um delinquente chamado Roland Auburn. Vive no bairro Poe. Neste momento está em Rikers Island à espera de ir a tribunal pela quarta vez por posse e tráfico de droga. É evidente que fez um acordo com o procurador em troca do testemunho contra si.
— E também é evidente que mentiu.
— Isso não é coisa que viole, por pouco que seja, os princípios que até hoje regeram a vida do senhor Roland Auburn — disse Killian.
— Como é que descobriu isto tudo?
Killian sorriu e apontou para Quigley. — O Ed tem muitos amigos entre os nossos «azuis», e muitos dos melhores estão em dívida para com ele.
Quigley limitou-se a franzir ligeiramente os lábios.
Sherman disse: — ele já alguma vez foi preso por roubo, ou pelo género de brincadeira que tentou fazer comigo?
— O quê, por assaltos de auto-estrada? — Killian riu-se daquilo que acabava de dizer. — Nunca tinha pensado nisso antes. Era mesmo assim que se devia dizer, assaltos de auto-estrada. Não acha, Ed?
— Acho que sim.
— Que a gente saiba, não — disse Killian — mas tencionamos descobrir muito mais coisas acerca desse filho da mãe. Os presos têm fama de dizer em tribunal tudo o que se quer que eles digam. E é com isto que o Weiss abre um processo, porra! Foi com isto que ele se decidiu a prendê-lo!
Killian abanou a cabeça, com um ar profundamente enojado, e continuou bastante tempo a abaná-la. Sherman deu por si a sentir-se genuinamente grato. Era o primeir0 vislumbre de absolvição sincera que alguém lhe oferecia.
— Muito bem, isto é uma das coisas — disse Killian. E, para Ed: — Agora conte-lhe a parte de Mrs. Ruskin.
Sherman ergueu os olhos para Quigley, e Quigley disse: — Ela foi para Itália. Consegui localizá-la numa casa que ela alugou no lago Como. Como é uma estância turística algures na Lombardia.
— Pois é — disse Sherman. — Ela tinha acabado de chegar de lá quando esta história toda aconteceu.
— Pois é, bom, mas aqui há dois dias — disse Quigley — ela foi-se embora de carro com um tipo novo chamado Fillippo. Só sei o primeiro nome, «Filippo». Faz alguma ideia de quem seja? Vinte e poucos anos, magro, estatura mediana. Muito cabelo. Roupas à punk. Um puto bem parecido, pelo que me disse o meu homem.
Sherman suspirou. — É um artista qualquer que ela conhece. Filippo Charazza ou Charizzi.
— Sabe de algum outro sítio em Itália para onde ela possa ter ido?
Sherman abanou a cabeça. — Como é que descobriram isso tudo?
Quigley olhou para Killian, e Killian disse: — Conte-lhe.
— Não foi muito difícil — disse Quigley. Orgulhoso de estar na berlinda, não resistiu a um sorriso. — A maior parte destas pessoas têm cartões Globexpress. Sabe, aqueles cartões de crédito. E eu tenho uma fulana, uma pessoa com quem eu costumo trabalhar, na sede da empresa em Duane Street. Têm lá um computador com terminais no mundo inteiro. Eu pago-lhe cem dólares por cada informação que ela me dá. Não é mau de todo, para cinco minutos de trabalho. Bom, e o caso é que a tal Maria Ruskin se serviu duas vezes do cartão há três dias na cidade de Como. Em lojas de roupas. Então eu telefonei a um tipo que trabalha para nós em Roma, o tipo telefona para uma das lojas dizendo que é da Globexpress, dá-lhes o número da conta dela e diz que precisa de lhe mandar um telegrama para «clarificação do movimento da conta». Os tipos não ficam nada incomodados. Dão-lhe a morada onde entregaram as compras, e o tipo vai até Como investigar. — E Quigley encolheu os ombros, como se dissesse: «Nada mais fácil, para um tipo como eu.»
Reparando que Sherman tinha ficado bastante impressionado, Killian disse: — Portanto agora estamos informados acerca dos nossos dois jogadores. Sabemos quem é a testemunha, e vamos acabar por descobrir a sua amiga Mrs. Ruskin. E havemos de a trazer de volta, nem que o Ed tenha de a enfiar num caixote com buraquinhos de ventilação. Não fique
escandalizado. Eu sei que você lhe dá o benefício da dúvida, mas pelos dados objectivos que temos eu não lhe chamaria propriamente sua amiga. Você está metido na maior embrulhada da sua vida, e ela larga-o e vai para Itália com um bonitão chamado Filippo. Eiii!i, o que é que quer que a gente fique a pensar?
Sherman sorriu contra vontade. A sua vaidade era tão grande, porém, que logo concluiu dever haver uma explicação inocente.
Depois de Quigley sair, Killian disse: — Ed Quigley é o maior. Não há melhor detective privado em actividade. Ele é capaz... de tudo. É o típico irlandês nova-iorquino, duro como aço. Os putos com quem Ed foi criado tornaram-se todos delinquentes ou polícias. Os que se fizeram polícias foram aqueles a quem a Igreja deitou a mão, aqueles que conseguiram digerir a ideia de pecado. Mas todos eles gostam das mesmas coisas. Todos gostam de esmurrar narizes e partir dentes. A única diferença é que quando se é polícia, pode-se fazer isso legalmente, com o padre a abençoar-nos e a olhar para o outro lado ao mesmo tempo. O Ed era um polícia do caraças. Era um autêntico terror.
— Como é que ele conseguiu esta fotografia? — Sherman olhava para a fotocópia. — Foi algum dos tais «contratos?»
— Uma coisa destas? Uuuuuh! Nem pense nisso. Conseguir esta informação, ainda por cima com uma fotografia de cadastro, ultrapassa, de longe, as fronteiras do Banco dos Favores. Eu não lhe vou perguntar, mas ou me engano muito ou isto foi o Banco dos Favores mais o banco propriamente dito, o metal sonante. Deixe lá. A sério. Por amor de Deus, não insista no assunto. Esqueça.
Sherman reclinou-se na cadeira e olhou para Killian. Fora ali para o despedir — mas agora já não estava tão seguro.
Como se lesse os seus pensamentos, Killian disse: — Deixe-me explicar-lhe uma coisa. Não é que o Abe Weiss não se preocupe com a justiça. — Doesn’t. Empregara a forma correcta da terceira pessoa do singular. Sherman perguntou a si próprio que ideia elevada lhe estaria a passar pela cabeça. — Provavelmente até se preocupa. Mas este caso não tem nada a ver com a justiça. Isto é uma guerra. É o Abe Weiss a preparar-se para a reeleição, e aquele cargo é a merda da vida dele, e quando a imprensa se interessa por um caso como se interessou por este, o homem já não quer saber de justiça. Vai fazer tudo o que quiserem que ele faça. Não quero meter-lhemedo, mas é mesmo numa guerra que estamos metidos. Não me basta arquitectar uma defesa, tenho que preparar uma campanha. Não me parece que ele tenha posto o seu telefone sob escuta, mas tem poder para isso e é perfeitamente capaz de o fazer. Por isso, se eu fosse a si, não diria nada importante acerca deste caso pelo telefone. O melhor até é não dizer mesmo nada sobre o caso pelo telefone. Assim não tem que se andar a preocupar com o que é importante ou não é.
Sherman acenou com a cabeça para mostrar que compreendia.
— Agora vou ser muito frontal consigo, Sherman. Isto vai-lhe custar muito dinheiro. Sabe quanto é que custa o homem que o Quigley tem na Lombardia? Dois mil dólares por semana, e por enquanto estamos só na primeira fase daquilo que vamos ter de fazer. Vou-lhe pedir desde já um grande adiantamento. Sem contar, é claro, com o trabalho de tribunal, que eu continuo a esperar que não venha a ser necessário.
— Quanto?
— Setenta e cinco mil.
— Setenta e cinco mil?
— Sherman, o que é que quer que eu lhe diga? O direito é como tudo o resto. Percebe? Recebe-se aquilo por que se paga.
— Meu Deus... mas... setenta e cinco mil?
— Obriga-me a ser imodesto. Nós somos os melhores. E eu vou lutar por si. Adoro lutar. Sou tão irlandês como Quigley.
Então Sherman, o mesmo que viera despedir o seu advogado, passou um cheque de setenta e cinco mil dólares.
Estendeu-o a Killian. — Vai ter de me dar algum tempo para eu depositar esse dinheiro todo na minha conta.
— É justo. Que dia é hoje? Quarta? Só deposito o cheque na sexta de manhã.
O menu tinha pequenos anúncios a preto e branco na parte inferior da folha, pequenos rectângulos com molduras antiquadas e logotipos altamente estilizados, para produtos como o chocolate em pó Nehi, as Ovas de Arenque Enlatadas do Capitão Henry, o Café Torrado com Chicória Café du Monde, as bicicletas Chefe índio com Pneus Especiais, o Tabaco de Cachimbo Edgeworth e o Xarope 666 para a Tosse e Constipações. Os anúncios eram meramente decorativos, uma evocação da era das estradas de duas faixas e das velhas carripanas que circulavam na zona pantanosa da Luisiana. O sexto sentido de Kramer fê-lo vacilar. Aqueleaparato provinciano era com certeza tão caro como o aparato de descontracção boémia. Nem queria pensar em quanto tudo aquilo ia somar, talvez uns cinquenta dólares. Mas agora já não podia recuar, pois não? Shelly estava sentada à sua frente no reservado, a observar todas as suas expressões e todos os seus gestos, e ele passara a hora e meia anterior a criar a imagem de um homem experiente e responsável, e fora ele, o viril bon vivant, quem sugerira que passassem à sobremesa e ao café. Aliás, sentia uma necessidade urgente de comer um gelado. Tinha a boca e o esófago em brasa. O Café Alexandria não devia ter um único prato, sopa, carne ou peixe, que não provocasse autênticos incêndios nas entranhas. A Sopa Crioula com Areia dos Pântanos — ele julgara que a palavra areia fosse uma metáfora designando algum condimento de consistência arenosa, alguma raiz reduzida a pó, ou coisa no género, mas a maldita sopa tinha mesmo areia, areia autêntica, aparentemente encharcada em Tabasco. O Pão de Milho Cayenne — era como pão com formigas vermelhas lá dentro. Os Filetes de Lampreia com Quiabo Torrada, Arroz Amarelo com Puré de Maçã e Molho de Mostarda Chinesa — a mostarda chinesa acendeu um sinal vermelho, mas ele teve de pedir a lampreia porque era o único prato relativamente barato da ementa, 10 dólares e 50. E Andriutti, que tinha dito que havia um restaurante-zinho crioulo muito barato e «muito simpático», ali na Beach Street. A Beach Street era uma rua suficientemente piolhosa para ter um restaurante barato, por isso ele acreditara.
Mas Shelly não se cansava de dizer como aquele lugar era maravilhoso. Ela resplandecia, irradiava uma luz divina com o seu bâton castanho, embora ele não soubesse ao certo se essa luz provinha do amor, da maquilhagem em tons de Outono no Bershire, ou do fogo que lhe consumia as entranhas.
Gelado, gelado, gelado... Percorreu a prosa da ementa, que oscilava entre o inflamado e o pantanoso, e no meio das ondas calóricas só encontrou um gelado: Gelado de Baunilha Batido à Mão com Molho Picante de Avelã. Picante? Bom, afastaria o molho para o lado e comeria apenas o gelado. Não tinha coragem de pedir à elegante empregada de caracóis cor de mel para não lhe porem molho no gelado. Não queria aparecer aos olhos de Shelly como um tipo mole e sem gosto pela aventura.
Shelly pediu a Tarte de Lima dos Recifes com Massa Folhada, e ambos pediram o Café de Nova Orleães com Chicória, Acabado de Moer, embora alguma coisa lhe dissesse que a chicória representaria uma nova agressão às suas entranhas fervilhantes.
Depois de pedir a sobremesa e o café com voz firme e determinação viril, apoiou os antebraços na beira da mesa, inclinou-se para a frente e derramou uma vez mais o seu olhar no de Shelly, para lhe oferecer mais uma dose de intoxicação do crime, juntamente com o fundo da garrafa de Crockett Sump Zinfandel branco que lhe ia custar doze dólares. Era o segundo vinho mais barato da carta dos vinhos. Não tivera coragem de pedir o mais barato, que era um Chablis de 9 dólares e 50. Só um trouxa inexperiente é que pediria Chablis.
— Só queria que tivesse lá estado, a ouvir esse tal Roland Auburn. Até agora, tive três entrevistas com ele. A princípio parece sempre um tipo duro, inabalável... ameaçador, até. Um autêntico rochedo, com aquele olhar parado, o género de adolescente que aparece em todos os pesadelos passados nos becos escuros de Nova Iorque. Mas basta escutá-lo durante cinco minutos — escutá-lo, mais nada — e começamos a ouvir outra coisa. Ouve-se o sofrimento. Que diabo, ele é um miúdo! E está assustado. Afinal de contas, estes rapazes crescem no ghetto sem que ninguém se preocupe com eles. E vivem cheios de medo. Constróem um muro de insensibilidade, pensando assim proteger-se de todo o mal, quando a verdade é que estão permanentemente à mercê de serem destruídos. É com isso que eles já contam: vão ser destruídos. Não, não estou nada inquieto com a ideia de Roland comparecer perante um júri. O que eu vou fazer é começar por umas perguntas inócuas acerca dos antecedentes dele, durante o primeiro minuto e meio ou dois minutos, e ele há-de ir despindo aos poucos a sua segunda pele de «duro», sem sequer dar por isso, e os jurados hão-de acreditar nele. Ele não vai aparecer como um criminoso insensível ou uma pessoa insensível. Vai aparecer como um rapaz assustado que anseia por um bocadinho de justiça e beleza na sua vida, porque é precisamente isso que ele é. Só queria ter alguma maneira de mostrar ao júri os desenhos e colagens que ele faz. Shelly, ele é brilhante. Brilhante! Bom, mas acho que não deve ser possível. Já não vai ser nada fácil fazer sair o autêntico Roland Auburn para fora da sua carapaça. Vai ser como tirar um caracol de uma daquelas cascas em espiral.
Kramer desenhou um espiral com o dedo e riu da sua própria comparação. Os lábios brilhantes de Shelly entreabriram-se num sorriso aprovador. Respandeciam. Ela resplandecia.
— Oh, adorava assistir ao julgamento — disse. — Quando é que vai ser?
— Ainda não sabemos. (Eu e o procurador, que por acaso somos unha com carne.) Só para a semana é que o caso vai ser apresentado ao júri. O julgamento tanto pode ser daqui a dois meses como daqui a seis. É difícil dizer, num caso que foi objecto de tanta publicidade como este. Quando os media se entusiasmam com uma coisa, torna-se tudo mais complicado. — Abanou a cabeça, como se dissesse: «É preciso aprender a viver com estes problemas.»
Shelly sorriu, como lhe competia. — Larry, quando cheguei a casa ontem à noite e liguei a televisão, e você apareceu, naquele desenho... olhe, desatei a rir, como uma criança. Disse: «Larry!» Disse mesmo o seu nome, em voz alta, como se você acabasse de entrar na sala. Nem queria acreditar.
— Para lhe dizer a verdade, a coisa também me deu um bocado a volta à cabeça...
— Dava tudo para poder assistir ao julgamento. Acha que posso?
— Claro que sim.
— Prometo que não faço nenhuma tolice.
Kramer sentiu uma espécie de formigueiro. Percebeu que era chegado o momento. Estendeu as mãos e enfiou as pontas dos dedos debaixo dos dedos dela, sem os olhar. Ela também não baixou os olhos, nem se retraiu. Continuou a olhá-lo nos olhos e comprimiu as pontas dos dedos dele com os seus.
— Pouco me importa que faça alguma tolice — disse ele. A sua própria voz surpreendeu-o. Era uma voz rouca e tímida.
Na rua, depois de ter deixado praticamente todo o seu dinheiro na caixa registadora manual, pitorescamente antiquada, do Café Alexandria, pegou-lhe na mão e entrelaçou os seus grossos dedos de aço nos dedos finos e frágeis de Shelly, e começaram a andar na escuridão decrépita de Beach Street.
— Sabe, Shelly, você não faz ideia do que significa para mim poder falar consigo de tudo isto. Os meus colegas de trabalho... se uma pessoa tenta chegar ao fundo dos problemas numa conversa com eles, ficam logo a pensar que a pessoa está a ficar mole. E ai de quem for mole, no nosso trabalho! A minha mulher... não sei, ela já não... já não quer saber do que eu lhe conto, diga eu o que disser. Ao fim destes anos, o que ela pensa é que está casada com um tipo que temde fazer o trabalho sujo de mandar uma data de desgraçados para a cadeia. Mas este caso não tem nada desse aspecto patético. Sabe o que é que este caso traz consigo? Uma mensagem, uma mensagem muito importante para os habitantes desta cidade que julgam que não são abrangidos pelo contrato social. Sabe? É o caso de um homem que pensa que a sua posição privilegiada o exime da obrigação de tratar a vida de um indivíduo do nível mais baixo da escala social como trataria a vida de alguém como ele próprio. Não duvido nem por um instante que se ele tivesse atropelado alguém ainda que só remotamente semelhante a ele, McCoy teria feito o que devia. Provavelmente ele até é uma «boa pessoa», como se costuma dizer. É isso que torna o caso fascinante. Ele não é de modo nenhum uma pessoa má — mas fez uma má acção. Está a seguir o meu raciocínio?
— Acho que sim. A única coisa que eu não percebo é porque é que o Henry Lamb não disse nada acerca do atropelamento quando chegou ao hospital. E agora que você me falou da testemunha, desse tal Roland... não apareceu nada sobre ele nos jornais, pois não?
— Não, e nos tempos mais próximos não vamos divulgar nada sobre ele. O que eu lhe disse fica só entre nós.
— Bom, mas seja como for, a verdade é que Roland não disse nada sobre o atropelamento do amigo durante quase duas semanas. Não é um bocadinho estranho?
— Estranho como? Meu Deus, Shelly, o Lamb tinha sofrido uma lesão craniana fatal, ou que provavelmente lhe será fatal, e o Roland sabia que era preso por um crime grave se fosse participar o acidente à Polícia! Não vejo nisto nada de estranho.
Miss Shelly Thomas resolveu emendar a mão. — Bom, eu não quis dizer propriamente estranho. Acho que o que eu queria dizer é que... olhe, pode ter a certeza que não gostava de estar no seu lugar, com todo o trabalho de investigação e preparação que deve ser preciso fazer para levar a tribunal um caso destes.
— Ah! Se me pagassem todas as horas extras que eu vou ter de trabalhar só para este caso, até me podia mudar para a Park Avenue. Mas quer saber uma coisa? Isso para mim não importa. A sério que não. O que me importa é, nesta vida que escolhi, poder daqui a uns anos olhar para trás e dizer: «O que eu fiz contou para alguma coisa». E este caso é extremamente importante, a todos os níveis, e não apenas em termos da minha carreira. É... não sei como hei-de dizer... é um novocapítulo que se inicia. E eu quero que os meus actos contem para alguma coisa, Shelly.
Parou e, sem lhe soltar a mão, agarrou-a pela cintura e puxou-a para si. Ela fitava-o, radiante. Os seus lábios uniram-se. Ele espreitou uma vez só, para ver se ela tinha os olhos fechados. Tinha.
Kramer sentia o baixo ventre dela comprimido contra o seu. Seria a saliência do seu mons veneris? Chegara tão longe, tão depressa, tão docemente, tão facilmente — e gaita! Não tinha para onde a levar!
Imagine-se! Ele! A promissora estrela do caso McCoy — e não tinha sítio nenhum! — nenhum! — na Babilónia do século xx! — para onde levar a linda rapariga de bâton castanho que assim se lhe oferecia. Perguntou a si próprio o que passaria nesse instante pela cabeça dela.
O que ela pensava, na realidade, era que os homens em Nova Iorque são todos iguais. Sempre que se sai com algum, tem que se começar por ficar sentada duas ou três horas a ouvir a canção «A Minha Carreira.»
Foi um Peter Fallow triunfante que nessa noite entrou no Leicesters. Todos os ocupantes da mesa, e mais um bom número dos que enchiam o ruidoso restaurante, mesmo aqueles que torciam o nariz ao City Light, sabiam que fora ele quem trouxera a público o caso McCoy. Até mesmo St. John e Billy, que raramente falavam a sério de outra coisa que não fossem as mútuas infidelidades, lhe deram os parabéns com aparente sinceridade. Sampson Reith, o correspondente político do Daily Courier de Londres, que estava a passar uns dias em Nova Iorque, passou pela mesa e contou o seu almoço com Irwin Gubner, director-adjunto do New York Times, que se queixara do facto de o City Light ter a história quase só para si, o que era o mesmo que dizer para Peter Fallow, seu cioso guardião. Alex 3ritt-Withers mandou-lhe um vodka Southside, com os cun primentos da casa, que lhe soube tão bem que Fallow resolveu pedir um segundo. A maré da aprovação era tão grande que Caroline lhe endereçou o primeiro sorriso desde há muito, muito tempo. A única nota dissonante vinha de Nick Stopping. A sua aprovação era manifestamente tíbia e contrafeita. Então Fallow compreendeu que Nick, o marxista-leninista, o espartaquista de Oxford, o Rousseau do Terceiro Mundo, devia estar era roído de inveja. Aquela era uma história digna dele, e não daquele palhaço do Fallow (Fallow podia agora encarar a opinião de Nick acerca dele com um sentido dehumor magnânimo) e, no entanto, ali estava Fallow na ribalta, na carruagem da frente do comboio da História, enquanto ele, Stopping, escrevia mais um artigo para a House & Garden acerca da nova vivenda de Mrs. Chique em Hobe Sound, ou coisa parecida. Bom, e a propósito de 1 chique Rachel Lampwick resolveu meter-se com ele por usar tantas vezes essa palavra. — Olhe, Peter, só acho que vocêpodia ser um pouco mais galant — pronunciava a palavra à francesa — para com a tal Mrs. McCoy, não lhe parece? Quer dizer, você farta-se de falar do finíssimo Mr. McCoy, ido seu carro chique, do seu apartamento chique do seu [emprego chique, do seu papá ainda mais chique, da sua namorada chique — não, à namorada chamou outra coisa... sexy, não foi? Dessa parte gostei! Mas a pobre Mrs. McCoy é só a «esposa de quarenta anos», o que quer dizer, é claro, que a senhora é completamente desengraçada! Não achei nada galant, Peter.
Mas era óbvio que Rachel devorara cada uma das palavras que ele tinha escrito. Por isso só sentiu por ela, e por todos os outros, uma ternura vaga de vencedor.
— O City Light só acha as esposas esplendorosas quando são infiéis. — disse Fallow. — Guardamos o nosso entusiasmo para as Outras Mulheres.
Então toda a gente se pôs a especular acerca da MorenaSexy, e Billy Cortez, lançando uma olhadela a St. John, disse que sabia de vários homens que levavam as amásias paralugares fora de mão para não serem descobertos, mas que apesar de tudo ir para o Bronx implicava uma paranóiabastante grave, e Fallow pediu mais um vodka Southside. O burburinho era caloroso, alegre e inglês, as luzes alaranjadas e ocre do Leicestefs eram suaves e inglesas, e Caroline olhava muito para ele, às vezes com um sorriso, outras com uma careta, o que despertou a sua curiosidade, e resolveu beber mais um vodka Southside, e Caroline levantou-se do seu lugar, deu a volta à mesa, inclinou-se para ele e disse-lhe ao ouvido: — Vem comigo até lá acima, só um minuto.
Seria possível? Era uma coisa tão inverosímil, mas... seria possível? Subiram a escada de caracol dos fundos até ao gabinete de Britt-Withers, e Caroline, de repente muito séria, disse: — Peter, provavelmente eu não devia dizer-te o que te vou dizer. A verdade é que tu não mereces. Não tens sido nada simpático comigo.
— Eu? — disse Fallow com uma gargalhada. — Caroline! Tu tentaste mostrar o meu focinho de bêbedo a toda a cidade de Nova Iorque!
— O quê? O teu focinho? — Caroline corou e sorriu. — Bom, não foi a toda a cidade de Nova Iorque. De qualquer maneira, depois da prenda que eu te vou dar, acho que ficamos quites.
— Prenda?
— Acho que é uma prenda. Eu sei quem é a Morena Sexy. Sei quem é que ia no carro com o McCoy.
— Estás a gozar.
— Não estou, não.
— Está bem — quem é?
— Chama-se Maria Ruskin. Conheceste-a naquela noite, no Limelight.
— Ai conheci?
— Peter, tu ficas sempre tão bêbedo! Ela é casada com um fulano chamado Arthur Ruskin, que deve ter o triplo da idade dela. É um judeu qualquer. Muito rico.
— Como é que sabes isso tudo?
— Lembras-te do meu amigo artista? Aquele italiano? Filippo? Filippo Chirazzi?
— Lembro-me, sim. Não seria muito fácil esquecê-lo, não te parece?
— Bom, ele conhece-a.
— Conhece-a como?
— Da mesma maneira que muitos homens a conhecem. Ela é uma puta.
— E ela contou-lhe?
— Contou.!
— E ele contou-te a ti?
— Contou.
— Meu Deus, Caroline. Onde é que eu o posso encontrar?
— Não sei. Nem eu o consigo encontrar. O filho da mãe.
25 - Nós, o Júri
— Isto é pura e simplesmente a Ordem Estabelecida a proteger-se a si própria — disse o Reverendo Bacon. Estava reclinado na sua cadeira, atrás da secretária, a falar ao telefone, mas o seu tom era o de uma declaração oficial. Porque falava com um representante da imprensa. — É a Estrutura do Poder a fabricar e a propalar as suas mentiras com a conivência dos seus lacaios nos media, e essas mentiras são transparentes.
Edward Fiske III, apesar de muito jovem, reconheceu a retórica do Movimento do final dos anos 60 e início dos anos 70. O Reverendo Bacon olhava para o bocal do telefone com uma expressão de justa cólera. Fiske enterrou-se um pouco mais na cadeira. Os seus olhos saltaram do rosto do Reverendo Bacon para os plátanos amarelados do pátio das traseiras, para lá da janela, depois dos plátanos para o Reverendo Bacon e de novo para os plátanos. Não sabia se seria prudente cruzar naquele instante o seu olhar com o daquele homem, muito embora o facto que provocara a sua cólera não tivesse nada a ver com a visita de Fiske. Bacon estava furioso com o artigo do Daily News dessa manhã, onde se sugeria que Sherman McCoy talvez estivesse a fugir a uma tentativa de assalto quando o seu carro atingira Henry Lamb. O Daily News insinuava que o cúmplice de Lamb era um criminoso já com várias condenações, e que todas asacusações da Procuradoria contra Sherman McCoy assentavam numa história forjada por esse indivíduo, que com ela pretendia obter um acordo favorável numa acusação de posse e tráfico de droga.
— Não acredita que eles sejam capazes de descer tão baixo? — declamava para o bocal do telefone o Reverendo Bacon. — Não acredita que eles possam ser vis? Então agora veja-os rebaixarem-se ao ponto de tentar caluniar o jovem Henry Lamb. Veja-os difamarem a vítima, que está no hospital, mortalmente ferida, e não pode defender-se das acusações. Dizer de Henry Lamb que ele é um assaltante — isso é que é um crime... percebe?... Isso é que é um crime. Mas é assim a mente tortuosa da Estrutura do Poder, é assim a mentalidade racista subjacente. Como Henry Lamb é um jovem negro do sexo masculino, acham logo que podem rotulá-lo de criminoso... percebe?... Acham que o podem caluniar sem mais nem menos. Mas enganam-se. A vida de Henry Lamb refuta todas essas mentiras. Henry Lamb é tudo aquilo que a Estrutura do Poder diz a um jovem negro que ele deve ser, mas quando as necessidades de um dos deles o exigem... está a ver?... um dos deles... então pouco se importam de virar as coisas ao contrário e de tentar destruir o bom nome deste jovem... O quê?... Pergunta-me «Quem são eles?»... Julga que Sherman McCoy está sozinho? Julga que não tem ninguém a apoiá-lo? Ele é um dos homens mais influentes da Pierce & Pierce, e a Pierce & Pierce é uma das forças mais influentes da Wall Street. Eu conheço a Pierce & Pierce... percebe?... Eu sei o que eles são capazes de fazer. Já ouviu falar de capitalistas, não? Já ouviu falar de plutocra-tas. Pois bem, olhe para Sherman McCoy e está a ver um capitalista, está a ver um plutocrata.
O Reverendo Bacon dissecou o insultuoso artigo do jornal. Toda a gente sabia que o Daily News estava ao serviço dos interesses dos grandes grupos empresariais. O repórter que escrevera aquele arrazoado de mentiras, Neil Flannagan, era um lacaio tão despudorado que não se importava de emprestar o seu nome a essa campanha repugnante. A origem das suas «informações» — timidamente citada como «fonte próxima do caso» — era obviamente o próprio McCoy e a sua cabala.
O caso McCoy não tinha o menor interesse para Fiske, a não ser como tema de conversa em voga, embora ele conhecesse o inglês que revelara ao público aquela situação, um tipo fantástico, tremendamente espirituoso, chamado Peter Fallow, que era um mestre na arte de conversação. Não, aúnica coisa que interessava a Fiske era saber a que ponto o Envolvimento de Bacon no caso viria complicar a sua tarefa, que consistia em recuperar os 350000 dólares ou parte dessa soma. Havia meia hora que ali estava sentado, e durante esse tempo a secretária de Bacon tinha-lhe transmitido chamadas dos jornais, da Associated Press, de um vereador do Bronx, de um congressista do Bronx, e do secretário-geral das Brigadas Punho Gay, todas a propósito do caso McCoy. E o Reverendo Bacon falava agora com um homem chamado Irv Stone, do Canal 1. A princípio Fiske pensou que a sua missão estava (uma vez mais) votada ao fracasso. Mas por trás da retórica vingativa do Reverendo Bacon ele começou a detectar uma certa satisfação, uma joie de combat. O Reverendo Bacon adorava o que se estava a passar. Era ele que chefiava a cruzada. Estava no seu elemento. Algures no meio de tudo aquilo, finalmente, se escolhesse o momento certo, Edward Fiske III talvez conseguisse uma aberta para recuperar os 350000 dólares da Igreja Anglicana, nesse momento perdidos no emaranhado promíscuo de negociatas do Cruzado dos Céus.
O Reverendo Bacon dizia: — Há as causas e há os efeitos, Irv... está a ver?... E nós tivemos uma manifestação no Bairro Poe, onde vive o Henry Lamb. Isso é o efeito... percebe?... o que aconteceu a Henry Lamb é o efeito. Pois bem, hoje vamos atacar a causa. Vamos até à Park Avenue. A Park Avenue, percebe, a origem de todas estas mentiras... Como?... Exactamente. Henry Lamb não pode falar, mas hoje vai ter uma voz bem forte. Vai ter a voz da sua gente, e essa voz vai ser ouvida na Park Avenue.
Fiske nunca vira tanta animação no rosto do Reverendo Bacon. Este começou a fazer perguntas técnicas a Irv Stone. Naturalmente, desta vez não podia garantir o exclusivo ao Canal 1, mas mesmo assim não poderia contar com cobertura ao vivo? Qual era a melhor hora? A mesma da outra vez? E assim por diante. Por fim, lá desligou. Voltou-se para Fiske, olhou-o com ar de intensa concentração e disse:
— A pressão.
— A pressão?
— A pressão... Lembra-se de eu lhe falar da pressão?
— Lembro-me, sim, perfeitamente.
-
Pois bem, agora é que vai ver a pressão atingir o auge. Toda a cidade vai ver. Ali mesmo, na Park Avenue. As pessoas julgam que o fogo se extinguiu. Julgam que a raiva é coisa do passado. Não sabem que ela tem é estado contida, controlada. Mas quando a pressão aumenta é que se descobre o que ela é capaz de fazer... percebe?... É então que certas pessoas descobrem que está tudo acabado para eles e para a sua pandilha. A Pierce & Pierce só sabe manejar um tipo de capital. Não percebe o problema da pressão. Não é capaz de controlar a pressão.
Fiske julgou ver aqui uma pequena aberta.
— A propósito, Reverendo Bacon, ainda no outro dia falei de si a um funcionário da Pierce & Pierce. Linwood Talley, da secção de subscrições.
— Ah, eles conhecem-me — disse o Reverendo Bacon. Sorriu, um sorriso ligeiramente sardónico. — Conhecem-me a mim. Não conhecem é a pressão do vapor acumulado.
— Mr. Talley falou-me dos títulos de garantia da Har-lem. Disse que tinha sido um grande sucesso.
— Não me posso queixar.
— Mr. Talley não entrou em pormenores, mas pelo que me foi dado perceber, foi um negócio — procurou o eufemismo apropriado — lucrativo logo desde o início.
— Mmmmmmmmm! — O Reverendo Bacon não parecia disposto a fazer confidências.
Fiske não disse nada e tentou sustentar o olhar do Reverendo Bacon, na esperança de criar um vazio na conversa a que o grande cruzado não fosse capaz de resistir. A verdade acerca da Harlem Títulos de Garantia, como Fiske soubera por Linwood Talley, era que o Governo Federal entregara recentemente à firma 250000 dólares graças à sua qualidade de «subscritor minoritário» de uma emissão de 7 biliões de dólares de obrigações municipais comparticipadas pelo governo federal. A chamada «lei da segregação» exigia que houvesse uma participação das minorias na venda desse tipo de obrigações, e a Harlem Títulos de Garantia fora criada para satisfazer esse requisito da lei. A lei não exigia que a firma das minorias vendesse realmente uma parte das obrigações ou chegasse sequer a recebê-las. Os legisladores não tinham querido obscurecer as suas intenções com formalismos excessivos. Bastava que a firma participasse na emissão. A participação era definida de modo um tanto vago. Na maior parte dos casos — a Harlem Títulos de Garantia era apenas uma entre muitas firmas do género, espalhadas por todo o país — a participação significava receber e depositar um cheque do governo federal, e pouco mais. A Harlem Títulos de Garantia não tinha empregados, nem equipamento; apenas uma morada (a morada onde Fiske se encontrava), um número de telefone, e um presidente, Reginald Bacon.
— Por isso ocorreu-me, Reverendo Bacon, em termos daquilo que já foi dito nas nossas conversas, das naturais preocupações da diocese e de tudo o que falta ainda tratar, se é que pretendemos resolver o problema que eu estou certo de o Reverendo não estar menos empenhado em resolver do que o nosso bispo, que, devo dizer-lhe, me tem pressionado bastante neste ponto... — Fiske fez uma pausa. Como tantas vezes acontecia nas suas conversas com Bacon, já não se lembrava de como começara a frase. Não fazia ideia da pessoa e do tempo do verbo a empregar. —... me tem pressionado neste ponto, e, ah, hum, a verdade é que nós pensámos que talvez o senhor tivesse a possibilidade de transferir algum dinheiro para a conta conjunta de que falámos, a conta conjunta do Infantário Bom Pastor, até estar resolvido o problema do alvará.
— Não estou a perceber — disse o Reverendo Bacon. Fiske teve a sensação de vertigem de se ver obrigado apensar numa maneira de repetir aquilo.
Mas o Reverendo Bacon veio salvá-lo. — Está-me a dizer que devíamos transferir dinheiro da Harlem Títulos de Garantia para o Infantário Bom Pastor?
— Não lho disse explicitamente, Reverendo Bacon, mas se houver fundos disponíveis ou que possam ser emprestados...
— Mas isso é ilegal! O que você me está a propor é que confunda os capitais de duas empresas! Não se pode transferir assim dinheiro de uma firma para outra a pretexto de que uma delas está mais necessitada.
Fiske olhou para aquele rochedo de probidade fiscal, quase à espera de uma piscadela de olho, embora soubesse que o Reverendo Bacon não era homem para lhe piscar o olho. — Bom, a diocese sempre esteve disposta a ir o mais longe possível consigo, Reverendo Bacon, no sentido em que, sempre que haja ensejo de encarar com alguma flexibilidade a interpretação estrita dos regulamentos, como aconteceu na altura em que o senhor e a comissão directiva da Sociedade para a Reestruturação da Família fizeram aquela viagem a Paris e a diocese pagou todas as despesas com dinheiro do orçamento da Sociedade das Missões... — Afogava-se uma vez mais no caldo sintáctico, mas já não tinha importância.
— Impossível — disse o Reverendo Bacon.
— Bom, então nesse caso...
A voz da secretária do Reverendo Bacon fez-se ouvir Pelo intercomunicador: — Mr. Vogel está em linha.
O Reverendo Bacon rodou a cadeira de modo a ficar de frente para o telefone que se encontrava sobre uma credencia: — Al?... Vi, sim. Arrastam pela lama o nome do rapaz e não ficam nada incomodados.
O Reverendo Bacon e o seu interlocutor, Vogel, conversaram durante algum tempo acerca do artigo do Daily News. Percebia-se que o tal Mr. Vogel lembrava ao Reverendo Bacon o facto de o procurador, Weiss, ter dito ao Daily News que não havia a menor prova em apoio da teoria da tentativa de assalto.
— Não confio nele — disse o Reverendo Bacon. — Ele é como o morcego. Conhece a fábula do morcego? Os pássaros e os animais terrestres estavam em guerra. Enquanto os pássaros estavam a ganhar, o morcego dizia que era pássaro, porque voava. Quando os outros animais estavam a ganhar, dizia que era dos deles, porque tinha dentes. É por isso que o morcego não aparece à luz do dia. Não quer que ninguém lhe veja as duas caras.
O Reverendo Bacon ficou algum tempo a ouvir, e depois disse: — Com certeza, Al. Neste momento tenho aqui comigo um senhor da diocese anglicana de Nova Iorque. Quer que eu lhe torne a telefonar?... Hã, hã... Hã, hã... Diz que o apartamento dele vale três milhões de dólares? — Abanou a cabeça. — É inacreditável. O que eu digo é que é tempo de a Park Avenue ouvir a voz das ruas... Hã, hã... Eu torno-lhe a telefonar para resolvermos isso. Falo primeiro com a Annie Lamb. Quando é que está a pensar apresentar queixa?... Mais ou menos na mesma, quando ontem falei com ela. Só a máquina é que o mantém vivo. Não diz nada e não conhece ninguém. Quando se pensa num rapaz assim, não há dinheiro que chegue para compensar a perda, não é?... Bom, eu telefono-lhe logo que puder.
Depois de desligar, o Reverendo Bacon abanou a cabeça tristemente, mas logo a seguir fitou Fiske com os olhos brilhantes e um esboço de sorriso. Com uma presteza atlética, ergueu-se da cadeira e contornou a secretária de mão estendida, como se Fiske acabasse de anunciar que tinha de sair.
— É sempre um prazer recebê-lo!
Num gesto reflexo, Fiske apertou-lhe a mão, ao mesmo tempo que dizia: — Mas, Reverendo Bacon, nós não...
— Tornamos a falar noutro dia. Hoje tenho imenso que fazer — uma manifestação na Park Avenue, ajudar Mrs. Lamb a pôr uma acção de cem milhões de dólares em tribunal contra Sherman McCoy...
— Mas, Reverendo Bacon, eu não me posso ir embora sem uma resposta. A diocese está a chegar ao fim... quer dizer, eles insistem em que eu...
— Diga lá na diocese que está tudo bem. Já lhe expliquei da última vez que este é o vosso melhor investimento de sempre. Diga-lhes que estão a aproveitar uma ocasião única.
Estão a comprar o futuro em saldos. Diga-lhes que muito em breve hão-de perceber de que é que eu estou a falar. — Pôs o braço por cima dos ombros de Fiske, muito camarada, e empurrou-o para a saída, sem parar de dizer: — Não se preocupe, a sério. Você está a ir pelo bom caminho, percebe? elo bom caminho. Eles hão-de dizer um dia: «Aquele rapaz Resolveu correr um risco mas acertou em cheio.»
Completamente zonzo, Fiske foi arrastado para a rua por uma autêntica maré de optimismo e pela pressão de um braço forte nas suas costas.
O ruído do altifalante e os urros de raiva subiam à altura de dez andares acima da Park Avenue, no meio do calor de Junho — dez andares! — nada mais fácil! — só faltava entrarem-lhe pela janela! — até a barulheira lá de baixo quase fazia parte do ar que ele respirava. O altifalante berrava o seu nome! O de McCoy escondia periodicamente os bramidos da multidão e elevava-se acima da imensa maré de ódio na rua lá em baixo. Sherman aproximou-se da janela da biblioteca e correu o risco de olhar para baixo. se me vêem? os manifestantes tinham-se espalhado pela rua, de ambos os lados do passeio central, interrompendo o trânsito. A Polícia tentava empurrá-los para os passeios. Três polícias perseguiam um grupo de pelo menos quinze ou vinte manifestantes por entre as tulipas amarelas do passeio central. Os manifestantes corriam com uma longa faixa desfraldada: ACORDA, PARK AVENUE! NÃO TE PODES ESCONDER DO POVO! As tulipas amarelas iam caindo; atrás dos pés da que homens e mulheres ficava um trilho de flores esmagadas, e três polícias corriam ao longo do trilho. Sherman ficou a olhar a cena, horrorizado. Ver assim as tulipas perfeitas tão amarelas e primaveris, esmagadas pelos pés da turba, deixava-o paralisado de medo. Uma equipa de televisão avançava a custo pelo meio da rua, tentando apanhar o grupo dos manifestantes. O homem que levava a câmara ao ombro tropeçou e estatelou-se ao comprido no chão, com câmara e tudo. As faixas e cartazes da multidão oscilavam e tremularam como velas de barcos no porto num dia de vento. Uma enorme faixa dizia, inexplicavelmente, PUNHO GAy CONTRA
JUSTIÇA DE CLASSE. Os dois de CLASSE eram cruzes suásticas. Mais uma — meu Deus! Sherman sentiu que lhefaltava o ar. Em letras gigantescas, leu:
SHERMAN MCCOY
NÓS, O JÚRI QUEREMOS A TUA CABEÇA!
Ao lado vinha uma imitação aproximativa de um dedo espetado, como nos velhos cartazes UNCLE SAM WANTS YOU. Os manifestantes pareciam ter a faixa propositadamente inclinada, de maneira a permitir que ele a lesse ali de cima. Fugiu da biblioteca e refugiou-se no fundo da sala de estar, numa das poltronas mais queridas de Judy, uma bergere Luís Não-Sei-Quantos, ou será que era um fauteuil? Killian andava de um lado para o outro, ainda a perorar acerca do artigo do Daily News, aparentemente na intenção de o animar, mas Sherman já não ouvia. Ouvia a desagradável voz cava de um dos guarda-costas, que estava na biblioteca a atender o telefone. — Meta essa conversa num sítio que eu cá sei. — Sempre que recebia ameaças pelo telefone, o guarda-costas, um homem baixo e entroncado chamado Guliaggi, dizia: «Meta essa conversa num sítio que eu cá sei». Da maneira como dizia aquilo, soava ainda pior que os clássicos palavrões. Como é que tinham conseguido o seu número de telefone? Provavelmente através da imprensa — na cavidade aberta. Estavam ali, na Park Avenue, diante da porta lá de baixo. Não paravam de lhe telefonar. Quanto tempo faltaria para lhe invadirem a casa, o átrio da entrada, para entrarem a berrar e a correr naquele solene pavimento de mármore? O outro guarda-costas, McCarthy, estava na entrada, sentado numa das cadeiras de braços Thomas Hope de que Judy tanto gostava, mas o que poderia ele fazer? Sherman recostou-se na poltrona, de olhos baixos, fixos nas pernas esguias de uma mesa Sheraton Pembroke, um objecto diabolicamente caro que Judy encontrara num desses antiquários da Rua 57... diabolicamente caro... diabolicamente... Mr. Guliaggi, que dizia «Meta essa conversa num sítio que eu cá sei» a todos os que telefonavam para lhe fazer ameaças de morte... 200 dólares por cada turno de oito horas... mais outros 200 para o impassível Mr. McCarthy e outro tanto para os dois guarda-costas em casa dos seus pais, na East Seventy-Third, onde se encontravam Judy, Campbell, Bonita e Miss Lyons... 800 dólares por cada turno de oito horas... todos eles polícias reformados, de uma agência
indicada por Killian... 2400 dólares por dia... uma hemorragia de dinheiro... McCOY!... McCOY... um rugido tremendo, na rua, lá em baixo... E agora já não pensava na mesa Pembroke nem nos guarda-costas... Olhava catatonica-mente em frente e pensava no cano da espingarda. De que tamanho era? Tinha-a usado tantas vezes, e ainda havia pouco tempo, na caçada do Leash Club no Outono anterior, mas não se conseguia lembrar do tamanho! Era grande, claro, uma vez que se tratava de uma espingarda de calibre 12 e cano duplo. Seria grande demais para enfiar na boca? Não, também não podia ser assim tão grande, mas qual seria a sensação? Qual seria a sensação do cano a tocar no céu da boca? Qual seria o sabor? Teria dificuldade em respirar o tempo suficiente para... para... Como é que puxaria o gatilho? Ora bem, com uma das mãos, a mão esquerda, mantinha o cano bem seguro dentro da boca — mas que comprimento teria o cano? Era bastante comprido... Seria possível chegar ao gatilho com a mão direita? Talvez não! O dedo do pé... Lera nalgum lado uma história de alguém que tinha tirado o sapato e carregado no gatilho com o dedo do pé... E onde havia de fazer a coisa? A espingarda estava na casa de Long Island... supondo que ele poderia ir até Long Island, sair daquele prédio, fugir da Park Avenue assediada, escapar vivo a... NÓS, O JÚRI... o canteiro atrás da arrecadação... Judy costumava-lhe chamar o viveiro... Sentar-se-ia lá... Se ficasse tudo sujo de sangue, não faria mal... E se fosse Campbell a encontrá-lo?... A ideia não o deixou lavado em lágrimas, como julgara que aconteceria... como esperava que acontecesse... Não seria o pai que ela encontraria... ele já não era o pai dela... já não tinha nada a ver com aquela pessoa que em tempos fora conhecida como Sherman McCoy... Era apenas uma cavidade cada vez mais cheia de ódio inflamado e reles...
O telefone tocou na biblioteca. Sherman ficou hirto. Meta essa conversa num sítio que eu cá sei? Mas só ouviu o som da voz normal de Guliaggi. Instantes depois o homenzinho enfiava a cabeça na abertura da porta da sala de estar e dizia: — Hei, Mr. McCoy, é uma fulana chamada Sally Rawthrote. Quer falar com ela ou não?
Sally Rawthrote? Era a mulher que ficara a seu lado no jantar dos Bavardages, a mulher que logo perdera todo o interesse na sua pessoa e passara o resto da noite sem lhe falar. Porque é que quereria falar com ele agora? Porque é que ele havia de querer falar com ela? Não queria, mas surgiu uma pequena centelha de curiosidade no interior da cavidade,que o fez levantar-se da cadeira, olhar para Killian com um encolher de ombros, sentar-se à sua secretária e atender o telefone.
— Está?
— Sherman! Daqui Sally Rawthrote. — Sherman. O mais íntimo dos amigos. — Espero não ter escolhido uma má altura para telefonar.
Uma má altura? Subia lá de baixo um bramido terrível, o megafone guinchava e berrava, e Sherman ouvia constantemente o seu nome. McCOY!... McCOY!...
— Bom, é claro que é má altura — disse Sally Rawthrote. — O que é que eu estou para aqui a dizer? Mas resolvi correr o risco e telefonar a saber se poderei dar-lhe alguma ajuda.
Ajuda? Ao ouvi-la falar, lembrou-se da cara dela, aquela horrível cara míope e contraída que, para o ver melhor, se punha a quatro polegadas e meia da ponta do seu nariz.
— Bom, muito obrigado — disse Sherman.
— Sabe, eu vivo a uns dois ou três quarteirões da sua casa. Do mesmo lado da rua.
— Ah, sim?
— O meu apartamento fica numa esquina, voltada a noroeste. Acho que, quando se vive na Park, não há nada como as esquinas voltadas a noroeste. Apanha-se tanto sol! É verdade que o sítio onde você está também é agradável. No seu prédio há alguns dos mais belos apartamentos de Nova Iorque. Nunca mais fui ao seu desde o tempo em que era dos McLeods. Foi deles antes de ser dos Kitredges. Bom, mas do meu quarto, que fica na esquina, vejo boa parte da avenida, até ao sítio onde fica a sua casa. Estou a olhar para aí neste momento, e essa multidão — é uma coisa perfeitamente incrível! Fiquei tão incomodada, por si e pela Judy, que tive mesmo de telefonar para saber se havia alguma coisa que eu pudesse fazer. Espero não estar a ser inconveniente!
— Não, não, é muito simpático da sua parte. A propósito, como é que soube o meu número de telefone?
— Falei à Inês Bavardage. Não fiz mal, pois não?
— Para lhe dizer a verdade, no ponto em que estou já não faz grande diferença, Mrs. Rawthrote.
— Sally.
— De qualquer maneira, obrigado.
— Como lhe disse, se eu puder ajudar nalguma coisa, diga-me. Ajudar no que diz respeito ao apartamento, quero eu dizer.
— O apartamento?
Mais barulho... um rugido... McCOY! McCOY!
— Se por acaso decidir desfazer-se do apartamento. Eu trabalho na Benning Sturtevant, como você provavelmente já sabe, e sei que muitas vezes, em situações como estas, as
pessoas sentem a necessidade de obter o máximo de dinheiro Ilíquido possível. Bem, é uma necessidade que eu compreendo (perfeitamente! Seja como for, é uma hipótese ater em conta, e eu garanto-lhe — garanto-lhe — que arranjo quem dê três milhões e meio pelo seu apartamento, assim, de um dia para o outro. Posso-lhe garantir isso.
O descaramento daquela mulher era espantoso. Estava para além do bom e do mau tom, para lá de todas as considerações de gosto... Era espantoso. Fez Sherman sorrir, quando ele pensava ser incapaz de sorrir.
— Muito bem, Sally, muito bem. Sabe, eu admiro muito as pessoas com golpe de vista. Você espreitou pela suajanela voltada a noroeste e viu um apartamento à venda.
— Não foi nada disso! Eu só pensei...
— Mas infelizmente chegou um bocadinho atrasada, Sally. Vai ter de falar com um homem chamado Albert Vogel.
— Quem é?
— É o advogado de Henry Lamb. Pôs uma acção em tribunal contra mim, uma acção de cem milhões de dólares, e eu não sei se estou autorizado a vender sequer um dos meus tapetes neste momento. Bom, um tapete talvez possa vender. Quer-me vender um tapete, Sally?
— Ah, ah, não! De tapetes não sei nada. Mas não vejo como é que lhe podem congelar assim os bens. Acho uma perfeita injustiça. Quer dizer, afinal de contas foi você a vítima, não foi? Li hoje o artigo do Daily News. Geralmente só leio a Bess Hill e o Bill Hatcher, mas quando ia a folhear o jornal vi a sua fotografia. Disse para comigo: «Meu Deus, é o Sherman!» Por isso li o artigo — e afinal você só tentou escapar a uma tentativa de assalto. É tão injusto! — E continuou a tagarelar. Era absolutamente à prova de bala. Não se conseguia derrotá-la pelo lado do humor.
Depois de desligar, Sherman voltou à sala de estar.
Killian perguntou: — Quem era?
Sherman disse: — Uma agente imobiliária que conheci no outro dia num jantar. Queria-me vender o meu apartamento.
— Disse quanto é que conseguia por ele?
— Três milhões e meio de dólares.
— Ora bem, vejamos — disse Killian. — Se ela receber uma comissão de 6 por cento, são... mmmmm... 210000 dólares. Pois é, por esse dinheiro já vale a pena uma tipa dispor-se a parecer uma vaca gananciosa... Mas tenho uma coisa a dizer em abono dela.
— O quê?
— Fê-lo sorrir. Portanto não é tão má como isso. Mais um bramido, o mais forte de todos... McCoy!.
McCoy!... Ficaram os dois de pé no meio da sala, à escuta.
— Jesus, Tommy — disse Sherman. Era a primeira vez que tratava o advogado pelo nome próprio, mas não parou para pensar no assunto. — Não posso acreditar que estou aqui onde estou e que isto está mesmo a acontecer. Vejo-me encurralado no meu apartamento, com a Park Avenue ocupada por uma multidão que só está à espera de dar cabo de mim. Dar cabo de mim!
— Ohhhhh, por amor de Deus, isso é a última coisa que eles querem. Morto, você não vale a ponta de um chavelho para Bacon, e ele está convencido que tem muito a ganhar consigo vivo.
— Bacon? O que é que ele tem a ganhar com isto tudo?
— Milhões, é o que ele julga que vai ganhar. Não tenho provas, mas o que eu acho é que isto anda tudo à volta dos processos civis.
— Mas quem me vai processar é o Henry Lamb. Ou melhor, a mãe, em lugar dele. Como é que o Bacon ganha alguma coisa com o caso?
— Está bem, está bem — Tá bem. — Quem é o advogado que representa Henry Lamb? Albert Vogel. E como é que a mãe do Henry Lamb foi ter com o Albert Vogel? Porque admirou muito a sua brilhante defesa dos Quatro de Utica ou dos Oito de Waxahachie em 1969? Ora adeus! Foi o Bacon que lhe indicou o Vogel, porque os dois são amigos. Do que os Lambs conseguirem com a acção em tribunal, o Vogel recebe pelo menos um terço, e pode ter a certeza que vai dividir os ganhos com o Bacon, senão o outro manda a malta dele tratar-lhe da saúde. Se há coisa neste mundo que para mim não tem segredos, é o mundo dos advogados, e de onde é que lhes vem o dinheiro e para onde é que vai.
— Mas o Bacon lançou esta campanha à volta de Henry Lamb muito antes de saber que eu estava envolvido no caso.
— Oh, a princípio a campanha era toda virada contra o hospital, que eles acusavam de negligência. Preparavam-se para processar o município. Se o Bacon conseguisse pôr a imprensa a fazer muito barulho, talvez o júri lhes desse o queeles queriam. Um júri num processo civil... com questões raciais envolvidas? Tinham todas as hipóteses de ganhar.
— E comigo é a mesma coisa — disse Sherman.
— Não vou tentar enganá-lo. Isso é inteiramente verdade. Mas se vencer o processo-crime, não há processo civil que se aguente.
— E se não vencer o processo-crime, hei-de ter preocupações mais graves do que o processo civil — disse Sherman, com ar lúgubre.
— Bom, uma coisa você tem de reconhecer — disse Killian numa voz encorajadora — é que este caso fez de si um gigante da Wall Street. Um autêntico gigante, meu! Veja só o que o Flannagan lhe chama no Daily News: «o legendário vendedor número um do departamento de obrigações da Pierce & Pierce». Legendário. Uma lenda viva. Você é o filho do «aristocrático John Campbell McCoy», antigo administrador da Dunning Sponget & Leach. É um génio legendário,
um aristocrata da banca de investimentos. O Bacon deve pensar que você tem metade do dinheiro do mundo.
— Se quer saber a verdade — disse Sherman — nem sequer sei onde é que vou arranjar o dinheiro para pagar... —
Apontou para a biblioteca, onde estava Guliaggi. — Naacção que agora me puseram não se esqueceram de nada. Até me querem apanhar a quota trimestral dos lucros, que eu devia receber no fim deste mês. Não faço ideia como é que souberam disso. E dizem mesmo o nome que damos lá na companhia a essa quota, que é «Bolo B». Só se conhecem alguém dentro da Pierce & Pierce.
— Mas a Pierce & Pierce vai-lhe dar o seu apoio, não ! vai?
— Ah! Eu já não existo para a Pierce & Pierce. Na Wall Street não existe essa coisa a que se chama lealdade. Talvez já
tenha havido, em tempos — o meu pai fala sempre como se dantes a houvesse — mas agora já não há. Recebi um único telefonema da Pierce & Pierce, e nem sequer foi o Lopwitz que telefonou. Foi o Arnold Parch. Queria saber se me poderiam dar alguma ajuda, mas desligou o mais depressa possível, não fosse eu lembrar-me de alguma coisa. Mas também não sei porque é que estou a queixar-me da Pierce & Pierce. Todos os nossos amigos fizeram o mesmo. A minha mulher já nem consegue arranjar quem brinque com a nossa filha. A nossa filha tem seis anos...
Calou-se. De repente sentiu-se pouco à vontade por estar assim a confessar os seus desgostos pessoais a Tommy Killian. Raios partissem o Garland Reed mais a mulher!
Nem sequer deixavam que Campbell fosse brincar com MacKenzie! Uma desculpa tão coxa... Garland nem uma vez telefonara, e ele conhecia-o desde sempre. Pelo menos Rawlie tivera a coragem de telefonar. Já falara três vezes. E provavelmente até teria coragem de o vir visitar... se NÓS o JÚRI alguma vez abandonassem a Park Avenue... Sim, talvez viesse... — É de tirar todas as ilusões a uma pessoa, a rapidez com que estas coisas acontecem — disse ele a Killian. Não era sua intenção dizer tanto, mas não conseguiu conter-se. — Todos os laços que uma pessoa tem, as pessoas que andaram connosco no colégio, na universidade, as pessoas que fazem parte dos mesmos clubes que nós, que nos convidam para jantar... é como se formassem um único fio, Tommy, estas ligações que uma pessoa vai criando ao longo da vida, e quando o fio se parte... acabou-se!... Acabou-se... Tenho muita pena da minha filha, da minha menina. Sei que ela vai chorar por mim, pelo seu papá, pelo papá de quem ela se lembra, sem saber que ele já morreu.
— O que é que você está para aí a dizer? — disse Killian.
— Você nunca passou por uma coisa assim. Não duvido que já tenha visto muita coisa, mas nunca passou por nada assim. Não lhe consigo explicar a sensação. Só lhe posso dizer que estou morto, ou melhor, que o Sherman McCoy da família McCoy, de Yale e Park Avenue e da Wall Street está morto. O meu eu... não lhe sei explicar isto, mas se alguma vez (queira Deus que não!) se alguma vez lhe acontecer uma coisa parecida, vai perceber o que estou a dizer. O meu eu... são as outras pessoas, todas as pessoas a quem estou ligado, e é só um fiozinho que me liga a elas...
— Eiii!, Sherman — disse Killian. — Pare lá com isso. Não serve de nada pôr-se a filosofar no meio de uma guerra.
— E que guerra!
— Não se ponha com isso, que diabo! Olhe, por exemplo, este artigo do Daily News é muito importante para si. O Weiss deve estar pior que uma barata. Descobrimos a careca desse delinquentezinho da passa que ele arranjou para testemunha. Auburn. Agora temos a nossa teoria acerca do caso. Agora já há uma base para as pessoas se identificarem consigo. Transmitimos a ideia de que você ia sendo vítima de uma emboscada, de um assalto. Isso muda completamente a sua imagem, sem o comprometer em nada.
— É tarde de mais.
— Tarde de mais como? Dê tempo ao tempo, caramba! Este Neil Flannagan do News alinha connosco enquanto a
gente quiser. O inglês, o Fallow do City Light, tem-lhe andado a dar cabo do juízo com esta história. Por isso o tipo aceita tudo o que eu lhe quiser dar. Porra, o artigo que saiu hoje não tinha ficado melhor se eu lho tivesse ditado. Ele não só identifica o Auburn como publica a fotografia do cadastro que o Quigley conseguiu arranjar! — Killian estava deliciado. — E não se esqueceu de dizer que ainda há duas semanas Weiss chamava a Auburn o «Rei do Crack de Evergreen Avenue».
— Que diferença é que isso faz?
— Não lhes fica bem. Quando se tem um gajo preso por um crime maior que de repente aparece a oferecer o seu testemunho em troca de lhe ser levantada ou reduzida a acusação, isso não fica nada bem. Nem aos olhos do júri, nem aos olhos da imprensa. Se o tipo for acusado de um crime menor ou de um delito, já não faz tanta diferença, porque se parte do princípio que ele não tem tanto a ganhar com o caso, uma vez que se arriscava a apanhar uma pena tão longa.
Sherman disse: — Uma coisa que sempre me intrigou, Tommy. Quando o Auburn inventou a sua história, porque é que me pôs a mim a guiar o carro? Porque não Maria, que era quem ia realmente a guiar quando o Lamb foi atropelado? Que diferença é que lhe fazia a ele?
— Ele tinha que apresentar as coisas assim. Ele não sabia que testemunhas teriam visto o seu carro antes e depois do atropelamento de Lamb, e tinha de ter uma explicação para o facto de ser você quem ia a guiar até ao local onde a coisa se passou e ser ela quem ia ao volante depois disso. Se ele dissesse que você parou, e depois trocou de lugar com ela e ela arrancou e atropelou o Lamb, a pergunta lógica que se punha era: «Mas porque é que eles pararam?», e a resposta lógica era: «Porque um delinquente chamado Roland Auburn montou uma barricada e tentou assaltá-los.»
— Mas o... como é que ele se chama?... Flannagan não explica nada disso.
— É verdade. Há-de reparar que eu não lhe disse nada acerca da tal mulher que supostamente ia no carro, nem para confirmar nem para desmentir. Quando chegar a altura, queremos que Maria esteja do nosso lado. Também há-de reparar que Flannagan escreveu a merda do artigo todo sem fazer estardalhaço à volta da questão da «mulher misteriosa».
— Foi muito simpático da parte dele. E porque é que ele faz isto tudo?
— Oh, eu conheço-o. É um Burro, como eu, que tenta safar-se o melhor possível aqui na América. Para isso, vai fazendo os seus depósitos no Banco dos Favores. A América é um país maravilhoso.
Por momentos a disposição de Sherman melhorou um furo ou dois, mas dpois desceu mais baixo que nunca. O que o desanimou foi a indisfarçada euforia de Killian. Killian não parava de se gabar do seu génio estratégico naquela «guerra». Parecia ter chefiado uma surtida vitoriosa. Para Killian aquilo era um jogo. Se ganhasse, óptimo. Se perdesse... bom, adiante, passava à guerra seguinte. Para ele, Sherman, não havia nada a ganhar. Já perdera quase tudo, irremediavelmente. Na melhor das hipóteses, podia evitar perder tudo.
O telefone tocou na biblioteca. Sherman tornou a ficar hirto na cadeira, mas logo a seguir Guliaggi voltou a aparecer à porta da sala.
— É um tipo chamado Pollard Browning, Mr. McCoy.
— Quem é? — perguntou Killian.
— Mora aqui no prédio. É o presidente da assembleia de condóminos.
Foi à biblioteca atender o telefone. Da rua, lá em baixo, veio mais um rugido, mais berros de megafone... McCoy!. McCOY!... Com certeza tudo aquilo era igualmente audível chez Browning. Sherman calculava o que Pollard não estaria a pensar.
Mas a voz do outro pareceu-lhe bastante amigável. — Como é que te estás a aguentar, Sherman?
— Oh, menos mal, Pollard, acho eu.
— Gostava de te fazer uma visita, se não for abuso da minha parte.
— Estás em casa? — perguntou Sherman.
— Cheguei agora mesmo. Não foi nada fácil entrar no prédio, mas lá consegui. Não te faz diferença que eu aí apareça?
— Claro que não. Sobe.
— Se não te importas, subo pela escada de emergência. O Eddie não tem mãos a medir lá em baixo, e nem sei se conseguirá ouvir a campainha se eu tocar a pedir o elevador.
— Eu vou ter contigo lá atrás.
Sherman disse a Killian que ia à cozinha abrir a porta a Browning.
— Eiii — disse Killian. — Está a ver? Não se esqueceram de si.
— Veremos — disse Sherman. — Prepare-se, vai conhecer a Wall Street na sua forma mais pura.
Na grande cozinha silenciosa, de porta aberta, Sherman ouvia os pés de Pollard a pisarem os degraus metálicos da escada de emergência. E instantes depois pôde também vê-lo, ofegante daquela subida de dois lanços de escada, mas impecável como sempre. Pollard era aquele género de quarentão gorducho que consegue ter um ar mais elegante que qualquer atleta da mesma idade. As suas bochechas lustrosas emergiam de uma camisa branca de algodão brilhante Sea Island. Um impecável fato cinzento de flanela de lã assentava em cada milímetro quadrado do seu corpo gelatinoso sem uma única ruga. Trazia uma gravata azul com o emblema do Yacht Club e uns sapatos pretos de um feitio tão harmonioso que faziam os seus pés parecer mais pequenos. Estava gordo que nem um texugo.
Sherman conduziu-o da cozinha para o átrio, onde o irlandês McCarthy estava sentado na cadeira Thomas Hope. A porta para a biblioteca estava aberta e via-se perfeitamente Guliaggi lá dentro.
— Guarda-costas — sentiu-se Sherman obrigado a dizer a Pollard, em voz baixa. — Aposto que nunca pensaste conhecer alguém que andasse com guarda-costas.
— Um dos meus clientes... conheces Cleve Joyner, da United Carborundum?
— Não o conheço, não.
— Esse já tem guarda-costas há seis ou sete anos. Vão com ele para todo o lado.
Na sala de estar, Pollard lançou uma olhadela rápida ao trajo janota de Killian, e o seu rosto contraiu-se, numa expressão de sofrimento. Pollard disse «Como está?», e Killian respondeu com um «Como vai isso?» Um ligeiro frémito percorreu as narinas de Pollard, tal como acontecera ao pai de Sherman ao ouvi-lo falar na firma Dershkin, Fishbein & Schlossel.
Sherman e Pollard instalaram-se num dos conjuntos de móveis que Judy concebera para encher a enorme sala. Killian foi até à biblioteca conversar com Guliaggi.
— Olha, Sherman — disse Pollard —já entrei em contacto com todos os membros da assembleia, excepto Jack Morrissey, e quero que saibas que tens todo o nosso apoio, e que faremos por ti tudo o que estiver ao nosso alcance. Imagino como isto deve ser uma situação terrível para ti, para a Judy e para a Campbell. — Abanou a sua cabeça lisa e redonda.
— Muito obrigado, Pollard. Não tem sido muito agradável, não.
— Ora bem, eu falei pessoalmente com um inspector da Décima Nona Esquadra, e ele disse-me que vão destacar alguns homens para guardarem a porta da rua, de modo a podermos entrar e sair sem problemas, mas também me disse que não podem afastar os manifestantes para longe do prédio. Julguei que os podiam obrigar a respeitar uma distância de quinhentos pés, mas ele afirma que é impossível. Eu acho que é um escândalo, muito francamente. Aquela súcia de...
— Sherman via bem que Pollard dava voltas e mais voltas à sua cabeça lisa e redonda em busca de um epíteto racial que não fosse demasiado grosseiro. Depois desistiu do esforço:
— ... aqueles desordeiros. — Abanou a cabeça com mais veemência ainda.
"— É um autêntico futebol político, Pollard. Eu sou um futebol político. É isso que tens neste momento a viver por cima da tua cabeça. — Sherman esboçou um sorriso. Contra todos os seus melhores instintos, queria que Pollard gostase dele e o compreendesse. — Espero que tenhas lido o Daily News de hoje, Pollard.
— Não, eu quase nunca leio o Daily News. Li foi o Times.
— Bom, se tiveres oportunidade lê o artigo do Daily News. É o primeiro que dá uma ideia aproximativa do que se está a passar.
Pollard abanou a cabeça com um ar ainda mais desgostoso. — A imprensa não é melhor do que os manifestantes, Sherman. Os jornalistas são de uma grosseria insuportável. Montam emboscadas às pessoas. Montam emboscadas a toda a gente que entra no prédio. Ainda agora tive que aturar uma dúzia deles antes de entrar na minha própria casa! E depois caíram todos em cima do meu motorista! São insolentes! São uns vadios reles, é o que é. — Vadios! — E a Polícia não faz nada, claro. Como se essa gente tivesse o direito de nos perseguir, só por nós termos meios para viver num prédio assim.
— Não sei o que dizer. Lamento muito, Pollard.
— Bom, infelizmente... — Resolveu não terminar a frase. — Nunca houve nada semelhante na Park Avenue, Sherman. Quer dizer, nunca tinha havido uma manifestação dirigida contra a Park Avenue enquanto bairro residencial. É intolerável. É como se, por isto ser a Park Avenue, nos fosse negada a inviolabilidade dos nossos lares. E é o nosso prédio que está no centro de tudo.
Sherman sentiu acender-se um alarme algures no seu cérebro, anunciando o que estava para vir, mas não tinhaainda a certeza. Começou a abanar a cabeça ao mesmo ritmo que Pollard, para mostrar que estava com ele, de alma e coração.
Pollard disse: — Ao que parece, eles tencionam vir aqui todos os dias, ou ficar também durante a noite, não sei, até que... até acontecer não sei bem o quê. — Abanava tanto a cabeça que quase parecia querer soltá-la do pescoço.
Sherman acelerou o ritmo do seu próprio abanar de cabeça. — Quem é que te disse isso?
— O Eddie.
— Eddie, o porteiro?
— Sim. E também Tony, que estava de serviço até o Eddie entrar às quatro. E ele disse ao Eddie a mesma coisa.
— Não acredito que eles vão fazer uma coisa dessas, Pollard.
— Até hoje, também não acreditavas se te dissessem que uma súcia de... que essa gente vinha fazer uma manifestação diante do nosso prédio da Park Avenue, pois não? E apesar disso, eles estão aí.
— É verdade.
— Sherman, nós já somos amigos há muito tempo. Andámos juntos no Buckley. Foi uma era de inocência, não foi? — Teve um sorrisinho fugaz. — O meu pai conhecia o teu. Por isso falo contigo como um velho amigo que quer fazer por ti tudo o que for possível. Mas acontece que também sou presidente da assembleia de todos os condóminos do prédio, e tenho para com eles uma responsabilidade que não pode deixar de passar à frente das minhas preferências pessoais.
Sherman sentia o rosto cada vez mais quente. — O que é que queres dizer com isso, Pollard?
— Bom, só o seguinte. Não posso imaginar que isto seja uma situação minimamente confortável para ti, que estás praticamente preso aqui no prédio. Por acaso já pensaste... em mudar de casa? Até as coisas acalmarem um pouco?
— Já pensei, sim. A Judy, a Campbell, a governanta e a ama estão agora em casa dos meus pais. Francamente, estou cheio de medo que esses filhos da mãe que estão aí fora saibam disso e vão até lá fazer alguma coisa, porque uma moradia não oferece protecção de espécie nenhuma. Já pensei em ir para Long Island, mas tu conheces a casa. É toda aberta. Portas envidraçadas por todo o lado. Aquilo não resguarda uma pessoa de coisa nenhuma. Também já pensei num hotel, mas num hotel é que não tenho a menor segurança. Pensei em ir para Leash, mas também é uma moradia.
Pollard, eu estou a receber ameaças de morte. Ameaças de morte. Só hoje, já devem ter sido uns doze telefonemas.
Os olhinhos de Pollard percorreram apressadamente a sala, como se Eles pudessem a todo o momento entrar pelas janelas. — Bom, francamente... mais um motivo, Sherman.
— Motivo para quê?
— Bom, para encarares a ideia... de tomar algumas disposições. Sabes, é que não és só tu que corres perigo, Sherman. Eu compreendo que a culpa não é tua, pelo menos directamente, mas isso não altera em nada os factos.
Sherman sabia que tinha o rosto vermelho de cólera. — Os factos! Os factos são que a minha vida está a ser ameaçada, e que este é o lugar mais seguro para eu estar, e por acaso também é a minha casa, se é que te posso lembrar esse facto.
— Bom, permite-me tu que eu te lembre — e, uma vez mais, só o faço porque estou incumbido de uma responsabilidade mais alta — permite-me que eu te recorde que tens aqui uma casa porque és coproprietário de um condomínio. Por algum motivo chamamos a isto um condomínio, e há certas obrigações, tanto da tua parte como da parte da assembleia, que decorrem do contrato que assinaste no acto de compra do teu apartamento. Esses são factos que não está em meu poder alterar.
— Eu estou no momento mais crítico de toda a minha vida — e tu vens para aqui falar-me de contratos?
— Sherman... — Pollard baixou os olhos e ergueu as mãos para exprimir a sua imensa tristeza. — Eu não posso pensar só em ti e na tua família! Tenho de pensar nas outras treze famílias que vivem neste prédio. E nós não te estamos a pedir que faças nada de definitivo.
Nós! Nós, o Júri — dentro das paredes de sua casa!
— Bom, então porque é que não te mudas tu, Pollard, se estás tão acagaçado? Porque é que não te mudas tu e mais o resto da direcção? Tenho a certeza que o vosso belo exemplo inspiraria os outros, que também se mudariam, e ninguém correria perigo no vosso querido prédio além dos malditos McCoys, que estiveram na origem de todos os problemas, não é?
Guliaggi e Killian espreitavam pela porta da biblioteca, e McCarthy olhava-os do seu lugar na entrada. Mas Sherman não se conseguia conter.
— Sherman...
— Mudar-me? Farás alguma ideia do imbecil ridículo e pomposo que és? Vens aqui, morto de medo, dizes-me que aassembleia, na sua infinita sabedoria, acha conveniente que eu me mude?
— Sherman, eu sei que tu estás nervoso...
— Mudar-me? Quem se vai mudar aqui és tu! Vais sair deste apartamento — e já! E vais sair por onde entraste — pela porta da cozinha! — Apontou um braço e um indicador estendidos na direcção da cozinha.
— Sherman, eu vim aqui de perfeita boa-fé.
— Ohhhhh, Pollard... Já no colégio eras um idiota gordo e ridículo e continuas a ser um idiota gordo e ridículo. Já tenho bastante em que pensar sem tu me vires com a tua boa-fé. Adeus, Pollard. — Agarrou-o pelo cotovelo e tentou encaminhá-lo para a cozinha.
— Tira as mãos de cima de mim!
Sherman largou-o. A espumar de raiva: — Então sai.
— Sherman, tu não nos deixas outra alternativa a não ser invocar a cláusula sobre Situações Inaceitáveis.
O braço estendido apontou para a cozinha e Sherman disse brandamente: — Toca a andar, Pollard. Se te ouço dizer mais alguma coisa daqui até à escada de incêndios, podes ter a certeza que vai haver uma situação realmente inaceitável.
A cara de Pollard pareceu inchar apopleticamente. Depois ele virou costas e atravessou muito depressa a entrada e a cozinha. Sherman seguiu-o, fazendo o máximo de barulho de que foi capaz.
Quando Pollard chegou ao santuário da escada de incêndios virou-se e disse, furioso: — Não te esqueças, Sherman. Tu é que quiseste assim.
— «Eu é que quis assim». Sim senhor. Devo dizer que tens o dom da palavra, Pollard. — E bateu com a velha porta metálica da cozinha.
Quase logo a seguir arrependeu-se do que fizera. Ao regressar à sala, o seu coração batia violentamente. Todo ele tremia. Os três homens, Killian, Guliaggi e McCarthy, andavam pela casa com uma displicência fingida, como se não tivessem ouvido nada.
Sherman obrigou-se a sorrir, apenas para mostrar que estava tudo bem.
— Um amigo seu? — disse Killian.
— Sim, um velho amigo. Andei com ele no colégio. Quer-me pôr fora do prédio.
— Não tem sorte nenhuma — disse Killian. — Podemos atá-lo de pés e mãos durante uns dez anos, pelo menos.
— Sabe, tenho uma confissão a fazer-lhe — disse Sherman. Obrigou-se uma vez mais a sorrir. — Até aquele filho da mãe vir cá a casa, eu estava a pensar dar um tiro nos miolos. Agora não o faria por nada deste mundo. Assim resolvia-lhe os problemas todos, e ainda lhe dava assunto de conversa para as festas e os jantares durante um mês, e uma oportunidade óptima para pôr o seu ar de santinho. Havia de contar a toda a gente que fomos criados juntos, sempre a abanar a cabeça redonda de melão. Acho que vou mas é convidar esses sacanas — e fez um gesto na direcção da rua — para virem cá a casa dançar a mazurka por cima da cabeçorra de melão daquele imbecil.
— Eiii! — disse Killian. — Assim já gosto mais. Agora é que você se está a tornar um irlandês de gema! Os Irlandeses vivem há mil e duzentos anos de sonhos de vingança. Isso é que é falar, amigo.
Mais um rugido vindo lá de baixo, da Park Avenue, no calor de Junho... McCOY!... McCOY!... McCoy!.
26 - Morte ao Estilo de Nova Iorque
Foi o Rato Morto em pessoa, Sir Gerald Steiner, quem teve a brilhante ideia. Steiner, Brian Highridge e Fallow estavam reunidos no gabinete de Steiner. Só o facto de ali estar, a respirar o mesmo oxigénio que o eminente Rato, dava a Fallow uma sensação de reconforto. Graças aos seus sucessos no caso McCoy, as salas do piso superior e os círculos mais fechados do City Light tinham-lhe sido franqueados. O gabinete de Steiner era uma grande sala de canto com vista sobre o rio Hudson. Tinha uma grande secretária de madeira, uma mesa de trabalho ao estilo das missões, seis cadeiras de braços, e essa prova indispensável de uma posição importante na empresa, que era um sofá. Em tudo o mais evocava o cenário Jornalista Afadigado. Steiner tinha a secretária e a mesa de trabalho cobertas de montes promíscuos de jornais, obras de referência e provas tipográficas. Um terminal de computador e uma máquina de escrever manual estavam instalados sobre mesinhas metálicas de armar perto da sua cadeira giratória. Um telex Reuter tagarelava ininterruptamente a um canto. Noutro canto via-se um rádio da Polícia. Estava agora mudo, mas Steiner deixara-o a funcionar continuamente durante um ano até que os guinchos e o ruído das interferências acabaram por o cansar. As janelas de vidros fumados, que proporcionavam uma vista panorâmica do rio e da costa pardacenta deHoboken, não tinham cortinas, mas apenas persianas. As persianas davam ao cenário um aspecto de Indústria Ligeira e Jornalismo Afadigado.
O objectivo daquela reunião cimeira era decidir como utilizar a última informação escaldante obtida por Fallow: ou seja, que era Maria Ruskin a mulher misteriosa, a morena sexy que passara para o volante do Mercedes desportivo de McCoy depois de ele ter atropelado Lamb. Quatro repórteres — incluindo, para grande satisfação de Fallow, Robert Goldman — tinham sido incumbidos de fazer o trabalho de sapa em torno da história. Trabalho de sapa por conta dele; eram como criados seus. Até agora só tinham conseguido apurar que Maria Ruskin estava no estrangeiro, provavelmente em Itália. Quanto ao jovem artista, Filippo Chirazzi, continuavam sem ter a menor ideia do seu paradeiro.
Steiner estava sentado à secretária em mangas de camisa, com o nó da gravata puxado para baixo e os suspensórios de feltro vermelho-vivo a sobressair sobre o fundo da camisa às riscas, quando lhe ocorreu a brilhante ideia. A secção de economia e finanças do City Light estava nesse momento a publicar uma série de reportagens sobre «Os Novos Magnates». O plano de Steiner consistia em abordar Ruskin a pretexto dessa série. Não seria, aliás, inteiramente despropositado, pois Ruskin era, na verdade, um representante típico dos «novos magnates» da Nova Iorque dos últimos anos, detentores de uma riqueza imensa, recente e inexplicável. O entrevistador do novo magnate seria Fallow. Se conseguisse captar a confiança do velhote, a partir daí seguiria a sua inspiração. No mínimo dos mínimos, poderia descobrir onde estava Maria Ruskin.
— Mas acha que ele vai aceitar, Jerry? — perguntou Brian Highridge.
— Oh, eu conheço estes tipos — disse Steiner —, e os velhos são os piores. Fizeram os seus cinquenta ou cem milhões... aquilo a que os texanos chamam uma «unidade». Sabiam disso? Chamam a cem milhões de dólares «uma unidade». Acho isto uma delícia. Uma unidade, evidentemente, é apenas um ponto de partida. Bom, mas seja como for, o fulano enche-se de dinheiro até mais não, e depois vai a um jantar, fica sentado ao lado de uma miúda gira, que lhe desperta os velhos instintos adormecidos... só que ela não faz a mínima ideia de quem ele é. Cem milhões de dólares! - e ela nunca ouviu o nome dele nem está interessada em ouvi-lo quando ele começa a explicar quem é. O que é que o tipo há-de fazer? Apesar de tudo, não pode andar por aí com umletreiro pendurado ao pescoço a dizer GIGANTE DA FINANÇA. E é neste ponto que eles começam a perder alguns dos seus supostos escrúpulos em relação à publicidade, podem crer.
Fallow acreditou. Não era por acaso que Steiner tinha fundado o City Light e o sustentava à custa de uma perda de cerca de dez milhões de dólares por ano. Com isso, deixara de ser simplesmente mais um barão da finança. Era o temível flibusteiro do temível City Light.
Veio depois a comprovar-se que o Rato era efectivamente um bom psicólogo dos novos ricos ainda mergulhados no anonimato. Dois telefonemas de Brian Highridge, e ficou tudo combinado. Ruskin disse que geralmente evitava toda a espécie de publicidade, mas que neste caso abriria uma excepção. Disse a Highridge que teria muito gosto em que o jornalista — como é que ele se chamava? Mr. Fallow? — fosse seu convidado para jantar no La Boue dArgent.
Quando Fallow e Arthur Ruskin chegaram ao restaurante, Fallow empurrou a porta giratória de latão para deixar passar o velho Ruskin. Este baixou ligeiramente o queixo, depois baixou os olhos, e o mais profundamente sincero dos sorrisos invadiu-lhe o rosto. Por um instante Fallow ficou estupefacto por aquele homem ríspido e entroncado de setenta e um anos se mostrar tão grato perante um gesto da mais inócua boa educação. Mas no instante seguinte percebeu que o sorriso nada tinha a ver com ele e com a sua cortesia. Ruskin estava simplesmente a captar as primeiras radiações ambrosíacas das reverências que o esperavam uma vez transposto o limiar.
Assim que Ruskin entrou no vestíbulo e os reflexos da famosa escultura do restaurante, o Javali Prateado, incidiram sobre ele, a bajulação começou a valer. O maitre d Raphael, veio a correr da sua secretária, abandonando os registos que estava a fazer no diário. Surgiram não um mas dois chefes de mesa. Vieram com sorrisos radiosos, fizeram vénias, encheram o ar de Monsieur Ruskins. O grande barão da finança baixou ainda mais o queixo até formar uma papada onde o queixo propriamente dito parecia flutuar, foi respondendo aos cumprimentos com grunhidos ininteligíveis e o seu sorriso foi-se alargando cada vez mais, embora, curiosamente, deixasse também transparecer uma crescente desconfiança. Era o sorriso de um rapaz que fica ao mesmo tempo humilhado e maravilhosamente eufórico ao aperceber-se de que se encontra numa sala cheia de pessoasfelizes, anormalmente felizes, quase se poderia dizer, por ele estar ali, bem vivo e na sua companhia.
A Fallow, Raphael e os dois chefes de mesa dirigiram breves Muito boas noites para logo voltarem a cumular o cintilante Ruskin das pequenas atenções que eram apanágio do seu ofício. Fallow reparou na presença de duas figuras estranhas no vestíbulo, dois homens de trinta e tal anos, envergando fatos escuros que pareciam ter por única função ocultar o melhor possível a robustez proletária dos seus corpos. Um deles parecia americano, o outro asiático. Este último era tão corpulento e tinha uma cabeça tão grande, com uma cara larga, achatada e ameaçadora, que Fallow perguntou a si próprio se não seria samoano. Ruskin também reparou nele, e Raphael disse, com um sorriso presumido: — Serviço secreto. Dois serviços secretos, o americano e o indonésio. Madame Tacaya janta cá hoje. — Depois de transmitir esta notícia, tornou a sorrir.
Ruskin voltou-se para Fallow e fez uma careta, sem sorrir, receando talvez não poder competir com a mulher do ditador indonésio nas atenções e homenagens do restaurante. O grande asiático observou-os a ambos. Fallow notou que ele tinha um fio a sair do ouvido.
Raphael tornou a sorrir para Ruskin, apontando para a sala de jantar, e pôs-se em marcha uma procissão, encabeçada pelo próprio Raphael, seguido por Ruskin e Fallow, com um chefe de mesa e um empregado atrás. Viraram à direita junto à silhueta iluminada por projectores do Javali Prateado e entraram na sala de jantar. Ruskin estava todo sorridente. Adorava estas coisas. Só o facto de manter os olhos baixos é que o impedia de parecer um perfeito idiota.
À noite a sala de jantar estava bem iluminada e parecia muito mais espalhafatosa do que à hora de almoço. Os clientes da hora do jantar só raramente tinham o mesmo cachei social que os da hora do almoço, mas mesmo assim o restaurante estava cheio e vibrante do ruído das conversas. Fallow via grupinhos e mais grupinhos de homens calvos e mulheres de cabelo cor de ananás.
A procissão deteve-se junto a uma mesa redonda muito maior do que qualquer das outras mas até agora desocupada. Um chefe de mesa, dois empregados e dois ajudantes andavam de um lado para o outro, dispondo copos e talheres diante de cada lugar. Era, evidentemente, a mesa de Madame Tacaya. Mesmo em frente havia um banco corrido debaixo das janelas da fachada. Fallow e Ruskin ficaram sentados lado a lado no banco. Desse lugar viam toda a parte da frentedo restaurante, que era o que ambicionava todo o verdadeiro aspirante a frequentador do La Boue dArgent.
Ruskin disse: — Sabe porque é que eu gosto deste restaurante?
— Porque é? — perguntou Fallow.
— Porque tem a melhor comida de Nova Iorque e o melhor serviço. — Ruskin virou-se para Fallow e olhou-o bem de frente. Fallow não conseguiu pensar numa resposta adequada a semelhante revelação.
— Oh, as pessoas falam muito dessas tretas mundanas — disse Ruskin — e é claro que vem cá muita gente conhecida. Mas porquê? Porque tem excelente comida e um excelente serviço. — Encolheu os ombros. (Não há mistério nenhum nisto.)
Raphael tornou a aparecer e perguntou a Ruskin se queria um aperitivo.
— Oh, meu Deus — disse Ruskin, sorrindo. — Eu não devia, mas apetece-me tomar uma bebida. Têm Courvoisier V.S.O.P.?
— Temos, sim.
— Então traga-me um balão de V.S.O.P.
Fallow pediu um copo de vinho branco. Nessa noite tencionava ficar sóbrio. Logo a seguir apareceu um empregado com o copo de vinho e o balão de Ruskin. Ruskin ergueu o copo.
— À Fortuna — disse. — Ainda bem que a minha mulher aqui não está.
— Porquê? — perguntou Fallow, todo ouvidos.
— Porque eu estou proibido de beber, especialmente bombas como esta. — Ergueu o copo à contra-luz. — Mas hoje apetece-me uma bebida. Foi o Willi Nordhoff quem me ensinou isto dos balões. Passava a vida a pedir balões no velho King Cole Bar do St. Regis. Pedia sempre um balão «mit Fê Esse Oh Pê». Por acaso não conhece o Willi, não?
— Não, não me parece — disse Fallow.
— Mas sabe quem ele é.
— Claro — disse Fallow, que nunca ouvira aquele nome na sua vida.
— Caramba — disse Ruskin. — Nunca pensei vir a ser tão amigo de um Kraut, mas adoro aquele tipo.
Esta ideia lançou Ruskin num longo solilóquio acerca das muitas estradas da sua carreira e das muitas encruzilhadas dessas estradas e do país maravilhoso que era a América, e de como ninguém teria dado sequer uma hipótese em mil a um judeuzinho do Cleveland, Ohio, de chegar aonde eletinha chegado. Começou a pintar para Fallow o panorama que avistava do alto da sua montanha, aproveitando para pedir um segundo balão. Pintava com pinceladas vigorosas mas vagas. Fallow alegrou-se por estar sentado ao lado dele e não à sua frente. Assim seria difícil a Ruskin ler o enfado que certamente se espelhava no seu rosto. De vez em quando arriscava uma pergunta. Tentou pescar algumas informações acerca dos lugares onde Maria Ruskin costumava ir quando visitava a Itália, como agora, mas nesse campo as respostas de Ruskin foram igualmente vagas. Mostrou-se ansioso por voltar à história da sua vida.
Chegou o primeiro prato. Fallow pedira um patê de legumes. O patê era um pequeno semicírculo rosado com hastes de ruibarbo dispostas a toda a volta como raios. O semicírculo vinha no quadrante superior esquerdo de um grande prato. O prato parecia pintado com um estranho motivo Art Nouveau, um galeão espanhol num mar avermelhado a navegar em direcção... ao poente... mas o sol poente era, na realidade, o patê, com os seus raios de ruibarbo, e o navio espanhol não era de esmalte mas sim de molhos de várias cores. Era uma pintura com molho. O prato de Ruskin continha uma base de tirinhas de massa verde cuidadosamente entrelaçadas, formando uma espécie de cesto, encimada por um enxame de borboletas feitas de pares de fatias de cogumelos, para as asas, e de pimentos, rodelas de cebola, chalotas e alcaparras, para os corpos, olhos e antenas. Ruskin não prestou a menor atenção à composição exótica que tinha à sua frente. Tinha pedido uma garrafa de vinho e mostrava-se cada vez mais expansivo no tocante aos altos e baixos da sua carreira. Baixos, sim; oh, tivera que suportar muitas desilusões. Mas o que importava era ser-se decidido. Os homens decididos tomavam boas decisões não por serem mais espertos que as outras pessoas, ou pelo menos não necessariamente, mas sim porque tomavam mais decisões, e pela lei dos grandes números algumas delas haviam de ser boas. Seria que Fallow estava a perceber? Fallow fez sinal que sim. Ruskin fez uma pequena pausa apenas para observar com o ar soturno a agitação de Raphael e dos seus subordinados em torno da grande mesa redonda em frente. Madame Tacaya vem aí. Ruskin parecia sentir-se relegado para os bastidores.
— Agora querem todos vir para Nova Iorque — disse ele sombriamente, sem explicar de quem é que estava a falar, embora fosse bastante óbvio de quem se tratava. — Esta cidade é hoje o que Paris era dantes. Por muito importantesque sejam nos países deles, parece que ficam doentes com a ideia de que em Nova Iorque as pessoas se possam estar nas tintas para eles e para quem eles são. Sabe o que é que esta é, não sabe? É uma imperatriz, e o Tacaya é o imperador. Intitula-se presidente, mas é o que todos eles fazem. Prestam todos a sua homenagem à democracia. Já reparou? Se o Gengis Khan ainda andasse por aí, era com certeza o presidente Gengis, um presidente vitalício, como o Duvalier. Oh, é um mundo do caraças. Deve haver uns dez ou vinte milhões de desgraçados que se rojam pelo chão de cada vez que a imperatriz levanta um dedo, mas ela passa noites em claro a pensar que os clientes do restaurante La Boue DArgent de Nova Iorque se calhar não fazem ideia de quem ela é.
O homem dos serviços secretos de Madame Tacaya enfiou a sua grande cabeça asiática na abertura da porta da sala de jantar e observou os presentes. Ruskin fulminou-o com o olhar.
— Mas pelo menos em Paris — continuou — não vinham de tão longe, lá do maldito Pacífico Sul. Já alguma vez esteve no Médio Oriente?
— Mmmmmmm-n-n-n-não — disse Fallow, que durante meio segundo chegou a pensar em fingir que sim.
— Devia lá ir. Não se percebe o que se passa no mundo enquanto não se foi a esses sítios. Jidda, Koweit, Dubai... Sabe o que é que eles querem lá fazer? Querem construir arranha-céus, para serem como Nova Iorque. Os arquitectos bem lhes dizem que é uma loucura. Com uma torre de vidro num clima daqueles, têm de ter o ar condicionado a funcionar vinte e quatro horas por dia. Custa-lhes uma fortuna. Mas eles encolhem os ombros. Que importância tem isso? Estão sentados em cima de todo o petróleo do mundo!
Ruskin soltou uma gargalhada. — Eu explico-lhe o que é que quis dizer quando falei em tomar decisões. Lembra-se da crise energética do início dos anos 70? Era assim que lhe chamavam, a crise energética. Foi a melhor coisa que alguma vez me aconteceu. De um momento para o outro, toda a gente desatou a falar do Médio Oriente e dos árabes. Uma noite, estava eu a jantar com o Willi Nordhoff, e ele pôs-se a falar da religião muçulmana, do Islão, e de como todo o bom muçulmano quer ir pelo menos uma vez a Meca antes de morrer. «Foda-se, não há nenhum muçulmano que não queirra lá irr!» Ele estava sempre a dizer palavrões, porque achava que assim o inglês parecia mais fluente. Ora bem, quando ele disse aquilo, acendeu-se uma luzinha no meu cérebro. Assim, de repente. Eu tinha quase sessenta anos, eestava completamente nas lonas. O mercado de títulos andava pelas ruas da amargura, e eu há vinte anos que não fazia outra coisa senão comprar e vender acções. Eu tinha um apartamento na Park Avenue, uma casa em Eaton Square, em Londres, e uma quinta em Amenia, Nova Iorque, mas estava nas lonas, estava desesperado, e foi então que se acendeu essa luzinha na minha cabeça.
Por isso disse ao Willi: «Willi, quantos muçulmanos é que há no mundo?» E ele disse: «Não sei. Milhões, dezenas de milhão, centenas de milhão». E eu tomei a minha decisão nesse mesmo instante. «Vou-me meter no negócio das viagens aéreas. Foda-se, hei-de levar a Meca todos os muçulmanos que quiserem lá ir». Então vendi a casa de Londres e a quinta, para arranjar algum dinheiro líquido, e aluguei os meus primeiros aviões, três Electras muito velhos. A estúpida da minha mulher — estou a falar da minha primeira mulher — nessa altura só se preocupou com uma coisa: para onde é que havíamos de ir no Verão, se já não podíamos ir para Amenia nem para Londres. Foi o único comentário que lhe veio à cabeça quando eu lhe expliquei a situação, caramba!
Ruskin foi ficando cada vez mais animado à medida que contava a sua história. Pediu vinho tinto, um vinho pesado que ateou um fogo delicioso no estômago de Fallow. Fallow pediu um prato chamado «vitela Boogie Woogie», que era formado por rectângulos de vitela, quadradinhos de maçã vermelha e linhas de puré de avelãs, dispostos de forma a evocar o quadro de Piet Mondrian Broadway Boogie Woogie. Ruskin pediu médaillons deselle dagneau Mikado, que eram ovais perfeitas e rosadas de perna de borrego com minúsculas folhinhas de espinafre e hastes de aipo guisado dispostos de modo a formar um leque japonês. Ruskin conseguiu emborcar dois copos daquele forte vinho tinto com uma rapidez surpreendente, tendo em conta o facto de que falava sem interrupção.
Aparentemente, Ruskin participara em muitos dos primeiros voos como membro da equipagem. Agentes de viagem árabes tinham percorrido as aldeias mais remotas, convencendo os habitantes a desfazerem-se dos seus magros pertences para conseguirem pagar o preço de um bilhete de avião que lhes permitiria realizar a mágica peregrinação a Meca nalgumas horas em vez de trinta ou quarenta dias. Muitos deles nunca tinham visto um avião. Chegavam aos aeroportos com cordeiros, ovelhas, cabras e galinhas vivas. Nenhuma força deste mundo seria capaz de os obrigar asepararem-se dos seus animais antes de embarcarem no avião. Eles sabiam que os voos não eram demorados, mas como é que haviam de arranjar comida uma vez chegados a Meca? Por isso o gado e a criação entravam na cabina com os seus proprietários, cacarejando, balindo, urinando e defecando por toda a parte. O interior dos aviões foi forrado com grandes plásticos que cobriam o chão e os assentos. E assim homens e animais viajavam lado a lado rumo a Meca, nómadas voadores num deserto de plástico. Alguns passageiros começavam imediatamente a dispor lenha e pauzinhos no corredor central para acenderem fogueiras onde cozinhariam o jantar. Uma das tarefas mais urgentes da equipagem era precisamente desencorajar esta prática.
— Mas o que eu lhe quero contar é o que aconteceu de uma vez que saímos da pista do aeroporto em Meca — disse Ruskin. — Era de noite e preparámo-nos para aterrar, mas o piloto calculou mal a distância e o maldito avião saiu da pista; entrámos pela areia dentro com um solavanco do caraças, a asa direita enterrou-se na areia e o avião girou quase 360 graus antes de parar de vez. Jesus, nós pensámos que aqueles árabes todos iam entrar em pânico, eles e mais as cabras, os carneiros e as galinhas. Julgámos que ia ser um salve-se quem puder. Mas não, continuaram todos a falar num tom normal, a espreitar pela janela para ver o fogo que se tinha acendido na ponta da asa. Quer dizer, quem estava em pânico éramos nós. Então eles lá se começaram a levantar, sem pressa nenhuma, a apanhar as malas, os sacos, os animais e o diabo a sete, esperando, com toda a calma, que a gente abrisse as portas. Eles na mesma, como se nada tivesse acontecido — e nós mortos de medo! Então é que percebemos. Eles pensavam que aquilo era normal. Sim! Pensavam que era assim que se fazia parar um avião! Enfia-se uma asa na areia, dá-se uma pirueta e a coisa pára, e depois as pessoas saem. Quer dizer, eles nunca tinham andado de avião, como é que haviam de saber alguma coisa acerca de aterragens? Acharam que era normal! Acharam que era assim mesmo!
Ao lembrar-se da cena, Ruskin soltou uma série de gargalhadas roucas, vindas do fundo da garganta, mas depois o riso transformou-se num acesso de tosse e a cara de Ruskin ficou muito vermelha. Afastou-se da mesa, empurrando-a com as mãos, até ficar todo comprimido contra a banqueta, e disse: «Annnh! Hmmmmm! Hmmmmmm, hmmmmm, hmmmmm», como se reflectisse, muito divertido, sobre a cena que acabava de descrever. A cabeçadescaiu-lhe para a frente, como se tivesse mergulhado numa profunda meditação acerca do caso. Depois descaiu para o lado, saiu-lhe da boca uma espécie de ronco, e ficou com o ombro encostado ao de Fallow. Por um instante, Fallow pensou que o velho tinha adormecido. Fallow virou-se, para olhar o rosto de Ruskin, e ao fazê-lo o corpo de Ruskin caiu para cima dele. Sobressaltado, Fallow virou-se ainda mais na cadeira e a cabeça de Ruskin foi-lhe parar ao colo. A cara do velho já não estava vermelha. Estava agora horrivelmente cinzenta. A boca estava ligeiramente entreaberta. O ar saía-lhe dos lábios em pequenos sopros rápidos. Sem pensar no que fazia, Fallow tentou tornar a sentá-lo na banqueta. Era como tentar pegar numa saca de adubo. Enquanto puxava e se debatia, Fallow viu os dois homens e as duas mulheres da mesa seguinte, também junto à banqueta, a olharem-no fixamente com a curiosidade cheia de desprezo de quem está a assistir a um espectáculo de mau gosto. Ninguém mexeu um dedo, evidentemente. Fallow tinha agora Ruskin de novo direito na banqueta e percorria a sala com os olhos, em busca de alguém a quem pudesse pedir ajuda. Raphael, um chefe de mesa, dois empregados e um ajudante afadigavam-se em torno da grande mesa redonda preparada para Madame Tacaya e seus convivas.
Fallow chamou: — Se faz favor! — Ninguém o ouviu. Soava terrivelmente idiota, o seu «se faz favor» de entoação britânica, naquela situação em que ele queria era gritar: «Socorro!» Por isso fez «Psssst!» o mais agressivamente que conseguiu. Um dos chefes de mesa que estava junto da mesa de Madame Tacaya ergueu os olhos e franziu o sobrolho, e depois aproximou-se.
Com um dos braços, Fallow mantinha Ruskin direito no assento. Com a outra, apontou-lhe para a cara. A boca de Ruskin estava meia aberta, e os seus olhos meio fechados.
— Mr. Ruskin sofreu uma espécie de... não sei de quê! — disse Fallow ao chefe de mesa.
O chefe de mesa olhou para Ruskin como olharia para um pombo que inexplicavelmente tivesse entrado no restaurante e ocupado o melhor lugar da casa. Fez meia volta para ir chamar Raphael, e Raphael veio também olhar para Ruskin.
— O que é que aconteceu? — perguntou ele a Fallow.
— Ele teve um ataque, ou coisa no género! — disse Fallow. — Há aqui na sala algum médico?
Raphael percorreu a sala com os olhos. Mas via-se bem que não estava à procura de ninguém em particular. Estava atentar imaginar o que aconteceria se ele pedisse silêncio e apelasse para que algum médico presente viesse prestar a sua assistência. Olhou para o relógio e praguejou em surdina.
— Por amor de Deus, chame um médico! — disse Fallow. — Chame a Polícia! — Gesticulou com ambas as mãos, e quando retirou a mão com que segurava Ruskin o velho caiu de cara no prato de selle dagneau Mikado. A mulher da mesa ao lado fez «Aaaauuuuuuh!» O grito soou quase como um uivo, e ela levou o guardanapo à cara. O espaço entre as duas mesas não devia medir mais de seis polegadas, e, sem que se percebesse muito bem como, o braço de Ruskin tinha ficado entalado entre elas.
Raphael chamou com voz ríspida o chefe de mesa e os dois empregados que se encontravam junto da mesa de Madame Tacaya. Os empregados começaram a afastar a mesa da banqueta. O peso de Ruskin, porém, assentava sobre a mesa, e o seu corpo começou a escorregar para a frente. Fallow agarrou-o pela cintura, tentando evitar que ele fosse parar ao chão. Mas o corpo maciço de Ruskin era um autêntico peso morto. A cara escorregou-lhe do prato. Fallow não conseguiu segurá-lo. O velho deslizou de cima da mesa e deu uma cabeçada no chão alcatifado. Agora estava deitado de lado no chão, com as pernas flectidas. Os criados puxaram a mesa um pouco mais, até bloquearem o corredor entre as mesas da banqueta e a mesa de Madame Tacaya. Raphael gritava com toda a gente ao mesmo tempo. Fallow sabia algum francês, mas não percebeu uma palavra do que Raphael dizia. Dois empregados trazendo bandejas cheias de comida ficaram parados a olhar para o chão e depois para Raphael. Era um engarrafamento. Assumindo o comando das operações, Raphael acocorou-se e tentou levantar Ruskin pelos ombros. Não conseguiu arredá-lo do sítio. Fallow levantou-se. O corpo de Ruskin impedia-o de sair de trás da mesa. Bastava olhar para Ruskin para se ver que ele estava arrumado. Tinha o rosto cor de cinza, sujo de molho francês, de espinafre e aipo. A carne à volta do seu nariz e da sua boca começava a ficar azulada. Os seus olhos arregalados pareciam dois pedaços de vidro branco. Aqui e ali, pessoas esticavam o pescoço para ver a cena, mas a sala continuava cheia do ruído das conversas. Raphael olhava constantemente para a porta.
— Por amor de Deus — disse Fallow — chame um médico!
Raphael lançou-lhe um olhar furioso e mandou-o calar com um aceno da mão. Fallow ficou estupefacto. A seguirficou irritado. Também não tinha vontade nenhuma de ficar com aquele velho moribundo nos braços, mas agora tinha sido insultado por aquele insolente maitre. Por isso sentia-se como um aliado de Ruskin. Ajoelhou no chão, afastando as pernas de Ruskin. Desapertou-lhe a gravata e abriu-lhe a camisa com um repelão, fazendo saltar o botão do colarinho. Desapertou-lhe a fivela do cinto e o fecho das calças e tentou soltar-lhe a camisa do corpo, mas esta estava toda enrolada à volta do tronco, aparentemente devido à maneira como ele tinha caído.
— O que é que ele tem? Está com falta de ar? Está? Deixe-me fazer-lhe a manobra Heimlich!
Fallow olhou para cima. Um homem alto e rubicundo, um americano grandalhão de raça Percheron, estava de pé ao seu lado. Devia ser outro cliente do restaurante.
— Acho que ele teve um ataque de coração — disse Fallow.
— É assim que eles ficam quando lhes falta o ar! — disse o homem. — Faça-lhe a manobra Heimlich, caramba!
Raphael estava de braços estendidos, tentando afastar o homem dali. O homem empurrou-o para o lado e ajoelhou ao lado de Ruskin.
— A manobra Heimlich, que diabo! — disse ele a Fallow. — A manobra Heimlich! — Aquilo parecia uma ordem de natureza militar. O homem enfiou as mãos debaixo dos braços de Ruskin e conseguiu sentá-lo, depois do que, colocando-se atrás de Ruskin, lhe envolveu o peito com os braços. Apertou o corpo de Ruskin, mas desequilibrou-se, e foi parar ao chão, juntamente com Ruskin. Dir-se-ia que estavam a lutar. O Manobra Heimlich pôs-se de pé, agarrado ao nariz, que sangrava, e afastou-se do local, a cambalear. O único resultado palpável dos seus esforços fora soltar a camisa e a camisola interior do corpo de Ruskin, de modo que boa parte do volumoso ventre do velho estava agora exposta aos olhares de todos.
Fallow preparava-se para se pôr de pé, quando sentiu uma forte pressão no seu ombro. Era a mulher da banqueta a tentar sair dali. Olhou para a cara dela. Era uma máscara de puro pânico. Empurrava Fallow como se tivesse de apanhar o último comboio para fugir de Barcelona. Acidentalmente, pisou o braço de Ruskin. Olhou para baixo. «Aaaauuuu!» Outro guincho. Ainda deu mais dois passos. Depois ergueu os olhos para o tecto. Começou lentamente a virar-se. Uma mancha em movimento passou diante dos olhos de Fallow. Era Raphael. Correu para a mesa de Madame Tacaya, agarrou uma cadeira, e enfiou-a debaixo da mulher no preciso instante em que ela desmaiou e caiu sem sentidos. Ficou sentada, em estado comatoso, com um braço pendurado por cima das costas da cadeira.
Fallow pôs-se de pé, passou por cima do corpo de Ruskin e ficou entre Ruskin e a mesa preparada para Madame Tacaya. O corpo de Ruskin estava atravessado no corredor entre as mesas, como uma enorme baleia branca que tivesse dado à costa. Raphael estava dois pés mais adiante, falando ao ouvido do guarda-costas asiático do fio no ouvido. Ambos olhavam constantemente para a porta. Fallow só os ouvia dizer Madame Tacaya, Madame Tacaya, Madame Tacaya.
O filho da mãe! — É capaz de me dizer o que é que vai fazer? — perguntou Fallow.
— Monsieur — respondeu Raphael, irritado — já chamámos a Polícia. A ambulância deve estar a chegar. Não posso fazer mais nada. E o senhor também não pode fazer mais nada.
Chamou com um gesto um empregado, que passou por cima do corpo, transportando uma enorme bandeja, e começou a servir à mesa alguns pés mais adiante. Fallow olhou para as caras nas mesas à volta. Todas contemplavam o horrível espectáculo, mas ninguém fazia o que quer que fosse. Um velho corpulento estava estendido no chão, em estado crítico. Talvez estivesse a morrer. Era evidente que todos os que tinham conseguido ver, ainda que só por instantes, a cara dele, sabiam disso. A princípio tinham sentido curiosidade. Será que ele vai morrer mesmo aqui à nossa frente? A princípio houvera a excitação que provoca toda a Desgraça Alheia. Mas o drama já se arrastava há tempo de mais. O ruído das conversas extinguira-se. O velho tinha um aspecto repulsivo, com as suas calças desapertadas e a sua grande barriga nua e proeminente. Convertera-se num problema de protocolo. Quando um velho está a morrer, estendido na alcatifa, mesmo ao lado da nossa mesa, qual é a atitude mais apropriada para se tomar? Oferecer os nossos serviços? Mas já se tinha formado um engarrafamento no corredor entre as filas de mesas. Sair dali para ele ficar mais desafogado e voltar mais tarde para acabar de jantar? Mas em que é que mais umas mesas vazias ajudariam o homem? Parar de comer até o drama chegar ao fim e o velho ser levado dali? Mas os pedidos já tinham sido feitos, os pratos começavam a chegar, e não havia sinais de se estar a fazer uma pausa no serviço — e um jantar ali custava 150 dólarespor pessoa, contando com o preço do vinho, além de que não era nada fácil conseguir uma mesa num restaurante daqueles. Desviar os olhos? Bom, talvez fosse essa a única solução. Por isso todos desviavam os olhos e regressavam aos seus pratos picturais... mas havia em tudo aquilo qualquer coisa de francamente deprimente, porque era difícil evitar olhar de dez em dez segundos para ver, que diabo!, se ainda não teriam tirado dali a carcaça inerte. Um homem moribundo! Ó mortalidade! E provavelmente era um ataque de coração, ainda por cima! Esse medo calava fundo no peito de praticamente todos os homens presentes na sala. As velhas artérias iam-se entupindo, micromilímetro a micromilímetro, dia após dia, mês após mês, devido à ingestão de todas aquelas carnes suculentas e molhos e pãezinhos moles e vinhos e soufflés e cafés... E era assim que tudo acabava? Quem nos diz que não estaremos também um dia estendidos no chão de um local público qualquer, com um círculo azulado à volta da boca e olhos semiabertos e cem por cento mortos? Era um espectáculo bem pouco atraente, convenha-se. Fazia uma pessoa sentir-se mal. Impedia toda a gente de saborear aqueles petiscos dispendiosos dispostos nos pratos em tão lindos desenhos. Por isso a curiosidade convertera-se em desconforto, que agora se convertia em ressentimento — sentimento que fora captado pelo pessoal do restaurante e amplificado até mais não.
Raphael pôs as mãos nas ancas e olhou para o velho com uma frustração vizinha da cólera. Fallow ficou com a impressão de que, tivesse Ruskin sequer pestanejado, o pequeno maitre se teria lançado numa dessas prelecções cheias da cortesia gélida com que os indivíduos bem educados dizem os seus insultos. O ruído das conversas começava a recrudescer. Os clientes conseguiam enfim esquecer-se do cadáver. Mas Raphael não. Madame Tacaya estava a chegar. Os empregados de mesa passavam agora tranquilamente por cima do corpo, como se fosse assim todos os dias, como se todos os dias houvesse um ou outro cadáver ali estendido, até o ritmo do salto ser assimilado pelo sistema nervoso central de todos eles. Mas como é que a Imperatriz da Indonésia podia passar por cima daquele corpo? Ou mesmo simplesmente sentar-se à mesa na sua presença? Porque é que a Polícia demorava tanto?
Malditos americanos e mais a sua horrível infantilidade, pensou Fallow. Nem um deles, além do ridículo Manobra Heimlich, mexera uma palha para ajudar aquele pobre filho da mãe. Por fim, lá chegaram um polícia e dois socorristas doserviço de emergências. O ruído das conversas esmoreceu uma vez mais, enquanto todos os presentes observavam os socorristas, um dos quais era negro e o outro latino-ameri-cano, e o seu equipamento, que consistia numa maca desdobrável e num balão de oxigénio. Aplicaram uma máscara de oxigénio à boca de Ruskin. Fallow percebeu, pela maneira como os socorristas falavam um com o outro, que Ruskin não estava a reagir. Desdobraram a maca, enfiaram-na debaixo do corpo de Ruskin e prenderam-no com correias. Quando chegaram com a maca à porta principal, surgiu um problema desagradável. Não havia maneira de fazer passar a maca pela porta giratória. Agora que a maca já não estava dobrada mas sim armada e com um corpo em cima, era comprida demais. Começaram a tentar rebater um dos batentes da porta, mas ninguém parecia saber como fazê-lo. Raphael só dizia: — Ponham-no de pé! Endireitem-no! Passem com a maca de pé! — Mas aparentemente isso constituía uma infracção grave ao procedimento aconselhado nestes casos, não se podia pôr assim na vertical o corpo de uma vítima de ataque cardíaco, e os socorristas não queriam correr riscos. Por isso ficou toda a gente parada no vestíbulo, diante da estátua do Javali Prateado, a discutir.
Raphael ergueu as mãos e começou a bater com os pés no chão. — Julgam que eu vou permitir que este... — apontou para o corpo de Ruskin, calou-se por instantes, mas desistiu de encontrar o substantivo apropriado para completar a frase — ... fique aqui no restaurante, à frente de tout le monde? Por amor de Deus! Vejam se percebem! Isto é a porta principal! Isto é um restaurante! As pessoas entram por aqui! Madame Tacaya deve estar a chegar a qualquer momento!
O polícia disse: — O.K., tenha calma. Há mais alguma saída?
Grande discussão. Um empregado referiu a casa de banho das senhoras, cuja janela dava para a rua. O polícia e Raphael tornaram a entrar na sala de jantar, para estudarem essa possibilidade. Voltaram logo a seguir, e o polícia disse: — O.K., acho que pode ser. — Então Raphael, o seu chefe de mesa, o polícia, os maqueiros, um empregado de mesa, Fallow e a carcaça inerte de Arthur Ruskin entraram de novo na sala de jantar. Enfiaram pelo mesmo corredor, entre as mesas da banqueta e a de Madame Tacaya, por onde Ruskin marchara, triunfante, menos de uma hora antes. Desta vez também era ele o centro do cortejo, embora estivesse já frio e insensível. O ruído das conversas morreu de repente. Osclientes não queriam crer nos seus olhos. O rosto convulso de Ruskin e a sua barriga branca desfilavam agora diante das suas mesas... os lúgubres despojos dos prazeres da carne. Era como se um flagelo que todos julgavam enfim irradicado, irrompesse de novo entre eles, mais virulento que nunca.
A procissão transpôs uma estreita porta no outro extremo da sala de jantar. A porta dava para um pequeno vestíbulo, onde se viam mais duas portas, a da casa de banho dos homens e a da casa de banho das senhoras. A casa de banho das senhoras tinha um pequeno átrio, e era aí que ficava a janela para a rua. À custa de esforços consideráveis, o polícia e um empregado de mesa conseguiram abrir a janela. Raphael tirou do bolso um chaveiro e abriu o gradeamento que protegia a janela da rua. Entrou uma lufada de ar fresco e cheirando a fumo de escape. Todos a acolheram com agrado. A acumulação de seres humanos, vivos e mortos, tornara irrespirável a atmosfera da pequena sala.
O polícia e um dos maqueiros saíram pela janela para o passeio. O outro maqueiro e o empregado passaram aos dois homens no exterior uma extremidade da maca, a extremidade onde estava a cara de Ruskin, mais rígida e pardacenta a cada minuto que passava. A última coisa que Fallow pôde ver dos restos mortais de Arthur Ruskin, transportador de árabes para Meca, foram as solas dos seus sapatos ingleses feitos por medida, a desaparecerem através do vão da janela da casa de banho das senhoras do restaurante La Boue dArgent.
No instante seguinte Raphael passou a correr diante do Fallow, tornando a entrar na sala de jantar. Fallow seguiu-o. A meio da sala, foi interceptado pelo chefe de mesa que superintendia as mesas da zona onde ele estivera. Endereçou a Fallow o sorriso solene apropriado às situações de luto. — Monsieur — disse, ainda com o seu sorriso triste mas caloroso, e estendeu-lhe um papel. Parecia uma factura.
— O que é isto?
— L’addition, monsieur. A conta.
— A conta?
— Oui, naturellement. Os senhores pediram o jantar, que foi preparado e servido. Lamentamos imenso o infortúnio do seu amigo... — Ao dizer isto encolheu os ombros, enterrou o queixo no peito e fez uma careta. (Mas não temos nada a ver com o caso, a vida continua, e não é por isso que vamos deixar de ganhar o nosso.)
Fallow ficou chocado com a grosseria da exigência.
Bem mais chocante, porém, era a ideia de ter de pagar a conta num restaurante como aquele.
— Se estão tão empenhados em cobrar l’addition — disse — acho que o melhor é dirigirem-se a Mr. Ruskin. — E encaminhou-se para a porta, deixando para trás o chefe de mesa.
— Nem pense! — disse o outro. Já não era o tom de voz untuoso de um chefe de mesa. — Raphael! — gritou, acrescentando qualquer coisa em francês. No vestíbulo, Raphael rodou sobre os calcanhares e enfrentou Fallow. A expressão do seu rosto não podia ser mais severa.
— Um momento, monsieur!
Fallow ficou sem fala. Mas nesse instante Raphael tornou a voltar-se para a porta e arvorou o seu sorriso profissional. Um asiático corpulento e carrancudo, de rosto achatado, envergando um fato discreto, transpôs a porta giratória, olhando para um lado e para o outro com ar desconfiado. Atrás dele surgiu uma mulher baixinha, de pele cor de azeitona, cerca de cinquenta anos, com lábios vermelho-escuro, um grande capacete de cabelo negro e um casaco comprido de seda vermelha e colarinho alto por cima de um vestido de seda vermelha até aos pés. Trazia tantas jóias que perto dela quase parecia dia claro.
— Madame Tacaya! — disse Raphael. E ergueu ambas as mãos, como se apanhasse no ar um ramo de flores.
No dia seguinte a primeira página do City Light compunha-se principalmente de seis palavras gigantescas, impressas no tipo maior que Fallow alguma vez tivera ocasião de ver:MORTEAO ESTILODE NOVA IORQUE
E, por cima, em letras mais pequenas: RESTAURANTE DE LUXO DIZ A MAGNATE: «QUEIRA FAZER O FAVOR DE ACABAR DE MORRER ANTES QUE CHEGUE MADAME TACAYA.»
E, no fim da página: Um exclusivo do City Light, da autoria do nosso repórter presente no local, Peter Fallow.
Além do artigo principal que relatava com todos os pormenores os acontecimentos da noite, descrevendo até o modo como os empregados de mesa passavam com as bandejas por cima do corpo de Arthur Ruskin, havia um Segundo artigo que não atraiu menos atenções. O título dizia:
O SEGREDO DO MAGNATE FALECIDO: 747 JUDEUS PARA MECA.
Ao meio-dia já os ecos da fúria do mundo muçulmano faziam vibrar o Reuter no canto do gabinete do Rato. O Rato sorria e esfregava as mãos. A entrevista com Ruskin fora ideia sua.
Cantarolava sozinho, com uma alegria que nem todo o dinheiro do mundo lhe teria podido dar: — Oh, eu faço parte do mundo dos jornais, faço parte do mundo dos jornais, faço paaaaarrrte do mundo dos jornais.
27 - O Herói da Colmeia
Os manifestantes desapareceram tão depressa como haviam chegado. As ameaças de morte cessaram. Mas por quanto tempo? Sherman tinha agora que decidir o que pesava mais, se o medo da morte se o horror de ir à falência. Ficou-se por um compromisso. Dois dias depois da manifestação reduziu a dois o número dos guarda-costas, um para o apartamento e um para casa dos pais.
Apesar de tudo, era uma hemorragia de dinheiro! Dois guarda-costas vinte e quatro horas sobre vinte e quatro, a vinte e cinco dólares por hora e por cabeça, davam um total de 1200 dólares por dia — 438000 dólares por ano — uma autêntica sangria!
Dois dias depois, arranjou coragem para não faltar a um convite que Judy aceitara quase um mês antes: jantar em casa dos Di Duccis.
Fiel à sua palavra, Judy tinha feito todo o possível por o ajudar. Igualmente fiel à sua palavra, isso não incluía quaisquer provas de afeição. Ela era como um compressor de asfalto obrigado a aliar-se a outro compressor de asfalto em virtude de um sórdido capricho do destino... Enfim, talvez fosse melhor que nada... E foi nesse espírito que os dois planearam o seu regresso à Sociedade.
O que eles pensaram (eles, os sócios McCoy & McCoy) foi que o longo artigo do homem de Killian, Flannagan, publicado dias antes no Daily News oferecia uma explicaçãoperfeitamente inocente do Caso McCoy. Assim sendo, porque haviam de se esconder? Não deveriam antes fazer a sua vida normal, e quanto mais publicamente, melhor?
Mas estaria le monde — e, mais especificamente, os mundaníssimos Di Duccis — disposto a ver as coisas dessa maneira? Com os Di Duccis, pelo menos, sempre tinham algumas hipóteses. Silvio di Ducci, que vivia em Nova Iorque desde os vinte e um anos, era filho de um fabricante de travões. A mulher, Kate, nascera e fora criada em San Marino, na Califórnia; Silvio era o seu terceiro marido rico. Judy era a decoradora que lhes remodelara o apartamento. Mesmo assim, ela tomou a precaução de telefonar a oferecer-se para não ir ao jantar. — Não se atreva a fazer uma coisa dessas! — disse Kate di Ducci. — Conto convosco! — Isto deixou Judy muito mais animada. Sherman leu-lho no rosto. Ele, em contrapartida, ficou exactamente na mesma. A sua depressão e o seu cepticismo eram demasiado profundos para poderem ser dissipados pelos encorajamentos bem educados de gente como Kate di Ducci.
O guarda-costas do apartamento, Guliaggi, foi na sta-tion Mercury buscar Judy a casa dos pais de Sherman, depois voltou à Park Avenue para vir buscar o próprio Sherman. Dirigiram-se para casa dos Di Duccis, na Quinta Avenida. Sherman tirou do bolso o revólver do seu Ressentimento e preparou-se para o pior. Os Di Duccis e os Bavardages davam-se precisamente com o mesmo tipo de gente (os mesmos indivíduos nada aristocráticos e sem educação). Em casa dos Bavardages tinham-no ignorado, quando a sua respeitabilidade ainda estava intacta. Com a sua combinação de má-criação, grosseria, perspicácia e **chie, o que não o obrigariam a suportar desta vez! Disse a si próprio que já estava muito longe de se preocupar com a opinião dos outros. A sua intenção — a intenção da sociedade McCoy & McCoy — era mostrar ao mundo que, não tendo pecados a pesar-lhes na consciência, eles podiam perfeitamente fazer a sua vida normal. O seu grande receio era terem de enfrentar uma situação que anulasse esse seu intento; a saber, uma cena desagradável.
O átrio do apartamento dos Di Duccis não tinha o esplendor cintilante do dos Bavardages. Em vez das engenhosas combinações de materiais de Ronald Vine, de sedas, linhos, madeiras douradas e galões, a casa dos Di Duccis traía o fraco de Judy pelas coisas solenes e imponentes: mármores, pilastras caneladas, grandes cornijas clássicas. No entanto, o cenário não parecia menos saído de outroséculo (o século XVIII), e estava cheio dos mesmos grupinhos de radiografias mundanas, Tartes de Limão e homens de gravatas escuras; os mesmos sorrisos, as mesmas gargalhadas, os mesmos olhares de 300 watts, o mesmo burburinho sublime e o mesmo matraquear extático das conversas. Em suma, a colmeia. A colmeia! — a colmeia! — aquele zumbido familiar envolvia Sherman, mas já não encontrava eco nas suas entranhas. Escutava-o de fora, perguntando a si próprio se a mácula da sua presença não interromperia o murmúrio do enxame a meio de uma frase, de um sorriso, de uma gargalhada.
Uma mulher emaciada surgiu do meio dos grupinhos e aproximou-se deles, sorrindo... Emaciadas mas belíssima... Nunca tinha visto um rosto tão belo... O seu cabelo louro pálido estava penteado para trás. Tinha uma testa alta e faces brancas e lisas como porcelana, mas os olhos eram grandes e cheios de vida, e a sua boca sorridente era sensual — não, mais do que sensual — era verdadeiramente provocante. Provocante, sim! Quando ela lhe agarrou o braço, Sherman sentiu um frémito de prazer.
— Judy! Sherman!
Judy deu um beijo àquela mulher. Com toda a sinceridade, disse: — Oh, Kate, você foi mesmo simpática. Foi maravilhosa. — Kate di Ducci enfiou o braço no de Sherman e puxou-o para si, de maneira que os três formaram uma sanduíche, com Kate di Ducci entre os dois McCoys.
— Foi mais do que simpática — disse Sherman. — Foi corajosa. — Ao dizer isto reparou de repente que estava a falar no tom íntimo de barítono que utilizava quando queria jogar ao velho jogo do costume.
— Não sejam tontos! — disse Kate di Ducci. — Se não tivessem vindo os dois, eu ficava muito, muito zangada! Cheguem aqui, que eu quero apresentar-lhes umas pessoas.
Sherman notou, com um estremecimento, que ela os conduzia para um ramalhete de conversadores dominado pela silhueta alta e patrícia de Nunnally Voyd, o romancista que também estivera em casa dos Bavardages. Uma Bruxa e dois homens de fato azul, camisa branca e gravata azul dirigiam largos sorrisos radiosos ao grande escritor. Kate di Ducci fez as apresentações e depois conduziu Judy do átrio para o salão.
Sherman susteve a respiração, pronto para uma afronta ou, na melhor das hipóteses, para o ostracismo. Mas os outros quatro continuavam com os seus largos sorrisos.
— Pois é, Mr. McCoy — disse Nunnally Voyd com o seu sotaque da costa atlântica — devo-lhe dizer que nestes últimos dias me aconteceu mais de uma vez pensar em si. Benvindo à legião dos danados... agora que as moscas da fruta já o devoraram a seu bel-prazer.
— As moscas da fruta?
— A imprensa. Divertem-me os exames de consciência desses... insectos. «Não seremos nós demasiado agressivos, demasiado insensíveis, demasiado cruéis?» Como se a imprensa fosse algum animal feroz, algum tigre. Acho que eles gostam que as pessoas os vejam como seres sanguinários. É aquilo a que eu chamo um elogio disfarçado de condenação. Só que eles se enganam redondamente no animal. A verdade é que são moscas da fruta. Quando sentem o cheiro da presa, aproximam-se em enxames, a esvoaçar. Se uma pessoa os enxota com a mão, não mordem, correm a esconder-se, e assim que olhamos para o outro lado tornam a atacar. São moscas da fruta, é o que é. Mas não preciso de lhe explicar isto a si.
Apesar de o grande literato estar a servir-se da sua desgraça como de um pedestal onde colocar a sua teoria entomológica, um pretexto para o seu discurso já um pouco requentado, Sherman ficou-lhe grato. De certo modo, Voyd era, realmente, um irmão, um companheiro de armas. Julgava lembrar-se — nunca prestara grande atenção aos mexericos literários — de que Voyd fora estigmatizado como homossexual ou bissexual. Tinha havido um problema qualquer, com muita publicidade àvolta... Que injustiça! Como é que aqueles... insectos... se atreviam a importunar este homem que, embora talvez um pouco afectado, tinha uma grande abertura de espírito, uma tamanha sensibilidade à condição humana? E se ele fosse mesmo... gay? A palavra gay veio espontaneamente à cabeça de Sherman. (Sim, é verdade. Um liberal é um conservador que passou pela prisão.)
Encorajado pelo seu novo irmão, Sherman contou como a mulher com cara de cavalo lhe enfiara um microfone debaixo do nariz na manhã em que ele saíra do prédio com Campbell, e como ele estendera o braço, simplesmente para afastar o objecto da cara — e a mulher agora ia processá-lo! Gritava, amuava, gemia — e punha-lhe uma acção em tribunal, exigindo uma indemnização de 500000 dólares!
Todos os elementos do ramalhete, incluindo o próprio Voyd, olhavam fixamente para ele, embevecidos, com grandes sorrisos mundanos.
— Sherman! Sherman! Caramba! — Uma voz de trovão... Olhou à sua volta... Um jovem enorme a avançar para ele... Bobby Shaflett... Abandonara outro ramalhete e aproximava-se dele com um grande sorriso parolo. Estendeu-lhe a mão, que Sherman apertou, e a Voz das Montanhas disse muito alto: — Caramba, o que você tem dado que falar desde a última vez que nos vimos! Isso é que se chama dar que falar, homem!
Sherman não sabia o que dizer. Mas não chegou a ter de dizer nada.
— Eu também fui preso o ano passado em Montreal — disse o Tenor dos Cabelos de Ouro, com uma satisfação evidente. — Você provavelmente até leu alguma coisa sobre o assunto, na altura.
— Nnnnão... não li.
— Não?lfi),
— Não. Mas... mas porque é que o prenderam?
— POR FAZER CHICHI CONTRA UMA ÁRVORE! Ho ho ho ho ho ho ho ho! Eles não são nada compreensivos quando se faz chichi contra as árvores deles à meia-noite em plena Montreal, pelo menos se for mesmo em frente ao hotel! Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho!
Sherman olhou com consternação o rosto radioso do outro.
— Enfiaram-me na cadeia! Atentado ao pudor! POR FAZER CHICHI CONTRA UMA ÁRVORE! Ho ho ho ho ho ho ho ho ho! — Por fim, lá acalmou um pouco. — Sabe — disse — eu nunca tinha estado na cadeia. O que é que você achou da cadeia?
— Confesso que não achei grande coisa — disse Sherman.
— Bem sei — disse Shaflett — mas também não é tão horrível como se diz. Eu tinha ouvido contar montes de histórias sobre o que os presos fazem uns aos outros na cadeia? — Pronunciou esta frase como se fosse uma pergunta. Sherman fez que sim com a cabeça. — Quer saber o que é que me fizeram?
- O que foi?
— Deram-me maçãs!
— Maçãs?
— Pois foi. A primeira refeição que lá me serviram era tão má que eu não fui capaz de a comer — e eu gosto bastante de comer! A única coisa que consegui comer foi a maçã. E então sabe o que aconteceu? Correu a notícia de que eu só comia maçãs, e eles mandaram-me as maçãs deles, os outrospresos todos. Passaram-nas de mão em mão, através das grades, até chegarem a mim. Quando saí de lá, já só se via a minha cabeça de fora de um monte de maçãs! Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho!
Encorajado pela luz favorável a que todos pareciam agora ver o tempo passado na cadeia, Sherman contou o episódio do porto-riquenho da cela de detenção que tinha visto as equipas de televisão filmarem-no algemado e queria saber porque é que ele estava preso. Contou que a sua resposta, «por fazer perigar a vida de terceiros», deixara o homem claramente desiludido, e que, por conseguinte, ao segundo preso que lhe fizera a mesma pergunta, respondera «homicídio involuntário». (O jovem negro da cabeça rapada... Tornou a sentir um calafrio de terror... Mas a isso não fez qualquer referência.) O ramalhete inteiro olhava para ele avidamente — o seu ramalhete — o famoso Bobby Shaflett e o famoso Nunnally Voyd, bem como as três outras almas mundanas. A expressão dos seus rostos era tão extasiada, tão expectante! Sherman sentiu uma vontade irresistível de retocar a sua história de guerra. Por isso inventou um terceiro companheiro de cela. E quando esse terceiro companheiro de cela lhe perguntara porque é que ele estava preso, Sherman dissera: «Homicídio de segundo grau.»
— Já não sabia que crime havia de inventar — disse o aventureiro, Sherman McCoy. 1 Ho ho ho ho ho ho ho ho, fez Bobby Shaflett.
Hô hô hô hô hô hô hô hô hô, fez Nunnally Voyd. Jí- Hah hah hah hah hah hah hah hah , fizeram a radiografia e os dois homens de fatos azuis.
Heh heh heh heh heh heh heh heh heh, fez Sherman McCoy, como se as horas passadas na cela de detenção não tivessem representado mais do que uma simples história de guerra na vida de um homem.
A sala de jantar dos Di Duccis, tal como a dos Bavardages, apresentava um par de mesas redondas, no centro de cada uma das quais se via uma criação de Huck Thigg, o florista. Para aquela noite ele concebera um par de árvores em miniatura, com umas quinze polegadas de altura, no máximo, feitas de ramos secos de glicínia. Coladas aos ramos das árvores havia uma quantidade de centáureas de um azul muito vivo, também secas. Cada árvore estava plantada no meio de um pequeno prado, com cerca de um pé de largura por um pé de comprimento, densamente semeado de botões-de-ouro, tão densamente que as corolas se tocavam. À volta de cada prado havia uma vedaçãozinha em miniatura feita de
madeira de teixo. Desta vez, porém, Sherman não teve oportunidade de apreciar o engenho do jovem e famoso Mr. Huck Thigg. Longe de ser ignorado pela convidada do lugar ao lado, ele dominava agora toda uma secção da sua mesa. À sua esquerda ficara uma muito falada radiografia mundana chamada Red Pitt, conhecida **sotto você por Pitt-sem-Rabo(1), porque era tão soberbamente esquelética que os seus glutei maximi e os tecidos envolventes — em linguagem corrente, o seu cu — parecia ter desaparecido por completo,Seria possível traçar uma linha com um fio de prumo desde a zona dos seus rins até ao chão. À esquerda dela estava sentado Nunnally Voyd, e à esquerda deste uma radiografia mundana do ramo imobiliário chamada Lily Bradshaw. À direita de Sherman ficara uma Tarte de Limão chamada Jacqueline Balch, a loura terceira mulher de Knobby Balch, herdeiro da fortuna do remédio Colonaid para a indigestão. À direita dela estava nada mais, nada menos que o barão Hochswald, e à direita deste Kate di Ducci. Durante boa parte do jantar estes seis homens e mulheres não fizeram outra coisa senão escutar Mr. Sherman McCoy. Crime, Economia, Deus, a Liberdade, a Imortalidade — fosse qual fosse o tema escolhido pelo Mr. McCoy do Caso McCoy, toda a mesa o escutava, até mesmo um tão rematado, egocêntrico e incansável falador como Nunnally Voyd.
Voyd disse que ficara surpreendido ao saber que se ganhavam somas tão astronómicas no negócio das obrigações — e Sherman percebeu que Killian tinha razão: a imprensa criara a impressão de que ele era um titã do mundo da finança.
— Para ser franco — disse Voyd — sempre tinha pensado que as obrigações eram... mmmmmm... um negocio-zinho acanhado.
Sherman deu por si a arvorar o sorrisinho perverso de quem está de posse de um grande e saboroso segredo. — Aqui há uns dez anos — disse — você teria toda razão em pensar isso. Costumavam chamar-nos «os chatos das obrigações». — Tornou a sorrir. — Mas já há muito tempo que não ouço ninguém chamar-nos isso. Hoje em dia deve haver cinco vezes mais dinheiro a mudar de mãos no negócio das obrigações do que no negócio das acções. — E voltou-se para...
(1) «Bottomless Pitt» no original, o que dá origem a um trocadilho intraduzível (bottom significa «traseiro», mas também «fundo», e o nome próprio Pitt é homófonodep», «poço», de onde o duplo sentido «Pitt-sem-Rabo»— «Poço sem Fundo»). (N. do T.)
...Hochswald, que se inclinava para a frente para seguir a conversa. — Não está de acordo comigo, Barão?
— Estou, estou plenamente de acordo — disse o velho —, hoje em dia as coisas são assim. — E o barão calou-se — para poder ouvir o que Mr. McCoy tinha a dizer.
— Todas as transferências de propriedade, todas as compras de quotas, todas as fusões de grandes empresas, tudo isso se faz com obrigações — disse Sherman. — A dívida pública? Um trilião de dólares? O que é que julgam que isso é? São tudo obrigações. Sempre que as taxas de juro variam (para cima ou para baixo, tanto faz) caem pequenas migalhinhas de todas essas obrigações para as frestas do passeio. — Fez uma pausa, sorrindo confiantemente... e perguntou a si próprio... Porque é que tinha usado aquela imagem rancorosa de Judy?... Soltou uma pequena gargalhada e disse: — E não há motivo para se desprezar essas migalhas, porque há biliões e biliões delas. Podem crer que na Pierce & Pierce as varremos muito diligentemente! — Nós! — na Pierce & Pierce! Até a Tartezinha sentada à sua direita, Jacqueline Balch, fez que sim com a cabeça como se tivesse percebido alguma coisa de tudo aquilo.
Red Pitt, que se orgulhava da sua franqueza, perguntou: — Diga-me, Mr. McCoy, diga-me uma coisa... bom, vou-lhe fazer a pergunta o mais directamente possível: O que é que aconteceu realmente naquela noite no Bronx?
Agora estavam todos inclinados para a frente, a olhar, enfeitiçados, para Sherman.
Sherman sorriu. — O meu advogado aconselhou-me a não dizer uma palavra acerca do que sucedeu. — Depois ele próprio se inclinou para a frente, olhou para a sua direita e para a sua esquerda e disse: — Mas, estritamente entre nous, foi uma tentativa de assalto. Foi literalmente uma emboscada.
Estavam agora todos tão debruçados para a frente que quase se acotovelavam em volta da árvore de ramos de glicínia de Huck Thigg no meio do pradozinho de flores amarelas.
Kate di Ducci perguntou: — Mas porque é que você não pode dizer isso em público, Sherman?
— Não posso explicar isso agora, Kate. Mas ainda lhes digo outra coisa: eu não atropelei ninguém com o meu carro.
Ninguém disse uma palavra. Estavam todos hipnotizados. Sherman lançou uma olhadela a Judy, na outra mesa. Quatro pessoas, duas de cada lado, incluindo o vulpinoanfitrião, Silvio di Ducci, estavam suspensas das palavras dela. McCoy & McCoy. Sherman apressou-se a continuar:
— Posso-vos dar um excelente conselho. Nunca... se deixem apanhar... pelo sistema de justiça criminal... desta cidade. Assim que uma pessoa é apanhada pela engrenagem, sim, porque é uma engrenagem, está perdida. A questão é saber quanto é que se vai perder. Basta entrar numa cela... muito antes de um indivíduo ter a oportunidade de proclamar a sua inocência... para se transformar num número. A pessoa deixa de existir.
O silêncio à sua volta... A expressão daqueles olhares!... Implorando mais histórias de guerra!
Então falou-lhes do porto-riquenho que sabia os números todos. Falou-lhes do jogo de hóquei com o rato vivo e de como ele (o herói) salvara o rato e o atirara para fora da cela, onde um polícia o esmagara com o tacão do sapato. Confiantemente, virou-se para Nunnally Voyd e disse: — Acho que não será exagero dizer que este episódio tem um valor de metáfora, Mr. Voyd. — Sorriu com ar de grande sabedoria. — Uma metáfora de todo o caso.
Depois olhou para a sua direita. A linda Tarte de Limão bebia cada uma das suas palavras. Sentiu um novo frémito
de desejo.
No fim do jantar foi um grupo bem grande que se reuniu
à volta de Sherman McCoy na biblioteca dos Di Duccis.
Entreteve-os com a história do polícia que o fizera passar não
sei quantas vezes pelo detector de metais.
Silvio di Ducci resolveu intervir: — Eles podem obrigar
uma pessoa a fazer isso?
Sherman apercebeu-se de que aquela história o fazia
parecer um pouco submisso demais e minava a sua nova
imagem de herói que desafiara as chamas do inferno.
— Eu fiz um acordo com ele. Disse-lhe: «Está bem, eu deixo-o mostrar ao seu amigo como é que eu fiz funcionar o alarme, mas você tem de fazer uma coisa por mim. Tem de me tirar rapidamente daquela merda... — disse merda muito baixinho, para mostrar que sabia perfeitamente não ser a palavra de bom tom mas que, naquelas circunstâncias, se impunha uma citação literal — ... daquela merda de cela. — Estendeu o dedo com um ar entendido, como se apontasse para a cela de detenção do Registo Central do Bronx. — E valeu a pena. Tiraram-me de lá bastante depressa. Se não fosse isso, tinha passado a noite em Rikers lsland, o que, tanto quanto sei, não é lá muito... agradável.
Naquele momento bastaria uma palavra sua para lhe cair nos braços qualquer uma das Tartes do grupinho.
Quando o guarda-costas, Guliaggi, os levou a casa dos pais de Sherman, para lá deixar Judy, era Sherman quem vinha embriagado pelo ambiente do serão. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se confuso. Quem eram, no fundo, aquelas pessoas?
— É irónico — disse a Judy. — Eu nunca gostei destes teus amigos. Acho que deves ter deduzido isso.
— Não foi preciso grande poder de dedução — disse Judy. Mas não sorria.
— E apesar disso foram as únicas pessoas que tiveram uma atitude decente para comigo desde que isto tudo começou. Os meus velhos amigos, ou aqueles que eu julgava serem os meus velhos amigos, só querem que eu desapareça o mais depressa possível para não os incomodar. Mas estas pessoas, pessoas que eu nem conheço, trataram-me como um ser humano.
Na mesma voz contida, Judy disse: — És famoso. Nos jornais, és um aristocrata rico. És um magnate.
— Só nos jornais?
— Ah, então agora começaste a sentir-te rico de repente?
— Sim, sou um aristocrata riquíssimo com um apartamento fabuloso concebido por uma decoradora famosa. — Queria pô-la de bem consigo.
— Ah! — Muito baixinho, num tom amargo.
— É perverso, não é? Há duas semanas, quando estivemos em casa dos Bavardages, as mesmas pessoas ignoraram-me. Agora sou caluniado... caluniado!... em todos os jornais e eles não se cansam de me ouvir.
Ela olhou para o outro lado, para o lado da janela. — Não és muito difícil de contentar. — A sua voz era tão distante como o seu olhar.
McCoy & McCoy encerraram a loja por aquela noite.
— O que é que temos para hoje de manhã, Sheldon? Assim que estas palavras lhe saíram da boca, o mayor
arrependeu-se de as ter proferido. Ele sabia o que o seu pequeno assistente ia dizer. Era inevitável, por isso preparou-se para a horrível frase que, como previra, teve mesmo de ouvir.
— Principalmente condecorações para pretos — disse Sheldon. — Está lá fora o bispo Bottomley à espera de serrecebido, e há para aí uma dúzia de pedidos que o senhor comente o caso McCoy.
O mayor teve vontade de o descompor, como já várias vezes tinha feito, mas limitou-se a desviar os olhos para espreitar pela janela, para a Broadway. O gabinete do mayor ficava no rés-do-chão, uma sala pequena mas elegante, de canto, com tectos altos e grandes janelas paladianas. A vista para o pequeno parque que circundava o City Hall era degradada pela presença, no primeiro plano, mesmo diante da janela, de várias filas de gradeamentos azuis da Polícia. Ficavam ali armazenados, permanentemente, na relva — ou melhor, em zonas despidas de vegetação onde antes houvera relva — para serem usados sempre que havia manifestações. Estava sempre a haver manifestações. Quando isso acontecia, a Polícia formava uma grande vedação com os gradeamentos, e ele podia ver dali os largos sorrisos dos polícias enfrentando a horda de manifestantes maltrapilhos que nesse dia tivesse decidido pôr-se a berrar do outro lado. O arsenal incrível que os polícias traziam às costas! Casse-têtes, lanternas, algemas, balas, livros de louvores, walkie-talkies. Estava constantemente a dar com os olhos nos traseiros proeminentes e carregados de objectos vários dos polícias, enquanto os mais diversos descontentes gritavam e rugiam, tudo para a televisão, claro.
Condecorações para pretos, condecorações para pretos, condecorações para pretos, condecorações para pretos. Agora aquela frase horrível ecoava-lhe na cabeça. Condecorações para pretos era um pequeno expediente que ele concebera para combater o fogo com o fogo. Todas as manhãs ele ia do seu gabinete à Sala Azul, e no meio dos retratos de políticos carecas de outros tempos, entregava condecorações e menções honrosas a grupos cívicos, a estudantes premiados, a honestos cidadãos, a nobres trabalhadores voluntários e a outras formigas laboriosas do solo urbano. Nestes tempos conturbados, com as sondagens a andarem como andavam, era prudente, e provavelmente também acertado, chamar o mais possível as atenções para os negros contemplados com estes trofeus e floreados retóricos, mas não prudente nem acertado que Sheldon Lennert, aquele homúnculo de cabeça absurdamente pequena e camisas, casacos e calças aos quadrados diferentes, chamasse ao processo «condecorações para pretos». O mayor já tinha ouvido dois ou três membros do gabinete de imprensa utilizar a expressão. E se algum funcionário negro os ouvisse?
Talvez até lhe desse para rir. Por dentro é que não riria com certeza.
Mas não havia nada a fazer... Sheldon continuava a dizer «condecorações para pretos». Sabia que o mayor detestava. Sheldon tinha uma veia maliciosa de bobo da corte. Por fora, era fiel como um cão. Por dentro, parecia passar metade do tempo a rir à custa dele. O mayor encolerizou-se.
— Sheldon, já lhe disse que não queria tornar a ouvir essa expressão aqui dentro!
— Tá bem, tá bem — disse Sheldon. — Mas ouça, o que é que vai dizer quando lhe pedirem uma declaração acerca do caso McCoy?
Sheldon sabia sempre qual a melhor maneira de o distrair. Ia buscar aquilo que sabia suscitar maior confusão no espírito do mayor, aquilo que o deixava mais dependente do pequeno mas espantosamente versátil cérebro de Sheldon.
— Não sei — disse o mayor. — A princípio parecia tudo muito claro. Era um tipo da Wall Street que tinha atropelado um estudante negro e o tinha abandonado no meio da rua. Mas agora descobre-se que havia um segundo miúdo negro, que por acaso é traficante de crack, e que talvez tenha havido uma tentativa de assalto. Acho que me decido pela abordagem judicial. Apelo para que se faça uma investigação completa e para que todas as provas sejam cuidadosamente examinadas. Certo?
— Negativo — disse Sheldon.
— Negativo? — Era espantoso o número de vezes que Sheldon contrariava o óbvio — e demonstrava ter toda a razão.
— Negativo — disse Sheldon. — O caso McCoy transformou-se numa daquelas questões que são uma autêntica pedra de toque para a comunidade negra. É como as expropriações ou a África do Sul. Não há dois lados da questão. Se você sugere que talvez haja dois lados, não está a ser imparcial, está a deixar-se levar pelos seus preconceitos. Aqui é a mesma coisa. A única questão que importa é: uma vida negra vale ou não vale o mesmo que uma vida branca? E a única resposta possível é que tipos brancos como este McCoy da Wall Street não podem andar por aí com os seus Mercedes a atropelar estudantes negros e a abandoná-los no meio da rua porque não lhes dá jeito parar ali.
— Mas isso é tudo treta, Sheldon — disse o mayor. — Nós ainda nem sequer sabemos ao certo o que é que se passou.
Sheldon encolheu os ombros. — E depois? Esta é a única versão que o Abe Weiss se dispõe a comentar. Ele está a tratar este caso como se fosse o Abe Lincoln!
— Foi o Weiss que começou com esta história? — A ideia perturbou o mayor, porque ele sabia que Weiss sempre acalentara a ideia de se candidatar ele próprio a mayor.
— Não, quem começou foi o Bacon — disse Sheldon. — Não sei lá como, entrou em contacto com esse bêbedo inglês do City Light, esse Fallow. Foi assim que a coisa começou. Mas agora pegou mesmo. Já ultrapassou de longe o Bacon e o seu bando. Como lhe disse, é uma pedra de toque. O Weiss tem as eleições à porta. E você também.
O mayor ficou um momento a pensar. — McCoy é um nome quê? Irlandês?
— Não, o tipo é um WASP.
— Que género de pessoa é?
— WASP rico. Tudo certinho. Os melhores colégios, Park Avenue, Wall Street, Pierce & Pierce. O velhote dele esteve em tempos à cabeça da Dunning Sponget & Leach.
— Sabe se ele me apoiou?
— Que eu saiba, não. Você sabe como esses tipos são. Nem sequer se preocupam com as eleições locais, porque numa eleição em Nova Iorque votar republicano não significa nada. Votam nas presidenciais. Votam para eleger os senadores. E só falam do Federal Reserve, do orçamento e de outras tretas assim.
— Hã, hã. Bom, então o que é que eu digo?
— Apela para que se investigue de maneira completa e aprofundada o papel do McCoy nesta tragédia, pedindo a nomeação, se necessário, de um procurador especial. Designado pelo governador. «Se necessário — dirá você — se não se conseguirem apurar todos os factos». Assim, dá uma ferroada no Abe, sem sequer dizer o nome dele. Tem de dizer que a lei não respeita umas pessoas mais do que outras. E que a posição social e a riqueza de McCoy não podem impedir que este caso seja tratado da mesma forma que se tivesse sido Henry Lamb a atropelar Sherman McCoy. Depois oferece à mãe do miúdo — Annie, acho que é assim que ela se chama — todo o seu apoio e solidariedade quanto ao legítimo desejo de levar a julgamento aquele que perpetrou um acto tão condenável. Por muito que carregue nas tintas, nunca será demais.
— É um bocado duro para esse tal McCoy, não é?
— A culpa não é sua — disse Sheldon. — O tipo atropelou o miúdo errado na zona errada da cidade, com umcarro da marca errada e ao lado da mulher errada, uma mulher que não é casada com ele. Por muito que faça, o tipo nunca se há-de sair muito bem desta história.
Tudo aquilo fazia o mayor sentir-se bastante mal na sua pele, mas os instintos de Sheldon eram sempre correctos nestas situações embaraçosas. Reflectiu mais um bocado. — O.K.— disse — dou-lhe tudo isso de barato. Mas não vamos melhorar ainda mais a imagem do Bacon se eu disser isso? Eu não suporto esse filho da mãe.
— Pois é, mas o facto é que ele já marcou um ponto com esta história. Já não há nada a fazer. Só nos resta deixarmo-nos ir na corrente. Não falta muito tempo para Novembro, e se você fizer alguma jogada em falso neste caso McCoy, então é que o Bacon o pode prejudicar muito seriamente.
O mayor abanou a cabeça. — Acho que você tem razão. Encostamos o WASP à parede. — Tornou a abanar a cabeça, e o rosto ensombrou-se-lhe. — Que gajo tão estúpido!... Ainda me hão-de dizer o que é que ele andava a fazer no Bruckner Boulevard, em plena noite, com um Mercedes-Benz! Parece que há pessoas que fazem de propósito para o céu lhes cair em cima da cabeça, não é? A culpa é dele. Continuo a não gostar nada disto, mas você tem razão. Por muitas desgraças que lhe venham a acontecer, a culpa é dele. O.K.! Já chega de McCoy. E agora, o que é que esse bispo Não-sei-quantos quer?
— Bispo Bottomley. É por causa da igreja anglicana de St. Timothy. A propósito, o bispo é negro.
— Os anglicanos têm bispos negros?
— Oh, eles são muito liberais — disse Sheldon, revirando os olhos. — Até podia ser uma mulher, ou um sandinista. Ou uma lésbica. Ou uma sandinista lésbica.
O mayor tornou a abanar a cabeça. As igrejas cristãs eram para ele um enigma. Quando ele era pequeno, osgoyim eram todos católicos, a menos que se contasse com os shvart-zer), coisa que ninguém fazia. Esses nem sequer mereciam ser chamados goyim. Os católicos eram de dois tipos, os irlandeses e os italianos. Os irlandeses eram estúpidos e gostavam de lutar e infligir dor às outras pessoas. Os italianos eram estúpidos e trapalhões. Ambos os grupos eram desagradáveis, mas pelo menos a divisão era fácil de apreender. Só depois de entrar para a universidade é que o mayor se apercebera da existência de uma outra categoria degoyirn, os protestantes. Nunca via nenhuns. Na faculdade só havia...
(1) Negros, em yiddish. (N. do T.)
...judeus, italianos e irlandeses, mas ouvia falar deles, e soube que algumas das pessoas mais famosas de Nova Iorque eram goyim desse tipo, protestantes, gente como os Rockefellers, os Vanderbilts, os Roosevelts, os Astors, os Morgans. O termo WASP só foi inventado muito mais tarde. Os protestantes dividiam-se numa tal confusão de seitas que ninguém podia ter veleidades de as conhecer a todas. Era tudo muito pagão e fantasmagórico, quando não se limitava a ser ridículo. E todos adoravam o mesmo judeu obscuro nascido lá do outro lado do mundo. Os Rockefellers adoravam-no! E até os Roosevelts! Era uma coisa mesmo estranha, e no entanto esses protestantes estavam à cabeça dos maiores escritórios de advogados, dos bancos, das firmas de investimentos, das grandes corporações. Ele nunca via essa gente em carne e osso, a não ser nas cerimónias oficiais. Fora disso, eles não existiam em Nova Iorque. Mal se conseguia dar por eles nas sondagens. Em número, eram uma nulidade — e no entanto contavam. E agora uma dessas seitas, a anglicana, tinha um bispo negro. Podia-se contar piadas sobre os WASPs, como ele tantas vezes fazia entre amigos, mas a verdade é que eles eram mais arrepiantes do que divertidos.
— Essa igreja — perguntou o mayor — não tem um problema qualquer com o cadastro?
— Tem — disse Sheldon. — O bispo quer vender St. Timothy a um promotor imobiliário, a pretexto de que a congregação é cada vez mais pequena e a igreja está a dar muito prejuízo, o que é verdade. Mas os grupos da comunidade estão a fazer pressão sobre a Comissão do Cadastro para que eles decretem que o edifício não poderá ser modificado mesmo que o vendam.,
— E este tipo é honesto? — perguntou o mayor. — Quem é que fica com o dinheiro se eles venderem a igreja?
— Nunca ouvi dizer que não fosse honesto — disse Sheldon. — É um clérigo muito instruído. Frequentou Har-vard. Mesmo assim, podia ser ganancioso, é claro, mas não tenho razões para pensar que o seja.
— Hã, hã. — De repente, o mayor teve uma ideia. — Bom, mande-o entrar.
Afinal o bispo Warren Bottomley era um desses negros cultos e urbanos que provocam imediatamente um Efeito Mágico sobre os brancos que antes de os verem não sabiam com o que contar. Por um momento ou dois o mayor chegou a ficar intimidado, tão dinâmico era o bispo Bottomley. Era atraente, magro, com cerca de quarenta e cinco anos, compleição atlética. Tinha um sorriso pronto, olhos brilhantes,um aperto de mão enérgico, e vestia um trajo clerical semelhante ao dos padres católicos, mas com aspecto de ter sido mais caro. E era alto, muito mais alto do que o mayor, que se sentia inferiorizado devido à sua pequena estatura. Quando se sentaram, o mayor recobrou a sua perspectiva e tornou a pensar na sua ideia. Sim, o bispo Warren Bottomley serviria na perfeição.
Após alguns gracejos espirituosos acerca da ilustre carreira política do mayor, o bispo começou a expor os problemas financeiros de St. Timothys.
— É claro que eu compreendo a inquietação da comunidade — disse o bispo. — Eles não querem ali ver um edifício maior ou diferente do que existe.
Nem sombra de sotaque negro, pensou o mayor. Nos últimos tempos parecia-lhe que passava o tempo a falar com negros sem sotaque nenhum. O facto de reparar nisso fazia-o sentir-se vagamente culpado, mas não conseguia deixar de reparar.
— Mas muito poucas dessas pessoas são paroquianos da Igreja de St. Timothy — continuou o bispo—, o que constitui precisamente o cerne do nosso problema. Temos menos de setenta e cinco frequentadores regulares para um edifício enorme, que aliás não tem o menor valor arquitectónico. O arquitecto foi um indivíduo chamado Samuel D. Wiggins, um contemporâneo de Cass Gilbert que não deixou uma única pegada significativa nas areias da história da arquitectura, tanto quanto pude apurar.
Esta referência de passagem intimidou ainda mais o mayor. A arte e a arquitectura não eram propriamente o seu forte.
— Pondo as cartas na mesa, a Igreja de St. Timothy já não serve a sua comunidade, Mr. Mayor, porque já não está em condições de o fazer, e nós pensamos que seria muito mais proveitoso, não apenas para a Igreja Anglicana e para as suas manifestações mais vivas na nossa cidade, mas para a própria cidade — uma vez que uma importante entidade pagadora de impostos surgiria no local da igreja, e até a comunidade beneficiaria, indirectamente, no sentido em que toda a cidade ficaria a ganhar através do aumento do rendimento colectável. É por isso que eu gostaria de poder vender a actual estrutura, e que nós pedimos a sua intervenção... para que o edifício não seja considerado de interesse público, como a Comissão do Cadastro quer fazer.
Graças a Deus! O mayor ficou aliviado por ver que o bispo se tinha perdido no meio da sua gramática, deixandopara trás uma frase incompleta. Sem dizer uma palavra, o mayor sorriu para o bispo e encostou o indicador ao nariz, como o Pai Natal em The Night before Christmas. Depois espetou o dedo no ar, como se dissesse: «Ah!» ou «Agora veja!» Ainda a sorrir para o bispo, carregou num botão do intercomunicador sobre a mesinha ao lado da sua secretária e disse: — Ligue-me para o presidente da Comissão do Cadastro. — Logo a seguir ouviu-se um suave bip-bip, e o mayor levantou o auscultador.
— Mort?... Conheces a Igreja de St. Timothy?... Exactamente. Isso mesmo... Mort... NÃO TE METAS NO CASO!
O mayor desligou, recostou-se na cadeira e tornou a sorrir para o bispo.
— Quer dizer... que já está? — O bispo parecia genuinamente surpreendido e satisfeito. — Quer dizer... a comissão... eles já não vão...
O mayor fez que sim com a cabeça e sorriu.
— Mr. Mayor, eu nem sei como agradecer-lhe. Acredite... Já me tinham dito que o senhor tinha uma capacidade especial para fazer andar as coisas, mas... bom! Estou-lhe muito grato! E garanto-lhe que vou informar toda a gente na diocese e todos os nossos amigos do grande serviço que acaba de nos prestar. Pode ter a certeza que o farei!
— Isso não é necessário, bispo Bottomley — disse o mayor. — Não há a menor necessidade de ver nisto um favor ou mesmo um serviço. Os factos que o senhor tão eloquentemente expôs são por si sós muito convincentes, e eu penso que toda a cidade vai beneficiar com isto. Fico muito satisfeito por fazer por siiii uma coisa que é vantajosa para si e para a cidade de Nova Iorque.
— Muito vantajosa, pode crer! Fico-lhe extremamente grato.
— E agora, no mesmo espírito — disse o mayor, recorrendo ao seu tom professoral, que tão bem e tantas vezes lhe servira no passado — gostaria de lhe pedir que fizesse por miiiim... um favor que é igualmente vantajoso para sim e para a cidade de Nova Iorque.
O mayor inclinou a cabeça para um dos lados e sorriu ainda mais expansivamente. Parecia um rouxinol a observar uma minhoca.
— Bispo Bottomley, eu queria que o senhor fizesse parte de uma comissão de honra especial que eu conto criar em breve sobre o crime em Nova Iorque. Gostaria de anunciar a sua nomeação na mesma altura em que anunciasse a formação da comissão. Não preciso de lhe dizer a que ponto setrata de um problema crucial; e uma das nossas maiores dificuldades tem a ver com as implicações raciais, com todas as ideias mais ou menos preconcebidas sobre quem é que comete os crimes e sobre o modo como a nossa Polícia trata os criminosos. Não há serviço mais importante que o senhor possa prestar neste momento à cidade de Nova Iorque do que fazer parte desta comissão. O que é que me diz?
O mayor apercebeu-se imediatamente da expressão de desânimo do rosto do bispo.
— Sinto-me muito lisonjeado, Mr. Mayor — disse o bispo. Mas não parecia nada lisonjeado. O seu sorriso desaparecera. — E é claro que estou de acordo consigo. Mas vejo-me obrigado a explicar-lhe que, na medida em que a minha actividade como bispo desta diocese se relaciona com o sector público, ou melhor dizendo, com o sector oficial, tenho de certo modo as mãos atadas, e...
Mas naquele momento não tinha as mãos atadas. Começou a torcê-las como se tentasse abrir um frasco de pêssegos em calda, enquanto se esforçava por explicar ao mayor a estrutura da Igreja Anglicana e a teologia subjacente a essa estrutura e a teleologia da teologia e aquilo que podia ou não podia ser dado a César.
O mayor desligou ao fim de dez ou doze segundos, mas deixou o bispo continuar a falar, comprazendo-se amargamente no embaraço do outro. Oh, era muito claro. O filho da mãe estava a inventar uma data de tretas para encobrir o facto de nenhum Líder Negro em Ascensão como ele próprio pode dar-se ao luxo de se ligar ao mayor fosse de que maneira fosse, nem sequer aceitando fazer parte de uma merda de comissão sobre a merda do problema do crime. E tinha sido uma ideia tão brilhante! Uma comissão bi-racial sobre o crime, com meia-dúzia de líderes negros dinâmicos e bem parecidos como o bispo. O coração do bispo Bottomley bateria em uníssono com o de todos os negros honestos de Nova Iorque, precisamente aquele eleitorado que o mayor teria de conquistar se queria vencer em Novembro. E aquela serpente fugidia formada em Harvard já se lhe estava a escapar por entre os dedos! Muito antes de o bispo ter chegado ao fim das suas exegeses e desculpas, já o mayor tinha abandonado a ideia de uma comissão especial sobre o crime em Nova Iorque.
— Lamento muito — disse o bispo — mas a política da nossa igreja não me deixa outra alternativa.
— Oh, eu compreendo — disse o mayor. — Se não pode, não pode. Não consigo pensar em ninguém que eumais gostasse de ver nessa comissão, mas compreendo perfeitamente a sua situação.
— Lamento duplamente ter de lhe dizer isto, Mr. Mayor, tendo em vista o que o senhor acaba de fazer pela nossa igreja. — O bispo perguntava a si próprio se a decisão do outro continuaria de pé.
— Oh, não se preocupe com isso — disse o mayor. — Não se preocupe, a sério. Como lhe disse, não o fiz nem por si nem pela sua igreja. Fi-lo porque achei que era a decisão que melhor defendia os interesses da cidade. É tão simples
quanto isto.
— Bom, mas mesmo assim fico-lhe muito grato — disse o bispo, pondo-se de pé — e pode crer que toda a diocese lhe ficará igualmente grata. Eu empenhar-me-ei pessoalmente
nisso.
-Não é necessário — disse o mayor. — É agradável
deparar de vez em quando com uma proposta que tem, em si mesma, uma lógica irresistível.
O mayor endereçou ao bispo o seu mais largo sorriso, olhou-o bem de frente, apertou-lhe a mão e continuou a sorrir até ele sair da sala. Ao regressar à sua secretária, carregou num botão e disse: — Ligue-me para o presidente da Comissão do Cadastro.
A seguir ouviu um pequeno bip-bip, levantou o auscultador e disse: — Mort? Sabes, aquela igreja de St.Timothy?... Exactamente... Declara-a de interesse público! LIXA-ME ESSE FILHO DA MÃE!
28 - Desta para Melhor
— Ouça, Sherman. Acha mesmo que ela ainda está muito preocupada em saber se você é ou não é um cavalheiro, nesta altura da história? Acha que ela vai prejudicar voluntariamente os seus próprios interesses para o ajudar? Ela nem sequer fala consigo, bolas!
— Não sei.
— Mas eu sei. Ainda não está a ver o filme? Ela casou com o Ruskin, caramba, e o que é que lhe parece que sentia por ele? Aposto que andou a estudar a lista das grandes fortunas. Percebe? Aposto consigo que andou a estudar a merda da lista das grandes fortunas.
— Talvez tenha razão. Mas isso não é desculpa para o que eu venha a fazer. Estamos a falar de um funeral, do funeral do marido dela!
Killian riu. — Pode-lhe chamar funeral se quiser. Para ela é dia de Natal.
— Mas fazer uma coisa dessas a uma viúva, no dia do enterro do marido, praticamente em cima do cadáver!
— Está bem. Deixe-me pôr-lhe o problema de outra maneira. O que é que você quer, uma medalha por bom comportamento... ou o seu enterro?
Killian tinha os cotovelos apoiados nos braços da cadeira, atrás da secretária. Chegou-se à frente e inclinou a cabeça, como se dissesse: «O quê, Sherman? Não ouvi.»
E, nesse preciso instante, Sherman teve uma visão daquele lugar e daquela gente. Se tivesse de ir para a cadeia, ainda que só por alguns meses, ou, pior, por vários anos..
— É a única ocasião em que você tem a certeza de a encontrar — disse Killian. — Porra, ela no funeral do gajo tem mesmo de aparecer. E há-de falar consigo e com mais outros dez tipos no fim da cerimónia, na altura de lhe serem apresentadas as condolências.
Sherman baixou os olhos e disse: — Está bem. Eu faço isso.
— Pode crer — disse Killian — que é perfeitamente legal, e dadas as circunstâncias é perfeitamente justo. Você não está a fazer nada contra a Maria Ruskin. Está a proteger-se a si próprio. E tem todo o direito de o fazer.
Sherman olhou para Killian e fez que sim com a cabeça, como se estivesse a autorizar o fim do mundo.
— É melhor começarmos já a tratar do assunto — disse Killian — antes que o Quigley vá almoçar. É ele que trata sempre destas coisas.
— Fazem isto assim tantas vezes?
— Já lhe disse que isto hoje em dia é um procedimento normal. Não vamos pôr um anúncio no jornal a dizer isso, mas a verdade é que nos fartamos de fazer gravações destas. Vou chamar o Quigley.
Killian levantou-se e saiu para o corredor. Os olhos de Sherman vaguearam pelo horrível gabinetezinho sem janelas. Que sítio indizivelmente lúgubre! E, no entanto, ele ali estava. Era o seu último reduto. Estava ali sentado, por sua livre vontade, à espera que lhe escondessem um gravador no corpo para poder roubar, mediante o mais indecente dos truques, um testemunho a alguém que em tempos tinha amado. Acenou com a cabeça, como se houvesse mais alguém na sala, e esse aceno significava: «Pois, mas é isso mesmo que eu vou fazer.»
Killian tornou a aparecer com Quigley. No cinturão de Quigley, do lado esquerdo, via-se um revólver de calibre 38, enfiado num coldre, com a coronha voltada para a frente. Entrou com uma espécie de pasta na mão. Sorriu para Sherman de maneira bastante brusca, um sorriso profissional.
— O.K. — disse Quigley a Sherman — agora vai ter de tirar a camisa.
Sherman fez o que lhe mandavam. A vaidade física do macho não conhece limites. A preocupação imediata de Sherman foi que as formas dos seus músculos peitorais,abdominais e tricípites se desenhassem com suficiente nitidez para aqueles dois homens ficarem impressionados com o seu físico. Por um momento esta preocupação sobrepôs-se a tudo o resto. Ele sabia que se esticasse os braços para baixo com força, fingindo que os deixava simplesmente pender de ambos os lados do corpo, os tricípites se contrairiam.
Quigley disse: — Vou-lhe pôr o gravador aqui à altura dos rins. Você vai levar um casaco vestido, não vai?
— Vou.
— O.K. Então não há problema.
Quigley apoiou-se num joelho, abriu a pasta, tirou de lá os fios e o gravador, que era mais ou menos do tamanho de um baralho de cartas. O microfone era um cilindro cinzento do tamanho daquelas borrachinhas que vêm na extremidade de certos lápis, presas por uma cinta metálica. Primeiro, colou o gravador às costas de Sherman. Depois colou-lhe o fio à cintura, dando a volta ao corpo e subindo depois pelo abdómen até à concavidade entre os músculos peitorais, mesmo em cima do esterno, onde colocou o microfone.
— Está bom — disse. — Fica bastante enterrado. Não se vai notar nada, principalmente se você usar gravata.
Sherman tomou aquilo como um elogio.«Bastante enterrado... entre as saliências maciças dos meus muito viris músculos peitorais».
— O.K. — disse Quigley — já pode vestir a camisa, vamos experimentá-lo.
Sherman tornou a vestir a camisa e a gravata. Bom... o gravador estava agora instalado. O contacto frio do metal nos seus rins e no esterno... Tinha-se transformado nesse animal repelente, o... o... Mas repelente não passava, afinal, de uma palavra. Agora que se transformara realmente nessa criatura, já não sentia quaisquer laivos de culpa. O medo reformulara bem depressa o mapa da sua geografia moral.
— Tá bem — disse Killian. — Agora vamos preparar o que você lhe vai dizer. Você só precisa de lhe arrancar uma ou duas frases, mais nada, mas tem de saber exactamente como é que vai conseguir isso. Tá bom? Vamos a isso.
Apontou para a cadeira branca de plástico, e Sherman sentou-se para aprender aquela nobre arte do logro. — Logro, não — disse para consigo. — Verdade.
A Harold A. Burns, na Madison Avenue, já era, havia muitos anos, a sala mortuária mais elegante de Nova Iorque, mas Peter Fallow nunca lá tinha posto os pés. A porta dupla, verde-escura, que dava para a Madison, era enquadrada poruma moldura solene de pilastras caneladas. O vestíbulo não teria mais de doze por doze pés. No entanto, assim que entrou, Fallow sentiu-se dominado por uma sensação avassaladora. A luz que enchia aquele pequeno espaço era inten-síssima, tão intensa que ele nem se atrevia a procurar a sua origem, com medo de ficar cego. No vestíbulo estava um homem calvo, de fato cinzento. Estendeu a Fallow um programa e disse-lhe: — Assine o registo, por favor. — Havia uma espécie de tribuna, sobre a qual estava um livro grande e uma esferográfica presa a uma corrente metálica. Fallow acrescentou o seu nome ao rol.
Quando os seus olhos começaram a adaptar-se à claridade, apercebeu-se de que o vestíbulo tinha uma segunda porta e de que alguém estava a olhar para ele. Não era alguém, aliás, mas sim várias pessoas... não, várias não... dezenas delas! Tantos olhos cravados na sua pessoa! Os parentes e amigos do morto estavam sentados naquilo que parecia a nave de uma pequena igreja, e todos olhavam para ele. Os bancos estavam voltados para uma espécie de palco, onde iria ter lugar o serviço fúnebre e diante do qual repousava o caixão do recém-desaparecido. O vestíbulo era um segundo palco, um palco lateral, e virando ligeiramente a cabeça os presentes podiam ver aqueles que iam chegando. E toda a gente virava a cabeça. Evidentemente! Aquilo era Manhattan. O Upper East Side! O querido defunto, que repousava naquela caixa lá adiante? Coitado, o pobre diabo já está arrumado, morto e bem morto. Mas os vivos — ah! — esses sim. Esses ainda vinham cheios da bela electricidade mundana da cidade! Não os que se vão, mas sim aqueles que entram! Iluminemo-los o mais que pudermos, medindo cuidadosamente o poder de irradiação de cada um!
Entravam uns atrás dos outros, o barão Hochswald, Nunnally Voyd, Bobby Shaflett, Red Pitt, Jackie Balch, os Bavardages, todos, toda a população atrevida das colunas sociais, mergulhando na luz ofuscante do vestíbulo com rostos tão convenientemente compungidos que Fallow teve vontade de rir. Com toda a solenidade, inscreviam os seus nomes no registo. Havia de dar uma boa olhadela àquela lista de autógrafos antes de sair.
Em breve a sala ficou apinhada. Um murmúrio percorreu a multidão. Abriu-se uma porta lateral que dava para o palco. As pessoas começaram a pôr-se de pé para verem melhor o que se ia passar. Fallow semiergueu-se no assento.
Bom, ali estava ele — Fallow, pelo menos, concluiu que devia ser ela. À cabeça do cortejo vinha... A Morena Misteriosa, a viúva Ruskin. Era uma mulher esguia envergando um saia-casaco de seda preta, de mangas compridas, com ombros larguíssimos, uma blusa também de seda preta e um chapéu preto em forma de fez, de onde saía um farto véu negro. Aquele trajo ia custar aos bens do falecido uns quantos bilhetes de avião para Meca. Com ela vinha uma meia-dúzia de pessoas. Duas delas eram os filhos do primeiro casamento de Ruskin, dois homens de meia-idade, ambos suficientemente velhos para poderem ser pais de Maria. Havia uma mulher de quarenta e tal anos que Fallow presumiu ser a filha do segundo casamento de Ruskin. Havia ainda uma mulher de idade, talvez a irmã de Ruskin, mais duas mulheres e dois homens que Fallow não fazia ideia quem fossem. Sentaram-se todos na fila da frente, próximo do caixão.
Fallow estava no lado da sala oposto ao da porta por onde Maria Ruskin entrara e por onde talvez tornasse a desaparecer no fim do serviço fúnebre. Talvez a abordagem exigisse alguma agressividade e má-criação jornalística. Fallow perguntou a si próprio se a viúva Ruskin teria contratado guarda-costas para aquela ocasião.
Um indivíduo alto, magro, vivo subiu os quatro ou cinco degraus do palco e dirigiu-se para a tribuna. Estava elegantemente vestido de luto, um fato azul assertoado, gravata preta, camisa branca e sapatos pretos bicudos. Fallow olhou para o seu programa. Aparentemente, aquele homem chamava-se B. Monte Griswold, e era director do Metropolitan Museum of Art. Extraiu do bolso do peito uns óculos de lentes bifocais, colocou algumas folhas de papel à sua frente, baixou os olhos, ergueu os olhos, tirou os óculos, fez uma pausa e disse, numa voz bastante aflautada:
— Não estamos aqui para chorar Arthur Ruskin mas para celebrar a sua vida tão cheia... e tão generosa.
Era uma coisa que punha Fallow de cabelos em pé, este pendor dos americanos para o pessoal e o sentimental. Os Américas nem sequer deixavam partir os mortos com um mínimo de dignidade. Todos os presentes na sala iam agora entrar no jogo. Fallow já pressentia o que viria a seguir, as tiradas patéticas a despropósito, as frases transbordantes de sentimento. Era o suficiente para reconciliar qualquer inglês com a Igreja Anglicana, no seio da qual a morte e os momentos mais importantes da vida eram sempre vistos a partir dos altos cumes do Divino, com uma elevação inalterável e admiravelmente formal.
Os incensadores de Ruskin demonstraram ser tão desprovidos de espírito e de bom gosto como Fallow previra, ou ainda mais. O primeiro foi um senador do Estado de Nova Iorque, Sidney Greenspan, que tinha um sotaque excepcionalmente plebeu, mesmo pelos padrões americanos. Insistiu na generosidade de Ruskin para com o United Jewish Appeal, referência infeliz tendo em conta a recente revelação de que o seu império financeiro assentava no transporte de muçulmanos para Meca. Ao senador seguiu-se um dos sócios de Ruskin, Raymond Radosz. Este começou o seu discurso de maneira mais agradável, com uma anedota do período em que ele e Ruskin tinham estado à beira da bancarrota, mas depois embrenhou-se numa tirada embaraçosa acerca das glórias da companhia de que eram ambos proprietários, a Rayart Equities, que manteria bem vivo o espírito de Artie — chamava-lhe sempre Artie — enquanto os empréstimos circulassem e os devedores fossem solventes. Depois veio um pianista dejazz, «o pianista preferido de Arthur», de nome Manny Leerman, para tocar um medley das «canções preferidas de Arthur». Manny Leerman era um homem gordo e ruivo que trazia vestido um fato assertoado azul-claro, que desabotoou laboriosamente depois de se sentar ao piano, para que a gola do casaco não subisse acima do nível do colarinho da camisa. As canções preferidas de Arthur eram September in the Rain, The Day Isrit Long Enough (When Im with You) e O Voo do Moscardo. Este último tema foi tocado de maneira entusiástica, mas não sem algumas falhas. Leerman concluiu a sua actuação rodando 180 graus no banco do piano, para logo se lembrar que não estava num clube nocturno e que não devia fazer uma vénia. Tornou a abotoar o casaco assertoado antes de sair do palco.
Depois veio o orador principal, Hubert Birnley, o actor de cinema, que tinha decidido que o que era preciso era insistir na nota ligeira e no lado humano de Arthur, o grande financeiro e transportador aéreo do mundo árabe. Enredou-se numa anedota cujo efeito dependia em grande medida de o auditório compreender o funcionamento dos sistemas de filtragem da água das piscinas em Palm Springs, Califórnia. Saiu do palco limpando com o lenço uma lágrima ao canto do olho.
O último orador do programa era o preceptor Myron Branoskowitz, da Congregação Achlomochom, de Bayside, Queens. Era um jovem corpulento, de umas trezentas libras de peso, que começou a cantar em hebraico numa voz sonora e límpida de tenor. As suas lamentações começaram a crescerem volume. Eram intermináveis e irreprimíveis. A sua voz encheu-se de soluços e vibratos. Quando era possível escolher entre acabar uma frase numa oitava mais alta ou numa mais baixa, ele subia invariavelmente, como um cantor de ópera num concerto, exibindo o seu virtuosismo. Deu à sua voz um tom lacrimejante que teria embaraçado o pior dos intérpretes da ópera Pagliacci. A princípio os presentes ficaram impressionados. Depois, quando a voz cresceu em volume, ficaram surpreendidos. A seguir ficaram preocupados, porque o rapaz parecia inchar cada vez mais, como uma rã. E agora começavam a olhar uns para os outros, cada um a perguntar a si próprio se o vizinho estaria a pensar a mesma coisa: «O rapaz está a gozar connosco». A voz subiu, subiu, culminando numa nota que mais parecia saída de um yodel, para depois mergulhar num registo mais grave, com uma cascata chorosa de vibratos, que acabou abruptamente, quando ninguém o esperava.
O serviço fúnebre tinha terminado. O público deixou-se ficar um momento quieto e em silêncio, mas Fallow não. Enfiou-se pelo corredor, ligeiramente curvado, e avançou o mais depressa que pôde para as filas da frente. Estava a dez ou doze filas da frente quando, diante de si, uma outra figura fez a mesma coisa.
Era um homem de fato azul-marinho, com um chapéu de aba direita e óculos escuros. Fallow só conseguiu ver num relance brevíssimo um dos lados da sua cara... o queixo... Era Sherman McCoy. Sem dúvida pusera o chapéu e os óculos para entrar na sala mortuária sem ser reconhecido. Contornou o primeiro banco e ficou junto do pequeno grupo de amigos da família. Fallow imitou-o. Agora conseguia ver-lhe o perfil. Era McCoy, não havia dúvida.
A multidão já se abandonava ao burburinho que sempre se faz ouvir no fim de um serviço fúnebre, aliviando a pressão acumulada ao longo de trinta ou quarenta minutos de respeito obrigatório por um homem rico que em vida não fora particularmente simpático nem amável. Um funcionário da sala mortuária segurava a pequena porta lateral para a viúva Ruskin poder sair. McCoy não saía de trás de um homem alto que era, afinal, como Fallow via agora, Monte Griswold, o mestre de cerimónias. Os oradores preparavam-se para ir ter com a família aos bastidores. McCoy e Fallow limitavam-se a fazer parte de um cortejo enlutado de fatos azuis-escuros e vestidos pretos. Fallow cruzou os braços para esconder os botões dourados do blazer, receando que ali parecessem deslocados.
Não havia o menor problema. O porteiro do salão mortuário só estava preocupado em dirigir para a outra sala os que estavam interessados em lá ir. A pequena porta dava para um lanço de escadas, no cimo do qual havia uma espécie de suite, um apartamento em miniatura. Toda a gente se tinha reunido numa pequena sala de recepções decorada com abajures em forma de balão e com painéis de tecido enquadrados por molduras douradas, ao estilo do século xix francês. Todos apresentavam as suas condolências à viúva, que mal se via atrás da barreira de fatos azuis. McCoy andava de um lado para o outro na periferia do grupo, ainda de óculos escuros. Fallow deixou-se ficar atrás de McCoy.
Ouvia a voz de barítono de Hubert Birnley dizer à viúva uma série de frases indistintas, decerto perfeitamente ocas e apropriadas às circunstâncias, com um triste mas encantador sorriso Birnley. Agora era a vez do Senador Greenspan, e ouvia-se a sua voz nasalada dizer, com toda a certeza, uma série de coisas erradas juntamente com as coisas apropriadas à ocasião. E depois chegou a vez de Monte Griswold, que disse, sem dúvida alguma, apenas coisas impecáveis, esperando receber da viúva um elogio pelo talento com que desempenhara as suas funções de mestre de cerimónias. Monte Griswold despediu-se da viúva Ruskine — pimba! — McCoy ficou diante dela. Fallow estava mesmo atrás. Via as feições de Maria Ruskin através do véu preto. Jovem e bela! Perfeita! O vestido acentuava-lhe o relevo dos seios e a forma do baixo ventre. Estava a olhar fixamente para McCoy. McCoy aproximou tanto o seu rosto do dela que a princípio Fallow pensou que ia beijá-la. Mas estava era a murmurar-lhe ao ouvido. A viúva Ruskin dizia qualquer coisa em voz baixa. Fallow aproximou-se mais. Inclinou-se o mais que pôde para McCoy.
Não conseguia perceber... Uma palavra aqui e ali... «Justo»... «essencial»... «os dois»... «carro...»
Carro. Assim que ouviu esta palavra, Fallow experimentou aquela sensação para que vive todo o jornalista. Ainda antes de o espírito conseguir digerir o que os ouvidos acabam de captar, um alarme põe em estado de alerta o sistema nervoso. Uma história! É um acontecimento de natureza nervosa, uma sensação tão palpável como qualquer outra, registada por um dos cinco sentidos. Uma história!
Bolas. McCoy estava outra vez a murmurar. Fallow aproximou-se ainda mais... «o outro»... «rampa»... «derrapou...»
Rampa! Derrapou!
A viúva ergueu a voz. — Shaman — aparentemente ela chamava-lhe Shaman — não podemos falar disso mais tarde?
Fallow não percebeu logo, dado o sotaque sulista de Maria. «Carta?», perguntou a si próprio (1). «Qualquer coisa relacionada com uma carta?» Depois percebeu que ela tinha dito tarde, mais tarde.
Agora era McCoy que erguia a voz: — ... tempo, Maria!... lá, ao meu lado... és a minha única testemunha!
— Não consigo pensar nisso tudo agora, Shaman. — A mesma voz tensa, terminando a frase com uma espécie de pequeno gemido gutural. — Não vês? Não vês onde estás? O meu marido morreu, Shaman.
Baixou os olhos e começou a ser sacudida pelos soluços. Imediatamente surgiu junto dela um homem gordo e atarracado. Era Raymond Radosz, um dos que tinham usado da palavra durante o serviço fúnebre.
Mais soluços. McCoy afastou-se rapidamente, saindo da sala. Por um instante Fallow dispôs-se a segui-lo, mas depois rodou sobre os calcanhares. A viúva Ruskin é que era agora o centro da história.
Radosz abraçava a viúva com tanta energia que deformava os ombros enormes do seu vestido de luto. Quase a fazia parecer corcunda. — Coragem, minha querida — dizia ele. — Você é uma miúda corajosa, e eu sei exactamente como é que se deve estar a sentir, porque eu e o Artie passámos juntos por muita coisa lhe posso dizer. O Artie havia de ter gostado do serviço fúnebre. Pode ter a certeza. Havia de ter gostado, com o senador e tudo.
Ficou à espera de um elogio.
A viúva Ruskin recompôs-se do seu desgosto. Era a única maneira de se libertar daqueles ardentes consolos. — Havia de ter gostado principalmente de o ouvir a si, Ray — disse. — Você era quem o conhecia melhor, e soube muito bem como falar dele. Sei que o Arthur vai repousar mais em paz depois daquilo que você disse.
— Ohhhhh!, bom, obrigado, Maria. Sabe, é que parecia que eu estava a ver o Artie à minha frente enquanto falava. Nem tive de pensar no que ia dizer. Saiu-me assim, pronto.
Finalmente o homem lá se foi embora, e Fallow aproximou-se. A viúva sorriu para ele, ligeiramente desconcertada por não saber quem ele era.
(1) A confusão é mais plausível no original: letter (carta) por later (mais tarde). (N. do T.)
— Sou Peter Fallow — disse. — Como talvez lhe tenham dito, eu estava com o seu marido quando ele morreu.
— Ah, sim — disse ela, olhando-o com curiosidade.
— Só queria que soubesse — disse Fallow — que ele não sofreu nada. Ficou logo inconsciente. Aconteceu — Fallow ergueu as mãos num gesto de impotência — assim, de um momento para o outro. Quero que saiba que se fez tudo o que era possível para o reanimar, pelo menos na minha opinião. Tentei fazer-lhe respiração artificial, e a Polícia chegou muito depressa. Sei bem como as pessoas às vezes ficam com dúvidas nestes casos, por isso quis que soubesse. Acabávamos de comer um excelente jantar e de ter uma excelente conversa. A última coisa que recordo é o riso maravilhoso do seu marido. Devo dizer-lhe, com toda a honestidade, que há maneiras piores... é uma perda terrível, mas não foi um fim terrível.
— Obrigada — disse ela. — É muito simpático da sua parte vir-me dizer isso. Tenho-me censurado tanto por não ter estado presente quando...
— Não devia censurar-se — disse Fallow.
A viúva Ruskin ergueu os olhos para ele e sorriu. Ele apercebeu-se do brilho dos olhos dela e da curiosa expressão dos seus lábios. Até no agradecer das condolências ela conseguia pôr uma ponta de sedução feminina.
Sem mudar de tom de voz, Fallow disse: — Não pude deixar de reparar que Mr. McCoy esteve a falar consigo.
A viúva sorria, com os lábios ligeiramente entreabertos. Primeiro desapareceu o sorriso. Depois os lábios cerraram-se.
— A verdade é que não pude deixar de ouvir a vossa conversa — disse Fallow. Depois, com uma expressão alegre e cordial e o mais perfeito sotaque de fim-de-semana no campo em Inglaterra, perguntou, como se pedisse uma informação acerca da lista de convidados para um jantar: — Pelo que percebi, era a senhora que ia no carro com Mr. McCoy quando ele teve aquele problema no Bronx.
Os olhos da viúva perderam todo o brilho.
— Fiquei com uma certa esperança de que me pudesse contar exactamente o que aconteceu naquela noite.
Maria Ruskin ficou mais um segundo a olhar fixamente para ele, e depois disse entre dentes: — Ouça, Mr.... Mr...— Fallow.
— ... Pencudo. Isto é o funeral do meu marido, e eu não o quero aqui. Está a perceber? Por isso ponha-se lá fora — e desintegre-se!
Virou-lhe as costas e encaminhou-se para junto de Radosz e de um grupo de fatos azuis e vestidos pretos.
Ao sair da sala mortuária Harold A. Burns, Fallow até estava zonzo com aquilo que conseguira saber. A história existia não apenas no seu espírito mas na sua pele e no seu plexo solar. Circulava como uma corrente eléctrica em cada axónio e dendrite do seu corpo. Assim que se sentasse diante do seu processador de texto, a história jorrar-lhe-ia dos dedos —já pronta. Não ia precisar de dizer, sugerir, insinuar, especular que a bela e agora fabulosamente rica Viúva Alegre Ruskin era a Morena Misteriosa. McCoy dissera-o por ele. «Lá, ao meu lado — a minha única testemunha!» A viúva Ruskin não abrira a boca — mas também não negara. Nem o negara quando o jornalista, o grande Fallow, quando eu... quando eu... quando eu... Era isso. Ia escrever tudo na primeira pessoa. Mais um exclusivo na primeira pessoa, como MORTE AO ESTILO DE NOVA IORQUE. Eu, Fallow — santo Deus, ansiava pelo processador de texto, tinha fome dele! A história vibrava-lhe no espírito, no coração, nas entranhas.
Mas obrigou-se a parar no vestíbulo para copiar os nomes de todas as almas famosas que tinham aparecido para apresentar as suas condolências à bela viúva do Transportador Judeu de Árabes para Meca, sem sonharem com o drama que se desenrolava mesmo debaixo dos seus tão sensíveis narizes. Em breve saberiam de tudo. Eu, Fallow!
No passeio, para lá da porta da entrada, viam-se gru-pinhos destas mesmas luminosas personagens, a maior parte embrenhadas naquele tipo de conversa sorridente e exuberante que os nova-iorquinos não conseguiam deixar de ter nas ocasiões em que exibem publicamente o seu elevado estatuto. Os funerais não constituíam excepção. O jovem e corpulento precentor, Myron Branoskowitz, estava a falar com — ou melhor, a falar a — um homem mais velho, de ar severo, cujo nome Fallow acabava de copiar do registo: Jonathan Buchman, presidente do conselho de administração da Colúmbia Records. O precentor falava com muita admiração. A expressão de Buchman era rígida, parecia paralisado pela sonora logorreia que jorrava tão incessantemente junto aos seus ouvidos.
— Não há problema! — dizia o precentor. Quase que gritava. — Não há problema nenhum! Já tenho as cassettes! Gravei todos os standards de Caruso! Posso levá-las amanhã ao seu escritório! Não tem um cartão que me dê?
A última coisa que Fallow viu antes de se afastar foi Buchman a tirar um cartão de uma elegante carteira de pele de crocodilo, enquanto Branoskowitz acrescentava, no mesmo tom declamatório:
— E o Mário Lanza, também! Também gravei as coisas do Mário Lanza! Também lhas posso levar!
— Bom...
— Não há problema!
29 - O Encontro
Na manhã seguinte, Kramer, Bernie e Fitzgibbon e os dois detectives, Martin e Goldberg, reuniram-se no gabinete de Abe Weiss. Era como um conselho de guerra. Weiss estava sentado à cabeceira da grande mesa de conferências de nogueira. Fitzgibbon e Goldberg estavam à sua esquerda; Kramer e Martin, à sua direita. O tema era a audiência preliminar com o júri do caso Sherman McCoy. Weiss não estava a gostar nada do que agora ouvia da boca de Martin. Kramer também não. De tempos a tempos Kramer olhava para o lado de Bernie Fitzgibbon. Tanto quanto podia ver, o rosto do outro era uma máscara de impassividade irlandesa, mas parecia emitir ondas curtas que diziam: «Eu bem vos tinha avisado.»
— Espere aí — disse Weiss. Dirigia-se a Martin. — Explique-me lá outra vez como é que apanharam esses dois indivíduos.
— Foi numa limpeza de crack — disse Martin.
— Uma limpeza de crack? — disse Weiss. — Que raio é isso de uma limpeza de crack?
— Uma limpeza de crack é... é o que nós agora passamos o tempo a fazer. Lá para cima, a uns quarteirões daqui, há uma zona com tantos traficantes de crack que mais parece uma feira. Uma boa parte dos edifícios estão abandonados, e nos outros, as pessoas que lá vivem até têm medo de pôr onariz fora de casa, porque na rua só se vê gente a vender crack, gente a comprar crack e gente a fumar crack. Por isso fazemos estas limpezas. Vamos lá e deitamos a mão a tudo o que mexe.
— E dá resultado?
— Claro. Fazemos a coisa umas duas ou três vezes, e eles mudam-se para outra zona. Já chegámos a um ponto em que, assim que o primeiro polícia aparece à esquina eles desatam a correr rua abaixo. É como nas obras, quando põem cargas de dinamite e as ratazanas desatam a fugir para todos os lados. Um dia alguém havia de levar uma câmara para filmar aquilo. Porra, é que é uma data de gente a correr pela rua ao mesmo tempo.
— Está bem — disse Weiss. — E então esses dois tipos que vocês apanharam conhecem o Roland Auburn?
— Conhecem. Todos eles conhecem o Roland.
— O.K. E aquilo que você nos contou, foi o Roland que lho disse a eles pessoalmente, ou foi uma coisa que eles ouviram dizer?
— Não, é o que se diz por aí.
— Nos meios do Bronx ligados ao crack — disse Weiss.
— Sim, acho que sim — disse Martin. — O.K., então conte lá.
— Bom, o que se diz é que o Roland viu por acaso o outro miúdo, o Henry Lamb, a caminho do Texas Fried Chicken, e foi atrás dele. O Roland gostava de fazer passar uns maus bocados ao outro puto. O Lamb era aquilo a que eles chamam um «menino bonito», um «menino da mamã», um rapaz que não «sai da casca». Ele nunca saía de casa para participar na vida de rua. Ia à escola, ia à igreja, queria ir para a universidade, não se metia em sarilhos — nem sequer era dali do bairro. A mãe andava a juntar dinheiro para pagar a entrada de uma casa em Springfield Gardens, senão nem ali viviam.
— Não foram esses dois tipos que lhe disseram isso tudo.
— Não, isto foi o que nós descobrimos acerca do miúdo e da mãe dele.
— Bom, mas o que eu quero saber é o que esses dois drogados lhe disseram.
— Só estava a tentar dar-lhe o enquadramento da coisa.
— Óptimo. Mas agora vamos ao que interessa.
— Tá bem. Bom, então o Roland vai muito bem a descer o Bruckner Boulevard com o Lamb. Passam pela rampa de acesso à via rápida em Hunts Point Avenue, e oRoland vê um monte de coisas a atravancar a rampa, pneus ou caixotes do lixo ou lá o que era, e percebe que alguém esteve ali a tentar assaltar carros. Por isso diz ao Lamb: «Anda lá, que eu mostro-te como é que se assalta um carro». O Lamb não quer de maneira nenhuma entrar numa coisa dessas, por isso o Roland diz-lhe: «Eu não vou assaltar ninguém, vou-te só mostrar como é que se faz. De que é que tens tanto medo?» A gozar à custa do miúdo, percebe, por ele ser tão menino da mamã. Então o puto vai para a rampa com ele, e quando dá por si está o Roland a atirar um pneu ou um caixote ou qualquer coisa assim para diante de um carro, de um Mercedes estupendo, onde vem o McCoy com mais uma fulana. O desgraçado do Lamb não faz nada, fica para ali especado. Provavelmente está morto de medo de ali estar, mas também tem medo de se pôr a fugir, por causa do Roland, que só resolveu fazer aquele número todo para lhe mostrar como ele é maricas. E depois alguma coisa corre mal, porque o McCoy e a mulher conseguem escapar-se dali, e o Lamb apanha uma pancada com a traseira do carro. Pelo menos é esta a versão que corre aí pelas ruas.
— Bom, é uma bela teoria. Mas encontraram alguém que tenha realmente ouvido o Roland dizer isso tudo?
Bernie Fitzgibbon interveio. — Esta teoria, pelo menos, explica porque é que o Lamb não disse nada acerca do atropelamento quando deu entrada no hospital. Não queria que ninguém ficasse a pensar que ele tinha estado envolvido num assalto. Só queria que lhe tratassem o pulso e o deixassem ir para casa.
— Pois — disse Weiss — mas isto por enquanto é só uma teoria apresentada por dois drogados. Esses gajos não distinguem entre o que ouviram e o que ouviram. — Fez girar o indicador contra a têmpora, sugerindo o desaparafusa-mento das testemunhas.
— Bom, mas acho que vale a pena verificar, Abe — disse Bernie. — Parece-me que, de qualquer maneira, devíamos dispor-nos a dar alguma atenção a esta versão da história.
Kramer ficou alarmado, ressentido e cheio de sentimentos protectores para com Roland Auburn. Nenhum dos outros se tinha dado ao trabalho de travar conhecimento com Roland, como ele. O rapaz não seria um santo, mas tinha muito de bom, e falara verdade.
Por isso disse a Bernie: — Não faz mal verificar, mas eu não preciso de fazer um grande esforço para pensar em duas ou três maneiras de uma teoria destas se ter espalhado. Querdizer, no fundo esta é a teoria do McCoy. É o que o McCoy impingiu ao Daily News e à televisão. Ou seja, a teoria já chegou à rua, e depois dá origem a testemunhos destes. É uma versão que resolve um dos nossos problemas, mas que levanta logo outros dez. Por exemplo, para que é que o Roland ia tentar assaltar um carro com um miúdo que ele sabe ser mole, um banana? E se o McCoy foi vítima de uma tentativa de assalto e atropelou um dos assaltantes, porque é que hesitou em dar parte do caso à Polícia? Se tivesse sido assim ele ia logo participar o acidente. — Kramer estalou os dedos e apercebeu-se de que a sua voz ganhara um tom fortemente agressivo.
— Concordo que levanta imensos problemas — disse Bernie. — Mais uma razão para não fazermos já a correr a audiência preliminar com o júri.
— Mas não podemos deixar de a fazer rapidamente — disse Weiss.
Kramer reparou que Bernie o olhava de uma certa maneira. Lia nos seus olhos escuros de irlandês uma quantidade de acusações mudas.
Nesse preciso instante o telefone sobre a secretária de Weiss tocou, com três bips suaves. Weiss levantou-se, foi até junto da secretária e atendeu.
— Está?... Está bem, passe-mo lá... Não, não vi o City Light... O quê? Deve estar a brincar...
Voltou-se para a mesa de reuniões e disse a Bernie: — É o Milt. Acho que nos tempos mais próximos vamos ter muito mais com que nos preocupar de que com essas teorias de drogados.
Instantes depois Milt Lubell, de olhos arregalados, ligeiramente esbaforido, entrava na sala com um exemplar do City Light. Pousou-o em cima da mesa de reuniões. A primeira página saltou-lhes logo aos olhos:
EXCLUSIVO City Light:
VIÚVA DE MAGNATE É RAPARIGA MISTÉRIO DO CASO MC COY 1 McCoy no Funeral: «Ajuda-me!»
Ao fundo da página, uma linha em caracteres mais pequenos dizia: Relato Presencial de Peter Fallow. Fotografias, págs. 3, 4, 5, 14, 15.
Todos os seis se puseram de pé e se inclinaram para a frente, com as mãos apoiadas na mesa de nogueira. As suascabeças convergiam para o epicentro, que era o título do jornal.
Weiss endireitou-se. A expressão do seu rosto era a do homem que sabe ser seu destino desempenhar o papel de chefe.
— Muito bem, o que vamos fazer é o seguinte. Milt, telefona para o Irv Stone do Canal 4. — E a seguir desfiou os nomes dos directores dos departamentos de informação de outros cinco canais. — Telefone também ao Fallow, e a esse tal Flannagan do News. E diga-lhes o seguinte: nós vamos interrogar essa mulher o mais depressa possível. Isso é a nossa declaração oficial. Sem os autorizar a citar-nos directamente, diga-lhes ainda que se for ela a.mulher que ia com o McCoy, se arrisca a ser também incriminada, porque foi ela que abandonou a cena do acidente depois de o McCoy atropelar o miúdo. Além disso, não participou a ocorrência. É atropelamento e fuga. Ele atropelou, ela fugiu. O.K.?
E, para Bernie: — Entretanto, vocês... — Olhou de fugida para Kramer, Martin e Goldberg, para lhes mostrar que o que ia dizer também os abrangia. — Vocês vão entrar em contacto com a mulher, e dizem-lhe exactamente a mesma coisa. «Lamentamos imenso a morte do seu marido, et caetera, et caetera, et caetera, mas precisamos urgentemente de um certo número de respostas, e se for você a pessoa que ia no carro com o McCoy, então está metida num grandecíssimo sarilho.» Mas se ela se dispuser a testemunhar contra o McCoy, garantimos-lhe imunidade perante o júri. — Para Kramer: — Não diga isto com todas as letras logo de início. Oh, que diabo, você sabe como é que há-de tratar do assunto.
Quando Kramer, Martin e Goldberg pararam diante do número 962 da Quinta Avenida, aquela zona do passeio parecia um campo de refugiados. Equipas de televisão, locutores de rádio, repórteres e fotógrafos estavam para ali sentados ou andavam de um lado para o outro, envergando osjeans, as camisolas de malha, os blusões com fechos éclair e os mocassins que constituíam o trajo habitual dos praticantes do seu ofício; os basbaques que observavam a cena também não estavam muito mais bem vestidos. Os polícias da 19.a Esquadra tinham colocado uma dupla fila de gradeamentos azuis formando um corredor diante da porta de entrada, para uso das pessoas que moravam no prédio. Um polícia de uniforme estava de guarda à porta. Para um prédio daqueles, de catorze andares e ocupando quase meio quarteirão, a entrada principal não era especialmente imponente.
No entanto, toda ela evidenciava a presença do dinheiro. Era uma porta de um só batente, de vidro fumado, com a ombreira de latão reluzente e protegida por uma grade ornamental de latão, que também brilhava. Um toldo estendia-se desde a porta até à beira do passeio. O toldo era sustentado por postes de latão ligados entre si por um varão do mesmo metal, igualmente polidos até parecerem feitos de ouro branco. Mais do que tudo o resto, era a eternidade do trabalho servil representado por todo aquele metal polido à mão que falava implicitamente de dinheiro. Atrás do vidro fumado da porta, Kramer via as silhuetas de dois porteiros de uniforme, e lembrou-se de Martin e do seu solilóquio acerca dos cretinos dos porteiros do prédio de McCoy.
Bom... e ele ali estava. Já olhara pelo menos mil vezes para aqueles prédios de habitação da Quinta Avenida, nos últimos tempos quase sempre ao domingo à tarde. Costumava agora ir ao parque com Rhoda, que empurrava o carrinho de bebé de Joshua, e o sol da tarde iluminava as grandes fachadas de calcário ao ponto de lhe fazer vir ao espírito a expressão «costa do ouro». Mas era uma simples observação, em que não entravam as suas emoções, a não ser talvez um vago sentimento de satisfação por poder passear num bairro tão luxuoso. Toda a gente sabia que as pessoas mais ricas de Nova Iorque viviam naqueles prédios. Mas a vida delas era uma coisa tão remota como um outro planeta. Essas pessoas eram meros tipos, muito para lá do alcance de qualquer concebível inveja. Eram Os Ricos. Kramer não seria capaz de dizer o nome de um único de entre eles.
Agora já era.
Kramer, Martin e Goldberg saíram do carro, e Martin disse qualquer coisa ao polícia de uniforme. A turba dos jornalistas maltrapilhos agitou-se. As suas roupas horríveis adejaram ao vento. Olharam os três homens da cabeça aos pés, farejando-os para ver se trariam o cheiro do caso McCoy.
Reconhecê-lo-iam? O carro não trazia nenhum distintivo, e até Martin e Goldberg vinham de fato e gravata, pelo que os três talvez passassem por indivíduos que por acaso tinham de visitar precisamente aquele prédio. Em contrapartida... ele já não era um simples funcionário anónimo do sistema de justiça criminal, pois não? Não era. O seu retrato (feito pela deliciosa Lucy Dellafloria) aparecera na televisão. O seu nome aparecera em todos os jornais. Começaram a andar pelo corredor entre as barreiras da Polícia. A meio caminho, Kramer sentiu-se abandonado. Nem umapalavra viera daquela enorme e irrequieta assembleia dos jornalistas de Nova Iorque.
E, então, ouviu: — Hei, Kramer! — Uma voz, do seu lado direito. O seu coração deu um pulo. — Kramer! — O seu primeiro impulso foi virar-se para esse lado e sorrir, mas resistiu. Devia continuar a andar e ignorá-los? Não, não devia dar-se ares superiores, pois não?... Por isso virou-se para o lado de onde vinha a voz com uma expressão muito séria no rosto.
Duas vozes ao mesmo tempo: — Hei, Kramer, vai...
— Quais são as acusações!...(
—... agora falar com ela?
— ... contra ela? Ouviu outra pessoa perguntar: — Quem é aquele? — E
alguém responder: — É Larry Kramer. É o procurador encarregado do caso.
Kramer manteve o mesmo ar sisudo e disse: — Não vos posso dizer nada por agora, amigos.
Amigos! Agora pertenciam-lhe, aqueles homens — a imprensa, que antes, pela parte que pessoalmente lhe tocava, não passava de uma abstracção. Agora olhava-os a todos de frente, àquela turba irrequieta, e eles ficavam suspensos de cada uma das suas palavras, de cada um dos seus movimentos. Um, dois, três fotógrafos estavam a postos. Ouvia-se o ruído dos disparos das suas máquinas. Uma equipa de televisão aproximava-se. Uma câmara de vídeo formava, diante da cabeça de um dos homens, uma protuberância semelhante a um chifre. Kramer deu alguns passos mais lentos e olhou fixamente para um dos repórteres, como se pensasse numa resposta, só para oferecer a todos aqueles homens durante mais alguns segundos a imagem do seu rosto sisudo. (Afinal de contas, eles estavam apenas a fazer o seu trabalho.)
Quando chegou com Martin e Goldberg à porta de entrada, Kramer disse aos dois porteiros, com voz gutural e autoritária: — Larry Kramer, da Procuradoria do Bronx. Estão à nossa espera.
Os porteiros precipitaram-se logo para o conduzir.
Lá em cima, a porta do apartamento foi aberta por um homenzinho de uniforme, que parecia indonésio ou coreano. Kramer entrou — e o que viu deixou-o deslumbrado. Não era de admirar, uma vez que o cenário fora concebido para deslumbrar pessoas bem mais acostumadas ao luxo do que Larry Kramer. Olhou de relance para Martin e Goldberg. Estavam tão embasbacados como ele... O tecto altíssimo, ocandelabro enorme, a escadaria de mármore, as pilastras caneladas, as pratas, o varandim, os grandes quadros, as molduras sumptuosas, cada uma das quais, só a moldura, devia ter custado mais ou menos metade do que um polícia ganha num ano. Os seus olhos devoravam tudo aquilo.
Kramer ouvia um aspirador a funcionar algures no andar de cima. Uma criada de uniforme preto e avental branco surgiu no pavimento de mármore da entrada e desapareceu logo a seguir. O mordomo oriental conduziu-os pelo átrio. Uma porta aberta deu-lhes a ver uma ampla sala inundada de luz proveniente das janelas mais altas que Kramer alguma vez vira numa casa particular. Delas se avistavam as copas das árvores do Central Park. O mordomo encaminhou-os para a sala contígua, mais pequena e mais escura. A sala, aliás, só por comparação se podia dizer escura; na realidade, uma única e alta janela, dando para o parque, deixava entrar tanta luz que a princípio os dois homens e a mulher que lá os esperavam só foram visíveis como silhuetas. Os dois homens estavam de pé; a mulher, sentada numa cadeira. Havia na sala uma escada de biblioteca, com rodinhas, uma grande secretária com aplicações douradas nas pernas curvas e bugigangas antigas em cima do tampo, além de dois pequenos sofás com uma grande mesa de café de madeira torneada entre eles, várias poltronas e... e mais uma data de material.
Uma das silhuetas saiu do foco de luz e disse: — Mr. Kramer? Eu sou Tucker Trigg.
«Tucker Trigg»: o gajo chamava-se mesmo assim. Era o advogado dela, da firma Curry, Goad & Pesterall. Kramer combinara aquele encontro por intermédio dele. Tucker Trigg tinha uma voz nasalada de WASP que conseguira logo intimidar Kramer, mas agora que o via, não o achava nada próximo da sua ideia de WASP. Trigg era grande, redondo, entroncado como um jogador de futebol que tivesse engordado de mais. Apertou-lhe a mão, e Tucker Trigg disse na sua voz de buzina:
—- Mr. Kramer, apresento-lhe Mrs. Ruskin.
Ela estava sentada numa poltrona de costas muito altas que fez lembrar a Kramer um daqueles filmes do Masterpiece Theatre. De pé ao lado dela estava um tipo alto de cabelos grisalhos. A viúva — como ela parecia nova e cheia de vida! Sexy, dissera Roland. Não devia ter sido brincadeira para Arthur Ruskin ter uma coisa daquelas nas mãos, já com setenta e um anos e o segundopacemaker. Ela envergava um vestido muito simples, de seda preta. O facto de os ombroslargos e o formato militar da gola serem extremamente chiques passou despercebido a Larry Kramer, mas as pernas dela não lhe passaram despercebidas. Ela tinha as pernas cruzadas. Kramer esforçou-se por impedir os seus olhos de percorrerem a curva reluzente do peito do seu pé, a curva cintilante da barriga da perna e a curva brilhante da coxa sob a seda preta. Esforçou-se o mais que pôde. Ela tinha um pescoço maravilhoso, esguio e branco como marfim, e os lábios ligeiramente entreabertos, e olhos escuros que pareciam embeber-se nos seus. Ficou aturdido.
— Lamento vir incomodá-la nestas circunstâncias — gaguejou. Sentiu imediatamente que tinha dito uma asneira. E se ela concluísse que noutras circunstâncias ele teria todo o gosto em incomodá-la?
— Oh, eu compreendo, Mr. Kramer — disse ela baixinho, com um sorriso corajoso. Oh, eu compiendo, Mr. Krimah. Seria mesmo só corajoso, o sorriso? Santo Deus, a maneira como ela olhava para ele!
Ficou sem saber o que dizer a seguir. Tucker Trigg resolveu-lhe o problema apresentando-lhe o homem que estava de pé ao lado da cadeira. Era um homem alto, mais velho. Tinha o cabelo grisalho elegantemente penteado para trás. Era raro ver em Nova Iorque alguém com um porte militar como o seu. Chamava-se Clifford Priddy, e era bem conhecido pelas suas defesas de pessoas famosas em processos-crime nos tribunais federais. Este sim, era um WASP da cabeça aos pés. Olhava as pessoas de cima para baixo, espetando um pouco o nariz longo e afilado. Vestia roupas requintadas e discretas, como só esses sacanas sabem arranjar. Os seus reluzentes sapatos pretos ajustavam-se na perfeição ao peito do pé e eram estreitos e elegantes na biqueira. Aquele homem fazia Kramer sentir-se desengonçado. Ele próprio calçava uns pesados sapatorros castanhos, com solas grossas e toscas como cornijas rochosas. Bom, mas este caso não se ia resolver num tribunal federal, onde ainda dominava a velha rede da Ivy League. Não, desta vez o que estava em jogo era o rude Bronx.
— Muito prazer, Mr. Kramer — disse Mr. Clifford Priddy com afabilidade.
— Prazer — disse Kramer, apertando-lhe a mão e pensando, «só quero ver se continuas com esse ar convencido quando puseres os pés em Gilbraltar».
Depois apresentou aos outros Martin e Goldberg, e toda a gente se sentou. Martin e Goldberg e Tucker Trigg e Clifford Priddy — que belo quarteto! Goldberg sentou-setodo curvado, um pouco intimidado, mas Martin continuava no seu papel de Turista Imperturbável. Os seus olhos dançavam pela sala inteira.
A jovem viúva de preto carregou num botão na mesa ao lado da sua cadeira. Descruzou e tornou a cruzar as pernas. As canelas sinuosas afastaram-se e encaixaram-se de novo uma na outra, e Kramer apressou-se a desviar os olhos. Olhou para a porta. Surgira aí uma criada, filipina, diria Kramer se lho perguntassem.
Maria olhou para Kramer e depois para Martin e Gold-berg e disse: — Algum dos senhores quer café?
Ninguém queria café. Ela disse: — Nora, eu queria tomar um café, e...
— Cora — disse a mulher, numa voz inexpressiva. Todas as cabeças se viraram para o seu lado, como se ela acabasse de exibir um revólver.
— ... e traga também algumas chávenas a mais, por favor — disse a viúva, ignorando a correcção — para o caso de algum dos senhores mudarem de opinião.
A gramática dela não é perfeita, pensou Kramer. Tentou descobrir exactamente o que é que estava errado no que Maria Ruskin acabava de dizer — mas nessa altura apercebeu-se de que estavam todos calados a olhar para ele. Era a sua vez de entrar em cena. Os lábios da viúva continuavam entreabertos no mesmo sorrisinho estranho. Seria coragem? Escárnio?
— Mrs. Ruskin — começou ele —, como lhe digo, lamento ter de a vir incomodar num momento como este, e fico muito grato pela sua boa vontade. Com certeza que Mr. Trigg e Mr. Priddy já lhe explicaram qual é o objectivo desta reunião, e eu quero apenas, aahhh... — Ela mexeu as pernas debaixo do vestido, e Kramer tentou não reparar no modo como as suas coxas se desenhavam debaixo da seda preta brilhante. —...ahhh, sublinhar que este caso, que envolve uma lesão extremamente séria, provavelmente fatal, de que foi vítima um jovem, Henry Lamb... este caso é altamente importante para a Procuradoria, porque é altamente importante para os habitantes do Condado do Bronx e para todos os habitantes desta cidade. — Fez uma pausa. Percebeu que estava a ser pomposo, mas não sabia como mudar de tom a meio da tirada. A presença daqueles advogados WASPs e a escala daquele palácio tinham despertado nele a veia grandi-loquente.
— Eu compreendo — disse a viúva, provavelmente para o ajudar. Tinha a cabeça ligeiramente inclinada, e sorria paraele como uma amiga íntima. Kramer sentiu-se dominado por uma vaga de sentimentos tumultuosos. Começava já a pensar no momento do julgamento. Às vezes o procurador tinha de trabalhar em condições de grande proximidade com as testemunhas mais dispostas a colaborar.
— É por isso que a sua colaboração seria para nós do maior valor. — Atirou a cabeça para trás, de modo a realçar imponência dos seus esternocleidomastoideus. — Bom, mas por agora eu só lhe quero tentar explicar o que vai acontecer se você colaborar connosco ou se, por qualquer motivo, decidir não colaborar, porque me parece que temos de ser muito claros neste ponto. Certas coisas dependerão, muito naturalmente, dessa sua decisão. Ora bem, antes de começar, devo recordar-lhe que... —Tornou a calar-se. Começara mal a frase e ia voltar com certeza a tropeçar na sintaxe. Mas não havia nada a fazer senão continuar. —...bom, a senhora é representada por advogados eminentes, por isso não preciso de lhe relembrar os seus direitos neste particular. — Neste particular. Para quê tantas frases feitas pomposas e despropositadas? — Mas sou obrigado a recordar-lhe que tem o direito de não fazer quaisquer declarações, se por algum motivo assim o preferir.
Olhou para ela e acenou com a cabeça, como se dissesse: «Fui claro?» Ela respondeu com outro aceno de cabeça, e ele reparou que os seus seios volumosos se agitavam sob a seda preta do vestido.
Pegou na sua pasta, que poisara ao lado da cadeira, colocando-a nos joelhos, e desejou imediatamente que não fosse necessário fazê-lo. Os cantos e arestas amolgados da pasta eram um testemunho da sua posição inferior. (Um procurador-adjunto do Bronx, comum rendimento anual de 36000 dólares.) Olha para a maldita pasta! Toda estalada e esmurrada! Sentiu-se humilhado. O que é que passaria nesse momento pela cabeça daqueles WASPs de merda? Evitariam sorrir de desprezo apenas por motivos tácticos, ou devido à sua condescendência bem-educada de WASPs?
Da pasta extraiu duas folhas de papel amarelo dos tribunais cobertas de notas rabiscadas e um dossier cheio de material fotocopiado, incluindo alguns recortes de jornal. Depois fechou aquela mala que o denunciava e tornou a pousá-la no chão.
Olhou para os seus apontamentos. Depois olhou para Maria Ruskin. — Tanto quanto sabemos, são quatro as pessoas que têm um conhecimento directo deste caso — disse. — A primeira é a vítima, Henry Lamb, que se encontranum estado de coma aparentemente irreversível. A segunda é Mr. Sherman McCoy, acusado de fazer perigar a vida de terceiros, de abandonar a cena do acidente e de não participar a ocorrência à Polícia. Mr. McCoy nega a validade destas acusações. A terceira pessoa é um indivíduo que esteve presente no momento do acidente e que se apresentou agora, identificando, sem margem para dúvidas, o senhor McCoy como o condutor do carro que atropelou Mr. Lamb. Esta testemunha disse-nos que Mr. McCoy ia acompanhado por outra pessoa, uma mulher branca de vinte e poucos anos, e as informações que nos deu apresentam-na como cúmplice de um ou mais dos crimes de que Mr. McCoy é acusado. — Fez uma pausa, na esperança de obter maior efeito com o que ia dizer a seguir. — Essa testemunha identificou categoricamente essa mulher como sendo... a senhora.
Kramer calou-se então e olhou bem de frente para a viúva. A princípio ela aguentou-se na perfeição. Nem pestanejou. Conseguiu manter o seu lindo sorriso corajoso. Mas depois a sua maçã de Adão, quase imperceptivelmente, subiu e desceu, uma única vez.
Ela tinha engolido em seco!
Kramer sentiu-se invadido por uma sensação magnífica, em cada uma das suas células e das suas fibras nervosas. Naquele instante, no instante em que ela assim engolia em seco, a pasta esmurrada já não queria dizer nada, nem a pasta nem os seus sapatorros, nem o fato barato, nem o seu salário de miséria, nem o seu sotaque nova-iorquino, nem as barbaridades e os erros de gramática do seu discurso. Porque nesse momento ele tinha qualquer coisa que aqueles advogados WASPs, aqueles sócios imaculados das firmas da Wall Street, do mundo dos Currys & Goads & Pesteralls & Dunnings & Spongets & Leaches nunca conheceriam e nunca sentiriam o prazer inexprimível de possuir. E eles permaneceriam calados e reverentes, como agora estavam, e engoliriam em seco, cheios de medo, quando e se chegasse a vez deles. E agora compreendia o que é que lhe dava alento momentâneo, todas as manhãs, quando via a ilha fortificada surgir no alto da Grand Concourse, dominando os abismos do Bronx. Era nada mais, nada menos que o Poder, o mesmo Poder ao qual o próprio Abe Weiss se consagrava de alma e coração. Era o poder do Governo sobre a liberdade dos súbditos. Pensar nele em abstracto transformava-o numa coisa teórica e académica, mas senti-lo — ver a expressão da cara deles — a olhar para mim, instrumento e veículo do Poder — Arthur Rivera, Jimmy Dollard, Herbert 92 X, e o tipc a quemchamavam Chulo — até mesmo eles — e ver agora aquele pequeno sobressalto de pânico num pescoço perfeito que valia milhões — bom, os poetas nunca cantaram esse êxtase nem sonharam com ele, sequer, e não há promotor público, juiz, polícia ou funcionário de repartição fiscal que possa industriá-los, pois nem uns aos outros nos atrevemos a falar disso, não é verdade? — e no entanto sentimo-lo e conhecemo-lo sempre que eles olham para nós com esses olhos que imploram misericórdia ou, quando não misericórdia, uma intervenção divina, um golpe de sorte ou um gesto de generosidade caprichosa. (Só mais uma oportunidade!) O que são todas as fachadas de pedra da Quinta Avenida e todos os átrios de mármore e bibliotecas de móveis de couro e todas as riquezas da Wall Street diante do meu controlo sobre os vossos destinos e da vossa impotência perante o Poder?
Kramer prolongou aquele instante o mais que pôde, dentro dos limites da lógica e da decência, e ainda um bocadinho mais, já para além desses limites. Ninguém, nem os dois impecáveis advogados WASPs da Wall Street nem a jovem e bela viúva com os seus milhões recém-adquiridos, se atreveu a abrir a boca.
Então ele disse brandamente, paternalmente: — Muito bem. Vejamos agora o que isto significa.
Quando Sherman entrou no escritório de Killian, Killian disse: — Eiii!ii, então o que é isso? Para que é a cara de enterro? Quando eu lhe disser porque é que lhe pedi para cá vir aposto que já não se queixa da maçada de ter tido que sair de casa. Julga que o chamei aqui para lhe mostrar isto?
Empurrou o City Light para o outro lado da secretária. VIÚVA DE MAGNATE... Sherman mal olhou para o jornal. Aquilo já tinha tido ocasião de entrar, zumbindo e fervilhando, na cavidade aberta que ele agora era.
— Estava mesmo atrás de mim lá no salão mortuário. Esse tal Peter Fallow. E eu nem dei por ele.
— Não faz mal — disse Killian, que estava muito bem disposto. — Isso são águas passadas. São coisas que nós já sabemos. Não é verdade? Eu pedi-lhe para cá vir para lhe dar a grande notícia.
A verdade era que Sherman não se importava nada de fazer aquelas viagens até Reade Street. Ali sentado no apartamento... à espera da próxima ameaça telefónica... A própria imponência do apartamento parecia escarnecer daquilo a que ele se via agora reduzido. Ele ficava ali sentado à espera do próximo golpe. Tudo era preferível a isso. Ir de carro atéReade Street, deslocar-se horizontalmente sem resistênciaestupendo!, magnífico!
Sherman sentou-se, e Killian disse: — Não lhe quis explicar pelo telefone, mas a verdade é que recebi um telefonema muito interessante. A sorte grande, se quer saber!
Sherman limitou-se a olhar para ele.
— Maria Ruskin — disse Killian.
— Deve estar a brincar.
— Eu não ia brincar com uma coisa destas.
— A Maria telefonou-lhe?
— «Mistah Killian, o meu nome é Mahriiiah Ruskin. Sou amiga de um cliente seu, Mistah Shaman McCoy.» O que é que lhe parece, foi ela ou não foi?
— Meu Deus! O que é que ela disse? O que é que ela queria?
— Quer vê-lo.
— Diabos me levem...
— Quer vê-lo hoje à tarde às quatro e meia. Disse que você sabia o local.
— Diabos... me... levem... Sabe que ela ontem, no funeral, me disse que me ia telefonar? Mas eu não acreditei nem por um segundo. Ela explicou para que é que me queria ver?
— Não, e eu nem perguntei. Não quis dizer nada que a fizesse mudar de ideias. Só lhe disse que tinha a certeza absoluta que você não faltava. E tenho a certeza que não falta, meu amigo.
— Eu não lhe disse que ela telefonava?
— Ai disse? Ainda agora me esteve a dizer o contrário.
— Eu sei. Ontem eu não acreditei, porque ela fez tudo para me evitar. Mas eu não lhe tinha dito que ela não é do tipo cauteloso? Ela é uma jogadora. Não é o tipo de pessoa que joga pelo seguro. Ela gosta de baralhar as pistas, e o jogo dela é... bom, são os homens. O seu jogo é o direito, o meu são os investimentos e o dela são os homens.
Killian pôs-se a rir, mais por causa da mudança de humor de Sherman do que por outro motivo. — O.K. — disse—, óptimo. Então vá jogar com ela. Vamos a isso. Eu ainda tinha outro motivo para lhe pedir para cá vir em vez de ir eu lá a casa. É que temos de tornar a instalar o gravador.
Carregou num botão e disse para o intercomunicador: — Nina? Diga ao Ed Quigley para cá vir.
Às quatro e meia em ponto, com o coração a bater a bom ritmo, Sherman carregou na campainha que tinha escrito «4Boll». Ela devia estar à espera junto ao intercomunicador — por onde já não se podia falar, pois estava avariado — porque ele ouviu logo uma espécie de zumbido e o sonoro clic-clic-clic da fechadura eléctrica a abrir-se, e entrou no prédio. O cheiro foi-lhe imediatamente familiar, a atmosfera abafada, a passadeira imunda nas escadas. Eram as mesmas paredes de cor lúgubre, as mesmas portas esmurradas e a mesma luz fraca — familiares e ao mesmo tempo novas e assustadoras, como se ele nunca se tivesse dado ao trabalho de olhar bem para tudo aquilo. O maravilhoso encanto boémio do lugar desvanecera-se. Tinha agora a sensação desagradável de estar a ver um sonho erótico com os olhos de um realista. Como é que pudera descobrir naquilo algum encanto?
O ranger das escadas recordou-lhe coisas que preferiria esquecer. Ainda via o dachsund içar com esforço o seu corpo gordo e cilíndrico de degrau em degrau... «Pareces um chouriço molhado, Marshall))... E ele a suar... A suar, fizera três viagens escada acima, carregando as malas de Maria... E agora carregava o maior peso de todos. Venho com um gravador. Sentia o volume do gravador na zona dos rins, o microfone colado ao esterno; sentia, ou julgava sentir, a fita adesiva que lhe colava o fio ao corpo. Cada um desses elementos engenhosos, subtis, miniaturas, parecia aumentar de volume a cada passo. A sua pele ampliava-os, como uma língua a sentir o relevo de um dente partido. Devia ser mais que óbvio! A que ponto a sua cara deixaria transparecer o estratagema, o logro, a desonra?
Suspirou e descobriu que já estava a suar e a ofegar, da subida, da adrelina ou do pânico. O calor do seu corpo fazia com que a fita adesiva lhe irritasse a pele — ou seria imaginação sua?
Quando se viu diante da porta, dessa triste porta com a tinta estalada, respirava com esforço. Esperou um momento, suspirou e depois bateu à porta com o sinal que os dois sempre tinham usado, tap tap tap tap — tap tap.
A porta abriu-se devagar, mas não apareceu ninguém. E depois...
— Buu! — A cara dela surgiu de repente de trás da porta, com um grande sorriso. — Assustei-te?
— Nem por isso — disse Sherman. — Ultimamente tenho sido assustado por autênticos peritos.
Ela riu, e o riso dela pareceu-lhe genuíno. — Também tu? Fazemos um lindo par, não fazemos, Sherman? — E ao dizer isto estendeu os braços para ele, como para lhe dar um beijo de boas-vindas.
Sherman olhou para ela, estupefacto, confuso, paralisado. Os raciocínios sucediam-se na sua cabeça a uma velocidade que não lhe permitia ordená-los. Ali estava ela, com um vestido de seda preta, o seu vestido de luto, muito justo na cintura, acima e abaixo da qual se desenhavam as formas do seu corpo magnífico. Tinha os olhos muito abertos e brilhantes. O seu cabelo escuro era a própria perfeição, e tinha um brilho sumptuoso. Os seus lábios cheios de falso pudor, que sempre o tinham feito perder a cabeça, pareciam mais carnudos que nunca, e estavam entreabertos e sorridentes. Mas aquilo era apenas um conjunto indecifrável de roupas, carne e cabelos. Reparou na ligeira penugem escura dos antebraços dela. Devia deixar-se enlaçar por aqueles braços e beijá-la, se era isso que ela queria! Era um momento delicado! Precisava de a pôr do seu lado, de ganhar a sua confiança, durante o lapso de tempo suficiente para que certos factos fossem captados pelo microfone preso ao seu esterno e ficassem registados na fita magnética presa aos seus rins! Um momento delicado — e um dilema terrível! E se, ao abraçá-lo, ela sentisse o microfone, ou lhe passasse as mãos pelas costas? Nunca semelhante hipótese lhe passara pela cabeça, nem por um momento. (Como é que alguém podia querer beijar um homem que trazia um gravador colado às costas?) Mas seja lá como for — faz alguma coisa!
Então aproximou-se dela, inclinando os ombros para a frente e arqueando as costas, de modo a que ela não pudesse encostar-se ao seu peito. E foi asim que se beijaram, um corpo jovem, flexível e voluptuoso e um ser misteriosamente aleijado.
Soltou-se rapidamente dos braços dela, tentando sorrir, e ela olhou-o, como que para verificar se estava tudo bem.
— Tens razão, Maria. Somos um lindo par, aparecemos na primeira página dos jornais e tudo. — Sorriu filosoficamente. (E agora vamos ao que interessa!) Olhou nervosamente à sua volta. — Vá lá — disse ela — senta-te. — Fez um gesto na direcção da mesa de carvalho. — Vou-te arranjar uma bebida. O que é que queres?
Óptimo; vamos sentar-nos a conversar. — Tens whisky?
Ela foi à cozinha, e ele olhou para o peito para se assegurar de que o microfone não estava à vista. Tentou recapitular mentalmente todas as perguntas. Perguntou a si próprio se o gravador ainda estaria a funcionar.
Ela voltou logo com a bebida dele e uma bebida para ela, um líquido transparente, gin ou vodka. Sentou-se naoutra cadeira e cruzou as pernas, as suas pernas reluzentes, e sorriu para ele.
Ergueu o copo como para um brinde. Ele fez o mesmo.
— Pois é, aqui estamos, Sherman, o casal de que fala Nova Iorque inteira. Muita gente havia de gostar de ouvir esta nossa conversa.
O coração de Sherman deu um pulo. Estava morto por espreitar para o peito da camisa, para verificar se o microfone estava à vista. Estaria ela a insinuar alguma coisa? Examinou-lhe o rosto. Não conseguiu perceber se sim, se não.
— Pois é, aqui estamos — disse. — Para te dizer a verdade, pensei que tinhas resolvido desaparecer de vez. Não tenho tido uma vida muito agradável desde que te foste embora.
— Sherman, juro que não soube de nada até voltar para cá.
— Mas nem sequer me disseste para onde é que ias.
— Eu sei, mas é que isso não teve nada a ver contigo, Sherman. Eu... eu já andava desvairada de todo.
— Então se não teve a ver comigo teve a ver com quem? — Inclinou a cabeça e sorriu, para mostrar que não havia azedume na pergunta.
— Com o Arthur.
— Ah! Com o Arthur.
— Sim, com o Arthur. Tu julgas que eu tinha um arranjinho muito livre e agradável com ele, o que até certo ponto é verdade, mas também tinha de viver com ele, e com o Arthur nunca podia haver grandes liberdades. De uma maneira ou de outra ele acabava sempre por se desforrar. Já sabes que ele de repente resolveu desatar a insultar-me...
— Sim, tu contaste-me.
— A chamar-me puta e cabra diante dos criados ou de quem quer que estivesse presente, quando lhe dava na gana. Um ressentimento como tu não imaginas, Sherman! O Arthur quis uma mulher nova, mas depois começou foi a odiar-me por eu ser nova e ele ser um velho. Queria estar rodeado por pessoas que o excitassem e o interessassem, mas depois odiava-as e odiava-me a mim, porque elas eram minhas amigas ou porque estavam mais interessadas em mim do que nele. As únicas pessoas que se interessavam pelo Arthur eram velhos como aquele Ray Radosz. Deves ter visto a figura de parvo que ele fez no funeral. E depois foi lá para a outra sala abraçar-me! Julguei que me ia arrancar o vestido, caramba! Reparaste? Tu estavas tão transtornado! Eu bemme esforcei por te dizer que te acalmasses! Nunca te tinha visto assim. E aquele sacana narigudo do City Light, aquele bife hipócrita, estava mesmo atrás de ti. E ouviu tudo!
— Bem sei que estava transtornado — disse ele. Julguei que estavas a fugir de mim. Tive medo de que fosse aquela a minha última oportunidade de falar contigo.
— Não estava a fugir de ti, Sherman. É isso que eu estou a tentar explicar. A única pessoa de quem eu fugi foi do Arthur. Eu fui-me embora, pronto, eu... nem pensei no que estava a fazer. Fui-me embora. Fui para Como, mas sabia que lá ele acabava por me encontrar, por isso resolvi ir visitar a Isabel di Nodino. Ela tem uma casa na montanha, numa terrinha próximo de Como. Parece um daqueles castelos dos livros. Foi uma maravilha. Ninguém me telefonava, e nem sequer via os jornais.
Isolada do mundo, exceptuando, é claro, Filippo Chi-razzi. Mas isso pouco importava. O mais calmamente que conseguiu, disse: — Fico muito contente por ti, por te teres podido escapulir. Mas tu sabias que eu estava preocupado. Sabias do artigo do jornal, porque eu to tinha mostrado. — Não conseguia dissipar por completo a agitação da sua voz. — Na noite em que cá esteve aquele matulão maníaco... lembras-te com certeza!
— Vá lá, Sherman. Já estás a ficar outra vez todo transtornado.
— Já alguma vez foste presa? — perguntou ele.
— Não.
— Pois olha, eu já. Foi uma das coisas que fiz enquanto estiveste fora. Eu... — Calou-se de repente, ao aperceber-se de que estava a fazer uma coisa estúpida. Assustá-la com a perspectiva da cadeia era a última coisa que lhe convinha fazer neste momento. Por isso encolheu os ombros, sorriu e concluiu: — Bom, é uma experiência nova — como se dissesse: «Mas não tão má como se possa pensar.»
— Mas já me ameaçaram com a prisão — disse ela.
— O que é que queres dizer com isso?
— Um tipo da Procuradoria do Bronx veio hoje visitar-me, com dois polícias.
Esta revelação atingiu Sherman em cheio. — Verdade?
— Um sacaninha todo pomposo. Devia estar a achar-se muito importante. Esteve o tempo todo a inclinar a cabeça para trás e a fazer um movimento esquisito com o pescoço, assim, e a olhar-me com os olhinhos quase fechados. Que tipo horrível.
— O que é que tu lhe disseste? — Muito nervoso, agora. -Nada. Ele estava tão entretido a explicar o que mepodia fazer, que eu nem tive tempo de dizer nada.
— O que é que queres dizer com isso? — Um calafrio de pânico.
— Pôs-se a falar da testemunha dele. Sempre num tom muito pomposo e oficial. Nem sequer quis dizer quem era a tal testemunha, mas é evidente que só pode ser o outro rapaz, o maior. Não imaginas a figura de parvo que o homem fez.
— Como é que ele se chama? Kramer?
— É isso. Kramer.
— Então é o mesmo que esteve lá no tribunal quando eu fui citado.
— Ele não podia ter apresentado as coisas de maneira mais simples, Sherman. Disse que se eu testemunhasse contra ti e corroborasse as declarações da outra testemunha me garantia imunidade. De contrário, sou tratada como cúmplice e acusada de não sei quantos crimes, que já nem me lembro quais são.
— Mas com certeza...
— Até me deu fotocópias de uma data de artigos de jornal. Só faltou deixar-me instruções por escrito. Esta aqui é a versão correcta, esta é a que tu inventaste. E eu tenho de concordar com a versão correcta. Se disser o que aconteceu realmente, vou para a cadeia.
— Mas tu disseste-lhe o que aconteceu realmente, não?
— Eu não lhe disse nada. Quis falar contigo primeiro. Ele estava sentado na borda da cadeira. — Mas, Maria,
há certas coisas nesta história que são perfeitamente claras, e eles ainda nem sequer as sabem. Eles ainda só ouviram as mentiras desse miúdo que nos tentou assaltar! Por exemplo, a coisa não se passou numa rua, passou-se na rampa de acesso de uma via rápida, não foi? É nós parámos porque a rampa estava bloqueada, antes de vermos quem quer que fosse. Não foi? Não foi assim? — Percebeu que tinha levantado a voz.
Um sorriso terno e triste, o sorriso com que se olha aqueles que sofrem, surgiu no rosto de Maria, que se pôs de pé, com as mãos nas ancas e disse: — Sherman, Sherman, Sherman, és mesmo incorrigível, não és?
Inclinou para fora o pé direito, num gesto muito seu, e ficou uns segundos a fazê-lo rodar, apoiando-se apenas no salto alto do seu sapato preto. Depois olhou-o com os seus grandes olhos castanhos e estendeu as mãos para ele, de palmas voltadas para cima.
— Chega aqui, Sherman.
— Maria — isto é importante!
— Eu sei que é. Chega aqui, vá.
Santo Deus] Ela queria beijá-lo outra vez! Bom — então beija-a, idiota! É sinal de que está do teu lado! Beija-a, se queres salvar a pele! Sim! — mas como? Trago um gravador comigo! Um cartucho de vergonha no peito! Uma bomba de desonra nos rins! E quem sabe o que ela vai querer a seguir! Ir para a cama? E então, o que é que eu faço? Ora — que diabo, homem! A cara dela diz com todas as letras: «Sou tua!» Só ela é que te pode salvar! Não desperdices a ocasião! Faz alguma coisa! Vá!
Então levantou-se da cadeira. Avançou, cambaleante, para esse outro mundo de prazeres quase divinos. Inclinou-se para a frente, para que o peito dela não tocasse no seu e a zona dos rins estivesse fora do alcance das mãos dela. Beijou-a como um velhinho que se apoiasse numa cancela para tocar num pau de bandeira. A sua cabeça ficava assim a um nível bastante mais baixo que o normal. Tinha o queixo quase apoiado na clavícula dela.
— Sherman — disse ela — o que é que se passa? O que é que tens nas costas?
— Nada.
— Estás todo curvado!
— Desculpa. — Pôs-se de lado, com os braços ainda em roda dos ombros dela. Tentou beijá-la assim de lado.
— Sherman! — Ela recuou por instantes. — Estás todo torcido! O que é que se passa? Não queres que eu te toque?
— Não! Não é isso... acho que estou um bocado tenso. Tu não sabes o que eu tenho tido de aguentar. — Resolveu acrescentar mais alguma coisa, para ser mais convincente. — Não sabes a falta que me tens feito, as saudades que eu tenho tido de ti.
Ela observou-o com atenção, e depois lançou-lhe o olhar mais terno, mais molhado, mais labial que se possa imaginar. — Bom — disse — aqui me tens.
E avançou para ele. Agora é que era. Chega de te curvares, meu idiota! Pára de te torceres! Ia ter de correr o risco. Talvez o microfone ficasse suficientemente enterrado para ela não o sentir, especialmente se ele a beijasse — se a beijasse — se a beijasse apaixonadamente! Os braços dela ficariam à roda do seu pescoço. Enquanto os mantivesse aí, nunca chegariam à zona dos seus rins. A distância ainda era de algumas polegadas. Enfiou os braços por baixo dos dela, para a obrigar a enlaçar-lhe o pescoço. Apertou-lhe a partesuperior do tronco, pondo-lhe as mãos nas omoplatas, para impedir os braços dela de descerem. Era uma posição esquisita, mas ia ter de servir, por esta vez.
— Oh, Maria. — Semelhantes gemidos apaixonados não faziam nada o seu género, mas também iam ter de servir.
Beijou-a. Fechou os olhos para dar mais sinceridade à cena e concentrou-se em manter os braços apertados em volta do tronco dela. Sentia a pele ligeiramente suja de bâton, a saliva quente e o hálito de Maria, que exalava o característico aroma vegetal reclinado do gin.
Espera aí. Que diabo estava ela a fazer? Estava a fazer deslizar os braços por fora dos seus, em direcção às suas ancas! Ele ergueu os cotovelos e contraiu os músculos da parte superior dos braços para afastar os braços dela do seu corpo sem fazer um gesto demasiado óbvio. Tarde demais! Ela já tinha as mãos nos quadris dele, que puxava para junto dos seus. Mas os braços dela não eram suficientemente compridos! Mesmo assim, se ela conseguisse chegar com as mãos ao fundo das suas costas... Espetou o rabo para trás. Se os dedos dela se soltassem das suas ancas, talvez ela desistisse. Os dedos dela — onde estavam? Por momentos não sentiu nada. Depois — qualquer coisa na sua cintura, de um dos lados. Merda! Baralhá-la — era a única hipótese. Os lábios dela continuavam colados aos seus. Ela contorcia-se ritmita-mente e apaixonadamente no meio do cheiro vegetal intenso do gin. Ele contorceu-se também, meneando um pouco as ancas, para se soltar. Os dedos dela — tinha voltado a perdê-los. Tinha todas as fibras nervosas em estado de alerta, tentando detectar a presença daqueles dedos. De repente, os lábios dela deixaram de se mover. Continuavam unidos aos seus, mas o motor parara de funcionar. Ela afastou a boca, recuando a cabeça algumas polegadas, de modo que ele passou a ver três olhos vogando diante do seu rosto. Mas continuava com os braços à volta do seu corpo. Ele não gostou nada da maneira como aqueles três olhos vogavam à sua frente.
— Sherman... O que é que tens aqui nas costas?
— Nas costas? — Tentou mexer-se, mas ela não o soltou. Continuava a apertá-lo com os braços.
— Tens aqui um alto, uma coisa metálica, ou lá o que é... tens uma coisa qualquer aqui nas costas!
Agora ele sentia a pressão da mão dela. Tinha-a mesmo no sítio do gravador! Tentou virar-se um bocadinho para um dos lados, depois para o outro, mas ela continuava com amão no mesmo lugar. Contorceu-se todo, agora com mais energia. Nada feito! Ela não largava o gravador!
— Sherman, o que é isto?
— Não sei. O meu cinto... a fivela do meu cinto... não sei.
— A fivela do cinto não costuma ser nas costas!
E afastou o corpo do seu, mas sem largar a saliência do gravador.
— Maria! Que diabo!
Ele rodou o corpo para um dos lados, num arco de círculo, mas ela rodou com ele como um lutador à espera da sua oportunidade. Ele viu o rosto dela de relance. Um meio sorriso — meio sobrolho furiosamente carregado — uma feia manhã que despontava.
Ele girou sobre os calcanhares até se soltar. Ela olhou-o bem de frente.
— Sherman! — Shaman. Um sorriso de perplexidade, enquanto não chegava o momento de soltar um berro acusador. Muito devagar: — Eu quero saber... o que é que tens nas costas.
— Por amor de Deus, Maria. O que é que te deu? Não é nada. Talvez os botões dos suspensórios, não sei.
— Quero ver, Sherman.
— Ver, como?,
— Tira o casaco.— Que ideia foi essa?
— Tira-o. Quero ver.
— Isso é um disparate.
—Já aqui despiste muito mais do que o casaco, Sherman.
— Vá lá, Maria, estás a ser tonta.
— Então faz-me a vontade. Deixa-me ver o que tens nas costas.
Uma súplica: — Maria, vá lá. Não é altura para estarmos com brincadeiras parvas.
Ela aproximou-se dele, ainda com o mesmo sorriso terrível no rosto. Preparava-se para investigar por conta própria o que se passava! Sherman saltou para o lado. Ela perseguiu-o. Esquivou-se outra vez.
Uma gargalhadinha falsamente brincalhona: — Mas o que é que estás a fazer, Maria?
Começando a arfar: — Já vais ver! — E atirou-se a ele. Desta vez não se pôde esquivar. Ela tinha agora as mãos no seu peito — tentava arrancar-lhe a camisa! Ele cobriu-se como uma donzela.
— Maria!
Os berros começaram: — Estás a esconder-me algumacoisa, não estás?
— Tem calma...
— Estás a esconder alguma coisa! O que é que tens debaixo da camisa?
E tornou a atirar-se a ele. Ele esquivou-se, mas quando deu por si já ela estava atrás das suas costas. Tinha as mãos debaixo do seu casaco. Estava agarrada ao gravador, embora este ainda continuasse debaixo da camisa e a camisa continuasse enfiada dentro das calças. Sentiu-a descolar-lhe o gravador das costas.
— Tens aqui um fio, Sherman!
Ele agarrou-lhe a mão com força, para a impedir de tirar o aparelho para fora da camisa. Mas a mão dela estava debaixo do casaco, e a sua estava por cima. Começou a andar à roda, esforçando-se por se libertar daquela massa furibunda que não parava de se debater debaixo do seu casaco.
— É... é... um... gravador... meu... sacana!
As palavras saíam-lhe da boca em grunhidos horríveis, enquanto os dois se contorciam na luta. Só o esforço a impedia de guinchar desalmadamente.
Então ele conseguiu agarrar-lhe o pulso. Tinha de a obrigar a largá-lo. Apertou-lho cada vez com mais força.
— Estás... estás-me a magoar! Apertou ainda com mais força.
Ela deu um gritinho e largou-o. Por um momento ele ficou paralisado pela fúria que se espelhava no rosto dela.
— Sherman... meu sacana reles e desonesto!
— Maria, eu juro...
— Ai juras, hã? — E tornou a atirar-se a ele. Ele correu para a porta. Ela agarrou-se a uma das margens e às costas do seu casaco. Ele tentou libertar-se. A manga começou a descoser-se. Ele continuou a esforçar-se por chegar à porta. Sentia o gravador a bater-lhe nas nádegas. Estava agora por fora das calças, tinha saído de baixo da camisa e ficara pendurado ao corpo pelo fio.
Então houve um movimento brusco daquela mancha indistinta de seda preta, e ouviu-se um baque. Maria estava no chão. Um dos seus saltos altos tinha-se partido e as pernas cederam-lhe de repente sob o corpo. Sherman correu para a porta. Só a conseguiu abrir assim, ao empurrão, porque tinha o casaco puxado para baixo, prendendo-lhe os braços e as mãos.
Agora estava no patamar da escada. Ouviu Maria soluçar, e depois gritar-lhe:
— Vá, anda, corre! Foge com o rabo entre as pernas!
Era verdade. Ele descia as escadas, meio trôpego, com o gravador a pender-lhe ignominiosamente do traseiro. Sentiu-se mais reles do que qualquer cão.
Quando chegou à porta do prédio, a verdade atingiu-o como um raio. Por estupidez, incompetência e medo, acabava de desperdiçar a sua última esperança.
Oh, Senhor do Universo!
30 - Uma Boa Aluna
As salas da ilha fortificada onde se realizavam as audiências com o júri não eram como as salas de audiências normais. Eram pequenos anfiteatros. Os membros do júri ficavam numa bancada voltada para a mesa e a cadeira onde se sentavam as testemunhas. A um canto ficava a mesa do escrivão. Não havia juiz nestas audiências. O procurador mandava sentar as suas testemunhas e interrogava-as, e o júri decidia, ou que os indícios eram suficientemente fortes para levar o arguido a julgamento, ou que não o eram, e que o processo devia ser encerrado. A ideia subjacente a este procedimento, concebido em Inglaterra em 1681, era que o júri protegeria assim os cidadãos contra os promotores públicos menos escrupulosos. A ideia era essa, mas era uma ideia que entretanto se transformara numa autêntica anedota. Se o arguido quisesse testemunhar perante o júri, não podia levar o seu advogado para dentro da sala. Se ficasse a) perplexo, (b), petrificado ou (c) francamente indisposto com as perguntas do procurador, podia sair da sala e consultar o advogado lá fora, no átrio — proporcionando desse modo ao júri o espectáculo de um indivíduo (b) petrificado, ou seja de um réu com alguma coisa a esconder. Não havia muitos arguidos dispostos a correr o risco. As audiências com o júri tinham-se convertido num espectáculo encenado pelo procurador. Com raríssimas excepções, o júri fazia aquilo que o procurador sugerisse desejar que ele fizesse. Noventa e nove porcento das vezes, desejava que eles levassem o arguido a julgamento, e eles faziam-lhe a vontade sem sequer pestanejar. De resto, os membros do júri eram quase sempre defensores da lei e da ordem. Eram escolhidos entre os residentes de longa data da comunidade. Uma vez por outra quando as circunstâncias políticas o exigiam, um procurador podia querer que determinado processo fosse encerrado. Não havia problema; bastava formular de uma certa maneira a sua apresentação, fazer, por assim dizer, uma ou outra piscadela de olho verbal, e o júri seguia-o imediatamente. Mas geralmente usava-se o júri para levar as pessoas a julgamento, e, segundo uma frase famosa de Sol Wachter, presidente do Tribunal de Segunda Instância do Estado de Nova Iorque, o júri «até era capaz de levar a julgamento uma sanduíche de presunto», se lho pedissem.
O procurador presidia à sessão, apresentava os dados do caso, interrogava as testemunhas, fazia o resumo final. Ficava de pé, enquanto as testemunhas estavam sentadas. Discursava, gesticulava, andava de um lado para o outro, rodava sobre os calcanhares, abanava a cabeça em sinal de incredulidade ou exibia um sorriso de aprovação paternal, enquanto as testemunhas ficavam muito bem sentadas na sua cadeira e erguiam os olhos para ele à espera de orientação. Ele era ao mesmo tempo o encenador e a estrela no espectáculo do pequeno anfiteatro. O palco era todo dele.
E Larry Kramer ensaiara bem os seus actores.
O Roland Auburn que nessa manhã entrou na sala do júri não se parecia nada com o delinquente empedernido que se apresentara duas semanas antes no gabinete de Kramer, nem andava da mesma maneira que ele. Vestia uma camisa, se bem que não trouxesse gravata; já tinha sido suficientemente difícil conseguir enfiá-lo naquela pobre camisa Brooks Brothers. Trazia ainda um casaco desportivo de tweed azul acinzentado, acerca do qual tinha mais ou menos a mesma opinião, e umas calças pretas, que já eram dele e não tinham demasiado mau aspecto. O conjunto quase ficara arruinado por causa do problema dos sapatos. Roland tinha a obsessão dos ténis Reebok, que deviam estar sempre imaculados como se acabassem de sair da caixa. Em Rikers Island, conseguia arranjar dois pares novos por semana. Assim mostrava ao mundo que era um «duro» digno do respeito de todos quantos viviam dentro dos muros da prisão e um jogador hábil com ligações no exterior. Pedir-lhe que saísse de Rikers sem os seus Reebok brancos era como pedir a um cantor que rapasse o cabelo. Por isso Kramer acaboupor o deixar sair de Rikers com os Reebok nos pés, ficando combinado que calçaria uns sapatos de pele no carro, antes de chegar ao tribunal. Os sapatos eram uma espécie de mocassins, um tipo de calçado que Roland achava digno do maior desprezo. Exigiu garantias de que ninguém seu conhecido ou que o pudesse conhecer tivesse a possibilidade de o ver naquele estado. O último problema foi o Andar do Chulo. Roland era comm um atleta que há já muito tempo só corresse a maratona; era extremamente difícil modificar-lhe a passada. Finalmente, Kramer teve uma ideia brilhante. Pôs Roland a andar com as mãos atrás das costas, da mesma maneira que vira andar o príncipe Filipe e o príncipe Carlos na televisão durante uma visita a um museu etnográfico da Nova Guiné. Funcionava! As mãos atrás das costas prendiam-lhe os ombros e os ombros presos anulavam o ritmo das ancas. Por isso, de manhã, quando Roland entrou na sala do júri, dirigindo-se para a mesa no centro do palco, com as suas roupas de estudante, poderia perfeitamente passar por um aluno de Lawrencevilíe, ruminando os seus poetas do Lago.
Roland sentou-se na cadeira das testemunhas da maneira que Kramer lhe ensinara; ou seja, sem se reclinar e afastar as pernas como se estivesse em casa, e sem fazer estalar as articulações dos dedos.
Kramer olhou para Roland, depois voltou-se para o lado do júri, deu alguns passos para um lado e para o outro e endereçou-lhes um sorriso pensativo de modo a anunciar-lhes sem dizer palavra: «É um indivíduo simpático e credível, o que têm aqui à vossa frente.»
Kramer pediu a Roland que dissesse qual a sua ocupação, e Roland disse baixinho, modestamente: — Sou artista. — Kramer perguntou-lhe se estava actualmente empregado. Não, não estava, disse Roland. Kramer acenou várias vezes com a cabeça, depois orientou as perguntas de modo a dar a conhecer ao certo porque é que aquele jovem cheio de talento, aquele jovem ansioso por encontrar uma saída para a sua criatividade não encontrara saída nenhuma e estava nesse momento em risco de ter que cumprir uma pequena pena de prisão por posse e tráfico de droga. (O Rei do Crack de Evergreen Avenue abdicara do trono, convertendo-se num mero escravo do meio ambiente.) Como o seu amigo Henry Lamb, mas sem as vantagens de Henry Lamb em termos de vida familiar estável, Roland desafiara os riscos esmagadores que ameaçam os jovens dos bairros sociais e conseguira conservar os seus sonhos intactos. O problemaera manter a harmonia entre o corpo e a alma, e era verdade que Roland caíra num tráfico pernicioso, embora nada invulgar no mundo do ghetto. Nem ele, o procurador, nem Roland, a testemunha, estavam a tentar esconder ou minimizar os seus pequenos delitos; mas dado o ambiente em que ele vivia esses delitos não deveriam anular a sua credibilidade junto de pessoas imparciais numa questão tão grave como era o destino de Henry Lamb.
Charles Dickens, que tão bem explicou a carreira de Oliver Twist, não teria feito melhor, pelo menos se tivesse de argumentar assim de pé, numa audiência com um júri do Bronx.
Em seguida Kramer conduziu Roland através da narrativa do atropelamento e fuga. Demorou-se com especial amor em determinado momento da história. Foi o momento em que a morena sexy chamou com um grito o homem mais alto que ia a guiar o carro.
— E o que é que ela lhe disse, Mr. Auburn?
— Disse: «Shaman, cuidado.»
— Disse Shaman?
— Foi o que eu ouvi.
— Importa-se de repetir esse nome, Mr. Auburn, exactamente da maneira que o ouviu nessa noite?
— Shaman.
— «Shaman, cuidado»?
— Assim mesmo. «Shaman, cuidado.»
— Obrigado. — Kramer virou-se para os jurados, e deixou aquele Shaman ficar a pairar no ar.
O indivíduo sentado no lugar da testemunha era um jovem, um jovem dessas ruas cruéis, cujos melhores e mais corajosos esforços não tinham bastado para salvar Henry Lamb da negligência criminosa e da irresponsabilidade de um quadro superior de um banco de investimentos residente na Park Avenue. Cari Brill, o proprietário de táxis «ciganos», entrou na sala e contou como Roland Auburn chamara efectivamente um dos seus táxis para socorrer Henry Lamb. Edgar (Curly Kale) Tubb contou como levara ao hospital Mr. Auburn e Mr. Lamb. Não se lembrava de nada que Mr. Lamb tivesse dito, excepto que tinha dores.
Os agentes William Martin e David Goldberg relataram a sua laboriosa investigação policial, que levara a identificar como proprietário do automóvel do qual só conheciam parte da matrícula, um quadro superior de um banco de investimentos, residente na Park Avenue, que ao ser interrogado se mostrara especialmente inquieto e evasivo. Contaram comoRoland Auburn, sem qualquer hesitação, identificara Sherman McCoy de entre uma série de fotografias. Um empregado de garagem chamado Daniel Podernli contou como Sherman McCoy saíra com o seu Mercedes desportivo na noite em questão, durante as horas em questão, e regressara algum tempo depois, nervoso e desalinhado.
Todos entravam e se sentavam à mesa, erguendo os olhos para o enérgico mas paciente procurador adjunto, em quem cada gesto, cada pausa, cada passo parecia dizer: «Basta deixar cada um deles contar a sua história à sua maneira e a verdade virá ao de cima.»
E depois mandou-a entrar a ela. Maria Ruskin entrou no anfiteatro vinda de uma antecâmara a cuja porta estava de plantão um guarda do tribunal. Ela estava soberba. Escolhera a nota certa na gama do seu guarda-roupa; um vestido preto com um casaco a condizer, debruado a veludo preto. Não se vestira demasiado bem nem demasiado mal. Estava perfeita no seu papel de viúva enlutada, com um assunto a tratar. No entanto, a sua juventude, a sua sensualidade, a sua presença erótica, a sua personalidade voluptuosa, pareciam prestes a irromper daquelas peças de roupa, daquele rosto estonteante mas digno, daquela impecável cabeleira escura pronta a despentear-se num louco abandono — a qualquer momento! — sob qualquer pretexto! — ao mínimo contacto! — à menor piscadela de olho! Kramer ouvia a agitação e o burburinho dos jurados. Também eles tinham lido os jornais. Tinham visto a televisão. A Morena Sexy, a Rapariga Misteriosa, a Viúva do Magnate — era ela.
Involuntariamente, Kramer contraiu os músculos do tronco, encolheu o abdómen e atirou para trás os ombros e a cabeça. Queria que ela reparasse no seu vigoroso peito e no seu pescoço, e não na sua pobre cabeça calva. Era uma pena não poder contar ao júri a história toda. Eles haviam de gostar. Haviam de o olhar com renovado respeito. O próprio facto de ela ter transposto aquela porta e estar agora sentada a esta mesa, no momento certo, fora um triunfo, um triunfo seu, e não meramente das suas palavras, mas da sua presença pessoal. Infelizmente, estava fora de causa contar-lhes a sua visita a casa da Morena Sexy, ao seu palácio climatizado.
Tivesse ela decidido corroborar a versão de McCoy acerca de um assalto numa rampa, e Kramer ter-se-ia visto em sérios apuros. Todo o caso passaria a depender da credibilidade de Roland Auburn, o ex-Rei do Crack que agora tentava eximir-se a uma pena de prisão. O testemunho de Roland Auburn constituía fundamento bastante para seabrir um processo, mas um fundamento não muito sólido, e Roland podia a qualquer momento deitar tudo a perder, não pelo que dissesse — Kramer não tinha a menor dúvida acerca da veracidade das suas afirmações — mas pela sua atitude. Mas agora tinha-a também a ela. Fora ao apartamento dela, olhara-a nos olhos, a ela e ao seu séquito de WASPs, e encurralara-a mercê de uma lógica irrefutável, jogando com o seu medo do Poder. Encurralara-a tão depressa e com tanta facilidade que ela mal tivera tempo de perceber o que se estava a passar. Engolira em seco — com a garganta de multimilionária — e pronto, não fora preciso mais nada. Ao fim da tarde os ilustres Tucker Trigg e Clifford Priddy — Trigg & Priddy, Priddy & Trigg — ó WASPs! — telefonavam-lhe para firmar os pormenores do acordo.
E agora ela estava ali sentada à sua frente, e ele olhava-a, cravava os seus olhos nos dela, primeiro muito seriamente, depois (ou pelo menos foi o que ele imaginou) com um brilho irónico.
— Queira fazer o favor de nos dizer o seu nome completo e morada.
— Maria Teresa Ruskin, Quinta Avenida, n.º 962.
Muito bem, Maria Teresa! Fora ele próprio, Kramer, quem descobrira que o seu segundo nome era Teresa. Imaginou que devia haver no júri duas ou três mulheres de certa idade, italianas e porto-riquenhos, e de facto elas lá estavam. Aquele Maria Teresa aproximá-la-ia delas. Era uma questão delicada, a do dinheiro e beleza daquela mulher. Os jurados estavam de boca aberta. Não se cansavam de a observar. Ela era o ser humano mais maravilhoso que lhes fora dado ver em carne e osso. Há quanto tempo não se sentaria naquela cadeira alguém que indicasse como morada a Quinta Avenida, na zona das Seventies? Ela era tudo o que eles não eram e (Kramer tinha disso a certeza) gostariam de ser: jovem, bela, elegante e infiel. No entanto, tudo isso podiam ser pontos a seu favor, desde que ela se mostrasse humilde e modesta e parecesse ligeiramente envergonhada dos seus enormes privilégios, desde que ela fosse sempre a pequena Maria Teresa de uma cidadezinha obscura da Carolina do Sul. Enquanto ela se esforçasse sinceramente por ser como nós, eles sentir-se-iam lisonjeados por se verem assim associados a ela nesta excursão ao mundo da justiça criminal, lisonjeados pelo sucesso e pela celebridade dela, pela própria aura do seu dinheiro.
Pediu-lhe que indicasse a sua ocupação. Ela hesitou, olhou-o com os lábios ligeiramente entreabertos, e depois disse: — Mmmmm... sou... acho que sou doméstica.
Um murmúrio de riso percorreu a bancada do júri, e Maria baixou os olhos, sorriu com modéstia e meneou ligeiramente a cabeça, como se dissesse: «Bem sei que parece ridículo, mas não sabia o que havia de dizer». Kramer percebeu, pela maneira como os jurados lhe sorriram, que até agora estavam do seu lado. Já estavam todos cativados por aquela ave tão rara e tão bonita que esvoaçava diante deles ali em pleno Bronx.
Kramer aproveitou a ocasião para dizer: — Convém lembrar aos jurados que o marido de Mrs. Ruskin, Mr. Arthur Ruskin, faleceu há cinco dias apenas. Nestas circunstâncias, estamos em dívida para com ela pela boa vontade de que deu mostras ao dispor-se a vir colaborar com o júri aqui presente num momento tão difícil.
Os jurados tornaram a olhar Maria dos pés à cabeça. Que rapariga tão corajosa!
Maria baixou os olhos, de uma maneira que lhe ficava especialmente bem.
Muito bem, Maria! «MariaTeresa»... «Doméstica»... Se ao menos ele pudesse proporcionar àqueles dignos jurados uma pequena exegese acerca do modo como a orientara nestes pequenos pormenores reveladores! Tudo muito verdadeiro e honesto! — mas mesmo a verdade e a honestidade podem desaparecer de um momento para o outro. Até agora ela tinha-se mostrado bastante fria para com ele, embora seguindo as suas orientações, o que não deixava de ser uma prova de respeito. Bom, mas no futuro haveria muitas mais sessões, quando começasse o julgamento — e mesmo agora, nesta sala, nestas circunstâncias austeras, na despojada tribuna da justiça, havia nela qualquer coisa — pronta a irromper! Um gesto do seu dedo... um simples piscar de olho... Calmamente, discretamente, para mostrar que sabia como aquilo devia ser difícil para ela, começou a interrogá-la acerca dos acontecimentos da noite fatídica. Mr. McCoy fora buscá-la ao Aeroporto Kennedy. (Não havia necessidade, naquela audiência, de explicar porquê.) Perdem-se no Bronx. Estão os dois um pouco ansiosos. Mr. McCoy segue pela faixa esquerda de uma grande avenida. Ela vê uma placa do lado direito, indicando uma saída para a via rápida. Ele guia de repente à direita, a grande velocidade. Vai direito a dois rapazes que estão na beira da calçada. Só os vê tarde de
mais. Dá um toque num, quase atropela o outro. Ela pede-lhe que pare. Ele pára.
— E agora, Mrs. Ruskin, diga-nos, se não se importa... Nesse momento, quando Mr. McCoy parou, o carro estava na rampa de acesso à via rápida ou na avenida propriamente dita?
— Estava na avenida.
— Na avenida.
— Sim.
— E foi uma barricada, uma barreira ou um obstáculo de algum outro tipo que obrigou Mr. McCoy a parar o carro no local onde parou?
— Não.
— Muito bem, conte-nos então o que aconteceu a seguir.
Mr. McCoy saiu para ver o que acontecera, e ela abriu a porta e olhou para trás. Viram os dois rapazes a aproximar-se do carro.
— Quer fazer o favor de nos dizer qual foi a sua reacção quando os viu aproximarem-se?
— Fiquei com medo. Julguei que nos iam atacar, por causa do que tinha acontecido.
— Porque Mr. McCoy tinha atropelado um deles?
— Sim. — Olhos baixos, talvez em sinal de vergonha.
— Algum deles os ameaçou verbalmente ou por meio de gestos?
— Não, não nos ameaçaram. — Mais envergonhada.
— Mas você pensou que eles a podiam atacar. , — Sim. — Num tom humilde.
Voz compreensiva: — É capaz de nos explicar porquê?
— Porque estávamos no Bronx, e era de noite.
Uma voz carinhosa, paternal: — Não terá sido também por os dois jovens serem negros?
Uma pausa. — Sim, também.
— Parece-lhe que Mr. McCoy sentiu a mesma coisa que a senhora?
— Sim.
— Alguma vez ele exprimiu verbalmente na sua presença o que tinha sentido na altura?
— Exprimiu, sim.
— O que é que disse?
— Não me lembro ao certo, mas conversámos mais tarde sobre caso, e ele disse que tinha sido como um combate na selva.
— Um combate na selva? Esses dois rapazes que se aproximavam do carro, depois de Mr. McCoy ter atropelado um deles — ele chamou a isso um combate na selva?
— Sim, foi o que ele disse.
Kramer fez uma pausa para não prejudicar o efeito. — Muito bem. Os dois jovens aproximam-se do carro de Mr. McCoy. O que é que a senhora fez então?
— O que é que eu fiz?
— O que é que fez, ou disse?
— Disse: «Sherman, cuidado». — Shaman. Um dos jurados soltou uma gargalhada.
Kramer disse: — Importa-se de repetir, Mrs. Ruskin? Repetir o que disse a Mr. McCoy?
— Disse-lhe: «Shaman, cuidado.»
— Ora bem, Mrs. Ruskin... se me permite... A senhora tem um sotaque bastante pronunciado. Diz o nome próprio de Mr. McCoy de maneira mais branda do que é habitual. Shaman. Não é verdade?
Um sorrisinho contrafeito, mas que lhe ficava muito bem, perpassou-lhe no rosto. — Penso que sim. É uma coisa que o senhor avalia com certeza melhor do que eu.
— Bom, importa-se de o pronunciar só mais uma vez à sua maneira? O nome próprio de Mr. McCoy?
— Shaman.
Kramer voltou-se para os jurados, olhando fixamente para eles. Shaman.
— Muito bem, Mrs. Ruskin, e o que é que aconteceu a seguir?
Ela contou como passara para o volante e Mr. McCoy entrara no carro pelo outro lado, e como arrancara a toda a velocidade, quase atingindo o rapaz que escapara por pouco ao atropelamento quando Mr. McCoy ia a guiar. Quando já estavam a salvo, na via rápida, ela quisera participar o acidente à Polícia. Mas Mr. McCoy opusera-se terminantemente à ideia.
— Porque é que ele tinha tanta relutância em participar o que se tinha passado?
— Disse que era ele que ia a guiar quando aquilo tinha acontecido, por isso a decisão era dele, e ele não ia participar coisa nenhuma.
— Sim, mas deve ter dado alguma razão.
— Ele disse que tinha sido um incidente na selva, que não ia servir de nada participar, e que não queria que o patrão e a mulher dele soubessem o que se tinha passado. Acho que era principalmente a mulher que o preocupava.
— Preocupava-o que ela soubesse que ele tinha atropelado uma pessoa?
— Preocupava-o que ela soubesse que ele me tinha ido buscar ao aeroporto. — Olhos baixos.
— E isso constituiu motivo suficiente para não participar que um rapaz tinha sido vítima de atropelamento, ficando, como se veio mais tarde a saber, em estado grave?
— Bom... não sei. Eu não posso saber ao certo o que é que lhe passou pela cabeça na altura. — Baixinho, numa voz triste.
Muito bem, Maria Teresa! Uma boa aluna! Fica-lhe muito bem reconhecer assim os limites do seu conhecimento!
E assim a linda viúva Ruskin enterrou completamente Mr. Sherman McCoy.
Kramer abandonou a sala do júri no estado de beatitude próprio dos atletas que acabam de conhecer um grande triunfo. Esforçou-se o mais que pôde por conter um sorriso.
— Hei, Larry!
Bernie Fitzgibbon corria atrás dele pelo corredor. Óptimo! Agora tinha uma história em grande para contar àquele duro irlandês.
Mas antes que pudesse abrir a boca para falar do seu triunfo, Bernie disse: — Larry, já viste isto?
E pôs-lhe debaixo dos olhos um exemplar do City Light.
Quigley, que acabava de entrar, pegou no City Light que estava em cima da secretária de Killian e leu em silêncio. Sherman estava sentado junto da secretária na horrível poltrona de fibra de vidro e desviou os olhos, mas mesmo assim continuava a ver a primeira página.
Uma barra ao cimo da página dizia: EXCLUSIVO! MAIS UMA BOMBA NO CASO McCOY!
No canto superior esquerdo, via-se uma fotografia de Maria com um vestido decotado, que deixava à vista boa parte dos seios, e os lábios entreabertos. A fotografia encaixava-se num título de enorme tipo negro, que rezava:
VEM TER COMIGO AO MEU NINHO DE AMOR DE RENDA LIMITADA!
Mais abaixo uma barra, em tipo mais pequeno:
MILIONÁRIA MARIA RECEBIA O NAMORADO McCOY NUM APARTAMENTO DE 331 DÓLARES POR MÊS:
Por Peter Fallow
Killian estava atrás da secretária, reclinado na sua cadeira giratória, a examinar o rosto sombrio de Sherman.
— Escute — disse Killian — não esteja ralado. É um artigo reles, mas não piora em nada a nossa situação. Talvez até ajude. É uma coisa que mina a credibilidade dela. O artigo apresenta-a como uma puta.
— É inteiramente verdade — disse Quigley num tom de voz que pretendia ser encorajador. — Agora já sabemos onde é que ela esteve quando o marido morreu. Esteve em Itália escondida com um puto chamado Filippo. E agora aparece este tal Winter a dizer que ela passava a vida a levar gajos lá para o apartamento. Este Winter é um espanto, não acha, Tommy?
— Um encanto de senhorio — disse Killian. E para Sherman: — Se Maria resolver queimá-lo, isto só pode ajudar. Não ajudará muito, mas sempre é alguma coisa.
— Eu não estava a pensar no processo — disse Sherman. Suspirou e enterrou o seu grande queixo entre as clavículas. — Estava a pensar na minha mulher. Agora é que se acabou tudo. Acho que elajá quase me tinha perdoado, ou pelo menos tinha decidido ficar comigo, manter a nossa família unida. Mas agora acabou-se.
— Você meteu-se com uma puta de luxo — disse Killian. — Acontece aos melhores. Não é uma coisa assim tão grave.
Puta? Para sua grande surpresa, Sherman sentiu uma súbita vontade de defender Maria. Mas o que disse foi: — Infelizmente, eu jurei à minha mulher que nunca... nunca tinha feito nada a não ser cortejá-la uma ou duas vezes.
— E acha mesmo que ela acreditou? — disse Killian.
— Isso não interessa — disse Sherman. — Eu jurei que era verdade, e depois pedi-lhe que me perdoasse. Fiz do caso um ponto de honra. E agora ela fica a saber, ao mesmo tempo que o resto de Nova Iorque, que o resto do mundo, pela primeira página de um jornal sensacionalista, que eu fui... sei lá... — E abanou a cabeça.
— Bom, mas não se pode dizer que tenha sido uma coisa muito séria — disse Quigley. — Essa mulher é uma puta de luxo, como o Tommy acaba de dizer.
— Não diga isso — disse Sherman em voz baixa e melancólica, sem olhar para Quigley. — Ela é a única pessoa decente no meio desta embrulhada toda.
Killian disse: — Tão decente que o vai lixar, se é que ainda não o fez.
— Ela estava disposta a portar-se decentemente para comigo — disse Sherman. — Estou convencido disso, e fui eu que a levei a mandar às urtigas as boas intenções.
— Não me lixe. Nem acredito no que estou a ouvir.
— Quando ela me telefonou a pedir-me que fosse ter com ela àquele apartamento, não foi para me queimar. Eu é que lá fui com um gravador... para a queimar a ela. O que é que ela tinha a ganhar em se encontrar comigo? Nada. Provavelmente, os advogados dela até a aconselharam a não ter mais contactos comigo.
Killian acenou com a cabeça: — Isso é verdade.
— Mas não é assim que funciona a cabeça da Maria. Ela não é nada cautelosa. Não passa a ser legalista de um dia para o outro só porque está numa situação difícil. Já lhe disse uma vez que o ambiente natural dela são os homens e é a pura verdade, da mesma maneira que o ambiente natural de um... de um golfinho é o mar.
— E se dissesse antes um tubarão? — disse Killian.
— Não, um tubarão não, de maneira nenhuma.
— Está bem, como queira. Então é uma sereia.
— Pode-lhe chamar o que quiser. Mas eu estou convencido que, fosse qual fosse a atitude que ela viesse a tomar em relação a mim, um homem com quem ela tinha estado envolvida, não ia tomá-la atrás de uma barreira de advogados — e ainda menos era capaz de vir falar comigo com um gravador escondido... para tentar arranjar provas. Fosse lá o que fosse que viesse a acontecer, ela queria ver-me, estar junto de mim, ter uma conversa a sério comigo, uma conversa honesta e não um jogo de palavras — e além disso, queria ir para a cama comigo. Pode achar que eu sou maluco, mas era exactamente isso que ela queria fazer.
Killian limitou-se a arquear as sobrancelhas.
— E também acredito que ela não foi para Itália para fugir às suas responsabilidades neste caso. Acho que foi exactamente pelo motivo que disse. Para se afastar do marido... e de mim... e eu não a censuro por isso... e para se divertir um bocado com um rapaz jeitoso. Se quiser pode-lhe chamar puta por isso, mas eu acho que foi ela a única pessoa que nesta história toda teve uma atitude decente.
-Pois foi, teve uma atitude muito decente, mas passou
por cima de si — disse Killian. — Qual é o número do telefone do serviço nocturno de emergência C. S. Lewis? Estou a ver que temos aqui toda uma nova concepção da moral.
Sherman bateu com o punho fechado na mão. — Mal consigo acreditar que fiz o que fiz. Se ao menos eu tivesse sido honesto com ela! Eu! Com todas as minhas pretensões de respeitabilidade e decência! E agora olhe só para isto.
Agarrou no City Light, mais do que disposto a atolar-se na sua pública vergonha. — «Ninho de amor»... «Apartamento para receber um namorado»... Uma fotografia da cama onde «a milionária Maria recebia McCoy»... É isto que a minha mulher deve estar agora a ver, ela e mais dois milhões de pessoas... e a minha filha... A minha filhinha tem quase sete anos. As amiguinhas dela são perfeitamente capazes de lhe explicar o que tudo isto quer dizer... Capazes e cheias de vontade de o fazer... Pode ter a certeza... Imagine só. Esse filho da mãe do Winter é tão reles que deixa entrar os jornalistas para tirarem uma fotografia à cama!
Quigley disse: — Eles são um perigo, Mr. McCoy, estes senhorios dos prédios de renda limitada. São completamente maníacos. Vivem com uma única ideia na cabeça de manhã à noite, e essa ideia é porem inquilinos na rua. Nenhum sici-liano odeia mais os seus inimigos do que um senhorio de apartamentos de renda limitada odeia os inquilinos. Acham que os inquilinos passam a vida a sugar-lhes o sangue. São doidos varridos. Este tipo vê no jornal a fotografia da Maria Ruskin, descobre que ela tem um apartamento de vinte assoalhadas na Quinta Avenida, fica desvairado e vai a correr contar a história ao primeiro jornal que encontra.
Sherman abriu o jornal na página 3, onde começava o artigo propriamente dito. O jornal trazia uma fotografia da fachada do prédio. Mais uma fotografia de Maria, com um ar jovem e sexy. Uma fotografia de Judy, com ar velho e esquelético. Uma fotografia do próprio Sherman, com o seu queixo aristocrático... e o seu largo sorrisso...
— Agora é que se acabou tudo — disse para consigo, mas suficientemente alto para que Killian e Quigley o ouvissem. Atolava-se, atolava-se outra vez, mergulhava cada vez mais fundo na sua vergonha... Leu em voz alta:
— «Winter disse estar de posse da informação de que Mrs. Ruskin pagava 750 dólares por mês por baixo da mesa à actual arrendatária do apartamento, Germaine Boll, que por sua vez pagava a renda limitada de 331 dólares». Isto éverdade — disse Sherman — mas só gostava de perceber como é que ele soube. Maria não lhe disse, e tenho a certeza de que a Germaine também não lhe ia dizer. Maria contou-me uma vez como é que fazia as coisas, mas eu nunca disse nada a ninguém.
— Onde? — perguntou Quigley.
— Onde, o quê?
— Onde é que foi que ela lhe contou?
— Foi... foi da última vez que eu estive com ela no apartamento. No dia em que saiu o primeiro artigo do City Light. Foi no dia em que aquele matulão lunático, aquele monstro hassídico, entrou pela porta dentro.
— Eiii! — disse Quigley. um sorriso iluminou-lhe a cara. — Está a ver o filme, Tommy?
— Não — disse Killian.
— Mas eu estou — disse Quigley. — Posso estar errado, mas acho que já estou a ver.
— A ver o quê?
— O filho da mãe é manhoso — disse Quigley.
— O que é que você está para aí a dizer?
— Depois explico-lhe — disse Quigley, sem deixar de sorrir. — Agora vou dar um salto até lá.
Saiu da sala e pôs-se a andar muito depressa pelo corredor.
— O que é que ele vai fazer? — perguntou Sherman.
— Não sei bem — disse Killian.
— Onde é que ele vai?
— Não sei. Eu dou-lhe carta branca. O Quigley é uma força da natureza.
O telefone de Killian tocou e ouviu-se a voz da recepcionista no intercomunicador. — Mr. Fitzgibbon na linha 3-0.
— Vou atender — disse Killian, pegando no auscultador. — Está, Bernie?
Killian ficou a ouvir de olhos baixos, mas espreitando de vez em quando para Sherman. Tomou alguns apontamentos. Sherman sentiu que o coração começava a bater-lhe desordenadamente.
— Com base em quê? — disse Killian. Ficou de novo à escuta. — Isso é treta, e vocês sabem muito bem que é treta... Sim, bom, eu... eu... O quê?... Quem é que vai ser o juiz?... Hã, hã... — Passado um bocado, disse: — Sim, ele vai lá estar. — E com estas palavras, ergueu os olhos para Sherman. — O.K. Obrigado, Bernie.
Desligou e disse a Sherman: — Bom... O júri decidiu que haverá julgamento. Ela resolveu tramá-lo.
— Ele disse-lhe isso?
— Não. Ele não pode dizer o que se passa nas audiências com o júri. Mas pô-lo nas entrelinhas.
— O que é que isso quer dizer? O que é que vai acontecer
agora?
— A primeira coisa que acontece é que amanhã de manhã o procurador apresenta uma petição ao tribunal para que seja fixada uma fiança mais alta.
— Uma fiança mais alta? Como é que eles podem fazer uma coisa dessas?
— O argumento é que, agora que você foi formalmente acusado, tem motivos mais fortes para tentar fugir à jurisdição do tribunal.
— Mas isso é absurdo!
— É claro que sim, mas é o que eles vão fazer, e você vai ter que estar presente.
A evidência da situação terrível em que se encontrava começava a impor-se a Sherman. — Quanto é que eles vão
pedir?
— O Bernie não sabe, mas vai ser uma data de massa. Meio milhão. No mínimo, um quarto de milhão. Uma soma disparatada qualquer. Isto é o Weiss a fazer-se aos títulos de primeira página e ao voto dos negros.
— Mas então eles podem mesmo fixar uma fiança tão
alta?
— Depende do juiz. A audiência vai ser com o Kovitsky, que também é o juiz supervisor do júri. É um tipo duro de roer, mas com ele pelo menos você sempre tem algumas hipóteses.
— Mas se eles conseguirem, quanto tempo é que eu tenho para arranjar o dinheiro?
— Quanto tempo? Assim que entregar o dinheiro, pode sair.
— Sair? — Um lampejo terrível. — Sair como?
— Sair da cadeia.
— Mas porque é que eu vou outra vez para a cadeia?
— Bom, assim que é fixada uma nova fiança, o réu fica preso até a depositar, a menos que a deposite imediatamente.
— Espere lá, Tommy. Quer dizer que, se me aumentarem a fiança amanhã de manhã, eu sou preso imediatamente, logo ali, assim que a fiança for fixada?
— Bom, sim, é isso. Mas não se esteja já a precipitar.
— Quer dizer que eles me prendem logo ali, no tribunal?
— Sim, se... Mas não...
— Prendem-me e levam-me para onde?
— Bom, para a Casa de Detenção de Bronx, provavelmente. Mas o que importa é que...
Sherman começou a abanar a cabeça. Sentia-se como se tivesse o interior do crânio em chamas. — É impossível, Tommy.
— Não se ponha já a imaginar o pior! Há coisas que nós podemos fazer.
Ainda a abanar a cabeça: — Não tenho maneira de arranjar hoje à tarde meio milhão de dólares para levar comigo numa mala amanhã de manhã.
— Não é disso que eu estou a falar, caramba! Aquilo vai ser uma audiência. O juiz tem que ouvir todos os argumentos. E nós temos bons argumentos a nosso favor.
— Pois sim — disse Sherman. — Você próprio disse que esta história é um autêntico futebol político. — Deixou pender a cabeça e continuou a abaná-la. — Meu Deus, Tommy, é impossível.
Ray Andriutti estava a devorar o seupepperoni e a beber o seu café aguado e Jimmy Caughey segurava no ar como um bastão a sua sanduíche de rosbife enquanto falava com alguém ao telefone acerca do caso de merda que acabava de lhe ser confiado. Kramer não tinha fome. Estava a ler o artigo do City Light. Tinha ficado fascinado. O ninho de amor de renda limitada, 331 dólares por mês. A revelação, no fundo, não afectava grandemente o caso, nem num sentido nem noutro. Maria Ruskin deixaria de ser a beldadezinha simpática que tanto sucesso fizera na audiência com o júri, mas continuaria a ser uma boa testemunha. E quando fizesse o seu dueto com Roland Auburn, Sherman McCoy ficaria arrumado de vez. Ninho de amor de renda limitada, 331 dólares por mês. Ia ou não ter coragem para telefonar a Mr. Hiellig Winter? Porque não? De qualquer maneira, teria sempre que falar com ele... ver se não conseguiria esclarecer melhor a relação de Maria Ruskin com Sherman McCoy no que dizia respeito ao... ao ninho de amor de renda limitada de 331 dólares por mês.
Sherman passou da sala de estar para o átrio de entrada e ouviu o som das solas dos seus sapatos no solene pavimento de mármore verde. Depois encaminhou-se para a biblioteca, ouvindo-se a si próprio dirigir-se para lá. Na biblioteca havia um candeeiro, ao lado de uma das poltronas, que ele ainda não acendera. Por isso acendeu-o. Todo o apartamento, os dois andares, estava inundado de luz e vibrante de silêncio. Ocoração de Sherman batia a bom ritmo. A cadeia — na manhã seguinte, iam tornar a enfiá-lo naquele sítio! Teve vontade de gritar por socorro, mas não havia ninguém naquele imenso apartamento nem lá fora.
Pensou numa faca. Em abstracto, não havia nada mais eficaz do que a lâmina de aço de uma grande faca de cozinha. Mas depois tentou imaginar a cena. Onde é que a espetaria? Seria capaz de suportar a dor? E se só conseguisse encher tudo de sangue? Atirar-se de uma janela. Quanto tempo demoraria a chegar ao chão, lançando-se daquela altura? Segundos... Intermináveis segundos... durante os quais pensaria em quê? No que o seu acto significaria para Campbell, em como estava a escolher a solução mais cobarde... Chegaria mesmo a pensar seriamente em fazê-lo? Ou seriam aquilo apenas especulações supersticiosas assentes na suposição de que, se fosse capaz de pensar no pior, também seria capaz de suportar... o que ia acontecer... voltar para aquele sítio? Não, não era capaz de suportar a ideia.
Pegou no auscultador do telefone e tornou a marcar o número de Southampton. Ninguém atendeu; durante toda a noite ninguém atendera, apesar de, segundo dissera a sua mãe, Judy e Campbell, Bonita, Miss Lyons e o cão terem trocado a casa da Rua 73 pela de Southampton ainda antes do meio-dia. Teria a mãe visto o artigo no jornal? Tinha. E Judy? Também. A mãe nem fora capaz de fazer quaisquer comentários. Era demasiado sórdido para assunto de conversa. E para Judy devia ter sido ainda muito pior! Ela não tinha ido para Southampton, de certeza! Tinha decidido desaparecer levando Campbell consigo... no Midwest... no seu Wisconsin natal... Um clarão da memória... As planícies desertas, apenas pontuadas por mães de água de alumínio prateado com forma de cogumelos modernistas, e por maciços de árvores raquíticas... Um suspiro... Campbell estaria melhor lá do que em Nova Iorque, a ter de viver com a recordação degradada de um pai que, na realidade, já não existia... um pai cortado de tudo o que define um ser humano, à excepção do seu nome, que era agora o de uma perversa personagem de banda desenhada, que os jornais, a televisão e os caluniadores de toda a espécie tinham toda a liberdade de manipular como bem entendessem... Afundando-se, afundando-se, afundando-se, entregou-se à ignomínia e à auto compaixão... até que, ao décimo primeiro ou décimo segundo toque, alguém atendeu o telefone.
— Está? ,
— Judy?
Uma pausa. — Pensei logo que devias ser tu — disse Judy.
— Deves ter visto o artigo — disse Sherman.
— Vi, sim.
— Bom, olha...
— A menos que queiras que eu desligue já, não toques sequer no assunto. Não vale a pena tentares.
Ele hesitou. — Como está Campbell?
— Está bem.
— O que é que ela sabe?
— Já percebeu que as coisas não estão bem. Sabe que há algum problema, mas não me parece que saiba o que é. Felizmente, a escola já acabou. Mesmo assim já é mau que chegue.
— Deixa-me explicar-te...
— Não. Não quero ouvir as tuas explicações. Desculpa, Sherman, mas não estou com vontade de te deixar insultar a minha inteligência. Já a insultaste que chegue.
— Está bem, mas pelo menos tenho de te dizer o que vai acontecer. Amanhã vou ser preso outra vez. Vou voltar para a cadeia.
Brandamente: — Porquê?
«.Porquê? Não interessa saber porquê! Estou aqui a gritar por socorro — para que me aconchegues! Mas já nem esse direito tenho!» Por isso, limitou-se a explicar-lhe o problema do aumento da fiança.
— Estou a ver — disse ela.
Ele esperou um momento, mas era aquilo apenas que ela tinha a dizer. — Judy, eu não sei se vou aguentar.
— Aguentar como?
— Foi horrível da primeira vez, e só pensei umas horas numa cela de detenção. Desta vez, vou ficar preso na Casa de Detenção do Bronx.
— Mas só até depositares a fiança.
— Mas não sei se sou capaz de aguentar nem que seja só um dia daquilo. Com esta publicidade toda, aquele sítio vai estar cheio de gente... cheia de ódio por mim... Quer dizer, já é mau que chegue quando eles não sabem quem uma pessoa é. Não podes imaginar... — calou-se. «Quero gritar por socorro!» Mas tinha perdido esse direito.
Ela apercebeu-se da angústia da voz dele. — Não sei o que é que te hei-de dizer, Sherman. Se eu pudesse estar contigo de alguma maneira, podes ter a certeza que estava. Mas tu parece que fazes de propósito para me tirares o tapete de baixo dos pés. Nós já tivemos esta conversa. O que é queeu ainda tenho para te dar? Eu só... tenho muita pena de ti, Sherman. Não sei que mais te hei-de dizer.
— Judy?
— Sim?
— Diz à Campbell que eu gosto muito dela. Diz-lhe... diz-lhe que se lembre do pai como da pessoa que estava ao pé dela antes de isto tudo acontecer. Diz-lhe que estas coisas todas modificam uma pessoa e que eu nunca mais vou ser o mesmo.
Desejava desesperadamente que Judy lhe perguntasse o que ele queria dizer com aquilo. Bastaria a mais tímida das perguntas para ele despejar tudo o que sentia. Mas ela só disse:
— Tenho a certeza de que ela vai gostar sempre de ti, aconteça o que acontecer.
— Judy?
— Sim?
— Lembras-te, quando vivíamos na Village, da maneira como eu saía para o trabalho?
— Como saías para o trabalho?
— Sim, quando eu comecei a trabalhar para a Pierce & Pierce. Lembras-te como eu me despedia de ti, de punho erguido, quando saía de casa, com a saudação do Black Power?
— Sim, lembro-me.
— Lembras-te porque era que eu fazia isso?
— Acho que sim.
- — Era para dizer que ia trabalhar para a Wall Street, sim, mas que nunca lhe pertenceria de alma e coração. Que me havia de servir da Wall Street para me revoltar contra ela e cortar com ela. Lembras-te disso? Judy não disse nada.
— Eu sei que acabou por não ser assim — continuou ele. — Mas lembro-me que era uma sensação maravilhosa. Tu, não?
Novo silêncio.
— Pois é, mas agora cortei com a Wall Street. Ou melhor, a Wall Street cortou comigo. Sei que não é a mesma coisa, mas curiosamente sinto que me libertei. — Calou-se, esperando que as suas palavras suscitassem algum comentário.
Por fim, Judy disse: — Sherman?
— Sim?
— Isso é uma recordação, Sherman, mas é uma recordação morta. — A voz dela começou a tremer. — Todas asnossas recordações desse tempo se degradaram de uma maneira terrível. Eu sei que não é isto que tu queres ouvir, mas sinto-me traída e humilhada. Eu também queria poder ser aquilo que fui há muito tempo, para te poder ajudar, mas não sou capaz. — Esforçando-se por conter as lágrimas.
— Já seria uma ajuda se me pudesses perdoar, se me desses uma última oportunidade.
— Não é a primeira vez que mo pedes, Sherman. Está bem, eu perdoo-te. E torno-te a perguntar: o que é que isso muda? — Começara a chorar baixinho.
Ele não tinha resposta e não havia mais nada a dizer.
Depois deixou-se ficar sentado no silêncio profusamente iluminado da biblioteca. Afundou-se na cadeira giratória diante da sua secretária. Sentia a pressão da beira do assento contra a parte inferior das coxas. Couro marroquino cor de sangue; 1100 dólares só para forrar as costas e o assento daquela cadeira. A porta da biblioteca estava aberta. Espreitou para o átrio de entrada. Aí, sobre o chão de mármore, viu as pernas extravagantemente curvadas de uma das poltronas Thomas Hope. Não era uma reprodução em mogno, era uma peça original, de pau-rosa. Pau-rosa! A alegria infantil com que Judy descobrira os seus originais de pau-rosa!
O telefone tocou. Era ela outra vez! Levantou imediatamente o auscultador.
— Está?
— Eiii!, Sherman! — O coração caiu-lhe aos pés. Era Killian. — Gostava que viesse agora até aqui. Tenho uma coisa para lhe mostrar.
— Você ainda está no escritório?
— Estou, e o Quigley também aqui está. Temos uma coisa para lhe mostrar.
— O que é?
— Mais vale não falar sobre isto pelo telefone. Quero que venha até cá.
— Está bem... vou já sair.
Fosse como fosse, já não aguentava ficar ali em casa nem mais um minuto.
No velho prédio de Reade Street, o porteiro da noite, que devia ser cipriota ou arménio, estava a ouvir um programa de música country num enorme rádio portátil. Sherman teve de parar na entrada para escrever o seu nome e a hora numa grande agenda. Com um sotaque cerrado, o porteiro acompanhava o refrão da cantiga:
My chins up
My smiles on My hearts feelin
down... (1)
Que soava mais ou menos assim na sua boca:
My chiiris op,
Maice a mailes on,My hats filliiridoan...
Sherman apanhou o elevador e seguiu pelo corredor silencioso e sombrio até chegar à porta com a placa de plástico gravado que dizia DERSHKIN, BELLAVITA, FISH-BEIN & SCHLOSSEL. Por um instante lembrou-se do pai. A porta estava fechada. Bateu, e passados cinco ou dez segundos Ed Quigley veio abrir.
— Eiii! Entre, entre! — disse Quigley. O seu rosto sisudo estava cheio de animação. Radioso, seria a palavra certa. De repente, parecia o melhor amigo de Sherman. Deixou escapar uma meia gargalhada enquanto conduzia Sherman para o gabinete de Killian.
Killian estava lá dentro com um sorriso de gato que conseguiu comer o canário. Em cima da sua secretária havia um grande gravador, que pertencia às regiões mais altas e mais sofisticadas do Reino do Audiovisual.
— Eiii!iiii! — disse Killian. — Sente-se aí. Segure-se bem. Espere só até ouvir isto.
Sherman sentou-se ao lado da secretária. O que é?
— Diga-me você a mim — disse Killian. Quigley ficou de pé ao lado de Killian, olhando para o aparelho e agitando-se como um menino de escola no palco à espera de receber um prémio. — Só não quero que esta coisa lhe dê demasiadas esperanças — disse Killian — porque isto levanta alguns problemas muito sérios, mas vai com certeza achar interessante.
Carregou num botão qualquer, e começou a ouvir-se um ténue ruído de fundo. Depois, uma voz masculina disse:
— Eu já sabia. Soube logo na altura. Devíamos ter participado imediatamente à polícia. — Durante um ou dois segundos, não reconheceu a voz. Depois percebeu o que era.
(1) «Tenho o queixo erguido Um sorriso nos lábios E o coração despedaçado...». (N. do T.)
É a minha voz! E continuou: — Não posso acreditar que estou... que estamos nesta situação.
Uma voz feminina: — Pois, mas agora é tarde demais, Sherman. Não há nada a fazer.
Toda aquela cena — o medo, a tensão, a atmosfera daquele momento — veio de novo abalar o sistema nervoso de Sherman... No esconderijo dela, ao fim da tarde do dia em que saíra no City Light o primeiro artigo sobre Henry Lamb... DIZ A MÃE DE UM JOVEM ESTUDANTE: POLÍCIA IGNORA ATROPELAMENTO SEGUIDO DE FUGA... Ainda via o título do jornal em cima daquela mesa de carvalho.
A voz dele: — Ora... contavas o que realmente aconteceu...
A voz dela: — Havia de fazer imenso sucesso. Dois rapazes obrigaram-nos a parar e tentaram assaltar-nos, mas tu atiraste com um pneu a um deles e eu arranquei dali como uma... como uma desvairada, mas não reparei que tinha atropelado uma pessoa.
— Bom, foi exactamente isso que aconteceu, Maria.
— Mas quem é que ia acreditar?...
Sherman olhou para Killian. Killian arvorara um sorrisinho. Ergueu a mão direita como para pedir a Sherman que continuasse a ouvir e não dissesse nada ainda. Killian tinha os olhos cravados no engenho mágico e os lábios contraídos para reprimir o largo sorriso que sentia ser seu direito exibir.
Pouco depois entrou em cena o Gigante. — O senhor vive aqui?
E a sua própria voz: — O que eu disse foi que não temos tempo para isto. — A frase soou terrivelmente snob e afectada. Tornou a sentir intensamente a humilhação daquele momento, a impressão horrível de estar prestes a ver-se envolvido num duelo masculino, muito provavelmente físico, que não tinha a menor hipótese de vencer.
— O senhor não vive aqui e ela não vive aqui. O que é que estão aqui a fazer?
A voz afectada: — Isso não é da sua conta! Agora faça o favor de sair!
— O senhor não tem nada que aqui estar. O.K.? Isto é um problema sério.
Depois a voz de Maria... A discussão... E um estrondo enorme, da cadeira a partir-se e do Gigante a estatelar-se no chão... A retirada ignominiosa do monstro... As gargalhadas loucas de Maria...
Por fim, a voz dela a dizer: — Germaine só paga 331 dólares por mês, e eu pago-lhe 750. Isto é um apartamento de renda limitada. Eles adoravam pô-la daqui para fora.
Em breve as vozes deixaram de se ouvir... E Sherman recordou, sentiu, aquela sessão espasmódica na cama...
Quando a gravação chegou ao fim, Sherman disse a Killian: — Meu Deus, é incrível. Como é que desencantaram isto?
Killian olhou para Sherman, mas apontou o indicador direito na direcção de Quigley. Por isso, Sherman olhou para Quigley. Era o momento de que Quigley estava à espera.
— Assim que você me disse onde é que ela lhe tinha falado das rendas, eu percebi. Porra, tive a certeza. Estes gajos são loucos. E este Hiellig Winter não é o primeiro. Gravadores activados pela voz, é o que é. Por isso fui directamente para lá. O figurão tem microfones escondidos na caixa do intercomunicador dos apartamentos. O gravador está na cave, num cacifo fechado à chave.
Sherman ficou a olhar para o rosto subitamente radiante do outro. — Mas para que é que ele se dá a esse trabalho?
— Para pôr os inquilinos na rua! — disse Quigley. — Metade das pessoas que vivem nestes apartamentos de renda limitada estão lá ilegalmente. Metade dos tipos subalugam-nos, como a sua amiga. Só que provar isso em tribunal é bastante difícil. Por isso, este chanfrado grava as conversas todas com um desses gravadores activados pela voz. E acredite que não é o primeiro nem será o último a fazer isso.
— Mas... mas isso não é ilegal?
— Ilegal! — disse Quigley, num tom eufórico. — Porra, é tão ilegal que passa das marcas! É tão ilegal que se ele agora entrasse por aquela porta e eu lhe dissesse «Olhe, roubei-lhe a merda da gravação. O que é que tem a dizer sobre isso?», ele só podia responder «Não sei de que é que você está a falar», e ir-se embora com o rabo entre as pernas. Eu já lhe tinha dito que estes tipos são chanfrados de todo.
— E você trouxe a gravação assim, sem mais nem menos? Como é que conseguiu lá entrar?
Quigley encolheu os ombros com sobranceria. — Isso não custou nada.
Sherman olhou para Killian. — Meu Deus... Então, talvez... Se isso está gravado, talvez... Logo a seguir ao acidente, Maria e eu fomos até ao apartamento e falámos de tudo o que tinha acabado de se passar. Se isso também estivesse gravado, era... era fantástico!
— Não está — disse Quigley. — Eu ouvi quilómetros e quilómetros desta coisa. Não recua até tão atrás. O tipo deve apagar as gravações de tempos a tempos para voltar a utilizar a fita, em vez de estar sempre a comprar fitas novas.
Sem desanimar, Sherman disse a Killian: — Bom, mas talvez isto chegue!
Quigley acrescentou ainda: — A propósito, olhe que você não é o único visitante que ela recebe lá no sítio.
Killian interrompeu-o: — Pois, bom, mas isso agora já só tem um interesse histórico. Ora bem, o problema é o seguinte, Sherman. Não quero que isto lhe dê demasiadas esperanças. Temos aqui dois problemas sérios. O primeiro é que ela nunca diz claramente que foi ela e não você que atropelou o miúdo. O que ela diz é indirecto. Parece quase sempre que se está a deixar levar por aquilo que você diz. Apesar de tudo, é uma boa arma. Tenho a certeza que chega para suscitar dúvidas no espírito dos jurados. Não há dúvida, ela parece corroborar a sua versão da tentativa de assalto. Mas temos outro problema, e para ser franco não faço ideia de como o poderemos resolver. Eu não posso de maneira nenhuma usar esta gravação como prova.
— Não pode? Porquê?
— Como o Ed disse, esta gravação é perfeitamente ilegal. Esse louco do Winter podia ir parar à cadeia por a ter feito. É completamente impossível usar como prova em tribunal uma gravação clandestina e ilegal.
— Então para que é que me mandou levar um gravador quando fui falar com ela? Também foi uma gravação clandestina. Porque é que essa já podia ser usada?
— É clandestina, mas não é ilegal. Você tem o direito de gravar as suas próprias conversas, secretamente ou não. Mas se forem as conversas de outras pessoas, já é ilegal. Se o louco do senhorio instalasse o gravador para gravar as suas próprias conversas, já não havia problema nenhum.
Sherman ficou a olhar para Killian de boca aberta, brutalmente esmagadas as suas tão recentes esperanças. — Mas não é justo! Isto são dados vitais! Eles não podem suprimir dados vitais só por causa desses pormenores técnicos!
— Tenho de lhe dar uma notícia, amigo. Podem, sim senhor. E era com certeza o que faziam. O que nós temos de fazer é arranjar uma maneira de usar esta gravação para levar alguém a dar-nos um testemunho legítimo. Arranjar, por exemplo, uma maneira de usar isto para obrigar a suaamiga Maria a deitar a história toda cá para fora. Tem alguma ideia brilhante?
Sherman ficou um momento a pensar. Depois suspirou e olhou para o vazio, para lá dos dois homens. Era completamente absurdo. — Nem sei como é que haviam de a convencer a ouvir a maldita gravação.
Killian olhou para Quigley. Quigley abanou a cabeça. Ficaram os três em silêncio.
— Espere aí — disse Sherman. — Deixe-me ver essa fita.
— Ver como? — perguntou Killian.
— Deixe-ma ver. Dê-ma cá.
— Tiro-a do gravador?
— Sim. — Sherman estendeu a mão.
Quigley rebobinou a fita e tirou-a do gravador com todo o cuidado, como se fosse uma preciosa peça de vidro feita à mão. Entregou-a a Sherman.
Sherman agarrou-a com ambas as mãos e pôs-se a olhar para ela. — Raios me partam — disse, erguendo os olhos para Killian. — É minha, não há dúvida.
— Sua, como?
— Esta fita é minha. Fui eu que a gravei.
Killian olhou-o com ar intrigado, como se estivesse à espera de perceber a piada. — Gravou-a como?
— Levei um gravador comigo nessa noite, porque tinha acabado de sair aquele artigo do City Light e eu pensei que talvez viesse a precisar de provas daquilo que realmente aconteceu. O que ouvimos agora mesmo é a gravação que eu fiz nessa noite. Esta fita é minha.
Killian ficou de boca aberta. — O que é que você está a dizer?
— Estou a dizer que fui eu que fiz esta gravação. Quem é que vai dizer que não fui? A fita está em meu poder. Não é verdade? Aqui está ela. Eu fiz esta gravação para ficar com um registo preciso da minha conversa com Maria. Diga-me, doutor, na sua opinião, esta fita é ou não válida para ser ouvida em tribunal?
Killian olhou para Quigley. — Foda-se, santo nome de Jesus! — disse. Depois olhou para Sherman. — Deixe-me lá ver se percebi bem, Mr. McCoy. Você está-me a dizer que levou um gravador consigo e fez esta gravação da sua conversa com Mrs. Ruskin?
— Exactamente. É válido em tribunal?
Killian olhou para Quigley, sorriu, depois tornou a fitar Sherman. — É perfeitamente possível, Mr. McCoy, perfeitamentepossível. Mas tem de me dizer uma coisa. Como é que fez a gravação? Que tipo de equipamento utilizou? Onde é que escondeu o gravador? Acho que se quer que o tribunal aceite isso como prova, o melhor é estar em condições de explicar tudo de fio a pavio.
— Bom — disse Sherman. — Primeiro gostava de ouvir aqui o Mr. Quigley adivinhar como foi que eu fiz. Ele parece um perito nestes assuntos. Gostava que ele tentasse adivinhar.
Quigley olhou para Killian.
— Vá lá, Ed — disse Killian. — Arrisque lá uma hipótese.
— Bom — disse Quigley. — Se fosse eu, arranjava um Nagra 2600, activado pela voz... — E começou a descrever com todo o pormenor o modo como se serviria do famoso gravador Nagra, como o esconderia na sua pessoa e como procuraria garantir a boa qualidade da gravação da conversa.
Quando chegou ao fim, Sherman disse: — Mr. Quigley, você é um verdadeiro perito neste domínio. Porque, sabe uma coisa? Foi exactamente isso que eu fiz. Não se esqueceu de nada. — E olhou para Killian. — Aí tem. O que é que lhe parece?
— Eu já lhe digo o que é que me parece — disse lentamente Killian. — Raios, você está-me a surpreender! Não pensei que fosse capaz de ir tão longe.
— Nem eu — disse Sherman. — Mas nos últimos dias foi-se fazendo luz no meu espírito. Eu já não sou Sherman McCoy. Sou outra pessoa, uma pessoa sem nome. Sou essa pessoa desde o dia em que fui preso. Eu sabia que alguma coisa... alguma coisa fundamental tinha acontecido nesse dia, mas a princípio não percebi o que era. A princípio julguei que continuava a ser Sherman McCoy e que Sherman McCoy estava a atravessar um período de grande azar. Mas nos últimos dias, comecei a aperceber-me da verdade. Eu sou outra pessoa. Já não tenho nada a ver com a Wall Street nem com a Park Avenue nem com Yale nem com St. Pauls nem com Buckley nem com o Leão da Dunning Sponget.
— O leão da Dunning Sponget? — perguntou Killian.
— Foi assim que eu sempre pensei no meu pai. Era um chefe, ele, um aristocrata. E talvez fosse mesmo, mas eu já não tenho nada a ver com ele. Não sou a pessoa com quem a minha mulher casou, nem o pai que a minha filha conhece. Sou outro ser humano. Agora, vivo cá em baixo, se não vos ofende que eu defina as coisas deste modo. Não sou umcliente excepcional da firma Dershkin, Bellavita, Fishbein& Schlossel. Sou um cliente igual aos outros. Todas as criaturas têm o seu habitat, e eu estou no meu, neste preciso momento. Reade Street e a Rua 61 e as celas de detenção — pensar que estou acima dessas coisas é estar a enganar-me a mim próprio, e eu já desisti de me enganar.
— Eiii!iiii! Espere aí — disse Killian. — Ainda não estamos assim tão mal.
— Estamos, sim senhor — disse Sherman. — Mas juro-lhe que agora me sinto melhor com isso. Sabe a maneira como às vezes se agarra num animal de estimação, um cão-polícia, por exemplo, que toda a vida tenha sido mimado e bem alimentado, e se consegue transformá-lo num cão de guarda mau como tudo?
— Já ouvi falar de casos desses — disse Killian.
— E eu já vi fazer isso — disse Quigley. — Quando estava na Polícia.
— Então, conhecem o princípio — disse Sherman. — Eles não modificam a personalidade do cão com biscoitos especiais ou com comprimidos. Prendem-no, batem-lhe, açulam-no, maltratam-no, tornam a bater-lhe, até ele arreganhar os dentes e estar pronto a lutar até à morte sempre que ouve um barulho qualquer.
— É verdade — disse Quigley.
— Bom, nessa situação, os cães são mais espertos do que os homens — disse Sherman. — O cão não se agarra à ideia de que é um magnífico animal de estimação levado de repente para uma nova espécie de exposição canina, como o homem faz. O cão percebe logo. O cão sabe quando é que chega o momento de se transformar numa fera e lutar.
31 - Em Cheio no Plexo Solar
Desta vez estava um dia de sol, um dia quente de Junho. O ar estava tão límpido que parecia puro e refrescante, até mesmo ali no Bronx. Um dia perfeito, em suma; Sherman ficou ressentido. Considerou isso como uma ofensa pessoal. Que insensibilidade! Como é que a Natureza, o Destino — Deus — tinham coragem de apresentar um produto tão sublime na hora da sua miséria? Uma insensibilidade absoluta. Um espasmo de medo percorreu-lhe as entranhas, até à extremidade do cólon descendente.
Ia no banco de trás de um Buick, com Killian. Ed Quigley ia à frente, ao lado do motorista, que tinha a pele escura, cabelo liso e preto e feições delicadas, finas, quase demasiado bonitas. Seria asiático? Desceram a rampa da via rápida, passando mesmo em frente ao Yankee Stadium, onde um enorme cartaz dizia: HOJE ÀS 7 HORAS, YANKEES VS.ANSAS CITY. Que insensibilidade! Dezenas de milhar de pessoas viriam nessa noite àquele estádio, acontecesse o que acontecesse — para beberem cerveja e verem uma bola branca saltar e pular durante duas horas — ele estaria de novo naquele sítio, numa obscuridade que não conseguia imaginar. Então começaria a sério... Pobres idiotas! Sabiam lá como as coisas eram na realidade! Dezenas de milhar deles, no Yankee Stadium, a verem o jogo, uma simples charada de guerra, enquanto ele vivia uma guerra autêntica. E então começaria a sério... a elementar violência física...
Agora o Buick subia a longa encosta da colina, pela Rua 161. Estavam quase a chegar.
— Não é no mesmo tribunal — disse Killian. — É naquele edifício ali no cimo da colina, do lado direito.
Sherman viu uma enorme estrutura de calcário. Tinha um ar bastante majestoso, ali plantada no alto da Grand Concourse, na luminosidade daquele dia perfeito; majestosa e extraordinariamente pesada.
Sherman viu os olhos do motorista procurarem os seus no espelho retrovisor e cruzarem-se com eles num contacto embaraçoso, para logo se desviarem. Quigley, no banco da frente, ao lado do motorista, estava de casaco e gravata, mas por pouco. O casaco, um casaco de tweedde um curioso tom esverdeado de carne podre, assentava-lhe mal no pescoço cheio de cicatrizes. Quigley parecia um desses duros irrequietos, que estão sempre à espreita de uma oportunidade para tirar o casaco e a gravata e desatar à pancada, semeando hematomas, ou, melhor ainda, para intimidar algum lingrinhas cheio de medo que não esteja disposto a aceitar o desafio para a luta.
Quando o carro se aproximou do alto do monte, Sherman começou a ver uma multidão no meio da rua, diante do edifício de calcário. Os carros tinham dificuldade em avançar.
— O que é que se passa? — perguntou.
— Parece uma manifestação — disse Quigley. Killian disse: — Bom, pelo menos desta vez não estão à
porta do seu prédio.
— Uma ma-ni-fes-ta-ção? Hahahaha! — disse o motorista. Tinha um sotaque cantado e o seu riso era cortês, mas extremamente nervoso. — Uma manifestação por causa de quê? Hahahaha!
— Por nossa causa — disse Quigley, na sua voz inexpressiva.
O motorista olhou para Quigley. — Por vossa causa? Hahahaha!
— Sabe quem é o senhor que alugou este carro? Mr. McCoy? — Quigley acenou com a cabeça na direcção do banco de trás.
No espelho, os olhos do motorista procuraram e fitaram uma vez mais os de Sherman. — Hahahaha! — Depois, o homem ficou calado.
— Não se preocupe — disse Quigley. — É sempre mais seguro estar no meio do barulho do que nas redondezas. É um facto bem conhecido.
O motorista tornou a olhar para Quigley e disse: — Hahahaha! — A seguir ficou muito calado, sem dúvida tentando decidir do que havia de ter mais medo, se dos manifestantes de quem se aproximava, se do Duro que estava ali dentro do carro, a escassas polegadas do seu ainda incólume pescoço. Depois, tornou a procurar Sherman com os olhos. Fitou-o e saltou para dentro da cavidade, debatendo-se com os olhos esbugalhados de puro pânico.
— Não vai acontecer nada — disse Killian a Sherman. — Vão lá estar uma data de polícias e chegam muito bem para eles. É a mesma malta do costume, o Bacon e companhia. Julga que as pessoas aqui do Bronx estão muito raladas com o caso? Ora, não seja tão vaidoso. Isto é a malta do costume, a fazer o mesmo número de sempre. É um espectáculo. O que você tem a fazer é ficar caladinho e olhar em frente como se não fosse nada consigo. Desta vez, temos uma surpresa para eles.
Quando o carro se aproximou da Walton Avenue, Sherman viu melhor a multidão no meio da rua. Havia gente a toda a volta do enorme edifício de calcário no alto da colina. Ouvia-se uma voz amplificada por um microfone. Os outros presentes respondiam à voz com uma espécie de cântico. A pessoa que gritava ao microfone parecia estar no cimo da escadaria do lado da Rua 161. Havia equipas de televisão com as suas câmaras a destacarem-se acima do mar das cabeças.
O motorista disse: — Quer que eupáaaare aqui? Haha-hahaha!
— Continue a andar — disse Quigley. — Eu digo-lhe quando há-de parar.
— Hahahaha!
Killian disse a Sherman: — Vamos entrar pela porta lateral. — E, para o motorista: — Vire na próxima à direita!
— Tanta geeeeente! Hahahaha!
— Vire mas é na próxima à direita — disse Quigley — e não se preocupe com o resto.
Killian disse a Sherman: — Baixe-se. Aperte os atacadores, ou coisa assim.
O carro enfiou pela rua que corria ao longo do lado mais baixo do grande edifício de calcário. Mas Sherman deixou-se ficar direito no assento. Já pouco importava quando é que aquilo começaria. Viu várias carrinhas azuis e cor de laranja com as janelas gradeadas. A multidão transbordara para fora do passeio. Estavam todos a olhar para o lado daRua 161. A voz continuava a arengar, e os cânticos elevavam-se da multidão instalada nos degraus.
— Vire à esquerda — disse Killian. — Aí mesmo. Está a ver aquele cone vermelho? É ali.
O carro dirigia-se num ângulo de noventa graus, para o parque de estacionamento junto ao edifício. Um polícia, ou guarda, ou lá o que era, estava a tirar um cone de plástico fluorescente do meio de um dos lugares do parque. Quigley segurou com a mão esquerda um cartão junto ao pára-brisas, aparentemente para o polícia o ver. Havia mais quatro ou cinco guardas no passeio. Vestiam camisas brancas de manga curta e tinham revólveres enormes nos quadris.
— Quando eu abrir a porta — disse Killian — você mete-se entre mim e o Ed e anda o mais depressa que puder.
A porta abriu-se e eles saíram do carro. Quigley estava à direita de Sherman; Killian, à sua esquerda. Algumas pessoas no passeio ficaram a olhá-los, mas não pareciam saber quem eles eram. Três dos guardas de camisas brancas interpuseram-se entre a multidão e Sherman, Killian e Quigley. Killian agarrou o cotovelo de Sherman e impeliu-o em direcção à porta. Quigley levava na mão uma grande pasta. Um guarda de camisa branca estava parado no vão da porta, mas afastou-se para os deixar entrar num átrio iluminado por lâmpadas fluorescentes. À direita havia uma porta que dava para aquilo que parecia ser uma sala de espera. Sherman distinguiu vagamente as silhuetas negras e pardacentas de pessoas sentadas em bancos.
— Foi um favor que nos fizeram quando resolveram manifestar-se na escadaria — disse Killian. A sua voz estava estridente e tensa. Dois guardas conduziram-nos até ao elevador, cuja porta um terceiro guarda segurava.
Entraram no elevador e o polícia entrou com eles. O polícia carregou no botão do nono andar e iniciaram a subida.
— Obrigado, Brucie — disse Killian ao guarda.
— De nada. Tem que agradecer é ao Bernie. — Killian olhou para Sherman como se perguntasse: «O que é que eu lhe tinha dito?»
No nono andar, diante de uma porta que dizia Divisão 60, o corredor estava invadido por uma multidão barulhenta. Uma fila de guardas do tribunal impedia as pessoas de avançarem.
Vejam!... Lá está ele!
Sherman olhou em frente. Quando é que isto começa? Um homem apareceu de repente diante dele — um homembranco, alto, com o cabelo louro penteado para trás. Vestia um blazer azul, uma gravata azul, e uma camisa às riscas de colarinho branco e engomado. Era o repórter, Fallow. A última vez que Sherman o vira fora segundos antes de entrar no Registo Central... aquele sitio...
— Mr. McCoy! — aquela voz.
Com Killian de um lado e Quigley do outro e o guarda do tribunal, Brucie, à cabeça, como uma esquadrilha de aviões militares, afastaram o inglês do caminho e transpuseram uma porta. Estavam na sala de audiências. Uma multidão, do lado esquerdo de Sherman... na bancada dos espectadores... Rostos negros... alguns rostos brancos... no primeiro plano, via-se um negro muito alto, com um brinco de ouro no lóbulo de uma das orelhas. Semiergueu-se na sua cadeira e estendeu o braço longo e magro na direcção de Sherman, dizendo num murmúrio sonoro e gutural: — É ele! — E depois, em voz mais alta: — Cadeia com ele! Nada de fiança!
Uma voz grave de mulher: — Metam-no dentro!
Yegggh!... É ele!... Olhem para o gajo!... Cadeia com ele! Nada de fiança!
Agora? Ainda não. Killian agarrou-lhe o cotovelo e murmurou-lhe ao ouvido: — Ignore-os!
Uma voz de falsete entoou: — Sherrrmaannnn... Sherrr-maannn.
— SILÊNCIO! SENTEM-SE!
Era a voz mais forte que Sherman alguma vez ouvira. A princípio, pensou que era a ele que a voz se dirigia. Sentiu-se terrivelmente culpado, embora não tivesse aberto a boca.
— MAIS MANIFESTAÇÕES DESTAS E MANDO EVACUAR A SALA! FAÇO-ME ENTENDER?
Na tribuna do juiz, abaixo da inscrição IN GOD WE TRUST, um homem magro e calvo, de nariz adunco, envolto na sua toga preta, estava de pé, com os punhos apoiados na mesa e os braços esticados, como se fosse um corredor prestes a arrancar da linha de partida. Sherman via o branco dos olhos do juiz, à volta da íris enquanto o seu olhar furibundo percorria a multidão que tinha à sua frente. Os manifestantes resmungaram, mas acabaram por se calar.
O juiz, Myron Kovitsky, continuou a fitá-los com olhos irados.
— Nesta sala, as pessoas só falam quando o tribunal as manda falar. Só julgam o seu semelhante quando são escolhidas para fazerem parte de um júri e o tribunal lhes pede que julguem esse seu semelhante. Só se põem de pé parapronunciarem os seus obiter dieta quando o tribunal lhes pede que se levantem e pronunciem os seus obiter dieta. Até
lá — CALAM-SE E FICAM SENTADAS! E O TRIBUNAL... SOU
EU! FAÇO-ME ENTENDER? Alguns dos presentes contesta o que eu acabo de dizer e desrespeita este tribunal ao ponto de querer passar algum tempo como hóspede do Estado de Nova Iorque a meditar no que eu acabo de dizer? FIZ-ME EN-TEN-DER?
Os seus olhos percorreram a multidão da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e uma vez mais da esquerda para a direita.
— Muito bem. Agora que estamos entendidos, talvez os senhores possam assistir a esta sessão como membros responsáveis desta comunidade. Enquanto o fizerem, são bem-vindos nesta sala. E a partir do momento em que não o façam — vão arrepender-se de não se terem deixado ficar na cama! Fiz-me entender?
A voz dele tornou a elevar-se tão repentinamente e com tal intensidade que a multidão pareceu encolher-se, sobressaltada com a ideia de que a ira daquele homenzinho furioso se ia de novo abater sobre ela.
Kovitsky sentou-se e abriu os braços. As abas da toga enfunaram-se como um par de asas. Baixou a cabeça. Continuava a ver-se-lhe o branco dos olhos à volta da íris. A sala estava agora em silêncio. Sherman, Killian e Quigley estavam de pé junto do gradeamento — a barra do tribunal — que separava a zona dos espectadores do tribunal propriamente dito. Os olhos de Kovitsky cravaram-se em Sherman e Killian. Dir-se-ia zangado também com eles. Deixou escapar aquilo que parecia ser um suspiro enojado.
Depois virou-se para o escrivão do tribunal, que estava sentado a uma grande mesa. Sherman seguiu o olhar de Kovitsky e viu, de pé, ao lado da mesma mesa, o procurador-adjunto Kramer.
Kovitsky disse ao escrivão: — Anuncie o processo.
O escrivão disse em voz alta: — Processo número 4-7-2-6, o Povo contra Sherman McCoy. Quem é que representa Mr. McCoy?
Killian aproximou-se da barra e disse: — Sou eu.
O escrivão disse: — O seu nome e morada, por favor.
— Thomas Killian, Reade Street, n.º 86.
Kovitsky perguntou: — Mr. Kramer, tem algum requerimento a apresentar?
Aquele tal Kramer deu dois ou três passos em direcção à tribuna. Andava como um jogador de futebol. Parou, atiroua cabeça para trás, contraiu os músculos do pescoço, vá-se lá saber porquê, e disse: — Meretíssimo, o réu Mr. McCoy, está neste momento em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de dez mil dólares, soma insignificante para uma pessoa com os seus meios e recursos na comunidade financeira.
Yegggh!... Cadeia com ele! Nada de fiança!... Façam-no pagar!
Kovitsky, de cabeça baixa, olhou os manifestantes de sobrolho carregado. As vozes abrandaram até não passarem de um murmúrio.
— Como o senhor doutor juiz sabe — continuou Kramer — o júri decidiu há dias levar a julgamento o arguido por três acusações graves: fazer perigar a vida de terceiros, abandonar a cena de um acidente, e não participar a ocorrência. Ora bem, meretíssimo, do mesmo modo que o júri considerou existirem provas suficientes do abandono por parte do réu das suas responsabilidades para o acusar formalmente, o Povo pensa que também existem fortes possibilidades de que o réu resolva ignorar e abandonar os seus compromissos dado o baixo montante da fiança.
Pois... Isso mesmo... Hã, hã...
— Por isso, meretíssimo — disse Kramer — o Povo pensa que compete ao tribunal mostrar claramente não apenas ao réu, mas a toda a comunidade, que o que está aqui em jogo é, de facto, encarado com a maior seriedade. No centro deste caso, meretíssimo, está um jovem, um jovem exemplar, Mr. Henry Lamb, que se transformou para o Povo do Bronx num símbolo tanto das esperanças que este alimenta para os seus filhos e filhas como dos obstáculos brutais e terríveis que eles têm de enfrentar. O senhor doutor juiz já se terá dado conta da paixão com que a comunidade segue este caso a par e passo. Se esta sala de audiências fosse maior, estariam aqui presentes, neste momento, centenas, possivelmente milhares, de membros da comunidade, tal como se encontram agora mesmo nos corredores e nas ruas, lá fora.
Isso mesmo!... Cadeia com ele! Nada de fiança!... Diz-Ihes como é! ZÁS! Kovitsky baixou o martelo com uma enorme explosão.
— SILÊNCIO!
Os gritos da multidão tornaram a reduzir-se a um simples burburinho.
De cabeça baixa, com as íris a flutuarem num mar de branco Kovitsky disse: — Deixe-se de rodeios, Mr. Kramer. Isto não é um comício. É uma sessão de tribunal.
Kramer sabia que estava a presenciar todos os sinais do costume. As íris flutuavam naquele mar revolto. A cabeça estava baixa. O nariz estava espetado. Não seria preciso muito mais para Kovitsky começar a disparatar. Por outro lado, pensou, não posso recuar agora. Não posso ceder. A atitude de Kovitsky até agora — embora não fosse nada mais do que o Kovitsky do costume, os berros habituais, a insistência agressiva na sua própria autoridade — a atitude de Kovitsky até agora fazia dele um adversário dos manifestantes. E a Procuradoria do Condado do Bronx era amiga dos manifestantes. Abe Weiss era amigo deles. Larry Kramer era amigo deles. O Povo era... realmente o Povo. Era para isso que ele ali estava. Teria de correr o risco com Kovitsky — com aqueles furiosos olhos judeus que agora se cravavam nele.
A sua própria voz soou-lhe estranha quando disse: — Eu não me esqueci disso, meretíssimo, mas também não me posso esquecer da importância deste caso para o Povo, para todos os Henry Lamb, presentes e futuros, deste Condado e desta cidade...
Diz-lhes como é meu!... Isso mesmo!... Muito bem!
Kramer apressou-se a continuar, em voz ainda mais alta, antes que Kovitsky detonasse: — ... por conseguinte, o Povo requer ao tribunal que aumente a fiança para uma soma aceitável e significativa, para um milhão de dólares, de modo a que...
Cadeia com ele! Nada de fiança!... Cadeia com ele! Nada de fiança!... Cadeia com ele! Nada de fiança! — Os manifestantes irromperam numa espécie de cântico.
Isso mesmo!... Um milhão de dólares!... Yagggh!...
A voz da multidão elevou-se numa aclamação recheada de risos exultantes e que culminou num cântico: — Cadeia com ele! Nada de fiança!... Cadeia com ele! Nada de fiança!... Cadeia com ele! Nada de fiança!... Cadeia com ele! Nada de fiança!...
O martelo de Kovitsky subiu mais de um pé acima da sua cabeça e Kramer estremeceu interiormente ainda antes de o ouvir.
ZÁS.
Kovitsky lançou a Kramer um olhar furibundo e depois inclinou-se para a frente e concentrou a sua atenção na multidão dos espectadores.
— ORDEM NO TRIBUNAL!... CALUDA!... ESTÃO A PÔREM DÚVIDA A MINHA PALAVRA? — As suas íris vogavam de um lado para o outro no mar encapelado.
Os cânticos cessaram e os gritos reduziram-se a murmúrios. Mas pequenas explosões de riso indicavam que os manifestantes estavam apenas à espera da próxima oportunidade.
— OS GUARDAS DO TRIBUNAL VÃO...
— Meretíssimo! Meretíssimo! — era o advogado de McCoy, Killian.
— O que é, Mr. Killian?
A interrupção quebrou o ímpeto dos espectadores. Fez-se silêncio.
— Meretíssimo, posso aproximar-me da tribuna?
— Muito bem, Mr. Killian. — Kovitsky fez-lhe sinal que se aproximasse. — Mr. Kramer? — Kramer aproximou-se também da tribuna.
Agora estava ao lado de Killian e das suas roupas de janota, diante da tribuna, sob o olhar carregado do juiz Kovitsky.
— Então, Mr. Killian? — disse Kovitsky. — O que é que
se passa?
— Senhor doutor juiz — disse Killian — se não estou em erro, é o senhor o juiz supervisor do júri neste caso.
— Exacto — disse ele a Killian, mas depois concentrou em Kramer a sua atenção. — É duro de ouvido, Mr. Kramer?
Kramer não disse nada. Não era obrigado a responder a uma pergunta daquelas.
— Está intoxicado pelos aplausos desta gente? — E ao dizer isto Kovitsky acenou com a cabeça na direcção dos espectadores.
— Não, senhor doutor juiz, mas este caso não pode de maneira nenhuma ser tratado como um caso qualquer.
— Nesta sala, Mr. Kramer, a merda do caso há-de ser tratado como eu muito bem entender. Estou a ser claro?
— O senhor doutor juiz é sempre muito claro.
Kovitsky fitou-o, aparentemente tentando decidir se houvera ou não insolência na resposta. — Muito bem, então já sabe que se recomeçar com a mesma palhaçada, aqui dentro desta sala, vai ficar cheio de vontade de nunca ter conhecido o juiz Mike Kovitsky!
Ele não podia engolir uma coisa daquelas, com Killiam ali ao lado a ouvir tudo, por isso disse: — Ouça, senhor doutor juiz, eu tenho todo o direito...
Kovitsky interrompeu-o: — Todo o direito de fazer o quê? De vir para aqui fazer campanha para a reeleição do Abe Weiss? Conversa, Mr. Kramer! Diga-lhe que alugue uma sala, que dê uma conferência de imprensa. Diga-lhe que vá à televisão, que diabo!
Kramer ficou tão irritado que não foi capaz de dizer nada. Tinha a cara toda vermelha. Entredentes, disse: — É tudo, senhor doutor juiz? — E, sem esperar pela resposta, rodou nos calcanhares e começou a afastar-se.
— Mr. Kramer!
Ele parou e tornou a voltar-se. De sobrolho carregado, Kovitsky chamou-o de novo com um gesto. — Mr. Killian tem uma pergunta a fazer, creio eu. Prefere que seja só eu a ouvi-la?
Kramer cerrou os dentes e ficou à espera.
— Muito bem, Mr. Killian, diga lá.
Killian disse. — Senhor doutor juiz, tenho em meu poder provas importantes que se relacionam não apenas com o requerimento de Mr. Kramer acerca da fiança, mas também com a própria validade das acusações.
— Que tipo de provas?
— Tenho gravações de conversas entre o meu cliente e uma das principais intervenientes neste caso, que demonstram ser extremamente provável que tenham sido prestadas falsas declarações perante o júri.
Que raio era aquilo? Kramer interveio: — Senhor doutor juiz, isto é absurdo. A acusação formal do júri é perfeitamente válida. Se Mr. Killian tem alguma coisa a contestar...
— Um momento, Mr. Kramer — disse Kovitsky.
— ... se ele tem alguma coisa a contestar na forma como decorreu a audiência com o júri, tem os canais próprios...
— Um momento. Mr. Killian diz que tem provas...
— Provas! Esta audiência não se destina à apresentação de provas, senhor doutor juiz! Ele não pode vir para aqui contestar a decisão do júri ex post facto! E o senhor não pode...
— MR. KRAMER!
O som de Kovitsky a elevar a voz provocou um rugido entre os manifestantes, que começaram de novo a agitar-se.
Olhos a flutuar no mar turbulento: — Mr. Kramer, sabe qual é o seu problema? Porra, o senhor não ouve, pois não? Não é capaz de ouvir o que lhe dizem!
— Senhor doutor juiz...
— CALUDA! O tribunal vai ouvir as provas de Mr. Killian.
— Senhor doutor juiz...?
— Vamos fazer isto na minha sala.
— Na sua sala? Porquê?
— Mr. Killian diz que tem em seu poder umas fitas gravadas. Vamos começar por as ouvir na minha sala.
— Ouça, senhor doutor juiz...
— Não quer ir até à minha sala, Mr. Kramer? Tem medo de ficar longe do seu público?
A espumar, Kramer olhou para o chão e abanou a cabeça.
Sherman ficara abandonado junto à vedação, à barra. Quigley estava algures atrás dele, com a pesada pasta na mão. Mas quem estava atrás de si eram principalmente... eles. Quando é que aquilo ia começar? Não desfitava os olhos das três figuras junto à tribuna do juiz. Não se atrevia a deixar os seus olhos vaguearem pela sala. Depois, as vozes começaram; Vinham lá de trás, em cantilena ameaçadoras.
— É a tua última milha, McCoy!
— A tua última ceia.
A seguir uma voz de falsete: — O teu último fôlego.
Algures, de ambos os lados da sala, havia guardas do tribunal. Não faziam nada para acabar com aquilo. Estão tão cheios de medo como eu!
A mesma voz de falsete: — Ei, Sherman, porque é que são os tremeliques?
Tremeliques. Era evidente que os outros tinham gostado daquela. Começaram também a falar em voz de falsete.
— Sherr-maaaannnn...
— Sherman dos Tremeliques! Gargalhadas e risinhos.
Sherman olhava fixamente para a tribuna onde parecia residir a sua única esperança. Como em resposta à sua súplica, o juiz olhou então para ele e disse: — Mr. McCoy, importa-se de chegar aqui um minuto?
Burburinho e um coro de falsetes quando ele começou a andar. Ao aproximar-se da tribuna, ouviu-se o procurador-adjunto, Kramer, dizer: — Não compreendo, senhor doutor juiz. Que justificação há para a presença do réu?
O juiz disse: — O requerimento é dele e as provas também. Além disso, não o quero aqui no meio desta balbúrdia. Alguma objecção, Mr. Kramer.
Kramer não disse nada. Lançou um olhar sombrio ao juiz e depois a Sherman.
O juiz disse: — Mr. McCoy, o senhor vem comigo, com Mr. Killian e Mr. Kramer para os meus aposentos.
Depois deu três pancadas com o martelo e disse aos presentes: — O tribunal vai agora retirar-se para conferenciar com o representante do Povo e o advogado de defesa. Durante a minha ausência SERÁ MANTIDO o devido decoro na sala. Faço-me entender?
O burburinho dos manifestantes transformou-se num coro de protestos abafados, mas Kovitsky decidiu ignorá-lo, levantou-se e desceu os degraus do estrado. O escrivão levantou-se e depois dirigiu-se para o acompanhar. Killian piscou o olho a Sherman e depois dirigiu-se para a zona dos espectadores. O juiz, o escrivão, o assistente do juiz e Kramer encaminharam-se para uma porta que havia na parede apai-nelada do outro lado do estrado. Killian voltou com a pesada pasta na mão. Deteve-se um momento e fez um gesto indicando a Sherman que devia seguir Kovitsky. O guarda do tribunal, com um grande pneu de gordura a transbordar-lhe do cinturão da arma, fechou o cortejo.
A porta dava para uma divisão que desmentia tudo o que a própria sala do tribunal e o belo termo aposentos tinham sugerido a Sherman. Os «aposentos» reduziam-se, na realidade, a uma única sala, uma única sala bem tristonha. Era pequena, suja, despida, estragada, pintada de um tom creme de Repartição Oficial, só que a tinta faltava aqui e ali em grandes manchas e começava a descascar-se em miseráveis caracóis noutros pontos das paredes. As únicas notas generosas eram o tecto extraordinariamente alto e uma janela de oito ou nove pés de altura, que inundava a sala de luz. O juiz sentou-se a uma velha secretária de metal. O escrivão sentou-se numa outra. Kramer, Killian e Sherman ,-, sentaram-se em pesadas e antigas cadeiras de madeira, de costas arredondadas, do tipo conhecido por «cadeiras de banqueiro» O assistente de Kovitsky e o gordo guarda do tribunal ficaram de pé, encostados à parede. Um homem alto entrou na sala com uma máquina estenográfica portátil, dessas que os estenógrafos dos tribunais costumam usar. Que estranho! — O homem estava impecavelmente bem vestido. Usava um casaco de tweed, uma camisa branca, tão imaculada como as de Rawlie, uma gravata à moda antiga, cor de grança, calças de flanela preta e sapatos de passeio. Parecia um professor convidado de Yale, um professor pago a peso de ouro.
— Mr. Sullivan — disse Kovitsky —, é melhor trazer para aqui a sua cadeira.
Mr. Sullivan saiu, depois voltou com uma pequena cadeira de madeira, sentou-se ficou uns instantes a mexer na máquina, olhou para Kovitsky e acenou com a cabeça.
Então Kovitsky disse: — Ora bem, Mr. Killian, o senhor afirma que está de posse de informações com relevância material para a decisão do júri em levar ou não este caso a julgamento.
— É exacto, senhor doutor juiz — disse Killian.
— Muito bem — disse Kovitsky. — Eu estou disposto a ouvir o que tiver a dizer, mas devo avisá-lo de que é melhor que este requerimento seja fundamentado.
— É plenamente fundamentado, senhor doutor juiz.
— Porque, se não o for, vou vê-lo com muito maus olhos, com tão maus olhos como vi as piores coisas de toda a minha carreira, o que não será nada bom para vocês. Faço-me entender?
— Perfeitamente, senhor doutor juiz.
— Muito bem. Está em condições de apresentar imediatamente as informações de que dispõe?
— Estou, sim.
— Então, faça favor.
— Faz hoje três dias, senhor doutor juiz, que recebi um telefonema de Maria Ruskin, viúva de Mr. Arthur Ruskin, pedindo para ter uma conversa com Mr. McCoy aqui presente. Tanto quanto sei — e segundo foi noticiado pela imprensa — Mrs. Ruskin testemunhou perante o júri neste processo.
Kovitsky disse a Kramer: — Confirma este ponto? Kramer disse: — Sim, ela testemunhou ontem. O juiz disse a Killian: — Muito bem, continue.
— Por isso eu marquei um encontro entre Mrs. Ruskin e Mr. McCoy e, a meu pedido, Mr. McCoy levou um gravador escondido, de modo a ficar com um registo fidedigno da conversa. O encontro teve lugar num apartamento da Rua 77 que Mrs. Ruskin utiliza aparentemente para... aaaah, encontros de carácter particular... E foi assim que obtivemos uma gravação do que se passou nesse encontro. Tenho essa gravação em meu poder, e penso que o tribunal deveria tomar conhecimento do seu conteúdo.
— Só um momento, senhor doutor juiz — disse Kramer. — Ele está a dizer que o seu cliente foi encontrar-se com Mrs. Ruskin, levando um gravador escondido?
— Quer-me parecer que sim — disse o juiz. — É isso, não é, Mr. Killian?
— Exactamente, senhor doutor juiz — disse Killian.
— Bom, eu quero levantar desde já uma objecção, senhor doutor juiz — disse Kramer. — Para que conste. Este não é o momento de atender a este requerimento e, além disso, não há maneira de podermos controlar a autenticidade dessa gravação que Mr. Killian diz possuir.
— Primeiro, vamos ouvir a gravação, Mr. Kramer, e ver qual o seu conteúdo. Veremos se merece ou não ser levada em conta, prima facie, e depois teremos tempo para nos preocuparmos com as outras questões. Está de acordo?
— Não, senhor doutor juiz, não vejo como é que se pode...
O juiz irritado: — Pode passar a gravação, senhor doutor.
Killian abriu a pasta, tirou lá de dentro o grande gravador e colocou-o em cima da secretária de Kovitsky. Depois introduziu a cassete. A cassete era extraodinariamente pequena. Aquele objecto minúsculo parecia tão insidioso e sórdido como o próprio episódio que registara.
— Quantas vozes se ouvem na gravação? — perguntou Kovitsky.
— Só duas vozes, senhor doutor juiz — disse Killian. — A de Mr. McCoy e a de Mrs. Ruskin.
— Então, aquilo que vamos ouvir é suficientemente claro para Mr. Sullivan o poder transcrever?
— Penso que sim — disse Killian. — Não, senhor doutor juiz, peço desculpa, esqueci-me de uma coisa. No inicio da gravação, vai ouvir Mr. McCoy a falar com o motorista do carro que o levou ao prédio onde se encontrou com Mrs. Ruskin. Ê, no fim, vai ouvi-lo falar outra vez com o motorista.
— Quem é esse motorista?
— É o motorista do carro que Mr. McCoy alugou nessa tarde. Eu não quis truncar a gravação fosse de que maneira fosse.
— Hã, hã. Bom, pode passar a fita.
Killian ligou o gravador e, a princípio, só se ouviu o ruído de fundo, um fervilhar contínuo, entremeado de vez em quando por ruídos de trânsito, incluindo a sirene de um carro de bombeiros. Depois, uma troca de palavras quase incompreensíveis com o motorista. Era tudo tão tortuoso, não era? Sherman sentiu-se submerso por uma onda de vergonha. Iam passar a fita até ao fim! O estenógrafo ia tomar nota de tudo, de cada uma das suas palavras hipócritas quando tentara esquivar-se a Maria a negar o óbvio, ouseja, que ele era um sacana dissimulado, que fora vê-la ao apartamento dela levando um gravador escondido. Até que ponto isso transpareceria só nas palavras? Transpareceria o bastante; não restaria dúvidas de que ele era uma criatura reles.
Na cassette oculta e traiçoeira ouvia-se agora o som da campainha da entrada do prédio, o clique-clique-clique da fechadura eléctrica e — ou seria imaginação sua? — o ranger dos degraus sob os seus passos. Depois, uma porta que se abria... e a voz alegre e confiante de Maria: — Buuu!... Assustei-te? — E a resposta despreocupada, numa voz pérfida de actor que ele mal reconhecia: — Nem por isso. Ultimamente tenho sido assustado por peritos. — Lançou uma olhadela à direita e à esquerda. Os outros homens reunidos na sala estavam de cabeça baixa, olhavam para o chão ou para o aparelho em cima da secretária do juiz. Depois, reparou que o guarda gordo o olhava fixamente. O que é que ele estaria a pensar? E os outros, os que desviavam os olhos? Mas é claro! Não precisavam de olhar para ele porque já estavam bem no fundo da cavidade, revolvendo tudo a seu bel-prazer, atentos à escuta de cada uma das suas palavras traiçoeiras de mau actor. Os longos dedos do estenógrafo pareciam dançar nas teclas da sua delicada maqui-nazinha. Sherman sentiu-se invadido por uma tristeza paralisante. Tão pesada... nem se conseguia mexer. Naquela triste sala bolorenta estavam mais sete homens, mais sete organismos, centenas de libras de ossos e tecidos moles, respirando, bombeando sangue, queimando calorias, processando nutrientes, filtrando micróbios e toxinas, transmitindo impulsos nervosos, sete animais quentes, desagradáveis, horríveis, a revolverem, por dinheiro, a cavidade inteiramente pública a que ele outrora chamava a sua alma.
Kramer estava morto por olhar para McCoy, mas decidido a manter uma atitude fria e profissional. Qual seria a cara de um Judas ao ouvir-se a si próprio a fazer o papel de Judas numa sala cheia de gente que sabia que ele era um Judas — um tipo que se foi encontrar com a namorada levando um gravador escondido? Inconscientemente, mas profundamente, Kramer sentiu-se aliviado. Sherman McCoy, aquele WASP, aquele aristocrata da Wall Street, aquele colunável, aquele homem de Yale, era tão Judas como qualquer um dos traficantes de droga em quem ele mandara instalar gravadores para que fossem trair outros da sua laia. Não, McCoy era mais Judas ainda. No mundo da droga as pessoas não esperavam muito umas das outras. Mas nestas camadas mais altas, nestes pináculos da decência e do moralismo, nesta estrastosfera dominada pelos válidos WASPs de lábios finos, partia-se do princípio de que a honra não era palavra com que se brincasse. No entanto, quando encostados à parede, eles transformavam-se em Judas tão depressa como qualquer delinquente. Era um alívio, porque Kramer tinha ficado bastante inquieto com o que Bernie Fitzgibbon dissera. E se fosse mesmo verdade que o caso não tinha sido objecto de investigações suficientemente cuidadosas? Maria Ruskin corroborara a história de Roland perante o júri, mas, no seu íntimo, ele sabia que praticamente a obrigara a isso. Tinha-a encostado à parede tão depressa que ela até podia... Preferiu deixar o pensamento em suspenso. O conhecimento de que McCoy no fundo não passava de um Judas com melhor apresentação do que os outros trazia paz ao seu espírito. McCoy estava metido naquela embrulhada porque era esse o seu ambiente natural, o ninho imundo do seu carácter aleijado.
Assim tranquilizado quanto à justiça da sua causa, Kramer permitiu-se dar largas ao seu ressentimento contra aquele pseudo-aristocrata que agora ali estava sentado a escassos pés de distância, enchendo o ar com o seu fedor de judas rebentado. Ao ouvir as duas vozes da gravação, a voz nasalada e aristocrática de McCoy, o sotaque de rapariga sulista de Maria Ruskin, não era preciso ter muita imaginação para se visualizar o que se estava a passar. As pausas, a respiração ofegante, os pequenos ruídos — McCoy, o judas, tinha tomado nos braços aquela criatura maravilhosa e sensual... E aquele apartamento da Rua 11, onde eles se encontravam — aquela gente do Upper East Side tinha apartamentos exclusivamente destinados aos seus rapazes! — enquanto ele continuava a dar voltas à cabeça (e aos bolsos) em busca de um lugar onde pudesse corresponder aos desejos de Miss Shelly Thomas. A Bela e o Judas continuavam a falar... Houve uma pausa quando ela saiu da sala para lhe arranjar uma bebida e um ruído de raspão, aparentemente por ele ter tocado no microfone escondido. O Judas. Tornaram a ouvir-se vozes, e então ela disse: — Muita gente havia de gostar de ouvir esta nossa conversa.
Nem mesmo Kovitsky conseguiu resistir a erguer a cabeça e a passear os olhos pela sala ao ouvir aquilo, mas Kramer recusou-se a agraciá-lo com um sorriso.
Continuou a ouvir-se a voz de Maria Ruskin. Agora estava a queixar-se do casamento. Que diabo, o que é queeles queriam provar com aquela gravação? As lamúrias da fulana eram maçadoras. Tinha casado com um velho. Também de que é que estava à espera? Pôs-se ociosamente a imaginar — via-o como se ela estivesse ali na sala. A maneira langorosa como cruzava as pernas, o sorrisinho, o modo como às vezes olhava para uma pessoa...
Mas logo a seguir foi arrancado ao seu devaneio: — Um tipo da Procuradoria do Bronx veio hoje visitar-me, com dois polícias. — E a seguir: — Um sacaninha todo pomposo.
Uf estava atordoado. Uma maré escaldante invadiu-lhe o pescoço e as faces. Sem que soubesse muito bem porquê, era o diminutivo que mais o feria. Uma indiferença tão cheia de desprezo — e ele com os seus magníficos esternocleidomastoideus... ergueu os olhos para examinar os rostos dos outros, pronto a soltar uma gargalhada defensiva se mais alguém porventura erguesse os olhos e sorrisse ante aquela injúria. Mas ninguém ergueu os olhos e muito menos McCoy, a quem ele teria torcido o pescoço com o maior
prazer.
— Esteve o tempo todo a inclinar a cabeça para trás, e afazer um movimento esquisito com o pescoço, assim e a olhar-me com os olhinhos quase fechados. Que tipo horrível.
O rosto dele estava agora escarlate, afogueado, escaldante de raiva e, pior ainda do que a raiva, de frustração. Alguém na sala emitiu um som que tanto podia ser tosse como uma gargalhada. Não teve coragem para investigar. Cabra!, dizia o seu espírito consciente. Mas o seu sistema nervoso dizia: Cruel destruidora das minhas mais preciosas esperanças! Naquela pequena sala cheia de gente, Kramer sofria as aflições de um homem cujo cu perde a virgindade — ao ouvir pela primeira vez a opinião clara e franca de uma mulher bonita acerca dos seus dotes masculinos.
O que veio a seguir ainda foi pior.
— Ele não podia ter apresentado as coisas de maneira mais simples, Sherman — disse a voz no gravador. — Disse que se eu testemunhasse contra ti e corroborasse as declarações da outra testemunha me garantia imunidade. De contrário sou tratada como cúmplice, e acusada de não sei quantos crimes.
E a seguir:
— Até me deu fotocópias de uma data de artigos de jornal. Só faltou deixar-me instruções por escrito. Esta aqui é a versão correcta, esta é a que tu inventaste. E eu tenho de concordar com a versão correcta. Se disser o que aconteceu realmente, vou para a cadeia.
Vaca mentirosa! É verdade que ele a tinha encostado à parede, mas não lhe tinha dado instruções nenhumas! — não lhe tinha explicado o que havia de dizer — nem aconselhado a fugir à verdade...
Gemeu: — Senhor doutor juiz!
Kovitsky levantou a mão com a palma para fora, e a fita continuou a rodar.
Sherman ficou surpreendido com a voz do procurador-adjunto. O juiz fê-lo calar-se imediatamente. Sherman, muito tenso, preparava-se para o que sabia estar para vir.
A voz de Maria: — Chega aqui, Sherman.
Vivia de novo aqueles momentos, aqueles momentos e aquela horrível luta corpo a corpo... — Sherman, o que é que se passa? O que é que tens nas costas? — ... Mas aquilo era apenas o princípio... A sua própria voz, a sua voz reles de mentiroso: — Tu não sabes a falta que me tens feito, não sabes como eu precisei de ti. — E Maria: — Bom... aqui me tens. — E depois os horríveis ruídos reveladores — e sentiu de novo o cheiro do hálito dela e a pressão das mãos dela nas suas costas.
As palavras inundaram a sala numa maré de ignomínia. Teve vontade de se enfiar pelo chão abaixo. Encolheu-se na cadeira e deixou descair o queixo para o peito. — Sherman, o que é isto? — ... A voz estridente dela, os desmentidos patéticos dele, o reboliço da luta, os gritos e a respiração entrecortada... — Um gravador, Sherman! —... Estás-me... estás-me a magoar! — ... Sherman, meu sacana reles e desonesto!
Como é verdade, Maria! Uma verdade horrível!
Kramer ouviu aquilo como numa nuvem vermelha de mortificação. A Vaca e o Judas — o seu encontro degenerara numa espécie de corpo a corpo sórdido e animalesco. Sacaninha todo pomposo. Homem horrível. Movimentos esquisitos com o pescoço. Ela tinha-o escarnecido, humilhado, traído, caluniado — expondo-o à acusação de a ter subornado para a levar a cometer perjúrio.
Sherman ficou admirado com o som do seu próprio ofegar desesperado, que agora saía do pequeno aparelho negro poisado na secretária do juiz. Era um som mortificante. Dor, pânico, cobardia, fraqueza, hipocrisia, vergonha, indignidade, todas estas coisas ao mesmo tempo, seguidas por uma série de passos claudicantes. Era o som dos seus pés a descerem as escadas do prédio. Sentia que toda a gente na sala o estava a ver fugir com o gravador e o fio pendurado entre as pernas.
Quando a cassete chegou ao fim, Kramer já tinha conseguido sair, rastejando, debaixo da sua vaidade ferida e pôr um pouco de ordem nos seus pensamentos. — Senhor doutor juiz — disse — eu não sei o que é que...
Kovitsky interrompeu-o: — Só um segundo. Mr. Killian, importa-se de rebobinar a fita? Gostava de tornar a ouvir a parte do diálogo entre Mr. McCoy e Mrs. Ruskin que diz respeito ao testemunho dela.
— Mas, senhor doutor juiz...
— Vamos ouvir outra vez a fita, Mr. Kramer. Ouviram-na outra vez.
As palavras passavam por Sherman sem o atingir. Continuava a afogar-se na sua ignomínia. Como é que ia poder olhar de frente para qualquer daqueles homens?
O juiz disse: — Muito bem, Mr. Killian. Que conclusão acha que o tribunal deveria tirar disto?
— Senhor doutor juiz — disse Killian — esta mulher, Mrs. Ruskin, ou recebeu instruções no sentido de prestar um determinado testemunho e omitir determinados factos, sob pena de sofrer graves consequências, ou julgou receber instruções nesse sentido, o que vem a dar no mesmo, e...
— Isso é absurdo! — disse o procurador-adjunto, Kramer. Estava inclinado para a frente na cadeira, com um grande dedo carnudo apontado a Killian e uma expressão desvairada no rosto.
— Deixe-o acabar — disse o juiz.
— Além disso — disse Killian —, como acabamos de ouvir, ela tinha motivos de sobra para prestar falso testemunho, não apenas para se proteger, mas para prejudicar Mr. McCoy, a quem chamou «sacana reles e desonesto».
O sacana reles e desonesto tornou a ficar profundamente mortificado. Haveria coisa mais mortificante do que a verdade pura e simples? Uma troca de gritos estalou entre o procurador-adjunto e Killian. O que é que eles estavam a dizer? Pouco importava, perante a óbvia e miserável verdadedos factos.
O juiz berrou: — CALUDA! — Eles calaram-se. — De momento não me interessa a questão do suborno, se é isso que o está a preocupar, Mr. Kramer. Mas acho que existe a possibilidade de o júri ter ontem ouvido um falso testemunho.
— Isso é absurdo! — disse Kramer. — A fulana esteve sempre acompanhada por dois advogados. Pergunte-lhes o que é que eu disse!
— Se for caso disso, havemos de lhes perguntar, sim. Mas a mim interessa-me menos aquilo que você disse do que o que passou pela cabeça dela quando resolveu testemunhar perante o júri. Está a compreender, Mr. Kramer?
— Não, não estou, senhor doutor juiz, e...
Killian interrompeu-o: — Senhor doutor juiz, eu ainda tenho em meu poder uma segunda gravação.
Kovitsky disse: — Muito bem. De que natureza é essa gravação?
— Senhor doutor juiz...
— Não interrompa, Mr. Kramer. Já vai ter oportunidade de falar. Diga-me lá, Mr. Killian, uma gravação de que natureza?
— É uma conversa com Mrs. Ruskin que Mr. McCoy me disse ter gravado há vinte e dois dias, quando saiu o primeiro artigo de jornal acerca do atropelamento de Henry Lamb.
— Onde é que essa conversa teve lugar.
— No mesmo local que a anterior, senhor doutor juiz. No apartamento de Mrs. Ruskin.
— E também sem o conhecimento dela?
— Exactamente.
— E em que é que essa gravação é relevante para esta audiência?
— Regista a versão que Mrs. Ruskin dá do acidente com Henry Lamb, ao falar sem reservas, por sua própria iniciativa, com Mr. McCoy. Levanta a questão de saber se ela terá ou não modificado o seu relato honesto dos acontecimentos quando testemunhou perante o júri.
— Senhor doutor juiz, isto é um disparate! O que nos estão a dizer é que o réu passa a vida com um gravador às costas! Já sabemos que ele é um Judas, como se costuma dizer, portanto não vejo como é que havemos de acreditar...
— Acalme-se, Mr. Kramer. Primeiro, vamos ouvir a gravação. Só depois é que a poderemos avaliar. Ainda não ficou nada registado por escrito. Pode passar a fita, Mr. Killian. Não, espere um minuto. Primeiro quero pedir a Mr. McCoy que preste juramento.
Quando o olhar de Kovitsky se cruzou com o seu, Sherman fez todo o possível por não desviar os olhos. Para sua surpresa, sentiu-se terrivelmente culpado pelo que estava prestes a fazer. Ia cometer perjúrio.
Kovitsky pediu ao escrivão, Bruzzielli, que fizesse McCoy prestar juramento, e a seguir perguntou-lhe se tinha efectuado as duas gravações do modo e nas datas que Killiandissera. Sherman disse que sim, obrigando-se a olhar fixamente para Kovitsky, e perguntou a si próprio se a mentira transparecia de algum modo na expressão do seu rosto.
A gravação começou: — Eu já sabia. Soube logo na altura. Devíamos ter participado imediatamente à polícia. Sherman mal conseguia estar a ouvir aquilo. Estou a fazer uma coisa ilegal! Sim... mas em nome da verdade... isto é um caminho subterrâneo para se chegar à luz... É verdade que tivemos esta conversa... todas estas palavras, todos estes sons, são verdade... Suprimir isto... seria uma desonestidade ainda maior... não é verdade?... Sim — mas eu estou a fazer uma coisa ilegal... Repetiu a frase mil vezes na sua cabeça enquanto a fita ia girando... E Sherman McCoy, que prometera a si próprio dar largas à sua natureza animal... descobriu aquilo que muitos outros já tinham descoberto antes dele. Nos rapazes e raparigas bem educados o remorso e a obediência às regras são reflexos, fantasmas indissociáveis do seu próprio organismo.
Ainda antes de o gigantesco hassídico ter descido as escadas a toda a pressa e de as gargalhadas de Maria terem deixado de ecoar naquela sala bolorenta do Bronx, já o procurador-adjunto, Kramer, protestava furiosamente.
— Senhor doutor juiz, não pode permitir que este...
— Eu já lhe dou uma oportunidade de dizer o que tem adizer.
— ... truque reles...
— Mr. Kramer!
— ...influencie.
— MR. KRAMER!Kramer calou-se.
— Ora bem. Mr. Kramer — disse Kovitsky — o senhor com certeza conhece a voz de Mrs. Ruskin. Concorda queisto era a voz dela?
— Provavelmente, mas a questão não é essa. A questãoé que...
— Um momento. Partindo do princípio de que assim é, é ou não verdade que aquilo que acaba de ouvir na gravação difere do testemunho que Mrs. Ruskin prestou perante ojúri?
— Senhor doutor juiz... isto é absurdo! Uma pessoa malconsegue perceber o que é que se passa nessa gravação!
— Difere ou não, Mr. Kramer?
— Diverge nalguns pontos.
— «Divergir» é a mesma coisa que «diferir»?
— Senhor doutor juiz, não temos a menor possibilidade de saber em que condições é que esta coisa foi feita!
— Prima facie, Mr. Kramer, difere ou não?
— Prima facie, difere, sim. Mas o senhor não pode permitir que um truque reles como este — fez um gesto de desprezo na direcção de McCoy — influencie a sua...
— Mr. Kramer...
— ... opinião! — Kramer via que Kovitsky baixava cada vez mais a cabeça. Começava a ver-se-lhe o branco dos olhos à volta das íris. O mar começava a encapelar-se. Mas Kramer não se conseguia conter. — O que acontece é que o júri já tomou uma decisão inteiramente válida. O senhor não tem... esta audiência não tem jurisdição sobre...
— Mr. Kramer...
— ... a deliberação final do júri!
— MUITO OBRIGADO PELA SUA OPINIÃO E PELOS SEUS CONSELHOS, MR. KRAMER!
Kramer ficou em silêncio, ainda de boca aberta.
— Permita-me que lhe recorde — disse Kovitsky — que sou eu o juiz que preside ao júri, e que não fico propriamente encantado com a possibilidade de uma testemunha-chave deste caso ter prestado declarações falsas.
A espumar de raiva, Kramer abanou a cabeça. — Aquilo que estes dois... indivíduos — tornou a estender a mão na direcção de McCoy — dizem no seu ninho de amor... — E tornou a abanar a cabeça, tão furioso que não foi capaz de encontrar palavras para concluir a frase.
— Às vezes é nesses momentos que a verdade vem ao de cima, Mr. Kramer.
— A verdade! Dois ricaços mimados, um deles um Judas com um gravador escondido... Experimente dizer isto às pessoas que estão na sala aqui ao lado, senhor juiz!
Assim que as palavras lhe saíram da boca, Kramer percebeu que cometera um erro, mas não se conseguiu conter.
— ... E aos milhares de pessoas que estão lá fora, suspensas de cada palavra dita neste tribunal! Experimente dizer-lhes...
Calou-se. As íris de Kovitsky vogavam de novo num mar turbulento. Kramer julgou que o juiz ia tornar a explodir, mas ele, em vez disso, fez uma coisa ainda mais enervante. Sorriu. Tinha a cabeça baixa, o nariz adunco espetado, as íris como hidroaviões poisados no oceano, e sorria.
— Obrigado, Mr. Kramer. É o que eu vou fazer.
Quando o juiz Kovitsky voltou à sala de audiências, os manifestantes estavam a divertir-se à grande, falando muito alto, soltando gargalhadas, andando de um lado para o outro, fazendo caretas e mostrando de outras formas ainda ao pelotão dos guardas do tribunal quem é que mandava ali dentro. Acalmaram-se um pouco quando viram Kovitsky, mas mais por curiosidade do que por outro motivo. Estavam
com a corda toda.
Sherman e Killian dirigiram-se para a mesa da defesa diante da tribuna do juiz, e a cantilena em falsete começou de novo a fazer-se ouvir.
— Sherrrr-maaaannnn!
Kramer estava junto à mesa do escrivão a falar com um homem alto e branco, que envergava um fato de má
qualidade.
— Aquele é o tão falado Bernie Fitzgibbon em quem você não tem fé nenhuma — disse Killian. Sorria com um ar muito satisfeito. Depois acrescentou, apontando para Kramer: — Veja-me só a cara daquele parvo.
Sherman ficou a olhar sem compreender.
Kovitsky ainda não tinha subido para a tribuna. Estava a uns dez pés de distância a falar com o seu assistente, um homem de cabeleira ruiva. O barulho na zona dos espectadores recrudesceu. Kovitsky subiu lentamente os degraus da tribuna sem olhar nessa direcção. Sentou-se na sua cadeira, de olhos baixos, como se observasse alguma coisa no chão.
E de repente — ZÁS! — o martelo — fez-se ouvir comouma bomba.
— CALEM A BOCA E SENTEM-SE!
Os manifestantes imobilizaram-se por um momento, chocados pelo volume furioso da voz daquele homenzinhotão pequeno.
— OU 1NSI-I-I-ISTEM... EM DESAFIA-A-A-AR A AUTORIDADE DESTE TRIBUNAL?
Toda a gente se calou e dirigiu para os seus lugares.
— Muito bem. Neste processo do Povo contra Sherman McCoy, o júri decidiu levar o réu a julgamento. No exercício da minha autoridade de supervisor das audiências com o júri, resolvi anular essa decisão no interesse da Justiça, sem prejuízo da possibilidade de recurso por parte do procurador docondado.
— Meritíssimo! — Kramer estava de pé e de braço noar.
— Mr. Kramer...
— A sua atitude vai causar danos irreparáveis não apenas neste caso particular...
— Mr. Kramer...
— ... mas também à causa do povo em geral. Meritíssimo, hoje, neste tribunal — fez um gesto na direcção da zona dos espectadores e manifestantes — estão presentes muitos membros da comunidade tão vitalmente afectada por este caso, e fica muito mal ao sistema de justiça criminal deste condado...
— MR. KRAMER! QUEIRA FAZER O FAVOR DE NÃO ME EXpLICAR O QUE ME FICA BEM OU MAL FAZER!
— Meritíssimo...
— MR. KRAMER! O TRIBUNAL ORDENA-LHE QUE SE CALE!
Kramer ergueu os olhos para Kovitsky e ficou de boca aberta, como se de repente lhe tivesse faltado o ar.
— Ora bem, Mr. Kramer...
Mas Kramer já tinha recobrado o fôlego. — Meritíssimo, gostaria que constasse dos autos que o tribunal acaba de levantar a voz. Acaba de berrar, para ser mais preciso.
— Mr. Kramer... Este tribunal vai levantar... MUITO MAIS DO QUE A VOZ! O que é que o leva a pensar que pode vir para aqui acenar com a bandeira das pressões da comunidade? A lei não é uma questão de maiorias e minorias. As suas ameaças não abalam o tribunal. O tribunal está a par da atitude que o senhor tomou perante o juiz Auerbach no tribunal criminal. O senhor foi para lá acenar uma petição, Mr. Kramer! Empunhou-a como uma bandeira! — Kovitsky ergueu a mão direita e agitou-a no ar. — E apareceu na TELEVISÃO, Mr. Kramer! Houve um artista que o desenhou a bramir a petição como um Robespierre ou um Danton, e foi assim que apareceu na TELEVISÃO! Resolveu agradar às massas, não foi? — e talvez aqueles que NESTE MOMENTO aqui estão presentes tenham GOSTADO do seu número, Mr. Kramer. Ora bem, eu tenho uma notícia a dar-lhe! Quem vier para ESTE tribunal agitar bandeiras FICA SEM BRAÇOS!... FAÇO-ME ENTENDER?
— Meritíssimo, eu estava só...
— FAÇO-ME ENTENDER?
— Sim, meritíssimo.
— Muito bem. Ora, como já disse, vou anular a decisão do júri neste processo do Povo contra McCoy, mantendo em aberto a possibilidade de recurso.
— Meritíssimo! Não posso deixar de repetir que semelhante atitude irá prejudicar de modo irreparável os interesses do Povo! — Kramer vomitou estas palavras tão alto que Kovitsky não o conseguiu silenciar com a sua voz toni-truante. O juiz pareceu surpreendido pela desfaçatez daquela declaração e pela sua veemência. Calou-se por instantes, o que deu aos manifestantes coragem para uma nova erupção.
— Yaggggghhhhh!... Não à justiça da Park Avenue! — Um deles levantou-se do banco, e depois outro e mais outro. O negro alto do brinco estava na fila da frente, de punho erguido. — Isto é uma fraude! — berrava — Isto é umafraude!
ZÁS! O martelo tornou a explodir. Kovitsky pôs-se de pé, apoiou os punhos na tribuna e inclinou-se para a frente. — Peço aos guardas... que EVACUEM AQUELE HOMEM! — E ao dizer isto projectou para a frente o braço direito, apontando para o manifestante do brinco. Dois guardas, de camisa branca de manga curta, com revólveres de calibre 38 à cintura, aproximaram-se dele.
— Não pode evacuar o Povo! — berrou ele. — Nãopode evacuar o Povo!
— Pois não — disse Kovitsky — mas posso-o evacuar ASI!
Os guardas agarraram o homem, cada um do seu lado e começaram a empurrá-lo para a saída. O homem olhou para os seus companheiros, mas estes pareciam confusos. Continuavam a resmungar, mas não se atreviam a opor-se frontal-mente a Kovitsky.
ZÁS!
— SILÊNCIO! — disse Kovitsky. Assim que se impôs uma relativa calma, Kovitsky olhou para Fitzgibbon e Kramer. — A sessão fica adiada.
Os espectadores levantaram-se, e os seus murmúrios transformaram-se em protestos irritados enquanto se dirigiam para a porta, lançando de vez em quando olhares sombrios a Kovitsky. Nove guardas do tribunal formaram uma ala entre os espectadores e a barra. Dois deles tinham a mão no coldre do revólver. Ouviram-se gritos abafados, mas Sherman não conseguiu perceber o que diziam. Killian pôs-se de pé e aproximou-se de Kovitsky. Sherman seguiu-o.
Uma enorme agitação lá atrás. Sherman rodou sobre os calcanhares. Um negro muito alto tinha atravessado a fila dos guardas. Era o do brinco de ouro, o que Kovitsky mandara expulsar da sala. Aparentemente, os guardastinham-no deixado no corredor, e agora ele voltava a entrar, espumando de raiva. Já tinha transposto a barra do tribunal. Dirigiu-se para Kovitsky com os olhos injectados.
— Seu pandeiro careca! Paneleiro careca!
Três guardas saíram da fila que procurava encaminhar os manifestantes para fora da sala. Um deles agarrou o homem alto pelo braço, mas ele soltou-se.
— Justiça da Park Avenue!
Vários manifestantes começaram agora a infiltrar-se pela aberta na fila dos guardas, resmungando e rosnando e tentando decidir ao certo o grau de ferocidade que haviam de mostrar. Sherman ficou a olhar para eles, paralisado pelo que estava a ver. É agora que vai começar! Uma sensação de medo...antecipação!... É agora que vai começar! Os guardas do tribunal recuam, esforçam-se por se interporem entre a multidão e o juiz e funcionários do tribunal. Os manifestantes andam de um lado para o outro, rosnando, ladrando, ganhando alento, tentando avaliar exactamente o seu próprio poder e coragem.
Buuuuuuuu!,,, Yeggggggh!... Yagggggghhhh!... Seu Goldberg!... Seu paneleiro careca!
De repente, mesmo à sua esquerda, Sherman vê a silhueta ameaçadora e ossuda de Quigley que se foi juntar aos guardas do tribunal. Está a tentar fazer recuar a multidão. O seu rosto tem uma expressão desvairada.
— O.K., Jack, já chega. Acabou-se. Agora vai tudo para casa, Jack. — Trata-os a todos por Jack. Ele está armado, mas o revólver continua escondido algures sob o seu casaco verde. Os guardas do tribunal começam a recuar lentamente. Estão sempre a estender a mão para o coldre que trazem à cintura. Tocam na coronha do revólver e afastam logo a mão, como se os apavorasse a perspectiva do que aconteceria naquela sala se puxassem da arma e desatassem aos tiros.
Empurrões e encontrões... uma balbúrdia incrível... Quigley!... Quigley agarra um manifestante pelo pulso, torce-lhe o braço atrás das costas e dá-lhe um puxão — Aaaaaaagggh! — e prega-lhe uma rasteira para o fazer cair. Dois guardas do tribunal, o guarda chamado Brucie e o grandalhão do pneu de banha na cintura, passam por Sherman às arrecuas, todos encolhidos, com a mão no coldre do revólver. Brucie começa a gritar por cima do ombro para Kovitsky: — Meta-se no seu elevador, senhor doutor juiz! Por amor de Deus, meta-se no elevador! — Mas Kovitskynão se mexe. Está a olhar para a multidão de sobrolhocarregado.
O grandalhão do brinco de ouro está a menos de um pé de distância dos dois guardas. Não tenta ultrapassá-los. Vê-se-lhe a cabeça lá em cima, no alto do seu grande pescoço, e ouvem-se os gritos com que se dirige a Kovitsky: — Seupaneleiro careca!
— Sherman! — É Killian ao seu lado. — Venha daí! Vamos descer no elevador do juiz! — Sente que Killian o puxa pelo cotovelo, mas está pregado ao chão. É agora que vai começar! Adiar para quê?
Uma mancha indistinta. Olha para cima. Uma figura furiosa de camisa de trabalho azul a carregar sobre ele. Um rosto contorcido. Um enorme dedo ossudo. — Chegou a tua hora, Park Avenue!
Sherman encolhe-se todo. De repente — Quigley. Quigley interpõe-se entre os dois homens e, com um sorriso perfeitamente desvairado, aproxima muito a cara da do outro e diz: — Olá!
Desconcertado, o homem fica a olhar para ele e nesse instante, sem deixar de o olhar nos olhos e de sorrir, Quigley levanta o pé esquerdo e deixa-o cair com toda a força em cima do pé do outro. Um uivo terrível.
É o sinal por que a multidão esperava. Yaggggghhhh!... Apanhem-no!... Apanhem-no! Os guardas já não conseguem contê-los. Brucie empurra o negro do brinco. Este dá dois ou três passos cambaleando para o lado. De repente, fica mesmo diante de Sherman. Olha-o fixamente. Está pasmado. Frente a frente! E agora? Limita-se a olhá-lo. Sherman continua paralisado... Cheio de medo... Agora! Encolhe-se, gira sobre si próprio, vira-lhe as costas — Agora!, é agora que começa! Faz meia volta e dá-lhe um murro em cheio no plexo solar — Uuuuuuu!
O filho da mãe começa a cair, de boca aberta, olhos arregalados e a maçã de Adão a agitar-se espasmodicamente. Fica estendido no chão.
— Sherman! Vá lá! — Killian está a puxar-lhe pelo braço. Mas Sherman fica imóvel. Não consegue tirar os olhos do homem do brinco de ouro. Ele está no chão, de lado, todo encolhido, a ofegar. O brinco forma um ângulo bizarro com a orelha.
Sherman é empurrado para trás por duas silhuetas que se debatem. Quigley. Quigley segura um rapaz alto e branco pelo pescoço com um dos braços, e parece estar a tentar enterrar-lhe o nariz na cabeça com a palma da outra mão. O
rapaz vai fazendo Aaaaaaaaaah, aaaaaaaaaah, e sangra horrivelmente. O nariz é uma massa sangrenta. Quigley vai grunhindo Annnh, annnh, annnh. Deixa o rapaz cair no chão, depois pisa-lhe o braço com o tacão do sapato. Um horrível Aaaaaaah. Quigley agarra Sherman pelo braço e puxa-o para trás.
— Vá lá Sherm! — Sherm. — Porra, vamo-nos pirar daqui!
Eu dei-lhe um murro na barriga — e ele fez Uuuuuuuu!, e caiu redondo no chão. Uma última olhadela ao brinco de ouro...
Agora, além de Quigley o empurrar, Killian também está a puxar por ele.
— Vá lá! — berra Killian. — Foda-se, você está maluco ou quê?
Só havia um pequeno semicírculo de guardas do tribunal, além de Quigley, entre a multidão e Sherman, Killian, o juiz, o seu assistente e o escrivão, que se foram esgueirando pela porta da sala do juiz, ombro a ombro, aos encontrões. Os manifestantes tinham agora motivos de sobra para estarem furiosos! Um deles tenta transpor a porta... Brucie não o consegue reter... Quigley... Quigley puxado revólver. Ergue-o bem alto no ar, e enfrenta o manifestante na soleira da porta.
— Vá, meu paneleiro! Queres mais um buraco na merda do nariz, ou quê?
O homem fica imóvel — imóvel como uma estátua. Não é o revólver. É a cara de Quigley que o assusta.
Um compasso de espera... dois compassos... Não precisam de mais. O guarda do pneu de banha segura a porta do elevador do juiz. Empurram toda a gente lá para dentro — Kovitsky, o assistente, o escrivão, Killian. Sherman entra também, às arrecuas, com Quigley e Brucie; Quigley quase lhe cai em cima. os outros guardas ficam na sala do juiz, prontos a puxar da arma. Mas a turba já perdeu o ímpeto, a coragem. Quigley. A cara dele. Vá lá, meu paneleiro. Queres mais um buraco na merda do nariz, ou quê?
O elevador começa a descer. Está imenso calor lá dentro. Todos uns em cima dos outros. Aaah, aaaah, aaaaah, aaaaaah. Sherman apercebe-se de que é ele próprio quem faz aquele barulho, ele e também Quigley, e Brucie, e o outro guarda, o mais gordo. Aaaaaaah, aaaaahhhhh, aaaaahhhhhh, aaaahhhhh, aaaahhhhhh.
— Sherm! — É Quigley, a falar por entre a respiração arquejante — arrumaste mesmo... aquele cabrão... Sherm!...
Arrumaste-o!
Caiu redondo no chão. Todo encolhido. E o brinco... Agora! — e eu venci. Sherman treme de medo — vão-me apanhar! — e de pura euforia. Outra vez! Quero fazer aquilo
outra vez!
— Não estejam tão satisfeitos. — Era Kovitsky, numa voz surda e ríspida. — Foi um fiasco do caraças. Vocês nem imaginam a que ponto. Eu não devia ter adiado a sessão. Devia ter falado com eles. Eles... não sabem. Eles nem sequer sabem o que é que fizeram.
— Senhor doutor — disse Brucie — olhe que a coisa não vai ficar por aqui. Temos manifestantes nos corredores e forado edifício.
— Fora, onde?
— Na escadaria principal, na Rua 161, mas também há alguns do lado da Walton Avenue. Onde é que tem o seu carro, senhor doutor?
— No lugar do costume. No buraco.
— Talvez um de nós devesse trazê-lo até à entrada daGrand Concourse.
Kovitsky ficou um momento a pensar. — Que se foda.
Não lhes vou dar esse gozo.
— Eles não vão saber, senhor doutor juiz. Eu não quero assustá-lo, mas olhe que eles já estão lá fora... a falar de si... Instalaram um sistema de som e tudo.
— Ah, sim? — disse Kovitsky. — E será que já ouviram falar de obstrução à administração da justiça?
— Não me parece que tenham alguma vez ouvido falar de outra coisa que não fosse arranjar sarilhos, mas olhe quedisso percebem eles.
— Bom, muito obrigado, Brucie. — Kovitsky pôs-se a sorrir. Voltou-se para Killian. — Lembra-se daquela vez que eu o mandei sair do elevador do juiz? Já nem me lembro como é que você conseguiu entrar.
Killian sorriu e acenou com a cabeça.
— E não quis sair nem por nada, e eu ameaçei-o de o acusar de desrespeito... E você disse: «Desrespeito por quê? Pelo elevador?» Lembra-se disso?
— Oh, pode crer que me lembro! Só esperava era que o senhor não se lembrasse.
— Sabe o que é que me lixou? É que você tinha razão. O que me lixou foi isso.
Ainda antes de o elevador chegar ao primeiro andar, começaram a ouvir o estridente BRAAAANNNNNG! do alarme.
— Caramba. Que idiota terá posto isto a funcionar? — disse Brucie. — Quem é que eles julgam que vai responder? Os guardas já estão todos de prevenção!
Kovitsky tornou a ficar sombrio. Abanava a cabeça. Parecia tão pequeno, um homenzinho magro e careca de amplas vestes pretas, enfiado naquele elevador a transbordar de gente. — Eles não sabem como isto é grave. Porra, não sabem mesmo... Eu sou o único amigo que eles têm, o único...
Quando se abriu a porta do elevador, o barulho do alarme — BRAAAANNNNNNNG! — tornou-se quase insuportável. Saíram para um pequeno vestíbulo. Uma das portas dava para a rua. A outra conduzia ao átrio do rés-do-chão da ilha fortificada. Brucie gritou para Sherman: — Como é que está a pensar sair daqui?
Quigley respondeu: — Nós temos um carro, mas só Deus sabe onde estará agora. A merda do motorista ficou morto de medo só de ter que vir até aqui.
Brucie perguntou: — Onde é que ele ficou de os esperar?
Quigley disse: — Diante da porta da Walton Avenue, mas pelo que eu percebi daquele pandeiro, a estas horas já deve ir a caminho de Candy.
— Çandy?
— É a merda da cidade dele, Candy, no Ceilão. Assim que nos começámos a aproximar do tribunal, ele desatou a falar da cidade dele, parecia que nunca mais se calava. Porra, que raio de nome, Candy (1).
Brucie arregalou os olhos, e depois berrou: — Hei, senhor doutor!
Kovitsky saía pela porta que dava para o átrio do edifício.
— Senhor doutor! Não vá para aí! Eles estão espalhados pelos corredores todos!
Agora! Outra vez! Sherman precipitou-se para a porta e correu atrás da silhueta de preto.
A voz de Killian: — Sherman! Que raio, o que é que você está a fazer?
A voz de Quigley: — Sherm! Santo Deus!
Sherman deu por si no meio de um enorme corredor de mármore cheio do ruído ensurdecedor do alarme.
(1) «Candy», em inglês, significa «bombom, rebuçado». (N. do T.)
Kovitsky ia um bom bocado à sua frente, e andava tão depressa que a toga se enfunava à sua volta. Parecia um corvo a tentar ganhar altitude. Sherman estugou o passo para o tentar apanhar. Uma figura passou por ele a correr. Brucie.
— Senhor juiz! Senhor doutor juiz!
Brucie conseguiu apanhar Kovitsky e tentou agarrar-lhe o braço esquerdo. Sherman estava agora mesmo atrás deles. Com um gesto furioso, Kovitsky obrigou o guarda a retirar amão.
— Onde é que o senhor vai? O que é que está a fazer?
— Tenho de lhes dizer. — Disse Kovitsky.
— Senhor doutor, olhe que eles matam-no!
— Tenho que lhes dizer!
Sherman apercebeu-se de que os outros chegavam agora também, pela direita e pela esquerda, a correr... o guarda gordo... Killian... Quigley... Todas as caras no corredor pararam, embasbacadas, tentando compreender que raio de cena seria aquela que estavam a presenciar... um juiz pequenino e furioso, de toga preta, com uma data de gente a correr atrás dele e a berrar: — Senhor doutor! Não faça isso!
Gritos no corredor... É ele!... É aquele cabrão!... BRAAANNNNNG!... O alarme massacrava os ouvidos de todos com as suas ondas sonoras penetrantes.
Brucie tentou de novo reter Kovitsky. — PORRA, LARGA-ME O BRAÇO! — gritou Kovitsky. — É UMA ORDEM,BRUCIE, FODA-SE!
Sherman tornou a estugar o passo para não se atrasar. Estava apenas um passo atrás do juiz. Procurou ver as caras das pessoas paradas no corredor. Agora! — Outra vez! Viraram à esquerda. Estavam agora no grande átrio moderno que dava para a escadaria da Rua 161. Cinquenta ou sessenta basbaques, cinquenta ou sessenta rostos extasiados, estavam dentro do átrio, olhando lá para fora, para os degraus. Através das portas de vidro, Sherman viu os contornos de uma massa de seres humanos.
Kovitsky chegou junto das portas de entrada, abriu uma delas e estacou. BRAAANNNNNG! Brucie berrou: — Não vá lá para fora, senhor doutor! Peço-lhe!
No meio da plataforma ao cimo das escadas via-se um microfone sobre um suporte, como os que há nos coretos. Diante do microfone estava um negro alto, de fato preto e camisa branca. Brancos e negros apinhavam-se à sua volta. Uma mulher branca de cabelo louro encaracolado, já com algumas brancas, estava de pé ao lado dele. Era uma autêntica multidão de brancos e negros que se via na plataforma enos degraus que a ela conduziam, de um lado e de outro. A ajuizar pelo ruído, devia haver umas centenas de pessoas, possivelmente até milhares, na grande escadaria e no passeio lá em baixo, na Rua 161. Então Sherman percebeu quem era o homem do microfone. O Reverendo Bacon.
Falava à multidão com uma voz firme e controlada de barítono, como se cada palavra sua representasse mais um passo irreversível do destino.
— Depositámos a nossa confiança nesta sociedade... e nesta estrutura de Poder... e o que é que ganhámos com isso?
— Muitos murmúrios e berros raivosos da multidão. — Acreditámos nas promessas deles... e o que é que ganhámos com isso? — Protestos, queixumes, uivos. — Acreditámos na justiça deles. Disseram-nos que a Justiça era cega. Disseram-nos que a Justiça era uma mulher cega... uma mulher imparcial... estão a ver?... E que essa mulher não sabia a cor da nossa pele... E afinal quem é essa mulher? Como é que ela se chama? — Gritos, vaias, uivos, ameaças. — Nós conhecemos a cara dela, conhecemos esse nome... é MY-RON-KO-VIT-SKY!
— Vaias, guinchos, gargalhadas, berros, um rosnar colossal de toda a multidão. — MY-RON-KO-VIT-SKY! — O berro recrudesceu ainda mais. — Mas nós sabemos esperar, irmãos e irmãs... sabemos esperar... Esperámos até hoje, e não temos outro lugar para onde ir. SABEMOS ESPERAR!... Sabemos esperar que os lacaios da estrutura do poder mostrem a cara. Ele está ali dentro. Está ali dentro! — Bacon continuou com a cara voltada para o microfone e para a multidão, mas apontou com o braço espetado na direcção do edifício. — E ele sabe que as pessoas estão aqui, porque... ele... não... é... cego... Vive cheio de medo nesta ilha, no meio do mar furioso do povo, porque sabe que o povo — e a justiça! — o esperam. E não há fuga possível! — A multidão respondeu com um berro, e Bacon inclinou-se um instante para o lado, enquanto a mulher do cabelo louro já grisalho lhe dizia qualquer coisa ao ouvido.
Nesse momento Kovitsky abriu à sua frente as duas portas de vidro do tribunal. A sua toga enfunou-se como um par de enormes asas negras.
— Senhor doutor juiz! Por amor de Deus! Kovitsky deteve-se no limiar, de braços abertos. Omomento prolongou-se... prolongou-se... O juiz deixou cair os braços. As asas enfunadas colaram-se-lhe ao corpo débil. Fez meia volta e tornou a entrar no átrio. Vinha de olhos baixos, a murmurar qualquer coisa.
— O único amigo deles, o único, porra! — Olhou para o guarda do tribunal. — O.K., Brucie, vamos embora.
Não! Agora! Sherman gritou: — Não, senhor doutor juiz! Vá lá! Eu vou consigo!
Kovitsky rodou sobre os calcanhares e olhou para Sherman. Nem tinha reparado que ele ali estava. De sobrolho carregado, furioso, começou a responder: — Que diabo... — Vá lá! — disse Sherman. —Vá lá, senhor doutor juiz! Kovitsky ficou a olhar para ele. Graças à insistência de Brucie, seguiam agora a bom ritmo, em sentido inverso, pelo mesmo corredor. Os corredores estavam muito mais cheios de gente... uma multidão hostil...
Éo Kovitsky! Éele! Berros... uma barulheira ensurdecedora... BRAANNNNNG! — o alarme não parava de tocar, fazendo ricochete no mármore, o que duplicava ou triplicava a intensidade do som... Um homem de certa idade, que não parecia manifestante, apareceu de um dos lados, como que para interpelar Kovitsky, apontando para ele e gritando: — O senhor... — Sherman atirou-se a ele e berrou: — Saia da frente, seu cabrão! — O homem recuou logo, de boca aberta. A expressão da cara dele — cheio de medo! Agora! — outra vez! — dá-lhe um murro em cheio na barriga, esborracha-lhe o nariz, põe-lhe um olho negro! — Sherman voltou-se paraKovitsky.
Kovitsky olhava-o fixamente, como olharia para umlouco. Killian também. E os dois guardas também.
— Você não está bom da cabeça! — berrou Kovitsky. — Quer que dêem cabo de si, ou quê?
— Senhor doutor juiz — disse Sherman — isso não tem importância! Não tem importância nenhuma!
E sorriu. Sentia o lábio superior muito esticado, em contacto com os dentes. Deixou escapar uma espécie de gargalhadinha breve e áspera. Sem um chefe que lhe indicasse o que fazer, a multidão reunida no corredor conteve-se prudentemente, não fosse aquele homem ser um louco perigoso. Sherman fitou-lhes os rostos um a um como para os obliterar com a força do seu olhar. Estava apavorado — e pronto para tudo! — outra vez!
O pequeno grupo bateu em retirada pelo corredor fora.
Epílogo
Exactamente um ano mais tarde, foi publicado o seguinte artigo na página BI da secção de noticiário de Nova Iorque do New York Times:
CORRETOR PRESO APÓS MORTE DE ESTUDANTE NEGRO Por Overton Holmes, Jr.
O antigo corretor da Wall Street Sherman McCoy foi ontem trazido algemado até ao Bronx e formalmente acusado de homicídio involuntário após a morte de Henry Lamb, um brilhante aluno de liceu negro de 18 anos que era o orgulho do bairro social do Sul do Bronx onde vivia.
Mr. Lamb faleceu na noite de segunda-feira no Hospital Lincoln em consequência de lesões cerebrais sofridas ao ser atropelado pelo Mercedes desportivo de Mr. McCoy no Bruckner Boulevard, há cerca de treze meses. A vítima nunca chegou a recobrar consciência.
Manifestantes da Solidariedade Sem Fronteiras e de outras organizações gritaram palavras de ordem como «Assassino da Wall Street», «Criminoso capitalista» e «Até que enfim, justiça», enquanto dois detectives conduziam Mr. McCoy para o Tribunal Criminal do Bronx na Rua 161. A eventual responsabilidade de Mr. McCoy pelas lesões de Mr. Lamb esteve o ano passado no centro de uma autêntica tempestade política.
Uma figura patrícia
Ao ser-lhe pedido pelos repórteres que comentasse o contraste entre o seu passado na Wall Street e na Park Avenue e a sua actual situação, Mr. McCoy gritou: «Eu não tenho nada a ver com a WallStreet e a Park Avenue. Neste momento sou um réu profissional. Já sofri um ano inteiro de perseguição legal e ainda vou ter de sofrer mais outro — ou talvez até mais entre 8 13 a 25.»
Esta última frase é uma referência evidente à sentença de prisão que terá de cumprir se for considerado culpado da nova acusação. Consta que o procurador do Bronx, Richard A. Weiss, preparou um libelo de cinquenta páginas para apresentar ao júri. A tenacidade de que Mr. Weiss deu provas neste caso foi unanimemente considerada como a chave da sua candidatura vitoriosa à reeleição em Novembro último.
Figura alta e patrícia, filho do eminente advogado da Wall Street John Campbell McCoy e produto da St. Pauls School e de Yale, Mr. McCoy, de 39 anos, vestia uma camisa desportiva, calças de caqui e sapatos de ténis. Este trajo contrasta violentamente com os fatos ingleses de dois mil dólares feitos por medida que o distinguiam no tempo em que ele era o lendário «rei do mercado das obrigações» da Pierce & Pierce e ganhava um milhão de dólares por ano.
Ao transpor a porta da cave do tribunal que dá acesso às instalações do Registo Central do Bronx, Mr. McCoy disse em resposta à pergunta que sobre isso lhe fez um repórter: «Já lhe disse que sou um réu de carreira. Agora visto-me para a prisão, embora ainda não tenha sido condenado por nenhum crime.»
Despromoção social
Ao entrar, seis horas mais tarde, na sala de audiências do juiz Samuel Auerbach, Mr. McCoy apareceu com o lado esquerdo do queixo ligeiramente inchado e escoriações nas articulações de ambas as mãos. Interrogado sobre o assunto pelo juiz Auerbach, disse, cerrando os punhos: «Não se preocupe, senhor doutor juiz. É um assunto que eu hei-de resolver pelos meus próprios meios.»
Agentes da Polícia disseram que Mr. McCoy se tinha envolvido numa «discussão» com dois outros presos numa cela de detenção colectiva, discussão da qual resultou uma luta, tendo Mr. McCoy declinado a oferta de tratamento médico.
Quando o juiz lhe perguntou se se declarava culpado ou inocente, Mr. McCoy disse muito alto: «Absolutamente inocente.» Contra o conselho do juiz, insistiu em representar-se a si próprio nesta sessão preliminar e afirmou que continuaria a fazê-lo no decurso do julgamento.
Fontes próximas de Mr. McCoy, cujos bens chegaram a ser estimados em mais de oito milhões de dólares, afirmaram que um ano de enormes despesas e complicações legais o deixou «quase sem meios para pagar a renda». Outrora proprietário de um apartamento de 3 200000 dólares no n.º 816 da Park Avenue, vive agora em duas modestas divisões numa torre do pós-guerra, na East 34th Street, perto da First Avenue.
A acusação inicial contra Mr. McCoy, fazer perigar a vida de terceiros, foi anulada em Junho do ano passado, no decurso de uma tumultuosa audiência com o antigo juiz do Supremo Tribunal, Myron Kovitsky. Na onda de protestos da comunidade negra que seseguiu a esta decisão, Mr. Weiss apresentou o processo a um segundo júri, que confirmou a decisão de levar o réu a julgamento.
A organização do Bronx do Partido Democrático, em resposta às exigências da comunidade, recusou-se a nomear de novo o juiz Kovitsky, que veio a ser claramente derrotado na sua tentativa de reeleição em Novembro. Substituiu-o o juiz veterano Jerome Meldnick. O julgamento de Mr. McCoy, em Fevereiro último, terminou sem que o júri tivesse chegado a uma decisão unânime, uma vez que os três jurados brancos e um jurado hispânico defenderam, contra a opinião dos restantes, o veredicto de inocência.
Há dois meses, um júri do Bronx concedeu a Mr. Lamb uma indemnização de 12 milhões de dólares em resultado da acção por ele apresentada contra Mr. McCoy, tendo este último apelado da decisão. Recentemente, o advogado Albert Vogel, em representação de Mr. Lamb, acusou Mr. McCoy de esconder parte dos seus bens para se eximir ao cumprimento da sentença. O objecto de litígio é o produto da venda do apartamento da Park Avenue e da casa de Southamp-ton, Long lsland, que Mr. McCoy tentou entregar imediatamente à sua mulher, Judy, de quem se encontra separado, e à filha de sete anos do casal, Campbell. O tribunal congelou estes fundos, juntamente com o que resta dos títulos e bens pessoais vendáveis de Mr. McCoy, até ser conhecido o resultado do recurso por ele interposto na questão da indemnização.
Consta que Mrs. McCoy e a filha foram entretanto viver para o Midwest, mas Mrs. McCoy esteve ontem presente na zona dos espectadores da sala de audiências, não tendo sido aparentemente reconhecida pelo ruidoso grupo de manifestantes, negros e brancos, que ocupavam a maior parte dos lugares. A dado momento, Mr. McCoy olhou para a mulher com um sorriso e levantou a mão esquerda, saudando-a com o punho fechado. Não ficou claro qual o significado do gesto. Mrs. McCoy recusou-se a falar aos jornalistas.
«Ninho de amor de renda limitada»
O casamento de Mr. McCoy foi abalado pela revelação de que Maria Ruskin Chirazzi, herdeira da fortuna da transportadora aérea Ruskin, se encontrava no automóvel de Mr. McCoy no momento em que Mr. Lamb foi atropelado. O par, segundo veio depois a saber-se, mantinha uma ligação clandestina num apartamento secreto, mais tarde apelidado «ninho de amor de renda limitada». Arthur Ruskin, então marido de Mrs. Chirazzi, faleceu vítima de ataque cardíaco pouco antes de ser divulgado o envolvimento da mulher neste caso.
O procurador Weiss preparava-se para dar início a um novo julgamento da acusação de fazer perigar a vida de terceiros, quando Mr. Lamb faleceu, expondo Mr. McCoy à acusação mais grave de homicídio involuntário. Mr. Weiss já anunciara que a acusação ficaria a cargo do procurador-adjunto Raymond Andriutti.
Mr. Weiss viu-se inesperadamente obrigado a afastar do caso o procurador do primeiro julgamento, Lawrence N. Kramer, quando se descobriu que Mr. Kramer tinha intercedido junto do senhorio do referido «ninho de amor de renda limitada» para que este fosse alugado a uma sua amiga, Shelly Thomas, empregada de uma agência de publicidade. Mr. Kramer, que é casado, conheceu Ms. Thomas quando ela fez parte do júri de um caso sem qualquer relação com este, em que ele foi igualmente encarregado da acusação. O réu desse caso, Herbert (Herbert 92X) Cantrell, obteve uma anulação da sua condenação por homicídio de primeiro grau com base na «atitude incorrecta da acusação». Mr. Andriutti disse ontem que chamaria Mrs. Chirazzi a depor como testemunha da acusação no novo julgamento de Mr. McCoy, apesar da controvérsia que se gerou em torno do seu depoimento que esteve na origem da anulação da decisão do primeiro júri por parte do juiz Kovitsky. Mrs. Chirazzi não testemunhou no primeiro julgamento.
Transacções de propriedades
Os problemas jurídicos de Mr. McCoy viram-se ontem agravados quando uma conhecida agente imobiliária, Sally Rawthrote, apresentou contra ele uma acção no valor de 500 mil dólares no Tribunal Civil de Manhattan. Ms. Rawthrote recebera uma comissão de 192 mil dólares pela venda do apartamento de 3 200000 dólares sito na Park Avenue e pertencente a Mr. McCoy. Mas Mr. Lamb. por intermédio de Mr. Vogel, processou-a no valor dos 192 mil dólares, argumentando que o dinheiro deveria ser aplicado no pagamento da indemnização de 12 milhões de dólares a Mr. Lamb. Na acção ontem apresentada, Ms. Rawthrote acusou Mr. McCoy de «pôr dolosamente à venda uma propriedade de que não podia dispor». Nas declarações que prestou à imprensa, disse que estava «meramente a precaver-se contra a eventual perda da comissão a que tinha direito», mas nada tinha contra Mr. McCoy.
É difícil saber como poderá Mr. McCoy resolver este e os outros complexos problemas jurídicos com que se defronta. Contactado na sua casa de Long Island, o antigo advogado de Mr. McCoy, Thomas Killian, declarou já não estar em condições de representar Mr. McCoy, devido à falta de meios deste último para organizar a sua defesa.
Neste momento, o próprio Mr. Killian é também alvo de uma série de processos movidos contra ele pelos seus novos vizinhos da elegante comunidade costeira de Lattingtown. Mr. Killian adquiriu recentemente a propriedade Phipps, com vinte acres de superfície, e encarregou o conhecido arquitecto Hudnall Stallworth, de desenhar um grande anexo ao edifício principal, que faz parte da lista de imóveis classificados do National Historie Registry. Os adeptos locais da defesa do património opõem-se a quaisquer alterações na imponente estrutura georgiana.
Mr. Killian mostra-se, no entanto, caloroso no seu apoio a Mr. McCoy. Num discurso ontem proferido num almoço de carácter particular, ter-se-á referido à acusação de homicídio involuntário como sendo «uma perfeita treta», acrescentando ainda: «Se este caso fosse julgado in foro conscientiae (no tribunal da consciência), os réus seriam Abe Weiss, Reginald Bacon e Peter Fallow do City Light.»
Milton Lubell, porta-voz de Mr. Weiss, declarou que o procurador não responderia às «intromissões» de «uma pessoa que já nada tem a ver com o caso». E acrescentou: «Só um tratamento preferencial por parte de certos elementos do sistema judicial permitiu que Mr. McCoy tenha até agora escapado à alçada da lei. É trágico que tenha sido precisa a morte de Henry Lamb, um jovem que representava os mais altos ideais da nossa cidade, para ser enfim feita justiça neste caso.»
Buck Jones, porta-voz da Solidariedade Sem Fronteiras, organização liderada por Mr. Bacon, rejeitou a acusação de Mr. Killian, dizendo tratar-se da «conversa racista do costume de um porta-voz racista falando em nome de um notório capitalista racista» que está simplesmente a esforçar-se por «não pagar o que deve pela destruição racista de um rapaz exemplar.»
Mr. Fallow, que ganhou o prémio Pulitzer pela sua cobertura do caso McCoy, não pôde ser contactado para comentar as declarações de Mr. Killian. Segundo nos foi dito, o jornalista encontra-se neste momento a bordo de um iate no Mar Egeu, com aquela que é desde há duas semanas a sua noiva, Lady Evelyn, filha de sir Gerald Steiner, financeiro e proprietário do City Light.
Tom Wolfe
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa