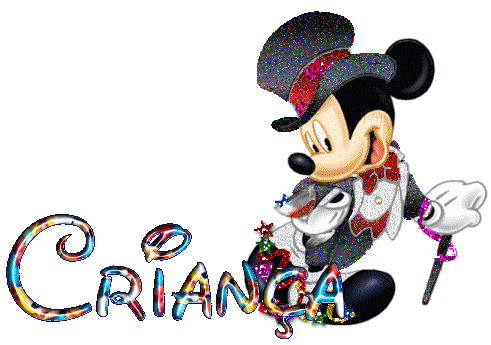Biblioteca Virtual do Poeta Sem Limites




A FOGUEIRA DAS VAIDADES
Prólogo
Lançado às Feras
— E o que é que nos vão dizer a seguir? Vão dizer: «Esqueçam que têm fome, esqueçam que apanharam um tiro nas costas de um chui racista... O Chuck esteve cá? Chuck, vamos lá a Harlem...»
— Não, deixe-me dizer-lhe...
— «Chuck, vamos lá a Harlem e...»
— Deixe-me que lhe diga...
— Estou mesmo a vê-los dizer: «Chuck, vamos lá a Harlem, fazer alguma coisa pela comunidade negra?»
E pronto.
Heh-heggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhh!
E uma dessas horríveis gargalhadas em tom de contralto, algures no meio do público. É um som vindo tão lá do fundo, de baixo de um tão grande número de camadas de gordura, que ele imagina logo qual deve ser o aspecto da criatura. Duzentas libras, no mínimo! Um autêntico monte de banha! A gargalhada dá o sinal de partida. — E lá estalam os tais sons ventrais que ele tanto detesta.
Começam: — Hehhehheh... annnnhhh — hanhhh... Isso mesmo... Diz-lhes como é, meu... Rua!
Chuck! O insolente — está ali, ali mesmo, na fila da frente — e acaba de lhe chamar Charlie! Chuck é o diminutivo de Charlie, e Charlie é o velho nome de código para um labrego branco estreito de vistas. Que insolência! Que descaramento! O calor e o brilho da luz são terríveis. Obrigam o mayor a semicerrar os olhos. São os projectores da televisão. Ele está no meio de uma névoa ofuscante. Mal consegue distinguir a cara do provocador. Vê uma silhueta muito alta e os ângulos bizarros, ossudos, que os cotovelos do homem desenham quando ele agita as mãos no ar. E um brinco. O homem tem um grande brinco de ouro numa das orelhas. O mayor inclina-se para o microfone e diz:
— Não, agora quem fala sou eu. O.K.? Eu dou-vos os números todos. O.K.?
— Nós não queremos os teus números, meu!
Meu, diz ele! Que insolência! — Foi você que puxou o assunto, meu amigo. Por isso agora vai ter que ouvir os meus números. O.K.?
— Não nos venhas chatear mais com os teus números! Nova explosão da turba, desta vez ainda mais ruidosa:
— Annnh — annnh — annnh... Diz-lhes, meu... É assim mesmo... Toma lá, Gober!
— Na minha administração (e isto é do conhecimento público) a percentagem de orçamento anual para a cidade de Nova Iorque...
— Caramba, hooomem — berra o provocador — não te ponhas para aí a aldrabar-nos com os teus números e a tua retórica burocrática!
Eles adoram. Aquela insolência! A insolência desencadeia uma nova explosão. O mayor espreita através do brilho escaldante das luzes da televisão. Continua a semicerrar os olhos. Apercebe-se de que tem à sua frente uma grande massa de silhuetas. A multidão avoluma-se. O tecto começa a descer. Está revestido de placas de cor bege. Toda a superfície das placas está coberta de incisões sinuosas. As bordas estão a desfazer-se. Amianto! É um material que ele reconhece à légua! Os rostos — os rostos estão à espera da festa, à espera da luta. Narizes esmurrados! — a ideia é essa. O instante seguinte é crucial. Ele está à altura da situação! Ele pode bem com provocadores! Só tem cinco pés e sete polegadas, mas ainda é melhor naquilo do que o Koch! É o mayor da maior cidade do Mundo — Nova Iorque! Sim, ele!
— Muito bem! Já se divertiu bastante, e agora vai estar um minuto calado!
Aquilo desconcerta o provocador, que embatuca. Era só isso que o mayor queria. Ele sabe como actuar.
— Vocêêê fez-me uma pergunta, não é verdade, e já conseguiu umas boas gargalhadas da sua claque. Portanto agora vai ficar caladinho e ouviiir a resposta. O.K?
— O que é isso de claque? — O homem perdeu o fôlego, mas continua de pé.
— O.K.? Ora aqui tem as estatísticas da sua comunidade, daqui mesmo, de Harlem.
— O que é isso de claque? — O sacana agarrou-se à palavra claque como a um osso. — Ninguém come estatísticas, homem.
— Diz-lhe, meu... Rua... Rua, Gober!
— Deixe-me acabar. Será que vocêêê julga...
— Não venha para cá com percentagens do orçamento anual, homem! Nós queremos é emprego!
A multidão explode de novo. E pior do que antes. Há muita coisa que ele não percebe — interjeições que não chegam à superfície. Mas há também aquela história do Rua. É um sacana lá ao fundo, com uma voz que se sobrepõe a tudo o resto.
— Rua, Gober! Rua, Gober! Rua, Gober! Mas não é Gober que ele diz. É Goldberg.
— Rua, Goldberg! Rua, Goldberg! Rua, Goldberg!
Aquilo atordoa-o. Naquele lugar, em Harlem! Goldberg é a alcunha que em Harlem se dá aos judeus. É inconcebível! — vergonhoso! — que alguém lance semelhante grosseria à cara do mayor de Nova Iorque!
Vaias, assobios, grunhidos, gargalhadas sonoras, gritos. Eles querem ver dentes partidos. A situação descontrolou-se.
— Será que...
Não vale a pena. Ele não consegue fazer-se ouvir, nem mesmo com o microfone. O ódio naqueles rostos! Veneno puro! É paralisante.
— Rua, Goldberg! Rua, Goldberg! Rua, Hymie! Hymie! Que coisa! Agora um berra Goldberg e outro
berra Hymie. Então faz-se luz no seu espírito. O Reverendo Bacon! Aquilo é a gente do Bacon. Não há dúvida. As pessoas imbuídas de espírito cívico que vêm aos comícios em Harlem — as pessoas com que Sheldon estava encarregado de encher aquela sala — não estariam ali a berrar aqueles insultos. Foi Bacon quem fez isto! Bacon mandou para aqui a gente dele!
Uma onda da mais pura autocompaixão submerge o mayor. Pelo canto do olho vê as equipas de televisão agitarem-se na névoa de luz. As câmaras saem-lhes das cabeças como chifres. Rodopiam para cá e para lá. Estão a engolir aquilo tudo! Estão ali para assistir à zaragata! Seriam incapazes de mexer um dedo. Cobardes! Parasitas! Piolhos da vida pública!
E no instante seguinte apercebe-se de um facto terrível: — Acabou-se. Não posso acreditar. Perdi.
— Já chega de... Daqui para fora... Uuuuu... Não queremos cá... Rua, Goldberg!
Guliaggi, chefe do corpo de segurança à paisana do mayor, aproxima-se dele, vindo de um dos extremos do palco. O mayor manda-o recuar com um aceno da mão, sem olhar directamente para ele. De qualquer maneira, o que é que ele poderia fazer? Só tinha trazido quatro homens. Não quisera aparecer ali com um exército. A ideia fora mostrar que podia perfeitamente fazer um comício em Harlem, do mesmo modo que os faria em Riverdale ou Park Slope.
Na fila da frente, através da névoa, apercebeu-se da presença de Mrs. Langhorn, a mulher de cabelo curto, presidente da comissão de representantes da comunidade, que o apresentara ao público há... o quê? Há meia-dúzia de minutos. Ela franze os lábios, inclina a cabeça e começa a abaná-la. Aquela expressão quer dizer: «Gostava de o poder ajudar, mas o que é que eu posso fazer? Olhe a fúria das pessoas!» Oh, ela tem medo, como todos os outros! Ela sabe que devia opor-se a estes elementos! As próximas vítimas vão ser os negros como ela! E esta gente vai persegui-los com a maior das satisfações! Ela sabe disso. Mas as boas pessoas estão intimidadas! Não se atrevem a fazer seja o que for! Voltamos à lei da bala! Eles ou nós!
— Vai para casa! Uuuuuu! Yaghhhhh! Rua!
Tenta de novomicrofone. — E assim que... é assim que...
Nada a fazer. É como falar com uma parede. Ele quer é cuspir-lhes na cara. Quer dizer-lhes que não tem medo. Quem fica mal visto não sou eu! Vocês estão a permitir que uma meia-dúzia de arruaceiros reunidos nesta sala deixem mal vista Harlem inteira! Permitem que dois provocadores me chamem Goldberg e Hymie e não os vaiam a eles — vaiam-me a mim! É inacreditável! Será que vocês julgam — vocês, habitantes de Harlem activos, respeitáveis, tementes a Deus, vocês, Mrs. Langhorn, vocês, pessoas imbuídas de espírito cívico —julgarão mesmo que eles são vossos irmãos? Quem têm sido os vossos amigos ao longo de todos estes anos? Os judeus! E deixam que estes tipos me chamem Charlie! Eles insultam-me desta maneira, e vocês não dizem nada?
A sala inteira parecia dar pulos. Eles agitam os punhos. Têm as bocas abertas. Gritam. Se saltarem um pouco mais alto, saem pelo tecto.
Isto vai aparecer na televisão. A cidade inteira vai ver. E vão todos adorar. Harlem amotina-se! Que espectáculo! Não se dirá: os provocadores, os homens de mão e os profissionais da arruaça amotinam-se — mas sim: Harlem amotina-se! Toda a Nova Iorque Negra se amotina! Ele só é mayor para algumas pessoas! É o mayor da Nova Iorque Branca! Lancem-no às feras! Os Italianos vão ver isto na televisão, e vão adorar. E os Irlandeses. Até mesmo os WASPs (1). Esses não vão perceber a que é que estão a assistir. Hão-de estar instalados nos seus apartamentos de luxo da Park Avenue, da Quinta Avenida, da Rua 72 e de Sutton Place, e hão-de estremecer com a violência da cena, gozando o espectáculo. Animais! Cabeças ocas! Meninos mimados! Goyim! Vocês nem sequer sabem, pois não? Acham mesmo que esta cidade ainda é vossa? Abram os olhos! A maior cidade do século XX! Acham que o dinheiro conseguirá fazer com que continue a ser vossa?
Desçam dos vossos belos apartamentos, ó administradores de sociedades anónimas, ó advogados das grandes companhias! Isto aqui é o Terceiro Mundo! Porto-rique-nhos, antilhanos, haitianos, dominicanos, cubanos, colombianos, hondurenhos, coreanos, chineses, tailandeses, vietnamitas, equadorianos, panamianos, filipinos, albaneses, senegaleses e afro-americanos! Vão visitar as fronteiras, seus cobardolas! Morningside Heights, St. Nicholas Park, Washington Heights, Fort Tyron — por quê pagar más! O Bronx — o Bronx para vocês acabou! Riverdale não passa de um pequeno porto franco, lá em cima! Pelham Parkway — mantenham aberto o corredor para Westchester! Brooklyn — a vossa Brooklyn já não existe! Brooklyn Heights, Park Slope — pequenas Hong Kongs, nada mais! E Queens! Jackson Heights, Elmhurst, Hollis, Jamaica, Ozone Park — de quem são? Sabem? E de que modo é que isso afecta Ridgewood, Bayside e Forest Hills? Já alguma vez pensaram nisso? E Staten Island! Será que vocês sejulgam a salvo, seus fanáticos do faça-você-mesmo aos fins de semana? Não lhes parece que o futuro saberá atravessar uma ponte? E vocês, WASPs dos bailes de caridade, repimpados nos vossos montes de dinheiro herdado, nos vossos apartamentos de luxo com tectos altos e duas alas, uma para vocês, outra para os criados, estão mesmo convencidos de que o vosso reduto é inexpugnável? E vocês, financeiros judeus alemães que comseguiram...
-
Sigla de «White Anglo-Saxon Protestam»: Protestante Anglo-Saxónico Branco. (N. do T.)
...enfim instalar-se nos mesmos edifícios para melhor se isolarem das horas shtetl, julgam estar realmente isolados do Terceiro Mundo?
Pobres idiotas! Cabeças de abóbora! Galinhas! Bestas! Esperem só até terem por mayor um Reverendo Bacon, e uma Câmara Municipal e uma Comissão do Orçamento povoada de Reverendos Bacons! Então é que vão ficar a conhecê-los bem, não tenha dúvidas! Eles hão-de os ir visitar! Hão-de os visitar no número 60 da Wall e na Suite Número Um do Manhattan Plaza! Hão-de se sentar às vossas secretárias, tamborilando os dedos! Hão-de vos limpar o pó aos cofres, e de graça!...
Completamente loucas, estas coisas que lhe passam pela cabeça! Absolutamente paranóicas! Ninguém vai eleger Bacon para coisa nenhuma. Ninguém vai invadir a parte baixa da cidade. Ele sabe disso. Mas sente-se tão só! Abandonado! Incompreendido! Eu! Esperem até já não me terem a mim! Então é que vão ver como é! E deixam-me ficar aqui sozinho nesta tribuna, com o maldito tecto de amianto a abater-se sobre a minha cabeça...
— Buuuul... Yaggggghhhhh!... Yaaagggghhh! Rua!... Goldberg!
Há grande agitação num dos extremos do palco. As luzes da televisão incidem-lhe em cheio na cara. Muitos empurrões e cotoveladas — vê cair um dos operadores de câmara. Alguns daqueles sacanas dirigem-se para as escadas do palco, e a equipa de televisão atravessa-se no seu caminho. Portanto, passam por cima deles. A empurrar — a empurrar alguém pelas escadas abaixo — os seus homens, o corpo de polícias à paisana, o grandalhão, Norrejo — Norrejo está a empurrar alguém pelas escadas abaixo. Um objecto atinge o ombro do mayor. Dói como tudo! Ali, no chão — um frasco de mayonnaise, um frasco grande de mayonnaise Hellmans. Meio cheio! Meio gasto! Alguém lhe atirou um frasco meio gasto de mayonnaise Hellmans! Nesse momento uma ideia insignificante invade-lhe o espírito. Quem, quem, em nome de Deus, é que teria trazido um frasco grande e meio gasto de mayonnaise para um comício?
Malditas luzes! Há gente em cima do palco... grande agitação... a balbúrdia é completa... Norrejo agarra um matulão pela cintura, enfia-lhe um joelho nas costas e atira-o ao chão. Os outros dois detectives, Holt e Danforth, voltam costas ao mayor. Estão curvados, como que para proteger o seu avanço. Guliaggi está mesmo ao seu lado.
— Ponha-se atrás de mim — diz Guliaggi. — Vamos sair por aquela porta.
Será possível que ele esteja a sorrir? Parece-lhe ver um sorrisinho no rosto de Guliaggi. Este acena com a cabeça em direcção a uma porta atrás do palco. É atarracado, tem uma cabeça pequena, testa baixa, olhos pequenos e juntos, nariz achatado, uma grande boca maldosa encimada por um bigo-dinho. O mayor não desvia os olhos daquela boca. Será um sorriso? Não pode ser, e daí talvez seja. Aquele estranho esgar cruel dos seus lábios parece dizer: «Até agora foste tu a mandar na festa, mas agora sou eu.»
Seja como for, o sorriso resolve a questão. O mayor, qual Custer, abandona o seu posto de comando na tribuna. Entrega-se àquele rochedo. Agora os outros também se aproximam, Norrejo, Holt, Danforth. Rodeiam-no como os quatro cantos de um cercado. O palco está cheio de gente. Guliaggi e Norrejo abrem caminho através da multidão, à força de músculo. O mayor avança colado a eles. Vê rostos ferozes a toda a sua volta. A escassos dois pés de distância, uma criatura não pára de saltar e berrar: — Seu mariquinhas de cabelos brancos! Seu mariquinhas de cabelos brancos!
De cada vez que o filho da mãe dá um salto, o mayor vê-lhe os olhos arregalados, cor de marfim, e a enorme maçã de Adão. É mais ou menos do tamanho de uma batata doce.
— Seu mariquinhas de cabelos brancos! — O homem não se cala. — Seu mariquinhas de cabelos brancos!
E, mesmo à sua frente, o grandalhão provocador em
pessoa! O dos cotovelos ossudos e do brinco! Guliaggi está
entre o mayor e o provocador, mas o provocador é muito
maior que Guliaggi. Deve ter uns seis pés e cinco polegados.
Começa a berrar, bem na cara do mayor.
— Volta para... Uf!
De repente, o grande filho da mãe encolhe-se, de boca aberta e olhos esgazeados. Guliaggi atingiu-o no sexo com o cotovelo e o antebraço.
Guliaggi alcança a porta, e abre-a. O mayor segue-o. Sente que os outros detectives o empurram de trás. Apoia-se nas costas de Guliaggi. Aquele homem é um rochedo!
Estão a descer uma escada. Os seus passos produzem um ruído metálico. Ele continua inteiro. Nem sequer tem a multidão atrás dos calcanhares. Está em segurança... e cai-lhe o coração aos pés. Eles nem tentaram segui-lo. A verdade é que nunca quiseram tocar-lhe. E neste momento... ele percebe. Percebe antes ainda de o seu cérebro conseguir ordenar as ideias.
— Fiz o contrário do que devia ter feito Cedi àquele sonsinho. Entrei em pânico. Está tudo perdido...
1 - O Senhor do Universo
Nesse preciso instante, num desses apartamentos de luxo da Park Avenue que tanto obcecavam o mayor... tectos altos... duas alas, uma para os proprietários Brancos, Anglo-Saxónicos e Protestantes, e outra para os criados... Sherman McCoy estava ajoelhado no átrio a tentar pôr a trela a um dachsund. O pavimento era de mármore verde-escuro, e estendia-se a perder de vista. Conduzia a uma escadaria de nogueira de cinco pés de largura que, numa curva sumptuosa, dava acesso ao andar de cima. Era o tipo de apartamento cuja simples descrição basta para atear incêndios de inveja e cobiça nos habitantes de Nova Iorque inteira como, aliás, do mundo inteiro. Mas Sherman só queria era sair daqueles seus fabulosos domínios por meia hora.
Por isso ali estava, de joelhos, a lutar com um cão. O dachsund era, pensava ele, o seu visto de saída.
Quem olhasse para Sherman McCoy assim agachado e vestido como estava, de camisa aos quadrados, calças caqui e sapatos de vela, não adivinharia com certeza a que ponto a sua figura costumava ser imponente. Ainda jovem... trinta e cinco anos... alto... quase seis pés e uma polegada... um aprumo incrível... incrível ao ponto de se tornar dominador... tão dominador como o pai, o Leão da Dunning Sponget... uma cabeleira intacta, de um castanho alourado... nariz afilado... queixo proeminente... Tinha orgulho no seu queixo. O queixo dos McCoys; igual ao do Leão. Era um
queixo másculo, um queixo grande e redondo como costumavam ser os dos homens de Yale nos desenhos de Gibson e Leyendecker, um queixo aristocrático, se querem saber a opinião de Sherman. Ele também era um homem de Yale.
Mas naquele momento toda a sua atitude se esforçava por dizer: «Eu só vou levar o cão a passear.»
O dachsund parecia saber o que esperava. Esquivava-se constantemente à trela. As pernas cambadas do animal transmitiam uma impressão enganadora. Quando se tentava deitar-lhe a mão, transformava-se num cilindro de dois pés de comprimento, todo ele músculo. Na sua luta com ele, Sherman desequilibrou-se para a frente. E ao desequilibrar-se, bateu com a rótula no pavimento de mármore e a dor irritou-o.
— Vá lá, Marshall — resmungou. — Pára quieto, que diabo.
O animal tornou a esquivar-se, ele tornou a magoar o joelho, e a sua irritação abrangeu não só o cão mas também a sua mulher. Fora a ilusão da mulher de que faria carreira como decoradora de interiores que estivera na origem daquele espalhafatoso revestimento de mármore. A pequena biqueira forrada de gorgorão de um sapato de mulher...
... ela estava ali.
— Vejo que te estás a divertir, Sherman. Mas o que é que estás a fazer, pode saber-se?
Sem olhar para cima: — Vou levar o Marshall a passea-a-a-ar.
Passear soou como um gemido, porque o dachsund tentou libertar-se, manobrando com a cauda, e Sherman viu-se obrigado a agarrá-lo com toda a força pela barriga.
— Sabes que está a chover?
Ainda sem olhar para cima: — Sei, sei. — Conseguiu, finalmente, prender a trela à coleira do animal.
— De repente puseste-te muito simpático para o Marshall.
Espera lá. Seria aquilo ironia? Suspeitaria ela de alguma coisa? Olhou para cima.
Mas o sorriso dela era obviamente genuíno, perfeitamente agradável... um sorriso encantador, aliás...Ainda é bastante atraente, a minha mulher... com as suas feições delicadas, os seus grandes olhos, de um azul muito límpido, a sua farta cabeleira castanha... Mas tem quarenta anos!... Contra isso, nada a fazer!... Hoje atraente... Amanhã dirão dela que está muito bem conservada... A culpa não é dela... Mas também não é minha!
— Tive uma ideia — disse ela. — Porque é que não me deixas a mim levar o Marshall a passear? Ou então pedir ao Eddie que o leve. Tu podias ir lá acima ler uma história à Campbell antes que ela adormeça. Ela ia adorar. É muito raro chegares tão cedo a casa. Porque é que não fazes isso? Ele olhou-a fixamente. Não era um estratagema! Ela estava a ser sincera! No entanto, zip zip zip zip zip zip zip, com dois ou três golpes certeiros, duas ou três pequenas frases, ela tinha-o... atado de pés e mãos! — nos laços da culpa e da lógica! E sem fazer o menor esforço!
O facto de Campbell estar deitada na sua caminha... A minha única filha! — a perfeita inocência de uma criança de seis anos! — ansiosa por que ele lhe lesse uma história para adormecer... enquanto ele... estava ali a fazer sabe-se lá o quê... O remorso!... O facto de geralmente chegar a casa tarde demais para a ver... Remorsos sobre remorsos!... Ele adorava Campbell! — amava-a mais que tudo neste mundo!... E, para tornar as coisas ainda piores — a lógica daquilo tudo! A doce esposa que ele agora fitava acabava de fazer uma sugestão ponderada e carinhosa, uma sugestão lógica... tão lógica que o deixava sem fala! Não havia no mundo mentiras que bastassem para vencer uma tal lógica! E ela estava apenas a esforçar-se por ser simpática!
— Vá lá — dizia — a Campbell vai ficar tão contente...
Eu trato do Marshall.
O mundo estava de pernas para o ar. O que estava ele, um Senhor do Universo, a fazer ali acocorado no chão, reduzido a ter de dar voltas à cabeça em busca de mentiras para contornar a doce lógica da mulher? Os Senhores do Universo eram uma colecção de sinistros e cruéis bonecos de plástico com que a sua filha, em tudo o resto perfeita, gostava de brincar. Pareciam deuses noruegueses praticantes de halterofilismo, e tinham nomes como Dracon, Ahor, Mangel-red e Blutong. Eram de um invulgar mau gosto, mesmo para bonecos de plástico. Porém, um belo dia, num acesso de euforia, depois de ter atendido uma chamada telefónica e recebido uma encomenda de obrigações que lhe proporcionara, assim sem mais nem menos, uma comissão de 50000 dólares, fora precisamente aquela expressão que lhe viera à cabeça. Em Wall Street, ele e mais alguns outros — quantos? — Trezentos, quatrocentos, quinhentos? — tinham-se convertido justamente nisso... em Senhores do Universo. Não havia, para eles, quaisquer limites! Naturalmente, ele nunca dissera, ou segredara sequer, aquilo a quem quer que fosse. Não era nenhum idiota. Mas a expressão não lhe saía da cabeça. E ali estava o Senhor do Universo, no chão, ao lado do cão, atado de pés e mãos pela doçura, pelo remorso e pela lógica... Porque é que ele, um Senhor do Universo, não podia simplesmente explicar-lhe o que se passava? «Olha, Judy, eu ainda te amo e amo a nossa filha, e a nossa casa e a nossa vida, e não quero perder nenhuma destas coisas — mas a verdade é que eu, um Senhor do Universo, um homem ainda novo, ainda cheio de seiva, mereço de vez em quando mais do que isso, quando a energia transborda...»
... mas sabia que nunca seria capaz de formular por palavras semelhante pensamento. Portanto o ressentimento começou a fervilhar-lhe no cérebro... De certo modo, a culpa foi dela, não é verdade... Essas mulheres cuja companhia ela agora tanto parece apreciar... essas... essas... A designação vem-lhe à cabeça de repente, nesse preciso instante: radiografias mundanas... São tão magras que parecem radiografias... A luz dos candeeiros atravessa-lhes os ossos... enquanto conversam acerca de interiores e de arquitectura paisagística... e enfim as canelas escanzeladas em maillots tubulares de Lycra de tons metálicos para a aula de ginástica... E não ficam melhor por isso, podem ter a certeza!... Olha como a pele da cara e do pescoço dela parece esticada... Sherman concentrou-se naquela cara e naquele pescoço... esticada, não há dúvida... aulas de ginástica... está a tornar-se uma dessas...
Conseguiu fabricar uma dose suficiente de ressentimento para despertar o famoso mau génio dos McCoys.
Sentiu subir-lhe o calor às faces. Inclinou a cabeça e disse: — Juuuuuuudy... — Era um berro que os seus dentes abafavam. Uniu o polegar e os dois primeiros dedos da mão esquerda, e ergueu-os à altura dos maxilares cerrados e dos olhos furiosos, dizendo:
— Ouve... Eu-meti-na-cabeça-que-ia-passear-o-cão... Por isso vou-mesmo-passear-o-cão... Está bem?
A meio da frase, percebeu que a sua reacção era perfeitamente despropositada... mas não conseguiu conter-se. Era, afinal, esse o segredo do mau génio dos McCoys... na Wall Street... em toda a parte... o excesso imperioso.
Judy cerrou os lábios. Abanou a cabeça.
— Por amor de Deus, faz o que quiseres — disse, num tom neutro. Depois virou-lhe as costas, atravessou o átrio de mármore e subiu a sumptuosa escadaria.
Ainda de joelhos, Sherman olhou-a, mas ela não olhou para trás. Por amor de Deus, faz o que quiseres. Ele esmagara-a. Com a maior facilidade. Mas era uma vitória
oca.
Mais um espasmo de remorso...
O Senhor do Universo pôs-se de pé e conseguiu enfiar o impermeável sem largar a trela. Era uma velha mas excelente gabardina inglesa, revestida de borracha, cheia de palas, correias e fivelas. Comprara-a no Knoud, na Madison Ave-nue. Em tempos, aquele seu ar usado parecera-lhe perfeito, tal como, algum tempo antes, a moda do Sapato Roto de Boston. Agora a gabardina já não o entusiasmava tanto. Puxou o dachsund pela trela e saiu da entrada para o vestíbulo do elevador, onde carregou no botão.
Para não pagarem 200000 dólares por ano aos irlandeses de Queens e aos porto-riquenhos do Bronx que, por turnos, asseguravam o funcionamento dos elevadores vinte e quatro horas sobre vinte e quatro horas, os condóminos haviam decidido, dois anos antes, instalar elevadores automáticos. Naquela noite isso agradou especialmente a Sherman. Vestido como estava, com aquele cão a debater-se na ponta da trela, não lhe apetecia partilhar o elevador com um ascensorista trajado como um coronel do exército austríaco de 1870. O elevador iniciou a descida — e deteve-se dois andares mais abaixo. Browning. A porta abriu-se, dando entrada à figura de bochechas flácidas de Poleard Browning. Browning olhou da cabeça aos pés Sherman, o seu trajo campestre e o seu cão e disse, sem a sombra de um sorriso: —
Olá, Sherman.
Aquele «Olá, Sherman» veio muito lá do alto, e em apenas três sílabas transmitiu a mensagem: «Tu, as tuas roupas e o teu animal são um insulto ao nosso novo elevador revestido de mogno.»
Sherman ficou furioso, mas apesar disso deu por si a inclinar-se para pegar no cão ao colo. Browning era presidente da associação de condóminos do prédio. Era um rapaz de Nova Iorque que saíra do ventre da mãe já com a aparência de um sócio cinquentão da Davis Polk e presidente da Downtown Association. Só tinha quarenta anos, mas já há vinte que parecia ter cinquenta. Penteava para trás o cabelo, que lhe modelava docilmente o crânio redondo. Vestia um blazer imaculado, uma camisa branca, uma gravata aos quadradinhos pretos e brancos, e não trazia gabardina. Ficou voltado para a porta do elevador, depois virou a cabeça, deu mais uma olhadela a Sherman, não disse nada, e tornou a voltar-se para a porta.
Sherman conhecia-o desde rapaz, pois tinham sido colegas na Buckley School. Browning era então um pequeno snob gordo, convencido e dominador, que com nove anos de idade arranjara maneira de divulgar a espantosa notícia de que McCoy era um nome parolo (e uma família de parolos), como se via pelas lojas Hatfields & McCoys, enquanto ele próprio Browning, era um perfeito aristocrata. Costumava chamar a Sherman «Sherman McCoy, o Rapaz das Montanhas».
Quando chegaram ao rés-do-chão, Browning disse: — Sabes que está a chover, não sabes?
— Sei.
Browning olhou para o dachsund e abanou a cabeça. — Sherman McCoy. Amigo do melhor amigo do homem.
Sherman sentiu uma vez mais subir-lhe o calor às faces. E disse: — Só isso?
— Isso o quê?
— Tiveste o tempo todo desde o oitavo andar até aqui para pensares numa frase inteligente, e afinal sai só isso? — Pretendia que o comentário fosse um sarcasmo amigável, mas percebeu que deixara transparecer parte da sua irritação.
— Não sei de que é que estás a falar — disse Browning, e passou-lhe à frente. O porteiro sorriu, inclinou a cabeça e abriu a porta para lhe dar passagem. Browning dirigiu-se para o carro, sempre debaixo do toldo da entrada. O motorista abriu-lhe a porta do automóvel. Nem uma gota de chuva atingiu a sua silhueta impecável, e o carro desapareceu, suavemente, imaculadamente, no enxame de faróis vermelhos que descia a Park Avenue. Nenhuma gabardina coçada pesava inutilmente nos ombros lisos e roliços de Pollard Browning.
Afinal, chovia muito pouco e não havia vento, mas o dachsund não queria saber disso. Começou a debater-se nos braços de Sherman. A força que aquele sacana tinha! — Pousou-o na passadeira, debaixo do toldo, e depois saiu para a chuva, com a ponta da trela na mão. No escuro, os prédios do outro lado da rua formavam uma serena muralha negra que se destacava sobre o céu da cidade, de um intenso tom de púrpura. Este cintilava, como que ardendo em febre.
Que diabo, não se estava assim tão mal ali fora. Sherman puxou, mas o cão fincou as unhas na passadeira.
— Anda, Marshall.
O porteiro estava à entrada do prédio, a observá-lo.
— Acho que a ideia não lhe agrada muito Ar. McCoy.
— A mim também não, Eddie. — E deixa lá passar o comentário, pensou Sherman. — Anda, anda, anda, Marshall.
Então já Sherman estava à chuva, a dar fortes puxões à trela, mas o dachsund não se mexia. Portanto pegou nele, tirou-o da passadeira de borracha e pousou-o no passeio. O cão tentou fugir para a porta de casa. Sherman tinha de lhe manter a trela curta, senão voltava ao ponto de partida. Agora puxava ele para um lado e o cão para o outro, com a trela esticada entre os dois. Era uma medição de forças entre um homem e um cão... em plena Park Avenue. Que raio, porque é que o porteiro não voltava para dentro do prédio,
como lhe competia?
Sherman deu um forte sacão à trela. O dachsund deslizou algumas polegadas no passeio. Ouviam-se as unhas do animal a raspar no chão. Bom, se ele puxasse com força suficiente, talvez o cão desistisse e começasse a andar só para não ser arrastado.
— Anda, Marshall! Vamos só dar a volta ao quarteirão!
Deu mais um sacão à trela e depois continuou a puxá-la com toda a força. O cão deslizou mais uns dois pés. Deslizou! Andar é que não andava. Não desistia. O centro de gravidade do animal parecia estar no centro da Terra. Era como tentar puxar um trenó carregado de tijolos. Meu Deus, se ao menos ele conseguisse dobrar a esquina. Era só o que queria. Porque seria que as coisas mais simples... Deu mais um puxão à trela e continuou a insistir. Estava inclinado como um marinheiro numa tempestade. Começava a ter calor, com o seu impermeável de borracha. A chuva escorria-lhe pela cara. O dachsund fincava as patas no passeio. Tinha os músculos peitorais todos contraídos. Puxava com toda a gana. Retesava o pescoço o mais que podia. Pelo menos não ladrava, graças a Deus! Deslizava. Nossa Senhora, ouvia-se a léguas! Ouviam-se as unhas do cão a raspar o passeio. Ele não cedia uma polegada. Sherman tinha a cabeça inclinada, os ombros curvados, e ia arrastando o animal na chuva e na escuridão de Park Avenue. Sentia a chuva a molhar-lhe a nuca.
Agachou-se e pegou no cão ao colo, e ao fazê-lo entreviu Eddie, o porteiro. Ainda a olhar! O cão começou a espernear e a debater-se. Sherman tropeçou. Olhou para baixo. A trela enrodilhara-se-lhe nas pernas. Avançou pelo passeio, tentando desembaraçar-se. Finalmente, conseguiu virar a esquina e chegar ao telefone público. Pousou o cão no passeio. Meu Deus! Quase ia fugindo! Sherman agarra a trela mesmo a tempo. Está a suar. Tem o cabelo encharcado de água da chuva. O coração a bater-lhe violentamente. Enfia uma das mãos na argola da trela. O cão continua a espernear. A trela enrola-se de novo nas pernas de Sherman. Ele pega no auscultador, entala-o entre o ombro e o ouvido, revolve o bolso em busca de uma moeda, enfia-a na ranhura e marca o número.
Três toques, e uma voz de mulher: — Está? Mas não era a voz de Maria. Pensou que devia ser Germaine, a amiga a quem ela subalugara o apartamento. Por isso disse: — Posso falar com a Maria, por favor? A mulher disse: — Sherman? És tu? Meu Deus! É Judy! Ele ligou para o seu próprio apartamento! Está aturdido — paralisado! — Sherman?
Desliga o telefone. Oh, meu Deus. O que é que há-de fazer? Fingir que não foi nada. Quando Judy lhe perguntar, dirá que não sabe de que é que ela está a falar. Afinal de contas, só pronunciou cinco ou seis palavras. Como é que ela pode ter a certeza?
Mas não ia servir de nada. Ela ia ter a certeza, sabia-o. Além disso, ele não tinha jeito nenhum para bluffs. Ela ia perceber logo. Mas que outra coisa poderia ele fazer?
Ficou ali à chuva, no escuro, ao pé do telefone. A água infiltrara-se-lhe no colarinho da camisa. Ofegava. Tentava imaginar a cena penosa que teria de enfrentar. O que é que ela diria? O que é que ela faria? Estaria muito zangada? Desta vez tinha alguma coisa em que se apoiar. Estava no pleno direito de fazer uma cena, se quisesse. Ele fora realmente estúpido. Como é que pudera fazer uma coisa daquelas? Começou a recriminar-se. Já não estava zangado com Judy. Conseguiria fingir que não se passara nada, ou será que desta vez tinha estragado tudo? Tê-la-ia realmente magoado?
Nesse instante Sherman apercebeu-se de que um vulto se aproximava, pelo passeio, nas sombras negras e húmidas das casas e das árvores. Mesmo a cinquenta pés de distância, e às escuras, compreendeu logo. Era aquela inquietação constante que vive na base do crânio de todos os residentes de Park Avenue a sul da Rua Noventa e Seis — um rapaz negro, alto, magro, de sapatos de ténis. Agora estava a quarenta pés de distância, a trinta e cinco. Sherman olhou-o fixamente. Bom, ele que venha, se quiser! Eu é que não saio daqui! Estou no meu território! Não vou dar passagem a vadios!
O rapaz negro fez repentinamente uma inflexão de noventa graus e atravessou a rua, mudando de passeio. A pálida luz amarela de um candeeiro público de vapor de sódio incidiu-lhe por instantes no rosto, enquanto se afastava de Sherman.
Tinha atravessado! Que sorte!
Nem de longe passou pela cabeça de Sherman McCoy que o que o rapaz vira fora um homem branco de trinta e oito anos, ensopado, envergando uma espécie de gabardina de aspecto militar, cheia de correias e fivelas, com um animal ao colo que se debatia violentamente, de olhar fixo, olhos esgazeados e a falar sozinho.
Sherman deixou-se ficar ao pé do telefone, respirando muito depressa, quase ofegante. O que é que havia de fazer agora? Sentia-se tão derrotado que bem podia voltar para casa. Mas se voltasse já, a coisa seria demasiado óbvia, não é verdade? Não saíra para levar o cão a passear mas sim para fazer uma chamada. Além disso, fosse o que fosse que Judy lhe ia dizer, ele não estava preparado para a ouvir. Precisava de pensar. Precisava que o aconselhassem. Precisava de tirar da chuva aquele animal intratável.
Portanto tirou do bolso mais uma moeda e pensou no número de telefone de Maria. Concentrou-se nesse número. Repetiu-o até não lhe restarem dúvidas. Depois marcou-o com uma determinação lenta e firme, como se se servisse pela primeira vez daquele curioso invento, o telefone.
— Está lá?
— Maria?
— Sim?
Sem querer arriscar: — Sou eu.
— Sherman? — O nome soou Shahhh-man. Sherman sossegou. Era Maria, sim. O seu sotaque sulista convertia metade das vogais em «as» fechados, e a outra metade em «is» breves. Transformava birds em bads, pens em pins, bombs em bams e envelopes em invilups.
— Olha — disse — vou já para aí. Estou numa cabina telefónica, a dois ou três quarteirões da tua casa.
Houve uma pausa, que ele interpretou como sinal de que Maria estava irritada. E, por fim: — Onde é que estiveste metido este tempo todo?
Sherman riu sem vontade. — Olha, eu vou já para aí.
A escada do prédio abanou e rangeu sob os passos de Sherman. Em cada patamar, um tubo fluorescente circular de 22conhecido como Auréola do Senhorio, projectava nas paredes, de um tom Verde de Renda Limitada, uma luz débil, de um azul tuberculoso. Sherman passou por portas de apartamentos com inúmeras fechaduras, empilhadas umas por cima das outras, em colunas ébrias. Havia chapas antiali-cates nas fechaduras, placas antipés-de-cabra nas ombreiras e revestimentos antiarrombamentos nas almofadas das portas.
Nos momentos felizes em que Rei Príapo dominava sem crises nos seus domínios, Sherman saboreava romanticamente aquela subida até ao apartamento de Maria. Que boémio! Que... que autêntico, aquele lugar! Perfeitamente adequado àqueles momentos em que o Senhor do Universo se despojava da sua soturna correcção de Park Avenue e Wall Street e oferecia uma farra às suas hormonas selvagens! O quarto de Maria, com um armário a fazer de cozinha e outro a fazer de casa de banho, aquele suposto apartamento nas traseiras do quarto andar, que ela subalugara à sua amiga Germaine — bom, era perfeito. De Germaine já não diria o mesmo. Sherman vira-a duas vezes. Tinha uma silhueta que fazia lembrar uma boca de incêncio. Ostentava, no lábio superior, uma franja de pêlos hirsutos, praticamente um bigode. Sherman estava convencido de que era lésbica. E então? Tudo aquilo era autêntico! Esquálido! Nova Iorque! Um fogo a devorar-nos as entranhas.
Mas nesta noite Príapo não reinava. Esta noite o aspecto lúgubre da velha pedra castanha do prédio pesava ao Senhor do Universo.
Só o dachsund estava feliz. Ia roçando a barriga pelas escadas, subindo a um ritmo alegre e satisfeito. Aquele sítio era quente e seco, e conhecido.
Quando Sherman chegou à porta de Maria, ficou surpreendido ao reparar que estava sem fôlego. Transpirava. Tinha o corpo absolutamente encharcado sob a gabardina, a camisa aos quadrados e a T-shirt.
Antes que tivesse tempo de bater à porta, esta abriu-se alguns centímetros; e ela apareceu. Não abriu mais a porta. Deixou-se ali estar, examinando Sherman dos pés à cabeça, como se estivesse zangada. Os olhos brilhavam-lhe acima dos malares excepcionalmente salientes. O cabelo curto parecia um capuz negro. Tinha os lábios franzidos, formando um O. Mas logo a seguir abriu-os num sorriso e começou a rir baixinho, fungando pelo nariz.
— Então, vá lá — disse Sherman —, deixa-me entrar! Espera até eu te contar o que aconteceu.
Maria abriu a porta de par em par, mas em vez de lhe dar passagem encostou-se à ombreira, traçou as pernas e cruzou os braços por baixo dos seios, sem parar de olhar para ele nem de rir. Calçava sapatos de salto alto de tiras de pele entrançadas, formando um padrão de xadrez preto e branco. Sherman não sabia muito acerca de modelos de sapatos, mas tomou nota de que aquele estava na moda. Vestia uma saia branca e justa de tecido de gabardina, muito curta, umas boas quatro polegadas acima do joelho, deixando ver as pernas, que aos olhos de Sherman eram como as de uma bailarina, e sublinhando a sua cintura finíssima. Vestia ainda uma blusa de seda branca, desabotoada até ao início da curva dos seios. A luz do minúsculo átrio era de molde a pôr em relevo toda a sua figura: o cabelo escuro, as maçãs do rosto, as feições delicadas, a curva generosa dos lábios, a blusa macia, aqueles seios macios como pudins, as pernas reluzentes, tão despreocupadamente cruzadas.
— Sherman... — Shahhh-man. — Sabes que mais? Estás giro. Pareces o meu irmão mais novo.
O Senhor do Universo não ficou muito satisfeito, mas resolveu entrar, dizendo, ao passar por ela: — Oh, meu Deus. Espera até eu te contar o que aconteceu.
Sem mudar de posição, ainda encostada à ombreira, Maria olhou para o cão, que farejava a alcatifa. — Olá, Marshall. Pareces um chouriço molhado, Marshall.
— Espera até eu te contar...
Maria desatou a rir e fechou a porta. — Sherman... parece que alguém te amachucou — ao dizer isto, amachucou um papel imaginário — e te atirou para o chão.
— É exactamente o que eu sinto. Deixa-me contar-te o
que aconteceu.
— Tal e qual o meu irmão mais novo. Todos os dias
voltava da escola com o umbigo à mostra.
Sherman baixou os olhos. Era verdade. Tinha a fralda da camisa de fora, e o umbigo à mostra. Tornou a enfiar a camisa para dentro das calças, mas não tirou a gabardina. Não se podia instalar. Não podia passar ali muito tempo. E não sabia como explicar isso a Maria.
— Todos os dias o meu irmão andava à luta na escola... Sherman deixou de prestar atenção. Estava farto do irmão mais novo de Maria, não tanto por aquela conversa querer dizer que ele Sherman, era infantil, mas por ela se mostrar tão insistente. À primeira vista, Sherman nunca achara que Maria correspondesse à ideia que habitualmente se faz de uma rapariga do Sul. Parecia mais italiana ou grega. Mas falava como uma rapariga do Sul. Era uma tagarelice impossível de conter. Ainda continuava a falar do irmão quando Sherman disse:
— Sabes, agora mesmo telefonei-te de uma cabina. E queres saber o que me aconteceu?
Maria voltou-lhe as costas e deu alguns passos até ao meio do apartamento; depois girou sobre os calcanhares e pôs-se em pose, com a cabeça pendente para um dos lados, as mãos nas ancas, um sapato de salto alto descontraidamente inclinado para fora, os ombros descaídos e as costas ligeiramente arqueadas, projectando para a frente os seios, e disse:
— Não vês nada de novo?
De que diabo estaria ela a falar? Sherman não estava com disposição para coisas novas. Mas examinou-a com aplicação. Seria o penteado? Uma jóia nova? Santo Deus, o marido enchia-a de jóias a tal ponto que era difícil saber o que era ou não era novo. Não, devia ser alguma coisa no quarto. Olhou à sua volta. Aquele quarto fora provavelmente concebido como quarto de criança, há uns cem anos ou mais. Havia uma pequena sacada com três janelas de caixilhos metálicos, e um banco corrido diante das janelas. Observou os móveis... as mesmas três cadeiras de baloiço a mesma deselegante mesa pé-de-galo de carvalho, a mesma combinação de colchão e suporte de molas, coberta por uma colcha de veludo que, juntamente com três ou quatro almofadas estampadas, procurava dar-lhe um ar de divã. Toda aquela sala proclamava: Objectos em Segunda Mão. E, em todo o caso, não estava mudada.
Sherman abanou a cabeça.
— Não reparaste ainda? — Maria acenou com a cabeça na direcção da cama.
Sherman viu então, em cima da cama, um pequeno quadro com uma moldura simples, de madeira clara. Aproximou-se mais. Representava um homem nu, visto de costas, delineado a preto, em pinceladas grosseiras que mais pareciam de uma criança de oito anos, partindo do princípio de que uma criança de oito anos se lembraria de pintar um homem nu. O homem parecia estar a tomar duche, ou pelo menos via-se acima da sua cabeça aquilo que aparentemente era um chuveiro, e de onde partiam alguns riscos negros intermitentes. Parecia estar a tomar duche de gasolina. A pele do homem era castanha com manchas de um rosa-arroxeado doentio, como se tivesse sofrido queimaduras graves. Que coisa horrível... Que pavor... Mas exalava o aroma sagrado da arte séria, portanto Sherman não se atreveu a dar candidamente a sua opinião.
— Onde é que arranjaste isto?
— Gostas? Conheces a obra dele?
— A obra de quem?
— Filippo Chirazzi.
— Não, não conheço a obra dele.
Ela sorriu. — Saiu há dias um artigo só sobre ele, no
Times.
Não querendo fazer o papel do filisteu da Wall Street, Sherman retomou o seu exame daquela obra-prima.
— Bom, tem uma certa... como hei-de dizer?... franqueza. — Lutou contra uma enorme vontade de ser irónico. — Onde é que o arranjaste?
— Filippo deu-mo — disse muito satisfeita.
— Foi generoso da parte dele.
— O Arthur comprou-lhe quatro quadros, quatro telas
enormes.
— Mas ele não ofereceu o quadro ao Arthur, ofereceu-to a ti.
— Eu quis um para mim. Os grandes são do Arthur. Além disso, o Arthur não saberia sequer da existência de Filippo se eu não lhe tivesse falado nele.
A!
A!
— Não gostas, pois não?
— Gosto, sim senhor. Para te dizer a verdade, ainda estou atordoado. Acabo de fazer uma coisa tão incrivelmente estúpida!
Maria desistiu da sua pose e sentou-se na beira da cama, do projecto-de-divã, como se dissesse: «Está bem, sou toda ouvidos». Cruzou as pernas. A saia subia-lhe agora até meio da coxa. Embora aquelas pernas, aquelas magníficas pernas e flancos de Maria não viessem agora ao caso, Sherman não conseguia desviar delas os olhos. As meias faziam-nas brilhar. Reluziam. Cada movimento fazia surgir novas zonas de luz.
Sherman permaneceu de pé. Não tinha muito tempo, como se preparava para explicar.
— Levei o Marshall a dar um passeio. — Marshall estava agora estendido no tapete. — Estava a chover. O cão fez todos os possíveis por me complicar a vida.
Quando chegou à parte do telefonema propriamente dito, a narração bastou para o deixar de novo muitíssimo agitado. Reparou que Maria dominava muito bem a sua inquietação, se é que inquietação havia, mas não conseguiu acalmar-se. Mergulhou na substância emocional do problema, descrevendo aquilo que sentira imediatamente após ter desligado o telefone — e Maria interrompeu-o com um
encolher de ombros e uma pequena bofetada no ar com as costas da mão:
— Oh, isso não tem importância, Sherman. Ele ficou a olhar para ela.
— Foi só um telefonema. Não percebo porque é que não disseste logo: «Oh, desculpa. Queria telefonar à minha amiga Maria Ruskin». Era o que eu tinha feito no teu lugar. Nunca me dou ao trabalho de mentir ao Arthur. Não lhe conto tudo, mas também não lhe minto.
Poderia ele ter adoptado uma estratégia tão audaciosa? Tentou imaginar a cena. — Uhmmmmmmmmmrnmmrn! — O resultado foi um grunhido. — Não sei como é que posso sair de casa às 9.30, dizendo que vou passear o cão, e depois agarrar no telefone e dizer: «Oh, desculpa, afinal o que eu vim fazer foi telefonar a Maria Ruskin.»
— Sabes qual é a diferença entre ti e mim, Sherman? É que tu tens pena da tua mulher, e eu não tenho pena do Arthur. O Arthur faz setenta e dois anos em Agosto. Quando casou comigo já sabia que eu tinha os meus amigos, de quem ele não gostava, e ele os seus amigos, de quem eu não gostava. Não os suporto. Todos aqueles Yids caquéticos... Não olhes para mim como se eu tivesse dito alguma coisa horrível! O Arthur é que lhes chama assim: os Yiddim, os goyim, e eu sou uma shiksa. Nunca tinha ouvido estas palavras antes de casar com o Arthur. Quem está casada com um judeu sou eu, não és tu, e nos últimos cinco anos já tive de engolir tanta conversa de judeus que bem posso servir-me do que aprendi, se me apetecer.
— Disseste-lhe que alugaste este apartamento?
— Claro que não. Já te expliquei; eu não lhe minto, mas também não lhe conto os pormenores todos.
— Então isto é um pormenor?
— Não é uma coisa tão séria como tu julgas. É só uma fonte de chatices. O senhorio resolveu fazer barulho outra vez.
Maria pôs-se de pé, foi até à mesa, agarrou numa folha de papel, que estendeu a Sherman, e tornou a sentar-se na beira da cama. Era uma carta da firma de advogados Golan, Shander, Morgan e Greenbaum endereçada a Miss Ger-maine Boll e referente à sua situação enquanto arrendatária de um apartamento de renda limitada pertencente a Winter Real Properties, Inc. Sherman não conseguia concentrar-se no conteúdo da carta. Não queria pensar naquilo. Estava a fazer-se tarde. Maria continuava a esquivar-se sempre que podia. Estava a fazer-se tarde.
— Não sei, Maria. É uma coisa que Germaine terá de
resolver.
— Sherman?
Sorria, de lábios entreabertos. Pôs-se de pé.
— Sherman, anda cá.
Deu dois passos na direcção dela, mas evitou aproximar-se muito. O olhar dela dizia-lhe que o queria bem
perto de si.
— Estás convencido de que arranjaste um sarilho com a tua mulher, e afinal de contas só fizeste um telefonema.
— Ah! Eu não estou convencido disso, tenho a certeza
absoluta.
— Bom, então se arranjaste um sarilho sem teres feito nada, podias aproveitar para fazer alguma coisa, já que vem a dar ao mesmo.
Então ela tocou-lhe.
O Rei Príapo, que apanhara um susto de morte, ressuscitou para o mundo dos vivos.
Estendido na cama, Sherman apercebeu-se da presença do dachsund. O animal levantara-se do tapete e aproximara-se da cama; estava a olhar para eles e a abanar o rabo.
Meu Deus!... Haveria alguma maneira de um cão transmitir... Os cães teriam a possibilidade de fazer alguma coisa que revelasse que tinham visto... Judy entendia os animais. Passava a vida a apaparicar o Marshall, a ver se ele estava ou não bem disposto... chegava a ser revoltante. Os dachsunds fariam alguma coisa especial depois de observarem... Mas foi então que o sistema nervoso de Sherman começou a dissolver-se, e ele deixou de se importar.
Sua Majestade, o mais antigo dos monarcas, Príapo, Senhor do Universo, não tinha consciência.
Sherman abriu a porta do apartamento e fez questão de amplificar os sons, geralmente discretos que fazia ao entrar.
— Pronto, Marshall, O.K., O.K.
Tirou a gabardina com muito farfalhar de tecido plastificado, tilintar de fivelas e alguns Ufs!
Nem sombra de Judy.
A sala de jantar, a sala de estar e uma pequena biblioteca davam todas para o átrio de mármore. Cada uma tinha as suas cintilações e brilhos próprios, de madeira trabalhada, cristal, sedas naturais, lacas envernizadas, e todos os outros requintes incrivelmente dispendiosos, ideia da mulher, a aspirante a decoradora. Então é que reparou. O grande cadeirão de couro que costumava estar de frente para a porta da biblioteca tinha sido voltado ao contrário. Via-se apenas o alto da cabeça de Judy, acima das costas da cadeira. Estava um candeeiro aceso ao lado da poltrona. Ela devia estar a ler um livro.
Sherman dirigiu-se para a porta da biblioteca.
— Bom! Estamos de volta! Não houve resposta.
— Tinhas razão. Fiquei ensopado, e o Marshall não gostou nada da ideia.
Ela não se voltou. Só se ouviu a sua voz, vinda do cadeirão:
— Sherman, se queres falar com uma pessoa chamada Maria, porque é que me telefonas a mim em vez de lhe telefonares a ela?
Sherman entrou na sala.
— Que história é essa? Se eu quero falar com quem? A voz: — Oh, por amor de Deus. Não vale a pena
dares-te ao trabalho de mentir.
— Mentir acerca de quê?
Então Judy voltou a cabeça e espreitou por cima de um dos braços da poltrona. E o olhar que ela lhe lançou!
De coração pesado, Sherman aproximou-se da cadeira. Emoldurado por um halo de cabelo castanho macio, o rosto da mulher era a imagem do mais puro sofrimento.
— Não percebo de que é que estás a falar, Judy.
Ela estava tão transtornada que a princípio as palavras não lhe saíram.
— Só queria que visses a expressão reles da tua cara.
— Não sei de que é que estás a falar! A sua voz estridente fê-la rir.
— Oh, Sherman, será que vais ter o descaramento de me dizer que não telefonaste para aqui pedindo para falar com uma mulher chamada Maria?
— Com quem?
— Com uma prostitutazinha qualquer, se é que queres o meu palpite, chamada Maria.
— Judy, eu juro por Deus que não sei de que é que estás a falar! Estive a passear o Marshall! Nem sequer conheço nenhuma mulher chamada Maria! Então houve alguém que telefonou para aqui pedindo para falar com uma Maria?
— Uhhh! — Foi um gemido breve e incrédulo. Ela pôs-se de pé e olhou-o nos olhos. — E insistes! Julgas que eu não conheço a tua voz ao telefone?
— Talvez conheças, mas esta noite não a ouviste. Juro por Deus.
— É mentira! — Os lábios entreabriram-se-lhe num sorriso horrível. — E tu não tens jeito nenhum para contar mentiras. E és uma pessoa detestável. Achas-te espantoso, mas és reles. É mentira, não é?
— Não, não é mentira. Juro por Deus que levei o Marshall a passear, e agora chego aqui e pumba! — quer dizer, eu nem sei como é que te hei-de responder, porque ainda não percebi de que é que estamos a falar. Pedes-me que demonstre uma proposição negativa.
— Proposição negativa. — A expressão pedante, nos lábios dela, ressumava desprezo. — Estiveste bastante tempo fora. Também lhe deste um beijinho de boas noites, e aconchegaste-lhe a roupa?
— Judy...
— Deste ou não deste?
Sherman virou a cabeça para não ver o seu olhar furioso, abriu as mãos e suspirou.
— Escuta Judy, tu estás completamente... completa-mente... totalmente errada. Juro por Deus.
Ela olhou-o fixamente. E logo lhe vieram lágrimas aos olhos. — Ah, juras por Deus. Oh, Sherman! — Esforçava-se por reter as lágrimas. — Eu não vou... Eu vou lá para cima. Está aí o telefone. Porque é que não lhe telefonas daqui? — Pronunciava as palavras com esforço, por entre lágrimas. — Eu não me importo. A sério que não me importo.
Depois saiu da sala. Sherman ouviu o som dos seus passos no mármore, dirigindo-se para as escadas.
Aproximou-se da secretária e sentou-se na sua cadeira giratória Hepplewhite. Reclinou-se. Pousou os olhos no friso junto ao tecto da pequena sala. Era um alto-relevo em pau-brasil importado da índia, que representava uma sucessão de figuras apressadas nas ruas de uma cidade. Judy mandara-o fazer em Hong Kong, por uma quantia incrível... do meu dinheiro! Inclinou-se para a frente na cadeira. Raios a partam. Tentou desesperadamente tornar a atear o fogo da sua justa indignação. Os pais dele é que tinham razão, não é verdade? Ele merecia mais. Ela era dois anos mais velha do que ele, e a mãe dele dissera-lhe logo que essas coisas podiam ter a sua importância — o que, dito daquela maneira, significava que tinham mesmo a sua importância; mas ele dera-lhe ouvidos, por acaso? Não, senhor, nem pensar! O pai, referindo-se supostamente a Cowles Wilton, que tivera um casamento breve e tempestuoso com uma judiazinha obscura, dissera: «Será que é mais difícil apaixonar-se por uma rapariga rica e de boas famílias?» Acaso lhe dera ouvidos?
Não, senhor! E durante todos aqueles anos, Judy, como filha de um professor de história do Midwest — um professor de história do Midwest! — comportara-se como se fosse uma aristocrata e uma intelectual; mas não se importara de usar o dinheiro e a família dele para se relacionar com o seu novo círculo mundano, para se lançar como decoradora e escarrapachar os nomes e o apartamento de ambos nessas publicações baratas,e Architectural Digest e sei lá que mais — não se importara nada, pois não? Com quarenta anos, e sempre a correr para as aulas de ginástica...
... e de repente vê-a como a viu naquela primeira noite, catorze anos antes, na Village, no apartamento de Hal Thorndike, de paredes cor de chocolate, com uma mesa enorme coberta de obeliscos e aquela gente bastante mais que boémia, se é que ele interpretava bem o sentido da palavra boémio — e a rapariga de cabelo castanho-claro e feições tão, tão delicadas, com um vestido extravagante, curto, minúsculo, que revelava grande parte do seu corpinho perfeito. E sente a maneira inefável como se fundiram no casulo perfeito, no seu pequeno apartamento de Charles Street, e no pequeno apartamento dela, na West Nineteenth, imunes a tudo o que os seus pais e Buckley e St. Pauls e Yale lhe haviam imposto — e lembra-se de lhe ter dito —praticamente por estas palavras! — que o amor deles transcenderia... tudo...
... e agora ela, com os seus quarenta anos, esfomeada e ginasticada até quase ter atingido a perfeição, vai para a cama a chorar.
Reclinou-se de novo na cadeira giratória, Como muitos homens antes dele, teve enfim que admitir a sua derrota perante aquelas lágrimas femininas. Deixou cair o queixo sobre o peito. Deu-se por vencido.
Distraidamente, carregou num botão da secretária. A tampa daquele falso móvel Sheraton subiu lentamente, revelando um écran de televisão. Mais um toque da sua querida decoradora lacrimejante. Abriu uma gaveta da secretária, de onde tirou o controle a distância, dando vida ao aparelho. As notícias. O mayor de Nova Iorque. Um palco. Uma multidão de negros em fúria. Harlem. Cenas de pancadaria. Confusão. O mayor protege-se. Gritos... caos... a barafunda é completa. Que coisa despropositada. Para Sherman, a cena não tinha mais sentido que um pé-de-vento. Não conseguia concentrar-se no que via. Desligou a televisão.
Ela tinha razão. O Senhor do Universo era reles, era detestável, e era mentiroso.
2 - Gibraltar
Na manhã seguinte ela aparece a Lawrence Kramer na luz cinzenta e pálida da aurora — a rapariga do batôn castanho. Está mesmo ao lado dele. Não lhe distingue as feições, mas sabe que é a rapariga do batôn castanho. Também não distingue as palavras, palavras que saem como pequenas pérolas de entre aqueles lábios pintados de castanho, porém sabe o que ela lhe está a dizer. Fica comigo, Larry. Vem para a cama comigo, Larry. E ele quer! Ele quer! Não há nada que mais queira neste mundo! Então porque é que não fica? O que é que o impede de colar os lábios àqueles lábios pintados de batôn castanho? A mulher, é a mulher que o impede. A mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a
mulher...
Acordou com os estalidos e rangidos que a mulher fazia ao gatinhar até aos pés da cama. Que espectáculo de flacidez e falta de jeito... O problema era que a cama, um colchão enorme assente numa plataforma de contraplacado, era quase da largura do quarto. Por isso tinha de se gatinhar ou percorrer de outro modo o comprimento da cama para se
chegar ao chão.
Agora ela estava de pé, inclinada para uma cadeira, preparando-se para vestir o roupão. Com a camisa de flanela a cair-lhe assim em torno das ancas, aquele corpo parecia ter uma milha de largura. Arrependeu-se imediatamente de ter pensado semelhante coisa. Estremeceu de emoção. A minha Rhoda! Afinal de contas, ela dera à luz apenas três semanas antes. Estava a olhar para as entranhas que haviam gerado o seu primeiro filho. Um rapaz! E ainda não recuperara a sua antiga silhueta. Ele tinha de compreender.
Ainda assim, estas considerações não tornavam o panorama mais agradável.
Viu-a enfiar o roupão, e dirigir-se em seguida para a porta. Veio uma réstia de luz da sala. Com certeza a ama do bebé, Miss Eficiência, uma inglesa, já estava a pé e em plena actividade. Àquela luz, viu de perfil o rosto pálido, inchado, sem maquilhagem da mulher.
Só vinte e nove anos, e já igual à mãe.
Era tal e qual a mesma pessoa! Ela era a mãe dela! Não havia nada a fazer! Era apenas uma questão de tempo! Tinha o mesmo cabelo arruivado, as mesmas sardas, o mesmo nariz e as mesmas bochechas carnudas, de camponesa e até um prenúncio do duplo queixo da mãe. Uma mexeriqueira (1) em embrião! A Pequena Gretel da comunidade)! Jovem e iidechezecaO) no Upper West Side!
Semicerrou os olhos e ficou a espreitar por uma frestazi-nha, de modo a que ela não percebesse que estava acordado. Então ela saiu do quarto. Ouviu-a dizer qualquer coisa à ama e ao bebé. Tinha o hábito de dizer «Jo-shu-a» com uma entoação infantil. Já se começava a arrepender de ter escolhido aquele nome. Se querias um nome judeu, porque é que não escolheste Daniel ou David ou Jonathan? Tornou a puxar os cobertores para cima, tapando os ombros. Ah, voltar à sublime narcose do sono por mais uns cinco ou dez minutos. Voltar à rapariga do batôn castanho. Fechou os olhos... Não valia a pena. Não conseguia tornar a vê-la. A única coisa que lhe vinha à cabeça era a corrida para o metro que o esperava se não se levantasse imediatamente.
Portanto, levantou-se. Pôs-se de pé e percorreu todo o comprimento do colchão. Era como tentar andar no fundo de um barco a remos, mas ele não queria gatinhar. Dava um ar tão frouxo, tão desajeitado... Vestia calções e uma T-shirt. Apercebeu-se de que sofria desse incómodo vulgar nos rapazes novos que é uma erecção matinal. Foi até à cadeira e enfiou o seu velho roupão axadrezado. Tanto ele como a mulher tinham começado a usar roupão desde que a ama inglesa entrara nas suas vidas. Uma das muitas e trágicas falhas do apartamento era que não havia maneira de ir do quarto à casa de banho sem se passar pela sala, onde a ama dormia num sofá-cama e o bebé residia num berço, debaixo de um mobile que era uma caixinha de música com pequenos palhaços pendurados. Agora mesmo a ouvia. A caixa de música tocava a canção Send in the Clowns. Tocava-a vezes sem conta. Plink plink plinkplink, plink plink plinkplink, plink PLINK plinkplink.
Baixou os olhos. O roupão não disfarçava. Parecia arregaçado por uma estaca de tenda. Mas se se inclinasse, assim, já não se notava. Portanto, podia atravessar a sala arriscando-se a que a ama visse a estaca de tenda, ou então passar curvado como se lhe doessem as costas. Preferiu ficar onde estava, no escuro.
Ainda bem que estava escuro. A presença da ama, fizera-o, a ele e a Rhoda, tomar uma consciência dolorosa da espelunca em que viviam. O apartamento inteiro, um «3 divisões e meia» na linguagem das agências imobiliárias nova-iorquinas, fora criado a partir de um agradável mas de modo nenhum gigantesco quarto de cama do terceiro andar de um prédio de habitação, com três janelas para a rua. O chamado quarto onde ele agora estava não passava de um cubículo formado por um tabique de estuque. No cubículo ficava uma das janelas. O que sobrava da sala inicial chamava-se agora sala de estar, e nela ficavam as outras duas janelas. Junto à porta para o átrio havia mais dois cubículos, o primeiro uma cozinha onde não cabiam duas pessoas, o outro uma casa de banho. Nenhum tinha janela. A casa parecia uma minúscula colónia de formigas, mas custava-lhes 888 dólares por mês, renda fixa. Se não fosse a lei de estabilização das rendas, custaria provavelmente 1500 dólares, quantia que eles não poderiam de modo nenhum pagar. E tinham ficado muito felizes por terem encontrado aquela casa! Meu Deus, em Nova Iorque não faltavam licenciados da idade dele, trinta e dois anos, que dariam tudo para encontrar um apartamento assim, com vista sobre a cidade, num prédio daqueles, com tectos altos, de renda fixa, nas West Seventies! Verdadeiramente patético, não era? Os dois mal conseguiam pagar a renda quando ambos trabalhavam e os seus salários somavam 56000 dólares por ano, 41000 descontados os impostos. O plano fora que a mãe de Rhoda lhes daria, como prenda pelo nascimento do bebé, o dinheiro para pagarem a uma ama durante quatro semanas, enquanto Rhoda se recompunha e regressava ao trabalho. Entretanto, eles encontrariam uma aupair que tomasse conta do bebé em troca de cama e comida. A mãe de Rhoda cumprira a sua parte do plano, mas já se tornara evidente que não existiam au pairs dispostas a dormir no sofá-cama da sala de estar de uma colónia de formigas do West Side. Rhoda não poderia retomar o trabalho. Iam ter de se governar com os 25000 dólares de ordenado líquido, quando a renda anual daquela espelunca, mesmo com a ajuda da estabilização, era de 10656 dólares.
Bom, pelo menos estas considerações mórbidas devolveram a decência ao roupão de Larry. Resolveu, por isso, sair do quarto.
— Bom dia, Glenda — disse.
— Ah, bom dia, Mr. Kramer — disse a ama.
Tão fria e britânica aquela voz! Kramer estava convencido de que não dava a menor importância ao sotaque britânico ou aos próprios britânicos. Mas, na realidade, os britânicos e o seu sotaque intimidavam-no. No ah da ama, naquele simples ah, detectou uma sugestão de até que enfim a pé, não é verdade?
Mulher gorducha, dos seus cinquenta anos, já envergava o seu eficiente uniforme branco. Tinha o cabelo apanhado num carrapito impecável. Já fechara o sofá-cama e tornara a pôr no lugar as almofadas, devolvendo-lhe assim a sua aparência diurna de móvel de sala de estar forrado de linho sintético de um amarelo desmaiado. Estava sentada na beira do sofá, com as costas perfeitamente direitas, a beber uma chávena de chá. O bebé estava deitado de costas no berço, perfeitamente satisfeito. Aquela mulher era a perfeição em pessoa. Tinham-na encontrado através da Agência Gough, que um artigo da secção Lar do Times apontava como uma das melhores e mais elegantes. Portanto estavam a pagar o elegantíssimo preço de 525 dólares por semana a uma ama inglesa. De vez em quando ela falava de outras casas onde tinha trabalhado. Sempre na Park Avenue, na Quinta Avenida, em Sutton Place... Bom, tanto pior! Agora tens de engolir esta subida forçada até ao West Side! Tratavam-na por Glenda. Ela tratava-os por Mr. Kramer e Mrs. Kramer, e não por Larry e Rhoda. Estava o mundo de pernas para o ar. Glenda era a verdadeira imagem da aristocrata, a beber o seu chá, enquanto Mr. Kramer, amo e senhor da colónia de formigas, atravessava a sala em direcção à casa de banho, descalço, de pernas nuas, desgrenhado, envergando um roupão de xadrez velho e coçado. No canto da sala, sob a folhagem de uma Dracaena fragrans extremamente suja de pó, a televisão estava ligada. O anúncio chegou ao fim, e alguns rostos sorridentes começaram a falar, no programa Today. Mas o som estava no mínimo. Ela não seria imperfeita ao ponto de ter a televisão aos gritos. Que diabo lhe passaria pela cabeça, àquele árbitro inglês, ali sentado (num horrível sofá-cama) a julgar a miséria de chez Kramer?
Quanto à dona da casa, Mrs. Kramer, saía nesse preciso momento da casa de banho, ainda de roupão e chinelos.
-Larri — disse — olha para a minha testa. Acho que
tenho aqui uma coisa qualquer, uma espécie de inflamação. Estive agora a ver ao espelho.
Ainda ensonado, Kramer fez um esforço para lhe examinar a testa.
— Não é nada, Rhoda. Talvez seja o princípio de uma
borbulha.
Mais uma coisa desagradável. Desde a chegada da ama, Kramer apercebera-se subitamente da maneira como a mulher falava. Nunca antes reparara nisso, ou quase nunca. Ela era formada pela Universidade de Nova Iorque. Nos últimos quatro anos trabalhara na editora Waverly Place Books. Era uma intelectual, ou pelo menos aparentava ler bastante poesia de John Ashbery e Gary Snyder quando a conhecera, e tinha opiniões bem assentes acerca da África do Sul e da Nicarágua. No entanto, dizia fah-head em vez de forehead, e there semno fim; em contrapartida, acrescentava uma saw.
Também nisso era igual à mãe.
Rhoda afastou-se, e Kramer entrou no cubículo da casa de banho. A casa de banho era do mais puro estilo Habitação Social. O varão da cortina do chuveiro estava coberto de roupa a secar. Havia ainda mais roupa numa corda que atravessava diagonalmente o quarto, um babygrow, dois babeiros, algumas calcinhas, vários pares de colants e Deus sabe o que mais, nada daquilo pertencente à ama, claro. Kramer teve de se curvar para chegar à sanita. Um par de colants molhados roçaram-lhe a orelha. Era revoltante. Havia uma toalha molhada em cima da tampa da sanita. Olhou à sua volta em busca de um lugar para a pendurar. Não havia lugar. Atirou-a para o chão.
Depois de urinar, deslocou-se doze ou catorze polegadas em direcção ao lavatório, tirou o roupão e a T-shirt e colocou-as em cima da tampa da sanita. Kramer gostava de ver ao espelho a sua cara e o seu corpo, logo de manhã. Com aquele rosto largo e achatado, aquele nariz grosso, aquele pescoço forte, à primeira vista ninguém o tomava por judeu.
Podia ser grego, eslavo, italiano, até irlandês — ou de qualquer outra raça robusta. Não lhe agradava estar a perder o cabelo no alto da cabeça, mas de certo modo também isso lhe dava um ar robusto. Estava a ficar calvo da mesma maneira que muitos futebolistas profissionais ficavam calvos. E a sua compleição... Mas nessa manhã desanimou. Aqueles potentes deltóides, aqueles trapézios maciços, aqueles peitorais compactos, aqueles nacos redondos de carne que eram os seus bicípites — pareciam murchos. Porra, estava a ficar atrofiado! Não tinha podido exercitar-se desde o nascimento do bebé e a chegada da ama. Guardava os halteres num caixote atrás do vaso da Dracaena, e treinava entre a planta e o sofá — só que lhe era absolutamente impossível fazer exercícios, grunhir e gemer e esforçar-se e ofegar e mirar-se complacentemente no espelho à frente da ama inglesa... ou da futura e mítica au pair, aliás... É melhor enfrentar os factos! Já é tempo de desistires desses sonhos infantis! Agora és um laborioso pai de família americano — e nada mais! Quando saiu da casa de banho, deparou com Rhoda sentada no sofá ao lado da ama inglesa; ambas tinham os olhos fixos na televisão, e o som estava bastante alto. Era o noticiário do programa Today.
Rhoda olhou para ele e disse, muito excitada: — Olha para isto, Larry! É o mayor Houve um tumulto em Harlem ontem à noite. Até lhe atiraram com um frasco!
Kramer mal reparou que ela pronunciara meh-ah em vez de mayor e boh-hal em vez de bottle. Coisas espantosas aconteciam na televisão. Um palco, grande confusão — corpos em luta — e depois uma mão enorme que enchia o écran e tapava tudo por instantes. Mais gritos e esgares e confrontos violentos, e depois a pura vertigem. Para Kramer, Rhoda e a ama, foi como se os desordeiros irrompessem pelo écran e saltassem para o chão da sala, mesmo ao lado do berço do pequeno Joshua. E não eram as notícias locais, mas sim o programa Today. Era o prato servido à América inteira para o pequeno-almoço daquela manhã, um punhado de gente de Harlem que, na sua justa cólera, corria o mayor do palco de uma sala de reuniões. Ali vai a cabeça dele, toda encolhida para se proteger. Foi em tempos mayor da cidade de Nova Iorque. Agora é o mayor da Nova Iorque Branca.
Quando a cena terminou, os três entreolharam-se, e Glenda, a ama inglesa, começou a falar, consideravelmente agitada.
— Bom, eu acho isto perfeitamente revoltante. As pessoas de cor não sabem como a sua situação é boa neste país, é o que vos digo. Na Grã-Bretanha não se vê um único homem de cor de uniforme de polícia, e ainda menos a ocupar cargos públicos importantes como acontece aqui. Ainda no outro dia li um artigo. Há mais de duzentos mayors de cor neste país. E ainda querem espancar o mayor de Nova Iorque. Certas pessoas não sabem a sorte que têm, se querem que lhes diga a minha opinião.
Abanou a cabeça com ar indignado.
Kramer e a mulher entreolharam-se. Ele percebeu que ela estava a pensar o mesmo que ele.
Louvado seja Deus! Que alívio! Já podiam respirar fundo. Miss Eficiência era uma tradicionalista. E nos tempos que corriam o tradicionalismo era mal visto. Indicava origens modestas, estatuto social inferior, mau gosto. Portanto, afinal de contas, eles sempre eram superiores à ama inglesa. Porra, que alívio.
Quase parara de chover quando Kramer saiu de casa em direcção ao metro. Vestia uma gabardina velha sobre o seu fato cinzento do costume, com camisa e gravata. Calçava um par de sapatos Nike, brancos com riscas dos lados. Levava os sapatos melhores, de couro castanho, num saco de plástico, um desses sacos brancos, escorregadios, que dão nas lojas A&P.
A paragem do metro onde ele podia apanhar o comboio da linhapara o Bronx ficava na Rua 81, no sector oeste do Central Park. Ele gostava de ir até ao Central Park pela Rua 77, subindo depois a 81, porque assim passava diante do Museu de História Natural. Era um belo edifício, o mais belo edifício do West Side, na opinião de Kramer, tal e qual um cenário de Paris (não que ele alguma vez tivesse estado em Paris). A Rua 77 era muito larga naquele ponto. De um lado ficava o museu, uma maravilhosa criação neo-romântica, de pedra avermelhada. A fachada ficava um pouco recuada, pois tinha à frente um pequeno parque com árvores. Mesmo num dia enevoado como aquele as folhas jovens da Primavera pareciam brilhar. Verdejante, foi a palavra que lhe veio ao espírito. Do outro lado da rua, por onde ele seguia, havia uma série de edifícios elegantes com vista sobre o museu. Havia porteiros. Entrevia-se, ao passar, átrios enormes. Então pensou na rapariga do batôn castanho... Via-a agora muito claramente, muito mais claramente do que no sonho. Cerrou os punhos. Irra! Ia fazê-lo, sim! Ia telefonar-lhe. Ia fazer essa chamada. Teria de esperar até ao fim do julgamento, claro. Mas ia fazê-la. Estava farto de ver as outras pessoas viverem... A Vida. A rapariga do batôn castanho! — ela e ele, olhando-se nos olhos, a uma mesa desses restaurantes de madeiras claras e tijolos à vista, plantas penduradas no tecto, metais reluzentes, vidros foscos e ementas com lagosta Natchez e vitela e banana de São Tomé com algorobo e broa de milho com pimenta de Caiena!
Kramer começava a saborear pacatamente a sua visão quando, mesmo à sua frente, saiu da porta impecável do n.º 44 da Rua 77 uma figura que o surpreendeu.
Era um homem novo, quase com expressão de bebé, de cara redonda e cabelo escuro, muito bem penteado para trás. Vestia um sobretudo Chesterfield de gola de veludo castanho-dourado e levava na mão uma daquelas pastas de couro borgonha que se compram no Màdler ou no T. Anthony da Park Avenue e têm uma macieza suave que anuncia: «Eu custo 500 dólares.» Via-se uma parte do braço fardado que mantinha aberta para ele a porta do prédio. Ele avançava a passo rápido sob o toldo da entrada, atravessando o passeio em direcção a um Austin sedan. O banco da frente era ocupado por um motorista. Via-se um número — o 271 — na janela de trás: um serviço de aluguer de automóveis. E agora o porteiro precipitava-se para fora do prédio, e o homem detinha-se para permitir que ele o ultrapassasse e lhe abrisse a porta de trás do sedan.
E aquele homem era... Andy Heller! Não havia a menor dúvida. Andy fora colega de Kramer na Faculdade de Direito de Colúmbia — e como Kramer se sentira superior quando Andy, o gordo e espertinho Andy, fizera o que toda a gente fazia, ou seja, ir trabalhar para a Baixa, para a firma Angstrom & Molner. Andy e centenas de outros como eles passariam os próximos cinco ou dez anos debruçados sobre as secretárias a corrigir vírgulas, citações de documentos e cláusulas estratégicas para consolidar e reforçar a avidez dos negociantes de hipotecas, dos fabricantes dos cosméticos e produtos farmacêuticos, dos conselheiros em matéria de investimentos e dos resseguradores — enquanto ele, Kramer, escolhia a vida mergulhando até à cintura nas existências dos miseráveis e dos condenados, erguendo-se nos tribunais para travar o seu duelo mano a mano em prol da justiça.
E era, na realidade, assim que as coisas se tinham passado. Então porque é que Kramer não avançava agora? Porque é que não continuava a andar e dizia «Olá Andy?» Não estava a mais de vinte pés do seu velho condiscípulo.
Mas o que fez foi parar, voltar a cara para a fachada do edifício e levar a mão ao rosto, como se tivesse alguma coisa no olho. Que diabo, não tinha vontade nenhuma de ver Andy Heller — enquanto o porteiro lhe segurava a porta do carro e o motorista aguardava o sinal de partida — não lhe apetecia mesmo nada dar ensejo a Andy Heller olhar para ele e dizer: «Larry Kramer, como estás?», e depois: «O que é que fazes agora?» E ele teria de responder: «Bom, sou procurador-adjunto no Bronx». Nem sequer seria preciso acrescentar: «E ganho 36600 dólares por ano.» Isso era do conhecimento comum. E enquanto durasse a conversa Andy Heller examinaria a sua gabardina suja, o seu velho fato cinzento de calças demasiado curtas, os seus ténis Nike, o seu saco de plástico A & P... Porra para esse... Kramer deixou-se ali ficar de cabeça virada, fingindo que tinha um grão de areia no olho, até que ouviu fechar-se a porta do Audi. Tornou a voltar-se mesmo a tempo de apanhar em cheio na cara uma bela nuvenzinha compacta de fumo do automóvel de luxo alemão, quando Andy Heller arrancou para o seu escritório. Kramer nem queria imaginar qual seria o aspecto desse maldito escritório.
No metro, na linha D, em direcção ao Bronx, Kramer ficou no corredor, agarrado a um varão de aço inoxidável, enquanto a carruagem chiava e avançava aos solavancos. No banco de plástico do outro lado do corredor estava sentado um velho, magro e ossudo, que parecia uma espécie de fungo nascido num cenário de graffiti. Estava a ler um jornal. O título do jornal dizia: POPULAÇA DE HARLEM CORRE COM O MA YOR. Os caracteres eram tão grandes que ocupavam a página inteira. Ao alto, em letras mais pequenas, lia-se «Volta para Hymietown!» O velho trazia um par de ténis às riscas vermelhas e brancas. Parecia estranho ver um homem tão velho assim calçado mas na linhaaqueles ténis nada tinham, afinal, de estranho. Kramer espreitou para o chão. Metade dos passageiros da carruagem calçavam ténis de cores berrantes e solas anatómicas em forma de molheiras. Os jovens calçavam-nos, os velhos calçavam-nos, as mães com crianças ao colo calçavam-nos tal como, aliás, as próprias crianças. Isto não acontecia por motivos de Juventude, Forma Física & Elegância Desportiva, como na parte baixa da cidade, onde se viam muitos jovens brancos bem vestidos irem de manhã para o trabalho calçando esses ténis. Não, na linha o motivo é que eles eram baratos. Na linhaaqueles ténis eram como um letreiro pendurado ao pescoço que dissesse BAIRRO DE LATA OU EL BARRIO.
Kramer fez um esforço para não reconhecer, no seu íntimo, o motivo porque os usava. Tornou a erguer os olhos. Algumas pessoas liam os jornais com os títulos acerca do tumulto, mas a linha para o Bronx não era uma linha de grandes leitores... Não... Acontecesse o que acontecesse em Harlem, o Bronx não seria afectado. Todos os ocupantes da carruagem olhavam o mundo com a costumeira expressão parada, evitando as trocas de olhares. Nesse preciso instante deu-se um daqueles vazios de som, uma daquelas interrupções no ruído de fundo que ocorrem quando se abre uma porta entre duas carruagens. Entraram três rapazes negros, de quinze ou dezasseis anos, calçando grandes ténis de atacadores descomunais, desatados mas metodicamente enrolados nos tornozelos, em linhas paralelas, e anoraks pretos.
Kramer empertigou-se e fez questão de se mostrar resoluto e enfadado. Contraiu os músculos esternocleidomastoi-deus de modo a fazer sobressair o pescoço, como um lutador. Um contra um... seria capaz de dar cabo de qualquer de entre eles... Mas nunca era um contra um... Todos os dias via rapazes assim no tribunal... Agora os três avançavam pelo corredor... Andavam com um passo saltitante conhecido como o «andar do chulo»... Ele também via o Andar do Chulo todos os dias, no tribunal... Nos dias quentes, no Bronx, havia tantos rapazes a pavonearem-se a passo de chulo que o próprio pavimento das próprias ruas parecia oscilar para cima e para baixo... Aproximaram-se mais, com o seu invariável olhar frio e inexpressivo... Bom, mas o que é que eles podiam fazer?... Passaram por ele, por ambos os lados dele... e nada aconteceu... Um touro, um garanhão como ele... seria a última pessoa do mundo com quem eles resolveriam implicar... Mesmo assim, ficava sempre satisfeito quando o comboio entrava na estação da Rua 161.
Kramer subiu as escadas e saiu para a Rua 161. O céu clareava. À sua frente, ali mesmo, erguia-se a grande taça do Yankee Stadium. Para além do estádio ficavam as silhuetas degradadas dos edifícios do Bronx. Dez ou quinze anos antes, tinham renovado o estádio. Tinham gasto nisso cem milhões de dólares. A ideia era que as obras levariam à «revitalização do coração do Bronx.» Que triste piada! Desde então aquela zona, a zona 44, aquelas mesmas ruas, haviam-se tornado as piores do Bronx em matéria de delinquência, Kramer também via isso todos os dias.
Começou a subir o monte, pela Rua 161, com os seus ténis, levando na mão o saco do A&P com os sapatos
dentro. Os habitantes daquelas ruas tristes deixavam-se ficar à porta das lojas e das tendas da Rua 161.
Olhou para cima — e por um instante viu o velho Bronx em todo o seu esplendor. No alto do monte, onde a Rua 161 se encontrava com a Grand Concourse, o sol rompera as nuvens e iluminava a fachada de calcário do Grand Concourse Hotel. Àquela distância, ainda podia passar por um hotel de uma estância turística europeia dos anos 20. Os futebolistas yankees viviam ali durante a estação alta, os que podiam, as estrelas. Kramer imaginava-os sempre a viver em grandes suites. Joe DiMaggio, Babe Ruth, Lou Gehrig... Eram os únicos nomes de que se lembrava, embora o pai costumasse falar de muitos mais. Ó douradas colinas judaicas de outrora! Ali, no cimo do monte, a Rua 161 e a Grand Concourse haviam sido o ponto mais alto do sonho judaico, da nova Canaã, do bairro judaico de Nova Iorque, o Bronx! O pai de Kramer fora criado a dezassete quarteirões dali, na Rua 178 — e o seu sonho mais glorioso neste mundo fora ter um apartamento... um dia... num daqueles sumptuosos prédios do alto do monte, da Grand Concourse. A Grand Concourse fora criada para ser a Park Avenue do Bronx, com a diferença de que a nova terra de Canaã ia fazer as coisas ainda melhor. A Concourse era mais larga que a Park Avenue, e fora mais sumptuosamente ajardinada — o que constituía, afinal, mais uma triste piada. Queria ter um apartamento na Grand Concourse? Hoje não lhe faltaria por onde escolher. O Grande Hotel do sonho judaico era agora um lar da assistência, e o Bronx, a Terra Prometida, era setenta por cento negro e porto-riquenho.
Pobre, desgraçado Bronx judaico! Quando tinha vinte e dois anos, acabado de entrar na faculdade de Direito, Kramer começara a considerar o pai como um judeuzinho que, no decurso da sua vida, conseguira finalmente levar a bom termo a migração diaspórica do Bronx até ao Ocean-side, até Long Island, a umas vinte milhas de distância, e que continuava a fazer diariamente o trajecto de ida e volta até um armazém de caixotes de papelão nas West Twenties, em Manhattan, onde era «controlador». Ele, Kramer, viria a ser o advogado... o cosmopolita... E agora, dez anos mais tarde, o que acontecera? Vivia numa colónia de formigas que fazia a casa do velho em Oceanside, com os seus três quartos de cama, parecer uma autêntica San Simeon; e apanhava a linha— a linha D!— para ir todos os dias trabalhar... no Bronx!
Mesmo diante dos olhos de Kramer, o sol começou a iluminar o outro grande edifício no alto do monte, o edifício onde trabalhava, o Bronx County Building. Era um prodigioso Parténon de calcário, construído no início dos anos 30, em estilo Cívico Moderno. Tinha nove andares e abrangia a área de três quarteirões, da Rua 161 à Rua 158. Que optimismo triunfante o dos que então haviam sonhado o edifício!
Apesar de tudo, o tribunal impressionava-o profundamente. As suas quatro imponentes fachadas eram autênticas celebrações da escultura e do baixo-relevo. Havia grupos de figuras clássicas em cada esquina. A Agricultura, o Comércio, a Indústria, a Religião, e as Artes, a Justiça, o Governo, a Lei e a Ordem, e os Direitos do Homem — nobres romanos togados em pleno Bronx! O sonho dourado de um futuro radioso!
Se hoje algum daqueles encantadores rapagões clássicos decidisse descer lá do alto, não sobreviveria o tempo suficiente para chegar à Rua 162 e comprar um Choc-o-pop ou um Shark. Davam-lhe uma tareia só para lhe apanharem a toga. Não era brincadeira aquela zona, a 44. Do lado da Rua 158 o tribunal dava para o Parque Franz Sigel que, visto do sexto andar, era uma bela extensão de terreno ajardinado à inglesa, um romance de árvores, arbustos, ervas, e maciços de rochas, que se estendia pelo lado sul da colina. No entanto, já praticamente ninguém além dele sabia o nome do Parque Franz Sigel, porque ninguém com um mínimo de bom senso se embrenharia no parque o suficiente para chegar à placa onde se lia o nome. Ainda na semana anterior um pobre diabo fora morto à facada, às dez da manhã, num dos bancos de cimento colocados no parque em 1971 no âmbito de uma campanha de «melhoramentos urbanos tendentes a revitalizar o Parque Franz Sigel e a devolvê-lo à comunidade». O banco estava a dez pés do limite do parque. Alguém matou o homem para lhe roubar o rádio portátil, um dos grandes, que eram conhecidos na Procuradoria como «pastas de executivo do Bronx». Ninguém na Procuradoria ia almoçar para o parque, nos dias ensolarados de Maio, nem mesmo quem, como ele, conseguia levantar pesos de duzen-tas libras. Nem mesmo os guardas do tribunal, que usavam uniforme e podiam legalmente trazer consigo um revólver de calibre 38, faziam semelhante coisa. Ficavam todos dentro do edifício, essa ilha fortificada do Poder, dos brancos como ele próprio, essa Gibraltar no pobre e triste Mar dos Sargaços do Bronx.
Na rua que se preparava para atravessar, a Walton Avenue, estavam alinhadas três carrinhas azuis e laranja do Departamento Correccional, à espera de poderem entrar na porta de serviço do edifício. As carrinhas traziam prisioneiros da Casa de Detenção do Bronx, de Rikers Island e do Tribunal Criminal do Bronx, a um quarteirão de distância, para responderem perante o Supremo Tribunal do Bronx, o tribunal que se ocupava dos crimes graves. As salas de audiência ficavam nos dois andares de cima, e os prisioneiros entravam pela porta de serviço. Elevadores transportavam-nos até às salas dos diferentes pisos do tribunal.
Não se via para dentro das carrinhas, porque as janelas eram resguardadas por uma rede metálica compacta. Kramer não precisava olhar. Nas carrinhas devia vir a mistura habitual de negros e latino-americanos; ocasionalmente aparecia também algum jovem italiano dos lados da Arthur Avenue, e uma vez por outra um miúdo irlandês de Woodlawn ou outra ovelha tresmalhada que tivesse tido a triste ideia de escolher o Bronx para se meter em sarilhos. «A paparoca», disse Kramer para consigo. Se alguém o estivesse a observar, veria os seus lábios moverem-se ao pronunciar aquelas palavras.
Dentro de cerca de quarenta e cinco segundos ele aperceber-se-ia de que alguém o observava, efectivamente. Mas naquele momento era apenas o costume, as carrinhas azuis e laranja e ele a dizer para consigo: «a paparoca».
Kramer chegara àquele ponto baixo da vida de um procurador-adjunto do Bronx em que as dúvidas o assaltam. Todos os anos quarenta mil pessoas, quarenta mil incompetentes, débeis mentais, alcoólicos, psicopatas, vagabundos, boas almas arrastadas por uma fúria terrível e incontrolável, e indivíduos que só podiam ser descritos como irredutivel-mente perversos, eram presos no Bronx. Sete mil de entre eles eram inculpados e processados, e entravam na engrenagem do sistema judicial — ali mesmo — pelo portão de acesso a Gibraltar, onde as carrinhas formavam fila. Eram cerca de 150 novos casos, mais 150-corações a bater e olhares vazios, a cada semana de funcionamento dos tribunais e da Procuradoria do Comando do Bronx. E para quê? Os mesmos crimes estúpidos, deprimentes, patéticos, horríveis, continuavam a ser cometidos dia sim, dia não. E o que é que conseguiam o procurador-adjunto e todos os outros com aquele incessante remexer no esterco? O Bronx desmoronava-se, corrompia-se um pouco mais, e um pouco mais de sangue secava nas fendas. As dúvidas! Uma coisa, pelo menos, conseguiam. O sistema ia sendo alimentado, e aquelas carrinhas traziam «a paparoca». Cinquenta juizes, trinta e cinco estagiários, 245 procuradores-adjuntos, um procurador — e ao pensar neste último Kramer franziu os lábios num sorriso, porque Weiss devia estar nesse instante lá em cima, no sexto andar, a vociferar contra o Canal 4 ou 7 ou 2 ou 5 por não lhe ter dado na véspera a cobertura televisiva que ele queria e continuava a querer para aquele dia — e só Deus sabe quantos advogados, consultores jurídicos, repórteres judiciais, escrivães, guardas dos tribunais, guardas da polícia correccional, guardas encarregados da vigilância dos presos em liberdade condicional, assistentes sociais, funcionários do departamento das finanças, investigadores especiais, secretárias, psiquiatras do tribunal — que imenso enxame tinha de ser alimentado! E todas as manhãs chegava «a paparoca», «a paparoca» e as dúvidas.
Kramer acabava de pôr o pé na calçada quando surgiu à sua frente, a grande velocidade, um grande Pontiac Bonne-ville branco, uma autêntica banheira, prodigiosamente comprida, na frente e na traseira, o tipo de fragata de vinte pés que deixou de se fabricar por volta de 1980. Deteve-se, com grande chiadeira de travões e um solavanco violento, na esquina do outro extremo do quarteirão. A porta do Bonne-ville, uma superfície gigantesca de chapa metálica modelada, dos seus cinco pés de largura, abriu-se com um estalido lúgubre, e saiu do carro um juiz chamado Myron Kovitsky. Tinha cerca de sessenta anos, era baixo, magro, ossudo, com um nariz afilado, olhar vazio e boca de expressão sombria. Pela janela de trás do Bonneville, Kramer viu uma silhueta deslocar-se para o lugar do condutor deixado livre pelo juiz. Devia ser, com certeza, a mulher.
O som da porta daquele enorme carro a abrir-se e a imagem daquela figurinha a sair dele eram deprimentes. O juiz, Mike Kovitsky, vinha para o trabalho numa espécie de iate com perto de dez anos. Como juiz do Supremo, ganhava 65 100 dólares por ano. Kramer sabia os números de cor. Devia ficar com uns 45000, deduzidos os impostos. Para um homem de sessenta anos, que ocupava o escalão mais alto da carreira jurídica, aquilo era patético. Na Baixa... no mundo de Andy Heller... pagavam isso, logo de entrada, a indivíduos acabados de sair da faculdade. E este homem cujo carro faz thwop cada vez que se abre a porta, está no topo da hierarquia, ali, na ilha fortificada. Ele, Kramer, ocupava uma incerta posição intermédia. Se jogasse bem as suas cartas e conseguisse cair nas boas graças da Organização Democrática do Bronx, era aquela — Thwop! — a preeminência a que podia aspirar, daí a três décadas.
Kramer estava a atravessar a rua quando a coisa começou:
— Ouve lá! Kramer!
Era um vozeirão. Kramer não percebia de onde vinha.
— Seu brochista!
O quê? Aquilo fê-lo parar. Uma sensação... um som... como uma onda de vapor... encheu-lhe o cérebro.
— Ei, Kramer, seu monte de merda! Era outra voz. Eles...
— Cara de caralho!
As vozes vinham da traseira da carrinha, da carrinha azul e laranja, a que estava mais próxima dele, a menos de trinta pés de distância. Não via os homens. Não conseguia distingui-los através da rede das janelas.
— Ouve lá! Kramer! Paneleiro Hymie!
Hymie! Como é que eles sabiam que ele era judeu? Ele não tinha cara de... Kramer não era um... porque é que eles haviam de... aquilo dava-lhe cabo do juízo!
— Ei! Kramer! Panasca! Lambe-me o cu!
— Eiii!iiiii, meeeuuu, vai levar no cu! Vai levar no cu! A voz de um latino-americano — a pronúncia bárbara
tornava o golpe ainda mais doloroso.
— Ó cara de cu!
— EeeEiii!i! Beija-me o cu! Beija-me o cu!
— Ouve lá! Kramer! Vai para a mãezinha!
— Eeeeeeeeii! Meeeuu! Vai-te foder! Vai-te fodér! Era um coro! Uma chuva de lixo! Um Rigoletto do
esgoto, das goelas imundas do Bronx!
Kramer continuava no meio da rua. O que é que havia de fazer? Pôs-se a olhar para a carrinha. Não conseguia distinguir fosse o que fosse. Quais seriam?... Quais de entre eles... daquela procissão interminável de temíveis negros e latinos... Mas não! Não olhes! Desviou o olhar. Quem estaria a ver a cena? Havia de engolir aquela afronta inacreditável e continuar a andar até à entrada da Walton Avenue, ou devia enfrentá-los?... Enfrentá-los? Como?... Não! Fingiria que não era com ele que estavam a gritar... Quem é que podia saber?... Continuaria a andar pela Rua 161 e dobraria a esquina para entrar pela porta principal! Não era preciso que soubessem que aquilo era com ele! Examinou o passeio nas imediações da entrada da Walton Avenue, que ficava próxima das carrinhas... Nada, só os pobres cidadãos tristes do costume... Todos tinham estacado, a olhar para a carrinha...
O guarda! O guarda da entrada da Walton Avenue conhecia-o! O guarda ia perceber que ele estava a tentar escapulir-se e ignorar a coisa! Mas não se via o guarda... Provavelmente tinha ido para dentro do edifício, para não se ver obrigado a intervir. Então, Kramer viu Kovitsky. O juiz estava no passeio, a uns quinze pés da entrada. Estava ali, parado, a olhar para a carrinha. Depois olhou para Kramer. Merda! Ele conhece-me! Ele sabe que é comigo que estão a gritar! Aquela figurinha, que acabava de sair — thwop — do seu Bonneville, interpunha-se entre Kramer e uma retirada estratégica.
— Ei! Kramer! Seu cagão!
— Pssst! Verme careca!
— EeeeEiii!i! Enfia a careca no olho do cu! Enfia a careca no olho do cu!
Careca? Careca porquê? Ele não era careca. Começava a perder algum cabelo, grandes sacanas, mas estava muito longe de ser careca! Espera lá! Agora não era com ele — tinham visto o juiz, Kovitsky. Agora tinham dois alvos.
— Pssst! Kramer! O que é que trazes no saco, meu?
— Ei, peido velho e careca!
— Cabeça de alho chocho!
— Trazes os tomates no saco, Kramer?
Estavam os dois metidos naquilo, ele e o Kovitsky. Agora já não podia dar uma corrida até à entrada da Rua 161. Portanto continuou a atravessar a rua. Sentia-se como se estivesse debaixo de água. Lançou um olhar a Kovitsky. Mas Kovitsky já não olhava para ele. Dirigia-se para a carrinha. Ia de cabeça baixa. Estava furioso. Via-se-lhe o branco dos olhos. Das pupilas, sob as pálpebras entreabertas, partiam-lhe dois raios mortíferos. Kramer já o vira assim no tribunal... de cabeça baixa e olhos inflamados.
As vozes no interior da carrinha tentaram fazê-lo recuar.
— Para onde é que estás a olhar, ó picha murcha!
— Váááááááá, anda! Anda cá, caralho mirrado!
Mas o coro perdia o ritmo. Não sabiam o que fazer contra aquela figurinha furibunda.
Kovitsky abeirou-se da carrinha e tentou espreitar pela rede. Pôs as mãos nas ancas.
— Sim! Para onde é que julgas que estás a olhar?
— Shuuuuuu! Vamos-te dar alguma coisa para olhares, meu!
Mas estavam a perder o gás. Agora Kovitsky aproximava-se da dianteira do camião. Cravou os olhos inflamados no motorista.
— O que é? — diz o motorista. — O que é que foi? — O homem não sabia o que dizer.
-Porra, você é surdo? — disse Kovitsky. — Os seus
prisioneiros... os seus... prisioneiros... Você é um funcionário do Departamento Correccional...
E agitava o dedo espetado na direcção do homem.
O motorista era um homem moreno, gordo, atarracado, dos seus cinquenta anos, ou, em todo o caso, de uma meia-idade pardacenta, um funcionário público vitalício... e logo abriu os olhos e a boca, sem emitir qualquer som, e encolheu os ombros, e virou as palmas das mãos para cima e os cantos da boca para baixo.
Era o encolher de ombros ancestral das ruas de Nova Iorque, o olhar que dizia: «O que é que foi, hã? O que é que querem de mim?» E, neste caso específico: «O que é que quer que eu faça, que vá lá atrás meter-me na jaula com semelhantes tipos?»
Era o imemorial pedido de misericórdia nova-iorquino, um apelo que não admitia réplica.
Kovitsky olhou fixamente para o homem e abanou a cabeça como perante um caso desesperado. Depois voltou-lhe as costas e dirigiu-se de novo para a traseira da carrinha.
— Aqui está o Hymie!
— Annh! Annh! Annnhh!
— Chupe-me a gaita, Meretíssimo.
Kovitsky pôs-se a olhar para a janela, tentando uma vez mais vislumbrar o inimigo através da rede espessa. Respirou fundo, ouviu-se uma sonora fungadela vinda do seu nariz e uma vibração grave do seu peito e garganta. Parecia incrível que semelhante som vulcânico pudesse provir de um corpo tão pequeno e franzino. E depois cuspiu. Disparou um escarro prodigioso contra a janela da carrinha. O escarro atingiu a rede metálica e ficou lá colado, uma enorme ostra amarela e viscosa, parte da qual começou a escorrer como uma horrível pastilha elástica ou caramelo repugnante e mole. E ali ficou, a brilhar ao sol, para os passageiros da carrinha, fossem eles quem fossem, o contemplarem à sua vontade.
Aquilo atordoou-os. O coro interrompeu-se. Por um momento estranho e febril não houve mais nada no Mundo, no Sistema Solar, no Universo, em toda a astronomia, além da carrinha celular e aquele escarro translúcido, viscoso, pendente.
Então, com a mão direita colada ao peito, para que ninguém no passeio visse o gesto, o juiz espetou um dedo na direcção da carrinha, rodou sobre os calcanhares e dirigiu-se para a entrada do edifício.
Já percorrera metade da distância quando eles recobraram o fôlego.
— Sim, vai-te foder tu também, meu!
— Vê lá se queres.... shuuuuu.... experimenta...
Mas faltava-lhes o entusiasmo. O humor temível dos presos insubordinados desvanecera-se ante aquele homenzinho férreo e inflamado.
Kramer correu atrás de Kovitsky e apanhou-o quando ele transpunha a entrada da Walton Street. Tinha de o apanhar. Tinha de lhe mostrar que estivera sempre com ele. Afinal, aqueles insultos insidiosos dirigiam-se a ambos.
O guarda retomara o seu lugar à porta. — Bom dia, senhor Juiz — disse, como se aquele fosse um dia como os outros na ilha fortificada de Gibraltar.
Kovitsky mal olhou para ele. Estava preocupado. Ia de cabeça baixa.
Kramer tocou-lhe no ombro. — Caramba, senhor Juiz, o senhor é de mais! — felicitou-o Kramer, como se os dois tivessem acabado de travar, lado a lado, uma grande batalha. — Eles calaram-se! Até me custou a acreditar! Calaram-se mesmo!
Kovitsky deteve-se e olhou Kramer de alto a baixo, como se nunca o tivesse visto antes.
— Ora porra, serviu-me de muito — disse o juiz.
Ele está-me a censurar por não ter feito nada, por não o ter ajudado — mas, no instante seguinte, Kramer percebeu que afinal Kovitsky estava a falar do motorista da carrinha.
— Enfim, o pobre desgraçado está cheio de medo — disse Kovitsky. — Foda-se, eu tinha vergonha de ocupar um emprego daqueles se tivesse tanto medo.
Parecia falar mais consigo mesmo do que com Kramer. Continuou a dizer que porra isto e porra aquilo. O palavrão quase passou despercebido a Kramer. O tribunal era como o exército. Dos juizes até aos guardas, todos empregavam aquela interjeição de valor universal, que ao fim de um certo tempo parecia tão natural como o acto de respirar. Não, o espírito de Kramer procurava antecipar o que ia seguir-se. Receava que as próximas palavras pronunciadas pela boca de Kovitsky fossem: «Porra, e porque é que você se deixou ali ficar sem fazer nada?» Já começava a inventar desculpas. «Não percebi de onde vinham as vozes... não sabia se era da carrinha, se...»
As lâmpadas fluorescentes davam ao corredor a luminosidade baça e tóxica de uma clínica de radiologia.
— ... esta história do Hymie... — dizia Kovitsky. Então lançou a Kramer um olhar que exigia inequivocamente uma resposta.
Kramer não fazia a mínima ideia do que o outro estivera a dizer.
— Hymie?
— Sim, «Aqui está o Hymie» — disse Kovitsky. — «Picha murcha». Quero lá saber que me chamem «picha murcha». — E riu-se, sinceramente divertido com a ideia. — «Picha murcha»... Mas «Hymie»!... Porra, é veneno. É ódio! É anti-semitismo. E porquê? Sem os judeus, ainda eles estavam a asfaltar estradas, vigiados por tipos de caçadeira em punho, lá na Carolina do Sul. Garanto-lhe que era essa a sorte daqueles pobres sacanas, porra!
Um alarme começou a tocar. Uma campainha frenética ecoou no átrio. Martelava, em ondas sucessivas, aos ouvidos de Kramer. O juiz Kovitsky teve de elevar a voz para se fazer ouvir, mas nem sequer se deu ao trabalho de olhar à sua volta. Kramer nem pestanejou. O alarme significava que um preso tinha fugido, ou que o irmãozinho magrizela de um delinquente tinha sacado de um revólver numa sala de audiências, ou que algum réu gargantuesco agarrara pelo pescoço um guarda de cento e trinta libras de peso. Ou talvez fosse apenas um fogo. Das primeiras vezes que Kramer ouvira o alarme na ilha fortificada de Gibraltar, olhara de um lado para o outro, e, preparara-se para o tropel da manada de guardas calçando botas militares de couro de biqueira reforçada e brandindo pistolas de calibre 38, a correr pelos pavimentos de mármore, tentando apanhar um chanfrado qualquer de ténis aerodinâmicos que, instigado pelo medo, fazia 8,4 segundos aos cem. Mas, passado algum tempo, começou a ignorar aquelas cenas. Faziam parte do estado normal de alerta, pânico e caos do Bronx County Building. Em redor de Kramer e do juiz, as pessoas voltavam a cabeça em todas as direcções. Que rostos tão sombrios... Tinham entrado em Gibraltar pela primeira vez, sabe Deus no cumprimento de que tristes missões.
E, de repente, Kovitsky estava a fazer um gesto, a apontar para o chão, e a dizer: — ... é isso, Kramer?
— Isto? — perguntou Kramer, tentando desesperada-mente perceber de que é que o juiz estava a falar.
— Esses sapatos, porra! — disse Kovitsky.
— Ah, os sapatos — disse Kramer. — São sapatos de correr, senhor Juiz.
— Foi alguma ideia do Weiss.
— Nãããooo — disse Kramer, rindo como se o juiz tivesse lançado um dito de espírito irresistível.
— Andam a fazer jogging em prol da Justiça? Foi o que o Abe vos pôs a fazer, jogging pela Justiça?
— Não, não, não, não! — Mais risadas e um largo sorriso, já que Kovitsky parecia gostar tanto daquela piada do jogging em prol da Justiça.
— Meu Deus, todos os miúdos que assaltam um Red Apple e me aparecem na sala de audiências usam coisas dessas... e agora vocês!
— Nããooo...
— Julga que me vai aparecer num julgamento assim calçado?
— Nããããooo! Nem por sombras, senhor Juiz.
O alarme continuava a tocar. As pessoas de fora, as novas caras tristes que nunca antes tinham estado dentro daquela cidadela, olhavam para todos os lados de olhos arregalados e boca aberta, e viam um homem de idade, branco e careca, de fato cinzento, camisa branca e gravata, e um homem novo, branco e a ficar careca, de fato cinzento, camisa branca e gravata, ali a conversar, a sorrir, a rir, muito à vontade; portanto se aqueles dois brancos, que faziam obviamente parte do Poder, se deixavam ali ficar, sem pestanejar sequer, o problema não devia ser grave, não era?
Com o alarme a ressoar-lhe na cabeça, Kramer ficou ainda mais deprimido.
E ali mesmo, naquele preciso instante, tomou uma decisão. Tinha de fazer alguma coisa — alguma coisa surpreendente, alguma coisa audaciosa, alguma coisa desesperada, custasse o que custasse. Tinha de fugir dali. Tinha de se elevar acima daquele lodaçal. Tinha de iluminar o horizonte, agarrar a Vida...
Tornou a ver a rapariga do bâton castanho, tão distintamente como se ela estivesse ali ao seu lado, naquele lugar triste e lúgubre.
3 - O Quinquagésimo Andar
Sherman McCoy saiu do prédio dando a mão à filha Campbell. Os dias enevoados como aquele derramavam uma luz especial, de um azul-acinzentado, sobre a Park Avenue. Mas assim que se saía de baixo do toldo da entrada... que colorido! O passeio central da Park Avenue era um canteiro de tulipas amarelas. Havia milhares delas, graças às quotas que os proprietários dos apartamentos como Sherman McCoy pagavam à Park Avenue Association e aos milhares de dólares pagos a um serviço de jardinagem chamado Wilts-hire Country Gardens, dirigido por três coreanos de Mas-peth, Long Island. Havia qualquer coisa de celestial no brilho amarelo de todas as tulipas. Aquilo não podia vir mais a propósito. Ao agarrar a mão da filha para a conduzir à paragem da carrinha, Sherman sentia-se abrangido pela graça divina. Era um estado sublime, na verdade, e não saía muito caro. Para chegar à paragem bastava atravessar a rua. Não chegava a ter tempo de se impacientar com o passo miúdo de Campbell, estragando assim aqueles momentos reconfortantes de paternidade que se concedia todas as manhãs.
Campbell frequentava a primeira classe do Colégio Taliaferro, nome que, como toda a gente, tout le monde, sabia, se pronunciava Toliver. Todas as manhãs o Colégio Taliaferro mandava a sua carrinha, o seu motorista e a sua acompanhante de crianças percorrer a Park Avenue. Eram poucas, na verdade, as alunas do Taliaferro que não viviam a alguns passos dessa avenida.
Para Sherman, que saía para o passeio de mão dada a Campbell, ela era uma visão. Era uma visão, e tornava a sê-lo todas as manhãs. O seu cabelo era uma exuberância de ondas macias, como o da mãe, mas mais claras e mais douradas. O rostozinho — que perfeição! Nem mesmo os anos desgraciosos da adolescência o conseguiriam alterar. Tinha a certeza disso. Com a sua saia do colégio, cor de borgonha, a sua blusa branca de gola redonda, a sua pequena mochila de nylon, as suas meias até ao joelho, Campbell era um anjo. Sherman comovia-se até às lágrimas, só de olhar para ela.
O porteiro do turno da manhã era um velho irlandês chamado Tony. Depois de lhes abrir a porta, saiu para debaixo do toldo e ficou a vê-los afastarem-se. Excelente... excelente! Sherman gostava de ser observado no seu papel de pai. Naquela manhã era um indivíduo sério, um representante da Park Avenue e da Wall Street. Vestia um fato de fazenda de lã feito por medida em Inglaterra, por 1800 dólares, com dois botões, não assertoado, com lapelas discretas, em V. Na Wall Street os casacos assertoados e as lapelas bicudas destoavam, eram considerados um pouco excessivos. Tinha o espesso cabelo castanho penteado para trás. Ia de costas direitas e erguia bem alto o seu nariz grande e o seu queixo maravilhoso.
— Minha querida, deixa-me abotoar-te o casaco. Está um bocadinho frio.
— Nem pensar, José — disse Campbell.
— Vájá, meu amor, não quero que apanhes frio.
— NÃO, Séjo, NÃO. — E sacudiu os ombros-para se libertar dele. Séjo era José ao contrário. — N-n-n-n-ã-o-o-o. — Em vista disto, Sherman suspirou e abandonou o seu projecto de salvar a filha dos elementos. Andaram mais um bocado.
— Papá?
— Sim, minha querida?
— Papá, e se não houver Deus?
Sherman ficou aturdido, boquiaberto. Campbell olhava para ele com a expressão do costume, como se acabasse de perguntar o nome daquelas flores amarelas.
— Quem é que te disse que não havia Deus?
— Mas se não houver?
— O que é que te fez pensar... alguém te disse que não havia Deus?
Que insidioso espírito perturbador da aula dela andara a espalhar aquele veneno? Tanto quanto Sherman sabia, Campbell ainda acreditava no Pai Natal, e agora ali a tinha, começando a duvidar da existência de Deus! No entanto... era uma pergunta precoce, para uma criança de seis anos, não era? Impossível negá-lo. Pensar que semelhante especulação...
— Mas se não houver? — Ela estava irritada. Interrogada acerca da história da pergunta não era dar-lhe uma resposta.
— Mas há um Deus, minha querida. Portanto não te posso dizer como era «se não houvesse». — Sherman esforçava-se por nunca lhe mentir. Mas desta vez pareceu-lhe o caminho mais prudente. Alimentara a esperança de nunca ter de discutir questões religiosas com ela. Tinham começado a mandá-la à catequese na Igreja Anglicana de St. James, no cruzamento da Madison e da Rua 71. Era assim que se resolvia o problema da religião. Inscreviam-se as crianças em St. James, e evitava-se tornar a falar ou a pensar em religião.
— Ah — disse Campbell. Fixou os olhos no horizonte. Sherman sentia-se culpado. Ela levantara uma questão
difícil, e ele iludira-a. E ali estava ela, com seis anos de idade, a tentar resolver o maior enigma da vida.
— Papá?
— Sim, meu amor? — Susteve a respiração.
— Lembra-se da bicicleta de Mrs. Winston?
A bicicleta de Mrs. Winston? Então lembrou-se. Dois anos antes, na escola pré-primária de Campbell, havia uma professora chamada Mrs. Winston, que, desafiando o trânsito, ia todos os dias para a escola de bicicleta. Todas as crianças achavam aquilo uma maravilha — uma professora que ia de bicicleta para a escola. Desde então, Sherman nunca mais ouvira Campbell falar daquela mulher.
— Ah, sim, já me lembro. — Uma pausa ansiosa.
— A MacKenzie tem uma igualzinha. MacKenzie? MacKenzie Reed era uma rapariguinha da
aula de Campbell.
— Ai tem?
— Tem. Só que é mais pequena.
Sherman esperou... pelo salto lógico... que não chegou a vir. Era só aquilo. Deus está vivo! Deus morreu! A bicicleta de Mrs. Winston! Nem pensar, José! NÃO, Séjo! Vinha tudo do mesmo caixote dos brinquedos. Sherman experimentou uma momentânea sensação de alívio, mas depois sentiu-se defraudado. A ideia de que a filha tinha posto em dúvida a existência de Deus com apenas seis anos... ele tomara aquilo por um indício de inteligência superior. Ao longo dos últimos dez anos, no Upper East Side, a inteligência tornara-se, pela primeira vez, uma coisa socialmente correcta para as raparigas.
Várias rapariguinhas de saia cor de borgonha, com os seus pais ou criadas, estavam reunidas na paragem da carrinha do Colégio Taliaferro, do outro lado da Park Avenue. Assim que Campbell as viu, tentou soltar a mão da de Sherman. Chegara à idade em que as crianças sentem a necessidade de fazer isso. Mas ele não a largou. Apertou-lhe a mão com força e assim atravessou a rua. Era o protector da filha. Olhou ameaçadoramente para um táxi que travou com ruído ao chegar ao semáforo. Atirar-se-ia da melhor vontade para debaixo dele, se tal fosse necessário para salvar a vida de Campbell. Enquanto atravessavam a Park Avenue, Sherman pensou no par ideal que os dois formavam. Campbell, o anjo perfeito, com o seu uniforme do colégio; e ele próprio, com a sua nobre cabeça, o seu queixo de Yale, a sua silhueta robusta e o seu fato inglês de 1800 dólares, o pai do anjo, um homem de talento; imaginou os olhares de admiração, os olhares de inveja, dos peões, dos automobilistas, de toda a gente.
Assim que chegaram à paragem da carrinha, Campbell soltou-se. Os pais que todas as manhãs levavam as filhas à paragem da carrinha do colégio formavam um grupo muito alegre. Estavam sempre tão animados! Sherman começou a dar os bons dias. Edith Tompkins, John Channing, a mãe de MacKenzie Reed, a empregada de Kirby Coleman, Leonard Schorske, Mrs. Lueger. Quando chegou a vez de Mrs. Lue-ger — nunca soubera o nome próprio dela — Sherman mirou-a com mais atenção. Ela era uma mulher magra, pálida e loura, que nunca usava maquilhagem. Nessa manhã devia ter-se precipitado para a paragem da carrinha com a filha mesmo em cima da hora. Vestia uma camisa azul, de homem, com os dois botões de cima desabotoados. Trazia ainda uns blue jeans velhos e sapatilhas de ballet. Os jeans eram muito justos. Ela tinha um corpo espantoso. Sherman nunca antes reparara nisso. Realmente espantoso! Tinha um ar tão... tão pálido, tão vulnerável, de quem ainda estava meia a dormir... «Sabe, do que você precisa é de um café, Mrs. Lueger. Venha comigo, e passamos por aquela cafetaria da Lexington. Oh, que tolice, Mr. McCoy. Suba ao meu apartamento. Tenho café já feito.» Ficou a olhá-la fixamente uns bons dois segundos para além do que seria aconselhável, e depois... pumba... chegou a carrinha, um grande veículo maciço, semelhante aos autocarros Greyhound, e as crianças subiram os degraus a correr.
Sherman começou a afastar-se, depois tornou a olhar para trás, na direcção de Mrs. Lueger. Mas ela não estava a olhar para ele. Dirigia-se para o seu prédio. A costura de trás dos jeans quase a partia em duas metades. Viam-se as manchas esbranquiçadas dos dois fundilhos. Eram como faróis, realçando a carne que os preenchia. Que traseiro maravilhoso o dela! E ele, que sempre encarara aquelas mulheres como mamãs. Sabia-se lá que fogueiras não arderiam no íntimo daquelas mamãs?
Sherman encaminhou-se para leste, para a praça de táxis da Primeira Avenida e da Rua 79. Sentia-se radiante. Porquê, ao certo, não o saberia explicar. A descoberta da encantadora Mrs. Lueger... sim, mas a verdade é que ele saía sempre da paragem da carrinha de bom humor. O Melhor Colégio, as Melhores Meninas, as Melhores Famílias, o Melhor Bairro da capital do mundo ocidental no fim do século XX — mas a única coisa que perdurava no seu espírito era a sensação da mãozinha de Campbell agarrada à sua. Era por isso que se sentia tão bem. O contacto daquela mãozinha confiante, absolutamente dependente, era a própria vida!
Depois o seu bom humor desvaneceu-se. Andava depressa, percorrendo preguiçosamente com os olhos as fachadas castanhas dos prédios. Naquela manhã cinzenta, tinham um ar velho e deprimente. Diante dos prédios estavam depositados sacos informes de polietileno, de tons que iam do castanho merda de cão ao verde caganita. A superfície dos sacos tinha um aspecto viscoso. Como é que as pessoas conseguiam viver assim? A apenas dois quarteirões dali ficava o apartamento de Maria... O de Ralston Thorpe também era para aqueles lados... Sherman e Rawlie tinham andado juntos em Buckley, em St. Pauls e em Yale, e agora trabalhavam ambos na firma Pierce & Pierce. Rawlie trocara um apartamento de dezasseis divisões na Quinta Avenida pelos dois andares de cima de um daqueles prédios castanhos, após o divórcio. Que coisa deprimente. E Sherman dera um belo passo em direcção ao divórcio na noite anterior, não é verdade? Não só a Judy o apanhara, in flagrante telephone, por assim dizer, como a seguir ele, abjecta criatura lasciva, se deixara engatar — sim, não havia outra palavra: engatar! — e só voltara a casa passados quarenta e cinco minutos... O que seria de Campbell se ele e Judy viessem um dia a separar-se? Sherman não conseguia imaginar a sua vida depois de uma coisa dessas. Só poder ver a sua própria filha ao fim-de-semana? Como é que era a expressão que eles usavam? «Tempo privilegiado»? Que horror, que mau gosto... E a alma de Campbell a endurecer, mês após mês, a fechar-se numa concha rígida...
Meio quarteirão mais adiante, já começava a odiar-se. Apetecia-lhe dar meia volta e regressar ao apartamento e pedir perdão e jurar nunca mais. Apetecia-lhe fazê-lo, mas sabia que não o faria. Se o fizesse chegaria tarde ao escritório, o que era visto com muito maus olhos na Pierce & Pierce. Nunca ninguém dizia nada abertamente, mas o que se pretendia era que todos chegassem bem cedo e começassem a fazer dinheiro... e a assenhorear-se do universo. Uma descarga de adrenalina — a Giscard! Estava prestes a fechar o maior negócio da sua vida, a Giscard, a obrigação com garantia-ouro — Senhor do Universo! — e depois, de novo, o desânimo. Judy dormira no sofá do quarto de vestir da suite do casal. Ainda dormia, ou fingia dormir, quando ele se levantara. Bom, graças a Deus! Não tinha a menor vontade de se sujeitar a um segundo round naquela manhã, especialmente com Campbell ou Bonita a ouvirem. Bonita era uma dessas empregadas sul-americanas de modos extremamente agradáveis mas ao mesmo tempo bastante formais. Dar mostras de mau humor ou de angústia diante dela seria uma gaffe. Não admirava que dantes os casamentos durassem mais. Os pais de Sherman e os amigos dos pais tinham todos imensos criados, e os criados trabalhavam muitas horas por dia e dormiam em casa. Quem não quisesse discutir diante dos criados não tinha grandes oportunidades de discutir.
Portanto, na melhor tradição dos McCoys, exactamente como o pai teria feito — só que não conseguia imaginar o pai metido em semelhante embrulhada — Sherman salvara as aparências. Tomara o pequeno-almoço na cozinha com Campbell, enquanto Bonita a fazia comer e a preparava para a escola. Bonita tinha uma televisão portátil na cozinha, e passara o tempo a olhar o écran para ver a reportagem dos tumultos em Harlem. Era uma notícia «quente», mas Sherman não lhe prestara atenção. Tudo aquilo parecia tão distante... era o tipo de coisa que acontecia lá longe... com essa gente... Empenhara-se, isso sim, em irradiar encanto e boa disposição para que Bonita e Campbell não pressentissem a atmosfera envenenada que envolvia o lar.
Entretanto, Sherman já chegara à Lexington Avenue. Parava sempre numa tabacaria próxima da esquina para comprar o Times. Ao virar a esquina, viu uma rapariga
avançar na sua direcção, uma rapariga alta, de abundante cabeleira loura. Trazia ao ombro uma grande mala de mão. Andava depressa, talvez para apanhar o metro na Rua 77. Vestia um casaco de malha comprido, todo desabotoado, que deixava ver uma camisa polo com um pequeno emblema bordado sobre o seio esquerdo. Vestia ainda umas diabólicas calças brancas, largas e folgadas nas pernas mas excepcionalmente justas nas virilhas. Excepcionalmente! Via-se-lhe um sulco espantoso entre as pernas. Sherman ficou embasbacado, e depois olhou-a nos olhos. Ela retribuiu o olhar. Fitou-o bem nos olhos e sorriu. Não abrandou o passo nem lhe lançou um olhar provocante. Era um olhar confiante, optimista, que parecia dizer: «Olá! Somos dois animais bem bonitos, não achas?» Tão franco! Tão despudorado! Tão profundamente imodesto!
Na tabacaria, depois de pagar o Times, Sherman fez meia volta para sair e deu com os olhos num expositor de revistas. A carne cor de salmão saltou-lhe à vista... raparigas... rapazes... raparigas com raparigas... rapazes com rapazes... raparigas com rapazes... raparigas de seios nus, raparigas de traseiros nus... raparigas com adereços vários... um alegre e sorridente deboche de pornografia, um caos, uma orgia, uma estrumeira... Na capa de uma revista está uma rapariga toda nua, só com uns sapatos de salto alto e uma tanga. Mas afinal não é uma tanga, é uma cobra... uma cobra que se lhe enfiou entre as pernas e está a olhar fixamente para Sherman... E a rapariga também o fita... O seu rosto arvora o sorriso mais radioso, mais indiferente que se possa imaginar... Podia ser o rosto de uma das raparigas que servem cones de chocolate no Baskin-Robbins...
Sherman encaminhou-se de novo para a Primeira Avenida num estado de grande agitação. Aquilo estava no ar! Era uma autêntica vaga! Em toda a parte! Impossível escapar-lhe!... Sexo!... Ali, mesmo à mão!... A passear nas ruas, sem o menor pudor!... Em exposição, em todas as lojas! O que é que um homem ainda novo, mesmo que andasse meio a dormir, podia fazer?... Tecnicamente falando, ele fora infiel à mulher. Bom, era verdade... mas quem é que podia respeitar a monogamia com aquela... aquela maré de concupiscência que submergia o mundo? Meu Deus do céu! Afinal de contas, um Senhor do Universo não podia ser um santo... Era inevitável. Por amor de Deus, quando neva uma pessoa não pode esquivar-se aos flocos de neve, e aquilo era uma autêntica tempestade! Ele apenas fora apanhado no turbilhão, mais nada; e apanhado só até certo ponto, diga-se.
Aquilo não significava nada. Não tinha uma dimensão moral. Era o mesmo que apanhar chuva e ficar ensopado. Quando chegou à praça de táxis no cruzamento da Primeira Avenida com a Rua 79, o problema já estava pouco mais ou menos resolvido na sua cabeça.
No cruzamento da Rua 79 com a Primeira Avenida os táxis alinhavam-se todos os dias para conduzirem a Wall Street os hovens Senhores do Universo. Segundo os regulamentos, qualquer motorista de táxi deveria levar os clientes para onde quer que eles desejassem ir, mas os motoristas da bicha daquela esquina não saíam do lugar a menos que uma pessoa quisesse ir para Wall Street ou para uma rua próxima. Da praça de táxis inflectiam para leste, percorriam dois quarteirões e depois seguiam ao longo do East River pela via rápida, a FDR, Franklin Delano Roosevelt Drive.
Era uma viagem de dez dólares todas as manhãs, mas o que era isso para um Senhor do Universo? O pai de Sherman sempre fora para a Wall Street de metro, mesmo quando era presidente do conselho de administração da Dunning Sponget & Leach. Ainda agora, com setenta e um anos, nas suas excursões diárias à Dunning Sponget, que continuava a fazer para respirar durante três ou quatro horas a mesma atmosfera que os seus amigos advogados, ia sempre de metro. Era uma questão de princípio. Quanto mais desagradável se tornava o metropolitano, quanto mais carruagens essa gente enchia de graffiti, quanto mais fios de ouro arrancavam do pescoço das raparigas, quanto mais velhos assaltavam, quanto mais mulheres empurravam para debaixo dos comboios, mais firme se mostrava John Campbell McCoy na sua decisão de que não o obrigariam a abandonar o metropolitano de Nova Iorque. Mas para a nova raça, para a raça dos jovens, a raça dos senhores, a raça de Sherman, esse princípio não existia. Isolamento! Eis a palavra de ordem. Era o termo utilizado por Rawlie Thorpe. «Se queres viver em Nova Iorque — dissera ele uma vez a Sherman —, tens de te isolar, isolar, isolar», ou seja, isolar-te dessa gente. O cinismo e a presunção daquela ideia pareceram a Sherman muito au courant. Quando se podia percorrer o FDR Drive sentado num táxi, a grande velocidade, para quê alinhar nas trincheiras das guerras urbanas?
O motorista era... um turco? Um arménio? Sherman tentou ler-lhe o nome no cartão do tablier. Quando o táxi chegou à via rápida, reclinou-se no assento e pôs-se a ler o Times. Na primeira página vinha uma fotografia que mostrava uma multidão a invadir um palco e o mayor diante de uma tribuna, a olhar para toda aquela gente. Os distúrbios, sem dúvida. Começou a ler a notícia, mas em breve se distraiu. O Sol começava a raiar por entre as nuvens. Via-o reflectido no rio, à sua esquerda. Naquele momento, o pobre rio imundo cintilava. Afinal de contas era um dia soalheiro de Maio. Mais adiante erguiam-se as torres do Hospital de Nova Iorque, mesmo à beira da via rápida. Havia um letreiro que indicava a saída da Rua 71, a saída que o pai sempre tomava no regresso de Southampton, aos domingos à tarde. Ao ver o hospital e a saída, Sherman não pôde deixar de pensar — aliás, foi mais uma impressão do que um pensamento — na casa da Rua 73, com os seus quartos pintados de um verde aristocrático. Ele crescera nessas salas claras, de um verde-acinzentado, e subira e descera aqueles quatro lanços de escada julgando que vivia no meio da elegância mais requintada, na casa do poderoso John Campbell McCoy, o Leão da Dunning Sponget & Leach. Só muito recentemente lhe passara pela cabeça que em 1948, quando os pais tinham comprado e renovado a casa, eram um casal com um certo espírito de aventura, que se dispusera a recuperar aquilo que na altura não passava de uma velha múmia num quarteirão decadente, vigiando severamente as despesas, a cada instante, e orgulhando-se da bela casa que tinham criado por uma soma relativamente modesta. Meu Deus! Se
o pai alguma vez viesse a descobrir quanto é que ele pagara pelo seu apartamento e como conseguira o dinheiro, tinha um ataque! Dois milhões e seiscentos mil dólares, dos quais
1 800000 emprestados... 21000 dólares por mês de amortizações e juros, com um pagamento de um milhão de dólares daí a dois anos... O Leão da Dunning Sponget ficaria aterrado... e, mais do que aterrado, ferido... ferido com a ideia de que as suas lições, repetidas vezes sem conta, sobre o dever, as dívidas, a ostentação e a justa medida tinham entrado por um ouvido do filho para logo saírem pelo outro...
Teria o pai tido as suas aventuras? Não era de modo nenhum impossível. Ele era um belo homem. Tinha o perfil. Mas Sherman não conseguia imaginar semelhante coisa.
E, quando viu à sua frente a ponte de Brooklyn, desistiu de tentar imaginar. Dentro de poucos minutos estaria na Wall Street.
A firma de investimento de capitais Pierce & Pierce ocupava o quinquagésimo, o quinquagésimo primeiro, quin-quagésimo segundo, quinquagésimo terceiro e quinquagésimo quarto andares de uma torre de vidro que, com os seus sessenta andares, se elevava bem acima das entranhas sombrias de Wall Street. A sala de compra e venda de obrigações, onde Sherman trabalhava, era no quinquagésimo andar. Todos os dias saía do elevador de paredes de alumínio para entrar naquilo que parecia o átrio de um desses novos hotéis de Londres, especialmente construídos a pensar nos clientes yankees. Próximo da porta do elevador havia uma lareira fingida, antiga, de mogno, com grandes cachos de frutos esculpidos nos cantos. Diante da lareira fingida havia uma grade de latão, ou guarda-fogo, como lhe chamam nas casas de campo do Oeste de Inglaterra. Nos meses certos do ano brilhava lá dentro um fogo fingido, derramando uma luz trémula sobre um par de prodigiosos cães de lareira, também de latão. A parede que rodeava o fogão era igualmente revestida de mogno, lustroso e avermelhado, em painéis trabalhados tão espessos que bastava olhar para eles para se sentir nas pontas dos dedos o dinheiro que ali fora gasto.
Tudo isto reflectia a paixão do presidente do conselho de administração da Pierce & Pierce, Eugene Lopwitz, pelas coisas inglesas. As coisas inglesas — escadas de biblioteca, consolas semi circulares, móveis de pernas Sheraton ou costas Chippendale, tesouras de aparar charutos, tapetes de Wilton — iam-se multiplicando, dia após dia, no quinquagésimo andar da Pierce & Pierce. Infelizmente, Eugene Lopwitz não podia fazer grande coisa quanto ao tecto, que distava apenas uns oito pés do chão. O pavimento subira cerca de um pé. Por baixo dele havia cabos e fios em quantidade suficiente para electrificar a Guatemala inteira. Os fios forneciam a energia necessária aos terminais de computador e aos telefones da sala de compra e venda de obrigações. O tecto descera também cerca de um pé, para deixar espaço para a instalação da luz, para as condutas de ar condicionado e para mais algumas milhas de fios eléctricos. O chão subira; o tecto descera; era como se se estivesse numa mansão inglesa achatada.
Assim que se ultrapassava a falsa lareira começava-se a ouvir um alarido incrível, como o alarido de uma multidão. Vinha de algures ao virar da esquina. Não havia que enganar. Sherman McCoy avançou nessa direcção, com deleite. Naquela manhã, como todas as manhãs, as suas entranhas vibravam em uníssono com aquele som.
Virou à direita, e lá estava ela: a sala de compra e venda de obrigações da Pierce & Pierce. Era uma área enorme, talvez sessenta por oitenta pés, mas com o mesmo tecto de oito pés de altura a pesar sobre as cabeças dos ocupantes. Era um espaço opressivo, com uma luz implacável, silhuetas contorcidas, e o ruído. A luz vinha de uma parede inteira de vidro fumado, do lado sul, através da qual se via o porto de Nova Iorque, a Estátua da Liberdade, Staten Island, e as margens de Brooklyn e New Jersey. As silhuetas contorcidas eram os braços e os troncos de homens jovens, raramente com mais de quarenta anos. Estavam todos em mangas de camisa. Andavam de um lado para o outro com um ar agitado, a suar já àquela hora da manhã, e aos berros, o que estava na origem do alarido. Era o som dos jovens brancos bem educados a latir por dinheiro no mercado das obrigações.
— Fazes o favor de me atender esse telefone, porra! — gritava um licenciado de Harvard de 1976, bochechudo e rosado, a alguém, duas filas de secretárias mais adiante. A sala era como a sala de redacção de um jornal, sem divisórias nem sinais visíveis de hierarquia. Todos estavam instalados em secretárias de metal cinzento, diante de terminais de computador avermelhados com écrans pretos. Linhas de caracteres e números verdes luminosos deslizavam pelos écrans.
— Eu disse para atenderes esse telefone, porra! Que merda, caramba! — Os sovacos da camisa apresentavam já meias-luas mais escuras, e o dia ainda mal começara.
Um licenciado de Yale de 1973, com umas boas doze polegadas de pescoço a emergir do colarinho da camisa, olhava fixamente para o seu écran e berrava, pelo telefone, a um corretor de Paris: — Se não vês a merda do écran que tens à frente... Oh, por amor de Deus, Jean-Pierre, são os cinco milhões do comprador! Do comprador! Não entrou mais dinheiro nenhum!
Depois tapou o bocal do telefone com a mão, ergueu os olhos para o tecto e disse, muito alto, sem se dirigir a ninguém a não ser, talvez, a Mamon: — Os «franciús»! Os cabrões dos «franciús»!
Quatro secretárias mais adiante, um licenciado de Stan-ford de 1979 estava sentado na sua cadeira, a examinar uma folha de papel que tinha sobre a secretária com o auscultador do telefone colado ao ouvido. Tinha o pé direito no estribo de uma caixa portátil de engraxador e um negro chamado Felix, dos seus cinquanta anos — ou seriam sessenta? — curvava-se sobre o seu pé, dando lustro ao sapato com um trapo luzidio. Felix passava- o dia inteiro a andar de secretária em secretária, a engraxar os sapatos dos jovens negociantes de obrigações enquanto estes trabalhavam, a três dólares por cabeça, incluindo a gorjeta. Era raro trocar uma palavra com alguém; Felix mal chegava a impressionar a retina daqueles homens. Nesse preciso instante o licenciado de Stanford de 1979 levantou-se da cadeira, com os olhos ainda cravados na folha de papel, o telefone ainda colado ao ouvido — e o pé direito ainda no estribo do engraxador — e berrou: — Bom, então porque é que lhe parece que toda a gente se está a desfazer das obrigações de vinte anos, porra? Tudo isto sem tirar o pé da caixa do engraxador! Deve ter umas pernas de ferro!, pensou Sherman. Sherman sentou-se diante do seu próprio telefone e terminal de computador. Os gritos, as imprecações, os gestos, aquele medo e aquela avidez desmedida, envolviam-no agora; ele adorava aquela atmosfera. Ele era o número um entre os negociantes de obrigações, o «mais produtivo», como se dizia, de toda a sala de compra e venda do quinquagésimo andar da Pierce & Pierce, e amava o próprio bramido da tempestade.
— A encomenda Goldman é que veio foder esta história toda!
— ... tem de voltar à plataforma de base, porra, e...
— ... peça 8 e 12...
— São dois trinta e dois avos de diferença!
— Alguém lhe anda a vender uma bela história da carochinha, gaita! Será que não consegue ver isso?
— Bom, então aceito a encomenda e compro-as a mais 6!
— E as de cinco anos?
— Venda cinco!
— Não poderiam ser dez?
— Acha que esta história vai continuar a subir?
— É uma autêntica febre, tudo a desfazer-se das de vinte anos! Essas bestas não falam de outra coisa!
— ... cem milhões das de Julho de noventa, para começar...
— ... são muito poucas...
— Meu Deus do céu, o que é que se passa?
— Não pode ser verdade, porra!
— Ora foda-se, que grande merda! — berravam os homens de Yale e os homens de Harvard e os homens de Stanford. — O-ra fo-da-se, que merda!
Como estes filhos das grandes universidades, aqueles herdeiros de Jefferson, Emerson, Thoreau, William James, Frederick Jackson Turner, Samuel Flagg Bemis, e dos outros gigantes de três nomes das academias americanas —
como estes depositários da lux e da ventas se precipitavam agora para a Wall Street e para a sala de compra e venda de obrigações da Pierce & Pierce! Como as histórias circulavam em todos os campus! Quem, num prazo de cinco anos, não ganhasse 250000 dólares por ano, ou era incuravelmente estúpido ou incuravelmente preguiçoso. A palavra de ordem era essa. Com trinta anos, 500000 dólares — e mesmo essa soma ostentava ainda a marca da mediocridade. Com quarenta anos ou se fazia um milhão por ano ou se era timorato e incompetente. Agarra o sucesso, já! Eis a divisa que inflamava todos os corações, como uma doença. Rapazes da Wall Street, simples rapazes, de queixo macio e artérias sãs, rapazes ainda capazes de corar, compravam apartamentos de três milhões de dólares na Park e na Quinta. (Porquê esperar?) Compravam casas de Verão de trinta divisões e quatro acres de terreno em Southampton, casas construídas nos anos 20 e abandonadas nos anos 50 como elefantes brancos, casas com a ala dos criados a cair, e eles mandavam arranjar também a ala dos criados, e até chegavam a acrescentar novas dependências. (Porque não? Nós temos criados.) Mandavam trazer e instalar nos grandes relvados carroceis para as festas de anos dos filhos, juntamente com equipas de trabalhadores especializados que os faziam funcionar. (Uma indústria florescente.)
E de onde vinha toda esta espantosa onda de dinheiro novo? Sherman já ouvira Gene Lopwitz discorrer acerca do assunto. Segundo a análise de Lopwitz, era a Lyndon Johnson que deviam estar gratos. Muito pela calada, os Estados Unidos tinham então começado a imprimir biliões de dólares para financiar a Guerra do Vietname. E antes que qualquer pessoa, Johnson incluído, percebesse o que se estava a passar, iniciara-se uma onda de inflação a nível mundial. Toda a gente se apercebeu do facto quando os árabes aumentaram repentinamente os preços no início dos anos 70. Num abrir e fechar de olhos, todos os mercados se animaram de uma maneira inédita: o mercado do ouro, da prata, do cobre, das divisas, dos títulos bancários das promissórias de empresas — e até mesmo o das obrigações. Durante décadas o negócio das obrigações fora o gigante inválido da Wall Street. Em firmas como a Salomon Brothers, a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, ou a Pierce & Pierce, mudava de mãos duas vezes mais dinheiro no mercado de obrigações do que no mercado de acções. Mas os preços só variavam alguns pen-nies, para cima ou para baixo, e mais frequentemente para baixo que para cima. Como Lopwitz dizia, «o mercado de
obrigações estava em baixa desde a Batalha de Midway.» A batalha de Midway (Sherman teve de consultar uma enciclopédia para o descobrir) fora na II Guerra Mundial. A secção de obrigações da Pierce & Pierce compunha-se então de vinte almas, vinte almas um pouco maçadoras, conhecidas como os «chatos das Obrigações». Os elementos menos promissores da firma eram despachados para as obrigações, onde não havia perigo de fazerem estragos.
Sherman afastou a ideia de que ainda era assim quando ele entrara para a secção de obrigações. Bom, hoje em dia já não se ouvia falar nos chatos das Obrigações...Ah, não! Longe disso! O mercado das obrigações tinha entrado em ebulição, e os corretores experientes como ele começaram de repente a ter grande procura. De um momento para o outro, nas firmas de investimentos de capital de toda a Wall Street, os sisudos chatos das Obrigações tinham começado a ganhar tanto dinheiro que haviam adquirido o hábito de se reunirem depois do trabalho num bar de Hanover Square chamado Harrys, para contarem histórias da guerra... e assegurar uns aos outros que tudo aquilo não fora um golpe de pura sorte, mas sim um surto de talento colectivo. As obrigações representavam agora quatro quintos do volume de negócios da Pierce & Pierce; os jovens recém-formados, os Yalies, Har-vards e Stanfords lutavam desesperadamente para entrarem na sala de compra e venda de obrigações da Pierce & Pierce, e nesse preciso instante eram as suas vozes que ricocheteavam nas paredes revestidas de mogno de Eugene Lopwitz.
Senhores do Universo! O ruído de fundo enchia a alma de Sherman de esperança, confiança, espírito de corpo e orgulho. Sim, orgulho! Judy não percebia nada daquilo, pois não? Não percebia nada. Oh, ele bem reparava que os olhos dela se tornavam frios e inexpressivos quando ele falava do assunto. O que ele fazia era accionar a alavanca que faz girar o mundo — mas a ela só interessava saber porque é que ele nunca chegava a horas para o jantar. E quando chegava a horas para o jantar, de que é que ela queria falar? Do seu precioso negócio de decorações de interiores e de como tinha conseguido que o apartamento deles viesse no Árchitectural Digest, o que, francamente, para um verdadeiro profissional da Wall Street, não podia constituir senão motivo de embaraço. E louvava-o, ao menos, pelas centenas de milhar de dólares que tornavam possíveis a sua actividade de decoradora, os seus almoços e todas as suas outras malfadadas ideias? Não, nem por sombras. Achava natural poder dispor desse dinheiro...
... e por aí fora. Passados noventa segundos, encorajado pelo ruído atroador da sala de compra e venda de obrigações da Pierce & Pierce, Sherman conseguira já encher-se de ressentimento e justa indignação contra aquela mulher que tivera o atrevimento de o fazer sentir-se culpado.
Pegou no auscultador e estava prestes a lançar mãos à obra na maior operação da sua jovem carreira, a Giscard, quando, espreitando pelo canto do olho, reparou numa coisa estranha. Detectou-a, melhor dizendo — e encheu-se de justa indignação! — no meio daquela paisagem profissional de membros e troncos contorcidos. Arguello estava a ler um jornal.
Ferdinand Arguello era um dos vendedores mais novos, de vinte e cinco ou vinte e seis anos, e argentino. Estava negligentemente recostado na sua cadeira a ler um jornal, e mesmo do lugar onde se encontrava Sherman conseguiu ver que o jornal era: The Racing Form. The Racing Form! O rapaz parecia a caricatura de um jogador de pólo sul-americano. Era esbelto e atraente; usava o cabelo preto, abundante e ondulado, muito bem penteado para trás. Trazia um par de suspensórios vermelhos de moiré de seda. Moiré de seda. A secção de obrigações da Pierce & Pierce era como um esquadrão da Força Aérea. Aquele jovem sul-americano parecia não o saber, mas Sherman sabia-o. Como corretor número um, Sherman não ocupava, oficialmente, um lugar especial. No entanto, gozava de uma certa preeminência moral. Ou uma pessoa era capaz de fazer o seu trabalho e estava disposta a dedicar cem por cento do seu esforço ao trabalho, ou o melhor que tinha a fazer era ir-se embora. Os oitenta elementos da secção auferiam um salário de base, uma rede de segurança, de 120000 dólares por cabeça e por ano. Todos consideravam irrisória essa quantia. O resto dos seus rendimentos provinham das comissões e da partilha dos lucros. Sessenta e cinco por cento dos lucros da secção ficavam para a Pierce & Pierce. Mas 35 por cento eram divididos pelos oitenta negociantes de obrigações. Um por todos, todos por um, e muito para cada um! Por conseguinte... não havia lugar para preguiçosos! Nada de molengões! Fora com os sornas! Calaceiros para a rua! Uma pessoa chegava de manhã e ia direita à sua secretária, ao seu telefone e ao seu terminal de computador. O dia não começava com o cafezinho, a conversa fiada e a leitura do Wall Street Journal ou da página financeira do Times — e muito menos do Racing Form. Esperava-se que todos se sentassem diante do telefone e começassem a fazer dinheiro. Se alguém saía do escritório, ainda que fosse para o almoço, devia deixar uma morada e um número de telefone a uma das «assistentes de vendas», que no fundo eram uma espécie de secretárias, para poder ser chamado imediatamente se chegasse uma nova emissão de obrigações (e estas tivessem de ser vendidas depressa). Sair para almoçar, só se o almoço fosse um almoço de negócios relacionado com uma venda de obrigações da Pierce & Pierce. Caso contrário — era ficar diante do telefone e comer ali mesmo, como o resto do esquadrão.
Sherman dirigiu-se à secretária de Arguello e estacou junto dele. — O que é que tu estás a fazer, Ferdi?
Assim que o rapaz ergueu os olhos, Sherman percebeu que ele compreendera o sentido da pergunta e sabia que não tinha razão. Mas se há coisa em que um aristocrata argentino seja perito é em contornar semelhantes situações valendo-se do descaramento.
Arguello fitou Sherman nos olhos com um ar impassível e disse, em voz ligeiríssimamente mais alta do que seria necessário: — Estou a ler The Racing Form.
— Para quê?
— Para quê? Porque quatro cavalos nossos correm hoje em Lafayette. É um hipódromo perto de Chicago.
E com isto retomou a leitura do jornal.
O pior de tudo foram os nossos. Ele dissera nossos para lembrar a Sherman que estava na presença de um representante da Casa de Arguello, um senhor das pampas. Além disso, o filho da mãe trazia uns suspensórios vermelhos de moiré de seda.
— Escuta... amigo — disse Sherman — quero que faças o favor de largar esse jornal.
Em tom de desafio: — Como é que disseste?
— Tu ouviste perfeitamente. Disse para largares essa merda de jornal! — Era sua intenção dizer isto com calma e firmeza, mas a frase saiu-lhe num tom furioso. Saiu-lhe com fúria suficiente para arrumar ao mesmo tempo Judy, Pollard Browning, o porteiro e o hipotético assaltante da véspera.
O rapaz ficou sem fala.
— Se te torno a ver outra vez aqui dentro com um Racing Form, podes ir instalar-te em Chicago e ganhar lá o teu dinheiro! Podes-te ir plantar na bancada dos espectadores mais ferrenhos e fazer as apostas que te der na gana! Isto é, a Pierce & Pierce não é a OTB!
Arguello ficou escarlate. Ficou paralisado de raiva. A única coisa que conseguiu fazer foi lançar a Sherman um olhar de puro ódio. Sherman, ainda cheio de justa cólera, afastou-se, e ao fazê-lo reparou com satisfação que o jovem dobrava lentamente as folhas abertas do Racing Form.
Indignado! Cheio de razão! Sherman estava eufórico. Havia várias pessoas a olhar para ele. Óptimo! A preguiça era um pecado, não contra quem a praticava ou contra Deus, mas contra Mamon e a Pierce & Pierce. Se tinha de ser ele a chamar à pedra aquele brilhantinas, então... mas logo lamentou o epíteto brilhantinas, apesar de não ter chegado a pronunciá-lo. Considerava-se como fazendo parte da nova era e da nova raça, como um igualitário de Wall Street, como um Senhor do Universo a quem importava apenas a eficiência. A Wall Street e a Pierce & Pierce já não eram sinónimo de Boas Famílias Protestantes. Havia muitos judeus destacados no mundo dos bancos de investimentos. O próprio Lopwitz era judeu. Havia muitos irlandeses, gregos e eslavos. O facto de nem um só dos oitenta elementos da Secção de Obrigações ser negro ou ser mulher não o incomodava. Porque é que havia de o incomodar? Também não incomodava Lopwitz, que defendia que a sala de compra e venda de obrigações da Pierce & Pierce não era o lugar mais apropriado a atitudes de natureza simbólica.
— Hei, Sherman!
Passava, nesse momento, diante da secretária de Rawlie Thorpe. Rawlie era careca, exceptuando uma franja de cabelo que lhe cobria a parte de trás da cabeça, mas apesar disso tinha um ar jovem. Gostava muito de usar camisas com botões no colarinho e suspensórios Shep Miller. Os colarinhos abotoados estavam sempre absolutamente impecáveis.
— O que é que foi isso? — perguntou a Sherman.
— Uma coisa inacreditável — disse Sherman. — Ele estava ali com o Racing Form, muito entretido a planear as suas apostas, porra! — Sentiu-se obrigado a carregar um pouco nas tintas ao descrever o delito do outro.
Rawlie desatou a rir. — Bom, ele ainda é novo. Provavelmente está farto de doughnuts eléctricos.
— Farto de quê?
Rawlie pegou no auscultador do telefone e apontou para o bocal. — Estás a ver isto? É um doughnut eléctrico.
Sherman ficou a olhar. Sim, realmente parecia-se um bocado com um doughnut, com muitos buracos pequeninos em vez de um grande.
— Só hoje é que me apercebi disso — explicou Rawlie. — Afinal, eu passo o dia inteiro a falar com outros doughnuts eléctricos. Ainda agora acabei de falar com um tipo de Drexel. Vendi-lhe um milhão e meio de obrigações Joshua Tree. — Na Wall Street não se dizia obrigações no valor de um milhão e meio de dólares. Dizia-se um milhão e meio de obrigações. Drexel é uma terreola qualquer no Arizona. O tipo chama-se Earl. Nem sequer sei o último nome dele. Nos últimos dois anos devo ter feito pelo menos umas duas dúzias de transacções com ele, uns cinquenta ou sessenta milhões de obrigações, e nem sequer sei o apelido dele, nunca o vi e o mais provável é nunca chegar a vê-lo na minha vida. É um doughnut eléctrico.
Sherman não achou graça. De certa maneira, aquilo era um repúdio do seu triunfo sobre o jovem e volúvel argentino. Era uma negação cínica da própria legitimidade da sua indignação. Rawlie era um homem muito divertido, mas nunca mais voltara a ser o mesmo desde o divórcio. E talvez já não fosse sequer um bom guerreiro do esquadrão.
— Pois sim — disse Sherman, conseguindo arvorar um meio sorriso por amor do velho amigo. — Bom, tenho de ir telefonar a alguns dos meus doughnuts.
De regresso à sua secretária, Sherman preparou-se para deitar mãos à obra. Examinou atentamente os pequenos símbolos verdes que percorriam o écran do computador, à sua frente. Pegou no telefone. As obrigações francesas, com garantia-ouro... Uma situação bizarra e muito prometedora, que descobrira ao ouvir um colega mencionar de passagem essas obrigações, com o ar mais natural deste mundo, uma noite, no Harrys.
No inocente ano de 1973, na vésperas da grande reviravolta do mercado, o Governo francês lançara uma emissão de obrigações conhecida pela Giscard, do nome do presidente francês, Giscard d’Estaing, com um valor facial de 6,5 biliões de dólares. A Giscard tinha uma característica interessante: a sua garantia eram as reservas do ouro. Assim, o preço da Giscard subia e descia em função das subidas e descidas do preço do ouro. Desde então os preços do ouro e do franco tinham sofrido variações tão vertiginosas que os investidores americanos há muito haviam perdido o interesse na Giscard. Mas ultimamente, com o ouro a manter-se firme na casa dos 400 dólares, Sherman descobrira que um americano que comprasse Giscards recebia juros duas ou três vezes maiores do que os de qualquer obrigação americana, além de obter um lucro de 30 por cento quando a Giscard vencesse. Era uma verdadeira «bela adormecida». O grande perigo seria uma quebra do valor do franco. Sherman neutralizara-o com um esquema preventivo que consistia em vender antecipadamente uma boa quantidade de francos.
O único verdadeiro problema consistia na complexidade da operação. Só os grandes investidores sofisticados estavam em condições de a compreender. Grandes investidores sofisticados e que depositassem nele a maior confiança; não seria um qualquer recém-chegado que convenceria alguém a pôr milhões na Giscard. Tinha de se ter curriculum. Tinha de se ter talento — génio! — domínio do universo! — como Sherman McCoy, o «maior produtor» da Pierce & Pierce. Já convencera Gene Lopwitz a investir 600 milhões do dinheiro da Pierce & Pierce na compra da Giscard. Cautelosamente, furtivamente, comprara as obrigações aos seus vários donos europeus sem revelar a mão poderosa da Pierce & Pierce, servindo-se de diversos «testas-de-ferro». E agora chegava a grande prova para o Senhor do Universo. Não haveria muito mais de uma dúzia de jogadores interessados em comprar uma coisa tão esotérica como a Giscard. Destes doze, Sherman já conseguira entrar em negociações com cinco: dois bancos comerciais, o Traders Trust Co. (conhecido como Trader T) e o Metroland; dois gestores financeiros; e um dos seus melhores clientes particulares, Oscar Suder, de Cleveland, que se propunha comprar 10 milhões. Mas o mais importante, de longe, era o Trader T, que punha a hipótese de ficar com metade do lote de obrigações, ou seja com 300 milhões.
O negócio traria à Pierce & Pierce uma comissão de um por cento à cabeça — 6 milhões — por ter tido a ideia e por ter arriscado o seu capital. A quota de Sherman, incluindo comissões, bónus, partilha dos lucros e honorários da revenda, rondaria 1,75 milhões de dólares. Com esse dinheiro, propunha-se pagar o terrível empréstimo de 1,8 milhões que contraíra para comprar o apartamento.
Portanto, a ordem de trabalhos do dia começava com uma chamada a Bernard Levy, o francês que estava encarregado da transacção por parte do Trader T; uma chamada amigável e descontraída, a chamada de um corretor número um (Senhor do Universo), para relembrar a Levy que, embora tanto o ouro como o franco tivessem baixado de valor na véspera e naquela manhã (nas bolsas europeias), isso não queria dizer nada; tudo estava bem, tudo estava perfeito. É verdade que só vira Bernard Levy uma vez, quando fizera a proposta inicial. E conferenciavam pelo telefone há vários meses... mas daí a chamar-lhe doughnut eléctrico... O cinismo era uma forma tão cobarde de superioridade!
Era essa a grande fraqueza de Rawlie. Rawlie recebia os seus cheques. Para isso já não era demasiado cínico. E se queria empertigar-se todo só por não conseguir entender-se com a mulher, o problema era dele.
Enquanto Sherman marcava o número e esperava que Bernard Levy atendesse o telefone, o som atroador da tempestade da ganância envolveu-o uma vez mais. Da secretária à frente da sua, um tipo alto, de olhos esbugalhados (Yalle 77) gritava: — Trinta e uma das de Janeiro de oitenta e oito...
De uma secretária algures atrás dele: — Faltam-me setenta milhões das de dez anos!
Não se percebia de onde: — Porra, meteu-se-lhes na cabeça que haviam de comprar tudo!
— Estou feito!
— ... umas 125 a mais...
— ... um milhão das de quatro anos, de Midland...
— Quem é que nos anda a lixar as W-Is?
— Estou tramado, já disse!
— ... oferece 80 12...
— ...compra a mais 6...
— ... recupera 2 pontos e meio...
— Pronto, deixa lá! Está na hora da sacanice!
Às dez horas, Sherman, Rawlie e mais cinco pessoas dirigiram-se à sala de reuniões da suite de gabinetes de Eugene Lopwitz para dicidirem da estratégia da Pierce & Pierce no grande acontecimento do dia, que era uma emissão de 10 biliões de obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, a prazo de 20 anos. O facto de os gabinetes de Lopwitz darem directamente para a sala de compra e venda de obrigações dava bem a medida da importância do negócio das obrigações para a Pierce & Pierce.
A sala de reuniões não tinha mesa. Parecia o salão de um hotel inglês para Yankees, onde se servisse chá. Estava cheia de mesinhas e armários. Eram móveis tão velhos, tão frágeis e tão bem encerados que uma pessoa ficava com a sensação de que se lhes desse um bom piparote com o dedo médio eles cairiam em pedaços. Ao mesmo tempo, uma parede inteira de vidro fumado atirava à cara dos presentes um panorama do Rio Hudson e dos cais em ruínas de New Jersey.
Sherman estava sentado numa cadeira Jorge II. Rawlie estava a seu lado, numa velha cadeira de espaldar em forma de escudo. Noutras cadeiras antigas ou a imitar antigo, com mesinhas Sheraton e Chippendale ao lado, estavam o responsável número um pelas transacções com o Governo, George Connor, que tinha menos dois anos do que Sherman; o seu adjunto, que tinha apenas vinte e oito; o chefe do departamento de análises de mercado, Paul Feiffer; e Arnold Parch, o vice-presidente executivo, que era o lugar-tenente de Lopwitz.
Todos os homens presentes na sala estavam instalados em cadeiras clássicas e de olhos voltados para um pequeno altifalante de plástico castanho, pousado em cima de uma cómoda. A cómoda, de barriga, tinha 220 anos e era uma peça realizada pelos irmãos Adams no período em que estes se dedicavam a pintar painéis e cercaduras ornamentais em móveis de madeira. No painel central via-se uma donzela grega sentada no fundo de um vale ou numa gruta, com folhas rendilhadas a esfumarem-se gradualmente, em tons de um verde cada vez mais carregado, num céu crepuscular povoado de patos selvagens. Por aquele objecto tinha-se pago um preço incrível. O altifalante de plástico era do tamanho de um rádio-despertador. Todos olhavam para ele, à espera da voz de Gene Lopwitz. Lopwitz estava em Londres, onde eram agora quatro da tarde. Presidiria àquela reunião através do telefone.
Veio do altifalante um som indistinto. Podia ter sido uma voz, podia ter sido um avião. Arnold Parch ergueu-se do seu cadeirão, aproximou-se do armário, olhou para o altifalante e disse: — Gene, está-me a ouvir?
E continuou a olhar na mesma direcção com um ar suplicante, como se aquele objecto fosse realmente Gene Lopwitz, transfigurado tal como os príncipes se transformam em sapos nos contos de fadas. Por alguns instantes o sapo de plástico não disse nada. Depois começou a falar.
— Sim, estou a ouvir, Arnie. Havia aqui muito barulho. — A voz de Lopwitz parecia vir do meio de uma tempestade, mas ouvia-se.
— Onde é que você está, Gene? — perguntou Parch.
— Estou num jogo de críquete. — E depois, mais indistintamente: — Diga-me lá outra vez como se chama este sitio. — Era óbvio que se encontrava na companhia de outras pessoas. — No Tottenham Park, Arnie. Estou numa espécie de esplanada.
— Quem é que joga? — quis saber Parch, sorrindo, como que para mostrar ao sapo de plástico que não se tratava de uma pergunta séria.
— Nada de me pedir pormenores técnicos, Arnie. O melhor que te posso dizer é que são uns jovens cavalheiros muito simpáticos, de camisolas de lã e calças brancas de flanela.
Estalou na sala uma gargalhada aprovadora, e Sherman sentiu que os seus próprios lábios se franziam no sorriso mais ou menos obrigatório. Percorreu a sala com os olhos. Todos riam ou sorriam, fitando o altifalante de plástico castanho, excepto Rawlie, que tinha os olhos pregados no tecto como se dissesse: «Oh, meu Deus!»
Então Rawlie inclinou-se para Sherman e disse, num sussurro barulhento: — Olha-me só o sorriso destes idiotas todos. Devem julgar que aquela caixa de plástico tem olhos.
Sherman não achou o comentário especialmente divertido, uma vez que ele próprio estava a sorrir. Além disso, tinha medo que o fiel ajudante de Lopwitz, Parch, pensasse que ele se associava a Rawlie para fazer pouco do chefe máximo.
— Bom, estamos todos aqui, Gene — disse Parch, dirigindo-se à caixa —, portanto vou chamar o George para o pôr a par da nossa situação actual em relação à venda das obrigações.
Parch olhou para George Connor, acenou-lhe com a cabeça e voltou ao seu lugar, enquanto Connor se levantava, se aproximava da cómoda dos irmãos Adams, fitava a caixa de plástico castanho e dizia: — Gene? É o George que está a falar.
— Muito bem, George, olá — disse o sapo. — Pode começar.
— É assim, Gene — disse Connor, de pé diante da cómoda Adam, incapaz de despregar os olhos da caixa de plástico — as coisas parecem-me bastante bem encaminhadas. As velhas, de vinte, estão a vender-se a 8 por cento. Os outros interessados dizem-nos que ficam com as novas a 8.05, mas acho que estão a tentar levar-nos à certa. O que nós pensamos é que vamos conseguir chegar aos 8. Portanto, na minha opinião, devemos fazer assim: entramos a 8.01, 8.02 8.03, com o ponto de equilíbrio nos 8.04. Estou disposto a ir até aos 60 por cento da emissão.
O que, traduzido, queria dizer: ele propunha-se comprar 6 biliões dos 10 biliões em obrigações que eram postos à venda, com um lucro esperado de dois trinta-e-dois-avos de dólar — 6 cêntimos e 1 4 — por cada cem dólares investidos. Esta margem de lucro era designada por «dois pontos».
Sherman não resistiu a lançar um novo olhar a Rawlie. O seu rosto arvorava um sorrisinho desagradável, e o seu olhar parecia desviado alguns graus para a direita da cómoda, na direcção das docas Hoboken. A presença de Rawlie era como um copo de água gelada atirado à cara dos outros. Sherman começou uma vez mais a levar-lhe a mal a sua atitude. Sabia o que Rawlie estava a pensar. Ali tinham aquele infame arrivista, aquele Lopwitz — Sherman sabia que era assim que o amigo via o chefe — a armar em fino na esplanada de um clube de críquete inglês e, ao mesmo tempo, a dirigir uma reunião em Nova Iorque para decidir se a Pierce & Pierce ia apostar dois biliões, quatro biliões ou seis biliões numa única emissão de obrigações do Governo, que teria lugar dentro de três horas. Sem dúvida, Lopwitz estaria rodeado do seu próprio público, lá no clube de críquete, para assistir àquela proeza: as suas sonoras palavras a fazerem ricochete num satélite de comunicações algures no empíreo e a aterrarem em Wall Street. Bom, não era difícil achar aquilo um pouco cómico, mas a verdade é que Lopwitz era um Senhor do Universo. Lopwitz devia ter os seus quarenta e cinco anos. E Sherman não ambicionava menos para daí a sete anos, quando ele próprio tivesse quarenta e cinco anos, de idade. Estar do lado de lá do Atlântico... com biliões em jogo! Rawlie bem podia escarnecer... e bem podia ficar para morrer... mas pensar no que Lopwitz tinha ao seu alcance, pensar no que ele ganhava por ano, só na Pierce & Pierce, e que eram pelo menos uns 25 milhões, pensar na vida que ele levava — e a primeira coisa que veio à cabeça de Sherman foi a jovem mulher de Lopwitz, Branca de Neve. Era assim que Rawlie lhe chamava. Cabelo negro como ébano, lábios vermelhos como sangue, pele branca como a neve... Era a quarta mulher de Lopwitz, francesa, uma condessa, segundo parecia, de vinte e cinco ou vinte e seis anos, no máximo, com um sotaque como o de Catherine Deneuve no anúncio dos sais de banho. Era qualquer coisa... Sherman conhecera-a numa festa em casa dos Petersons. Ele pusera-lhe a mão no braço, apenas para dar mais ênfase a qualquer coisa que estava a dizer
— mas a maneira como lhe apertara o braço e o olhara fixamente, a umas escassas polegadas de distância! Era um animal jovem e impetuoso. Lopwitz conseguira o que queria. Quisera um animal jovem e impetuoso com lábios vermelhos como sangue e pele branca como a neve, e conseguira-o. O que fora feito das outras três? Mrs. Eugene Lopwitz era assunto que Sherman nunca ouvira mencionar. Para uma pessoa que chegara ao nível de Lopwitz, isso já não tinha a menor importância.
— Pois é, sim senhor, parece-me que tens razão, George
— disse a rã de plástico. — Então e o Sherman? O Sherman está aí?
— Olá, Gene! — disse Sherman, erguendo-se do cadeirão Jorge II. A sua própria voz soou-lhe muito estranha, agora que dialogava com uma caixa de plástico, e não se atreveu a lançar sequer uma olhadela rápida a Rawlie enquanto se aproximava da cómoda, estacando diante dela e fitando, com expressão embevecida, o aparelho pousado sobre o móvel.
— Gene, todos os meus clientes falam em 8.05. No entanto, a minha impressão mais imediata é que eles estão do nosso lado. O mercado está em boa forma. Acho que podemos ultrapassar os juros dos clientes.
— O.K. — disse a voz da caixa — mas tome cuidado, veja se você e o George se mantêm à cabeça das vendas. Não quero que depois o Salomon ou outro qualquer andem para aí a fazer manigâncias com as cotações.
Sherman deu por si a maravilhar-se com a sabedoria do sapo.
O altifalante transmitiu uma espécie de alarido abafado. Todos ficaram a olhar para o aparelho.
A voz de Lopwitz voltou. — Foi um tipo que deu uma tacada com toda a força na bola — disse. — Mas agora a bola está muito quietinha. Bom, também, num sítio destes, como é que não havia de estar... — Ninguém percebeu muito bem o que ele queria dizer com aquilo. — Bom, escute, George. Está-me a ouvir, George?
Conner deu um salto, ergueu-se da cadeira e precipitou-se para junto da cómoda.
— Estou a ouvir, Gene.
— O que eu lhe queria dizer era que, se lhe parece boa ideia atacar em força já hoje, eu estou de acordo. Acho que tem razão.
Assunto encerrado.
Quarenta e cinco segundos antes do início da venda pública, marcada para a uma da tarde, George Connor, ao seu telefone no meio da sala de compra e venda de obrigações, ditava a lista definitiva das ofertas escalonadas da firma a um funcionário da Pierce & Pierce que se encontrava no Federal Building, local onde se efectuaria a venda. As ofertas eram, em média, de 99,56328 dólares por cada 100 dólares de obrigações. Alguns segundos após a uma hora, a Pierce & Pierce possuía, conforme o planeado, obrigações a prazo de vinte anos no valor de 6 biliões de dólares. A secção de obrigações tinha quatro horas à sua frente para criar um mercado favorável. Vic Scaasi liderou a ofensiva no gabinete de compra e venda, revendendo as obrigações principalmente a casas de corretagem — pelo telefone. Sherman e Rawlie comandaram os vendedores de obrigações, revendendo-as principalmente a companhias de seguros e a bancos comerciais — pelo telefone. Pelas duas da tarde, o alarido na sala de compra e venda de obrigações, alimentado mais pelo medo que pela ganância, era indescritível. Todos berravam, suavam, praguejavam e devoravam os seus doughnuts eléctricos.
Pelas cinco horas tinham já vendido 40 por cento — 2.4 biliões — dos 6 biliões, por um preço médio de 99.56453 por cada 100 dólares de obrigações, com um lucro não de dois, mas de quatro pontos! Quatro pontos! Eram doze cêntimos e meio por cada cem dólares. Quatro pontos! Para um qualquer comprador a retalho destas obrigações, quer se tratasse de um indivíduo quer de uma empresa ou de uma instituição, a diferença era imperceptível. Mas — quatro pontos! Para a Pierce & Pierce significavam um lucro de quase 3 milhões de dólares numa só tarde de trabalho. E a coisa não ficaria por ali. O mercado mantinha-se firme, começava até a subir. Na semana seguinte poderiam facilmente ganhar uns 5 ou 10 milhões adicionais com os 3.6 biliões de obrigações que ainda restavam. Quatro pontos!
Pelas cinco da tarde Sherman pairava, planava à força de adrenalina. Fazia parte da força pulverizadora da Pierce & Pierce, Senhores do Universo. A ousadia da operação era impressionante. Arriscar 6 biliões numa tarde na esperança de ganhar dois pontos — 6 cêntimos e 14 por cada 100 dólares — e conseguir, afinal, quatro pontos — quatro pontos! — que ousadia! — que ousadia! Haveria poder mais inebriante à face da terra? Lopwitz bem pode assistir a todos os jogos de críquete que lhe apetecer! Bem pode brincar ao sapo de plástico! Senhor do Universo — que ousadia!
A ousadia da operação circulava nos membros de Sherman, no seu sistema linfático e na sua coluna vertebral. A Pierce & Pierce era o poder, a energia, e ele estava ligado a essa energia, e a energia do poder vibrava e corria nas suas próprias entranhas.
Judy... Há várias horas que não se lembrava dela. O que era uma simples chamada telefónica, ainda que estúpida... perante os estupendos livros de contas da Pierce & Pierce? O quinquagésimo andar era para homens que não tinham medo de agarrar com ambas as mãos o que queriam. E, que diabo, ele não queria muito, em comparação com aquilo a que, na sua qualidade do Senhor do Universo, tinha pleno direito. Só queria poder ter umas aventuras por fora quando lhe apetecesse, gozar os prazeres simples que eram devidos a um valoroso guerreiro.
O que é que ela ganhava em lhe fazer a vida negra?
Se a meia-idade deseja continuar a usufruir do amparo e da companhia de um Senhor do Universo, então terá de lhe permitir gozar os preciosos tesouros que ganhou, e que são a juventude, a beleza, os seios suculentos, as ancas apetitosas...
Não fazia sentido! De uma maneira ou de outra, sem quaisquer motivos plausíveis, Judy sempre fizera dele o que queria. E olhava-o de cima para baixo — do alto de uma elevação absolutamente fictícia, é certo; mas não deixava de o olhar de cima para baixo. Continuava a ser a filha do professor Miller, É. (de Egbord!) Ronald Miller da Universidade DesPortes, em Terwilliger, Wisconsin, do pobre e apagado professor Miller, com os seus velhos fatos de tweed, cujo único motivo de orgulho era um ataque, aliás bastante tímido (Sherman dera-se uma vez ao trabalho de o ler) ao seu conterrâneo do Wisconsin, o senador Joseph McCarthy, publicado em 1955 na revista Aspects. No entanto, no casulo dos primeiros tempos que haviam passado juntos na Village, Sherman reconhecera a validade das pretensões de Judy. Comprazera-se em dizer-lhe que, muito embora trabalhasse na Wall Street, não pertencia à Wall Street e estava apenas a servir-se da Wall Street. Ficara orgulhoso quando ela condescendera em admirá-lo pela lucidez que lhe animava a alma. Entretanto, ela ia-lhe explicando que o pai dele, John Campbell McCoy, o Leão da Dunning Sponget, era afinal uma figura bastante modesta, um guarda da segurança de luxo encarregado da vigilância do capital alheio. Quanto às razões por que tudo isto fora tão importante para Sherman, ele não saberia sequer arriscar uma hipótese especulativa. O seu interesse pela teoria psicanalítica, que nunca chegara a ser grande, terminara um dia em Yale, ao ouvir Rawlie Thorpe chamar-lhe «ciência judaica» (precisamente a atitude que mais transtorna e enfurece Freud setenta e cinco anos antes).
Mas tudo aquilo fazia parte do passado, da sua infância, da sua infância na Rua 73 e da sua infância na Village. Entretanto iniciara-se uma nova era! Trabalhava numa nova Wall Street! — e Judy era... um objecto que lhe ficara da infância... que continuava a viver, a envelhecer, a emagrecer... a ser uma mulher atraente...
Sherman recostou-se na cadeira e percorreu com o olhar a sala de compra e venda de acções. As procissões de caracteres verdes e fosforescentes continuavam a deslizar pelos écrans dos terminais de computador, mas o ruído de fundo reduzira-se a uma espécie de hilaridade de vestiário. George Connor estava de pé junto da cadeira de Vic Scaasi, com as mãos nos bolsos, a tagarelar. Vic arqueava as costas, encolhia os ombros e parecia prestes a bocejar. E lá estava Rawlie, reclinado na sua cadeira, a falar ao telefone, sorrindo e passando a mão pelo cabelo ralo, Guerreiros victoriosos a seguir à batalha... Senhores do Universo...
E ela tinha o descaramento de o atormentar por causa de um telefonema!
4 - O Rei da Selva
Thumpathumpathumpathumpathumathumpa — o ruído dos aviões a descolarem era tão forte que se sentia a vibração. O ar estava cheio de fumo dos jactos. O cheiro nauseabundo dava-lhe a volta ao estômago. Não paravam de sair carros de uma rampa de acesso, abrindo caminho por entre o mar de gente que andava de um lado para o outro à procura dos elevadores, dos seus carros ou dos carros de outras pessoas — roubo! roubo! roubo! — e o dele seria um dos primeiros candidatos, não é verdade? Sherman deixou-se ficar com uma mão na porta do automóvel, perguntando a si próprio se teria a coragem de o deixar ali. Era um Mercedes desportivo preto, de dois lugares, que lhe custara 48000 dólares — ou 120000, consoante a maneira como se encarasse a questão. No escalão fiscal de um Senhor do Universo, com os impostos federais, do Estado de Nova Iorque, e da cidade de Nova Iorque para pagar, Sherman tinha de ganhar 120000 dólares se queria ter 48000 para gastar num carro desportivo de dois lugares. E como é que ele explicaria o caso a Judy se o automóvel fosse roubado do último piso de um terminal do Aeroporto Kennedy?
Que diabo — porque é que ele havia de lhe dever explicações? Há uma semana inteira que jantava em casa todas as noites. Devia ser a primeira vez que conseguia realizar semelhante proeza desde que começara a trabalhar na Pierce & Pierce. Mostrara-se muito atento a Campbell, passando mais de quarenta e cinco minutos com ela numa dessas noites, o que era invulgar — embora ele ficasse sem dúvida admirado e ofendido se alguém se lembrasse de lhe chamar a atenção para esse facto. Reparara um candeeiro da biblioteca sem protestar nem suspirar de enfado. Após três dias desta actuação modelar, Judy abandonara o divã do quarto de vestir e regressara ao quarto de cama. É certo que o muro de Berlim passava agora pelo meio da cama, e que ela se recusava a conversar com ele a sós. Mas mostrava-se perfeitamente correcta na presença de Campbell. E isso era o mais importante.
Duas horas antes, quando telefonara a Judy para avisar que ia ficar a trabalhar até tarde, ela recebera a notícia com naturalidade. Que diabo — ele merecia uma folga! Lançou um último olhar ao Mercedes e dirigiu-se para a zona das chegadas internacionais.
Esta ficava nas profundezas do edifício, naquilo que originalmente devia ter sido concebido como um armazém de bagagens. Veios de luz fluorescente lutavam contra a escuridão da sala. As pessoas apinhavam-se atrás de uma divisória metálica, à espera que os passageiros vindos do estrangeiro saíssem da alfândega. E se ali estivesse alguém que o conhecesse a ele e à Judy? Examinou a multidão. Calções, ténis, jeans, camisolas de futebol — Santo Deus, quem era aquela gente? Um a um, os passageiros iam saindo da alfânfega. Fatos de treino, T-shirts, blusões, soquetes, jardineiras, anoraks, bonés de baseball e camisolas de alças muito cavadas; acabados de chegar de Roma, Milão, Paris, Bruxelas, Munique e Londres; viajantes de todo o mundo; cosmopolitas; Sherman ergueu o seu queixo de Yale contra a maré.
Quando Maria finalmente apareceu, não teve a menor dificuldade em a localizar. No meio daquela multidão, ela parecia um ser de outra galáxia. Vestia uma saia e um casaco de ombros largos, de um azul-imperial que estava na moda em França, uma blusa de seda às riscas azuis e brancas e sapatos de crocodilo, azuis-eléctricos com biqueiras brancas. Só o preço da blusa e dos sapatos teria chegado para pagar a roupa de algumas vinte daquelas mulheres que ali estavam. Maria tinha um andar de modelo de passarelle, de nariz no ar, meneando as ancas mecanicamente — um andar estudado para provocar um máximo de inveja e ressentimento. As pessoas ficavam a olhar. A seu lado marchava um bagageiro com um carrinho de alumínio cheio de malas, de um número prodigioso de malas, um conjunto delas, todas de couro creme e debruadas a couro castanho. De mau gosto, mas não tanto como as Louis Vuitton, pensou Sherman. Ela só passara em Itália uma semana, para procurar uma casa de férias no lago Como. Sherman não conseguia perceber porque é que teria levado tantas malas. (Inconscientemente, associava essas coisas a uma educação demasiado permissiva.) Perguntou a si próprio como é que ia enfiar aquilo tudo no Mercedes.
Transpôs a divisória metálica e avançou para ela, empertigando-se.
— Olá, miúda — disse.
— Miúda? — disse Maria. E sorriu, como se não tivesse ficado aborrecida, embora fosse evidente que tinha. É verdade que ele nunca antes a tratara por «miúda». Quisera apenas parecer confiante e despreocupado, como competia a um Senhor do Universo quando ia buscar a namorada ao aeroporto.
Deu-lhe o braço, acertou o passo pelo dela e decidiu tentar segunda vez. — Como foi a viagem?
— Foi óptima — disse Maria — para quem não se importe de ser massacrada por um inglês qualquer seis horas a fio. — Sherman precisou de alguns segundos para lhe traduzir o sotaque e perceber o que ela dissera. Ela tinha os olhos cravados no horizonte, como se reflectisse nas provações por que passara.
Lá em cima, no último piso, o Mercedes sobrevivera à multidão dos assaltantes. O bagageiro não conseguiu enfiar muitas malas no minúsculo porta bagagens do automóvel. Teve de empilhar boa parte no banco de trás, que não era muito mais do que um pequeno nicho estofado. Que maravilha, pensou Sherman. Se tiver de fazer uma travagem brusca, sou atingido na nuca por uma colecção de malas de cor creme com debrum castanho-chocolate.
Quando saíram do aeroporto e entraram na via rápida Van Wyck, em direcção a Manhattan, já só se viam, por trás dos prédios e das árvores de South Ozone Park, os últimos e pálidos raios de luz do dia. Era aquela hora do crepúsculo em que se acendem os faróis e os candeeiros, mas em que ainda não faz grande diferença entre estarem acesos ou apagados. Uma torrente de luzinhas vermelhas avançava à frente deles. Numa das bermas da via rápida, pouco depois do Rockaway Boulevard, Sherman viu um enorme sedan de duas portas, o tipo de carro que se fabricava nos anos 70, encostado ao muro de pedra. Um homem... caído no meio da estrada!... Não, quando se aproximaram viu que não era homem nenhum. Era o capot do carro. O capot tinha-se separado do resto e estava no meio da faixa de rodagem. O carro já não tinha rodas, nem assentos, nem volante... O grande engenho destroçado fazia agora parte da paisagem... Sherman, Maria, a bagagem e o Mercedes prosseguiram o seu caminho.
Sherman fez mais uma tentativa. — Bom, e que tal Milão? Novidades do lago Como?
— Sherman, quem é Christopher Marlowe? — Shah-man, quem é Cristaphah Mahlowe?
Cristopher Marlowe? — Não sei. É alguém que eu conheça?
— O Marlowe de que eu estou a falar era escritor.
— O dramaturgo, é isso?
— Deve ser isso. Quem era? — Maria continuava a olhar sempre em frente, sem desviar os olhos. Pelo seu tom de voz, dir-se-ia que lhe tinha morrido o último amigo.
— Cristopher Marlowe... Era um dramaturgo inglês, mais ou menos da mesma época que Shakespeare, acho eu. Talvez um pouco anterior. Porquê?
— E quando é que foi essa época? — Não podia ter dito aquilo com um ar mais infeliz.
— Deixa-me ver. Não sei... Século XVI... Mil quinhentos e qualquer coisa. Porquê?
— E o que é que ele escreveu?
— Meu Deus do Céu, sei lá! Olha, já não foi nada mau ter-me lembrado de quem ele era. Porquê?
— Sim, mas tu sabes quem ele era.
— Sei mais ou menos. Mas porquê?...
— E o Doutor Fausto?
— O Doutor Fausto?
— Sim. Ele escreveu alguma coisa sobre o Doutor Fausto?
— Mmmmrnmmmmmm! — Um pequeno clarão na memória, mas que logo se desvaneceu. — Talvez. Doutor Fausto... O Judeu de Malta! Escreveu uma peça chamada O Judeu de Malta, tenho quase a certeza. Nem sequer sei como é que me lembro do título. Tenho a certeza de que nunca a li.
— Mas sabes quem ele era. É daquelas coisas que uma pessoa devia saber, não é?
Agora é que ela pusera o dedo na ferida. A única coisa que Sherman fixara acerca de Christopher Marlowe, depois de nove anos de Buckley, quatro anos de St. Pauls e quatro anos de Yale, era que uma pessoa devia realmente saber quem era Christopher Marlowe. Mas não ia dizer uma coisa dessas.
Em vez disso, perguntou: — Que pessoa?
— Qualquer pessoa — murmurou Maria. — Eu. Estava a ficar escuro. Os mostradores e ponteiros do
Mercedes estavam agora iluminados como os de um avião de guerra. Aproximavam-se do viaduto da Atlantic Avenue. Viram mais um carro abandonado à beira da estrada. Já não tinha rodas, o capot estava aberto, e duas silhuetas, uma delas com uma lanterna na mão, debruçavam-se sobre o motor.
Maria continuava a olhar fixamente em frente quando desembocaram no trânsito do Grand Central Parkway. Uma galáxia móvel de faróis dianteiros e traseiros ocupava todo o campo de visão, como se a energia da cidade se tivesse transformado naqueles milhões de globos de luz a gravitar no escuro. Ali, dentro do Mercedes, com as janelas fechadas, todo aquele espectáculo estupendo se desenrolava sem um único som.
— Sabes uma coisa, Sherman? Odeio os Ingleses. Odeio-os.
— Odeias o Christopher Marlowe?
— Obrigada, espertinho — disse Maria. — Pareces tale qual o filho da mãe que ficou ao meu lado.
Agora olhava para Sherman e sorria. Era o tipo de sorriso que se consegue arvorar corajosamente, no meio de um grande sofrimento. Maria parecia prestes a desfazer-se em lágrimas.
— Que filho da mãe?
— Lá no avião. O tal inglês. — Como um sinónimo de verme. — Ele começou a falar comigo. Eu estava a folhear o catálogo da exposição Reiner Fetting, que vi em Milano — irritava Sherman que ela empregasse a palavra italiana Milano, em vez da inglesa, Milan, especialmente porque nunca ouvira falar de Reiner Fetting — e ela pôs-se a falar acerca de Reiner Fetting. Usava um daqueles Rolex de ouro, uma coisa enorme? Que nem se percebe como é que a pessoa consegue levantar o braço? — Maria conservava o hábito sulista de transformar as frases declarativas em perguntas.
— Achas que se estava a atirar a ti?
Maria sorriu, desta vez com agrado. — Claro que estava!
O sorriso aliviou grandemente Sherman. Estava quebrado o encantamento. Porquê, ao certo, não saberia dizê-lo. Não se apercebia de que para certas mulheres a atracção sexual representava o equivalente daquilo que era, para ele, o mercado de obrigações. Só sabia que estava quebrado o encantamento e que se libertara daquele peso opressivo. Agora ela já podia tagarelar acerca do que quisesse, que isso pouco importava. E, com efeito, tagarelou bastante. Mergulhou a fundo na descrição do vexame que sofrera.
— Não descansou enquanto não me disse que era produtor de cinema. E que estava a fazer um filme baseado na tal peça, O Doutor Fausto, de Christopher Marlowe, ou só Marlowe, acho que foi assim que ele disse, só Marlowe, e nem sei porque é que lhe fui responder, mas julguei que houvesse algum Marlowe a escrever argumentos para filmes. Aliás, eu devo mas é ter pensado num filme com o Robert Mitchum em que havia uma personagem chamada Marlowe.
— É isso mesmo. Um filme baseado numa história do
Raymond Chandler.
Maria olhou para ele com um ar de perfeita ignorância. Sherman preferiu não explicar quem era Raymond Chandler. — Então o que é que lhe disseste?
— Disse: Ah, Christopher Marlowe. Ele não escreveu já outros filmes? E sabes o que é que aquele... sacana... me responde? Responde: Não me parece. Ele morreu em 1593, sabe. Não me parece.
Chispavam-lhe os olhos só de se lembrar da cena. Sherman esperou alguns instantes. — Foi só isso?
— Só isso? Fiquei com vontade de o matar. Foi... humilhante. Não me parece. Que pedante! Que coisa incrível!
— E o que é que tu lhe disseste?
— Nada. Corei. Não consegui dizer uma palavra.
— E foi por isso que ficaste de tão mau humor?
— Sherman, diz-me honestamente a verdade. Uma pessoa que não sabe quem foi Christopher Marlowe é forçosamente estúpida?
— Oh, por amor de Deus, Maria. Não posso crer que tenhas ficado assim só por causa disso.
— Assim como?
— Assim, mal humorada, macambúzia.
— Não respondeste à minha pergunta, Sherman. Uma pessoa que não sabe quem foi Marlowe é uma pessoa estúpida?
— Não sejas tola. Eu próprio mal sabia quem ele era, e devo tê-lo estudado no liceu, ou coisa parecida.
— Pois, o problema é esse. Pelo menos tu estudaste-o no liceu. Eu não o estudei em liceu nenhum. E é isso que me faz sentir tão... tu nem sequer percebes de que é que eu estou a falar, pois não?
— Pois não. — Sorriu-lhe, e ela retribuiu o sorriso.
Passavam agora pelo Aeroporto de La Guardiã, iluminado por centenas de candeeiros. Não parecia nada um grande portão de acesso aos céus. Parecia uma fábrica. Sherman guinou para a faixa lateral, carregou no acelerador e enfiou o Mercedes sob o viaduto da Rua 31, pela rampa de acesso à Triborough Bridge. A nuvem dissipara-se. Começava a sentir-se outra vez satisfeito consigo. Conseguira devolver a boa disposição a Maria.
Agora via-se obrigado a abrandar. As quatro faixas estavam saturadas de trânsito. Quando o Mercedes subiu o grande arco da ponte, tornou-se visível, à esquerda, a ilha de Manhattan. As torres ficavam tão próximas umas das outras que se sentia a massa e o peso fantástico do conjunto. Ah, quantos milhões de pessoas, de todos os pontos do planeta, ansiavam por estar naquela ilha, naquelas torres, naquelas ruas estreitas! Era ali a Roma, a Paris, a Londres do século xx, a cidade da ambição, a densa rocha magnética, o destino irresistível de todos os que fazem questão de estar no lugar onde as coisas acontecem — e ele, Sherman, contava-se entre os vencedores! Vivia na Park Avenue, a rua de todos os sonhos! Trabalhava na Wall Street, cinquenta pisos acima do solo, na lendária Pierce & Pierce, abarcando com os olhos o mundo inteiro! Estava ao volante de um automóvel de 48000 dólares, na companhia de uma das mais belas mulheres de Nova Iorque — podia não ser uma especialista em Literatura Comparada, mas era belíssima — e estava ali, ao seu lado! Um animal jovem e impetuoso! E ele pertencia à raça daqueles cujo destino natural... é o de terem aquilo que querem!
Tirou uma das mãos do volante e fez um gesto teatral na direcção da poderosa ilha.
— Ali está ela, miúda!
— Então voltamos ao «miúda»?
— Apetece-me chamar-te miúda, miúda. Ali está a cidade de Nova Iorque.
— Achas mesmo que eu sou do tipo a quem se chama miúda?
— És o mais miúda que se possa imaginar, Maria. Onde é que queres jantar? Nova Iorque é toda tua.
— Sherman! Não era aqui que devias virar?
Ela olhou para a direita.. Era verdade. Estava duas faixas à esquerda das faixas que davam para a saída de Manhattan, e não tinha qualquer hipótese de as alcançar. A sua faixa — a faixa a seguir — a outra — todas as faixas — eram procissões contínuas de automóveis e camiões, pára-choques contra pára-choques, avançando a passo de caracol em direcção à portagem, cem jardas mais à frente. Acima da portagem havia um enorme letreiro verde, iluminado por lâmpadas amarelas, que dizia:BRONX UPSTATE N. Y. NEW ENGLAND.
— Sherman, eu tenho a certeza de que aquela é a saída para Manhattan.
— Tens razão, minha querida, mas agora não tenho maneira de lá chegar.
— Em que direcção é que vamos?
— Em direcção ao Bronx.
Os comboios de veículos avançavam lentamente, numa nuvem de partículas de carbono e enxofre, para as cabinas da portagem.
O Mercedes era tão baixo que Sherman teve de se esticar todo para entregar as duas notas de dólar ao funcionário. Um negro de olhar cansado fitou-o lá do alto, da sua janelinha. Alguma coisa fizera um longo rasgão na porta da sua cabina. Os bordos do golpe começavam a enferrujar.
Um sentimento vago, nebuloso mas profundo de insegurança infiltrava-se a pouco e pouco no cérebro de Sherman. O Bronx... Nado e criado em Nova Iorque, o seu conhecimento da cidade constituía para ele um motivo de orgulho viril. Eu conheço a cidade. Mas a verdade é que a sua familiaridade com o Bronx, no decurso dos seus trinta e oito anos de existência, derivava de umas cinco ou seis visitas ao Zoo do Bronx, de duas idas ao Jardim Botânico e talvez umas doze ao Yankee Stadium, a última das quais em 1977, para assistir a um jogo do Mundial. Sabia que o Bronx tinha ruas numeradas que eram uma continuação das de Manhattan. O que ele tinha a fazer era... bom, era apanhar uma transversal e seguir sempre para oeste até chegar a uma das avenidas que dão acesso a Manhattan. Qual era a dificuldade?
A maré de faróis vermelhos continuava a avançar à sua frente, e agora aquelas luzes incomodavam-no. No escuro, no meio daquele enxame vermelho, não conseguia orientar-se. Estava a perder o sentido da direcção. Ainda devia estar a avançar para Norte. A ponte ainda não se desviara muito. Mas agora não podia orientar-se senão pelos letreiros. Toda a sua bagagem de pontos de referência desaparecera, ficara para trás. No fim da ponte, a via rápida dividia-se em duas. MAJOR DEEGAN GEO. PONTE WASHINGTON... BRUCKNER NEW ENGLAND... A Major Deegan continuava para norte... Não!... Vira à direita... Mais uma bifurcação, de repente... EAST BRONX NEW ENGLAND... EAST 138th BRUCKNER BOULEVARD... Escolhe, idiota!... An-dó-li-tá... Tornou a virar à direita... EAST 138th... uma rampa... E de repente já não havia rampa, já não havia via rápida de faixas bem delimitadas. Estava ao nível do solo. Era como se tivesse caído no meio de um ferro-velho. Devia estar debaixo da via rápida. No escuro, distinguia uma vedação de rede, do seu lado esquerdo... e qualquer coisa presa na rede... A cabeça de uma mulher!... Não, era uma cadeira com três pernas e o estofo queimado, com a espuma chamuscada a pender em grandes pedaços, entalada na vedação de rede... Quem teria tido a estranha ideia de enfiar uma cadeira numa vedação de rede? E porquê?
— Onde é que estamos, Sherman?
Sherman percebeu pelo tom de voz dela que não ia haver mais discussões acerca de Christopher Marlowe ou do restaurante onde iriam jantar.
— Estamos no Bronx.
— E sabes sair daqui para fora?
— Claro que sei. Assim que encontrar uma transversal... Deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver... Rua 138...
Estavam a avançar para norte, por baixo da via rápida. Mas que via rápida? Duas faixas, ambas em direcção ao norte... À esquerda, um muro, uma vedação de rede e os pilares de cimento que sustentavam a via rápida... Devia seguir para oeste, se queria encontrar uma rua que o conduzisse de volta a Manhattan... virar à esquerda... mas não pode virar à esquerda por causa do muro... Deixa-me ver, deixa-me ver... Rua 138... Onde é que ela está?... Ali! O letreiro — Rua 138... Mantém-se chegado à esquerda, para virar assim que puder... Uma grande abertura no muro... a Rua 138... Mas não pode virar à esquerda! À esquerda há quatro ou cinco faixas de rodagem, ali, debaixo da via rápida, duas no sentido norte, duas no sentido sul, e mais uma, do lado de lá, com automóveis e camiões a rolarem a toda a velocidade em ambas as direcções — e não há maneira de transpor aquela torrente de trânsito... Portanto Sherman tem de continuar em frente... embrenhando-se no Bronx... Mais uma abertura no muro... Entra na faixa da esquerda... A mesma situação!... Não há possibilidade de virar à esquerda!... Começa a sentir-se encurralado, ali, no escuro, debaixo da via rápida... Alguma solução tinha de haver... Com tanto trânsito...
— O que é que nós estamos a fazer, Sherman?
— Estou a tentar virar à esquerda, mas não há maneira de virar à esquerda nesta maldita estrada. Vou ter de virar algures à direita e inverter a marcha para tentar atravessar aqui.
Maria não fez comentários. Sherman olhou para ela. Ela olhava em frente, com uma expressão sombria. À direita, sobre uns edifícios baixos e decrépitos, viu um cartaz que dizia:
ARMAZÉM DE CARNEO MAIOR DO BRONX
Armazém de carne... nos confins do Bronx... Adiante, mais uma abertura no muro... Desta vez Sherman começa a chegar-se à direita — uma buzinadela ensurdecedora! — um camião a ultrapassá-lo pela direita... Tem de guinar para a esquerda...
— Sherman!
— Desculpa, miúda.
... tarde de mais para virar à direita... Continua em frente, chegando-se bem à direita da faixa da direita, pronto para virar... Mais uma abertura... volta à direita... uma rua larga... Tantas pessoas, de um momento para o outro!... E metade delas no meio da rua... de pele escura, mas parecem latinos. Porto-riquenhos?... Ali adiante, um edifício baixo e comprido, com águas-furtadas de caixilhos recortados... como os chalets suíços dos livros de histórias... mas horrivelmente enegrecido... Ali um bar — e Sherman observa-o atentamente — meio oculto por persianas metálicas... Tanta gente na rua... Sherman abranda... Prédios baixos, sem janelas... janelas e mais janelas entaipadas... Um sinal vermelho. Pára. Vê a cabeça de Maria rodar para um lado e para o outro... Uuuuuuuaaaggggh! Um berro ensurdecedor, vindo da esquerda... Um homem novo, de bigodinho e camisa desportiva, atravessa a rua despreocupadamente. Uma rapariga corre atrás dele, aos gritos. Uuuuuuaggggh! Rosto escuro, cabelo louro frisado... Aperta o pescoço do homem com o braço, mas em câmara lenta, como se estivesse embriagada. Uuuuuuaaggggh! Está a tentar estrangulá-lo! Ele nem sequer se digna olhar para ela. Limita-se a dar-lhe uma cotovelada no estômago. Ela larga-o e começa a escorregar lentamente. Está de gatas, no meio da rua. Ele continua a andar. Nem olha para trás. Ela levanta-se. Atira-se de novo a ele. Uuuuaagggh! Agora estão mesmo em frente do Mercedes.
Sherman e Maria, instalados nos seus confortáveis assentos de couro castanho, observam, embasbacados, a cena. A rapariga agarrou uma vez mais o homem pelo pescoço. Ele dá-lhe uma segunda cotovelada no ventre. O sinal muda, mas Sherman não pode sair do sítio. Vieram pessoas de ambos os lados da rua para assistir à briga. E riem. E divertem-se. Ela puxa o cabelo do homem. Ele faz uma careta e vai-lhe vibrando golpes com ambos os cotovelos. Um mar de gente a assistir. Sherman olha para Maria. Nem um nem outro precisam de dizer seja o que for. Dois brancos, um dos quais uma jovem envergando um casaco azul-imperial da Avenue Foch, com ombros deste tamanho... no banco de trás, malas que chegavam para uma viagem à China... um Mercedes desportivo de 48000 dólares... em pleno South Bronx... Milagre! Ninguém lhes presta atenção. Apenas mais um carro parado no semáforo. Os dois combatentes deslocam-se gradualmente para o outro lado da rua. Agora agarram-se como lutadores de Sumo, lutam cara a cara. Cambaleiam, já não se têm nas pernas. Estão exaustos. Exaustos e ofegantes. Falta-lhes o ar. Acabou-se a briga. Agora mais parecem dançar. A multidão desinteressa-se, começa a dispersar.
Sherman diz a Maria: — Isto é que é amor, miúda. — Quer fazer-lhe sentir que não está preocupado.
Já não há ninguém diante do carro, mas o sinal está outra vez vermelho. Sherman espera pelo verde, e depois continua a descer a rua. Já não se vê tanta gente... uma rua larga. Inverte a marcha e percorre, em sentido inverso, a rua por onde vieram...
— O que é que vais fazer agora, Sherman?
— Acho que vamos bem. Esta é uma das transversais mais importantes. Vamos na direcção certa, na direcção oeste.
Mas quando atravessaram a grande rua que ficava por baixo da via rápida, foram parar a uma intersecção caótica. Ruas que convergiam em ângulos bizarros... Gente a atravessar a rua, em todas as direcções... Rostos morenos... Deste lado, uma entrada do metro... Ali adiante, prédios baixos, lojas... Great Taste Chinese Takeout... Sherman não fazia ideia de qual das ruas seguiria para oeste... Aquela, talvez... era o mais provável... virou nessa direcção... uma rua larga... carros estacionados de ambos os lados... mais à frente, em fila dupla... em fila tripla... uma multidão... Será que ia conseguir passar?... Por isso virou... nesta direcção... Havia uma seta, mas os nomes das ruas já não eram paralelos às próprias ruas. A East qualquer coisa, aparentemente, era para ali... Enfiou por essa rua, que em breve desembocou numa estreita rua secundária ladeada de edifícios baixos. Os edifícios pareciam abandonados. Sherman virou na esquina seguinte — supunha que para oeste — e seguiu alguns quarteirões por essa rua. Mais edifícios baixos. Podiam ser garagens, podiam ser armazéns. Havia vedações encimadas por rolos de arame farpado. As ruas estavam desertas, o que era óptimo, dizia ele para consigo, embora sentisse o coração a bater nervosamente. Uma rua estreita ladeada de prédios de sete ou oito andares; nenhuns sinais de presença humana; nem uma luz nas janelas. No quarteirão seguinte, a mesma coisa. Tornou a mudar de direcção, e ao virar a esquina...
... incrível. Absolutamente vazio, um terreno enorme. Quarteirões e mais quarteirões — quantos? — seis?, oito?, uma dúzia? — quarteirões inteiros da cidade sem um único edifício de pé. Havia ruas, passeios, postes de iluminação e mais nada. Espraiava-se à sua frente a quadrícula fantasmagórica de uma cidade, iluminada pelo amarelo químico dos candeeiros públicos. Aqui e ali viam-se montes de saibro e lixo. O solo parecia de cimento, só que nalguns lugares se afundava... noutros se elevava... os montes e vales do Bronx... reduzidos a asfalto, cimento e cinzas... numa sinistra claridade amarela.
Sherman teve de olhar duas vezes para se certificar de que ainda estava, efectivamente, numa rua de Nova Iorque. A rua subia uma grande colina... Dois quarteirões mais adiante... ou três... era difícil saber, naquele enorme terreno vago... Havia um edifício isolado, o último... Ficava numa esquina... tinha três ou quatro andares... Parecia prestes a desmoronar-se, de um momento para o outro... O rés-do-chão estava todo iluminado, como se ali houvesse uma loja ou um bar... Havia três ou quatro pessoas no passeio. Sherman viu-as, junto ao candeeiro da esquina.
— Que sítio é este, Sherman? — Maria olhava-o fixamente.
— O sudoeste do Bronx, acho eu.
— Queres dizer que não sabes onde estamos?
— Sei mais ou menos onde estamos. Enquanto avançarmos para oeste vamos bem.
— O que é que te faz pensar que estamos a avançar para oeste?
— Oh, não te preocupes onde estamos. Só que...
— Só que o quê?
— Se vires algum letreiro, alguma seta... Estou à procura de uma rua numerada.
A verdade era que Sherman já não sabia em que direcção ia. Quando se aproximaram do prédio, começou a ouvir um thang thang thang thang thang thang. Ouvia-o apesar de as janelas do carro estarem fechadas... Um contrabaixo... Um fio eléctrico descia do poste de iluminação pública e entrava pela porta aberta. Cá fora, no passeio, estava uma mulher envergando aquilo que parecia ser um equipamento de basquetebol, e dois homens de camisas desportivas de manga curta. A mulher tinha o tronco inclinado e as mãos nos joelhos, ria e desenhava grandes círculos com a cabeça. Os dois homens riam para ela. Seriam porto-riquenhos? Impossível dizê-lo. Dentro do edifício, para lá da porta por onde entrava o fio eléctrico, Sherman viu uma luz fraca e algumas silhuetas. Thang thang thang thang thang... o contrabaixo... depois, algumas notas agudas, de trompete... Música latino-americana?... A cabeça da mulher continuava a girar.
Sherman olhou para Maria. Estava ali, muito bem sentada, com o seu impecável casaco azul-escuro. O seu cabelo escuro, curto e forte, emoldurava um rosto tão hirto como uma fotografia. Sherman acelerou e deixou para trás aquele sinistro posto avançado no meio da terra de ninguém.
Virou, na direcção de um conjunto de edifícios... ali adiante... Passou por casas sem vidros nas janelas...
Chegaram a um pequeno parque circundado por uma vedação de ferro. Tinha de se virar à direita ou à esquerda. As ruas cruzavam-se em ângulos bizarros. Sherman perdera por completo a noção do quadriculado da cidade. Aquilo já não parecia Nova Iorque. Parecia uma cidadezinha decadente da Nova Inglaterra. Voltou à esquerda.
— Sherman, estou a começar a não gostar nada disto.
— Não te preocupes, filha.
— Ai agora é «filha»?
— Não gostaste que eu te chamasse miúda, pois não? — Sherman esforçava-se por parecer despreocupado.
Agora viam-se carros estacionados ao longo da rua... Três rapazes debaixo de um candeeiro; três rostos escuros. Vestiam blusões acolchoados. Ficaram a olhar para o Mercedes. Sherman tornou a mudar de direcção.
Mais adiante, via o clarão amarelo e indistinto daquilo que parecia ser uma rua mais larga e mais bem iluminada. Quanto mais se aproximavam, mais pessoas... no passeio, à porta das casas, no meio da rua... Que quantidade de rostos escuros... Mais adiante, alguma coisa na rua. Os faróis do Mercedes não conseguiam dissipar a escuridão. Depois Sherman percebeu do que se tratava. Um carro estacionado no meio da rua, a boa distância do passeio... um grupo de rapazes à volta do carro... Mais rostos escuros... Conseguiria passar por entre toda aquela gente? Carregou no botão que trancava as portas. O estalido electrónico sobressaltou-o, como se fosse o som de um tambor de corda. Continuou a avançar. Os rapazes inclinaram-se e espreitaram para dentro do Mercedes.
Pelo canto do olho, Sherman viu que um deles sorria.
Mas não disse nada. Olhou para ele e sorriu também. Graças a Deus, havia espaço suficiente. Continuou a avançar. E se tivesse um furo? Se o motor ficasse afogado? Havia de ser bonito. Mas não se sentia muito inquieto. Ainda estava por cima. Continua a andar. Isso é que interessa. Um Mercedes de 48000 dólares. Vá lá, Krauts, cabeças blindadas, engenheiros de miolos de aço... Espero que tenham feito esta coisa bem feita... Ultrapassou o carro. Mais à frente, uma rua de várias faixas... Os carros rolavam a grande velocidade, em ambos os sentidos. Respirou fundo. Ia apanhar aquela rua! Para a esquerda, para a direita, tanto fazia! Chegou ao cruzamento. O sinal estava vermelho. Bom, tanto pior. Avançou na mesma.
— Sherman, estás a passar no sinal vermelho!
— Óptimo. Talvez apareça algum polícia. Garanto-te que não ficava muito ralado.
Maria não dizia uma palavra. As preocupações da sua vida luxuosa resumiam-se agora a uma única. A existência humana só tinha um objectivo: sair do Bronx.
Mais adiante, a luz vaporosa e cor de mostarda dos candeeiros públicos era mais viva e mais espraiada... Devia ser um cruzamento importante... Espera aí... Uma entrada de metro... Acolá, lojas, restaurantes baratos... Texas Fried Chicken... Great Taste Chinese Takeout... Great Taste Chinese Takeout!
Maria estava a pensar o mesmo que ele. — Nossa Senhora, Sherman, voltámos ao ponto de partida! Andaste em círculo!
— Já sei. Já sei. Espera só um segundo. Vou fazer o seguinte. Vou virar à direita. Vou tornar a seguir por baixo da via rápida. Vou...
— Não te tornes a meter debaixo dessa coisa, Sherman. A via rápida passava precisamente por cima deles. O
sinal estava verde. Sherman não sabia o que fazer. Alguém buzinava, lá atrás.
— Sherman! Olha ali! Diz Ponte George Washington! Onde? A buzina continuava a tocar. Então lá viu a seta.
Estava do lado de lá, por baixo da via rápida, naquela luminosidade pardacenta e decrépita, fixada a um pilar de cimento... 95.895 EAST. PONTE GEO. WASH.... Devia ser uma rampa...
— Mas nós não queremos ir nessa direcção! Assim vamos para norte!
— E depois, Sherman? Pelo menos sabemos onde é! Pelo menos é a civilização! Vamos sair daqui para fora!
A buzina insistia. Alguém berrava, lá atrás. Sherman arrancou, enquanto o sinal ainda estava verde. Atravessou as cinco faixas, em direcção à pequena seta. Estava de novo sob a via rápida.
— É aí mesmo, Sherman!
— O.K., O.K., estou a ver.
A rampa parecia uma cascata negra, no meio dos pilares de cimento armado. O Mercedes deu um grande salto, ao passar sobre um buraco da calçada.
— Meu Deus — disse Sherman — nem reparei no buraco.
Debruçou-se mais sobre o volante. Os faróis varriam, num delírio, as colunas de cimento. Meteu a segunda. Virou à esquerda, contornando um pilar, e enfiou pela rampa. Corpos!... Corpos caídos na estrada!... Dois, todos encolhidos!... Não, não eram corpos... tinham umas saliências dos lados... uns desenhos... Não, eram recipientes, uma espécie de recipientes... Caixotes do lixo... Ia ter de se chegar bem à esquerda para os conseguir contornar... Meteu a primeira e virou à esquerda... Uma forma indistinta diante dos faróis... Por instantes, pareceu-lhe que alguém tinha saltado do resguardo metálico da rampa... Não era suficientemente grande para ser uma pessoa... Era um animal... Estava estendido na estrada, bloqueando a passagem... Sherman carregou a fundo no travão... Uma das malas bateu-lhe na nuca... E mais outra...
Um grito de Maria. Tinha uma mala em cima da cabeceira do assento. O carro fora-se abaixo. Sherman travou com o travão de mão, tirou a mala de cima dele e empurrou-a para o lugar.
— Estás bem?
Ela não olhava para ele. Olhava fixamente pelo pára-brisas. — O que é aquilo?
A bloquear a estrada — não era-um animal... Estrias... Era a roda de um carro...
A primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi que um automóvel, lá em cima, na via rápida, tinha perdido uma roda e ela tinha vindo parar ali à rampa. O carro não fazia qualquer ruído, pois tinha o motor desligado. Sherman tornou a ligá-lo. Examinou o travão para ver se estava seguro. Depois abriu a porta.
— O que é que vais fazer, Sherman?
— Vou tirar aquilo do caminho.
— Tem cuidado. E se vem algum carro?
— Bom, bom... — Encolheu os ombros e saiu.
Teve uma sensação estranha assim que pôs o pé na rampa de acesso. Lá de cima vinha o ruído ensurdecedor dos veículos a passarem sobre uma placa ou juntura metálica da via rápida. Quando ergueu os olhos, Sherman viu apenas a sombria face inferior da via rápida. Não via os carros. Só os ouvia rolar na estrada, aparentemente a grande velocidade, produzindo aquele ruído metálico e criando um campo de vibração. A vibração envolvia numa espécie de zumbido a grande e negra estrutura enferrujada. Mas, ao mesmo tempo, ouvia os seus sapatos, os seus sapatos de 650 dólares, comprados no New & Lingwood, o New & Lingwood de Jermyn Street, em Londres, com as suas solas e tacões de couro inglês, que arranhavam o chão com pequenos sons e rangidos à medida que ele se aproximava da roda. O rangido das solas dos seus sapatos parecia-lhe o som mais penetrante, mais estridente que já alguma vez ouvira. Inclinou-se. Afinal não era uma roda, mas apenas um pneu. Como é que um carro podia ter perdido um pneu? Curvou-se e agarrou-o.
— Sherman!
Rodou sobre os calcanhares, voltando-se para o Mercedes. Dois vultos!... Dois jovens — negros — na rampa, a aproximarem-se dele pelas costas... Boston Celtics!... O que vinha à frente vestia um casaco de fato de treino de basquetebol, de cor prateada, com CELTICS escrito no peito... Só estava a quatro ou cinco passos dele... bem constituído... Trazia o casaco aberto... uma T-shirt branca... uns peitorais imponentes... rosto quadrado... queixo quadrado... boca grande... Que olhar era aquele?... Caçador! Predador!... O rapaz fitava Sherman bem nos olhos... avançando devagar... O outro era alto mas magrinho, com um pescoço comprido, um rosto franzino... um rosto delicado... olhos arregalados... assustados... Parecia cheio de medo... Vestia uma camisola grande e larga... Vinha um ou dois passos atrás do grandalhão...
— Ouça lá! — disse o grandalhão. — Precisa de ajuda?
Sherman ficou no mesmo sítio, com o pneu na mão, a olhar.
— O que é que aconteceu, homem? Precisa de ajuda? Era uma voz agradável. Vão-me assaltar! Ele tem uma
das mãos no bolso do casaco! Mas o rapaz parece sincero. É um assalto, idiota! E se ele estiver simplesmente a querer dar uma ajuda? O que é que eles estão afazer nesta rampa? Não fizeram nada — não te ameaçaram. Mas não perdes pela demora! Porque é que não te limitas a ser simpático? Estás maluco? Faz alguma coisa! Não fiques aí especado! Um som invadiu-lhe o crânio, o som de uma descarga de vapor. Segurou o pneu diante do peito. Agora! Pumba! — aproximou-se do grandalhão e atirou-lhe o pneu. Imediatamente, o outro devolveu-lho. Ia apanhar outra vez com o pneu! Esticou os braços. O pneu ressaltou-lhe nos braços. Um tombo — o brutamontes caiu por cima do pneu. O casaco prateado dos CELTICS — caído no chão. A velocidade adquirida impeliu Sherman para a frente. Derrapou nos seus elegantes sapatos New & Lingwood. Desequilibrou-se.
— Sherman!
Maria estava ao volante do carro. O motor bramia. A porta do outro lado estava aberta.
— Entra!
O outro, o magrizela, encontrava-se entre ele e o automóvel... com uma expressão de terror estampado no rosto... os olhos arregalados... Sherman era um puro frenesim... Tinha de chegar ao carro!... Pôs-se a correr. Baixou a cabeça. Chocou com o rapaz, que foi bater com a cabeça no pára-choques traseiro do carro, mas sem cair ao chão.
— Henry!
O grandalhão já estava de pé. Sherman lançou-se para dentro do carro.
O rosto apavorado, transtornado de Maria: — Entra! Entra!
O rugido do motor... o tablier blindado do Mercedes... Um vulto lá fora, junto do carro... Sherman agarrou-se ao puxador da porta e, com uma tremenda descarga de adrenalina, conseguiu fechá-la. Pelo canto do olho, viu o grandalhão — junto à porta do lado de Maria. Sherman carregou no botão do trinco. Rap! Ele estava a dar sacões ao puxador — o casaco CELTICS a escassas polegadas da cabeça de Maria, apenas com o vidro a separá-los. Maria meteu a primeira e arrancou, com grande ruído de pneus. O rapaz saltou para o lado. O automóvel ia direito aos caixotes do lixo. Maria carregou no travão. Sherman foi projectado contra o vidro. Um nécessaire caiu em cima da alavanca das mudanças. Sherman tirou-o dali e pô-lo ao seu colo. Maria meteu a marcha atrás. O carro recuou a grande velocidade. Sherman olhou para a direita. O magrizela... O magrizela estava ali, de pé, a olhar para ele... com uma expressão de puro terror no rosto delicado... Maria tornou a meter a primeira... Respirava ofegantemente, como se se estivesse a afogar...
Sherman gritou: — Cuidado!
O grandalhão aproximava-se do carro. Segurava o pneu acima da cabeça. Maria atirou o carro para a frente, para o lugar onde se encontrava o rapaz. Ele desviou-se para o lado... uma mancha... um choque terrível... O pneu bateu no pára-brisas e ressaltou, sem o partir!... Grandes Krauts!... Maria virou o volante para a esquerda, de modo a evitar os caixotes... O magrizela estava ali, de pé... a traseira do carro guinou... thokl... O magrizela já não estava de pé... Maria lutou com o volante... Passou resvés entre a vedação lateral e os caixotes do lixo... Ia derrubando um... Um estridente chiar de pneus... O Mercedes subiu a rampa a toda a velocidade... Estavam cada vez mais alto... Sherman não cabia em si de expectativa... A grande, a enorme via rápida!... Luzes e mais luzes a passarem por eles... Maria travou o carro... Sherman e o nécessaire foram de novo projectados para a frente... Hahhh hahhhhhh hahhhhh hahhhh a princípio julgou que ela estava a rir. Mas estava apenas a recobrar o fôlego.
— Estás bem?
Ela tornou a arrancar. O som estridente de uma buzina...
— Por amor de Deus, Maria!
A buzina estridente desviou-se e passou a grande velocidade, e o Mercedes entrou na via rápida.
Os olhos de Sherman ardiam-lhe de suor. Tirou uma das mãos do nécessaire para esfregar os olhos, mas a mão tremia-lhe tanto que tornou a pousá-la na malinha. Sentia o coração a bater-lhe na garganta. Estava encharcado. Tinha o casaco a desfazer-se. Sentia-o perfeitamente. Estava esgaçado nas costuras de trás. Os seus pulmões lutavam por mais oxigénio.
Avançavam pela via rápida, muito mais depressa do que seria de desejar.
— Abranda, Maria! Meu Deus!
— Para onde é que isto vai, Sherman? Para onde é que vamos?
— Segue as setas que dizem Ponte George Washington, e por amor de Deus, vê se abrandas.
Maria tirou uma das mãos do volante para afastar os cabelos da testa. Tanto a mão como o braço inteiro lhe tremiam. Sherman perguntou a si próprio se ela conseguiria controlar o carro, mas não quis quebrar-lhe a concentração. O coração batia-lhe precipitadamente, em pancadas surdas, como se andasse à solta dentro da caixa torácica.
— Oh, merda, tenho os braços a tremer! — disse Maria. Sherman nunca antes a ouvira empregar a palavra merda.
— Tem calma — disse Sherman. — Agora vamos bem, não há problema.
— Mas para onde é que esta coisa vai?
— Tem calma! Vai seguindo as setas. Ponte George Washington.
— Oh, merda, Sherman, isso foi o que fizemos há bocado!
— Vê se te acalmas, por amor de Deus. Eu digo-te onde hás-de virar.
— Não tornes a lixar tudo outra vez, Sherman. Sherman deu por si a agarrar o nécessaire que levava ao
colo como se fosse um segundo volante. Tentou concentrar-se na estrada à sua frente. Depois leu atentamente uma indicação que apareceu por cima da via rápida, mais adiante: CRUZAMENTO BRONX PONTE GEO. WASH.
— Cruzamento Bronx? O que é isso?
— Desvia-te para essa faixa!
— Merda, Sherman!
— Continua na estrada. Estamos a ir bem. — O co-piloto.
Olhou fixamente a linha branca no asfalto. Olhou-a tão fixamente que tudo se começou a dispersar... as linhas... as setas... os faróis... Já não conseguia ter uma imagem de conjunto... Estava a concentrar-se em... fragmentos!... moléculas!... átomos!... Meu Deus!... Perdi a capacidade de raciocínio!... Começou a ter palpitações... e depois, um grande... snap!... e o coração voltou ao ritmo normal...
Então, lá em cima: MAJOR DEEGAN PONTE TRIBORO.
— Estás a ver, Maria? Ponte Triborough! É por aí!
— Nossa Senhora, Sherman, nós queremos é a Ponte George Washington!
— Não! Queremos a Triborough, Maria! Assim vamos direitinhos a Manhattan!
Tomaram, portanto, aquela via rápida. E agora, acima das suas cabeças: WILLIS AVE.
— O que é isto, Willis Avenue?
— Acho que é o Bronx — disse Sherman.
— Merda!
— Segue pela esquerda! Estamos a ir bem!
— Merda, Sherman!
Por cima da estrada, um grande letreiro: TRIBORO.
— Aí tens, Maria! Estás a ver?
— Estou.
— Chega-te à direita. A saída é à direita! — Sherman apertava o necessaire e inclinava o corpo para a direita como se disso dependesse o virarem ou não naquele sentido. Estava agarrado a um necessaire e descrevia com o corpo uma curva para a direita. Maria vestia um casaco azul-imperial da Avenue Foch, com chumaços nos ombros... daqui até ali... um animalzinho tenso a debater-se sob aqueles enormes chumaços azuis-escuros de Paris... os dois dentro de um Mercedes de 48000 dólares, com um reluzente tablier de avião... desesperados por escaparem ao Bronx...
Aproximaram-se da saída. Sherman rezou a todos os santos, como se um furacão se fosse levantar a qualquer momento, desviá-los da faixa certa e lançá-los de novo... no Bronx...
Lá conseguiram. Estavam no longo troço inclinado que conduzia à ponte e a Manhattan.
— Hahhhh hahhhhh hahhhhhh hahhhhhh Sherman! Sherman olhou-a fixamente. Ela suspirava e sorvia o ar em grandes fungadelas.
— Já passou, minha querida.
— Sherman, ele atirou-o... direito a mim!
— Atirou o quê?
— Aquela... aquela roda, Sherman!
O pneu tinha batido no pára-brisas mesmo à frente dos olhos dela. Mas o que logo veio à cabeça de Sherman foi outra coisa... thokl... o som do pára-choques traseiro a embater nalguma coisa e o rapaz magrinho a desaparecer... Maria soltou um soluço.
— Tenta dominar-te! Só falta um bocadinho! Ela reteve as lágrimas. — Meu Deus...
Sherman estendeu a mão esquerda e massajou-lhe a nuca.
— Está tudo bem, minha querida. Estás a portar-te impecavelmente.
— Oh, Sherman!
O mais estranho — e o próprio Sherman achou aquilo estranho — era que ele sentia uma grande vontade de sorrir. Salvei-a! Sou o protector dela! E continuou a acariciar-lhe o pescoço.
— Era só um pneu — disse o protector, saboreando o luxo de reconfortar os fracos. — Senão tinha partido o pára-brisas.
— Ele atirou-o... direito... a mim.
— Eu sei, eu sei. Já passou. Está tudo bem agora. Mas tornou a ouvir aquele som. Aquele thok. E o magrizela a desaparecer.
— Maria, eu acho que tu... acho que nós atropelámos um deles.
— Tu — nós — um instinto profundo convocava já esse velho patriarca, a culpa.
Maria não disse nada.
— Sabes, quando derrapámos. Ouviu-se uma espécie de... uma espécie de baque, thok...
Maria continuou calada. Sherman olhava-a fixamente. Por fim lá respondeu: — Sim... eu... eu não sei. Estou-me nas tintas para isso, Sherman. O que me interessa é que saímos daquele sítio.
— Bom, isso é o mais importante, mas...
— Oh, meu Deus, Sherman, parecia... o pior dos pesadelos! — Esforçou-se por sufocar os soluços, ao mesmo tempo que se debruçava sobre o volante e olhava em frente, concentrando-se no trânsito.
— Já passou, minha querida. Agora está tudo bem. — Acariciou-lhe de novo o pescoço. O rapaz magrinho estava ali, de pé. Thok. Já lá não estava.
O trânsito era agora mais intenso. A maré de luzes vermelhas adiante deles passava sob um viaduto e subia uma rampa. Não estavam longe da ponte. Maria abrandou. No meio do escuro, a portagem era uma grande mancha de cimento amarelado pelas luzes no alto dos postes. Lá adiante, os faróis vermelhos apinhavam-se junto às cabinas. Ao fundo, Sherman distinguia o denso vulto negro de Manhattan.
Que gravidade... e tantas luzes... tanta gente... tantas almas que partilhavam com ele aquela mancha amarelada de cimento... e todos tão longe de saberem aquilo por que ele passara!
Sherman esperou que chegassem ao FDR Drive, à beira do East River, já na Manhattan Branca, e que Maria acalmasse um pouco, para voltar a tocar no assunto.
— Bom, o que é que tu achas, Maria? Parece-me que devíamos dar parte do caso à Polícia.
Maria não disse nada. Ele olhou-a. Ela fitava a estrada, com uma expressão sombria.
— O que é que achas?
— Para quê?
— Bom, parece-me que...
— Sherman, está calado. — Pronunciou aquelas palavras brandamente, suavemente. — Deixa-me guiar a porcaria do carro.
A familiar cerca gótica dos anos 20 do Hospital de Nova Iorque, mesmo ali à frente. A Manhattan Branca! Viraram na saída da Rua 71.
Maria estacionou do lado da rua oposto ao do prédio onde ficava o seu esconderijo do quarto andar. Sherman saiu e foi logo examinar o lado direito do pára-choques traseiro. Para seu grande alívio, não havia a menor amolgadela, nem sinais fosse do que fosse, pelo menos visíveis ali, no escuro. Como Maria dissera ao marido que só regressaria da Itália no dia seguinte, queria levar também a bagagem para o pequeno apartamento. Três vezes subiu Sherman a escada rangente, à luz miserável das Auréolas do Senhorio, carregando malas.
Maria tirou o casaco azul-escuro de ombros parisienses e pousou-o na cama. Sherman tirou o casaco. Estava todo esgaçado nas costas e nas costuras laterais. Huntsman, Savile Road, Londres. Custara uma fortuna, o malfadado casaco. Atirou-o para cima da cama. Tinha a camisa ensopada. Maria descalçou os sapatos, sentou-se numa das cadeiras junto à mesa pé-de-galo de carvalho, apoiou um cotovelo na mesa e deixou pender a cabeça sobre o antebraço. A velha mesa inclinou-se tristemente. Depois, Maria endireitou-se e olhou para Sherman.
— Eu quero uma bebida — disse. — E tu?
— Também. Queres que eu as prepare?
— Anh-hanh. Quero bastante vodka, um bocadinho de sumo de laranja e gelo. O vodka está lá dentro no armário.
Sherman entrou na cozinha acanhada e acendeu a luz. Uma barata passeava na borda de uma frigideira suja, em cima do fogão. Bom, tanto pior. Preparou o vodka com laranja para Maria e depois encheu de whisky um copo antiquado, juntando-lhe um pouco de gelo e água. Sentou-se numa das cadeiras de baloiço, do outro lado da mesa. Apercebeu-se então de que precisava muito daquela bebida. Ansiava por cada um dos sobressaltos ardentes e gelados que lhe traria ao estômago. O carro tinha derrapado. Thok. E o rapaz alto e delicado já ali não estava de pé.
Maria já bebera metade do conteúdo do grande copo que ele lhe trouxera. Fechou os olhos, atirou a cabeça para trás e depois olhou para Sherman, sorrindo com ar cansado. — Juro-te — disse — que cheguei a julgar que não escapávamos.
— Bom, e agora o que é que fazemos? — perguntou Sherman.
— O que é que fazemos como?
— Acho que devíamos... acho que devíamos dar parte do caso à Polícia.
— Já é a segunda vez que dizes isso. Está bem. Explica-me só para quê.
— Bom, eles tentaram assaltar-nos... e parece-me que tu talvez... parece-me que é possível que tu tenhas atropelado um deles.
Maria limitou-se a olhá-lo fixamente.
— Foi quando carregaste no acelerador e derrapámos.
— Queres saber uma coisa? Espero bem que sim, que o tenha atropelado. Mas se o atropelei, não deve ter sido nada de grave. Eu mal ouvi o baque.
— Foi só um ligeiro «thok». E depois deixei de o ver, ali, de pé.
Maria encolheu os ombros.
— Bom... eu estou só a pensar em voz alta — disse Sherman. — Acho que devíamos dar parte do sucedido. Assim ficávamos protegidos.
Maria assoprou como quem chega ao limite da paciência, e desviou os olhos.
— Imagina que o homem ficou ferido.
Ela fitou-o e riu baixinho. — Se queres que te diga, é-me absolutamente indiferente.
— Mas imagina só...
— Olha, conseguimos sair dali, não foi? Lá como é que conseguimos é o que menos importa.
— Mas imagina...
— Imagina uma gaita, Sherman. Onde é que queres ir contar a história à Polícia? E o que é que lhes vais dizer?
— Não sei. Digo-lhes o que se passou.
— Sherman, eu é que te vou dizer o que se passou. Eu sou da Carolina do Sul, e vou-to dizer em bom inglês. Dois pretos tentaram matar-nos, e nós conseguimos escapar-lhes. Dois pretos tentaram matar-nos no meio da selva, e nós saímos da selva, e ainda estamos vivos e a respirar, e pronto!
— Sim, mas imagina...
— Imagina tu! Imagina que vais à Polícia. O que é que lhes vais dizer? O que é que vais dizer que nós estávamos a fazer no Bronx? Dizes-me que chegas lá e contas o que se passou. Muito bem, então conta-me a mim. O que é que se passou?
Portanto, o problema dela era esse. Poder-se-ia dizer à Polícia que Mrs. Arthur Ruskin, da Quinta Avenida, e Mr. Sherman McCoy da Park Avenue se encontraram para um tête à tête nocturno, mas iam distraídos e, na Ponte Triborough não apanharam a saída de Manhattan, pelo que acabaram por se perder no Bronx? Deu voltas e mais voltas àquela ideia. Bom, podia contar a Judy, muito simplesmente... não, não podia de maneira nenhuma contar-lhe muito simplesmente aquele passeio com uma mulher chamada Maria. Mas se eles... se Maria tinha atropelado o rapaz, o melhor ainda era fazer das tripas coração e contar o que acontecera. E o que é que acontecera? Bom... dois rapazes tinham tentado assaltá-los. Tinham bloqueado a estrada. Tinham-se aproximado. Tinham dito... Sherman sentiu como que um choque eléctrico no baixo ventre. Ouça lá! Precisa de ajuda? O grandalhão só dissera aquilo. Não lhe tinha mostrado nenhuma arma. Nenhum dos dois fizera qualquer gesto ameaçador antes de ele lhes ter atirado o pneu. Seria possível... não, espera lá. É uma ideia disparatada. O que é que eles podiam estar a fazer na rampa de acesso a uma via rápida, ao pé de uma barricada daquelas, no escuro, excepto... e Maria havia de confirmar a sua interpretação... interpretação!... um animal jovem e impetuoso... de repente apercebeu-se de que mal a conhecia.
— Não sei — disse. — Talvez tenhas razão. Vamos pensar no caso. Eu só estou a pensar em voz alta.
— Eu não preciso de pensar no caso, Sherman. Há coisas que eu compreendo melhor do que tu. Não serão muitas, mas ainda são algumas. Eles haviam de adorar deitar-nos a mão, a ti e a mim.
— Quem é que havia de adorar?
— A Polícia. E de que é que ia servir? Seja como for, eles nunca hão-de apanhar esses rapazes.
— O que é que tu queres dizer com isso de «deitar-nos a mão»?
— Faz-me um favor: esquece a Polícia.
— Mas de que é que tu estás a falar?
— Tu, por exemplo. Tu és um colunável.
— Não sou colunável coisa nenhuma. — Os Senhores do Universo moviam-se num nível muito superior ao dos colunáveis.
— Ai não? O teu apartamento veio no Architectural Digest. A W. publicou a tua fotografia. O teu pai era... é... bom, não sei muito bem o quê, mas tu sabes.
— Foi a minha mulher que fez com que o apartamento saísse na revista!
— Está bem, hás-de tentar explicar isso à Polícia, Sherman. Tenho a certeza de que eles vão levar em conta essa distinção.
Sherman ficou sem fala. Era uma ideia horrível.
— E também não lhes seria desagradável deitarem-me a mão a mim, aliás. Eu não passo de uma rapariguinha da Carolina do Sul, mas o meu marido tem cem milhões de dólares e um apartamento na Quinta Avenida.
— Está bem, eu estou só a tentar imaginar a sequência, as coisas que podem vir a acontecer, mais nada. E se tiveres atropelado o rapaz? Se ele tiver ficado ferido?
— Viste-o ser atropelado?
— Não.
— Nem eu. Tanto quanto sei, não atropelei ninguém. Espero bem tê-lo atropelado, mas tanto quanto sei e tanto quanto tu sabes, não atropelei ninguém. Não é assim?
— Bom, acho que tens razão. Eu não vi nada. Mas ouvi um barulho, e senti o choque.
— Sherman, passou-se tudo tão depressa que nem tu nem eu sabemos ao certo o que aconteceu. Aqueles dois rapazes não vão queixar-se à Polícia. Podes ter a certeza que não vão. E se tu fores à Polícia, o mais certo é nem os conseguirem encontrar. O que vão fazer é divertir-se com a tua história... e tu nem sequer sabes o que é que se passou, pois não?
— Acho que não.
— Eu também acho que não sabes. Se alguma vez nos puserem a questão, o que aconteceu foi que dois rapazes bloquearam a estrada e tentaram assaltar-nos, mas nós conseguimos fugir. Ponto final. É só isso que nós sabemos.
— E porque é que não demos parte do sucedido?
— Porque achámos que não valia a pena. Não estávamos feridos, e calculámos que a Polícia não ia conseguir encontrar os rapazes mesmo que apresentássemos queixa. E sabes uma coisa, Sherman?
— O quê?
— Além do mais, é a pura verdade. Podes imaginar o que quiseres, mas o que nós sabemos é isto e mais nada.
— Pois é. Tens razão. Não sei, é que me sentia melhor se...
— Tu não tens nada que te sentir melhor, Sherman. Era eu que ia a conduzir. Se atropelámos o filho da mãe, então fui eu que o atropelei... e o que eu digo é que não atropelei ninguém e não vou contar nada à Polícia. Portanto não te preocupes com o caso.
— Eu não me estou a preocupar, é só que...
— Óptimo.
Sherman hesitou. Bom, era verdade, não era? Ela é que ia a guiar. O carro era dele, mas ela tinha resolvido pôr-se ao volante, e se alguma vez o problema viesse a ser levantado, o que quer que tivesse acontecido era responsabilidade dela. Ela é que ia a guiar... portanto, se havia que dar parte de alguma coisa, a responsabilidade também era dela. Naturalmente, ele dar-lhe-ia todo o apoio... mas já começava a sentir que lhe tinham tirado um grande peso das costas.
— Tens razão, Maria. Parecia que estávamos na selva. — Acenou várias vezes com a cabeça, para indicar que se fizera enfim luz no seu espírito.
Maria disse: — Podíamos ter morrido ali mesmo, sem mais nem menos.
— Sabes uma coisa, Maria? Nós resistimos.
— Resistimos?
— Estávamos naquela maldita selva... fomos atacados... e resistimos, lutámos para sair dali. — Recuavam cada vez mais as trevas da anterior atitude de Sherman. — Meu Deus, não sei quando terá sido a última vez que entrei numa luta, numa autêntica luta. Talvez aos doze ou treze anos. Sabes uma coisa, miúda? Foste impecável. Foste fantástica. A sério. Quando te vi ao volante... eu nem sabia se tu eras capaz de guiar o carro! — Estava eufórico. Ela é que ia a conduzir. Oh, fizera-se luz. O mundo cintilava com aquela claridade.
— Nem me lembro do que fiz — disse Maria. — Foi... a... a... aconteceu tudo ao mesmo tempo. O pior de tudo foi mudar de lugar. Não sei porque é que põem aquela coisa das mudanças entre os assentos. Fiquei com a saia presa.
— Quando te vi no meu lugar mal pude crer nos meus olhos! Se não tivesses feito o que fizeste — e abanou a cabeça — ainda lá estávamos.
Já que era chegado o momento de exultarem com as recordações da batalha, Sherman não resistiu a dar a deixa para receber ele próprio alguns elogios.
Maria disse: — Bom, fiz aquilo por... sei lá... por instinto. — Era mesmo dela, deixar passar assim a deixa.
— Pois é — respondeu Sherman — e olha que o teu instinto não podia ter sido melhor! É que eu nessa altura já não tinha mãos a medir! — Uma deixa tão óbvia que se metia pelos olhos dentro.
Esta não a deixou ela passar. — Oh, Sherman... pois foi. Quando atiraste a roda, o pneu, àquele rapaz... oh, meu Deus, eu pensei... eu estive quase... é que tu venceste-os a ambos, Sherman! Venceste-os a ambos!
Venci-os a ambos. Nunca semelhante música embalara os ouvidos do Senhor do Universo. Continuem a tocar! Não parem!
— Eu nem percebi o que se passou! — disse Sherman. Agora sorria, muito animado, e nem tentava disfarçar o sorriso. — Atirei o pneu, e quando dei por isso estava a apanhar outra vez com ele na cara!
— Isso foi porque ele esticou as mãos para o segurar, e o pneu ressaltou, e...
Mergulharam nos intricados e excitantes pormenores da aventura.
As suas vozes animaram-se, a sua disposição animou, e riram muito, alegadamente dos pormenores bizarros da batalha mas na realidade de pura alegria, de exultação espontânea por aquele milagre. Juntos, tinham enfrentado o pior dos pesadelos de Nova Iorque, e tinham saído vitoriosos.
Maria endireitou-se na cadeira e começou a olhar Sherman com os olhos muito grandes e os lábios entreabertos num esboço de sorriso. Ele teve uma premonição deliciosa. Sem uma palavra, ela pôs-se de pé e tirou a blusa. Não trazia nada por baixo. Ele ficou a olhar-lhe os seios, que eram magníficos. A bela carne branca ressumava concupiscência e reluzia de suor. Maria aproximou-se dele, que continuava sentado na cadeira, e, de pé entre as suas pernas, começou a desapertar-lhe a gravata. Ele enlaçou-a pela cintura e puxou-a com tanta força que ela se desequilibrou. Rebolaram no tapete. Como se divertiram com as pequenas dificuldades de se desembaraçarem da roupa!
Agora estavam estendidos no chão, no tapete imundo, entre rolos de cotão, mas o que importava o pó e a sujidade? Estavam ambos quentes e suados, mas isso que importava?
Ainda era melhor assim. Tinham passado juntos a prova do fogo. Tinham lutado juntos na selva, não tinham? Estavam deitados lado a lado, com os corpos ainda quentes da refrega. Sherman beijou-a nos lábios, e ficaram assim muito tempo, beijando-se apenas, com os corpos muito juntos. Depois, ele percorreu-lhe com os dedos as costas e a curva perfeita da anca, e a curva perfeita da coxa, e o perfeito lado de dentro da perna — e nunca se sentira tão excitado! A corrente eléctrica ia-lhe direita das pontas dos dedos ao sexo, e depois a todo o seu sistema nervoso, a um bilião de sinapses explosivas. Queria possuir, literalmente, aquela mulher, envolvê-la na sua própria pele, subsumir aquele seu belo corpo branco e ardente, no auge da sua doce, rude e firme saúde de animal jovem, e fazê-lo seu para sempre. Que amor tão perfeito! Que pura delícia! Príapo, rei e senhor! Senhor do Universo! Rei da Selva!
Sherman guardava os seus dois carros, o Mercedes e uma grande station Mercury, numa garagem subterrânea a dois quarteirões de casa. Ao fundo da rampa parou, como sempre, diante da cabina do guarda. Um homenzinho gorducho, de camisa desportiva de manga curta e calças largas de sarja cinzenta saiu da cabina. Era o guarda com quem ele antipatizava, Dan, o ruivo. Saiu do carro e dobrou muito depressa o casaco, esperando que o empregado não reparasse no rasgão.
— Ei, Sherm! Como é que vai isso?
Era aquilo que Sherman detestava visceralmente. Já era bastante mau aquele homem insistir em tratá-lo pelo primeiro nome. Mas abreviá-lo para Sherm, coisa que nunca ninguém lhe chamara — era passar da presunção à impertinência. Sherman não se lembrava de ter dito fosse o que fosse, de ter feito o menor gesto que encorajasse ou consentisse sequer semelhante familiaridade. Nos tempos que correm, uma pessoa não devia sentir-se incomodada com familiaridades gratuitas, mas Sherman sentia-se. Aquilo era uma forma de agressão. Julgas que sou inferior a ti, ó WASP da Wall Street com o teu queixo de Yale, mas eu já te mostro. Muitas vezes tentara ensaiar uma resposta educada mas fria e cortante para aquelas saudações calorosas e pseudo-amigáveis, mas não lhe ocorrera nenhuma.
— Sherm, como vai isso? — Dan estava mesmo ao lado dele. Não o largava.
-
Muito bem — respondeu Mr. McCoy em tom gelado... mas pouco convincente. Uma das regras não escritas do comportamento das classes superiores é que quando um subalterno nos cumprimenta com um «como vai isso?», não se responde à pergunta. Sherman virou costas e começou a afastar-se.
— Sherm!
Sherman deteve-se. Dan estava ao lado do Mercedes, com as mãos nas ancas roliças. Tinha umas ancas de velha.
— Sabe que o seu casaco está rasgado?
O bloco de gelo, com o seu queixo de Yale muito espetado, não disse nada.
— Aí mesmo — disse Dan com um ar muito satisfeito. — Vê-se a entretela e tudo. Como é que foi fazer isso?
Sherman tornou a ouvir o thok e a sentir-se derrapar a traseira do carro, fazendo desaparecer o rapaz alto e magri-nho. Nem uma palavra sobre o assunto — e, no entanto, sentiu uma vontade incrível de contar tudo àquele homenzinho odioso. Agora que passara a prova do fogo e sobrevivera, experimentava um dos impulsos mais pertinazes mas mais incompreensíveis do ser humano: a compulsão de informar. Queria contar a sua história de guerra.
Mas a precaução triunfou, a precaução reforçada pelo snobismo. Provavelmente, não contaria a ninguém o que se passara; e muito menos àquele homem.
— Não faço ideia — disse.
— Não deu por isso?
O distante boneco de neve, com o seu queixo de Yale, Mr. Sherman McCoy, fez um gesto em direcção ao Mercedes. — Não torno a sair com ele antes do fim de semana. — Depois deu meia volta e saiu.
Quando chegou ao passeio, uma lufada de vento varreu a rua. Sentiu então a que ponto estava encharcada a sua camisa. As calças ainda estavam húmidas na parte de trás dos joelhos. Levava no braço o casaco dobrado. O cabelo devia parecer um ninho de ratos. Todo ele estava uma desgraça. O coração batia-lhe um pouco mais depressa do que o normal. Tenho uma coisa a esconder. Mas porque é que ele se preocupava? Não era ele que ia a guiar quando aquilo acontecera — se é que acontecera. Exactamente! Se é que acontecera. Ele não vira o rapaz ser atropelado, ela também não; além disso a coisa passara-se no calor de uma luta em que tinham estado em jogo as vidas de ambos e, fosse como fosse, era Maria quem ia a guiar. Se não queria dar parte do caso à Polícia, o problema era dela.
Parou, respirou fundo e olhou à sua volta. Sim, a Manhattan Branca, o santuário das East Seventies. Do outro
lado da rua, um porteiro fumava um cigarro debaixo do toldo da entrada de um prédio de habitação. Um rapaz de sóbrio fato escuro e uma rapariga bonita de vestido branco avançavam na sua direcção. O rapaz falava com ela, muito depressa. Tão jovem, e vestido como um velho, com o seu fato Brooks Brothers ou Chipp ou J. Press, tal e qual o próprio Sherman quando começara a trabalhar para a Pierce & Pierce.
E, de repente, Sherman sentiu que uma sensação maravilhosa o invadia. Santo Deus, porque é que havia de estar tão preocupado? Deixou-se ficar ali no passeio, imóvel, de queixo levantado e um grande sorriso no rosto. O rapaz e a rapariga devem ter julgado que ele era maluco. Mas a verdade é que era um homem. Naquela noite, de mãos nuas, apenas com a sua presença de espírito, lutara contra o inimigo elementar, o caçador, o predador, e vencera. Conseguira escapar a uma emboscada num lugar de pesadelo; vencera. Salvara uma mulher. Quando chegara a hora de agir como um homem, ele agira e vencera. Não era simplesmente um Senhor do Universo; era mais; era um homem. Sorrindo e cantando Show me ten who are stouthearted men, o homem de coração destemido, ainda quente da luta, percorreu os dois quarteirões que o separavam do seu duplex com vista para a rua de todos os sonhos.
5 - A Rapariga do Bâton Castanho
No sexto andar do Bronx County Building, próximo dos elevadores, havia um espaçoso corredor revestido de duas ou três toneladas de mogno e mármore e vedado por um balcão e uma cancela. Atrás do balcão estava postado um guarda com um revólver de calibre 38 no coldre, sobre a anca. O guarda fazia de recepcionista. O revólver, que parecia suficientemente grande para fazer parar um camião, servia teoricamente para intimidar os delinquentes desvairados e vingativos do Bronx.
Acima da entrada de corredor havia uma série de maiúsculas romanas, recortadas em latão — o que representara certamente uma considerável despesa para os contribuintes de Nova Iorque — e aplicadas ao revestimento de mármore com cola epóxica. Uma vez por semana, um empregado da limpeza empoleirava-se numa escada e polia as letras com Simichrome, pelo que a legenda RICHARD A. WEISS, PROCURADOR, BRONX COUNTY brilhava mais vivamente que todos os elementos que os arquitectos do tribunal, Joseph H. Freedlander e Max Hausle, tinham tido a coragem de colocar no exterior do edifício, na sua era dourada, meio século antes.
Quando Larry Kramer saiu do elevador e se aproximou desta cintilação metálica, o lado direito da boca contorceu-se-lhe subversivamente. Aquele A. era de Abraham. Weiss era conhecido pelos amigos, pelos simpatizantes políticos.
pelos repórteres dos jornais, pelos Canais 1, 2, 4, 5, 7, e 11 e pelos clientes que eram principalmente judeus e italianos da zona de Riverdale, de Pelham Parkway e da Co-op City, como Abe Weiss. Ele detestava o diminutivo Abe, que lhe ficara da sua infância em Brooklyn. Anos atrás fizera saber que preferia que lhe chamassem Dick, e a chacota fora tanta que ele quase se vira obrigado a sair da Organização Democrática do Bronx. Fora a última vez que Abe Weiss falara em Dick Weiss. Para Abe Weiss, ser posto a ridículo na Organização Democrática do Bronx, ou distanciar-se dessa organização fosse por que motivo fosse, era como ser atirado pela borda fora de um navio em cruzeiro de Natal em pleno mar das Caraíbas. Portanto, só no New York Times e na entrada do seu corredor é que ele era Richard A. Weiss.
O guarda carregou no botão para Kramer poder passar a cancela, e os sapatos de ténis de Kramer chiaram no pavimento de mármore. O guarda lançou-lhe um olhar intrigado. Como de costume, Kramer levava os sapatos de cabedal num saco de plástico do A & P.
Para lá da entrada do corredor, a imponência da Procuradoria tinha os seus altos e baixos. O gabinete do próprio Weiss era maior e mais vistoso, graças às suas paredes apaineladas, que o do mayor de Nova Iorque. Os chefes dos Departamentos dos Homicídios, Investigação, Crimes Maiores, Supremo Tribunal, Tribunal Criminal e Apelos, também tinham o seu quinhão de revestimentos apainelados, de sofás de couro ou imitação de couro e de cadeirões Con-tract Sheraton. Mas quando se chegava ao nível de um procurador-adjunto como Larry Kramer, a decoração de interiores resumia-se a um estrito «para quem é bacalhau basta».
Os dois procuradores-adjuntos que partilhavam o gabinete com ele, Ray Andriutti e Jimmy Caughey, estavam reclinados nas suas cadeiras giratórias. A superfície da sala chegava à justa para as três secretárias metálicas, três cadeiras giratórias, quatro ficheiros, um velho cabide com seis ganchos rebarbativamente espetados, uma mesa com uma máquina de café Mr. Coffee, uma pilha promíscua de copos e colheres de plástico, e uma massa pegajosa de guardanapos de papel, de pacotinhos brancos de açúcar e pacotinhos cor-de-rosa de sacarina colados a uma bandeja de plástico castanho com uma pasta aromática composta de café entornado e de pó Cremora. Andriutti e Caughey estavam sentados com as pernas cruzadas da mesma maneira. O tornozelo esquerdo repousava sobre o joelho direito, como se os dois
homens fossem tão machos que não pudessem cruzar mais a perna ainda que quisessem fazê-lo. Era aquela a posição sentada oficial dos Homicídios, o departamento mais viril dos seis que compunham a Procuradoria.
Ambos tinham tirado o casaco, pendurando-o no cabide com a negligência de quem se está perfeitamente nas tintas para casacos ou outras ninharias. Tinham os colarinhos desabotoados e o nó da gravata puxado para baixo uma ou duas polegadas. Andriutti friccionava a parte de trás do braço esquerdo como se tivesse comichão. Na realidade, estava a palpar e a admirar o seu tricípite, de que cuidava pelo menos três vezes por semana, fazendo exercícios com halteres no New York Athletic Club. Andriutti podia dar-se ao luxo de treinar no Athletic Club e não no tapete da sala. entre uma Dracaena fragrans e um sofá-cama, porque não tinha uma mulher e um filho a sustentar nem vivia numa colónia de formigas de 888 dólares por mês nas West Seven-ties. Não tinha que se preocupar com o atrofiamento dos seus tricípites e deltóides e músculos dorsais. Andriutti comprazia-se em verificar que, quando palpava a parte de trás de um dos seus vigorosos braços com a outra mão, os músculos maiores das costas, os latissima dorsae, se avolumavam até quase lhe romper a camisa, e os peitorais enrijavam, convertendo-se em autênticas montanhas de puro músculo. Kramer e Andriutti pertenciam à nova geração, mais familiarizada com os termos tricípite, deltóides, latissima dorsae, e pectoralis major do que com os nomes dos principais planetas. Andriutti friccionava os tricípites cento e vinte vezes por dia, em média.
Ainda a friccioná-los, Andriutti olhou para Kramer, que acabava de entrar no gabinete, e disse: — Nossa Senhora, aqui vem a senhora do saco. Que raio, para que é que é esse saco dos A & P, Larry? Desde o princípio da semana que todos os dias apareces de saquinho na mão, porra. — Depois voltou-se para Jimmy Caughey e disse: — Foda-se, até parece uma senhora, com aquele saquinho!
Caughey também era desportista, mas mais voltado para o triatlo do que para os halteres; tinha uma cara magra e um queixo proeminente. Limitou-se a sorrir a Kramer, como se dissesse: «Bom, o que é que respondes a isto?»
Kramer disse: — Tens comichão no braço, Ray? — Depois olhou para Caughey e disse: — O Ray tem uma alergia lixada. Chama-se doença do halterofilista. — E, dirigindo-se de novo a Andriutti: — Faz umas comichões do caralho, não é?
Andriutti tirou a mão do tricípite. — Mas que sapatos dejogging são esses? — perguntou a Kramer. — Pareces uma dessas miúdas que trabalham no Merrill Lynch. Muito bem aperaltadas, mas com um par de barcaças de borracha nos pés, porra!
— Que raio, mas o que é que trazes aí no saco? — quis saber Caughey.
— Os sapatos de salto alto — disse Kramer. Tirou o casaco e pendurou-o descuidadamente no cabide, como todos faziam; puxou para baixo o nó da gravata, desabotoou o colarinho da camisa, sentou-se na sua cadeira giratória, abriu o saco de plástico, tirou de lá os seus sapatos de cabedal Johnston & Murphy e começou a descalçar os Nikes.
— Jimmy — disse Andriutti a Caughey — sabias que os judeus (Larry, vê lá, não tomes isto como uma observação pessoal) sabias que os judeus, mesmo quando são homens perfeitamente normais, têm sempre um ou outro gene de pandeiro? É um facto comprovado. Não suportam andar à chuva sem guarda-chuva, ou então têm o apartamento cheio de modernices, ou não gostam de ir à caça, ou são contra a construção de novas centrais nucleares, ou vêm de ténis para o trabalho, ou outra esquisitice qualquer. Sabias?
— Caramba — disse Kramer — não sei porque é que te passou pela cabeça que eu podia tomar isso como uma observação pessoal.
— Vá lá, Larry — insistiu Andriutti — diz a verdade. Lá bem no fundo, não preferias ser italiano ou irlandês?
— Preferia — disse Kramer — assim não percebia nada do que se passa neste maldito tribunal, porra!
Caughey desatou a rir. — Bom, vê lá se não deixas que o Ahab te veja com esses sapatos, Larry. Punha logo a Jeanette a mandar-nos uma circular ou uma merda assim.
— Não, convocava era uma conferência de imprensa, porra! — disse Andriutti.
— Essa hipótese nunca é de excluir.
E assim começava uma porra de um novo dia na merda do Departamento de Homicídios da gaita da Procuradoria do Bronx.
Um procurador-adjunto dos Crimes Maiores começara a chamar «Capitão Ahab» a Abe Weiss, e agora todos o tratavam assim. Weiss era famoso pela sua obsessão da publicidade, embora pertencesse a uma raça, a dos procuradores, já por natureza louca por publicidade. Ao contrário dos grandes procuradores de outrora, Frank Hogan, Burt Roberts ou Mário Merola, Weiss nunca punha os pés numa sala de audiências. Não tinha tempo para isso. As horas do dia só lhe chegavam para se manter em contacto com os canais 1, 2, 4, 5, 7 e 11 e com o Daily News, o Post, o City Light e o Times.
Fui agora mesmo falar com o capitão — disse Jimmy Caughey. — Vocês deviam...
— Foste falar com ele? Para quê? — perguntou Kramer, sem conseguir disfarçar, no tom da voz, uma curiosidade um pouco excessiva e um ligeiro toque de inveja.
— Fui eu e o Bernie — disse Caughey. — Ele queria saber como é que ia o caso Moore.
— E que tal?
— Uma grande merda — disse Caughey. — Esse sacana do Moore tem um casarão em Riverdale, e a mãe da mulher vive lá com eles, e já lhe mói a paciência há trinta e sete anos, percebem? Vai daí o gajo perde o emprego. Trabalhava para uma companhia de resseguros, ganhava os seus 200 ou 300000 dólares por ano, e de repente passa oito ou nove meses sem trabalho, e ninguém o quer contratar, e ele não sabe que raio há-de fazer à vida, estão a ver? Até que um belo dia, está ele a tratar do jardim quando aparece a sogra e diz: «Pois é, o azeite acaba sempre por vir à tona e a água por ir ao fundo.» Assim mesmo, sem tirar nem pôr. «O azeite acaba por vir à tona e a água por ir ao fundo. Devias era arranjar um emprego de jardineiro.» É claro que o tipo fica pior que estragado. Entra em casa e diz à mulher: «Estou farto da tua mãe. Vou buscar a minha caçadeira e pregar-lhe um susto.» Sobe ao quarto, onde tem guardada a caçadeira de calibre 12, torna a descer a escada, vai direito à sogra, disposto a pregar-lhe um susto dos grandes e diz: «O.K., Gladys», e é então que tropeça no tapete, que a arma se dispara e mata a velha instantaneamente, e pumba! — Homicídio em segundo grau.
— Porque é que o Weiss estava interessado no caso?
— Bom, o tipo é branco, tem algum dinheiro, vive num casarão em Riverdale. À primeira vista, parecia que ele estava a inventar a história do acidente.
— E não é possível que esteja?
— Não. O sacana do homem é cá dos nossos. É o típico irlandês que venceu na vida mas não deixou por isso de ser um irlandês. Está afogado em remorsos. Sente-se tão culpado que parece que matou a própria mãe, foda-se! No ponto em que está confessava tudo o que nós quiséssemos. O Bernie podia instalá-lo diante da câmara video e impingir-lhe todos os homicídios do Bronx nos últimos cinco anos. Não, é uma merda de um caso, mas a princípio parecia porreiro.
Kramer e Andriutti perceberam logo que se tratava de um caso de merda, sem precisarem de mais explicações. Todos os procuradores-adjuntos do Bronx, desde o mais jovem dos italianos, acabado de sair da Faculdade de Direito de St. John, até ao mais velho dos irlandeses chefes de departamento, que devia ser o Bernie Fitzgibbon, com os seus quarenta e dois anos, partilhavam a mania do Capitão Ahab do Grande Réu Branco. Para começar, porque não era agradável passar a vida inteira a dizer para consigo: «O meu trabalho é despachar pretos e latino-americanos para a cadeia.» Kramer tivera uma educação liberal. Nas famílias judias como a sua, o liberalismo começava a ser ministrado com o leite em pó, com o sumo de maçã Motts, com a Instamatic e com os sorrisos do papá ao serão. E mesmo os italianos como Ray Andriutti e os irlandeses como Jimmy Caughey, que não eram propriamente sobrecarregados de liberalismo pelos pais, não podiam deixar de ser afectados pela atmosfera mental das faculdades de direito, onde havia tantos professores judeus. Quando se chegava ao fim do curso de direito numa faculdade da zona de Nova Iorque, era, bom... indelicado... ao nível social normal... andar por aí a dizer piadas sobre os yoms. Não é que fosse moralmente errado... Mas era de mau gosto. Por isso os rapazes sentiam-se pouco à vontade com aquela eterna perseguição dos negros e dos latinos.
Não é que eles não fossem culpados. Uma coisa que Kramer aprendera logo ao fim de duas semanas como procurador-adjunto no Bronx fora que 95 por cento dos réus que chegavam a ir a tribunal, talvez até 98 por cento, eram realmente culpados. Era uma maioria tão esmagadora que ninguém perdia tempo a tentar distinguir as excepções, a menos que se tivesse a imprensa às costas. As carrinhas azuis e cor de laranja da Walton Avenue descarregavam ali culpados à tonelada. Mas os pobres infelizes que estavam por trás das janelas gradeadas mal mereciam a designação de criminosos, se se tomasse o termo criminoso na acepção romântica de alguém que tem um objectivo e tenta alcançá-lo por meios desesperados e exteriores à lei. Não, aqueles eram quase todos incompetentes e pobres de espírito, que faziam coisas incrivelmente estúpidas e reles.
Kramer pôs-se a olhar para Andriutti e Caughey, ali sentados com as musculosas pernas cruzadas. Sentia-se superior a eles. Era licenciado pela Faculdade de Direito de Colúmbia, e os outros dois eram licenciados por St. Johns, que era conhecida como a faculdade de direito dos vencidos da grande corrida académica. Além disso, era judeu. Muito cedo na vida interiorizara a noção de que os Italianos e os Irlandeses eram uns animais. Os Italianos eram porcos, e os Irlandeses mulas ou bodes. Não se lembrava se os pais teriam alguma vez utilizado aqueles termos, mas a verdade é que essa ideia lhe ficara nitidamente gravada no espírito. Para os pais dele, a cidade de Nova Iorque — e não só Nova Iorque, mas os Estados Unidos, o mundo inteiro! — era um drama intitulado Os Judeus Contra os Goyim, e os goyim eram animais. Portanto, o que é que ele estava ali a fazer com aqueles animais? Umjudeu no Departamento de Homicídios era uma coisa rara. O Departamento de Homicídios era o corpo de elite da Procuradoria, os Fuzileiros Navais do procurador, porque o homicídio era o mais grave de todos os crimes. Um procurador-adjunto dos Homicídios tinha de estar pronto a sair para a rua, para o local do crime, a todas as horas do dia ou da noite; tinha de ser um autêntico comando, para ombrear com a Polícia, para confrontar réus e testemunhas e intimidá-los quando chegasse o momento; e apanhavam-se ali os réus e as testemunhas mais reles, mais desprezíveis e mais implacáveis de toda a história da justiça criminal. Durante cinquenta anos, ou talvez mais, os Homicídios haviam sido um enclave irlandês, embora recentemente invadido pelos italianos. Os irlandeses é que tinham dado aos Homicídios o seu cunho. Os irlandeses eram de uma coragem a toda a prova. Mesmo quando era loucura não recuar, eles nunca recuavam. Andriutti tinha razão, pelo menos até certo ponto. Kramer não queria ser italiano, mas gostaria de ser irlandês, e aquele pobre idiota do Ray Andriutti também. Sim, eram animais! Os goyim eram animais, e Kramer tinha orgulho em se encontrar no meio dos animais, no Departamento de Homicídios.
Fosse como fosse, ali estavam os três, naquele gabinete Para Quem É Bacalhau Basta, ganhando 36000 a 42000 dólares por ano, em vez de ganharem 136000 a 142000 na firma Cravath, Swaine & Moore ou noutra semelhante. Tinham nascido a um milhão de milhas da Wall Street, nos bairros periféricos, Brooklyn, Queens ou Bronx. Para as suas famílias, o facto de eles terem entrado para a universidade e tirado o curso de direito fora a melhor coisa que lhes acontecera desde Franklin D. Roosevelt. Portanto para ali andavam, no Departamento de Homicídios, tagarelando acerca de foda-se isto e de foda-se aquilo e trocando doesn ts por don ts e nós por nawcomo se fossem incapazes de falar melhor.
Ali estavam... e ali estava ele, sem andar para trás nem para a frente. Os casos que tinha entre mãos... Uns casos de merda! Era como andar a recolher o lixo... Arthur Rivera. Num clube recreativo, Arthur Rivera e outro passador de droga começam a discutir a propósito da pizza que hão-de encomendar e puxam das facas; Arthur diz: «Vamos largar as armas e lutar homem a homem.» O outro concorda, e então Arthur puxa de uma segunda faca e mata-o.... Jimmy Dollard. Jimmy Dollard e o seu melhor amigo, Otis Blake-more, estão com mais três tipos a beber, a tomar cocaína e a jogar a uma coisa chamada «as dúzias», em que o objectivo é cada um insultar os outros o mais possível, e Blakemore está inspiradíssimo a achincalhar Jimmy quando este saca de um revólver e lhe dá um tiro no coração, para logo deitar a cabeça em cima da mesa e desatar a soluçar: «O meu homem! O meu Stan! Matei o meu Stan, o meu homem!» ... E o caso de Herbert 92X...
Por instantes, a recordação do caso Herbert traz-lhe ao espírito a imagem da rapariga do batôn castanho...
A imprensa não dava a menor atenção a estes casos. Eram só pobres a matarem pobres. Ocupar-se desses casos era como trabalhar no serviço de recolha do lixo, necessário e honrado, laborioso e anónimo.
Afinal de contas, o Capitão Ahab não era assim tão ridículo. Cobertura da imprensa! Ray e Jimmy podiam rir à vontade, mas a verdade é que Weiss fizera com que a cidade inteira soubesse o seu nome. As eleições estavam à porta e o Bronx era 70 por cento negro e latino-americano, e ele havia de fazer com que todos os canais de televisão lhes martelassem aos ouvidos o nome de Abe Weiss. Podia não fazer muito mais, mas isso fazia com certeza.
Tocou um telefone: o de Ray. — Homicídios — disse ele. — Andriutti. O Bernie não está. Penso que está no tribunal... O quê?... Outra vez a mesma história? — Uma longa pausa. — Bom, mas afinal ele foi atropelado ou não? Annh-hannh... Bom, chiça, sei lá. É melhor falar com o Bernie. O.K.?... O.K. — Desligou, abanou a cabeça e olhou para Jimmy Caughey. — Era um detective, do Hospital Lincoln. Diz que têm lá um morimbundo, um miúdo que apareceu na urgência sem saber se escorregou na banheira e partiu um pulso ou se foi atropelado por um Mercedes-Benz. Ou uma merda assim. Quer falar com o Bernie. Então que fale com o Bernie, porra!
Ray continuou a abanar a cabeça, e Kramer e Caughey acenaram em sinal de compreensão. Os eternos casos de merda do Bronx.
Kramer olhou para o relógio e pôs-se de pé.
— Bom — disse — vocês podem aqui ficar à conversa, meus meninos, mas eu tenho de ir ouvir o célebre estudioso do Médio Oriente, Herbert 92X, ler umas passagens do Corão.
No Bronx County Building havia trinta e cinco salas de audiências para casos-crime, cada uma das quais era conhecida como uma «divisão». Tinham sido construídas nos anos 30, época em que ainda se pensava que a própria aparência de um tribunal devia proclamar a gravidade e a omnipotência da lei. Os tectos tinham uns bons quinze pés de altura. As paredes eram inteiramente revestidas de madeira escura. A tribuna do juiz era um estrado com uma enorme mesa em cima. A mesa tinha tantas cornijas, enfeites, pilastras, embutidos e quilos de madeira maciça que o próprio Salomão, que era um rei, a teria sem dúvida achado imponente. As bancadas dos espectadores estavam separadas da tribuna do juiz, da bancada dos jurados e das mesas da acusação, da defesa e do escrivão do tribunal, por uma balaustrada de madeira encimada por um pesado corrimão esculpido, a chamada Barra da Justiça. Em suma, nada havia na aparência das instalações que indicasse ao incauto a que ponto era caótico o trabalho diário de um juiz do tribunal criminal.
Assim que Kramer entrou, percebeu que o dia tinha começado mal na Divisão 60. Bastou-lhe olhar para o juiz. Kovitsky estava no alto da sua tribuna, de toga preta, debruçado para a frente com ambos os antebraços apoiados na mesa. Tinha o queixo tão próximo do tampo que parecia prestes a tocar-lhe. O crânio ossudo e o nariz adunco faziam com o tronco um ângulo tão agudo que o juiz parecia um abutre. Kramer via-lhe a íris a flutuar e a dançar no branco dos olhos, enquanto percorria a sala e a sua variegada colecção de seres humanos. Parecia prestes a levantar voo e a atacar. Os sentimentos de Kramer para com Kovitsky eram ambivalentes. Por um lado, não apreciava os discursos que ele fazia durante os julgamentos, e que eram muitas vezes de carácter pessoal e propositadamente humilhantes. Em contrapartida, Kovitsky era um guerreiro judeu, um filho da Masada. Só Kovitsky seria capaz de.fazer calar os provocadores das carrinhas celulares com uma cuspidela.
— Onde está Mr. Sonnenberg? — perguntou Kovitsky.
— Não houve resposta.
Por isso, repetiu a pergunta, desta vez num espantoso vozeirão de barítono que projectou cada sílaba para a parede do fundo e sobressaltou todos os que se encontravam pela primeira vez na sala de audiências do juiz Myron Kovitsky.
— ONDE ESTÁ MIS-TER SON-NEN-BERG?
À excepção de dois rapazinhos e uma menina que corriam por entre os bancos, jogando à apanhada, todos os espectadores ficaram imóveis e silenciosos. No seu íntimo, todos eles se congratulavam. Por muito miserável que fosse o seu destino, pelo menos não tinham chegado ao ponto de serem o senhor Sonnenberg, esse miserável insecto, fosse lá ele quem fosse.
Esse miserável insecto era um advogado, e Kramer conhecia a natureza do seu delito: a sua ausência impedia que a paparoca fosse alimentar a goela n.º 60 do sistema judicial. Em cada divisão, o trabalho começava com a chamada «ordem do dia» na qual o juiz se ocupava de requerimentos e acordos respeitantes a um certo número de casos, talvez uns doze por manhã. Kramer tinha vontade de rir a cada vez que via uma série de televisão com uma cena de tribunal. O que se via era sempre um julgamento. Um julgamento! Quem é que conceberia aquelas estúpidas séries? Todos os anos eram apresentadas, no Bronx, 7000 queixas, e só se podiam realizar, quando muito, 650 julgamentos. Os juizes tinham de resolver os restantes 6350 casos de uma de duas maneiras. Ou arquivavam o processo e mandavam soltar o réu, ou permitiam que este confessasse a sua culpa em troca de uma pena reduzida por não obrigar o tribunal a proceder a um julgamento. Arquivar os processos era uma maneira perigosa de reduzir o trabalho em atraso, mesmo que se fosse grotescamente cínico. Sempre que se deixava ir um delinquente em liberdade, o mais provável era haver alguém, por exemplo a vítima ou a família, a protestar, e a imprensa adorava atacar os juizes que assim soltavam os malfeitores. Restava, portanto, a solução dos acordos, que preenchiam quotidianamente a ordem do dia. A ordem do dia era, pois, o verdadeiro tubo digestivo do sistema judicial no Bronx.
Todas as semanas o escrivão de cada divisão entregava um mapa a Louis Mastroiani, chefe dos juizes administrativos da secção criminal. Supremo Tribunal, Bronx County. O mapa mostrava quantos casos o juiz tinha no seu activo e quantos resolvera nessa semana, por acordo com a defesa, libertação do réu ou julgamento. Na parede da sala de audiências, acima da cabeça do juiz, lia-se IN GOD WE
TRUST. No mapa, em contrapartida, o que se lia era ANÁLISE GLOBAL DOS PROCESSOS, e a eficiência de um juiz era avaliada quase exclusivamente a partir da ANÁLISE GLOBAL DOS PROCESSOS.
Quase todos os réus eram convocados para as 9.30 da manhã. Se o escrivão chamasse um dos acusados e ele não estivesse presente ou o advogado não estivesse presente ou sucedesse qualquer outra das onze ou doze coisas que podiam impedir aquele caso de progredir um pouco mais no funil da justiça, os protagonistas do processo seguinte estariam presumivelmente à mão, prontos a avançar. Por isso é que a zona dos espectadores estava povoada de pequenos grupos de pessoas, nenhuma das quais era um espectador no sentido recreativo do termo. Eram réus com os seus advogados, réus com os seus amigos, réus com as suas famílias. As três crianças derraparam entre dois bancos, correram para o fundo da sala, rindo, e desapareceram atrás do último banco. Uma mulher virou a cabeça, franziu-lhes o sobrolho mas não se dignou ir buscá-las. Então Kramer reconheceu o trio. Eram os filhos de Herbert 92X. Não que o facto fosse excepcional, longe disso; todos os dias havia crianças nas salas de audiências. Os tribunais eram, no Bronx, uma espécie de infantários. Jogar à apanhada na Divisão 60 enquanto decorriam os requerimentos, as contestações, os julgamentos e as sentenças do Papá, fazia parte do processo de crescimento.
Kovitsky voltou-se para o escrivão do tribunal, que estava sentado a uma mesa abaixo e ao lado da tribuna do juiz. O escrivão era um italiano de pescoço de touro chamado Charles Bruzzielli. Tinha tirado o casaco. Vestia uma camisa de manga curta com o colarinho aberto e a gravata a meia haste. Via-se-lhe o decote da camisola interior. A gravata formava um enorme nó Windsor.
— Este indivíduo é Mr.... — Kovitsky olhou para uma folha de papel em cima da sua mesa, e depois para Bruzzielli. — ... Lockwood?
Bruzielli fez sinal que sim, e Kovitsky fitou atentamente a figura esguia que saíra da zona dos espectadores para se aproximar da barra.
— Mr. Lockwood — disse Kovitsky — onde está o seu advogado? Onde está Mr. Sonnenberg?
— Nã sei — disse a figura.
Mal se ouviu a sua resposta. O réu não teria mais de dezanove ou vinte anos. Tinha a pele escura. Era tão magro que não se lhe distinguiam os ombros sob o anorak preto.
Vestia jeans pretos, muito justos, e calçava um par de enormes ténis brancos fechados não com atacadores mas com fita Velcro.
Kovitsky ficou alguns segundos a olhar para ele, e depois disse: — Muito bem, Mr. Lockwood, queira sentar-se. Se e quando Mr. Sonnenberg quiser dar-nos a honra da sua presença, tornaremos a chamá-lo.
Lockwood deu meia volta e encaminhou-se para os bancos dos espectadores. Tinha o passo saltitante que quase todos os jovens réus do Bronx adoptavam, o andar do chulo. Egos machões, estúpidos e autodestrutivos, pensou Kramer. Apareciam sempre com os blusões pretos, os ténis e o andar do chulo. Nunca se esforçavam por não parecerem, dos pés à cabeça, jovens delinquentes, perante os juizes, os júris, os encarregados da vigilância dos presos em liberdade condicional, os psiquiatras do tribunal, perante todos os que tinham uma palavra a dizer acerca do seu encarceramento ou libertação, acerca da duração da sua pena. Lockwood foi, no seu passo de chulo, até um dos últimos bancos da zona dos espectadores, e sentou-se ao lado de outros dois rapazes de anoraks pretos. Eram, sem dúvida, os amigos, os compin-chas. Os compinchas do réu apareciam sempre no tribunal com os seus reluzentes blusões pretos e os seus ténis. Também isso era muito inteligente. Assim se tornava bem claro, desde o início, que o réu não era uma pobre vítima indefesa da vida no ghetto, mas sim um membro de um bando de jovens delinquentes implacáveis, daqueles que gostam de atacar velhinhas com tubos metálicos na Grand Concourse para lhes roubar a carteira. O bando entrava na sala de audiências cheio de energia, transbordante de músculos de aço e queixos erguidos em sinal de desafio, pronto a defender a honra e, se necessário, a pele do amigo contra o sistema. Mas em breve os submergia uma vaga estupidificante de tédio e confusão. Vinham preparados para agir. Não vinham preparados para o que a ocasião exigia, que era ficar à espera enquanto uma coisa de que nunca tinham ouvido falar, a ordem do dia, os afogava em palavras e frases caras, como «quiser dar-nos a honra da sua presença.»
Kramer ultrapassou a divisória e dirigiu-se à mesa do escrivão. Estavam lá três outros procuradores-adjuntos, a assistir à cena enquanto esperavam a sua vez de comparecerem perante o juiz.
O escrivão disse: «O Povo versus Albert e Marilyn Krin...
Hesitou e tornou a olhar para os papéis à sua frente. Fitou uma mulher jovem que estava a três ou quatro pés de distância, uma procuradora-adjunta chamada Patti Stul-lieri, e perguntou, num murmúrio de bastidores: — Que raio, como é que se lê isto?
Kramer espreitou por cima do ombro do escrivão. O documento dizia: — Albert e Marilyn Krnkka.
— Kri-nick-a — disse Patti Stullieri.
— Albert e Marilyn Kri-nick-a! — recitou ele. — Queixa n.º 3-2-8-1. — E depois, para Patti Stullieri: — Meu Deus, que raio de nome é este?
— É jugoslavo.
— Jugoslavo. Foda-se, parece é que alguém entalou os dedos na máquina de escrever quando escreveu isto!
Vindo do fundo da zona dos espectadores, um casal aproximou-se da divisória e encostou-se a ela. O homem, Albert Krnkka, sorria, de olhos muito brilhantes, e parecia querer chamar a atenção do juiz Kovitsky. Albert Krnkka era um indivíduo alto e desengonçado, com uma pêra de cinco polegadas mas sem bigode, e longa cabeleira loura, como um músico rock fora de moda. Tinha um nariz ossudo, um pescoço comprido e uma maçã de Adão que parecia subir e descer um pé ou mais quando ele engolia. Vestia uma camisa esverdeada com colarinhos enormes e, em lugar de botões, um fecho éclair que desenhava uma diagonal entre o seu ombro esquerdo e o lado direito da cintura. A seu lado estava a mulher. Marilyn Krnkka era uma mulher de cabelo preto e rosto magro, delicado. Os seus olhos eram como duas fendas. Não parava de apertar os lábios e de fazer caretas.
Toda a gente, o juiz Kovitsky, o escrivão, Patti Stullieri, até mesmo o próprio Kramer, ficou a olhar para os Krnkkas, esperando que o advogado deles se apresentasse, entrando pela porta lateral ou materializando-se de qualquer outra maneira. Mas não apareceu advogado nenhum.
Furioso, Kovitsky virou-se para Bruzzielli e disse: — Quem é que representa este casal?
— Marvin Sunshine, penso eu — disse Bruzzielli.
— Bom, e onde é que ele está? Vi-o lá atrás há cinco minutos, se tanto. O que é que hoje deu a esta gente?
Bruzzielli respondeu-lhe com o encolher de ombros ancestral e revirou os olhos, como que dizendo que tudo aquilo o incomodava profundamente mas não havia nada que ele pudesse fazer.
Kovitsky baixara ainda mais a cabeça. As íris flutuavam-lhe como destroyers num lago branco. Mas antes
que o juiz pudesse embrenhar-se num discurso devastador sobre advogados delinquentes, uma voz elevou-se da barra.
— Meretíssimo! Meretíssimo! Ei, senhor Juiz!
Era Albert Krnkka. Acenava com a mão direita, procurando chamar a atenção de Kovitsky. Os seus braços eram magros, mas os pulsos e as mãos eram enormes. Tinha a boca entreaberta num meio sorriso com que pretendia dar a entender ao juiz que era um indivíduo razoável. Na realidade, o que aparentava ser, dos pés à cabeça, era um desses homens cujo metabolismo funciona três vezes mais depressa que o normal e por isso são muito mais propensos a explosões súbitas que as outras pessoas.
— Ei, senhor Juiz! Ouça.
Kovitsky ficou a olhar, desconcertado por este número.
— Ei, senhor Juiz! Escute. Há duas semanas ela disse dois a seis, não foi?
Quando Albert Krnkka disse «dois a seis» ergueu ambas as mãos e espetou dois dedos de cada mão, formando um V de vitória ou um sinal de paz, e sacudiu as mãos como se percutisse um par de tambores aéreos e invisíveis ao ritmo das palavras «dois a seis».
— Mr. Krnkka — disse Kovitsky, bastante baixo em relação ao que era seu costume.
— E agora vem para cá propor três a nove — disse Albert Krnkka. — Nós já dissemos: «Muito bem, dois a seis» — tornou a erguer as mãos e o par de vês, marcando no ar o ritmo de «dois a seis» — e agora ela vem para cá propor três a nove. Dois a seis — martelando no ar — dois a seis...
— MIS-TER KRI-NICK-A, SE O SENHOR...
Mas a voz sonora do juiz Kovitsky não fez calar Albert Krnkka.
— Dois a seis — blam, blam, blam — e é negócio fechado!
— MIS-TER KRI-NICK-A. Se o senhor quer apresentar um requerimento ao tribunal, terá de o fazer por intermédio do seu advogado.
— Ei, senhor Juiz, pergunte-lhe a ela! — Apontou energicamente com o indicador esquerdo na direcção de Patti Stullieri. O braço dele parecia ter uma milha de comprimento. — Foi ela, percebe? Ela propôs dois a seis, senhor Juiz. E agora vem para aqui...
— Mister Krnkka...
— Dois a seis, senhor Juiz, dois a seis! — Compreendo que já não tinha muito tempo à sua frente, Albert Krnkka resumia agora a sua mensagem àquela frase-chave, sem deixar de martelar o ar com as mãos enormes.
— Dois a seis! Negócio fechado! Dois a seis! Negócio fechado!
— Mister Krnkka... VÁ-SE SENTAR! Espere pelo seu advogado.
Albert Krnkka e a mulher começaram a afastar-se da barra, sem voltarem as costas a Kovitsky, como se saíssem de uma sala do trono. Albert continuava a pronunciar as palavras «dois a seis» e a sacudir os dedos em v.
Larry Kramer aproximou-se de Patti Stullieri, que estava de pé, e perguntou-lhe: — O que é que eles fizeram?
Patti Stullieri disse: — A mulher ameaçou uma rapariga com uma faca enquanto o marido a violava.
— Meu Deus — deixou escapar, involuntariamente, Kramer.
Patti Stullieri sorriu com um ar experiente. Tinha vinte e oito ou vinte e nove anos. Kramer perguntou a si próprio se valeria a pena atirar-se a ela. Não era bonita, mas aquela sua pose de «Dura» tinha o condão de o excitar. Kramer tentou imaginar como ela seria nos seus tempos de liceu. Talvez fosse uma dessas miúdas magras e nervosas, sempre irritadas e difíceis e sem o menor laivo de feminilidade, sem por isso serem fortes ou másculas. Por outro lado, ela tinha a pele acobreada, o cabelo negro e espesso, os grandes olhos escuros e os lábios de Cleópatra que no espírito de Kramer formavam o tipo da miúda italiana pouco asseada. No liceu — oh, meu Deus, aquelas miúdas italianas pouco asseadas! — Kramer sempre as achara insolentes, inconcebivel-mente estúpidas, anti-intelectuais, inacessíveis, e intensamente desejáveis.
Abriu-se então a porta da sala de audiências, e entrou um homem de idade, de rosto grande, corado, bastante aristocrático. E elegantíssimo. Pelo menos, pelos padrões de Gibraltar. Vestia um fato azul-marinho, às risquinhas, de casaco assertoado, uma camisa branca de colarinho engomado, e uma gravata vermelha-escura. Usava o cabelo preto, que era ralo e tinha um brilho artificial de tinta, penteado para trás e colado ao crânio. Tinha um bigode fininho, fora de moda, que lhe desenhava um nítido traço preto de cada um dos lados da reentrância do lábio por baixo do nariz.
Larry Kramer, que estava de pé, ao lado da mesa do escrivão, ergueu os olhos e observou-o atentamente. Conhecia-o. Havia um certo encanto — não, uma certa coragem — naquele seu estilo. Ao mesmo tempo, era um bocado
arrepiante. Aquele homem fora em tempos, tal como Kramer era agora, procurador-adjunto. Bing! Bing! Bing! Trinta anos tinham passado, e ali estava ele a terminar a carreira no seu consultório particular, representando aqueles pobres incompetentes, incluindo os 18-bs, os que não tinham dinheiro para pagar a um advogado. Bing! Bing! Bing! Não era assim tanto tempo, trinta anos!
Larry Kramer não foi o único que se pôs a olhar. A entrada do homem foi um acontecimento. Ele tinha o queixo em forma de melão. E erguia-o bem alto, como quem está satisfeito com a sua pessoa, como se fosse um boulevardier, como se a Grand Concourse ainda merecesse o nome de boulevard.
— MISTER SONNENBERG!
O velho advogado olhou para Kovitsky. Parecia agradavelmente surpreendido por a sua chegada provocar uma saudação tão calorosa.
— Já chamámos o seu caso há mais de cinco minutos!
— Peço desculpa, Meretíssimo — disse Sonnenberg, aproximando-se da mesa da defesa. Ergueu o seu grande queixo, num movimento cheio de elegância, e dirigiu-se ao juiz: — O juiz Mednick reteve-me na Divisão 62.
— E o que é que o senhor estava a fazer na Divisão 62 quando sabia que este tribunal o tinha posto no início da ordem de trabalhos por motivos de conveniência pessoal do seu cliente? Se bem me recordo, o seu cliente Mr. Lockwood tem um emprego.
— É verdade, Meretíssimo, mas garantiram-me...
— O seu cliente está nesta sala.
— Eu sei.
— Está à sua espera.
— Bem sei, Meretíssimo, mas não podia prever que o juiz Meldnick...
— Muito bem, Mr. Sonnenberg, e agora, está pronto a começar?
— Estou, sim, Meretíssimo.
Kovitsky pediu ao escrivão, Mr. Bruzzielli, que tornasse a convocar o réu. O jovem negro, Lockwood, ergueu-se do seu lugar na zona dos espectadores e veio, a passo de chulo, postar-se ao lado de Sonnenberg, na mesa da defesa. Em breve se tornou claro que o objectivo daquela audiência era permitir que Lockwood se confessasse culpado da acusação que sobre ele pendia, e que era a de assalto à mão armada, em troca de uma pena leve, dois a seis anos, proposta pela Procuradoria. Mas Lockwood não estava pelos ajustes. Sonnenberg não podia senão reiterar a afirmação de inocência do seu cliente.
Kovitsky disse: — Mr. Sonnenberg, quer fazer o favor de se aproximar da tribuna? E o senhor, Mr. Torres?
Torres era o procurador-adjunto encarregue do caso. Era baixo e bastante gordo, embora não tivesse mais de trinta anos. O seu bigode era do tipo que os jovens médicos e advogados usam para parecerem mais velhos e mais respeitáveis.
Quando Sonnenberg se aproximou, Kovitsky disse, num tom amigável e despreocupado: — O senhor hoje parece tal e qual o David Niven, Mr. Sonnenberg.
— Oh, não, senhor Juiz — respondeu Sonnenberg. — David Niven não. William Powell talvez, agora David Niven é que não.
— William Powell? Olhe que se está a datar, Mr. Sonnenberg. O senhor não é assim tão velho, pois não? — E, voltando-se para Torres, disse: — Quando menos esperarmos, aqui o senhor Sonnenberg troca-nos pelo Sun Belt. Muda-se para lá, para um condomínio onde a única preocupação que há-de ter é chegar à rua das lojas a tempo de apanhar o Early Bird especial no Dennys. Nem sequer vai ter de se lembrar de acordar cedo para vir à Divisão 60 do Bronx defender os seus casos.
— Ouça, senhor Juiz, eu juro-lhe...
— Mr. Sonnenberg, conhece Mr. Torres?
— Conheço perfeitamente.
— Bom, Mr. Torres sabe tudo acerca de condomínios e Early Birds especiais. Ele também é meio Yiddeleh.
— Ah, sim? — Sonnenberg não sabia se havia de fazer um ar divertido ou não.
— Sim, é meio porto-riquenho, meio Yiddeleh. Não é verdade, Mr. Torres?
Torres sorriu e encolheu os ombros, esforçando-se por parecer convenientemente divertido.
— Portanto, usou a sua kop de Yiddisheh e candidatou-se a uma dessas bolsas reservadas às minorias, para frequentar a faculdade de direito — disse Kovitsky. — A sua metade yiddisheh pediu uma bolsa de minorias para a sua metade porto-riquenha! Afinal, são uma e a mesma pessoa, não é? Porra, o mínimo que se pode dizer é que ele soube usar a kop!
Kovitsky olhou para Sonnenberg até ele sorrir, depois olhou para Torres até ele sorrir, e finalmente arvorou ele próprio um sorriso radioso. Porque é que teria ficado tão alegre, assim, de um momento para o outro? Kramer lançou um olhar ao réu, Lockwood. Estava na mesa da defesa, a observar aquele alegre trio. O que lhe estaria a passar pela cabeça? Tinha as pontas dos dedos apoiadas na mesa, e o peito parecia ter-se-lhe encolhido. E os olhos! Os olhos eram os de alguém perseguido na noite. Observava o espectáculo do seu advogado a sorrir e a divertir-se com o juiz e o procurador. Ali estava o seu advogado branco a sorrir e a tagarelar com o juiz e com o sacana gordo que o queria meter na cadeia.
Sonnenberg e Torres continuavam ambos de pé diante da tribuna, de olhos erguidos para Kovitsky. Então Kovitsky decidiu passar aos assuntos sérios.
— O que é que o senhor lhe propôs, Mr. Torres?
— Dois a seis, senhor Juiz.
— E o que é que diz o seu cliente, Mr. Sonnenberg?
— Não aceita, senhor Juiz. Falei com ele a semana passada, e falei com ele hoje de manhã. Ele quer ir a julgamento.
— Porquê? — perguntou Kovitsky. — O senhor explicou-lhe que dentro de um ano ele já poderá começar a trabalhar fora da prisão? A proposta não é má de todo.
— Bom— disse Sonnenberg — o problema é que, como Mr. Torres sabe, o meu cliente já tem uma pena suspensa em T.M., pelo mesmo motivo, assalto à mão armada, e se se confessar culpado neste caso terá de cumprir as duas penas.
— Ah — disse Kovitsky. — Então o que é que ele está disposto a aceitar?
— Aceita um e um quarto a quatro ou quatro e meio, desde que a sentença anterior fique incluída nesta.
— O que é que me diz a isto, Mr. Torres?
O jovem procurador-adjunto respirou fundo, baixou os olhos e abanou a cabeça. — Não é possível, senhor Juiz. Estamos a falar de assalto à mão armada!
— Pois é, bem sei — disse Kovitsky — mas era ele que tinha a arma?
— Não — disse Torres.
Kovitsky ergueu os olhos dos rostos de Sonnenberg e Torres e olhou para Lockwood.
— Não me parece mau rapaz — disse Kovitsky, tentando demover Torres. — A verdade é que parece um bebezinho. Todos os dias apanho aqui miúdos destes. São muito fáceis de levar. Vivem em bairros tramados e acabam por fazer coisas estúpidas. O que é que acha dele, Mr. Sonnenberg?
— É mais ou menos isso que esteve a dizer, senhor Juiz — disse Sonnenberg. — É desses miúdos que vão atrás dos outros. Não terá propriamente os miolos de um neuro-cirurgião, mas também não é um caso difícil. Pelo menos, na minha opinião.
Este perfil psicológico tinha o objectivo evidente de convencer Torres a propor a Lockwood uma sentença de um e um terço a quatro anos, e a esquecer a condenação em T. M. que quer dizer «Tribunal de Menores».
— Ouça, senhor Juiz, não pode ser — disse Torres. — Não posso fazer uma coisa dessas. O mínimo que posso propor é dois a seis. O meu departamento...
— Porque é que não telefona ao Frank? — perguntou Kovitsky.
— Não vale a pena, senhor Juiz. Estamos a falar de assalto à mão armada! Talvez ele não tenha ameaçado a vítima com uma arma, mas foi só porque tinha as duas mãos ocupadas a revolver-lhe os bolsos! Um velhinho de sessenta e nove anos, que já teve uma embolia. Anda assim:
Torres pôs-se a arrastar os pés diante da tribuna, avançando penosamente como um velho que tivesse tido um ataque.
Kovitsky sorriu. — Cá temos o Yiddeleh a vir ao de cima! Mr. Torres ainda não deu por isso, mas a verdade é que tem alguns cromossomas de Ted Lewis.
— Ted Lewis era judeu? — perguntou Sonnenberg.
— Porque é que não havia de ser? — disse Kovitsky. — Era actor, não era? O.K., Mr. Torres, acalme-se lá.
Torres tornou a aproximar-se da tribuna. — A vítima, Mr. Borsalino, diz que lhe partiram uma costela. Nós nem sequer o acusámos disso, porque o velhote nunca chegou a ir ao médico tratar da costela. Não, é dois a seis e pronto.
Kovitsky ficou a pensar no assunto. — Explicou isto tudo ao seu cliente?
— Claro que expliquei — disse Sonnenberg. Encolheu os ombros e fez uma careta, como que para dizer que o cliente não dava ouvidos à voz da razão. — Ele prefere arriscar.
— Arriscar? — disse Kovitsky. — Mas ele assinou uma confissão!
Sonnenberg tornou a fazer a mesma careta e arqueou as sobrancelhas.
Kovitsky disse: — Deixe-me falar com ele. Sonnenberg franziu os lábios e revirou os olhos, como que desejando-lhe boa sorte.
Kovitsky tornou a erguer os olhos, fitou Lockwood, projectou o queixo para a frente e disse: — Meu filho... chega aqui.
O rapaz deixou-se ficar diante da mesa, imóvel, ainda a perguntar a si próprio se o juiz estaria a falar com ele ou com outra pessoa. Então Kovitsky arvorou um sorriso, o sorriso do chefe benevolente que está disposto a dar mostras de paciência, fez um gesto com a mão direita e disse: — Chega aqui, filho. Quero falar contigo.
O rapaz, Lockwood, começou a aproximar-se, lentamente, prudentemente, do sítio onde se encontravam Son-nenberg e Torres, e olhou para Kovitsky. Era um olhar completamente inexpressivo. Kovitsky fitou-o também. Era como espreitar para dentro de uma pequena casa vazia, de noite, com todas as luzes apagadas.
— Meu filho — disse Kovitsky — tu não me pareces mau rapaz. Pareces-me até um rapaz simpático. Agora o que eu queria era que tu desses uma oportunidade a ti próprio. Eu dou-te uma oportunidade, mas primeiro tens de ser tu a dar uma oportunidade a ti próprio.
Então Kovitsky fitou Lockwood bem nos olhos, como se o que ia dizer fosse uma das coisas mais importantes que o rapaz ouviria em toda a sua vida.
— Meu filho — disse — para que é que te metes nesses assaltos todos, porra?
Os lábios de Lockwood moveram-se, mas ele lutou contra o impulso de responder à pergunta, talvez com medo de se incriminar.
— E o que é que a tua mãe diz a isso? Vives com a tua mãe?
Lockwood fez sinal que sim.
— O que é que a tua mãe te diz? Mói-te muito o juízo?
— Nã senhor — disse Lockwood. Parecia ter os olhos molhados. Kovitsky tomou isso como indício de que estava a fazer progressos.
— Ouve, filho — continuou — tens um emprego? Lockwood fez sinal que sim.
— O que é que fazes?
— Guarda de segurança.
— Guarda se segurança — disse Kovitsky. Fixou os olhos num ponto da parede, como que a ponderar as consequências para a sociedade daquela resposta, mas decidiu não se desviar do assunto que tinha entre mãos.
— Estás a ver? — disse. — Tens um emprego, tens um lar, és jovem, és um rapaz esperto e bem parecido. Tens muitas coisas a teu favor. Tens mais do que a maioria das pessoas. Mas tens um grande problema a resolver. METESTE-TE NESSA PORCARIA DE ASSALTOS! Bom, o procurador propôs-te uma pena de dois a seis anos. Se aceitares a proposta e te portares bem, muito em breve todo este caso estará resolvido, e ainda serás um jovem com a vida inteira à tua frente. Se fores julgado e condenado, podes apanhar oito a vinte e cinco anos. Pensa bem nisso. O procurador fez-te uma proposta.
Lockwood não disse nada.
— Porque é que não aceitas? — perguntou Kovitsky.
— Porque não.
— Porque não?
Lockwood desviou os olhos. Não ia pôr-se a gastar o seu latim. Tinha era que se manter firme e mais nada.
— Escuta, filho — disse Kovitsky — eu estou a tentar ajudar-te. Olha que este problema não vai desaparecer. Não podes fechar os olhos e esperar que tudo desapareça. Percebes o que eu estou a dizer?
Lockwood continuava a olhar para baixo ou para o lado, evitando sempre que os seus olhos encontrassem os do juiz. Kovitsky não parava de mexer a cabeça, para o interceptar, como um guarda-redes de hóquei.
— Olha para mim, filho. Estás a perceber? Lockwood cedeu e olhou para ele. Era o tipo de olhar
que um pelotão de fuzilamento podia esperar ter pela frente.
— Olha, filho, pensa assim. É como ter um cancro. Deves ter uma ideia do que é ter um cancro.
O olhar do rapaz não traduzia um mínimo de compreensão do cancro ou do que quer que fosse.
— O cancro também não desaparece assim, de um dia para o outro. Tem de se fazer alguma coisa para o tratar. Se o agarrarmos a tempo, enquanto ainda é uma coisa pequena, antes de se espalhar pelo corpo inteiro e invadir a vida inteira de uma pessoa — e dar cabo dela — e acabar com ela — percebes? — acabar com a vida de uma pessoa — se fizermos alguma coisa enquanto o problema ainda é pequeno, se procedermos à pequena operação que é necessária, a questão fica resolvida! — Kovitsky ergueu as mãos no ar, espetou o queixo e sorriu, como se fosse a personificação do restabelecimento. — Bom, com o teu problema acontece exactamente o mesmo. Por enquanto é um problema pequeno. Se te confessares culpado e fores sentenciado a dois a seis anos, e se te portares bem, ao fim de um ano podes candidatar-te a um emprego fora da prisão e ao fim de dois poderás sair em liberdade condicional. E o assunto ficará encerrado. Mas se fores a julgamento e te considerarem culpado, então a sentença mínima é de oito anos. Oito e um terço a vinte e cinco. Oito — e tu só tens dezanove. Oito anos é quase metade do teu tempo de vida. Porra, queres passar a vida inteira na cadeia?
Lockwood desviou os olhos. Não disse que sim nem que não.
— Então, não respondes? — insistiu Kovitsky.
Sem erguer os olhos, Lockwood abanou negativamente a cabeça.
— É claro que se estás inocente eu não quero que te confesses culpado, por muito boas propostas que te façam. Mas a verdade é que tu assinaste uma confissão! O procurador tem uma fotocópia da tua confissão! Como é que vais resolver esse problema?
— Nã sei — disse Lockwood.
— O que é que te disse o teu advogado?:
— Nã sei.
— Vá lá, filho. Claro que sabes. Tens um excelente advogado. Um dos melhores, aqui o Mr. Sonnenberg. Olha que ele tem muita experiência. Vê se lhe dás ouvidos. Ele te dirá que eu tenho razão. Este problema não vai desaparecer assim de um momento para o outro, tal como o cancro não desaparece sem ser tratado.
Lockwood continuou a olhar para o chão. Fosse lá o que fosse que o advogado, o juiz e o procurador tivessem cozinhado, não estava disposto a engolir os arranjinhos deles.
— Olha, filho — disse Kovitsky — torna a discutir o assunto com o teu advogado. Fala com a tua mãe. O que é que a tua mãe te diz?
Lockwood ergueu uns olhos cheios de puro ódio, onde começavam a formar-se lágrimas. Era sempre uma coisa muito delicada, isto de falar na mãe a estes rapazes. Mas Kovitsky continuou a fitá-lo.
— Muito bem, senhor Doutor! — disse Kovitsky, elevando a voz e lançando um olhar a Sonnenberg. — E Mr. Torres. Vou adiar este caso para daqui a quinze dias. E tu, meu filho — disse a Lockwood — pensa bem no que eu te disse, fala com Mr. Sonnenberg e toma uma decisão. O.K.?
Lockwood lançou a Kovitsky um último olhar fugidio e dirigiu-se para a zona dos espectadores. Sonnenberg seguiu-o e disse-lhe qualquer coisa, mas Lockwood não respondeu. Quando ultrapassou a divisória e viu os compinchas a levantarem-se do último banco, Lockwood retomou o andar do chulo. A salvo! De regresso... à Vida! Os três saíram da sala a passo de chulo, com Sonnenberg no encalço, de queixo espetado, num ângulo de trinta graus.
A manhã avançava, e até agora Kovitsky não resolvera um único caso.
Só ao fim da manhã é que Kovitsky conseguiu finalmente dar por terminada a ordem do dia e entrar no julgamento de Herbert 92X, que ia já no seu quarto dia. Kramer estava de pé, junto à mesa da acusação. Os guardas do tribunal faziam rotações dos braços, espreguiçavam-se e preparavam-se de várias outras maneiras para a entrada de Herbert 92X, que consideravam suficientemente louco para fazer alguma coisa estúpida e violenta na sala de audiências. O advogado de Herbert 92X, Albert Teskowitz, nomeado pelo tribunal, saiu do seu lugar na mesa da defesa e aproximou-se de Kramer. Era um homem magro e curvado com um casaco aos quadrados azuis claros que lhe.ficava a dançar no pescoço e umas calças castanhas que com certeza nunca haviam sido apresentadas ao casaco. O seu cabelo ralo e grisalho era da cor do gelo. Lançou a Kramer um sorrisinho divertido, como se dissesse: «A charada vai começar».
— Então, Larry — disse — estás preparado para a sabedoria de Alá?
— Deixa-me perguntar-te uma coisa — disse Kramer. — O Herbert escolhe o material todos os dias na ideia de comentar de uma maneira ou de outra a evolução do julgamento, ou abre o livro ao acaso? Ainda não percebi.
— Não sei — disse Teskowitz. — Para te dizer a verdade, eu evito cuidadosamente o assunto. Abordá-lo, ainda que de passagem, é perder pelo menos uma hora da minha vida. Já alguma vez falaste com um louco cheio de lógica? São muito piores do que os loucos normais.
Teskowitz era tão mau advogado que Kramer tinha pena de Herbert. Mas de qualquer maneira, mesmo sem isso já tinha pena dele. O nome legal de Herbert 92X era Herbert Cantrell; 92X era o seu nome muçulmano. Era camionista de um distribuidor de bebidas. Esse, entre outros factos, levava Kramer a pensar que o homem não era um verdadeiro muçulmano. Um verdadeiro muçulmano não quereria ter nada a ver com bebidas. Fosse como fosse, um dia o camião de Herbert fora assaltado na Willis Avenue por três italianos de Brooklyn que nas últimas décadas quase não tinham feito outra coisa senão assaltar camiões por conta de quem lhes pagasse para assaltarem camiões. Tinham ameaçado Her-bert com uma arma, tinham-no amarrado, tinham-lhe dado um murro na cara e tinham-no largado numa lixeira numa rua pouco frequentada, prevenindo-o de que só devia sair dali passada uma hora. Depois os três italianos tinham conduzido o camião ao armazém do seu patrão do momento, um distribuidor de bebidas espertalhão que cortava regularmente nas despesas roubando mercadorias. Apareceram com o camião roubado, e o capataz das cargas e descargas disse: — Ora gaita! Vocês meteram-se num lindo sarilho, meus meninos! Esse é um dos nossos camiões!
— O quê?
— É um dos nossos camiões! Estive a carregá-lo ainda não faz duas horas! Vocês trazem-nos material que a gente acabou de despachar! E deram uma surra a um dos nossos rapazes! Estão metidos num belo sarilho!
Portanto os três italianos saltaram para o camião e precipitaram-se para a lixeira, para devolverem a carga a Herbert 92X. Mas Herbert tinha conseguido sair de lá. Começaram a percorrer as ruas todas da zona à procura dele. E finalmente lá o encontraram num bar onde ele tinha entrado para se recompor do choque. Coisa, aliás, muito pouco muçulmana. Os italianos entraram para lhe pedirem desculpa e para lhe restituírem o camião, mas ele julgou que o perseguiam por ele ter ignorado a recomendação de ficar na lixeira. Por isso sacou de um revólver calibre 38 que trazia debaixo do anorak — já o tinha consigo na altura do assalto, mas aqueles tipos não lhe tinham dado hipótese de o usar — e disparou dois tiros. Não acertou em nenhum dos três italianos mas atingiu mortalmente um homem chamado Nestor Cabrillo, que tinha entrado no bar para fazer uma chamada. A arma de fogo talvez fosse indispensável à defesa pessoal de quem tinha uma profissão tão manifestamente arriscada. Mas ele não tinha licença para a usar, e Nestor Cabrillo era um cidadão saudável com cinco filhos. Portanto Herbert fora acusado de homicídio involuntário e posse ilegal de uma arma; alguém tinha de ser o procurador encarregado daquele caso, e fora a Kramer que a tarefa coubera em sorte. O caso era uma autêntica obra-prima de estupidez, incompetência e gratuidade; em suma, um caso de merda. Herbert 92X recusara todo e qualquer acordo, uma vez que encarava o sucedido como um acidente. Só lamentava que o revólver tivesse feito a sua mão desviar-se tanto. Por isso aquele caso de merda ia agora a julgamento.
Uma porta lateral, próxima da tribuna do juiz, abriu-se, e surgiu Herbert 92X acompanhado por dois guardas da Correccional. O Departamento Correccional tinha a seu cargo as celas dos detidos, que eram uma espécie de jaulas sem janelas meio piso acima da sala de audiências. Herbert 92X era um homem alto. Os seus olhos brilhavam na sombra projectada por um lenço aos quadrados, à Yasser Arafat, que lhe caía para a testa. Vestia uma túnica castanha que lhe chegava às canelas. Por baixo da túnica viam-se umas calças de cor creme, com pespontos coloridos nas costuras laterais, e uns sapatos castanhos de biqueira Tuczeh. Tinha as mãos atrás das costas. Quando os guardas o fizeram voltar-se para lhe abrir as algemas, Kramer viu que ele trazia consigo o Corão.
— Ei, Herbert! — A voz alegre de um rapazinho. Era uma das crianças, do lado de lá da divisória. Os guardas olharam-no com um ar severo. Uma mulher, ao fundo da sala, na bancada dos espectadores, gritou-lhe: — Vem já para aqui! — O rapazinho riu e correu para o lugar onde ela estava sentada. Herbert parou e voltou-se para o rapaz. A sua expressão de fúria desvaneceu-se. Dirigiu ao rapaz um sorriso aberto, tão terno e cheio de amor que Kramer engoliu em seco — e sentiu mais um pequeno espasmo de dúvida. Depois, Herbert sentou-se à mesa da defesa.
O escrivão, Bruzzielli, anunciou: — O Povo versus Herbert Cantrell, Queixa n.º 2-7-7-7.
Herbert 92X pôs-se imediatamente de pé e de braço no ar. — Ele tornou-me a chamar pelo nome errado!
Kovitsky debruçou-se sobre a sua mesa e disse pacientemente: — Mr. 92X, já lhe expliquei isso ontem, anteontem e antes de anteontem.
— Mas ele chamou-me pelo nome errado!
— Eu já lhe expliquei, Mr. 92X. O escrivão tem de obedecer aos requisitos legais. Mas, tendo em conta a sua evidente intenção de mudar de nome, que é seu pleno direito, e para o que estão previstos os devidos trâmites legais, este tribunal tratá-lo-á por Herbert 92X no decurso do presente processo. Está bem assim?
— Muito obrigado, Meretíssimo — disse Herbert 92X, ainda de pé. Abriu o Corão e começou a folheá-lo. — Esta manhã, Meretíssimo...
— Podemos começar?
— Sim, senhor Juiz. Esta manhã...
— Então sen-te-se!
Herbert 92X ficou alguns instantes a olhar para Kovitsky, e depois deixou-se cair na cadeira, ainda com o Corão aberto. Com um ar amuado, perguntou: — Vai-me deixar ler ou não?
Kovitsky olhou para o seu relógio, fez sinal que sim e depois fez girar a cadeira uns quarenta e cinco graus, fixando os olhos na parede acima da bancada vazia do júri.
Sentado, Herbert 92X pousou o Corão na mesa da defesa e disse: — Esta manhã, Meretíssimo, vou ler alguns versículos do capítulo 41, intitulado «São Claramente Explicados e Revelados em Meca» «... em nome do Senhor Misericordioso... Isto é uma revelação do Deus Misericordioso... Faz-lhes saber do dia em que os inimigos de Deus se reunirão nas chamas do inferno, e avançarão em grupos distintos até que, quando lá chegarem, os seus ouvidos e os seus olhos e a sua pele testemunharão contra eles...»
Os guardas do tribunal erguiam os olhos ao céu. Um deles, Kaminsky, uma autêntica bola cuja camisa da farda mal conseguia abarcar o pneu de banha que se formava acima do cinturão, deixou escapar um suspiro audível e girou 180 graus sobre os calcanhares das suas botifarras militares de couro preto. Os procuradores e os advogados de defesa olhavam Kovitsky com um terror sagrado. Mas os guardas eram os soldados rasos, os proletários da função pública, e consideravam que Kovitsky, bem como quase todos os outros juizes, eram escandalosa e cobardemente brandos para com os criminosos... que ideia, deixar aquele maníaco instalar-se ali a ler passagens do Corão enquanto os filhos corriam pela sala a gritar «Ei, Herbert!» O raciocínio de Kovitsky parecia ser o seguinte: como Herbert 92X era um exaltado, e uma vez que aquelas leituras do Corão o acalmavam, a longo prazo ele estava a poupar tempo ao proceder assim.
«... combate o mal com aquilo que é bom, e verás que o homem que tinha contigo inimizade se tornará como que o teu melhor amigo, mas nenhum conseguirá...» — No tom de voz solene e monótono de Herbert, aquelas palavras iam caindo sobre a sala como uma chuvinha miúda... O espírito de Kramer alheou-se... A rapariga do batôn castanho... Ia em breve aparecer... Aquela simples ideia fazia-o logo endireitar-se na cadeira... Só queria ter-se visto ao espelho antes de entrar na sala... ter visto como estava o cabelo, a gravata... Contraiu o pescoço e atirou a cabeça para trás... Era sua convicção que as mulheres apreciavam especialmente os homens com esternocleidomastoideus volumosos... Fechou os olhos...
Herbert continuava a ler quando Kovitsky o interrompeu: — Muito obrigado, Mr. 92X, e agora vamos dar por encerrada a leitura do Corão.
— O quê? Eu não acabei!
— Eu disse que vamos dar por encerrada a leitura do Corão. ACHO QUE FUI BEM CLARO!
A voz de Kovitsky elevou-se tão bruscamente que os ocupantes da zona dos espectadores se sobressaltaram.
Herbert pôs-se de pé, de um salto. — O senhor está a violar os meus direitos! — Espetava o queixo na direcção de Kovitsky, e tinha os olhos inflamados de fúria. Parecia um foguete prestes a descolar.
— Sente-se!
— O senhor está a violar a minha liberdade religiosa!
— SENTE-SE, MR. 92X.
— Um julgamento fantoche, é o que é! — berrou Herbert. — Um julgamento fantoche! — Então voltou a sua fúria contra Teskowitz, que continuava sentado ao seu lado. — Veja se acorda, homem! Isto é um julgamento fantoche!
Sobressaltado e um pouco assustado, Teskowitz pôs-se de pé.
— Meretíssimo, o meu cliente...
— EU DISSE PARA SE SENTAREM! OS DOIS! Sentaram-se os dois.
— Mr. 92X, este tribunal tem sido muito indulgente consigo. Ninguém está a violar a sua liberdade religiosa. Faz-se tarde, e temos o júri à espera lá fora, numa sala do júri que já não é pintada há uns vinte e cinco anos, por isso é tempo de dar por terminada a leitura do Corão.
— Dar por terminada? Proibir, é o que é! O senhor está a violar os meus direitos religiosos!
— O réu fará o favor de CALAR A BOCA! O senhor não tem o direito de ler o Corão, nem o Talmude, nem a Bíblia, nem as palavras do Anjo Moroni, que escreveu o Livro dos Mórmones, nem qualquer outra obra de carácter espiritual, por muito divina que seja — não tem o direito de a ler nesta sala. Permita-me que lhe recorde, meu caro senhor, que não estamos no Islão. Vivemos numa república, e nesta república existe uma separação entre a Igreja e o Estado. Está a perceber? E este tribunal obedece às leis dessa república, que estão consignadas na Constituição dos Estados Unidos.
— Isso não é verdade!
— O que é que não é verdade, Mr. 92X?
— A separação da Igreja e do Estado. E posso provar-lhe que não é.
— Mas que raio de conversa é essa, Mr. 92X?
— Faça o favor de se voltar! Olhe para a parede! — Herbert estava outra vez de pé, apontando para a parede acima da cabeça de Kovitsky. Kovitsky rodou na cadeira e olhou para cima. Era verdade: lá estavam, gravadas no revestimento de madeira, as palavras IN GOD WE TRUST.
— A Igreja e o Estado! — exclamou Herbert, triunfante. — Tem-nos aí gravados na parede, por cima da sua cabeça!
Heh heh heggggh! Uma mulher começou a rir, na zona dos espectadores. Um dos guardas soltou um riso abafado, mas virou a cabeça antes que Kovitsky o identificasse. O escrivão, Bruzzielli, não conseguiu conter um sorriso. Patti Stullieri tapava a boca com a mão. Kramer olhou para Mike Kovitsky à espera da explosão.
Em vez de dar largas à irritação, Kovitsky decidiu arvorar um largo sorriso. Mas tinha a cabeça baixa, e as íris de novo a flutuarem, a dançarem num turbulento mar branco.
— Vejo que é muito perspicaz, Mr. 92X, e aplaudo-o por isso. E já que é tão perspicaz, talvez lhe ocorra que eu não tenho olhos na nuca. Mas tenho olhos na cara, e o que eles me dão a ver é um réu que está a ser julgado por acusações graves e se arrisca a ser condenado a uma pena de prisão de doze anos e meio a vinte e cinco anos, se um júri dos seus pares o considerar culpado; e gostaria que esse júri dispusesse do tempo necessário para pesar o caso na balança da justiça... COM TODA A PRECAUÇÃO E EQUIDADE!... e assim determinar a culpabilidade ou a inocência do réu. Estamos num país livre, e ninguém o pode impedir de acreditar nas divindades que quiser. Mas enquanto estiver nesta sala, o melhor que tem a fazer é acreditar no EVANGELHO SEGUNDO MIKE!
Kovitsky pronunciou estas últimas palavras com tal ferocidade que Herbert se tornou a sentar na sua cadeira. Não disse uma palavra. Em vez disso, olhou para Teskowitz. Este limitou-se a encolher os ombros e a abanar a cabeça, como se dissesse: «As coisas são assim, Herbert, não há nada a fazer».
— Façam entrar o júri — disse Kovitsky.
Um guarda abriu a porta que dava acesso à sala do júri. Kramer empertigou-se na sua cadeira, à mesa da acusação. Atirou a cabeça para trás de modo a pôr em relevo o seu vigoroso pescoço. Os jurados começaram a entrar... três negros, seis porto-riquenhos... Onde estava ela?... Ah, lá estava, a passar a porta naquele preciso instante!... Kramer nem sequer tentou ser subtil. Ficou embasbacado a olhá-la. Aquele cabelo castanho-escuro, longo e lustroso, tão espesso que uma pessoa podia enterrar nele a cabeça, dividido ao meio por uma risca e puxado para trás, revelando aquela testa branca, perfeita, puríssima, aqueles olhos grandes de pestanas opulentas, a curva perfeita daqueles lábios... desenhada a bâton castanho! Sim! Outra vez o bâton castanho! Aquela cor de caramelo, demoníaca, rebelde, perfeitamente elegante...
Kramer lançou um olhar rápido aos competidores. O escrivão, Bruzzielli, tinha os olhos cravados nela. Os três guardas estavam tão embasbacados a olhá-la que Herbert poderia ter ido dar uma volta sem que eles dessem por isso. Mas também Herbert a observava. Teskowitz olhava-a. Sul-livan, o estenógrafo do tribunal, sentado diante da máquina de estenografia, olhava-a. E Kovitsky! Kramer já tinha ouvido algumas histórias acerca de Kovitsky. Ele não parecia muito o género — mas nessas coisas nunca se sabia.
Para chegar à bancada do júri ela tinha de passar diante da mesa da acusação. Trazia vestida uma camisola de malha cor de pêssego, muito peluda, de angora ou mohair, aberta à frente, e uma blusa de seda às riscas cor-de-rosa e branca, sob a qual Kramer vislumbrou, ou julgou vislumbrar, a saliência voluptuosa dos seios. Vestia ainda uma saia creme de tecido de gabardina, tão justa que lhe realçava a curva das coxas.
O pior era que praticamente todos os homens do lado de cá da Barra da Justiça tinham a sua hipótese. Bom, Herbert não teria, mas aquele advogadozinho insignificante, Teskowitz, tinha. E até o guarda gordo que ali estava, aquele monte de banha do Kaminsky. O número de guardas do tribunal, de advogados de defesa, de escrivães, de procuradores-adjuntos (oh, sim!) e até mesmo de juizes (nem esses se podia excluir!) que já saltaram para cima (é a expressão mais adequada!) das juradas mais apetitosas que aparecem nos julgamentos de processos-crime... meu Deus! Se a imprensa deitasse a mão a uma história dessas... Mas a imprensa nunca aparecia nas salas de audiências do Bronx.
Todos os que compareciam pela primeira vez como jurados num tribunal criminal acabavam por ficar intoxicados pelo romantismo, pela alta voltagem do mundo perverso que tinham oportunidade de observar do seu camarote, e as mulheres jovens eram as mais vulneráveis de todos. Para elas, os réus não eram paparoca, longe disso. Eram desesperados.
E aqueles casos não eram casos de merda. Era dramas autênticos da vida na grande cidade. E os que tinham a coragem de enfrentar os desesperados, de lutar com eles, de os dominar, eram... homens a valer... até mesmo o guarda do tribunal com um pneu de gordura de quatro polegadas a transbordar do cinturão. Mas haveria alguém mais viril do que um jovem acusador público, a menos de dez pés do réu, apenas com o ar a separá-los, e a atirar-lhe à cara as acusações do Povo?
Agora ela estava mesmo em frente de Kramer. E devolvia-lhe o olhar. A expressão do rosto era neutra, mas o olhar era tão franco e directo! E aquele bâton castanho!
Depois afastou-se e transpôs a pequena cancela de acesso à bancada do júri. Ele não podia, apesar de tudo, virar-se na cadeira para continuar a olhá-la, mas era o que lhe apetecia fazer. Quantos homens se teriam dirigido ao escrivão, Bruzzielli, para indagar a morada e o número de telefone de casa e do trabalho da rapariga — como ele próprio fizera? O escrivão guardava as fichas com estes dados, os chamados boletins, numa caixa que tinha sobre a mesa da sala de audiências, para que o tribunal pudesse encontrar rapidamente os jurados caso fosse necessário comunicar-lhes uma mudança de horário ou de qualquer outra coisa. Como procurador do caso, ele, Kramer, podia sem perder a face, abordar Bruzzielli e pedir-lhe para ver o boletim da Rapariga do Bâton Castanho ou de qualquer outro jurado. E o advogado de defesa, Teskowitz, podia fazer o mesmo. Kovitsky podia fazê-lo sem escândalo de maior, e é claro que o próprio Bruzzielli podia ver a ficha quantas vezes lhe apetecesse. Quanto a um guarda como Kaminsky, se pedisse para dar uma vista de olhos ao boletim isso entraria na categoria... do «favorzinho». Mas não era verdade que Kramer já vira Kaminsky ao lado de Bruzzielli junto à mesa deste, embrenhados numa animada conversa... sabe-se lá sobre o quê? A ideia de que até uma criatura como o gordo Kaminsky andava atrás daquela... daquela flor... tornava Kramer mais decidido que nunca. (Havia de a salvar de todos os outros).
Miss Shelly Thomas, de Riverdale.
Era da melhor zona de Riverdale, um subúrbio arborizado que geograficamente pertencia ao Westchester County mas administrativamente fazia parte do Bronx. No North Bronx ainda havia muitos lugares agradáveis para se viver. Os habitantes de Riverdale geralmente tinham dinheiro, e também tinham as suas maneiras de se eximirem à obrigação de fazer parte dos júris. Puxavam todos os cordelinhos ao seu alcance antes de se disporem a deslocar-se ao South Bronx, à Zona 44, à ilha fortificada de Gibraltar. O júri típico do Bronx era porto-riquenho e negro, com um cheirinho de judeus e italianos.
Mas uma vez por outra uma flor rara como Miss Shelly Thomas de Riverdale aparecia nas bancadas do júri. Que nome seria aquele? Thomas era um nome de WASP. Mas também havia o Danny Thomas, que era árabe, libanês ou coisa parecida. Os WASPs eram raros no Bronx, exceptuando aqueles tipos da alta que de vez em quando vinham de Manhattan com os seus motoristas fazer boas acções em prol da Juventude do Ghetto. A organização Big Brother, o Serviço Anglicano para a Juventude, a Fundação Daedalus — todos mandavam os seus representantes ao Tribunal de Menores, que era o tribunal para criminosos com menos de dezassete anos. Tinham cada nome... Farnsworth, Fiske, Phipps, Simpson, Thornton, Frost... e vinham sempre cheios das mais nobres intenções.
Não, era muito pouco provável que Miss Shelly Thomas fosse uma WASP. Mas então o que é que ela era? Na selecção do júri Kramer conseguira apurar que ela era directora artística, o que aparentemente queria dizer uma espécie de desig-ner, na agência de publicidade Prischker & Bolka, de Manhattan. Para Kramer, aquilo sugeria uma vida indizivel-mente esplendorosa. Belas criaturas a andarem de um lado para o outro ao som de cassettes de música New Wave num escritório de paredes brancas e lisas e tijolos de vidro... uma espécie de escritório da MTV... belos almoços e jantares em restaurantes de madeiras claras, objectos de latão, iluminação indirecta e vidros martelados, translúcidos... codornizes estufadas com cogumelos, guarnecidas de batata-doce e de algumas folhas guisadas de dente-de-leão... Sim, não havia dúvida. Ela fazia parte dessa vida, frequentava os lugares que as raparigas de bâton castanho costumam frequentar!... Eele tinha os seus dois números de telefone, o da Prischker & Bolka e o de casa. Naturalmente, não podia fazer nada enquanto durasse o julgamento. Mas depois... Miss Thomas? Daqui Lawrence Kramer. Sou... ah, ainda se lembra! Óptimo! Miss Thomas, estou a telefonar-lhe porque muitas vezes, quando um destes processos importantes chega ao fim, eu gosto de tentar perceber exactamente o que é que convenceu o júri — uma dúvida que de repente o assalta... E se ela, pelo contrário, o fizesse perder o processo? Os júris do Bronx já costumavam ser bem difíceis para os procuradores.
Os seus membros saíam das fileiras daqueles que sabem que a polícia é perfeitamente capaz de mentir. Os júris do Bronx alimentavam uma grande quantidade de dúvidas, tanto razoáveis como despropositadas, e muitos réus negros e porto-riquenhos que eram cem por cento culpados, culpados até mais não, saíam da fortaleza livres como passarinhos. Felizmente, Herbert 92X tinha morto um bom homem, um homem pobre, um pai de família do ghetto. Graças a Deus! Era bem pouco provável que algum dos jurados que viviam no South Bronx sentisse grande simpatia por um maluco exaltado como Herbert. Só um ponto de interrogação como Miss Shelly Thomas poderia eventualmente sentir essa simpatia. Uma jovem branca instruída, de boas famílias, inclinações artísticas, possivelmente judia... Era o género de pessoa que podia mostrar-se idealista e recusar-se a condenar Herbert a pretexto de ele ser um negro, uma personagem romântica e já bastante perseguida pela desgraça. Mas ele tinha de correr esse risco. Não tencionava deixá-la escapar. Precisava dela. Precisava daquela vitória. Na sala de audiências, ele estava no centro da arena. Os olhos dela não o largavam, e ele sabia-o. Sentia-o perfeitamente. Já começava a haver alguma coisa entre eles... Larry Kramer e a rapariga do bâton castanho.
Os frequentadores habituais do tribunal ficaram estupefactos nesse dia com o zelo e a agressividade do procurador-adjunto Kramer, naquele caso de homicídio involuntário que não valia um tostão-.
Começou a atacar sistematicamente as testemunhas abonatórias de Herbert.
— Não é verdade, Mr. Williams, que este seu testemunho faz parte de uma transacção entre o senhor e o réu?
Mas o que é que teria dado a Kramer? Teskowitz começava a enfurecer-se. Aquele filho da mãe do Kramer ainda o deixava ficar mal! Estava a fazer vibrar a sala como se aquele caso de merda fosse o julgamento do século.
Kramer nem se dava conta do ressentimento de Teskowitz, de Herbert 92X ou fosse de quem fosse. Só havia duas pessoas naquela cavernosa sala de mogno, que eram Larry Kramer e a rapariga do bâton castanho.
No intervalo para o almoço Kramer voltou ao gabinete, tal como Ray Andriutti e Jimmy Caughey. Um procurador-adjunto com um julgamento em curso tinha direito a almoço para si e para as suas testemunhas, oferecido pelo Estado de Nova Iorque. O que isso significava, na prática, era que todos os funcionários da secção almoçavam de graça, e Andriutti e Caughey estavam na primeira linha. Esta rega-liazinha insignificante era levada muito a sério. A secretária de Bernie Fitzgibbon, Gloria Dawson, encomendou sanduíches ao serviço de almoços. E também ela teve direito a uma. Kramer pediu uma sanduíche de rosbife com uma rodela de cebola e mostarda. A mostarda vinha num pacotinho de plástico gelatinoso e selado, que teve de abrir com os dentes. Ray Andriutti comia, entretanto, um pepperoni gigante que tinha lá dentro todos os ingredientes e mais alguns, excepto duas rodelas enormes de pepino de conserva que estavam sobre a secretária, em cima de uma folha de papel. O cheiro a pickles enchia a sala. Kramer ficou a observar, com um fascínio enojado, Andriutti a debruçar-se para a frente, a inclinar-se para a secretária, de modo a que os pedaços de comida e o molho que transbordavam da sanduíche não lhe caíssem na gravata mas sim na mesa. Fazia o mesmo a cada dentada; debruçava-se sobre a secretária, e bocadinhos de comida ou pingos de molho esparrinhavam-lhe a boca, como se ele fosse uma baleia ou um atum. Ao debruçar-se, por pouco não derrubava com o queixo um copo de plástico com café que estava sobre a secretária. O copo estava tão cheio que o café desenhava uma linha curva, devido à tensão superficial do líquido. E de repente transbordou. Um regato amarelo e viscoso, da espessura de um cordel, começou a escorrer pelo lado do copo. Andriutti não deu por nada. Quando o turvo líquido amarelo chegou ao tampo da secretária, formou uma poça mais ou menos do tamanho de um meio dólar. Pouco depois era já do tamanho de umpancake. Em breve o fluido submergiu os cantos de dois pacotes de açúcar vazios. Andriutti enchia sempre o café de Cremora em pó e de açúcar, até o transformar numa espécie de bílis amarelada, doce e espessa. A sua boca aberta, com o pepperoni gigante entalado entre os dentes, continuava a passar tangentes à borda do copo. O ponto alto do dia! Um almoço de graça!
E não há maneira de isto melhorar, pensou Kramer. Não eram só os jovens procuradores-adjuntos como ele, como Andriutti ou como Jimmy Caughey. Por toda a Gibraltar, naquele momento, os representantes do Poder no Bronx, dos mais baixos aos mais altos escalões, estavam enfiados nos seus gabinetes, de espinha curvada, debruçados sobre as suas sanduíches encomendadas. À volta da mesa de conferências do gabinete de Abe Weiss estavam todos debruçados sobre as suas sanduíches, todos os que Weiss houvera por bem ou conseguira convocar nesse dia, na sua cruzada publicitária. À volta da mesa de reuniões do gabinete do chefe dos juizes administrativos da secção criminal, Louis Mastroiani, estavam todos debruçados sobre as suas sanduíches. Mesmo quando aquele digno jurista recebia a visita de alguma luminária, mesmo quando lá ia um senador dos Estados Unidos, ficavam todos ali debruçados sobre as suas sanduíches, incluindo a luminária. Uma pessoa podia subir até ao vértice do sistema judicial do Bronx e continuar a almoçar sanduíches até se reformar ou morrer.
E porquê? Porque eles, o Poder, o Poder que governava o Bronx, andavam cheios de medo! Tinham um medo terrível de sair para o coração do Bronx, em pleno dia, e de almoçar num restaurante! Um medo terrível! E eram eles que governavam o Bronx, um bairro de 1 100000 almas! O coração do Bronx estava hoje tão degradado que já não tinha nada que se parecesse com um restaurante para homens de negócios. Mas mesmo que tivesse, que juiz, que procurador ou procurador-adjunto, que guarda do tribunal, mesmo se munido de um revólver 38, sairia de Gibraltar à hora do almoço para lá ir? Em primeiro lugar havia o medo, o medo puro e simples. Quando era necessário percorria-se a distância entre o Bronx County Building e o Criminal Courts Building, ou seja um quarteirão e meio, atravessando a Grand Concourse e descendo parte da Rua 161, mas um representante prudente do Poder fazia-o com os olhos bem abertos. Havia assaltos em plena Grand Concourse, esse Ornamento do Bronx, às onze da manhã, nos dias de sol. E porque não? Saíam à rua mais malas de senhora e mais carteiras nos dias de sol do que nos outros dias. E ninguém ia mais longe do que o Criminal Courts Building. Muitos procuradores-adjuntos que tinham trabalhado dez anos em Gibraltar não faziam a mínima ideia do que havia na Rua 162 ou 163, a um quarteirão de distância da Grand Concourse. Nunca tinham posto os pés no Bronx Museum of Art, que ficava na Rua 164. Mas imaginemos que alguém se mostrava imune a esse medo. Ainda assim havia outro medo, mais subtil. Uma pessoa sentia-se estranha nas ruas da Zona 44, sentia-o imediatamente, sempre que o Destino a conduzia ao território deles. Os olhares! Os olhares! A desconfiança terrível! Uma pessoa era tudo menos bem vinda. Gibraltar e o Poder pertenciam ao Partido Democrático do Bronx, aos judeus e aos italianos, mas as ruas pertenciam aos Lockwoods e aos Arthur Riveras e aos Jimmy Dollards e aos Otis Blakemores e aos Herbert 92X.
Aquela ideia deprimiu Kramer. Ali estavam, ele e Andriutti, o judeu e o italiano, a devorar as suas sanduíches encomendadas, no interior da fortaleza, no interior do rochedo. E para quê? Que perspectivas de futuro é que eles tinham? Como é que aquele cenário poderia sobreviver o tempo suficiente para eles atingirem o topo da pirâmide, mesmo partindo da hipótese de que valia a pena atingi-lo? Mais tarde ou mais cedo os porto-riquenhos e os negros haviam de se organizar politicamente e conquistariam Gibraltar e tudo o que Gibraltar continha. E entretanto, o que é que ele estava ali a fazer? A remexer no esterco... a remexer no esterco... até lhe tirarem a vara das mãos.
Foi então que o telefone tocou.
— Está?
— Bernie?
— Deve ter pedido a extensão errada — disse Kramer — mas de qualquer maneira penso que ele não está.
— Com quem é que estou a falar?
— Kramer.
— Ah, sim, lembro-me de si. Daqui o detective Martin. Kramer não se lembrava propriamente de Martin, mas
o nome e a voz trouxeram-lhe ao espírito uma recordação vaga e desagradável.
— O que é que posso fazer por si?
— Bom, eu estou aqui no Hospital Lincoln com o meu colega Goldberg, por causa de um caso de semi-homicídio, e pensei que era melhor falar com o Bernie.
— Por acaso não telefonou para cá há umas duas horas? Não falou com Ray Andriutti?
— Falei.
Kramer suspirou. — Pois é, mas o Bernie ainda não voltou. Não lhe sei dizer onde ele está.
Uma pausa. — Merda. E se você lhe desse o recado? Outro suspiro. — O.K.
— Temos aqui um miúdo, Henry Lamb, L-A-M-B, de dezoito anos, que está na unidade de cuidados intensivos. Apareceu cá no hospital ontem à noite com um pulso partido. Está a ver? Quando cá apareceu, pelo menos segundo diz a ficha que aqui tenho, ele não falou de atropelamento nenhum. Disse que tinha caído. Percebe? Portanto trataram-lhe do pulso na urgência e mandaram-no para casa. Hoje de manhã a mãe do miúdo torna a trazê-lo cá, e afinal tem um traumatismo craniano, e está em coma, e os médicos dizem que é provável que não sobreviva. Está a ver?
— Estou a ver.
— O miúdo já estava em coma quando nos mandaram chamar, mas uma enfermeira diz que ele contou à mãe que tinha sido atropelado por um carro, um Mercedes, e que o carro não tinha parado, e que o rapaz sabia parte da matrícula.
— Há testemunhas?
— Não. A enfermeira é que me disse isto tudo. Ainda nem sequer encontrámos a mãe.
— Mas afinal foram dois acidentes ou só um? Você falou de um pulso partido e de um traumatismo craniano.
— Foi só um, segundo a enfermeira, que está indignadíssima e não me larga, porque diz que foi de certeza alguém que atropelou o rapaz e fugiu. É uma confusão do caralho, mas achei melhor dizer ao Bernie, para o caso de ele querer fazer alguma coisa.
— Bom, eu digo-lhe, mas não sei o que é que isto tem a ver connosco. Não há testemunhas, não há condutor, o tipo está em coma... mas eu digo-lhe.
— Pois é, eu sei. Se encontrarmos a mãe e descobrirmos mais alguma coisa, diga ao Bernie que eu lhe telefono.
— O.K.
Depois de desligar, Kramer escrevinhou à pressa um recado para Bernie Fitzgibbon. A vítima esqueceu-se de referir que tinha sido atropelada por um automóvel. Um típico caso do Bronx. Mais um caso de merda.
6 - Um Condutor de Massas
Na manhã seguinte Sherman McCoy teve uma experiência inteiramente nova nos seus oito anos de serviço na Pierce & Pierce. Não conseguiu concentrar-se. Geralmente, assim que entrava na sala de compra e venda de obrigações, assim que via o brilho do grande vidro fumado e mergulhava no fragor da legião de homens jovens desvairados pela avidez e pela ambição, tudo o mais na sua vida desaparecia e o mundo transformava-se naqueles pequenos símbolos verdes que deslizavam nos écrans negros dos terminais de computador. Mesmo na manhã que se seguira ao telefonema mais estúpido da sua vida, a manhã em que acordara a perguntar a si próprio se a mulher iria deixá-lo e levar consigo a coisa mais preciosa que ele tinha neste mundo, ou seja, Campbell — mesmo nessa manhã ele tinha entrado na sala de compra e venda de obrigações e, como que por magia, a existência humana resumira-se imediatamente às obrigações francesas com garantia-ouro e à emissão do Governo americano de obrigações a prazo de vinte anos. Mas agora era como se tivesse duas fitas gravadas diferentes dentro do crânio e o mecanismo não parasse de saltar de uma para outra, sem que Sherman conseguisse ter sobre ele o menor controlo. No écran:
«U Frag 1396 102.» Desceram um ponto, caramba! As obrigações da United Fragance, a prazo" de treze anos, que venceriam em 1996, tinham ontem descido de 103 para 102,5.
Agora, a 102, o juro passava a ser de 9,75 por cento, e Sherman perguntava a si próprio o seguinte:
Teria sido forçosamente numa pessoa que o carro batera quando ela tinha recuado? Não poderia ter sido um pneu, um caixote do lixo ou alguma coisa inteiramente diferente? Tentou sentir de novo o baque no seu sistema nervoso central. Era um... thok... uma pequena pancada. Não fora, realmente, um grande choque. Podia ter sido uma coisa qualquer. Mas então invadiu-o o desânimo. O que é que podia ter sido senão o rapaz alto e magrinho?... e depois viu aquele rosto escuro e delicado, a boca aberta de medo... Ainda não era demasiado tarde para ir à Polícia! Trinta e seis horas — não, quarenta — como é que ele havia de pôr o problema? Acho que nós — quer dizer, a minha amiga Mrs. Ruskin e eu — talvez tenhamos... por amor de Deus, homem, vê se te controlas! Passadas quarenta horas não seria uma participação de acidente, seria uma confissão! És um Senhor do Universo. Se estás aqui no quinquagésimo andar da Pierce & Pierce é porque não te vais abaixo nas situações difíceis. Este pensamento agradável deu-lhe alento para se dedicar à tarefa que tinha entre mãos, e tornou a concentrar a sua atenção no écran.
Os números deslizavam, linha a linha, como que pintados por um pincel verde-fosforescente, e já antes tinham estado a deslizar e a mudar diante dos seus olhos, mas sem se registarem no seu espírito. Sobressaltou-se. A United Fragrance já ia nos 101 7 8, o que representava um juro de quase dez por cento. Haveria algum problema? Mas ainda na véspera ele tinha pedido à Auditoria que a examinasse, e a verdade é que a United Fragrance estava em excelente forma, eram boas acções. Agora só precisava de saber o seguinte:
Viria alguma coisa em The City Light? O jornal estava ali no chão, aos seus pés. Não vinha nada no Times, nem no Post nem no Daily News, que ele folheara no táxi a caminho do emprego. A primeira edição do City Light, um jornal da tarde, só saía depois das 10 da manhã. Por isso, havia vinte minutos dera a Felix, o engraxador, cinco dólares para ir à rua buscar-lhe The City Light. Mas como é que o podia ler? Nem sequer podia permitir que o vissem com o jornal em cima da secretária. Ele, não; e principalmente depois do raspanete que pregara ao jovem Senor Arguello. Por conseguinte tinha-o debaixo da secretária, no chão, a crepitar a seus pés. O jornal crepitava, e ele estava em brasa. Ardia de vontade de o agarrar e folhear... ali mesmo... e tanto pior para as aparências... Mas é claro que aquilo era irracional.
Aliás, que diferença fazia lê-lo agora ou seis horas mais tarde? O que é que isso alteraria? Não podia alterar grande coisa, com certeza. Mas Sherman continuou em brasa, até começar a sentir que não aguentava mais.
Merda! Alguma coisa se estava a passar com as obrigações de treze anos da United Fragrance! Estavam outra vez nos 102! Outros compradores tinham farejado a pechincha! Age depressa! Marcou o número de Oscar Suder, em Cleve-land, mandou chamar o seu ajudante-de-campo, Frank... Frank... Como é que era o apelido dele?... Frank... Frank, o doughnut... —r Frank? É Sherman McCoy, da Pierce & Pierce. Diga a Oscar que eu lhe posso arranjar obrigações de treze anos da United Fragrance, a vencer em 96, com um juro de 9.75, se ele estiver interessado. Mas olhe que estão a subir.
— Espere um minuto. — O doughnut voltou passados instantes. — O Oscar quer três.
— Muito bem. Óptimo. Três milhões de obrigações de 13 anos de 96 da United Fragrance.
— Isso mesmo.
— Obrigado, Frank, e cumprimentos ao Oscar. Ah, e diga-lhe que um dia destes torno a contactar com ele por causa da Giscard. O franco desceu um bocadinho, mas isso é um problema fácil de resolver. De qualquer maneira eu depois falo-lhe.
— Está bem, eu digo-lhe — disse o doughnut de Cleveland.
... ainda não tinha acabado de preencher o formulário da encomenda para o entregar a Muriel, a assistente de vendas, quando se pôs a pensar: Talvez eu devesse consultar um advogado. Talvez devesse telefonar ao Freddy Button. Mas ele conhecia Freddy bem de mais. Afinal de contas, o Freddy trabalhava na Dunning Sponget. O pai é que lhe tinha indicado o nome dele... e se ele fosse dizer alguma coisa ao Leão? Não, não ia fazer uma coisa dessas — ou será que fazia? Freddy considerava-se como um amigo da família. Conhecia Judy, e perguntava por Campbell sempre que falava com Sherman, embora fosse provavelmente homossexual. Ora, os homossexuais também podiam gostar de crianças, não podiam? Freddy, aliás, tinha filhos. O que não queria dizer que não fosse homossexual, claro — meu Deus! Mas o que lhe importava a vida sexual de Freddy Button? Era uma estupidez deixar o espírito errar daquela maneira. Freddy Button. Havia de se sentir um perfeito idiota se contasse a história a Freddy Button e fosse tudo falso alarme... o que era o mais provável. Dois malandros tinham tentado assaltá-lo a ele e à Maria, e tinham tido o que mereciam. Um confronto na selva, segundo a lei da selva; era apenas isso que se tinha passado. Por alguns instantes tornou a sentir-se perfeitamente bem consigo próprio. A lei da selva! O Senhor do Universo!
Então o balão esvaziou-se. Eles não tinham chegado a ameaçá-lo abertamente. Ouça lá! Precisa de ajuda? E, muito provavelmente, Maria tinha-o atropelado. Sim, foi Maria. Não era eu que ia a guiar. Ela é que ia a guiar. Mas será que isso o ilibava de todas as responsabilidades aos olhos da lei? E será que...
O que era aquilo? No écran, as obrigações de treze anos da United Fragrance passavam para 102 18. Ah! Aquilo significava que, ao agir prontamente como agira, ele acabava de ganhar um quarto de um por cento nos três milhões de obrigações de Oscar Suder. Havia de lho dizer no dia seguinte. Sempre ajudava no negócio da Giscard — mas se alguma coisa acontecesse ao... thok... àquele rapaz alto e delicado... Os pequenos símbolos verdes brilhavam radioactivamente no écran. Não se moviam pelo menos há um minuto. Sherman já não podia mais. Ia à casa de banho. Não havia nenhuma lei que o impedisse. Tirou da secretária um grande envelope de papelão. A dobra tinha um fio que se atava à volta de um disco de papel para o fechar. Era o tipo de envelope que se usava para enviar documentos de uma secção para outra. Percorreu com o olhar a sala de compra e venda de obrigações para ver se tinha o caminho desimpedido e depois meteu a cabeça debaixo da secretária, enfiou The City Light no envelope e dirigiu-se para a casa de banho.
Havia quatro cubículos, dois urinóis e um grande lavatório. No cubículo, apercebeu-se de que o jornal farfalhava ruidosamente quando o tirou do envelope. Como é que ia conseguir virar as folhas? Cada virar de página, com os seus estalidos, o seu crepitar, o seu farfalhar, seria a proclamação estridente de que um calaceiro qualquer estava ali a passar os olhos pelo jornal. Recuou os pés em direcção à base da sanita de porcelana. Assim ninguém poderia vislumbrar, por baixo da porta do cubículo, os seus sapatos de passeio New & Lingwood, de sola grossa e pala chanfrada, e concluir: «Ah! McCoy».
Escondido atrás da porta da casa de banho, o Senhor do Universo começou a percorrer o jornal a uma velocidade louca, página a página — malditas páginas!
Não havia nada, nenhuma referência a um rapaz atropelado na rampa de acesso a uma via rápida, no Bronx. Sentiu-se muitíssimo aliviado. Tinham passado quase dois dias inteiros — e nada. Meu Deus, que calor que ali fazia. Transpirava horrivelmente. Como é que se deixara descontrolar daquela maneira? Maria tinha razão. As feras tinham atacado, ele vencera as feras, tinham escapado os dois sãos e salvos, e ponto final. Triunfara, apenas com as suas mãos nuas!
E se tivessem atropelado o rapaz e a Polícia andasse à procura do carro, mas os jornais não achassem a história suficientemente importante para a publicarem?
A febre começava de novo a subir-lhe. E se alguma coisa acabasse por aparecer nos jornais... mesmo que fosse uma simples alusão... Como é que ele ia conseguir fechar o negócio da Giscard com uma nuvem daquelas sobre a cabeça?... Seria o fim!... o fim!.. E ao mesmo tempo que tremia de medo ante a perspectiva de semelhante catástrofe, sabia que era por motivos supersticiosos que se comprazia em prever essa hipótese. Se ruminasse conscientemente uma ideia tão horrível, nada daquilo poderia acontecer, pois não?... Deus ou o Destino recusar-se-iam a ser antecipados por um simples mortal, não é verdade?... Deus fazia questão de conferir sempre aos seus desastres a pureza do imprevisto, não era?... Todavia — todavia — certas formas de desgraça são tão óbvias que talvez não se pudesse evitá-las daquela maneira... À mais leve suspeita de escândalo...
... ficou ainda mais desanimado. À mais leve suspeita de escândalo, não só o projecto Giscard iria por água abaixo como a sua própria carreira chegaria ao fim! E o que é que ele faria, então? Com um milhão de dólares por ano já estou à beira da falência! Os números, assustadores, sucederam-se-lhe no cérebro. No ano anterior ganhara 980000 dólares. Mas tivera de pagar 21000 dólares por mês pelo empréstimo de 1,8 milhões que contraíra para pagar o apartamento. O que eram 21000 dólares por mês para quem ganhava um milhão por ano? Isso era o que ele tinha pensado na altura — mas afinal era pura e simplesmente um fardo temível, esmagador, nem mais, nem menos! Eram 252000 dólares por ano, sem deduções de qualquer espécie, porque se tratava de um empréstimo pessoal e não de uma hipoteca. (A administração dos Belos Prédios da Park Avenue como o dele não autorizava hipotecas sobre os apartamentos.) Portanto, tendo em conta os impostos, era necessário contar com um rendimento de 420000 dólares para pagar os 252000. Dos restantes 560000, 44400 tinham ido para as despesas do condomínio; 116000 para a casa de Old Drovers Mooring
Lane, em Southampton (84000 para a hipoteca e respectivos juros, 18000 para o aquecimento, as despesas correntes, o seguro e as obras, 6000 para o jardineiro que aparava o relvado e as sebes, 8000 para os impostos). As recepções em casa ou em restaurantes tinham somado 37000 dólares, o que era uma quantia modesta quando comparada com o que outras pessoas gastavam; a festa de aniversário de Campbell em Southampton, por exemplo, só tivera um carrocel (além, é claro, do ilusionista e dos póneis, que eram obrigatórios) e custara menos de 4000 dólares. O Colégio Taliaferro, incluindo a carrinha, custava 9 400 dólares por ano. A despesa com o vestuário e as mobílias rondara os 65000, e seria muito difícil reduzi-la, uma vez que Judy era, afinal de contas, decoradora e tinha de se ir mantendo à altura das suas funções. Os criados (Bonita, Miss Lyons, Lucille, a mulher da limpeza, e Hobie, o faz-tudo de Southampton) ficavam por 62000 dólares por ano. Com tudo isto sobravam só 226 200 dólares, ou seja 18 850 por mês, para os impostos adicionais, para isto e para aquilo, incluindo os seguros (cerca de mil dólares por mês, em média), o aluguer da garagem dos dois carros (840 dólares por mês), a alimentação (1 500 dólares por mês), as quotas do clube (cerca de 250 dólares por mês)... a terrível verdade é que ele gastara mais de 980000 dólares no ano anterior. Bom, era evidente que poderia poupar aqui e ali — mas não o suficiente — se acontecesse o pior! Não havia hipótese de fugir ao empréstimo de 1,8 milhões de dólares, à esmagadora «bolada» de 21000 dólares por mês, a não ser pagar tudo ou mudar-se para um apartamento bem mais pequeno e modesto — uma impossibilidade! Não se podia voltar atrás! Depois de se ter vivido num apartamento de 2,6 milhões na Park Avenue, tornava-se impossível viver num apartamento de 1 milhão. É claro que não se podia explicar uma coisa destas a quem quer que fosse. Só um perfeito idiota daria voz a semelhante ideia. E, no entanto — era assim mesmo! Era... uma impossibilidade! Caramba, o seu prédio era um dos melhores entre os que tinham sido construídos pouco antes da Primeira Grande Guerra! Nessa altura ainda não se considerava de muito bom tom para as melhores famílias viver num apartamento (e não numa casa). Por isso os apartamentos eram construídos como mansões, com tectos de onze, doze, treze pés de altura, átrios imensos, escadarias, alas dos criados, soalhos de madeira envernizada, paredes interiores de um pé de espessura, paredes exteriores da espessura das muralhas de uma fortaleza, e lareiras, lareiras, lareiras, embora todos os prédios tivessem aquecimento central. Uma mansão! — com a única diferença de que se chegava à porta de casa via elevador (que dava para o vestíbulo particular de cada condómino) e não directamente da rua. Era o que se obtinha por 2,6 milhões de dólares, e quem quer que pusesse os pés no átrio do duplex do décimo andar dos McCoys perceberia logo que estava... num daqueles fabulosos apartamentos que o mundo inteiro, le monde, invejava! E por um milhão o que é que se obtinha? Quando muito, quando muito, quando muito: um apartamento com três quartos de cama — sem quartos para criados nem para visitas, e muito menos quartos de vestir ou um solário — num daqueles edifícios altos, de tijolos brancos, construídos no extremo leste da Park Avenue nos anos 60, com tectos de 8 pés e meio de altura, com sala de jantar mas sem biblioteca, com um átrio do tamanho de um cubículo, sem lareira, com ombreiras das portas de madeira barata, na melhor das hipóteses; com paredes de estuque que deixam passar o menor ruído, e nada de acesso individual ao elevador. Oh, não; em vez disso, um reles patamar sem janelas com umas cinco ou seis portas metálicas de um bege bilioso, pateticamente banais, cada uma delas protegida por dois ou mais feios cadeados, destinando-se cada um daqueles mórbidos portais ao respectivo inquilino.
Uma impossibilidade... evidente!
Ficou ali sentado com os seus sapatos New & Lingwood de 650 dólares colados à base branca e fria da sanita, com o jornal amarrotado nas mãos trémulas, a imaginar Campbell, de olhos rasos de lágrimas, atravessando pela última vez o átrio de mármore do décimo andar, iniciando a sua descida aos abismos infernais.
Eu previ tudo isto, meu Deus, portanto não podes deixar que semelhante coisa aconteça!
A Giscard!... Tinha de agir depressa! Tinha de ter um contrato impresso!... Esta ideia apoderou-se bruscamente do seu espírito, ter um contrato impresso. Quando se concluía, quando se fechava definitivamente um negócio tão importante como o da Giscard, todas as cláusulas ficavam consignadas num contrato que era mandado imprimir numa tipografia, literalmente imprimir. Tenho de conseguir um contrato impresso! Conseguir um contrato!
E ali ficou, a cavalo numa sanita de porcelana branca, implorando ao Todo-Poderoso que lhe concedesse um contrato.
Dois jovens brancos estavam muito bem sentados numa mansão de Harlem a olhar fixamente um velho negro. O mais novo, o que falava, parecia transtornado pelo que via. Sentia-se como se se tivesse separado do seu corpo por projecção astral e ouvisse como um espectador as suas próprias palavras à medida que lhe iam saindo da boca.
— Não sei muito bem como hei-de dizer isto, Reverendo Bacon, mas a verdade é que nós... quer dizer, a diocese... a Igreja Anglicana... entregámos-lhe 350000 dólares de donativos para a criação do Infantário Bom Pastor, e recebemos ontem um telefonema de um jornalista que nos disse que a Administração dos Recursos Humanos tinha indeferido o seu pedido de alvará há nove semanas, e, bom, quer dizer, nós não podíamos acreditar em semelhante coisa. Era a primeira informação que tínhamos sobre o assunto, e...
As palavras continuaram a sair-lhe da boca, mas o jovem, cujo nome era Edward Fiske III, deixara de pensar naquilo que dizia. Pusera a voz no automático, enquanto o seu espírito tentava compreender a situação em que se encontrava. A sala era um amplo salão Beaux Arts cheio de arquitraves e cornijas de carvalho polido, de rosetas de estuque e objectos vários com reflexos dourados, pilastras caneladas nos cantos e rodapés trabalhados, tudo cuidadosamente restaurado de acordo com o estilo original da viragem do século. Era o tipo de mansão que os barões da indústria têxtil construíam em Nova Iorque antes da Primeira Grande Guerra. Mas agora o barão daquele palácio, sentado atrás de uma enorme secretária de mogno, era um negro.
A sua cadeira giratória de espaldar alto era forrada de couro de uma bela cor de sangue. O seu rosto não reflectia qualquer emoção. Era um desses homens magros e ossudos que, sem serem musculosos, conseguem transmitir uma impressão de força. A sua cabeleira preta, já com entradas, estava penteada para trás, mas a duas polegadas da raiz os cabelos frisavam-se, em cachos de pequenos caracóis. Vestia um fato preto de casaco assertoado e lapelas pontiagudas, uma camisa branca de colarinho alto e engomado, e uma gravata preta com largas riscas diagonais brancas. No pulso esquerdo tinha um relógio com uma tal quantidade de ouro que irradiava tanta luz como um candeeiro.
Fiske começou a ouvir, com uma acuidade excessiva, o som da sua própria voz. —... então fizemos — aliás, eu fiz — um telefonema para a ARH, e falei com um tal Mr. Lubidoff, que me disse — e eu limito-me a repetir o que ele me disse — que vários... ou melhor, que sete dos nove directores do Infantário Bom Pastor têm cadastro, e três deles estão em liberdade condicional, o que significa que tecnicamente, legalmente — e olhou para o seu jovem colega, Moody, que era advogado — são considerados ou reputados ou, melhor dizendo, não perderam ainda o seu estatuto de presos.
Fiske fitou o Reverendo Bacon, abriu muito os olhos e arqueou as sobrancelhas. Era uma tentativa desesperada para convencer o barão a transformar aquele vazio num diálogo. Não se atrevia a fazer-lhe perguntas, a interrogá-lo. O máximo que podia esperar fazer era apresentar certos factos que o obrigariam, pela própria lógica da situação, a dar uma resposta.
Mas o Reverendo Bacon nem sequer alterou a expressão do rosto. Ficou a olhar para o jovem como se ele fosse um hamster engaiolado, a correr na sua roda. O bigode fininho que lhe debruava o lábio superior não se moveu. E, em vez de falar, o Reverendo começou a tamborilar na secretária com os dois primeiros dedos da mão esquerda, como se dissesse: «E daí?»
Não foi o Reverendo Bacon, mas sim o próprio Fiske que não suportou aquele vazio e tornou a mergulhar de cabeça no problema.
— Daí que... bom, aos olhos da ARH... segundo a perspectiva deles... e são eles a autoridade que concede os alvarás dos infantários... bom, o senhor sabe com certeza a importância que eles dão... eles são extremamente sensíveis a esta questão dos infantários... é um problema político de primeira grandeza... e três dos directores do Infantário Bom Pastor, os que estão em liberdade condicional, continuam presos, porque as pessoas em liberdade condicional continuam a cumprir uma pena de prisão e não deixam de estar sujeitas a todas as... todas as... bom, o senhor bem sabe... e os outros quatro também têm cadastro, o que por si só já bastaria para... para... Bom, os regulamentos não o permitem...
As frases saíam-lhe em jorros entrecortados, enquanto o seu espírito percorria ansiosamente a sala em busca de uma saída. Fiske era um desses jovens brancos espantosamente saudáveis que conservam as boas cores de um rapaz de treze anos até terem quase trinta. Mas por essa altura o seu belo rosto claro começava a ficar vermelho. Estava embaraçado. Não, estava cheio de medo. Dentro de instantes teria de entrar na questão dos 350000 dólares, a menos que o seu sócio, Moody, o advogado, o fizesse por ele. Meu Deus do céu, como é que se metera naquela embrulhada? Depois de sair de Yale, Fiske tinha ido para a Wharton School of Business, onde redigira uma tese de mestrado intitulada Aspectos Quantitativos do Comportamento Ético numa Empresa de Capital Intensivo. Nos últimos três anos fora-lhe confiada a Direcção dos Contactos com as Comunidades da Diocese Anglicana de Nova Iorque, cargo que o levara a ocupar-se do substancial apoio moral e financeiro que a diocese dera ao Reverendo Bacon e às suas obras. Mas mesmo nos auspiciosos e cordiais primeiros tempos, dois anos antes, alguma coisa o incomodava já naquelas viagens à grande e velha casa de Harlem. Desde o início, mil pequenas coisas tinham, por assim dizer, mordido as canelas do seu profundo liberalismo intelectual, a começar por aquela história do «Reverendo». Todos os homens de Yale, ou pelo menos todos os que, de entre eles, eram anglicanos, sabiam que Reverendo é um adjectivo e não um nome. Exactamente como o Ilustre que precede o nome de um legislador ou de um juiz. Uma pessoa podia falar do «Ilustre William Rehn-quist», mas nunca o trataria por «Ilustre Rehnquist». Do mesmo modo, podia-se falar do «Reverendo Reginald Bacon», ou do «Reverendo Mr. Bacon», mas não se conversava com ele tratando-o por «Reverendo Bacon» — a não ser naquela casa e naquela parte da cidade, onde se chamava ao homem o que ele bem quisesse que lhe chamassem, e o melhor que havia a fazer era esquecer Yale. A verdade é que Fiske já então, nesses primeiros tempos em que tudo eram sorrisos, achava o Reverendo Bacon uma figura temível. Estavam de acordo em quase todas as questões filosóficas e políticas. E, no entanto, não estavam de modo nenhum próximos um do outro. Além disso, os primeiros tempos da relação entre ambos já tinham passado. Estavam agora naquilo a que se poderia chamar os últimos tempos.
— ... Portanto, como é evidente, temos aqui um problema, Reverendo Bacon. Enquanto não resolvermos esta questão do alvará — e só tenho pena que não tenhamos tido conhecimento do facto há nove semanas, quando o pedido foi indeferido — bom, não vejo maneira de o projecto ir para a frente até as coisas se resolverem. Não é que não haja solução, claro — mas temos que... bom, a primeira coisa que temos a fazer, parece-me, é sermos muito realistas quanto aos 350000 dólares. Naturalmente, esta direcção — quer dizer, a actual direcção — não pode gastar esses dinheiros no infantário, porque vai ter de ser remodelada, ao que me parece, o que no fundo representa uma remodelação de todo o projecto, coisa que demorará algum tempo. Talvez não muito tempo, mas seguramente algum, e...
Enquanto assim ia avançando a custo, Fiske lançou uma olhadela de esguelha ao seu colega. Aquele tipo, aquele Moody, não parecia absolutamente nada ralado. Estava ali sentado na sua poltrona, com a cabeça inclinada para um dos lados, imperturbável, como se já tivesse percebido a jogada do Reverendo Bacon. Era a sua primeira ida à Casa Bacon, e ele parecia encará-la como um divertimento. Era o último estagiário que a firma Dunning Sponget & Leach impingira à diocese, cliente que eles consideravam prestigioso mas «fácil». No trajecto de carro, o jovem advogado dissera a Fiske que também ele tinha andado em Yale. E tinha pertencido à equipa de futebol da universidade. Conseguira arranjar maneira de mencionar esse facto pelo menos umas cinco vezes. Depois entrara no quartel-general do Reverendo Bacon como se levasse entre as pernas um barril de Dort-munder Light. Sentara-se no cadeirão e recostara-se, regiamente descontraído. Mas não dizia nada. — Por isso, entretanto, Reverendo Bacon — prosseguiu Ed Fiske — pareceu-nos que o mais prudente seria... discutimos o assunto na diocese... e não fui só eu que cheguei a esta conclusão, foi toda a gente... pensámos que o mais prudente... quer dizer, a única coisa que nos importa é o futuro do projecto do Infantário Bom Pastor... porque continuamos a apoiar cem por cento o projecto... as coisas não mudaram nesse aspecto... pensámos que o mais prudente seria depositar os 350000 dólares... descontando o dinheiro que já foi gasto no aluguer da casa da Rua 129, evidentemente... devíamos depositar os restantes... sei lá... 340000 dólares, ou a soma que for, numa conta conjunta, e depois, quando o senhor tiver resolvido o problema da direcção e obtido o alvará da ARH, quando não houver mais formalidades a cumprir, o dinheiro ser-lhe-á entregue a si e à nova direcção, e, bom, é... é mais ou menos isso!
Fiske tornou a arregalar os olhos e a arquear as sobrancelhas, esboçando ainda um sorrisinho conciliador, como se dissesse: «Ei! Olhe que estamos todos no mesmo barco, não se esqueça!» Olhou para Moody, que continuava a fitar, imperturbavelmente, o Reverendo Bacon. O Reverendo Bacon nem pestanejou, e qualquer coisa naquele seu olhar implacável levou Fiske a concluir que talvez fosse imprudente continuar a fitá-lo nos olhos. Olhou os dedos do Reverendo, que continuavam a tamborilar na secretária. Nem uma palavra. Então passou a examinar o tampo da secretária. Havia em cima dela um grande e bonito mata-borrão forrado de couro, um conjunto Dunhill de caneta e
lapiseira de ouro sobre uma base de onix, uma colecção de pesa-papéis e medalhas revestidas de matéria plástica, várias delas dedicadas ao Reverendo Bacon por diversas organizações cívicas, uma pilha de papéis seguros por um pesa-papéis que consistia principalmente nas letras WNBC-TV em latão maciço, um intercomunicador com uma fila de botões e um grande cinzeiro em forma de caixa, com os lados forrados de couro, arestas de latão e uma tampa gradeada também de latão...
Fiske manteve os olhos baixos. O silêncio era preenchido pelos sons do resto da casa. No andar de cima, muito abafado pelos soalhos e paredes grossas da mansão, o eco débil de um piano... Moody, sentado ali mesmo ao lado, talvez nem tenha dado por isso. Mas Fiske era capaz de cantar mentalmente as letras que acompanhavam aqueles acordes sonoros e vibrantes.
«Reinado de mil a-nos...
Vão ser... vão ser...»
Sonoros acordes, «Mil anos, oh mil anos... de eter-nidade...
Senhor dos senhores
Re-ei dos reis...»
Mais acordes. Um oceano de acordes. Ela estava lá em cima. Quando aquela história começara, aquela história da diocese e do Reverendo Bacon, Fiske costumava tocar, à noite, no seu apartamento, os discos da mãe do Reverendo Bacon e acompanhá-los cantando a plenos pulmões, num abandono extático — «Rei-na-do de mil a-nos!» — hino celebrizado por Shirley Caeser... Oh, ele conhecia bem os cantores gospel — ele! — Edward Fiske III, do curso de 80 de Yale! — que agora entrava legitimamente nesse rico mundo negro... O nome de Adela Bacon ainda aparecia de vez em quando nos tops de vendas de música gospel. De todas as organizações inventariadas no átrio da mansão, lá em baixo, a SOLIDARIEDADE SEM FRONTEIRAS, a IGREJA DAS PORTAS DO CÉU, a ASSOCIAÇÃO DE EMPREGO PORTAS ABERTAS, O ALERTA ÀS MÃES, a CRUZADA ANTIDROGA DAS CRIANCINHAS, a LIGA CONTRA A DIFAMAÇÃO DO TERCEIRO MUNDO, O INFANTÁRIO BOM PASTOR e todas as outras, SÓ a EMPRESA MUSICAL REINADO DE MIL ANOS, de Adela Bacon era uma firma convencional. Fiske lamentava nunca ter chegado a conhecer verdadeiramente aquela mulher. Fora ela que fundara a Igreja das Portas do Céu, que era supostamente a igreja do Reverendo Bacon mas que na prática já quase não existia. Fora ela que a dirigira; fora ela que conduzira os serviços religiosos; ela exaltara o rebanho dos fiéis da igreja com a sua espantosa voz de contralto e as ondas alterosas do seu oceano de acordes — fora ela e só ela a instância eclesiástica que ordenara o seu filho Reggie e fizera dele o Reverendo Reginald Bacon. A princípio, quando soube disto, Fiske ficou bastante chocado. Mas depois revelou-se-lhe uma grande verdade sociológica. Todas as credenciais religiosas são arbitrárias e autoproclamadas. Quem estivera na origem dos artigos de fé ao abrigo dos quais o seu patrão, o Bispo Anglicano de Nova Iorque, fora ordenado? Fora Moisés que os trouxera do alto da montanha, gravados numa pedra? Não, um inglês qualquer tinha-os concebido alguns séculos atrás, e uma quantidade de gente de rosto pálido e sisudo tinha concordado em considerá-los rigorosos e sagrados. A fé anglicana limitava-se a ser mais antiga, mais ossificada e mais respeitável do que a fé baconiana para a sociedade branca.
Mas não era o momento de se ocupar de Teologia e História da Igreja. Era o momento de recuperar 350000 dólares.
Agora ouvia o som de água a correr, de uma porta de frigorífico a abrir-se e do café a começar a ferver numa dessas máquinas novas que aquecem muito depressa. Aquilo queria dizer que a porta da pequena cozinha de serviço estava aberta. Um homem alto e negro espreitava para a rua. Vestia uma camisa azul de trabalho. Tinha um pescoço comprido e forte e usava um brinco grande de ouro, como os piratas dos livros de histórias. Era uma das coisas que aquele lugar tinha... a maneira como aqueles... aqueles... duros andavam sempre por ali a rondar. Já não pareciam a Fiske revolucionários românticos... Pareciam... A ideia do que aqueles homens podiam ser levou Fiske a desviar os olhos... Espreitou pela janela que ficava atrás da secretária de Bacon. A janela dava para um pátio das traseiras. A tarde ainda ia no início, mas o pátio só recebia uma lúgubre claridade esverdeada por causa dos prédios das ruas circundantes, que iam subindo cada vez mais. Fiske distinguia os troncos de três velhos e grandes plátanos. Eram o que restava daquilo que no seu tempo, e pelos padrões de Nova Iorque, devia ter sido um panorama bem agradável.
Os acordes abafados. No seu espírito, Fiske ouvia a belíssima voz de Adela Bacon:
«Oh, o que direi eu... Senhor?»
«Veio... mas não ficou...»
Ondas de acordes abafados.
«Uma voz... lá do alto...
Disse: A carne é como as ervas...»
Um oceano de acordes.
O Reverendo Bacon parou de tamborilar com os dedos. Apoiou as pontas dos dedos de ambas as mãos na beira do campo da secretária. Ergueu ligeiramente o queixo e disse:
— Isto aqui é Harlem.
Pronunciou aquela frase devagar e a meia voz. Estava tão calmo como Fiske estava nervoso. Fiske nunca ouvira aquele homem levantar a voz. Bacon imobilizou a expressão do rosto e a posição das mãos, de modo a permitir que o sentido das suas palavras fosse plenamente absorvido.
— Isto aqui — repetiu — é Harlem... percebem? Fez uma pausa.
— Vocês vêm aqui, passado este tempo todo, dizer-me que há cadastrados na direcção do Infantário Bom Pastor. Vêm informar-me a mim desse facto.
— Não sou eu que o venho informar, Reverendo Bacon — disse Fiske. — A Administração dos Recursos Humanos é que nos vem informar a ambos.
— Deixe-me informá-lo a si de uma coisa. Deixe-me lembrar-lhe uma coisa que você me disse a mim. Quem é que nós queremos que administre o Infantário Bom Pastor? Lembra-se? Queremos porventura que as vossas meninas de Wellesley e de Vassar venham para aqui tomar conta das crianças de Harlem? Queremos os vossos benfeitores sociais? Queremos os vossos burocratas, os vossos funcionários? Gente que passou a vida inteira no City Hall? É isso que queremos? Diga-me, é isso que nós queremos?
Fiske sentiu-se obrigado a responder. Obedientemente, como um aluno da primeira classe, disse: — Não.
— Pois não — prosseguiu o Reverendo Bacon, aprovador — não é isso que nós queremos. Ora o que é que nós queremos? Queremos que a gente de Harlem cuide das crianças de Harlem. Queremos ir buscar a nossa força... a nossa força... à nossa gente e às nossas ruas. Eu disse-lhe isto há muito, logo nos primeiros tempos. Lembra-se? Lembra-se de eu lho dizer?
— Lembro — disse Fiske, sentindo-se mais adolescente a cada minuto que passava, e mais desamparado diante daquele olhar fixo.
— Sim. Às nossas ruas. Pois muito bem: quando um jovem cresce nas ruas de Harlem, há grandes probabilidades de que a Polícia tenha uma ficha sobre esse jovem. Compreende? Terá com certeza uma ficha sobre esse rapaz. Estou a falar de um cadastro judicial. Portanto, se você disser a toda a gente que já passou pela cadeia, a todos os que saíram da cadeia e a todos os que estão em liberdade condicional, se lhes disser: «Você não pode participar no renascimento de Harlem, porque nós desistimos de si a partir do momento em que soubemos que tem cadastro»... percebe... então não é do renascimento de Harlem que está a falar. Está a falar de um lugar encantado, de um reino mágico qualquer. Está a enganar-se a si próprio. Não está à procura de uma solução radical. Está a querer jogar o velho jogo de sempre, com as velhas caras do costume. Está a querer praticar o velho colonialismo a que já estamos habituados. Compreende? Compreende o que eu estou a dizer?
Fiske preparava-se para acenar afirmativamente com a cabeça, quando, repentinamente, Moody resolveu intervir: — Ouça, Reverendo Bacon, isso já nós sabemos, mas o problema não está aí. Nós temos um problema imediato, específico, técnico, legal. Nos termos da lei, a ARH não pode emitir um alvará nas actuais circunstâncias, e quanto a isso não há nada a fazer. Portanto vamos concentrar-nos nesse problema, vamos ver a questão dos 350000 dólares, para ficarmos em condições de resolver problemas maiores.
Fiske nem queria acreditar no que ouvia. Involuntariamente, enterrou-se mais na cadeira e lançou um olhar receoso ao Reverendo Bacon. O Reverendo Bacon fitava Moody com um olhar inteiramente inexpressivo. Fitou-o durante o tempo suficiente para o envolver em silêncio. Depois, sem abrir os lábios, espetou a língua contra o interior da bochecha, fazendo-a sobressair como uma bola de golfe. Virou-se para Fiske e disse calmamente:
— Como é que vocês vieram aqui ter?
— Bom... viemos de carro — disse Fiske.
— Onde é que está o vosso carro? Que carro é? Fiske hesitou, depois disse-lho.
— Deviam ter-me prevenido mais cedo — disse o Reverendo Bacon. — Anda por aqui um mau elemento. — Então gritou: — Hei, Buck!
Veio da cozinha o homem alto do brinco de ouro. Tinha as mangas da camisa de trabalho arregaçadas. Os seus cotovelos eram impressionantes. O Reverendo Bacon aproximou-se dele; ele deu alguns passos, inclinou-se e pôs as mãos nas ancas, e o Reverendo disse-lhe alguma coisa em voz baixa. Os braços do homem formavam ângulos bizarros nas articulações dos cotovelos. O homem endireitou-se, olhou para o Reverendo Bacon com o ar mais sério deste mundo e dirigiu-se para a porta.
— Ah, Buck — disse o Reverendo Bacon. Buck deteve-se e virou-se para ele.
— Vê se me vigias esse carro.
Buck tornou a acenar com a cabeça e saiu.
O Reverendo Bacon olhou para Fiske. — Espero que nenhum desses rapazolas... bom, de qualquer maneira eles com o Buck não se metem. Ora bem, o que é que eu estava a dizer? — Tudo isto dirigindo-se a Fiske. Era como se Moody tivesse saído da sala.
— Reverendo Bacon — disse Bacon — parece-me... O intercomunicador do Reverendo Bacon zumbiu.
— Sim?
Uma voz feminina disse: — Irv Stone do Canal 1, na linha 4-7.
O Reverendo Bacon voltou-se para um telefone que estava sobre um pequeno ficheiro próximo da sua cadeira. — Está, Irv?... Bem, obrigado... Não, não. Foi principalmente a SSF, a Solidariedade Sem Fronteiras. Temos um mayor a derrotar em Novembro... Não, Irv, desta vez não. Este homem precisa mesmo de ser corrido. Mas não foi por isso que eu lhe falei. Falei-lhe por causa da Associação de Emprego Portas Abertas... pois, a Associação de Emprego Portas Abertas... Há quanto tempo? Há muito tempo, há muito tempo. Você não lê os jornais?... Bom, está bem. Foi por isso que eu lhe falei. Sabe, esses restaurantes da baixa, das East Fifties e das East Sixties, esses restaurantes onde as pessoas pagam cem dólares por um almoço e duzentos por um jantar e nem sequer pensam duas vezes no caso?... O quê? Não brinque comigo, Irv. Sabe, o restaurante onde você almoça todos os dias, La Boue dArgent? — Fiske reparou que o Reverendo Bacon não tinha a menor dificuldade em pronunciar o nome de um dos restaurantes mais caros e mais famosos de Nova Iorque. — Heh, heh, foi o que me disseram. Ou será antes o Leicesters? — Neste também acertou. Lei-cesters pronunciava-se Lesters, à maneira inglesa. O Reverendo Bacon sorria e soltava pequenas gargalhadinhas. Era evidente que estava a gozar a sua brincadeira. Fiske ficou contente por o ver sorrir — fosse lá qual fosse o motivo. — Bom, o que eu lhe pergunto é se alguma vez viu um empregado negro nalgum desses lugares. Já? Já alguma vez viu algum empregado negro?... Pois não, não viu. Em nenhum deles. E porquê?... Pois é. E os sindicatos, também. Percebe o que eu estou a dizer?... Tal e qual. Bom, isso tem que mudar.
Terça-feira, ao meio-dia, a associação vai manifestar-se diante do Leicesters, e quando despacharmos esse vamos ao La Boue dArgent, ao Macaque, ao La Grise, ao Three Ortolans e aos outros todos... Como? Não, nem por sombras. Você está sempre a falar das suas filmagens, não é, Irv? Pois uma coisa lhe garanto: vai ter muito que filmar. Está a perceber?... Quer telefonar para o Leicesters? Com certeza. Faça favor... Não, a sério. Não me importo nada.
E depois de desligar disse, como para consigo: — Espero que lhes telefone mesmo.
Então olhou para os dois jovens. — Ora bem! — disse, como se fosse chegado o momento de resolver o assunto e de os despachar de vez. — Estão a ver o que eu tenho entre mãos. É o combate da minha vida. O combate... da... minha... vida. A SSF, a Solidariedade Sem Fronteiras, tem que derrotar em Novembro o mayor mais racista da história dos Estados Unidos. A Associação de Emprego Portas Abertas tem de derrubar a barreira do apartheid no mercado de trabalho. E a Liga Contra a Difamação do Terceiro Mundo está a negociar com uns exploradores que resolveram fazer um filme absolutamente racista chamado Os Anjos de Har-lem. São só bandos de delinquentes, traficantes de droga, drogados e alcoólicos, mais nada. Estereótipos raciais. Eles estão convencidos que por meterem no filme um negro que consegue conduzir até Jesus um bando de jovens, já não são racistas. Mas são perfeitamente racistas, e têm que se aperceber dessa realidade. Portanto, aqui em Nova Iorque está a chegar o dia. Aproxima-se a hora. A batalha final, poder-se-á dizer. O Exército de Gedeão... e vocês!... vocês vêm para aqui com essa história de... essa história que não vale um caracol... esse problema insignificante da direcção do Infantário Bom Pastor!
A fúria infiltrara-se na voz do barão. Estivera prestes a dizer história de merda, e Fiske nunca o tinha ouvido dizer um único palavrão, nem sequer um «raios», desde que o conhecia. Fiske sentiu-se dilacerado entre o desejo de abandonar aquela casa antes que começasse a batalha final e o fogo dos céus caísse sobre ele, e o desejo de salvar o emprego, apesar de todas as suas razões de queixa. Fora ele quem entregara os 350000 dólares ao Reverendo Bacon. Agora tinha de os recuperar.
-
Bom — disse, apalpando o terreno — talvez o senhor tenha razão, Reverendo Bacon. E nós... a diocese... nós não estamos aqui para complicar as coisas. Francamente, nós queremos protegê-lo, e queremos proteger o nosso investimento no senhor. Demos-lhe 350000 dólares com a condição de obter o alvará para o infantário. Portanto, se nos devolver os 350000 ou 340000 dólares ou seja lá qual for o saldo exacto, e nos deixar depositá-los numa conta conjunta, então poderemos ajudá-lo. Lutaremos em defesa da sua causa.
O Reverendo Bacon olhou-o com ar absorto, como se ponderasse uma grande decisão.
— As coisas não são assim tão simples — disse.
— Porque é que não são assim tão simples?
— Já foi decidido o modo de aplicação da grande partedesse dinheiro.
— Modo de aplicação como?
— Tenho compromissos com os fornecedores.
— Fornecedores? Que fornecedores?
— Como, que fornecedores? Santo Deus, homem, os fornecedores do equipamento, da mobília, dos computadores, dos telefones, das alcatifas, do ar condicionado, dos sistemas de ventilação — é uma coisa muito importante para as crianças, um bom sistema de ventilação — dos brinquedos... É difícil lembrar-me agora de tudo.
— Mas, Reverendo Bacon — disse Fiske, erguendo a voz — o que vocês têm até agora é um velho armazém vazio! Ainda agora passei por lá! Não há nada lá dentro! Vocês nem sequer contrataram um arquitecto! Nem sequer têm um plano!
— Isso é o que menos importa. Num projecto deste tipo, o principal é a coordenação. A coordenação.
— Coordenação? Não estou a ver... bom, é possível, mas se o senhor assumiu compromissos com fornecedores, parece-me que terá de lhes explicar que vamos ser obrigados a fazê-los esperar. — Fiske receou de repente que o seu tom estivesse a ser demasiado duro. — Se não se importa, diga-me quanto dinheiro é que ainda está nas suas mãos, independentemente dos compromissos que assumiu?
— Nenhum — disse o Reverendo Bacon.
— Nenhum? Como é que isso é possível?
— Este dinheiro era a semente. Tivemos de a semear. E parte dela caiu em terreno estéril.
— Semear? Reverendo Bacon, não me diga que entregou o dinheiro a essas pessoas antes de elas fazerem o trabalho!
— São empresas das minorias. Gente da comunidade. Era o que nós queríamos. Não é verdade?
— É verdade. Mas não me vai dizer que adiantou...
— Não são empresas com as vossas «linhas de crédito», os vossos «inventários informatizados», os vossos ucash-flows escalonados», a vossa «gestão de recursos», as vossas «taxas de liquidez em função dos capitais», nem nada disso. Não são empresas que tenham reservas que lhes permitam continuar a funcionar, como as indústrias de confecções, quando a má sorte bate à porta, com o seu «vamos ser obrigados a fazê-los esperar»... percebe?... São empresas criadas por gente da comunidade. São os frágeis rebentos que nascem das sementes que nós semeamos — você, eu, a Igreja Anglicana, a Igreja das Portas do Céu. Rebentos frágeis... e você diz-me: vamos ser obrigados a fazê-los esperar. Não é apenas uma frase, não é uma mera formalidade — é uma sentença de morte. Uma sentença de morte. É o mesmo que dizer: «Façam o favor de se irem matar.». Portanto não me diga que eu vou ter de lhes explicar isso. Fazê-los esperar... diga antes que é a morte certa.
— Mas, Reverendo Bacon... estamos a falar de 350000 dólares! Com certeza...
Fiske olhou para Moody. Moody estava muito direito na cadeira. Já perdera o seu ar imperturbável, e não dizia uma palavra.
— A diocese vai... vai ter de se fazer uma auditoria — disse Fiske. — Imediatamente.
— Pois sim — disse o Reverendo Bacon. — Façam uma auditoria. Eu dou-lhes a auditoria... imediatamente. Vou-lhe dizer uma coisa. Vou-lhe explicar uma coisa acerca do capitalismo a norte da Rua 96. Na sua opinião, porque é que vocês estão a investir este dinheiro todo, estes 350000 dólares, num infantário no Harlem? Vá, porquê?
Fiske não disse nada. Os diálogos socráticos do Reverendo Bacon faziam-no sentir-se pueril e desamparado.
Mas Bacon insistiu. — Não, quero que me diga porquê. Quero ouvi-lo da sua boca. Como você diz, vamos fazer uma auditoria. Uma auditoria. Quero ouvi-lo da sua boca, pelas suas palavras. Porque é que vocês decidiram investir este dinheiro todo num infantário em Harlem?
Fiske não conseguiu resistir por mais tempo. — Porque há uma terrível falta de infantários em Harlem — disse, sentindo-se como uma criança de seis anos de idade.
— Não, meu amigo — disse Bacon brandamente — não é por isso. Se vocês estivessem assim tão preocupados com as crianças construíam vocês mesmos o infantário, e contratavam os melhores profissionais para trabalharem nele, gente com experiência. Nem vos passaria pela cabeça a ideia de contratar gente da rua. O que é que essa gente da rua percebe de infantários? Não, meu amigo, o vosso investimento é outro. Vocês estão a investir no controlo da pressão. E devem dar o dinheiro por bem empregue. Muito bem empregue.
— Controlo da pressão?
— Controlo da pressão. É um investimento de capital. Um excelente investimento. Sabe o que é o capital? Você está convencido de que é uma coisa que se possui, não é? Pensa que são as fábricas, as máquinas, os edifícios, a terra, coisas que se podem vender, e stocks, e dinheiro, e bancos, e empresas. Vocês julgam que é uma coisa que se possui porque sempre o possuíram. Vocês possuíam esta terra toda. — Fez um gesto com o braço em direcção à janela, ao sombrio pátio das traseiras e aos três plátanos. — Vocês possuíam a terra toda, e lá longe, lá no... Kansas... e no Oklahoma... toda a gente se punha em fila, e era só dizer «Um, dois, três!» e uma data de brancos desatava a correr; havia aquela terra toda, e bastava chegar a um sítio e pôr lá o pé para se ser dono dele; a pele branca era o título de propriedade... Percebe?... O pele-vermelha atravessou-se no caminho, e foi eliminado. O homem de pele amarela serviu para assentar carris no país inteiro, mas depois foi encerrado em Chinatown. E o negro esteve agrilhoado. Portanto eram vocês os donos de tudo, e ainda são, portanto julgam que o capital é ser-se dono das coisas. Mas estão enganados. O capital é controlar as coisas. Controlar as coisas. Quer um pedaço de terra no Kansas? Quer exercer o seu direito de branco à propriedade? Primeiro tem de controlar o Kansas... percebe?... Controlar as coisas. Imagino que você nunca deve ter trabalhado com uma caldeira. Eu já. Uma pessoa pode possuir as caldeiras, mas isso não lhes serve de nada a menos que saiba controlar a pressão... percebe?... Se não se souber controlar... o vapor, vai tudo para o galheiro. Se alguma vez vir uma caldeira prestes a explodir, verá uma data de gente a correr para salvar a vida. E essa gente, então, não pensará que aquela caldeira é o seu capital, não pensará nos lucros do seu investimento, não pensará em contas conjuntas, em auditorias ou em soluções mais prudentes... percebe?... Cada um dirá para consigo: «Meu Deus do céu, perdi o controlo», e correrá para salvar a vida. Para salvar a sua rica pele. Está a ver esta casa? — Fez um gesto vago, apontando o tecto. — Esta casa foi construída no ano de mil novecentos e seis por um homem chamado Stanley Lightfoot Bowman. Lightfoot. Venda por grosso de toalhas turcas e toalhas de mesa adamascadas,Stanley Lightfoot Bowman. Vendia desses turcos e dessas toalhas aos milhares. Gastou quase meio milhão de dólares nesta casa, em mil novecentos e seis... percebe?... Ali, nas escadas, ainda pode ver as iniciais do homem, em bronze, na balaustrada. Era um bom lugar para se viver em mil novecentos e seis. Construíram-se destas casas em todo o West Side, desde a Rua 72 até aqui. Pois é, e eu comprei esta casa a um... a um tipo judeu... em mil novecentos e setenta e oito, por sessenta e dois mil dólares, e o tipo ainda se deu por muito feliz por receber tanto dinheiro. Lambeu os beiços e disse com os seus botões: «Há um idiota que me dá sessenta e dois mil dólares por aquela casa.» Ora bem: o que é que aconteceu a todos os Stanley Lightfoot Bowmans? Perderam o dinheiro? Não, perderam o controlo das coisas... percebe?... Perderam o controlo da situação a norte da Rua 96, e quando perderam esse controlo, perderam o capital. Está a entender? Todo esse capital desapareceu da face da terra. A casa continuou aqui, mas o capital desapareceu... percebe?... Portanto, o que eu lhes digo é que é melhor acordarem. Vocês estão a fazer o capitalismo do futuro, só que ainda não se deram conta disso. Não é num infantário para as crianças de Harlem que estão a investir. Estão a investir nas almas... nas almas... das pessoas que passaram demasiado tempo em Harlem para o verem com olhos de criança, pessoas que cresceram com o coração cheio de uma cólera justa e a pressão da raiva a acumular-se nas suas almas, pronta a explodir. A pressão da raiva. Quando vocês aqui vêm falar de «fornecedores das minorias» e de «contratar elementos das minorias», e de infantários para a gente da rua, da gente da rua, estão a acertar na música, só que não querem acertar também na letra. Não querem dizer de uma vez por todas: «Por favor, Deus Todo-poderoso, deixa-os lá fazer o que quiserem com o dinheiro, contando que isso sirva para controlar a pressão... antes que seja demasiado tarde». Pois bem, façam a vossa auditoria, falem com a vossa ARH, ponham os pontos em todos os is e os traços em todos os tês. Entretanto, eu já tratei de investir por vossa conta, e graças a mim vocês já têm a partida ganha... Oh, façam as auditorias que quiserem! Mas em breve virá o dia em que me dirão: «Graças a Deus. Graças a Deus! Graças a Deus que registámos o dinheiro nos livros como o Reverendo Bacon nos disse». Porque aqui o conservador sou eu, não sei se já perceberam. Não fazem ideia de quem anda por essas ruas desvairadas e vorazes. Eu sou o vosso prudente intermediário no Dia do Juízo. Harlem, o Bronx e Brooklyn vão explodir, meu amigo, e nesse dia vocês não se cansarão de dar graças ao vosso prudente intermediário... que sabe controlar a pressão. Oh, sim. Nesse dia os donos do capital dar-se-ão por muito felizes se puderem trocar o que têm, renunciar aos seus direitos de nascença para controlar essa pressão voraz e desvairada. Não, volte lá para a diocese e diga: «Senhor Bispo, estive em Harlem, e venho-lhe dizer que fizemos um bom investimento. Encontrámos um intermediário cheio de prudência. Quando tudo se desmoronar, o nosso edifício ficará intacto.»
Nesse instante ouviu-se de novo o zumbido do inter-comunicador, e a voz da secretária disse: — Está ao telefone um tal Mr. Simpson, da Companhia de Seguros Citizens Mutual. Deseja falar com o presidente da Harlem — Títulos de Garantia.
O Reverendo Bacon pegou no auscultador. — Aqui Reginald Bacon... Exactamente, presidente e principal administrador... Exacto, exacto... Agradeço-lhe muito o seu interesse, Mr. Simpson, mas nós já adquirimos essa emissão... é verdade, a emissão inteira... Oh, absolutamente, Mr. Simpson, essas obrigações das escolas são muito populares. É claro que conhecer esse ramo do mercado ajuda muito, e é para isso que aqui está a Harlem — Títulos de Garantia. Queremos integrar Harlem no mercado... É verdade, é verdade, Harlem sempre esteve presente no mercado, mas de outra maneira... percebe?... Agora vamos integrar Harlem no mercado... Obrigado, obrigado... Olhe, porque é que não tenta contactar um dos nossos associados da baixa? Conhece a firma Pierce & Pierce?... Exactamente... Eles compraram uma grande parte dessa emissão, uma parte muito grande, até. Tenho a certeza de que terão o maior prazer em fazer negócio convosco.
Harlem — Títulos de Garantia? Pierce & Pierce? A Pierce & Pierce era uma das maiores e mais movimentadas firmas de investimentos da Wall Street. Uma terrível suspeita invadiu o coração, normalmente caridoso, de Fiske. Lançou um olhar de esguelha para Moody, que também olhava para ele e estava obviamente a pensar a mesma coisa. Teria Bacon investido 350000 dólares naquela compra de títulos, fosse lá ela qual fosse? Se o dinheiro entrara no mercado de títulos, podia perfeitamente ter desaparecido sem deixar rasto.
Assim que o Reverendo Bacon desligou, Fiske disse: — Não sabia que o senhor... nunca tinha ouvido... bom, talvez o senhor... mas não me parece... o que é... não pudedeixar de o ouvir... o que é a Harlem — Títulos de Garantia?
— Oh — disse o Reverendo Bacon — trabalhamos como agentes de outras companhias, sempre que estamos em condições de dar uma ajuda. Não se percebe porque é que Harlem há-de sempre comprar a retalho e vender por grosso... percebe?... Porque é que não há-de ser Harlem o agente?
Para Fiske isto era pura conversa. — Mas onde é que o senhor arranja... como é que consegue financiar... quer dizer, uma coisa dessas...
Não conseguia arranjar maneira de traduzir por palavras aquela questão espinhosa. Os necessários eufemismos escapavam-lhe. Para sua grande surpresa, Moody tornou a intervir.
— Eu sei alguma coisa acerca dessas companhias de títulos de garantia, Reverendo Bacon, e sei que exigem um capital considerável. — Fez uma pausa, e Fiske percebeu que Moody também navegava a custo no mar revolto do circunlóquio. — Bom, estou a falar de capital no sentido corrente do termo. O senhor... nós ainda agora conversávamos acerca do capital a norte da Rua 96 e do controlo... hum, da pressão, como o senhor disse... mas isto a mim parece-me capitalismo puro, capitalismo propriamente dito, não sei se percebe o que eu estou a dizer.
O Reverendo Bacon fulminou-o com o olhar, depois soltou uma gargalhada rouca e sorriu, de uma maneira desagradável.
— Não é necessário capital nenhum. Somos agentes. Apresentamos os títulos no mercado, desde que sejam para o bem da comunidade... percebe?... escolas, hospitais...
— Sim, mas...
— Como já São Paulo sabia, há muitas estradas para Damasco, meu amigo. Muitas estradas.
Aquele muitas estradas ficou no ar, impregnado de sentido.
— Sim, bem sei, mas...
— Se eu fosse a si — disse o Reverendo Bacon — não me preocupava com a Harlem — Títulos de Garantia. Se fosse a si fazia como se costuma dizer: não me metia no que não me diz respeito.
— É o que eu estou a tentar fazer, Reverendo Bacon — disse Moody. — O que me diz respeito é... bom, é uma soma de trezentos e cinquenta mil dólares.
Fiske tornou a enterrar-se na cadeira. Moody recobrara a sua coragem insensata. Fiske lançou um olhar ao devorador de insensatos que estava atrás da secretária. E nesse momento, o intercomunicador tornou a zumbir.
A voz da secretária disse: — Tenho a Annie Lamb em linha. Ela diz que tem de falar consigo.
— Annie Lamb?
— Sim, Reverendo.
Um grande suspiro. — Está bem, eu atendo. — Pegou no auscultador. — Annie?... Annie, espere um minuto. Mais devagar... O quê? O Henry?... Que coisa terrível, Annie. É muito grave?... Oh, Annie, lamento muito... Ah sim? — Uma longa pausa, enquanto o Reverendo escutava, de olhos baixos. — O que é que a Polícia diz?... Multas de estacionamento? Isso não... isso não... Estou-te a dizer que isso não... Está bem, Annie, escute. Venha até aqui contar-me a história toda... Entretanto, eu telefono para o hospital. Eles não fizeram o que deviam, Annie. Pelo menos é o que me quer parecer. Não fizeram o que deviam... O quê?... Tem toda a razão... Não há a menor dúvida. Não fizeram o que deviam, e agora vão ter que as ouvir... Não se preocupe. Venha já para aqui.
O Reverendo Bacon desligou o telefone, fez girar a cadeira na direcção de Fiske e Moody e semicerrou os olhos, olhando-os com um ar grave. — Meus senhores, tenho aqui uma emergência. Uma das minhas mais fiéis colaboradoras, uma dirigente da comunidade, comunicou-me que o filho tinha sido atropelado e o condutor do automóvel tinha fugido... o automóvel era um Mercedes-Benz. Um Mercedes-Benz... O rapaz está às portas da morte, e esta mulher está com medo de ir à Polícia, sabem porquê? Por causa de uma série de multas de estacionamento. Têm um mandato de prisão contra ela por não ter pago essas multas. Esta senhora trabalha. Trabalha na baixa, na Câmara, e precisa de levar o carro para o emprego, e eles têm um mandato de prisão por causa... das multas de estacionamento. Se o filho fosse vosso não era isso que vos impedia de ir à Polícia, mas vocês nunca viveram no ghetto. Se o filho fosse vosso eles não tinham feito o que fizeram. Não o tinham despachado para casa depois de lhe ligarem o pulso, se o rapaz tivesse um traumatismo craniano e estivesse às portas da morte... percebem?... Mas a história do ghetto é assim. Feita de negligências inconcebíveis. É o que o ghetto é... o fruto de uma negligência inconcebível... Meus senhores, a nossa reunião fica adiada. Tenho um assunto sério a tratar.
No trajecto de regresso os dois jovens de Yale não disseram grande coisa até estarem quase na Rua 96. Fiske já se dava por satisfeito por ter encontrado o carro onde o deixara, com os pneus todos cheios e o pára-brisas inteiro. Quanto a Moody — vinte quarteirões eram passados e ele ainda não dissera uma palavra acerca do facto de ter pertencido à equipa de futebol de Yale.
Finalmente, Moody disse: — Bom, e agora que tal um jantar no Leicesters? Eu conheço o maitre dhotêl, é um tipo preto e grandalhão que usa um brinco de ouro.
Fiske esboçou um sorriso mas não respondeu. A piadinha de Moody fez Fiske sentir-se superior. Parte do humor da proposta residia na Ímprobabilidade da ideia de qualquer um deles ir jantar ao Leicesters, que era nesse ano o «restaurante do século». Bom, mas a verdade é que Fiske iria ao Leicesters nessa mesma noite. Moody também não sabia que o Leicesters, embora luxuoso, não era desses restaurantes onde trabalha um exército de maitres dhotêle empregados de peitilho engomado. Era mais no género dos bares ingleses de Fulham Road. O Leicesters era o poiso favorito da colónia britânica em Nova Iorque, de que Fiske conhecia agora alguns elementos — e, bom, não podia explicar semelhante coisa a um tipo como Moody, mas a verdade é que os Ingleses sabiam o que era a arte da conversação. Fiske considerava-se como um indivíduo essencialmente britânico, britânico pelos seus antepassados e britânico por... bom, por uma certa maneira naturalmente aristocrática de viver a vida, aristocrática não no sentido da mais sumptuosa mas da melhor. Como o grande Lord Philbank, não era? — Phil-bank, um pilar da Igreja Anglicana que se servira das suas ligações na sociedade e do seu conhecimento dos mercados financeiros para auxiliar os pobres do East End.
— Agora que penso nisso — disse Moody — é verdade que nunca vi um empregado negro num restaurante de Nova Iorque, a não ser em snack-bares. Acha que o Bacon vai conseguir alguma coisa com isto?
— Depende daquilo em que você estiver a pensar.
— Bom, o que é que vai acontecer?
— Não sei — disse Fiske — mas eles têm tanta vontade de trabalhar no Leicesters como eu ou você. Acho que se contentarão com um donativo para as boas obras do Reverendo Mr. Bacon em Harlem, e passarão ao restaurante seguinte.
— Então é uma simples manobra de extorsão — disse Moody.
— Bom, isso é que é o mais curioso — disse Fiske. — É que as coisas mudam. Não sei se a ele lhe interessa que as coisas mudem ou não, mas mudam. Restaurantes de que ele nunca ouviu falar, e onde não se daria ao trabalho de ir se tivesse ouvido, começarão a contratar empregados negros em vez de esperar que lá apareça aquele Buck e os outros figurões.
— A pressão — disse Moody.
— Acho que sim, que é isso — disse Fiske. — Você não adorou aquela tirada da caldeira? Ele nunca trabalhou com caldeira nenhuma. Mas descobriu um novo filão, acho que se lhe pode chamar assim. Talvez seja até uma forma de capital, se se definir capital como qualquer coisa que se utiliza para criar mais riqueza. Não sei, talvez no fundo Bacon não seja diferente de Rockefeller ou Carnegie. Descobrem um novo filão e fazem fortuna enquanto são novos, e depois de velhos recebem prémios, têm o nome nas ruas e hospitais e são lembrados como condutores de massas.
— Está bem, então e a Harlem — Títulos de Garantia? É um filão que não me parece nada novo.
— Se fosse a si não tinha tanta certeza. Não sei muito bem do que se trata, mas vou descobrir. E uma coisa estou disposto a apostar: seja lá o que for, tem de certeza algum ponto fraco, e raios me partam se quando eu perceber qual é não ficar mais perto da solução deste problema.
Então Fiske mordeu os lábios, porque era, na verdade, um anglicano devoto que quase nunca praguejava e considerava os palavrões não apenas incorrectos mas reles. Era um dos raros pontos em que ainda agora concordava com Regi-nald Bacon.
Quando chegaram à Rua 79 e ficaram a salvo, bem dentro da Manhattan Branca, Fiske percebeu que Bacon tivera, uma vez mais, a razão do seu lado. Eles não estavam a investir num infantário, pois não?... Estavam a tentar comprar almas. Estavam a tentar sossegar a justa ira da alma de Harlem.
Olhemos os factos de frente!
Depois libertou-se daquela ideia. Fiske... meu palerma... Se não conseguisse recuperar os 350000 dólares, ou boa parte deles, ia parecer um perfeito idiota.
7 O Peixe na Rede
O telefone acordou intempestivamente Peter Fallow no interior de um ovo de casca partida que só o saco membranoso mantinha intacto. Ah! Esse saco membranoso era a sua cabeça, e o lado direito da cabeça repousava na almofada, e a gema era pesada como mercúrio, fluida como mercúrio, e comprimia-se contra a sua têmpora direita e o seu olho direito e o seu ouvido direito. Se tentasse levantar-se para atender o telefone, a gema, o mercúrio, aquela massa venenosa, deslocar-se-ia, rolaria e romperia o saco, e o seu cérebro cairia ao chão.
O telefone estava no chão, ao canto, perto da janela, sobre a alcatifa castanha. A alcatifa era repelente. Sintética; os Americanos faziam umas alcatifas pavorosas; Metalon, Streptolon, espesso, felpudo, com uma textura que lhe arrepiava a pele toda. Mais uma explosão; agora olhava a direito para o telefone, um telefone branco e um fio branco e viscoso ali enrodilhado num ninho repelente e felpudo de Streptolon. Por trás das persianas, o sol brilhava tanto que lhe feria os olhos. O quarto só apanhava luz entre a uma e as duas da tarde, quando o sol passava entre dois prédios na sua viagem através do céu. As outras divisões, a casa de banho, a cozinha e a sala de estar nunca apanhavam sol. A cozinha e a casa de banho nem sequer tinham janelas. Quando se acendia a luz da casa de banho, provida de um módulo — módulo! — chuveiro-banheira, uma única peça que se inclinava ligeiramente quando ele entrava na banheira — quando se acendia a luz da casa de banho começava a funcionar uma ventoinha no tecto, resguardada por uma rede metálica, para ventilar a divisão. A ventoinha produzia um zumbido irritante e uma vibração intensa. Por isso, quando se levantava de manhã, ele já não acendia a luz da casa de banho. Contentava-se com a pálida claridade azulada emitida pela lâmpada fluorescente do tecto do corredor. Mais de uma vez fora trabalhar sem ter feito a barba.
Com a cabeça ainda na almofada, Fallow continuava a olhar fixamente o telefone, que não parava de retinir. Pois é, tinha mesmo de arranjar uma mesa para pôr ao pé da cama, se é que se podia chamar cama a um colchão de molas colocado sobre uma dessas armações metálicas adaptáveis que os Americanos fabricam e são excelentes para cortar os dedos e as mãos quando se tenta adaptá-las seja ao que for. O telefone tinha um ar sujo e viscoso sobre a alcatifa imunda. Mas ele nunca convidava ninguém para ali, a não ser uma ou outra rapariga, e isso acontecia sempre a altas horas da noite, quando ele já bebera duas ou três garrafas de vinho e já se estava nas tintas. Bom, não era inteiramente verdade, pois não? Quando ali levava alguma rapariga, via sempre aquele buraco lúgubre com os olhos dela, pelo menos por um instante. Ao pensar em vinho e em raparigas uma ligação qualquer se estabeleceu no seu cérebro, e um estacionamento de remorso percorreu-lhe o sistema nervoso. Alguma coisa acontecera na véspera à noite. Nos últimos tempos acordava muitas vezes assim, com uma terrível ressaca, com medo de se mexer uma polegada que fosse e cheio de uma sensação vaga de desespero e vergonha. O que quer que tivesse feito estava submerso como um monstro no fundo de um lago escuro e frio. A sua memória afogara-se na noite, e só conseguia sentir aquele desespero gelado. Tinha de procurar o monstro dedutivamente, suposição atrás de suposição. Às vezes, embora não soubesse o que tinha feito, sabia que era incapaz de o encarar e decidia afastar para sempre o assunto do espírito; mas nesse preciso instante alguma coisa, algum pormenor avulso, emitia o sinal e o monstro vinha de repente à superfície, por iniciativa própria, para lhe mostrar o seu focinho imundo.
Lembrava-se como a noite tinha começado, no Leices-ters, onde, como faziam muitos dos ingleses que frequentavam o restaurante, conseguira insinuar-se na mesa de um desses americanos de quem se pode escapar que paguem a conta sem protestar, neste caso um tipo gordo chamado
Aaron Gutwillig, que vendera recentemente uma companhia de aluguer de simuladores por doze milhões de dólares e gostava de ser convidado para as festas da colónia inglesa e da colónia italiana de Nova Iorque. Outro americano, um homenzinho ordinário mas divertido chamado Benny Grillo, que produzia, segundo dissera, documentários noticiosos para a televisão, tinha metido na cabeça que queria ir ao Limelight, uma discoteca instalada numa antiga igreja anglicana. Grillo oferecera-se para pagar a despesa no Limelight, portanto Peter juntara-se a Grillo, a dois modelos americanos, a Franco Nodini, que era um jornalista italiano, a Tony Moss, que ele conhecera na Universidade do Kent, e a Caro-line Heftshank, recém-chegada de Londres, que andava absolutamente petrificada de medo por causa do crime nas ruas de Nova Iorque, assunto acerca do qual todos os dias lia notícias quando estavam em Londres; a rapariga dava um pulo a cada sombra que via, o que a princípio tivera a sua graça. Os dois modelos tinham pedido sanduíches de rosbife no Leicesters, e tinham tirado a carne do pão, suspendendo-a acima da boca e comendo com os dedos. Caroline Heftshank não parara de se sobressaltar quando tinham saído do táxi diante do Limelight. A discoteca estava praticamente cercada por jovens negros calçando enormes sapatos de ténis, empoleirados no velho gradeamento da igreja, que observavam os bêbedos e as pessoas que entravam e saíam. Lá dentro, o Limelight parecera a Fallow invulgarmente grotesco, e ele sentira-se invulgarmente espirituoso, embriagado e encantador. Tantos travestis! Tantos punks, e dos mais sumamente repulsivos! Tantas rapariguinhas americanas de rosto empastado, com dentes perfeitamente alinhados, bâton prateado e olhos cobertos de maquilhagem! Que música tão alta, tão contínua, tão interminável, e que yideos tão desfocados, tão cheios de grão, em écrans cheios de rapazes magricelas e taciturnos e de bombas de fumo! Tudo isso se fora afundando no lago, cada vez mais fundo. Estavam num táxi que percorria em todos os sentidos as West Fifties, à procura da porta de metal galvanizado de um sítio chamado The Cup. Um pavimento negro, de borracha, guarnecido com tachas, e uns horríveis rapazes irlandeses sem camisa — pelo menos pareciam irlandeses — a entornar latas de cerveja em cima de toda a gente; e depois algumas raparigas também sem camisa. Ah! Alguma coisa acontecera diante de várias pessoas, num quarto. Tanto quando conseguia lembrar-se, ele tinh.a... Porque é que ele fazia aquelas coisas?... A casa de Cantuária... o vestiário em Cross Keys...
Ainda se via a si próprio, tal como era nessa altura... a sua cabeleira loura de álbum de imagens vitoriano, que tanto orgulho lhe dava... o seu nariz longo e afilado, o seu queixo comprido e estreito, o seu corpo esguio, sempre magro de mais para a sua grande estatura, de que tanto se orgulhava, também... o seu corpo esguio... A superfície das águas agitava-se... O monstro emergia do fundo do lago! Dentro de momentos... o seu focinho imundo!
Impossível olhá-lo de frente...
De novo a explosão do telefone. Abriu os olhos e observou, pestanejando, aquela miséria moderna inundada pelo sol; de olhos abertos ainda era pior. De olhos abertos — o futuro imediato. Um beco sem saída! Um desespero gelado! Semicerrou os olhos, estremeceu, tornou a fechá-los. Aquele focinho!
Reabriu-os imediatamente. O que ele fizera quando estava muito bêbedo... além do desespero e do remorso, sentia agora medo.
O toque do telefone começou a assustá-lo. E se fosse o City Light? Depois da última reprimenda do Rato Morto, prometera a si próprio estar no jornal todos os dias às dez da manhã, e já passava da uma. Nesse caso, o melhor era não atender. Não — se não atendesse o telefone afundar-se-ia de vez, juntamente com o monstro. Rebolou para fora da cama e apoiou os pés no chão, e a horrível gema de ovo saiu do lugar. Sentiu que o assaltava uma violenta dor de cabeça. Teve vontade de vomitar, mas sabia que lhe doía demasiado a cabeça para poder fazê-lo. Começou a aproximar-se do telefone. Pôs-se de joelhos e depois de gatas. Gatinhou até ao telefone, levantou o auscultador e depois deitou-se na alcatifa, na esperança de que a gema voltasse ao sítio.
— Estou — disse.
— Peter? — Pii-tahP. Graças a Deus, era uma voz inglesa.
— Sim?
— Peter, mal se ouve o que tu dizes. Acordei-te, não foi? Aqui é o Tony.
— Não, não, não, não. Estou... estava na sala ao lado. Hoje fiquei a trabalhar em casa. — Reparou que a sua voz se reduzira a um barítono furtivo.
— Bom, então imitas muito bem uma pessoa que acabou de acordar.
— Não acreditas em mim, pois não? — Ainda bem que era o Tony. Tony era um inglês que entrara para o City Light ao mesmo tempo que ele. Eram camaradas de um comando em missão neste rude país.
— Claro que acredito. Mas olha que fico em minoria. Se eu fosse a ti, vinha para aqui assim que pudesse.
— Mmmmmmm! Pois é.
— O Rato ainda agora me veio perguntar onde é que tu estavas. E não foi por mera curiosidade, podes ter a certeza. Estava com um ar lixado.
— O que é que tu lhe disseste?
— Disse-lhe que estavas no tribunal.
— Mmmmm! Não quero ser bisbilhoteiro, mas o que é que eu estou a fazer no tribunal?
— Meu Deus, Peter, eu tirei-te mesmo da cama, não foi? O caso Lacey Putney.
— Mmmmmm... Lacey Putney. — A dor, a náusea e o sono passavam pela cabeça de Fallow como ondas havaianas. Tinha a cabeça deitada na alcatifa. A terrível gema não parava de se agitar. — Mmmmmmm...
— Não adormeças agora, Peter, olha que eu não estou a brincar. Acho que devias vir aqui mostrar-te.
— Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Obrigado, Tony. Tens toda a razão.
— E vens ou não?
— Vou. — No próprio instante em que pronunciou aquela palavra, apercebeu-se do esforço que lhe ia custar o simples facto de se pôr de pé.
— E vê se me fazes um favor.
— O que tu quiseres.
— Procura lembrar-te de que estiveste no tribunal. A herança Lacey Putney. Não é que o Rato tenha necessariamente acreditado. Mas, sabes como é...
— Sim. Lacey Putney. Obrigado, Tony.
Fallow desligou, pôs-se de pé, foi bater com a cara na persiana e fez um golpe no lábio. A persiana era de tiras estreitas de metal, ao gosto americano. Cortavam como lâminas. Limpou o sangue do lábio com as costas do dedo indicador. Não conseguia manter a cabeça direita. A gema de mercúrio alterava-lhe o sentido do equilíbrio. Dirigiu-se, aos tombos, para a casa de banho, onde entrou, à luz azulada, tuberculosa, da lâmpada fluorescente do corredor. No espelho do armário dos medicamentos, àquela luz doentia, o sangue do seu lábio tinha um tom arroxeado. Não fazia mal. Com o sangue arroxeado podia ele bem. Mas se acendesse a luz da casa de banho seria o fim.
Filas de terminais de computador iluminados, com as suas caixas sci-fi de um cinzento betuminoso, à «2001», davam à sala de redacção do City Light uma aparência de ordem e modernidade. Essa aparência nunca sobrevivia a um segundo olhar. As secretárias estavam cobertas do caos habitual de papéis, copos de plástico, livros, manuais, almanaques, revistas e cinzeiros sujos. Sentados diante dos teclados viam-se os habituais homens e mulheres jovens, de costas curvadas. Um martelar monótono e abafado — thak thak thak thak thak thak thak thak thak thak thak thak — partia dos teclados, como se estivesse a decorrer um imenso torneio de mahjong. Os repórteres, os rewriters e os redactores mantinham-se curvados, à eterna maneira dos jornalistas. De tantos em tantos segundos erguia-se uma cabeça, como se viesse à superfície respirar, e gritava alguma coisa acerca de um entrelinhado, de um título ou do tamanho de uma notícia. Mas nem a excitação da hora do fecho da edição conseguia sobreviver por muito tempo. Abria-se uma porta ao fundo da sala, e entrava, a cambalear, um grego de bata branca com uma bandeja prodigiosamente grande, cheia de cafeteiras e garrafas de gasosa, de caixas de doughnuts, de cheese Danishes, de rolos de cebola, de pastéis, de todas as variedades de comidas gordurosas e insípidas conhecidas no mercado do pronto-a-comer, e metade da sala abandonava os terminais de computador e atirava-se a ele, revolvendo a bandeja como uma multidão de gorgulhos esfomeados.
Fallow aproveitou esse hiato para atravessar a sala, dirigindo-se ao seu cubículo. No meio do campo de terminais de computador, deteve-se e, com um ar atento de profissional, agarrou num exemplar da segunda edição, que acabava de ser trazida para cima. Abaixo do logotipo — THE CITY LIGHT — a primeira página era ocupada por um título em maiúsculas gigantescas, do lado direito:
ESCALPARAM AVOZINHA, PARA DEPOIS A ASSALTAREM
-
e por uma fotografia, do lado esquerdo. A fotografia era uma ampliação parcial de um desses retratos sorridentes e sem rugas que se vêem à porta dos estúdios dos fotógrafos. Era o retrato de uma mulher chamada Carolina Pérez, de cinquenta e cinco anos e que não tinha grande ar de avozinha,
com uma farta cabeleira negra apanhada num carrapito ao velho estilo, fora de moda, de dama espanhola.
Nossa Senhora! Escalpar aquilo não devia ter sido brincadeira! Se se sentisse melhor, Fallow prestaria uma homenagem silenciosa à extraordinária esthétique de Vabattoir que permitia àqueles demónios sem vergonha, os seus patrões, os seus compatriotas, ingleses como ele, descendentes, como ele, de Shakespeare e de Milton, fazerem, dia após dia, achados como aquele. Pensem bem no sentido apurado da sintaxe do esgoto que os inspirara na criação de um título feito apenas de verbos e complementos, sem sujeito, para melhor levar o leitor a virar apressadamente aquelas páginas sujas de tinta de modo a descobrir que filhos do mal teriam sido suficientemente perversos para terem completado aquela frase! Pensem na perseverança de larva do repórter que invadira chez Pérez e obtivera uma fotografia da avozinha que fazia o leitor sentir aquele acto sangrento arrepiar-lhe as pontas dos dedos — as articulações dos ombros! Pensem só no anticlímax da frase: «Escalparam avozinha... para depois a assaltarem.» Um anticlímax gratuito, mas brilhante! Meu Deus, se tivessem mais espaço tinham acrescentado: «para depois lhe deixarem as luzes todas da cozinha acesas».
Naquele momento, porém, sentia-se demasiado doente para se divertir com aquilo. Não, se estava ali, de pé, a examinar aquela obra de um génio do tablóide, era apenas para que ficasse provado, para que todos vissem — e muito especialmente, se possível, o Rato Morto em pessoa — que ele estava ali na redacção, e que nada no mundo o interessava tanto como o City Light de Nova Iorque.
Com o jornal nas mãos, olhando demoradamente a primeira página, como se o seu virtuosismo o tivesse impressionado, percorreu o resto da sala e entrou no seu cubículo. Este era formado por duas paredes de contraplacado de quatro pés de altura, de uma cor doentia de salmão; era aquilo a que se chamava um «posto de trabalho», com pequenas curvas high-tech nos cantos, enquadrando uma secretária metálica cinzenta, o omnipresente terminal de computador, uma cadeira de plástico concebida segundo um desconfortável modelo ortopédico e um cabide de plástico modulado que encaixava de uma maneira engenhosa na parede também modulada. O cabide, aliás, já estava rachado, e a única e velha peça de roupa que lá se encontrava pendurada, a gabardina de Peter Fallow, nunca saía do cubículo.
Mesmo ao lado do cabide havia uma janela, onde ele se viu reflectido. De frente, parecia mais um homem novo e atraente, dos seus trinta e seis anos, do que um quarentão de aspecto desmazelado. De frente, a sua testa, a madeixa comprida de cabelo louro e ondulado que a coroava ainda parecia... bom, byroniana... e não se notava que começava a ficar um pouco solitária no alto da sua cabeça. Sim, daquele ângulo... estava tudo bem! O seu nariz longo e afilado parecia irrepreensivelmente patrício, e não demasiado carnudo na ponta. O seu grande queixo fendido não era ainda demasiado comprometido pelas bochechas que começavam a formar-se de ambos os lados. O seu blazer azul, que mandara fazer no Blades há oito — não, dez! — anos estava a ficar um bocadinho... lustroso... nas lapelas... mas talvez isso se pudesse remediar com uma passagem de uma dessas escovas de arame... Tinha um princípio de barriga e começava a ficar demasiado gordo nas ancas e nas coxas. Mas isso não constituiria problema agora que ele deixara de beber. Nunca mais. Começaria nessa noite um regime de exercício. Ou, o mais tardar, no dia seguinte; sentia-se demasiado bilioso para poder pensar nessa noite. Nada desta ridícula coisa americana do jogging. Havia de ser uma coisa asseada, enérgica, viril, extenuante... inglesa, em suma. Pensou em bolos medicinais, em espaldares, em cavalos-de-arção, em maças indianas, em roldanas com pesos, em barras paralelas, em cordas grossas com as extremidades revestidas de couro, e depois apercebeu-se de que esses eram os aparelhos do ginásio de Cross Keys, o colégio que frequentara antes de ir para a Universidade do Kent. Santo Deus... havia vinte anos já. Mas ainda tinha apenas trinta e seis anos, seis pés e duas polegadas de altura, e uma constituição física fundamentalmente saudável.
Meteu o estômago para dentro e respirou fundo. Sentiu-se zonzo. Pegou no auscultador do telefone e encostou-o ao ouvido. Esforça-te por parecer ocupado! A ideia era essa. Achou muito agradável o sinal de linha desimpedida do telefone. Apetecia-lhe enfiar-se no auscultador e flutuar de costas naquele som, deixando-o banhar suavemente as suas terminações nervosas. Como seria bom deitar a cabeça na secretária, fechar os olhos e dormir uma soneca. Talvez não fosse impossível, se deitasse a cara de lado, com a nuca voltada para a sala de redacção, e encostasse o telefone à outra orelha, como se estivesse a falar. Não, mesmo assim pareceria estranho. Talvez...
Oh, Santo Deus. Um americano chamado Robert Goldman, um dos repórteres, dirigia-se para o cubículo. Goldman usava uma gravata de riscas diagonais vermelho-vivo, amarelo, preto e azul-celeste. Os «américas» chamavam àquelas imitações de gravatas de regimento «gravatas de repes». Os Américas usavam sempre umas gravatas que ficavam muito espetadas diante das camisas, como que para anunciar as coisas estranhas que se lhes seguiam. Duas semanas antes Fallow pedira emprestados cem dólares a Goldman. Dissera-lhe que tinha de pagar até essa noite uma dívida de jogo — gamão — o Bracers Club — frequentado por europeus dissolutos. Os Américas adoravam histórias de libertinos e aristocratas. E, desde então, o sacana já o tinha vindo chatear três vezes por causa do dinheiro, como se o seu futuro neste mundo dependesse de uns míseros cem dólares. Ainda com o auscultador colado ao ouvido, Fallow olhou de relance a figura que se ia aproximando, e a gravata que o anunciava, com todo o seu desprezo. Não era o único inglês residente em Nova Iorque que via os Americanos como crianças incuráveis a quem a perversa Providência oferecera a galinha gorda que era aquele continente. Por conseguinte, todas as maneiras de os aliviar das suas riquezas, excepto a violência, eram admissíveis, ou mesmo moralmente justificáveis, pois eles, fosse como fosse, não saberiam senão desperdiçá-las em inutilidades de mau gosto.
Fallow começou a falar para o auscultador, como se estivesse embrenhado numa conversa. Revolveu o seu cérebro intoxicado em busca do tipo de diálogo entrecortado que os dramaturgos têm de inventar para as cenas ao telefone.
— O quê?... Está a dizer que o juiz-substituto se recusa a autorizar o estenógrafo a dar-nos uma transcrição? Bom, diga-lhe... Sim, sim... É claro... É uma perfeita ilegalidade... Não, não... Ora escute com atenção...
A gravata — e Goldman — estavam mesmo ali ao lado. Peter Fallow manteve os olhos baixos e fez um gesto com a mão, como se dissesse: «Por favor! Esta chamada não pode ser interrompida.»
— Olá, Pete — disse Goldman.
Pete, dizia ele — e não parecia lá muito contente. Pete! Só aquele som fazia Fallow ranger os dentes. A lamentável... familiaridade... dos Américas! Que ridículo! Aqueles americanos! — com os seus Arnies e Buddies e Hanks e... Petes! E este matulão desengonçado, com a sua gravata berrante, tem a lata de entrar no gabinete de uma pessoa quando ela está ao telefone, porque já não pode mais de tanto pensar nos seus míseros cem dólares! — e chama-lhe Pete!
Fallow compôs uma expressão profundamente atenta e começou a falar a grande velocidade.
— Ora bem!... Diga ao juiz-substituto e ao estenógrafo que queremos a transcrição até amanhã ao meio-dia!... Claro!... É evidente!... Deve ser alguma invenção do causí-dico (1) dela! São todos muito simpáticos, aí!
— Não se diz juiz-substituto, diz-se só juiz — corrigiu Goldman, em voz neutra.
Fallow ergueu os olhos para o americano com uma expressão colérica.
Goldman devolveu-lhe o olhar com um ligeiro trejeito irónico dos lábios.
— E não se diz «estenógrafo», diz-se «repórter do tribunal». E também ninguém diz «causídico», embora percebam o que é que tu queres dizer.
Fallow fechou os olhos e a boca, reduzindo-os a três linhas horizontais, abanou a cabeça e sacudiu a mão, como se nunca tivesse testemunhado descaramento tão intolerável.
Mas quando tornou a abrir os olhos Goldman ainda lá estava. Goldman olhou para ele, compôs uma expressão de irritação galhofeira, ergueu ambas as mãos, espetou os dez dedos diante do nariz de Fallow, tornou a fechar as mãos, espetou de novo os dez dedos e repetiu dez vezes este gesto, dizendo por fim: «Cem das grandes, Pete», para logo lhe virar as costas e atravessar a sala de redacção.
Que descaramento! Que descaramento! Quando se tornou evidente que aquele carraça descarado não ia voltar atrás, Fallow pousou o auscultador, levantou-se e aproximou-se do cabide. Tinha jurado... mas santo Deus! Aquilo a que acabava de se ver sujeito era... um... bocadinho... de... mais. Sem a tirar do cabide, abriu a gabardina e enfiou a cabeça lá dentro, como se estivesse a inspeccionar as costuras. Depois envolveu os ombros nas abas da gabardina, de tal modo que metade do seu corpo deixou de ser visível. Era o tipo de impermeável que tem bolsos laterais abertos por dentro e por fora, para permitir a uma pessoa chegar aos bolsos do casaco ou das calças, quando está a chover, sem ter de o desabotoar à frente. Envolto na sua tenda de popelina, Fallow procurou às apalpadelas a abertura interior do bolso da esquerda. Do bolso extraiu um cantil de meio litro.
(1) No original «barrister», termo inglês para «advogado» que não se usa nos Estados Unidos (N. do T.)
Desatarraxou a tampa, levou o cantil à boca, bebeu duas boas goladas de vodka e esperou pelo impacto da bebida no estômago. Caiu-lhe no estômago e espalhou-se por todo o seu corpo e pela sua cabeça como uma onda de calor. Tornou a pôr a tampa no cantil e enfiou-o de novo no bolso, desembrulhando-se da gabardina. Tinha o rosto a arder e lágrimas nos olhos. Percorreu timidamente com os olhos a sala de redacção, e...
Oh, merda.
... o Rato Morto estava precisamente a olhar para ele. Fallow não se atreveu sequer a pestanejar, muito menos a sorrir. Não queria provocar nenhuma reacção do Rato. Desviou os olhos como se não o tivesse visto. Seria o vodka realmente inodoro? Esperava piamente que sim. Sentou-se à secretária, tornou a agarrar no telefone e moveu os lábios como se falasse. O sinal de linha desimpedida soava-lhe aos ouvidos, mas Fallow estava demasiado nervoso para se deixar embalar por ele. Será que o Rato o tinha visto com a cabeça enfiada na gabardina? E se o tinha visto, teria suspeitado de alguma coisa? Oh, como aquela golada furtiva era diferente dos gloriosos brindes de há seis meses! Oh, que perspectivas radiosas ele tinha desbaratado! Ainda via a cena... o jantar no apartamento grotesco do Rato, na Park Avenue... os convites pomposos, incrivelmente formais, com as letras em relevo: Sir Gerald Steiner e Lady Steiner desejariam ter o prazer da sua companhia no jantar em honra de Mr. Peter Fallow (jantar e Mr. Peter Fallow escrito à mão)... o ridículo museu de mobílias Louis Bourbon e tapeçarias de Aubusson no fio que o Rato Morto e Lady Rato tinham organizado na Park Avenue. Apesar de tudo, fora uma noite inebriante. Todos os convivas eram ingleses. Aliás só havia três ou quatro americanos nos escalões superiores do City Light, e nenhum deles tinha sido convidado. Fallow em breve descobrira que todos os dias havia vários jantares daqueles no East Side de Manhattan, lautos banquetes só para ingleses, só para franceses, só para italianos ou só para europeus; em todo o caso, sem americanos. Ficava-se com a sensação de que uma legião secreta, muito rica e muito requintada, se tinha insinuado nos condomínios da Park Avenue e da Quinta Avenida, para daí se atirar mais facilmente à galinha gorda dos Americanos, para devorar à sua vontade os últimos restos de carne tenra e branca agarrada aos ossos do capitalismo.
Em Inglaterra, Gerald Steiner sempre fora para Fallow «esse judeu do Steiner», mas naquela noite todo o seu reles snobismo se desvanecera. Eram agora irmãos de armas na legião secreta, ao serviço do chauvinismo ferido da Grã-Bretanha. Steiner explicara aos presentes que Fallow era um génio. Steiner ficara arrebatado ao ler uma série de reportagens sobre a vida dos ricos no campo que Fallow publicara no Dispatch. As reportagens estavam cheias de nomes e títulos sonoros, de helicópteros e perversões intrigantes («aquela coisa da chávena») e doenças de cura dispendiosa, tudo tão engenhosamente arquitectado que não havia a menor possibilidade de processar o autor por difamação. Fora o maior triunfo da carreira jornalística de Fallow (ou melhor, fora o único), e Steiner não percebia como é que ele o conseguira. Fallow sabia perfeitamente como tinha sido, mas esforçava-se por dissimular as suas recordações atrás dos véus da vaidade. Todas as passagens picantes da série de reportagens tinham a sua origem numa rapariga com quem ele então andava, uma rapariguinha ressentida chamada Jeannie Brokenborough, filha de um negociante de livros raros que fazia parte da arraia miúda da aristocracia rural. Quando essa Miss Brokenborough desaparecera, os passes de mágica diários de Peter Fallow tinham desaparecido com ela.
O convite de Steiner para ele ir trabalhar em Nova Iorque viera mesmo na altura certa, embora Fallow não visse as coisas dessa maneira. Como todos os escritores que alguma vez conheceram um êxito, ainda que ao nível do Dispatch de Londres, Fallow não atribuía nisso o menor papel à sorte. Teria alguma dificuldade em repetir o seu êxito numa cidade de que nada sabia, num país que considerava como uma gigantesca anedota? Ora... dificuldade porquê?O seu génio começava apenas a despontar. Afinal de contas, aquilo era apenas jornalismo, um simples degrau na escada do seu futuro sucesso como romancista. O pai de Fallow, Ambrose Fallow, era romancista, um romancista inquestionavelmente menor, diga-se. O pai e a mãe de Fallow eram de East Anglia, e haviam sido, no seu tempo, desses jovens muito cultos e de boas famílias, que a seguir à Segunda Grande Guerra se tinham mostrado receptivos ante a ideia de que a sensibilidade literária podia fazer de qualquer pessoa um aristocrata. A ideia de aristocracia nunca lhes saía do espírito, nem do espírito de Fallow. Fallow tentara compensar a sua falta de dinheiro convertendo-se num indivíduo espirituoso e libertino. Essas proezas aristocráticas não tinham feito mais que granjear-lhe um lugar incerto na cauda do cometa dos elegantes de Londres.
Agora, como elemento da brigada de Steiner em Nova Iorque, Fallow viera também fazer fortuna à custa da carne branca e suculenta do Novo Mundo.
Muita gente perguntava a si própria porque é que Steiner, que não tinha quaisquer antecedentes jornalísticos, viera para os Estados Unidos e se lançara no empreendimento muitíssimo dispendioso de fundar um tablóide. A explicação lógica era que The City Light fora criado como arma de ataque ou represália ao serviço dos bem mais importantes investimentos financeiros de Steiner nos Estados Unidos, onde já era conhecido como «o Terror Britânico». Mas Fallow sabia que não era assim. Os investimentos «sérios» é que estavam ao serviço do City Light. Steiner fora treinado, educado, preparado e recebera uma fortuna das mãos do velho Steiner, um self-made man do mundo da finança, vaidoso e espalhafatoso, que queria fazer do filho um par do reino e não apenas um judeu rico. Steiner transformara-se no rato bem educado, bem amestrado, bem vestido e respeitador das conveniências que o pai queria. Nunca tivera a coragem de se revoltar. Agora, já bastante tarde na vida, descobrira o mundo dos jornais. O seu mergulho quotidiano na lama — ESCALPARAM AVOZINHA PARA DEPOIS A ASSALTAREM — dava-lhe uma alegria inexprimível. Uhuru! Enfim livre! Todos os dias arregaçava as mangas e mergulhava na vida da sala de redacção. Às vezes escrevia ele próprio os títulos. Era possível que fosse ele o autor de ESCALPARAM AVOZINHA, embora Fallow pressentisse aí o toque inimitável do seu director-adjunto, um proletário de Liverpool chamado Brian Highridge. Apesar das muitas vitórias da sua carreira, porém, Steiner nunca tivera sucesso na sociedade. Isso devia-se em grande medida à sua personalidade, mas os sentimentos antijudaicos também tinham nisso algum papel, e ele não podia deixar de os levar em conta. Fosse como fosse, era com profunda satisfação que acalentava a ideia de ver Peter Fallow acender uma fogueirinha bem escaldante debaixo de todos os snobs que o desprezavam. Por isso esperara...
E continuara a esperar. A princípio, as notas de despesas de Fallow, que eram bem mais avultadas que as de qualquer outro jornalista do City Light (excepto as dos raros enviados especiais ao estrangeiro) não tinham causado preocupações. Afinal de contas, para se infiltrar na sociedade uma pessoa tinha de viver, até certo ponto, como os membros dessa sociedade. Às assustadoras contas de almoços, jantares e bebidas seguiam-se relatos divertidos dos estragos que Mr. Peter Fallow, esse alegre gigante inglês, começava a fazer nos seus requintados mergulhos nas profundezas da sociedade. Passado algum tempo os relatos deixaram de ser divertidos. Aquele soldado da fortuna não conseguia uma única proeza de monta, um único escândalo digno de figurar nas crónicas do high-life. Por mais de uma vez Fallow entregara reportagens para no dia seguinte as ver reduzidas a pequenas notas não assinadas. Steiner convocara-o várias vezes para fazer o ponto da situação. As conversas entre ambos tinham esfriado cada vez mais. Com o seu orgulho ferido, Fallow começara a divertir os seus colegas chamando a Steiner, o famoso «Terror Britânico», o Rato Morto. Todos achavam a alcunha engraçadíssima. Afinal de contas, Steiner tinha realmente um nariz comprido e aguçado, de rato, o queixo retraído, uma boquinha enrugada, orelhas grandes, mãos e pés minúsculos, um olhar apagado e uma vozinha sempre cansada. Recentemente, porém, Steiner tornara-se ainda mais frio e brusco para com ele, e Fallow começava a perguntar a si próprio se o outro teria sabido da gracinha do Rato Morto.
Ergueu os olhos... lá estava Steiner, a seis pés de distância, à porta do cubículo, olhando-o bem de frente, com uma das mãos apoiada ao tabique.
— É muito simpático da sua parte vir fazer-nos uma visita, Fallow.
Fallow! E o desprezo na sua voz, como se fosse um vigilante de colégio a dirigir-se a um aluno indisciplinado! Fallow ficou sem fala.
— Então — disse Steiner — o que é que tem para me mostrar?
Fallow abriu a boca. Deu voltas ao seu cérebro intoxicado em busca das frases fluentes por que era famoso, mas só conseguiu gaguejar e arquejar.
— Bom... deve-se lembrar... a herança Lacey Putney... já lhe falei nisso... se não estou em erro... tentaram dificultar-nos as coisas no tribunal, os... os... — Bolas! Era estenógrafos que se dizia, ou repórteres não sei quê? O que é que Goldman lhe explicara? — Bom... foi difícil... mas agora já tenho tudo na mão! É só uma questão de... posso-lhe dizer... que desta vez a coisa vai...
Steiner nem sequer esperou que ele acabasse.
— Espero sinceramente que sim, Fallow — disse, num tom ameaçador. — Espero sinceramente que assim seja.
Depois afastou-se e tornou a mergulhar na sua adorada sala de redacção.
Fallow afundou-se na cadeira. Conseguiu aguentar quase um minuto inteiro antes de se levantar e enfiar a cabeça na gabardina.
Albert Teskowitz não era aquilo a que Kramer ou qualquer outro acusador público chamariam um perigo quando chegava o momento de convencer um júri com a magia do seu discurso final. Os crescendos emocionais eram uma coisa que o ultrapassava, e mesmo os poucos recursos retóricos que conseguia empregar eram rapidamente anulados pela sua aparência. A sua postura era tão má que todas as mulheres do júri, ou pelo menos todas as boas mães, se remexiam nas cadeiras com vontade de lhe gritar: «Essas costas direitas!» Quanto àquilo que dizia, o problema não era ele não preparar os seus discursos; pelo contrário, era por demais evidente que os levava preparados num bloco amarelo que colocara em cima da mesa da defesa.
— Minhas senhoras e meus senhores, o réu tem três filhos, com seis, sete e nove anos de idade — dizia Teskowitz — que estão neste momento aqui na sala, à espera do resultado deste julgamento. — Teskowitz evitava chamar o seu cliente pelo nome. Se lhe fosse possível dizer Herbert Cantrell, Mr. Cantrell ou mesmo Herbert não haveria problema, mas Herbert nem sequer admitia que o tratassem por Herbert. — Não me chamo Herbert — dissera ele a Teskowitz quando este se encarregara do caso. — Não sou o seu motorista. Chamo-me Herbert 92X.
— Não era um criminoso que nessa tarde estava sentado no Doubleheader Grill — prosseguiu Teskowitz — mas sim um trabalhador com um emprego e uma família. — Hesitou e olhou para o tecto com a expressão ausente de quem está prestes a ter um ataque epiléptico. — Um emprego e uma família — repetiu com ar sonhador, a mil milhas dali. Depois rodou sobre os calcanhares, aproximou-se da mesa da defesa, dobrou pela cintura o seu tronco já de si curvado e examinou o seu bloco amarelo com a cabeça inclinada para um dos lados, como um pássaro a espreitar o buraco de uma minhoca. Manteve-se na mesma atitude durante aquilo que pareceu uma eternidade e depois aproximou-se de novo da bancada do júri, dizendo: — Não era um agressor. Não era sua intenção vingar-se, nem marcar pontos, nem ajustar contas com ninguém. Era um trabalhador com um emprego e uma família a quem só interessava uma coisa perfeitamente natural e legítima: o facto de a sua vida correr perigo. — Os olhinhos do advogado tornaram a arregalar-se como o diafragma de uma máquina fotográfica; tornou a virar costas ao júri, dirigindo-se à mesa da defesa para examinar durante mais algum tempo o bloco amarelo. Curvado como estava, a sua silhueta fazia lembrar uma torneira de lava-louças... Uma torneira de lava-louça... um cão com esgana... Imagens desencontradas começaram a invadir o espírito dos jurados. Começaram a aperceber-se, por exemplo, da camada de pó que cobria as grandes janelas da sala de audiências e do modo como o sol do fim da tarde iluminava o pó, como se os vidros fossem daquele plástico com que se fabricam brinquedos, aquele tipo de plástico que absorve a luz; e todas as donas de casa do júri, mesmo as mais desleixadas, perguntaram a si próprias porque é que ninguém lavava aquelas janelas. Perguntaram a si próprias essa e muitas outras coisas que nada tinham a ver com o que Albert Teskowitz dizia acerca de Herbert 92X, e acima de tudo interrogavam-se sobre o que teria de tão especial aquele bloco amarelo, para assim puxar, como que por uma trela, o pobre pescoço magro e curvado de Teskowitz.
—... e considerem o réu... inocente. — Quando Teskowitz terminou, por fim, o seu discurso, todos ficaram na dúvida, sem saber se ele teria realmente acabado. Tinham os olhos pregados no bloco amarelo. Estavam à espera de o ver arrastar uma vez mais o advogado para junto da mesa. Até mesmo Herbert 92X, que não perdera uma vírgula, parecia perplexo.
Nesse preciso instante começou a ouvir-se na sala uma espécie de coro em surdina.
— Yo-ohhhhhhh... — Vinha deste lado.
— Yo-ohhhhhhhhhhhhh... — Vinha daquele.
Foi Kaminsky, o guarda gordo, quem começou, e logo Bruzzielli, o escrivão, lhe seguiu o exemplo; e até Sullivan, o repórter do tribunal, sentado diante da sua máquina de estenografia mesmo por baixo da tribuna de Kovitsky, se juntou ao coro com a sua voz grave e discreta. — Yo-ohhh.
Sem pestanejar sequer, Kovitsky bateu com o seu martelo na mesa e anunciou um intervalo de trinta minutos.
Kramer não precisou de pensar duas vezes para saber o que se ia passar. Eram horas de formar um círculo com a caravana, mais nada. Era coisa corrente ali na fortaleza. Se um julgamento se prolongava até depois do pôr do Sol, tinha de se formar um círculo com a caravana. Toda a gente sabia disso. Aquele julgamento ia ter de se prolongar para além do pôr do Sol, porque a defesa acabava de concluir o seu discurso, e o juiz não podia adiar a sessão para o dia seguinte antes de a acusação pronunciar o seu. Portanto eram horas de acampar em círculo.
Nestes intervalos, todos os funcionários que tinham vindo de carro para o trabalho e tinham de ficar no tribunal até depois de escurecer devido ao julgamento levantavam-se dos seus lugares, saíam da sala e dirigiam-se para os seus carros no parque de estacionamento. O juiz, Kovitsky, não constituía excepção. Nesse dia tinha ido de automóvel para o trabalho, portanto dirigiu-se ao seu vestiário, passando por uma porta de um dos lados da tribuna, onde tirou a toga preta para ir ao parque de estacionamento, como todos os outros.
Kramer não tinha carro, e não podia dar-se ao luxo de pagar oito ou dez dólares para regressar a casa num táxi «cigano». Os «ciganos» — muitos deles conduzidos por imigrantes africanos recentes, naturais de países como a Nigéria ou o Senegal — eram os únicos táxis que se aproximavam do tribunal, quer de noite quer de dia, à excepção dos que traziam passageiros de Manhattan para o Bronx County Building. Os motoristas punham no pára-brisas a placa «EM SERVIÇO» ainda antes de accionarem o pedal do travão, deixavam sair os passageiros e arrancavam imediatamente a toda a velocidade. Não; Kramer percebeu, de coração um pouco apertado, que aquela seria uma dessas noites em que ele se via obrigado a percorrer no escuro, os três quarteirões que o separavam da estação de metro da Rua 161 e ficar à espera naquela que era considerada uma das dez estações mais perigosas da cidade em termos de criminalidade, na esperança de que houvesse uma carruagem suficientemente cheia de gente para ele não ser escolhido pela alcateia como um cordeirinho tresmalhado do rebanho. Pensou que os ténis Nike lhe davam, pelo menos, algumas hipóteses de se defender. Em primeiro lugar, serviam de camuflagem. No metro, no Bronx, um par de sapatos de pele Johnston & Murphy designavam uma pessoa, logo à partida, como alvo de eleição. Era como usar um letreiro ao pescoço com a palavra: «ASSALTEM-ME». Os ténis Nike e o saco de plástico fá-los-iam, pelo menos, pensar duas vezes. Podiam tomá-lo por um polícia à paisana de regresso a casa. Já não havia no Bronx um único polícia à paisana que não usasse ténis. Em segundo lugar, caso viesse mesmo a ter alguma encrenca, com os Nikes podia, pelo menos, dar uma corrida para se safar ou preparar-se para a luta. Não ia dizer nada disto a Andriutti e a Caughey. Para o Andriutti, aliás, estava-se nas tintas, mas sabia que não era capaz de suportar o desprezo de Caughey. Caughey era irlandês, e mais depressa se arriscaria a apanhar um tiro na cabeça do que se lembraria de usar camuflagem no metropolitano.
Quando os jurados tornaram a dirigir-se para a sala do júri, Kramer olhou fixamente Miss Shelly Thomas, até sentir como era macio o seu bâton castanho, e ela olhou-o por um instante — com um tenuíssimo sorriso! — e ele começou a afligir-se com o problema de saber como é que ela regressaria a casa; não podia fazer fosse o que fosse, porque, é claro, não devia aproximar-se dela nem transmitir-lhe qualquer espécie de recado. Apesar de todos aqueles yo-ohhhhhs, nunca ninguém explicava aos jurados nem às testemunhas que eram horas de formar um círculo com a caravana — de qualquer maneira, um jurado nunca seria autorizado a ir ao parque de estacionamento num intervalo do julgamento.
Kramer desceu à entrada da Walton Avenue, para esticar as pernas, apanhar um pouco de ar e ver passar o cortejo. No passeio já se formara um grupo que incluía Kovitsky e o seu ajudante, Mel Herskowitz. Os guardas do tribunal estavam com eles, preparando-se para os guiar, como chefes das tropas. O grandalhão, Kaminsky, punha-se nas pontas dos pés, espreitava em todas as direcções, para ver se mais alguém quereria vir. O parque de estacionamento preferido dos frequentadores habituais do tribunal ficava para lá do ponto mais alto do Grand Concourse, na descida da Rua 161, numa enorme cova junto ao Tribunal Criminal do Bronx. A cova, que ocupava o espaço de um quarteirão inteiro, fora feita para implantar os alicerces de um edifício que não chegara a ser construído.
O grupo reuniu-se, com Kaminsky à cabeça e outro guarda na retaguarda. Os guardas do tribunal tinham todos os seus revólveres calibre 38 bem à vista, na anca. O pequeno contingente internou-se corajosamente no território índio. Eram cerca de 5.45. A Walton Avenue estava calma. No Bronx não se fazia sentir grandemente a hora de ponta. Os lugares de estacionamento reservado da Walton Avenue, junto à fortaleza, formavam um ângulo de 90 graus com o passeio central da rua. Só lá estava ainda uma meia-dúzia de carros. Havia dez espaços reservados perto da entrada, para Abe Weiss, Louis Mastroiani e para os outros representantes supremos do Poder no Bronx. O guarda da porta colocava cones de plástico vermelho Day-Glo nos espaços quando os seus utentes não estavam no tribunal. Kramer reparou que o carro de Abe Weiss ainda lá estava. Havia também outro automóvel, que ele não reconheceu, mas os restantes espaços estavam vazios. Kramer andou para trás e para diante no passeio, junto da entrada, de cabeça baixa e mãos nos bolsos, concentrando-se no seu discurso. Estava ali para falar em nome daquele de entre os protagonistas do caso que não podia falar por si próprio, ou seja, a vítima, o falecido, Nestor Cabrillo, um bom pai de família e bom cidadão do Bronx. Tudo se ajustava com a maior simplicidade. Os argumentos sólidos não bastavam, no entanto; pelo menos para o que ele tinha de conseguir. Aquele discurso tinha de a comover até às lágrimas ou, no mínimo, de a deixar estonteada com o drama do crime no Bronx e com a dureza de um certo jovem procurador-adjunto maravilhosamente eloquente e sem papas na língua, para já não falar na robustez do pescoço. Por isso ele passeava de um lado para o outro diante da entrada da Walton Avenue, preparando-se para fulminar Herbert 92X e retesando os esternocleidomastoideus enquanto lhe pairava na cabeça uma visão da rapariga do bâton castanho.
Em breve chegaram os primeiros carros. Lá vinha Kovitsky na sua enorme e velha banheira branca, o Pontiac Bonneville. Estacionou-o num dos lugares reservados junto da porta. Thwop! A porta girou nos gonzos e ele saiu, um homenzinho careca sem nada de notável na sua aparência, com um vulgaríssimo fato cinzento. Depois veio Bruzzielli num carrinho desportivo japonês em que mal parecia haver lugar para ele. Depois Mel Herskowitz e Sullivan, o repórter do tribunal. Depois Teskowitz, num Buick Regai novo. Merda, pensou Kramer. Até Al Teskowitz tem dinheiro para comprar um carro. Até ele, um advogado do artigo 18-b — e eu vou para casa de metro! Em breve quase todos os espaços da Walton Avenue foram preenchidos pelos funcionários. O último automóvel a chegar foi o de Kaminsky. Este dera uma boleia ao outro guarda do tribunal. Saíram os dois do carro; Kaminsky viu Kramer e arvorou um sorriso aberto e bem disposto, entoando: — Yo-ohhhhhhhhhhhh!
— Yo ho ho — disse Kramer.
A caravana. «Yo-ohhhhh» era o grito de John Wayne, o herói e chefe do grupo, dando sinal aos pioneiros para manobrarem os carros. Estava-se em território índio, em território de bandidos, e eram horas de fazer um círculo com os carros para passar a noite. Quem julgasse ser possível percorrer os dois quarteirões que separavam Gibraltar do parque de estacionamento depois de escurecer e regressar sossegadamente a casa, à companhia da Mom, do Buddy e da Sis, estaria a jogar o jogo da vida só com meio baralho.
Ao fim do dia, Sherman recebeu uma chamada da secretária de Arnold Parch comunicando-lhe que este queria falar com ele. Parch ocupava o cargo de vice-presidente executivo da firma, mas não era homem para estar constantemente a convocar as pessoas ao seu gabinete.
O escritório de Parch era, naturalmente, mais pequeno que o de Lopwitz, mas tinha a mesma vista magnífica para oeste, abarcando o rio Hudson e New Jersey. Ao contrário do gabinete de Lopwitz, com as suas antiguidades, o de Parch estava decorado com mobílias modernas e grandes quadros modernos, do género que Maria e o marido tanto apreciavam.
Parch, que gostava muito de sorrir, sorriu e apontou a Sherman uma cadeira de estofo cinzento, tão lisa e tão baixa que parecia um submarino a vir à tona. Sherman afundou-se até ficar com a sensação de que estava abaixo do nível do chão. Parch sentou-se numa cadeira idêntica, em frente da sua. Sherman via sobretudo pernas, as suas e as de Parch. Na sua linha de visão, o queixo de Parch quase ficava escondido atrás dos seus joelhos.
— Sherman — disse o rosto sorridente atrás dos joelhos — acabo de receber um telefonema de Oscar Suder, de Comumbus, Ohio, e ele está muito chateado com esta história das obrigações United Fragrance.
Sherman ficou atordoado. Quis levantar mais a cabeça, mas não conseguiu. — Ah, sim? E telefonou-lhe a si? O que é que ele disse?
— Disse que você lhe tinha telefonado para lhe vender três milhões a 102. Também disse que você o tinha aconselhado a comprá-las depressa, porque estavam a subir. Hoje de manhã desceram para 100.
— Para o valor nominal! Não acredito!
— Bom, mas foi o que aconteceu, e ainda vão baixar mais, se é que continuam a ter cotação. O relatório de Standard & Poor fê-las descer de A para B.
— Não posso acreditar, Arnold! Ainda anteontem as vi descer de 103 para 102.5, perguntei à Auditoria se havia algum problema, e estava tudo bem. Depois, ontem, desceram para 102, a seguir para 101 78, e logo a seguir subiram outra vez para 102. Portanto calculei que outros compradores tinham dado por ela, e foi nessa altura que telefonei a Oscar. Estavam outra vez a subir. A 102, era um óptimo negócio. Oscar andava à procura de uma coisa acima de 9, e esta dava 9.75, quase 10, era um duplo A.
— Mas consultaste a Auditoria ontem, antes de as comprares para o Oscar?
— Não, mas ainda subiram mais um oitavo depois de eu as comprar. Estavam a subir. Isto dá-me cabo da cabeça. Ao valor nominal! É inacreditável!
— Ora bolas, Sherman — disse, Parch, já sem sorrir — não vês o que se passou? Alguém na Salomon andou a deitar-te poeira para os olhos. Eles estavam cheios deFrags, e sabiam que vinha aí o relatório da& P, por isso montaram uma encenação. Baixaram o preço há dois dias, a ver se alguém mordia o isco. Depois tornaram a subi-lo, para dar a ideia de que tinham feito algumas vendas. Depois tornaram a baixá-lo ontem, a ver se pegava. E, quando tu mordeste o isco — e foi uma bela dentada — tornaram a subir o preço, a ver se tornavas a morder a 102 18. Não havia mais ninguém no mercado a não ser o Solly e tu, Sherman! Mais ninguém lhes tocou. Atiraram-te poeira para os olhos. Agora o Oscar perdeu 60000 dólares e ficou com três milhões de títulosque não quer para nada.
Um clarão terrível. Claro que era verdade. Tinha-se deixado enrolar como um perfeito amador. E logo havia de ser com o Oscar Suder! Oscar, com quem ele contava para o negócio da Giscard... eram só 10 milhões em 600, mas sempre eram 10 milhões que ia ter de ir buscar a outro lado...
— Não sei o que diga — disse Sherman. — Tem toda a razão. Deixei-me levar. — Depois pareceu-lhe que aquele «deixei-me levar» podia ter a impressão de que ele estava a tentar descartar-se das suas responsabilidades. — Foi um erro estúpido, Arnold. Eu devia ter visto logo. — Abanou a cabeça. — Caramba. Ainda por cima o Oscar. Não acha que é melhor eu telefonar-lhe?
— Se fosse a si não telefonava já. Ele está mesmo chateado. Queria saber se você ou alguém aqui sabia que estava para chegar o relatório da& P. Eu disse que não, porque sabia que você não ia impingir de propósito uma coisa destas ao Oscar. Mas a verdade é que na Auditoria sabiam. Devia ter verificado, Sherman. Afinal de contas, três milhões de obrigações...
Parch sorriu como se dissesse: «O que lá vai, lá vai.» Era evidente que ele próprio não apreciava grandemente aquele tipo de sessões. — Enfim, são coisas que acontecem. Mas você é o nosso número um, Sherman. — Arqueou as sobrancelhas e manteve-as assim um bocado, no alto da testa, como se dissesse: «Está a perceber?»
Levantou-se, com esforço, da cadeira. Sherman fez o mesmo. Bastante embaraçado, Parch estendeu a mão, e Sherman apertou-a.
— Pronto, e agora ao ataque! — disse Parch com um sorriso largo mas pouco convicto.
Inicialmente, a distância entre o lugar onde se encontrava Kramer, junto à mesa da acusação, e o lugar onde Herbert 92X estava sentado, à mesa da defesa, não era de mais de vinte pés. Kramer aproximou-se alguns passos, reduzindo a distância, até que todas as pessoas presentes no tribunal perceberam que algo estranho se estava a passar, sem perceberem ao certo o quê. Chegara o momento de destruir toda a compaixão por Herbert que Teskowitz tivesse podido suscitar.
— Bom, já tomámos conhecimento de alguns factos da história pessoal de Herbert 92X — disse Kramer, voltando-se para o júri — e aqui temos hoje Herbert 92X, neste tribunal. — Ao contrário de Teskowitz, Kramer enfiava o nome Herbert 92X em quase todas as frases, ao ponto de parecer um robot de um filme de ficção científica. Depois rodou sobre os calcanhares, olhou Herbert bem de frente e disse: — Sim, aqui temos Herbert 92X... de perfeita saúde!... Cheio de energia!... Pronto a regressar às ruas e a retomar a sua vida, a vida tal como a entende um Herbert 92X, e que inclui o porte ilegal de um revólver de calibre 38 clandestino e não registado!
Kramer olhou Herbert 92X nos olhos. Estava agora a uns escassos dez pés de distância do réu, e atirou-lhe à cara aquela saúde, aquela energia e aquele retomar como se estivesse pessoalmente disposto a arrasar naquele homem, com as suas próprias mãos, a saúde, a energia e a possibilidade de retomar uma vida de trabalho ou qualquer outro género de vida. Herbert não era homem para ignorar um desafio. Fitou Kramer com um sorriso frio que significava: «Vai falando, vai, meu trouxa, enquanto eu conto até dez... e te esborracho!» Os jurados — ela — devem ter ficado com a impressão de que Herbert estava suficientemente próximo dele para o estrangular, e, pior ainda, ansioso por o fazer. Isso não afligia Kramer. Estava protegido por três guardas já muito bem dispostos com a ideia do dinheiro a mais que iam ganhar com aquelas horas extraordinárias. Portanto Herbert bem podia mirá-lo com a sua farpela de árabe e o seu ar de duro! Quanto mais duro o júri o achasse, melhor para Kramer. E quanto mais perigoso o réu parecesse aos olhos de Miss Shelly Thomas — mais heróica a aura do jovem e intrépido procurador!
Quem não podia crer nos seus olhos era Teskowitz. Abanava lentamente a cabeça para trás e para diante, como um regador de aspersão. Não podia crer no espectáculo que estava a presenciar. Se Kramer se atirava a Herbert daquela maneira, num perfeito caso de merda, o que não faria se tivesse nas mãos um verdadeiro assassino!
— Bom, minhas senhoras e meus senhores — disse Kramer, tornando a virar-se para o júri sem, contudo, se afastar de Herbert — é meu dever falar em nome de uma pessoa que não está presente neste tribunal porque foi atingida e morta por uma bala do revólver empunhado por um homem que nunca vira na sua vida, Herbert 92X. Faço-vos lembrar que o que está em causa neste julgamento não é a vida de Herbert 92X mas sim a morte de Nestor Cabrillo, um bom homem, um honesto cidadão do Bronx, bom marido, bom pai de família... com cinco filhos... ceifado no vigor da vida devido à arrogante convicção de Herbert 92X... de que tem o direito de resolver os seus problemas com o auxílio de um revólver de calibre 38 clandestino, não resgistado, ilegal...
Kramer poisava os olhos em todos os jurados, um por um. Mas no fim de cada período bombástico era sempre nela que os demorava. Ela estava perto do extremo esquerdo da bancada, na segunda fila, por isso a coisa era um bocado suspeita, talvez até um bocado óbvia. Mas a vida é curta! E, meu Deus! — aquele rosto tão imaculado, tão branco! — aquela coroa luxuriante de cabelo! — aqueles lábios perfeitos, pintados de castanho! E o brilho de admiração que ele agora detectava naqueles olhos castanhos! Miss Shelly Thomas estava perdidamente embriagada, ébria do crime no Bronx.
No passeio, Peter Fallow ia vendo os carros e os táxis que subiam a toda a pressa a West Street em direcção à parte alta da cidade. Meu Deus, que vontade que ele tinha de se enfiar num táxi e ir a dormir até à porta do Leicesters... Não! Que ideia era aquela? Nada de Leicesters, esta noite; nem uma gota de álcool, fosse sob que forma fosse. Hoje ia directamente para casa. Começava a escurecer. Ele daria tudo por um táxi... daria tudo para se poder aninhar num táxi, adormecer e ir direitinho para casa... Mas a corrida custar-lhe-ia uns nove ou dez dólares, e ele já só tinha menos de setenta e cinco dólares até ao dia de receber, que era na semana seguinte; ora em Nova Iorque setenta e cinco dólares não são nada — um simples suspiro, um sopro, um pensamento fugidio, um capricho, um estalar dos dedos. Não tirava os olhos da entrada principal do edifício do City Light, que era uma feia torre modernista dos anos 20, na esperança de ver sair algum americano do jornal com quem pudesse partilhar um táxi. O truque consistia em descobrir para onde ia o americano e em escolher uma rua que ficasse quatro ou cinco quarteirões antes, anunciando-a como o seu próprio destino. Nenhum americano tinha coragem de pedir a uma pessoa que pagasse a corrida a meias, nessas circunstâncias.
Ao fim de algum tempo lá apareceu um americano chamado Ken Goodrich, o chefe do departamento de marketing do City Light (departamento de marketing — só Deus sabe o que isso queria dizer!). Teria ele a coragem de repetir a façanha? Já cravara duas boleias a Goodrich nos dois últimos meses, e da segunda vez a satisfação de Goodrich pela oportunidade de conversar com um inglês durante o trajecto fora consideravelmente menos intensa do que a primeira; consideravelmente menos. Não, não tinha coragem. Portanto, preparou-se para percorrer a pé os oito quarteirões até à Câmara, onde podia apanhar o metro da Lexington Avenue.
Aquela parte mais antiga da baixa de Manhattan esvaziava-se depressa ao fim da tarde, e à medida que Fallow ia caminhando no crepúsculo com o seu passo cansado, começou a sentir cada vez mais pena de si próprio. Revolveu os bolsos do casaco para ver se teria uma senha de metro. Tinha, e isso trouxe-lhe ao espírito uma recordação penosa. Duas noites antes, no Leicesters, procurara no bolso um quarto de dólar para dar ao Tony Moss, que precisava de fazer uma chamada — quisera ser generoso e dar-lhe a moeda, porque já começava a ganhar fama de «pendura» mesmo entre os seus compatriotas — tirara para fora um punhado de moedas, e lá estavam, no meio dos meios dólares, dos quartos de dólar, das moedas de cinco cêntimos e de um cêntimo, duas senhas de metro. Tivera a sensação de que toda amesa ficara a olhar para elas. E Tony tinha-as visto, de certeza.
Fallow não tinha medo físico de andar no metropolitano de Nova Iorque. Considerava-se um tipo forte e, além disso, nunca lhe acontecera nada de desagradável no metro. Não, o que ele receava — e com um medo autêntico — era a sordidez. Descer as escadas da estação City Hall com toda aquela gente escura e mal vestida era como entrar, voluntariamente, numa masmorra, uma masmorra muito suja e barulhenta. Por toda a parte havia vigas encardidas de cimento, vigas negras, plataforma após plataforma, nível após nível, um delírio visto por entre barras negras, em todas as direcções. Sempre que um comboio entrava ou saía da estação ouvia-se um guincho metálico de agonia, como se a cada vez uma alavanca inimaginavelmente poderosa desmantelasse um enorme esqueleto de aço. Porque seria que neste país farto e abundante, com a sua obscena acumulação de riqueza e mais obscena ainda preocupação com o conforto das criaturas, não conseguiam criar um metropolitano tão calmo, ordeiro, apresentável e ... enfim decente como o de Londres? Porque eram umas crianças. Como o metro ficava debaixo do chão, longe das vistas de todos, não importava que fosse bom ou mau.
Fallow conseguiu arranjar um lugar sentado àquela hora, se é que se pode chamar lugar sentado a um espaço num banco estreito de plástico. Ante os seus olhos espraiava-se o emaranhado habitual e deprimente dos grafitti, desfilavam as pessoas escuras e mal vestidas do costume, de roupas castanhas e cinzentas e de ténis — à excepção de um par muito próximo dele, do outro lado do corredor, um homem e um rapaz. O homem, provavelmente com uns quarenta e tal anos, era baixo e gordo. Vestia um fato cinzento às riscas brancas, de bom gosto e com ar de ter sido caro, uma camisa branca bem engomada e uma gravata que, num americano, se podia considerar discreta. Calçava uns belos sapatos pretos, de boa qualidade, muito bem engraxados. Os homens americanos, geralmente, destruíam uma aparência em tudo o mais perfeitamente apresentável usando sapatorros de sola grossa e por engraxar. (Raramente viam os seus próprios pés, e por isso, como crianças que eram, pouco se preocupavam com o modo de os calçar.) Entre os pés tinha uma pasta de pele escura, obviamente cara. Inclinava-se para falar ao ouvido do rapaz, que parecia ter oito ou nove anos. O rapaz vestia um blazer de uniforme de colégio, uma camisa branca e uma gravata às riscas. Sem deixar de falar com o rapaz, o homem poisava os olhos aqui e ali e gesticulava com a mão direita. Fallow calculou que aquele indivíduo trabalhava na Wall Street, tinha levado o filho a fazer uma visita ao escritório e lhe proporcionava agora um passeio de metro, para lhe revelar os arcanos daquela masmorra rolante.
Distraidamente, pôs-se a observar os dois, enquanto o comboio ganhava impulso e atingia o ritmo regular, chocalhado e barulhento da viagem até à parte alta da cidade.
Fallow viu a imagem do seu próprio pai. Um homenzinho enfezado, um pobre infeliz, no fundo era o que ele era, um homenzinho enfezado com um filho chamado Peter, um pobre zé-ninguém instalado no meio dos seus adereços de boémio numa casa arruinada em Cantuária... E o que sou eu, pensou Fallow, aqui sentado nesta masmorra rolante, nesta cidade doida deste país de loucos? Morto por uma bebida, morto por uma bebida... Invadiu-o mais uma onda de desespero... Olhou para as lapelas do casaco... Via-as brilhar, mesmo àquela luz miserável. Oh, como ele descera... abaixo de boémio... Veio-lhe à cabeça a palavra tão receada: maltrapilho.
A paragem do cruzamento da Lexington Avenue com a Rua 77 ficava perigosamente próxima do Leicesters. Mas isso não era problema. Peter Fallow não ia tornar a jogar esse jogo. Quando chegou ao cimo das escadas e saiu para o passeio, no crepúsculo, reconstituiu mentalmente o cenário, com o simples propósito de provar a si próprio a sua firmeza, rejeitando-o. A madeira antiga, os candeeiros de vidro fosco, as luzes atrás do bar e o modo como iluminavam as filas de garrafas, a multidão de gente, como num pub, o fogo vivo das suas vozes — das suas vozes — vozes inglesas... Talvez, se ele tomasse só um sumo de laranja com ginger ale e um quarto de hora de vozes inglesas... Não! Seria firme.
Estava agora diante do Leicesters, que aos olhos de um transeunte inocente seria sem dúvida apenas mais um bar ou trattolia agradável do East Side. Entre os caixilhos antiquados das vidraças, Fallow via todos aqueles rostos simpáticos apinhados à volta das mesas mais próximas das janelas, rostos simpáticos, brancos e alegres, iluminados por candeeiros cor de âmbar rosado. Foi a última gota. Decididamente, precisava de reconforto, de um sumo de laranja com ginger ale e de vozes inglesas.
Quem entre no Leicesters pela porta da Lexington Avenue vê-se numa sala cheia de mesas com toalhas aos quadrados vermelhos, à maneira dos restaurantes típicos. Ao longo de uma das paredes há um grande bar com um varão de latão para os pés. Uma porta lateral dá acesso a uma sala de jantar mais pequena. Nessa sala, diante da janela que dá para a Lexington Avenue, fica uma mesa onde se podem instalar oito a dez passos, desde que não se importem de ficar umas em cima das outras. Um costume tácito fez dessa mesa a mesa dos Ingleses, uma espécie de mesa de clube onde, durante a tarde e princípio da noite, os Ingleses — membros do mundo do bon ton de Londres, agora residentes em Nova Iorque — vão e vêm, para beberem uns copos... e ouvirem vozes inglesas.
As vozes! O fogo já estava bem ateado quando Fallow entrou.
Olá, Peter!
Era Grillo, o americano, de pé no meio da multidão que se comprimia contra o bar. Um tipo divertido, e simpático, mas Fallow já tinha a sua dose de América por aquele dia. Sorriu, lançou um «Olá, Benny!» e encaminhou-se directamente para a sala ao lado.
Tony Moss estava na mesa; e Caroline Heftshank; e Alex Britt-Withers, o dono do Leicesters; e St. John Tho-mas, o director de museu e negociante de arte (às escondidas); e o namorado de St. John, Billy Cortez, um venezuelano que frequentara Oxford e poderia perfeitamente ser inglês; e Rachel Lampwick, uma das duas filhas que Lord Lampwick despachara para Nova Iorque; e Nick Stopping, o jornalista marxista — estalinista, melhor dizendo — que vivia principalmente de escrever artigos em que lisonjeava os ricos na House & Garden, na Art & Anti-ques e na Connoisseur.A ajuizar pelo número de copos e garrafas, a mesa já estava em actividade há já algum tempo, e em breve os ocupantes procurariam um trouxa para pagar a despesa, a menos que Alex Britt-Withers, o proprietário... mas não, Alex nunca perdoava as contas.
Fallow sentou-se e anunciou que ia virar uma página na sua vida e por isso só queria um sumo de laranja com ginger ale. Tony Moss quis saber se aquilo queria dizer que ele tinha deixado de beber ou tinha deixado de pagar. Fallow não se importou porque o comentário viera de Tony, de quem ele gostava, portanto riu e disse que nessa noite nenhum deles precisava de ter dinheiro, pois estava presente na mesa Alex, o generoso anfitrião. E Alex disse: — Ninguém precisa de ter dinheiro, e tu menos que todos os outros, imagino. — Caroline Heftshank disse que Alex tinha ferido a susceptibilidade de Fallow, e Fallow disse que era verdade, que dadas as circunstâncias se via obrigado a mudar de opinião. Pediu ao empregado que lhe trouxesse um vodka Southside. Todos riram, porque aquilo era uma alusão a Asher Herzfeld, um americano, herdeiro da fortuna das indústrias de vidros Herzfeld, que tivera uma discussão furiosa com Alex na noite anterior por não ter conseguido arranjar mesa. Herzfeld dava sempre cabo-da cabeça dos empregados e bartenders pedindo aquela fortíssima bebida americana, o vodka Southside, que era feita com hortelã, e queixando-se depois de que a hortelã não era fresca. Com isto, a mesa pôs-se a contar histórias de Herzfeld. St. John Thomas, na sua voz mais aflautada, contou que fora uma vez jantar ao apartamento de Herzfeld na Quinta Avenida e ele fizera questão de apresentar os convidados aos seus quatro criados, o que deixara estes pouco à vontade e incomodara os convivas. Tinha a certeza de ter ouvido o jovem criado sul-americano dizer: «Já agora porque é que não vamos todos jantar a minha casa?», o que, na opinião de St. John, teria dado uma noite mais bem divertida.
— E afinal foi mais divertida ou não? — perguntou Billy Cortez, deixando transparecer o seu desagrado. — Tenho a certeza de que entretanto aceitaste a sugestão. Diga-se de passagem que o rapaz é um porto-riquenho com ar de chulo. — Não é porto-riquenho — disse St. John —, é peruano. E não tem ar de chulo. — Então a mesa passou a abordar o seu tema preferido, que era o comportamento doméstico dos Americanos. Os Americanos, com o seu perverso sentimento de culpa, passavam a vida a apresentar os convidados aos criados, especialmente as «pessoas como Herzfeld», disse Rachel Lampwick. Depois falaram das esposas, das esposas americanas, que exerciam sobre os maridos um controlo tirânico. Nick Stopping disse que descobrira porque é que os homens de negócios nova-iorquinos faziam intervalos tão grandes para o almoço. Era a única hora do dia em que podiam escapar às mulheres e ter relações sexuais. Ia escrever um artigo chamado «Sexo ao Meio-Dia», para a Vanity Fair. O criado trouxe mesmo a Fallow um vodka Southside e, no meio da alegria geral, dos brindes e das queixas a Alex pelo estado da hortelã, bebeu-o e pediu um segundo. A verdade é que aquele sabor era excelente. Alex abandonara a mesa para ver como iam as coisas na sala grande, e Johny Robertson, o crítico de arte, chegou e contou uma história divertida acerca de um americano que insistira em tratar pelo nome próprio o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros e a mulher na inauguração da exposição de Tiepolo, na noite anterior; Rachel Lampwick contou que um americano, ao ser apresentado ao pai dela — «Apresento-lhe Lord Lampwick» — respondera «Viva, Lloyd!» Mas os professores universitários americanos ficavam todos ofendidíssimos se uma pessoa não se lembra de os tratar por «Doutor», disse St. John, e Caroline Heftshank quis saber porque é que os Americanos insistiam em pôr a morada do remetente no anverso dos envelopes, e Fallow pediu mais um vodka Southside, e Tony e Caroline perguntaram porque é que não se pedia mais uma garrafa de vinho. Fallow disse que não se importava que os américas o tratassem pelo primeiro nome, contanto que não o reduzissem a Pete. Todos os américas do Citv Light o tratavam por Pete, e a Nigel Stringfellow por Nige, e usavam falsas gravatas de regimento muito espetadas diante da camisa, de maneira que o facto de ver uma dessas gravatas berrantes desencadeava nele uma reacção automática de estímulo-resposta: encolhia-se de medo e preparava-se para ouvir um Pete. Nick Stopping contou que jantara dias antes em casa de Stropp, o dono do banco de investimentos, na Park Avenue, e que a filha de quatro anos do anfitrião e da sua segunda mulher entrara na sala de jantar puxando um carrinho de brincar onde trazia excrementos humanos frescos — sim, excrementos! — esperava-se que pelo menos fossem dela, e dera três voltas à mesa sem que Stropp ou a mulher fizessem mais do que abanar a cabeça e sorrir. O episódio não mereceu grandes comentários, uma vez que a indulgência piegas dos Americanos para com os filhos era bem conhecida; Fallow pediu mais um vodka Southside e brindou à saúde do ausente Asher Herzfeld, e todos os outros pediram também mais bebidas.
Fallow começou então a aperceber-se de que pedira bebidas no valor de uns vinte dólares, soma que não tencionava pagar. Como que ligados entre si pelo inconsciente colectivo de Jung, Fallow, St. John, Nick e Tony perceberam que era chegada a hora do trouxa. Mas qual trouxa?
Foi, finalmente, Tony quem gritou: — Olá, Ed! — E, com o sorriso mais caloroso do mundo, começou a chamar para a mesa um jovem alto. Era um americano, bem vestido, na realidade bastante atraente, de feições aristocráticas e um rosto tão claro, tão rosado, tão liso e tão aveludado como um pêssego.
— Ed, quero-lhe apresentar Caroline Heftshank. Caroline, este é o meu bom amigo Ed Fiske.
Uma rodada de «muito prazer», à medida que Tony ia apresentando o americano à mesa. Depois Tony anunciou: — Ed é o Príncipe de Harlem.
— Oh, por amor de Deus — disse Ar. Ed Fiske.
— É verdade! — disse Tony. — Ed é a única pessoa que eu conheço que pode percorrer da direita para a esquerda, de cima a baixo, para trás e para diante, todas as ruas, becos, palácios e antros de Harlem, quando lhe apetece e onde lhe apetece, a qualquer hora do dia ou da noite, e ser sempre bem vindo.
— Tony, isso é um exagero terrível — disse Mr. Ed Fiske, corando mas sorrindo ao mesmo tempo de uma maneira que indicava não ser escandaloso o exagero. Sentou-se e incitaram-no a pedir uma bebida, o que ele fez.
— Conte-nos lá o que se passa em Harlem, Ed?
Corando uma vez mais, Mr. Ed Fiske confessou que estivera em Harlem nessa mesma tarde. Sem citar nomes, falou de um encontro com um indivíduo de quem era sua delicada missão conseguir a devolução de uma soma importante, trezentos e cinquenta mil dólares. Contou a história hesitantemente e com algumas incoerências, uma vez que se esforçou por não insistir no elemento da cor e evitou explicar porque é que tanto dinheiro estava em jogo — mas os ingleses pareciam suspensos de cada palavra, com rostos embevecidos e radiosos, como se ele fosse o mais brilhante contador de histórias que eles tivessem encontrado no Novo Mundo. Riam, casquinavam, repetiam os fim das suas frases, como nos coros das canções de Gilbert and Sullivan. Mr. Ed Fiske continuava a falar, ganhando cada vez mais confiança e fluência. A bebida começava a fazer efeito. Fez estendal dos seus mais raros e mais preciosos conhecimentos acerca de Harlem. Tantos rostos britânicos, cheios de admiração, à sua volta! Como sorriam! Eles sim, apreciavam realmente a arte da conversação! Com uma generosidade despreocupada, ofereceu uma rodada de bebidas à mesa; Fallow tomou mais um vodka Southside, e Mr. Ed Fisk falou de um homem alto e assustador a quem chamavam Buck e que usava um grande brinco de ouro, como um pirata.
Os ingleses tomaram as suas bebidas, e depois foram-se eclipsando um a um — primeiro Tony, depois Caroline, depois Rachel, depois Johny Robertson, depois Nick Stop-ping. Quando Fallow disse a meia voz: «Desculpem-me só um minuto», e se levantou, só ficaram St. John e Billy Cortez, e Billy puxava pela manga de St. John, porque começava a detectar uma boa dose de sinceridade no olhar embevecido que St. John lançava ao belo, e aparentemente rico, jovem da tez cor de pêssego.
Cá fora, na Lexington Avenue, Fallow tentou calcular o montante da conta que em breve seria entregue ao jovem Mr. Fiske. Sorriu no escuro — abençoada bebedeira! Nunca seriam muito menos de duzentos dólares. E com certeza pagá-los-ia sem um protesto, o pobre trouxa.
Aqueles americanos, Santo Deus!
Só que o problema do jantar continuava por resolver.
Um jantar no Leicesters, mesmo sem vinho, custava pelo menos quarenta dólares por pessoa. Fallow encaminhou-se para a cabina telefónica da esquina. Havia aquele Bob Bowles aquele americano director de uma revista... Devia resultar... A mulher magrizela com quem ele vivia, uma Mona não sei quantos, era perfeitamente insuportável, mesmo quando estava calada. Mas tudo na vida tinha o seu preço, não é verdade?
Entrou na cabina e enfiou um quarto de dólar na ranhura. Com um pouco de sorte, estaria de novo no Leices-ters dentro de uma hora ou menos, a comer o seu prato preferido, o paillard degalinha, que sabia especialmente bem acompanhado com vinho tinto. Gostava de Vieux Galou-ches, um vinho francês que vinha numas garrafas de gargalo excêntrico, o melhor.
8 - O Caso
Martin, o detective irlandês, ia ao volante, o seu companheiro, Goldberg, ia no assento da frente, e Kramer no banco de trás, por acaso no melhor ângulo para ver o velocímetro. Desciam a via rápida Major Deegan a umas sessenta e cinco milhas por hora, à boa maneira irlandesa, em direcção a Harlem.
O facto de Martin ser irlandês ocupava nesse momento o espírito de Kramer. Acabava de se lembrar da ocasião em que vira aquele homem pela primeira vez. Fora pouco depois de ter entrado para o Departamento dos Homicídios. Tinham-no mandado à Rua 152, onde um homem fora abatido no banco de trás de um automóvel. O automóvel era um Cadillac Sedan DeVille. Uma das portas traseiras estava aberta, e junto dela encontrava-se um detective, um tipo franzino, que não pesaria mais de 150 libras, de pescoço magro, cara chupada e ligeiramente assimétrica, e olhos de Doberman. O detective Martin. O detective Martin fizera um gesto largo com a mão, indicando a porta, como um criado de mesa. Kramer espreitou lá para dentro, e o que viu foi muito mais horrível do que a expressão «abatida no banco de trás de um automóvel» tinha conseguido sugerir-lhe. A vítima era um homem gordo com um casaco berrante, aos quadrados. Estava sentado no banco de trás com as mãos pousadas nas pernas, como se se preparasse para arregaçar as calças, não fossem elas ficar comjoelheiras. Parecia ter ao pescoço um grande babeiro vermelho-vivo. Faltavam-lhe uns dois terços da cabeça. Quanto ao vidro de trás do Cadillac, parecia que alguém tinha atirado uma pizza contra ele. O babeiro vermelho era sangue arterial, que jorrara da base da sua cabeça como de uma fonte. Kramer afastou-se do carro às arrecuas. «Porra! — disse. — Viu aquilo? Como é que eles... porra, que coisa!... está espalhado pelo carro todo!» Ao que Martin respondera: «Pois é, caramba, esta coisa deve ter estragado o dia ao homenzinho.» A princípio Kramer tomara esta resposta como um sinal de desespero por o espectáculo o ter transtornado, mas mais tarde percebera que era precisamente essa a reacção que Martin esperava. Qual seria a graça de dar a conhecer às pessoas um vintage do crime no Bronx se elas nem sequer ficassem transtornadas? A partir daí, Kramer passou a fazer questão de se mostrar tão irlandês como os melhores no local dos crimes.
O companheiro de Martin, Goldberg, tinha o dobro do tamanho dele — era um autêntico matulão, com uma cabeleira espessa e encaracolada, um bigode que lhe sublinhava os cantos da boca e um pescoço gordo. Havia irlandeses chamados Martin e judeus chamados Martin. Havia alemães chamados Kramer e judeus chamados Kramer. Mas todos os Goldbergs desde o começo dos tempos eram judeus, exceptuando talvez aquele Goldberg. Com o passar do tempo, à força de ser companheiro de Martin, o mais provável era ter-se transformado também em irlandês.
Martin, ao volante, virou ligeiramente a cabeça para se dirigir a Kramer, que ia atrás. — Ainda me custa a acreditar que vou a caminho de Harlem para ouvir aquele animal. Se fosse uma escuta, ainda percebia. Só não vejo é como é que ele conseguiu chegar até ao Weiss.
— Também não sei — disse Kramer. Disse-o sem entusiasmo, só para mostrar que era um tipo às direitas que percebia que aquela missão não tinha pés nem cabeça. A verdade é que ainda estava a pensar no veredicto que fora pronunciado na noite anterior. Herbert 92X afundara-se. Shelly Thomas surgira esplendorosa como o Sol. — Aparentemente, Bacon falou com Joseph Leonard. Sabe quem é Leonard? O político negro?
O radar de Kramer dizia-lhe que negro era um termo demasiado delicado, demasiado requintado, demasiado conforme com a nova moda liberal para uma conversa com Martin e Goldberg, mas não quis correr o risco de experimentar outra palavra.
— Sei, sei quem é — disse Martin. — É outro que tal.
— Bom, isto é só uma suposição minha — disse Kramer — mas Weiss vai concorrer às eleições em Novembro, e se Leonard quiser um favor, Weiss faz-lhe com certeza esse favor. Acha que precisa do apoio dos negros. Um dos adversários dele nas primárias vai ser um porto-riquenho, um tal Santiago.
Goldberg soltou uma espécie de gargalhada surda. — Adoro quando eles se põem a falar de apoios. Como se acreditassem que há organizações que funcionam num sítio daqueles. É de morrer a rir. No Bronx eles não conseguem organizar coisíssima nenhuma. Em Bedford-Stuyvesant é a mesma coisa. Já trabalhei no Bronx, em Bedford-Stuyvesant e em Harlem. Em Harlem são mais sofisticados. Em Harlem, se caçamos um sacana qualquer e lhe dizemos: «Olha, há duas maneiras de fazermos a coisa, a maneira difícil e a maneira fácil, a escolha é tua», pelo menos o tipo sabe de que é que estamos a falar. No Bronx ou em Bed-Stuy, nada feito, Bed-Stuy é o sítio pior. Em Bed-Stuy o melhor que um gajo tem a fazer é começar logo a rebolar-se na merda. Não é, Marty? — É — disse Martin, sem entusiasmo. Goldberg não usara qualquer designação a não ser «eles». E, aparentemente, Martin não parecia muito interessado em entrar numa discussão filosófica sobre a Polícia. — Então o Bacon telefona ao Leonard, e o Leonard telefona ao Weiss — continuou Martin. — E depois?
— A mãe desse tal miúdo, esse Lamb, trabalha, ou trabalhou em tempos, para o Bacon — disse Kramer. — Diz que tem alguns dados sobre o que aconteceu ao filho, mas como tem uma autêntica colecção de multas de estacionamento e um mandato de captura por causa disso, ficou com medo de ir à Polícia. Portanto, o acordo é o seguinte: Weiss cancela o mandato e autoriza-a a ir pagando as multas aos poucos, e ela fornece-nos os tais dados, mas tem de ser na presença de Bacon.
— E o Weiss diz que sim.
— Diz que sim.
— Que bonito!
— Bom, você conhece o Weiss — disse Kramer. — A única coisa que lhe interessa é que ele é judeu e vai candidatar-se à reeleição num condado com 70 por cento de negros e porto-riquenhos.
Goldberg perguntou: — Já alguma vez se encontrou com Bacon?
— Não.
— É melhor tirar o relógio antes de entrar lá em casa. O sacana não mexe uma palha, a não ser quando se trata de roubar.
Martin disse: — Era nisso que eu estava a pensar, Davey. Não vejo onde é que anda o dinheiro nesta história, mas aposto que nalgum lado há-de andar. — E, para Kramer: — Já ouviu falar da Associação do Emprego Portas Abertas?
— Claro.
— É uma das operações do Bacon. Sabe que eles agora aparecem nos restaurantes a exigir empregos para as minorias? Havia de ter estado na cena de pancadaria que armaram na Gun Hill Road. Não havia uma única cara branca a trabalhar para aquelas bandas, porra! Por isso não sei de que minorias é que eles estariam a falar, a menos que se possa chamar minoria a meia-dúzia de selvagens armados de tubos metálicos.
Kramer perguntou a si próprio se «selvagens» poderia ser interpretado como um epíteto racial. Também não queria ser irlandês a esse ponto. — Bom, o que é que eles ganham com isso?
— Dinheiro — disse Martin. — Se o gerente do restaurante dissesse «Ora ainda bem, precisamos de mais umas pessoas, vamos empregá-los a todos» ficavam a olhar para o homem como se ele viesse de outro planeta. O que eles querem é dinheiro para se calarem. E com a Liga Contra a Difamação do Terceiro Mundo é a mesma coisa. Esses são os tipos que vão para a Broadway armar barulho. É outra das operações do Bacon. O tipo é um amor.
— Mas a Associação de Emprego Portas Abertas — disse Kramer — mete-se em lutas a sério.
— Autênticas batalhas campais — confirmou Goldberg.
— Se é tudo a fingir, porque é que se metem nisso? Sempre arriscam a pele, não é?
— É preciso conhecê-los — disse Martin. — Esses chanfrados dum raio são capazes de andar o dia inteiro à porrada por coisa nenhuma... Porque é que não haviam de fazer o mesmo se alguém lhes paga meia-dúzia de dólares por isso?
— Lembras-te daquele que se atirou a ti de cano em punho, Marty?
— Se me lembro dele? Até já o vi em sonhos, porra! Um sacana dum matulão com um brinco de ouro pendurado na tola, assim — e Martin formou um grande O com o polegar e o indicador, segurando entre eles a orelha direita.
Kramer não sabia até que ponto havia de acreditar em tudo aquilo. Lera uma vez um artigo no Village Voice que descrevia Bacon como um «socialista das ruas», um activista político negro que desenvolvera as suas próprias teorias acerca das grilhetas do capitalismo e das estratégias a adoptar para fazer com que os negros obtivessem o que lhes era devido. Nem Kramer nem o pai tinham grandes afinidades com os políticos de esquerda. No entanto, lembrava-se que lá em casa, quando ele era miúdo, a palavra socialista tinha conotações religiosas. Era como Zelota e Masada. Havia nela qualquer coisa de judaico. Por muito obstinado, por muito cruel e vingativo que um socialista fosse possuía sempre algures na sua alma uma centelha da luz de Deus, de Javé. Talvez as operações de Bacon fossem pura extorsão, talvez não fossem. De um certo ponto de vista, toda a história do movimento sindical não passava de extorsão. O que era uma greve senão extorsão, baseada numa ameaça real ou implícita de actos violentos? E também o movimento sindical gozava de uma aura religiosa em casa de Kramer. Os sindicatos eram uma Masada que se erguia contra os piores dos goyim. O seu pai era um candidato a capitalista, um lacaio dos capitalistas, no fundo, que nunca na sua vida pertencera a um sindicato e se sentia infinitamente superior aos que pertenciam. No entanto, uma noite em que o senhor Barry Goldwater fora à televisão anunciar um projecto de lei acerca do direito ao trabalho, o seu pai desatara a rosnar e a praguejar de uma maneira que faria parecer frouxos e conciliadores até mesmo Joe Hill e os Wobblies. Sim, o movimento sindical era verdadeiramente religioso, como o próprio judaísmo. Era uma dessas coisas em que se acredita para a humanidade em geral e que não merece sequer um minuto de atenção na vida de cada um. Era curioso, isso da religião... O seu pai envolvia-se nela como numa capa... Esse tal Bacon envolvia-se nela como numa capa... Herbert envolvia-se nela... Herbert... De repente
Kramer descobriu uma maneira de falar do seu triunfo.
— É curiosa a relação destes tipos com a religião — disse aos dois polícias dos bancos da frente. — Ainda agora me livrei de um processo, um tipo chamado Herbert 92X. — Kramer não disse: «Ainda agora ganhei uma causa.» Contava dá-lo a entender à medida que fosse contando a história. — Esse tipo...
Aliás, provavelmente Martin e Goldberg estavam-se nas tintas para aquilo. Mas, pelo menos... sempre compreenderiam...
Até chegar a Harlem não abandonou o seu papel de animado contador de histórias.
Não havia vivalma no grande gabinete do Reverendo Bacon quando a secretária mandou entrar Kramer, Martin e Goldberg. A ausência mais evidente era a do próprio Reverendo Bacon. A sua grande cadeira giratória erguia-se atrás da mesa vazia, criando uma atmosfera de expectativa.
A secretária indicou-lhes três cadeirões voltados para a mesa de Bacon, e depois saiu. Kramer espreitou, pela janela que ficava por trás da cadeira giratória, os troncos tristonhos das árvores do jardim. Os troncos estavam salpicados de manchas de um amarelo pantanoso e de um verde de matérias em putrefacção. Depois olhou para o tecto trabalhado, para as cornijas denteadas de estuque e para todos os outros pormenores arquitectónicos que oitenta anos antes eram indício infalível da presença de um milionário. Martin e Goldberg faziam o mesmo. Martin olhou para Goldberg e fez um trejeito com o canto dos lábios, com uma expressão que queria dizer: «Isto é só fachada.»
Abriu-se uma porta e entrou um homem negro, alto, com ar de quem tem dez milhões de dólares. Vestia um fato preto de um corte que lhe realçava os ombros largos e a cintura delgada. O casaco, apenas com dois botões, deixava à mostra uns bons hectares de um irrepreensível peitilho de camisa. O colarinho engomado contrastava, na sua imaculada brancura, com a pele escura do homem. Trazia uma gravata de xadrez preto sobre fundo branco, o tipo de gravata que Anwar Sadat costumava usar. Kramer sentiu-se todo amarrotado só de olhar para ele.
Ficou um instante indeciso entre levantar-se ou não se levantar da cadeira, sabendo o que Martin e Goldberg pensariam de qualquer atitude respeitosa da sua parte. Mas não conseguiu arranjar outra maneira de resolver a situação. Portanto, pôs-se de pé. Martin esperou uns segundos, mas também acabou por se levantar, e Goldberg imitou-o. Olharam um para o outro, e desta vez franziram ambos os lábios. Uma vez que Kramer fora o primeiro a levantar-se, o homem aproximou-se dele, de mão estendida, e disse: — Reginald Bacon.
Kramer apertou-lhe a mão e disse: — Lawrence Kramer, da Procuradoria do Bronx. O detective Martin, e o detective Goldberg.
Pela maneira como Martin olhou a mão do Reverendo Bacon com os seus olhos de Doberman, Kramer não percebeu logo se ele a ia apertar ou morder. Lá acabou por lha apertar. Apertou-lha durante um quarto de segundo, mais ou menos, como se ele a tivesse toda mascarrada de alcatrão. Goldberg imitou-o.
— Algum dos senhores quer tomar café?
— Não, obrigado — disse Kramer.
Martin lançou ao Reverendo Bacon um olhar gelado e depois abanou duas vezes a cabeça para a esquerda e para a direita, mui-to de-va-gar, transmitindo com a maior clareza a mensagem: «Nem que estivesse a morrer de sede». Goldberg, o Trevo Judeu, (1) imitou-o.
O Reverendo Bacon contornou a secretária, aproximando-se da sua grande cadeira, e todos se sentaram. Ele reclinou-se na cadeira, olhou Kramer com uma expressão impassível durante aquilo que pareceu um grande espaço de tempo e depois disse, em voz baixa e suave: — O procurador explicou-lhe a situação de Mrs. Lamb?
— Explicou-ma o meu chefe de departamento, sim.
— O seu chefe de departamento?
— Bernie Fitzgibbon. É o chefe do Departamento de Homicídios.
— O senhor é do Departamento de Homicídios?
— Quando aparecem casos de moribundos, são confiados ao Departamento de Homicídios. Nem sempre, mas a maior parte das vezes.
— Talvez seja melhor não dizer a Mrs. Lamb que é do Departamento de Homicídios.
— Compreendo — disse Kramer.
— Agradecia-lhe.
— Onde está Mrs. Lamb?
— Está aqui. Daí a uns minutos já a mando chamar. Mas quero-lhe dizer uma coisa antes de ela entrar. Ela está muito transtornada. O filho está a morrer, ela sabe e não sabe... percebe?... É uma coisa que ela sabe mas não quer saber. Compreende? E ao mesmo tempo, está aflita com um problema de multas de estacionamento. Diz de si para consigo: «Tenho de estar ao lado do meu filho, e se me vêm prender por causa de uma série de multas...» Está a ver?
— Bom, ela... ela não precisa de se preocupar com isso — disse Kramer, conjugando mal o auxiliar do. Numa sala em que três pessoas diziam she don’t, ele não era capaz de se obrigar a pronunciar um doesn’t. — O procurador vai suspender o mandato. Terá na mesma de pagar as multas, mas ninguém a vai prender.
(1) O trevo é o emblema nacional da Irlanda (N. do T.)
— Eu já lhe disse isso, mas se o senhor confirmar vai ser uma grande ajuda.
— Oh, nós estamos aqui para a ajudar, mas julguei que ela também tinha alguma coisa para nos dizer. — Esta resposta foi dada em intenção de Martin e Goldberg, não fossem os polícias pensar que ele era um pau mandado.
O Reverendo Bacon fez uma nova pausa e olhou fixamente para Kramer; depois recomeçou, brandamente, como antes: — É verdade. Ela tem alguma coisa para vos dizer. Mas vocês têm de saber a história dela e do filho, do Henry. O Henry é... era... era... meu Deus, que tragédia isto é. O Henry é um excelente rapaz... um excelente rapaz, do melhor que se pode encontrar... percebe?... Vai à igreja, nunca se meteu em sarilhos, está quase a acabar o liceu, prepara-se para entrar na universidade... um excelente rapaz. E já passou uma barreira mais difícil que a da entrada na Universidade de Harvard. Nasceu e cresceu num bairro social, mas conseguiu escapar. Conseguiu sobreviver. Transformou-se num excelente rapaz. Henry Lamb é... era!... a esperança!... percebem?... a esperança... E agora aparece não se sabe quem... — Zás! Bateu com a mão aberta no tampo da secretária — atropela-o e nem sequer se dá ao trabalho de parar.
Como Martin e Goldberg estavam presentes, Kramer sentiu a necessidade de refrear aquela veia histriónica.
— É muito possível, Reverendo Bacon — disse —, mas até agora não temos quaisquer provas de que tenha havido um atropelamento seguido de fuga.
O Reverendo Bacon fitou-o com o seu olhar frio e depois, pela primeira vez, sorriu. — Já vão ter todas as provas de que precisam. Vão conhecer a mãe de Henry Lamb. Eu conheço-a muito bem... percebem?... e garanto-lhes que podem acreditar no que ela disser. Ela faz parte da minha igreja. É uma mulher trabalhadora, uma boa mulher... estão a ver?... uma boa mulher. Tem um bom emprego, na Câmara, no Registo de Casamentos. Não recebe um tostão da segurança social. Uma boa mulher, com um bom filho. — Então carregou num botão da sua secretária, inclinou-se para a frente e disse: — Miss Hadley, mande entrar Mrs. Lamb. Ah, só mais uma coisa. O marido dela, pai do Henry, foi morto há seis anos, abateram-no uma noite, quando regressava a casa, em frente do prédio onde vivia. Tentou resistir a um assaltante. — O Reverendo Bacon fitou sucessivamente os três homens, sem parar de abanar a cabeça.
Ao ouvir isto, Martin pôs-se de pé e aproximou-se da janela. O seu olhar era tão atento que Kramer pensou que ele teria, no mínimo, surpreendido um assaltante em acção. O Reverendo Bacon olhou-o, perplexo.
— Que árvores são estas? — perguntou Martin.
— Que árvores, Marty? — perguntou Goldberg, levantando-se também.
— Aquelas ali. — disse Martin, apontando.
O Reverendo Bacon fez girar a sua cadeira e espreitou também pelas vidraças. — São plátanos — disse.
— Plátanos — disse Martin, no tom contemplativo de um jovem naturalista num programa sobre arboricultura. — Olhem só aqueles troncos. Devem ter uns cinquenta pés de altura!
— Esforçam-se por chegar à luz — disse o Reverendo Bacon — esforçam-se por encontrar o sol.
Atrás de Kramer abriram-se duas enormes portas de carvalho, e a secretária, Miss Hadley, introduziu na sala uma mulher negra, bem arranjada, que não teria mais de quarenta anos — talvez até fosse mais nova. Vestia um saia-casaco azul e uma blusa branca que lhe davam um ar de eficiência. Usava o cabelo preto desfrisado e ondulado. Tinha um rosto magro, quase delicado, olhos grandes e o autodomínio de uma professora ou de alguém habituado a enfrentar o público.
O Reverendo Bacon levantou-se da cadeira e contornou a secretária para a receber. Kramer também se levantou — e compreendeu então o súbito interesse de Martin e do Trevo Judeu pelas espécies arbóreas. Eles não tinham querido ver-se obrigados a pôr-se de pé quando a mulher entrasse na sala. Já bastava terem tido que se levantar diante de um aldrabão como Bacon. Tornar a fazê-lo para cumprimentar uma mulherzinha de um bairro social qualquer que se prestara a semelhante encenação, era levar as coisas longe de mais. Assim, já estavam de pé, examinando os plátanos, quando ela entrou na sala.
— Meus senhores — disse o Reverendo Bacon — apresento-lhes Mrs. Annie Lamb. Este senhor é da Procuradoria do Bronx: Mr. Kramer. E, ah...
— Detective Martin e detective Goldberg — disse Kramer. — São eles que estão encarregados de investigar o caso do seu filho.
Mrs. Lamb não se adiantou para apertar a mão de ninguém, nem sorriu. Limitou-se a fazer um aceno de cabeça, quase imperceptível. Parecia estar à espera de ter sobre eles uma opinião formada para se manifestar.
Muito compenetrado do seu papel de pastor, o Reverendo Bacon chegou-lhe um cadeirão. E, em vez de regressar à sua grande cadeira giratória, sentou-se na beira da secretária com uma descontracção atlética.
O Reverendo Bacon disse a Mrs. Lamb: — Estive a falar aqui com Mr. Kramer, e a questão das multas já foi resolvida. — Olhou para Kramer.
— Bom, o mandato foi anulado — disse Kramer. — Já não há nenhum mandato contra si. Agora o problema são só as multas, e, pela parte que nos toca, as multas agora não têm importância nenhuma.
O Reverendo Bacon olhou para Mrs. Lamb, sorriu e acenou várias vezes com a cabeça, como se dissesse: «O Reverendo Bacon cumpre aquilo que promete.» Ela limitou-se a olhar para ele, cerrando os lábios.
— Bem, Mrs. Lamb. — disse Kramer — o Reverendo Bacon diz-nos que a senhora tem informações a dar-nos acerca do que aconteceu ao seu filho.
Mrs. Lamb olhou para o Reverendo Bacon. Ele fez sinal que sim com a cabeça e disse: — Pode falar. Conte a Mr. Kramer o que me contou a mim.
Ela disse: — O meu filho foi atropelado, e o carro não parou. Foi um atropelamento seguido de fuga. Mas ele fixou a matrícula, ou melhor, uma parte da matrícula.
O seu tom de voz era neutro.
— Espere aí, Mrs. Lamb — disse Kramer. — Se não se importa, comece pelo princípio. Quando é que soube de tudo isso? Quando é que soube que o seu filho tinha sido ferido?
— Quando ele chegou a casa do hospital, com o pulso enfiado num... ah... não sei como é que se chama.
— Um gesso?
— Não, não era um gesso. Era uma espécie de tala, só que parecia uma luva grande de lona.
— Bom, mas seja como for, ele voltou do hospital para casa com o pulso magoado. Quando foi isso?
— Foi... há três noites.
— O que é que ele disse que tinha acontecido?
— Não disse grande coisa. Tinha muitas dores, e queria ir-se deitar. Disse qualquer coisa acerca de um carro, mas eu julguei que ele é que ia num carro e tinha tido um acidente. Como lhe digo, ele não quis falar. Acho que lhe devem ter dado alguma coisa no hospital, para as dores. O que ele queria era ir-se deitar. Portanto eu disse-lhe que se fosse
deitar.
— Ele disse com quem estava no momento do acidente?
— Não. Não estava com ninguém. Estava sozinho. — Então não ia num carro.
— Não, ia a pé.
.— Muito bem, continue. O que aconteceu a seguir?
— Na manhã seguinte ele sentia-se muito mal. Tentou levantar a cabeça e quase perdeu os sentidos. Sentia-se tão mal que eu nem fui trabalhar. Telefonei a dizer que ficava em casa. Foi então que ele me disse que tinha sido atropelado.
— Como é que ele disse que as coisas se tinham passado?
— Ia a atravessar o Bruckner Boulevard e veio um carro que o atropelou; ele caiu sobre o pulso e também deve ter batido com a cabeça, porque ficou com lesões gravíssimas. — Neste ponto a compostura dela não resistiu. Fechou os olhos, e quando os tornou a abrir estavam cheios de lágrimas.
Kramer esperou um momento. — Em que ponto do Bruckner Boulevard é que isso aconteceu?
— Não sei. Quando ele tentava falar, o esforço era demasiado penoso. Começava a abrir e a fechar os olhos. Nem sequer conseguia estar sentado.
— Mas ele ia sozinho, disse a senhora. O que é que ele estava a fazer no Bruckner Boulevard?
— Não sei. Há lá ao pé, na Rua 161, um pronto-a-comer, o Texas Fried Chicken, e o Henry gosta muito de uns pastéis de galinha que eles têm, por isso talvez fosse para lá que ele ia, mas não sei.
— Onde é que o carro o atingiu? Em que parte do corpo?
— Também não sei. Talvez lhe saibam dizer no hospital.
O Reverendo Bacon interveio: — No hospital foram muito desleixados. Não fizeram uma radiografia à cabeça do rapaz. Não o examinaram com o aparelho de ressonâncias nucleares magnéticas, nem lhe fizeram uma tomografia axial computorizada, nem nenhuma dessas coisas. O rapaz entra no hospital com uma lesão muito grave na cabeça, e eles tratam-lhe o pulso e mandam-no para casa.
— Bom — disse Kramer — aparentemente eles não sabiam que o rapaz tinha sido atropelado. — Voltou-se para Martin. — Não é verdade?
— O relatório das urgências não fala de atropelamento nenhum.
— O rapaz tinha uma lesão grave na cabeça! — disse o Reverendo Bacon. — Provavelmente nem sabia bem o que dizia. Em princípio eles não devem deixar passar essas coisas, não é?
— Bom, agora não é isso que nos interessa — disse Kramer.
— Ele apanhou parte da matrícula — disse Mrs. Lamb.
— O que é que ele lhe disse?
— Disse que começava por um R. A primeira letra era R. A segunda era um É, um F, um P, umou uma letra assim. Pelo menos foi o que lhe pareceu.
— De que estado? Nova Iorque?
— De que estado? Não sei. Suponho que seria Nova Iorque. Pelo menos ele não me disse que era outro estado. E também viu a marca do carro.
— Que marca era?
— Mercedes.
— Estou a ver. De que cor?
— Não sei. Ele não disse.
— De duas portas? Quatro portas?
— Não sei.
— Ele descreveu o condutor?
— Disse que iam no carro um homem e uma mulher.
— O homem ia a conduzir? — Acho que sim. Não sei.
— Deu alguma descrição do homem ou da mulher?
— Eram brancos.
— Ele disse que eram brancos? E mais alguma coisa?
— Não, disse só que eram brancos.
— Só isso? Não disse mais nada sobre eles nem sobre o carro?
— Não. Ele mal conseguia falar.
— Como é que ele foi ter ao hospital?
— Não sei. Ele não me disse.
Kramer perguntou a Martin. — E no hospital, disseram-lhe?
— Ele entrou pelo seu pé.
— Mas não podia ter ido a pé do Bruckner Boulevard até ao Hospital Lincoln com um pulso partido.
— Entrou no hospital pelo seu pé, o que não quer dizer que tenha feito o caminho todo a pé. Só quer dizer que não foi preciso transportarem-no para as urgências. Não foi trazido pelo Serviço de Emergências. Não veio de ambulância.
O espírito de Kramer antecipava já a preparação do julgamento. E não via senão pontas soltas. Fez uma pausa e depois abanou a cabeça e disse, sem se dirigir a ninguém em especial: — Isso não nos leva muito longe.
— Não os leva muito longe como? — disse Bacon. Pela primeira vez, o seu tom de voz denotava uma certa aspereza. — Têm a primeira letra da matrícula, têm várias possibilidades para a segunda, e têm a marca do carro — quantos Mercedes com uma matrícula começada por RE, RF, RB ou RP julga que vai encontrar?
— Não faço ideia — disse Kramer. — O detective Martin e o detective Goldberg vão investigar. Mas do que precisamos é de uma testemunha. Sem testemunhas, não temos processo.
— Não têm processo? — disse o Reverendo Bacon. — Têm pano para mangas para um processo, parece-me. Têm um rapaz, um excelente rapaz, às portas da morte. Têm um carro e uma matrícula. O que é que querem mais?
— Ouça — disse Kramer, convencido de que um tom ultrapaciente, ligeiramente condescendente, seria a resposta mais adequada àquela censura implícita. — Deixe-me explicar-lhe uma coisa. Vamos supor que conseguimos identificar o carro amanhã. O.K.? Vamos supor que o carro foi registado no estado de Nova Iorque, e que só há um Mercedes com a matrícula começada por R. Pronto, temos o carro. Mas não temos condutor.
— Está bem, mas vocês podem...
— Só porque uma pessoa é dona de um carro, isso não quer dizer — assim que lhe escapou o doesn’t, Kramer pôs-se a desejar que aquela forma verbal correcta passasse despercebida — que fosse ela que o guiava num determinado momento.
— Mas vocês podem interrogar essa pessoa.
— É verdade, e não deixaríamos de o fazer. Mas a menos que ela diga: «Sim senhor, estive envolvido no atropelamento e fuga do dia tantos do tal», não saímos do mesmo sítio.
O Reverendo Bacon abanou a cabeça. — Não vejo porque há-de ser assim.
— O problema é que não temos uma testemunha. Não só não temos ninguém que nos diga onde é que a coisa aconteceu, como não temos sequer ninguém que possa afirmar-nos que ele foi realmente atropelado por um automóvel.
— Têm o próprio Henry Lamb!
Kramer ergueu as mãos dos joelhos e encolheu quase imperceptivelmente os ombros, para não dar demasiado relevo ao facto de ser muito pouco provável que o filho de Mrs. Lamb pudesse alguma vez tornar a dar o seu testemunho acerca do que quer que fosse.
— Têm o que ele contou à mãe. Foi ele que deu estas informações.
— Dá-nos algumas pistas, mas não vale como testemunho.
— É o que ele disse à mãe.
— O senhor e eu podemos aceitar tudo o que aqui foi dito como a verdade, mas não é por isso que as informações passam a ser válidas em tribunal.
— Isso para mim não faz sentido.
— Mas é a lei. Além disso, com toda franqueza, há outra coisa que eu lhe devo dizer. Aparentemente, quando o rapaz entrou nas urgências do hospital, há três noites, não disse a ninguém que tinha sido atropelado. Olhe que isso não facilita nada as coisas. — Don’t. Desta vez acertara na conjugação.
— Ele devia estar bastante abalado... e tinha o pulso partido... provavelmente houve muita coisa que não disse na altura.
— Bom, e na manhã seguinte acha que ele já tinha as ideias mais claras? Também não é impossível virar esse argumento ao contrário...
— Não é impossível quem virar o argumento ao contrário? — perguntou o Reverendo Bacon. — O senhor?
— Eu, não. Eu estou só a tentar mostrar-lhe que sem uma testemunha ficam muitos problemas por resolver.
— Bom, mas podem procurar o carro, não podem? Podem interrogar o dono. Podem examinar o carro e procurar mais indícios, não podem?
— Claro — disse Kramer. — Como já lhe disse, eles vão tratar de tudo isso. — Acenou com a cabeça na direcção de Martin e Goldberg. — E vão também tentar encontrar testemunhas. Mas não me parece que no carro se encontrem muitos indícios. Se um carro o atropelou, deve ter sido só de raspão. Ele ficou com algumas contusões, mas não tem o tipo de lesões que teria se um carro o tivesse atingido em cheio.
— O senhor disse «se um carro o atropelou»?
— Este caso está cheio de ses, Reverendo Bacon. Se encontrarmos um carro e um dono do carro, e se o dono disser: «Sim, eu atropelei esse rapaz uma destas noites, e não parei, e não dei parte da ocorrência», temos um processo. Se assim não for, só temos uma série de problemas.
— Estou a ver — disse o Reverendo Bacon. — Portanto, talvez vocês não possam gastar muito tempo com este caso, uma vez que os problemas são tantos?
— Isso não é verdade. O caso vai merecer-nos tanta atenção como qualquer outro.
— O senhor falou em franqueza. Pois também eu vou ser franco. Henry Lamb não é um cidadão importante, nãoé filho de um cidadão importante, mas não deixa de ser um excelente rapaz... percebe?... Está quase a acabar o liceu. Não desistiu a meio. Estava... está a pensar em ir para a universidade. Nunca se meteu em sarilhos. Mas vive no bairro social Edgar Allan Poe. No bairro social Edgar Allan Poe. É um rapaz negro dos bairros sociais. Ora bem, vamos virar a situação ao contrário por um minuto. Imagine que Henry Lamb era um rapaz branco, que vivia na Park Avenue e se preparava para entrar em Yale, e que ele tinha sido atropelado na Park Avenue por um homem e uma mulher negros num... num Pontiac Firebird, em vez de um Mercedes... está a ver?... E o rapaz dizia à mãe aquilo que Henry Lamb disse à mãe dele. Quer-me convencer de que não abriam logo um processo? Em vez de se pôr a falar de problemas, o senhor começava logo era a esticar ao máximo as informações que tivesse e a ver o que podia fazer com elas.
Martin interveio com brusquidão, como se acabasse de acordar: — Garanto-lhe que fazíamos a mesma coisa que estamos agora a fazer. Já há dois dias que andamos à procura aqui da Mrs. Lamb. Quando é que soubemos da história da matrícula? O senhor sabe muito bem que foi só agora. Já trabalhei na Park Avenue e já trabalhei no Bruckner Boule-vard. É exactamente a mesma coisa.
A voz de Martin era tão calma e decidida, o seu olhar tão implacável, tão irlandês — um autêntico olhar de mula —, que pareceu abalar por instantes o Reverendo Bacon. Tentou fazer o irlandês baixar os olhos, sem sucesso. Depois sorriu ligeiramente e disse: — Pode dizer-me isso a mim, que sou pastor e estou disposto a acreditar que a justiça é cega... percebe?... porque eu estou disposto a acreditar. Mas é melhor não andar pelas ruas de Harlem e do Bronx a tentar dizer isso às pessoas. É melhor não as informar de semelhantes benesses, porque elas já sabem a verdade. É à sua própria custa que a descobrem.
— Ando todos os dias pelas ruas do Bronx — disse Martin — e digo a quem o quiser ouvir aquilo que lhe disse a si.
— Pois sim — disse o Reverendo Bacon. — Nós temos uma organização, a Solidariedade Sem Fronteiras. Sondamos as comunidades, as pessoas vêm ter connosco, e posso-lhe garantir que as pessoas não estão a receber essa sua mensagem. Estão a receber uma mensagem bem diferente.
— Ah, eu já estive numa dessas vossas sondagens. — disse Martin.
— Esteve numa quê?
— Numa das vossas sondagens. Em Gun Hill Road.
— Bom, não sei de que é que o senhor está a falar.
— Foi nas ruas do Bronx — disse Martin.
— Seja como for — disse Kramer, olhando para Mrs. Lamb — obrigado pela sua colaboração. E espero que vá recebendo boas notícias do seu filho. Vamos procurar o tal automóvel. Entretanto, se souber de alguém que tenha estado com o seu filho nessa noite, ou tenha visto alguma coisa, comunique-nos, está bem?
— Está bem — disse ela, com a mesma expressão dubitativa do início. — Obrigada.
Martin continuava a fitar o Reverendo Bacon com os seus olhos de Doberman. Portanto Kramer virou-se para Goldberg e disse: — Não tem um cartão que possa dar a Mrs. Lamb, com o número de telefone?
Goldberg remexeu num bolso interior do casaco e estendeu-lhe um cartão. Ela guardou-o sem olhar para ele.
O Reverendo Bacon pôs-se de pé. — Não precisa de me dar o seu cartão — disse, dirigindo-se a Goldberg. — Eu conheço-vos... estão a ver?... eu hei-de vos telefonar. Vou seguir atentamente o caso. Quero que alguma coisa seja feita. A Solidariedade Sem Fronteiras quer que alguma coisa seja feita. E alguma coisa será feita... percebem?... Portanto, de uma coisa podem estar certos: hão-de ter notícias minhas.
— Ora essa — disse Martin. — Sempre que quiser. Entreabriu ligeirissimamente os lábios, esboçando um
sorriso. A sua expressão fez lembrar a Kramer a cara dos rapazes no início das batalhas no recreio da escola, de dentes arreganhados, num esgar feroz.
Kramer dirigiu-se para a porta, lançando as despedidas por cima do ombro, ao sair, na esperança de obrigar o terrível Martin e o Trevo Judeu a segui-lo.
No trajecto de regresso à fortaleza, Martin disse: — Gaita, agora já sei porque é que vos mandam para a Faculdade de Direito, Kramer. É para aprenderem a não se desmancharem, aconteça o que acontecer. — No entanto, disse isto com um ar bem-humorado.
— Que diabo, Marty — disse Kramer, pensando que, na sua qualidade de aliado do polícia na batalha verbal em casa do Reverendo Bacon, podia agora tratar pelo diminutivo o pequeno e teimoso Burrinho Irlandês — a mãe do miúdo estava ali à nossa frente. Além disso, talvez a história da matrícula dê alguma coisa.
— Quer apostar?
— Não é impossível.
— Não é impossível o caraças. Porra, então o rapaz é atropelado, chega ao hospital e não se lembra de dizer o que lhe aconteceu? Depois chega a casa e não se lembra de contar à mãe? E, na manhã seguinte, quando começa a sentir-se um bocado pior, resolve dizer: «Ah, é verdade, fui atropelado»? Não me venham com histórias. O desgraçado apanhou uma tareia, e não quis falar do assunto a ninguém.
— Oh, eu também não tenho muitas dúvidas. Vejam se ele tem cadastro, está bem?
— Sabem — disse Goldberg — eu fiquei com pena daquela gente. Põem-se para ali a dizer que o miúdo não tem cadastro, como se fosse uma grande proeza. E, quando se vive num bairro social, é mesmo uma proeza. O simples facto de não ter cadastro! É uma coisa muito rara. Tenho pena dela.
E lá se derrete um bocadinho da parte judaica do Trevo Judeu, pensou Kramer.
Mas logo a seguir foi Martin que pegou no refrão: — Uma mulher assim não devia viver num bairro social, caramba. É uma mulher como deve ser. Uma mulher às direitas. Agora me lembro do caso da morte do marido. O tipo trabalhava que nem uma besta, e não era nenhum cobardola. Resistiu a um marginal qualquer, e o sacana abateu-o, ali, à queima-roupa. E ela trabalha, não recebe nada da segurança social, manda o miúdo à igreja, consegue que ele não saia da escola... é uma mulher como deve ser. Não sei em que história é que o miúdo se terá metido, mas ela é uma mulher como deve ser. Metade desta gente, sabem, quando acontece alguma coisa e a gente vai falar com eles, passam tanto tempo a maldizer a puta da vida pelo que aconteceu que nem sequer conseguimos chegar a perceber que diabo terá acontecido. Mas esta não, esta respondeu a tudo sem rodeios. Só é pena estar enfiada naquela merda daquele bairro social, mas, sabem... — e olhou para Kramer quando disse isto — há muita gente decente nos bairros sociais, gente que não passa a vida a faltar ao trabalho.
Goldberg acenou com a cabeça em sinal de concordância e disse: — Nos tempos que correm já ninguém diria, mas foi para isso que a merda dos bairros foram construídos: para alojar os trabalhadores. A ideia era essa, casas baratas para os trabalhadores. E agora até é uma dor de alma quando lá vemos alguém que trabalha e se esforça por não sair dos trilhos.
Então fez-se luz no espírito de Kramer. Os polícias não eram assim tão diferentes dos procuradores-adjuntos. A estrumeira unia-os. Os polícias também se cansavam de passar os dias a mandar negros e latino-americanos para a cadeia. Aliás, para eles ainda era pior, porque tinham de mergulhar mais fundo na estrumeira para fazerem o seu trabalho. A única coisa que podia tornar a tarefa construtiva era a ideia de que a realizavam em prol de alguém — em prol das pessoas honestas. Por isso abriam os olhos, punham-se em sintonia com toda a boa gente de cor... que conseguia ir resistindo... no meio da estrumeira onde eles eram obrigados a chafurdar, incansavelmente...
Não seria propriamente uma tomada de consciência, pensou Kramer, mas, porra, sempre era um começo.
9 - Um Inglês Chamado Fallow
Desta vez a explosão do telefone provocou-lhe taquicar-dia; e de cada vez que o coração se contraía fazia-lhe latejar o sangue na cabeça com uma tal pressão que... um ataque!... Ia ter um ataque!... Ali sozinho, deitado naquela espelunca americana!... Um ataque! O pânico despertou o monstro, que veio imediatamente à superfície e mostrou o focinho.
Fallow abriu um olho e viu o telefone no seu ninho castanho de Streptolon. Sentia tonturas, e ainda nem sequer tinha levantado a cabeça. Grandes remelas esvoaçavam-lhe diante dos olhos. O latejar do sangue desfazia-lhe em pedaços a gema de mercúrio, e eram esses pedaços que lhe saíam pelos olhos, em remelas. O telefone tornou a explodir. Fallow fechou os olhos. O focinho do monstro estava mesmo atrás das suas pálpebras. Aquela história do pedófilo...
E a noite anterior tinha começado de uma maneira tão normal!
Com menos de trinta dólares para se aguentar durante os três dias seguintes, tinha feito o que era seu costume fazer: telefonar a um americano. Telefonara a Gil Archer, o agente literário, casado com uma mulher de cujo nome Fallow nunca se conseguia lembrar. Sugerira que se encontrassem para jantar no Leicesters, deixando a impressão de que levaria uma rapariga consigo. Archer aparecera com a mulher, e ele sozinho. Naturalmente, nessas circunstâncias, Archer, como americano bem-educado que era, pagara a conta. Que noite tão sossegada; tão cedo começada e terminada; uma noite de rotina para um inglês em Nova Iorque, um jantar maçador pago por um americano; Fallow começava seriamente a pensar em se pôr a andar para casa. Mas foi então que entrou Caroline Heftshank com o seu amigo artista, Filippo Chirazzi; passaram pela mesa deles e sentaram-se; Archer perguntou-lhes se não queriam tomar nada, e ele sugeriu que pedissem mais uma garrafa de vinho, por isso Archer pediu mais uma garrafa de vinho, e eles beberam-na, e depois beberam outra e mais outra, e por essa altura já o Leicesters estava apinhado e barulhento, cheio das caras do costume, e Alex Britt-Withers mandou um dos empregados oferecer uma rodada por conta da casa, o que fez Archer sentir-se um sucesso social, reconhecido-pelo-proprietário-e-tudo — os Américas adoravam esse género de coisa — enquanto Caroline Heftshank se agarrava ao seu belo italiano, Chirazzi, que posava, com o seu bonito perfil espetado no ar, como se todos os outros devessem sentir-se privilegiados só por estarem a respirar o mesmo ar que ele. St. John veio de outra mesa para admirar o jovem Signor Chirazzi, para grande desagrado de Billy Cortez; O Signor Chirazzi disse a St. John que um pintor tinha de pintar com os olhos de uma criança, e St. John disse que ele próprio procurava ver o mundo com os olhos de uma criança, ao que Billy Cortez replicou: «Ele disse criança, St. John, não disse pedófilo.» O Signor Chirazzi posou mais um bocado, com o seu longo pescoço e o seu nariz à Valentino a emergir de uma ridícula camisa punk azul-eléctrica com um colarinho de três quartos de polegada e uma gravata cor-de-rosa de lamé, e então Fallow disse que era mais pós-moderno para um pintor ter olhos de pedófilo do que olhos de criança — o que é que o Signor Chirazzi achava? Caroline, que estava perdida de bêbeda, disse-lhe que não fosse estúpido — disse-lho com aspereza, e Fallow inclinou-se para trás, na intenção de imitar a pose do jovem pintor, mas perdeu o equilíbrio e estatelou-se no chão. Grande risota. Quando se levantou, ainda meio zonzo, agarrou-se a Caroline, apenas para não cair, mas o jovem Signor Chirazzi ofendeu-se, vieram-lhe à tona as camadas mais fundas do seu brio de macho italiano, e tentou empurrar Fallow, fazendo-o cair não só a ele como Caroline; Chirazzi tentou atirar-se a Fallow, e St. John, vá-se lá saber porquê, atirou-se ao belo italiano, e Billy Cortez pôs-se a gritar, e Fallow debateu-se, sentindo sobre si um peso enorme, e ouviu Britt-Withers, debruçado sobre ele, gritar: «Por amor de Deus!», e de repente caiu-lhe em cima uma data de gente, e saíram todos aos trambolhões pela porta principal, indo parar ao passeio da Lexington Avenue...
O telefone tornou a explodir, e Fallow ficou apavorado com a ideia do que poderia ouvir se levantasse o auscultador. Não se lembrava de nada a partir do instante em que ele e todos os outros tinham aterrado no passeio até ao momento presente. Pôs os pés de fora da cama; sentia tudo a latejar e a fervilhar dentro do crânio, e o corpo inteiro dorido. Gatinhou pela alcatifa até ao telefone estridente e deitou-se ao lado dele. A alcatifa, a que encostava o rosto, era seca, metálica, poeirenta, imunda.
— Está?
— Eeeeiii, Pete! Como vai isso?
Era uma voz jovial, uma voz americana, uma voz nova-iorquina, uma variedade especialmente irritante de voz nova-iorquina. Fallow achou aquela voz americana ainda mais desagradável do que o Pete. Bom, pelo menos não era do City Light. Ninguém do City Light lhe falaria num tom
tão jovial.
— Quem é? — perguntou Fallow. A sua própria voz era
como um animal enfiado na toca.
— Meu Deus, Pete, você parece um bocado em baixo de forma. Então, já acordou? Hei, daqui é Al Vogel.
A informação fê-lo fechar de novo os olhos. Vogel era uma dessas típicas celebridades americanas que pareciam tão pitorescas, tão enérgicas e tão dignas de admiração aos ingleses que ouviam falar delas em Londres. Ao conhecê-las pessoalmente, em Nova Iorque, chegava-se sempre à mesma conclusão. Eram americanos, ou seja, uns chatos insuportáveis. Vogel era bastante conhecido em Inglaterra, como advogado americano especialista em causas políticas impopulares. Defendia radicais e pacifistas, na linha do que haviam feito Charles Garry, William Kunstler e Mark Lane. Impopulares, é claro, queria dizer simplesmente impopulares para o homem da rua. Os clientes de Vogel gozavam de uma grande popularidade na imprensa e junto dos intelectuais dos anos 60 e 70, especialmente na Europa, onde quem quer que fosse defendido por Albert Vogel ganhava asas, uma auréola, uma túnica e uma velinha. No entanto, poucos de entre esses santos recém-canonizados tinham algum dinheiro, e Fallow muitas vezes perguntava a si próprio como é que Vogel conseguia viver, principalmente porque os anos 80 não o tinham favorecido. Nos anos 80 já nem a imprensa e os intelectuais tinham paciência para a clientela irascível, raivosa, mal-humorada, amante da miséria, cheia de exaltação, em que ele se especializara. Ultimamente, Fallow tinha vindo a encontrar o grande advogado nas festas mais inverosímeis. Vogel até ia às inaugurações de parques de estacionamento (e Fallow cumprimentava-o se lá se cruzava com ele).
— Ah, olá-á-á — disse Fallow, terminando a frase com uma espécie de gemido.
— Telefonei primeiro para o seu emprego, Pete, e disseram-me que ainda hoje não o tinham visto por lá.
Não estou a gostar nada disto, pensou Fallow. Perguntou a si próprio quando, se, porquê e onde teria dado a Vogel o seu número de telefone de casa.
— Ainda me está a ouvir, Pete?
— Ahammmmmmmmm!
Fallow tinha os olhos fechados. Não saberia dizer se estava deitado de barriga para cima ou para baixo.
— Não faz mal. É que hoje fiquei a trabalhar em casa.
— Tenho um assunto de que gostava de lhe falar, Pete. Acho que é capaz de dar um artigo em grande.
— Ammmmm!
— Bom, só que preferia não falar disto pelo telefone. Proponho-lhe o seguinte: porque é que não vem almoçar comigo? Encontramo-nos no Regenfs Park à uma.
— Ammmmm! Não sei, Al. O Regents Park? Onde é que isso fica?
— No lado sul do Central Park, perto do New York Athletic Club.
— Ammmmmm...
Fallow sentia-se dividido entre dois instintos profundos. Por um lado, a ideia de se levantar do chão, de agitar segunda vez a gema de mercúrio, sem outro motivo que não fosse o de ir ouvir um americano chato e decadente durante uma hora ou duas... Por outro lado, uma refeição de graça num restaurante. O pterodáctilo e o brontossauro enlaçados num combate de morte, numa falésia do Continente Perdido.
A refeição de graça triunfou, como tantas vezes acontecera no passado.
— Está bem, Al, encontramo-nos à uma hora. Diga-me lá outra vez onde fica esse restaurante?
— No lado sul do Central Park, Pete, próximo do New York A.C. É um sítio agradável. Vê-se o parque. Vê-se uma estátua de José Marti a cavalo.
Fallow despediu-se, fez um esforço por se pôr de pé, com a gema a dançar para um lado e para o outro, e bateu com o pé na armação metálica da cama. A dor foi horrível, mas afinou-lhe o sistema nervoso central. Tomou um duche às escuras. A cortina de plástico do chuveiro era sufocante. Quando fechava os olhos tinha a sensação de que ia cair para o lado. De tempos a tempos tinha de se agarrar à boca do
chuveiro.
O Regenfs Park era o tipo de restaurante nova-iorquino escolhido pelos homens casados nas suas aventuras com raparigas mais novas. Era luxuoso, brilhante e solene, com imensos mármores no interior e no exterior, e um ambiente extremamente formal que agradava sobretudo aos clientes dos hotéis circunvizinhos, como o Ritz-Carlton, o Park Lane, o St. Moritz e o Plaza. Em toda a história de Nova Iorque não havia nenhuma conversa que não tivesse começado pela seguinte frase: «Estava eu no outro dia a almoçar no Regenfs Park, quando...»
Fiel à sua palavra, Albert Vogel reservara uma mesa junto da enorme janela. Não era coisa difícil de conseguir no Regenfs Park. No entanto, lá estava o parque, no seu esplendor primaveril. E lá estava a estátua de José Marti, como Vogel prometera também. O cavalo de Marti empinava-se, e o grande revolucionário cubano inclinava-se perigosamente para a direita na sela. Fallow desviou os olhos. Uma estátua de jardim em equilíbrio instável era mais do que ele se sentia capaz de suportar.
Vogel estava muito bem disposto, como de costume. Fallow via moverem-se-lhe os lábios, sem ouvir uma palavra. O sangue fugiu das faces de Fallow, e em seguida do peito e dos braços. A pele arrefeceu-lhe. Depois, um milhão de peixinhos em brasa tentaram escapar-lhe das artérias e vir à superfície. A testa cobriu-se-lhe de suor. Perguntou a si próprio se iria morrer. Era assim que começava um ataque cardíaco. Lera uma vez que era assim. Gostaria de saber se Vogel perceberia alguma coisa de reanimação cardíaca. Vogel parecia uma autêntica avozinha. Tinha o cabelo branco, não grisalho a atirar para o branco mas imaculadamente branco, de um branco sedoso. Era baixinho e gorducho. Nos seus dias de glória também já era gorducho, mas nessa altura isso dava-lhe um ar de «batalhador», como os Americanos gostavam de dizer. Agora a sua pele era cor-de-rosa e delicada. Nas suas mãos minúsculas viam-se veias grossas, envelhecidas, inchadas até aos nós dos dedos. Uma velhinha alegre e satisfeita.
— Pete — disse Vogel —, não quer tomar nada?
— Nem pensar — disse Fallow, com bastante mais ênfase do que seria necessário. E depois, para o empregado: — Traga-me água, se faz favor.
— Eu quero uma margarita on the rocks — disse Vogel. — Tem a certeza que não muda de ideias, Pete?
Fallow abanou a cabeça. Foi um erro. Começou a sentir um martelar terrível dentro do crânio.
— Só uma, para pôr o motor a funcionar?
— Não, não.
Vogel apoiou os cotovelos na mesa, inclinou-se para a frente e começou a passear os olhos pela sala, para logo os fixar numa mesa quase atrás de si. Nela estavam sentados um homem de fato cinzento e uma rapariga dos seus dezoito ou dezanove anos, com um cabelo louro, muito comprido e liso, que chamava as atenções.
— Está a ver aquela rapariga? — disse Vogel. — Era capaz de jurar que faz parte da comissão, ou lá como é que lhe chamam, da Universidade do Michigan.
— Qual comissão?
— Um grupo de estudantes. São eles que organizam os programas de conferências. Eu fui há dois dias dar uma conferência na Universidade do Michigan.
«E depois?», pensou Fallow. Vogel tornou a espreitar por cima do ombro.
— Não, não é ela. Caramba, mas parecia mesmo. São danadas, estas miúdas das universidades... Sabe porque é que neste país as pessoas se dispõem a andar por aí a fazer conferências?
«Não», pensou Fallow.
— Bom, está bem, pelo dinheiro. Mas, se não contarmos com isso, sabe porquê?
Os Americanos tinham o vício de repetir estas perguntas com que introduziam um assunto.
— Por causa das danadas das miúdas. — Vogel abanou a cabeça e ficou uns instantes absorto, a olhar para o vazio, como se aquela ideia o tivesse abalado. — Juro por Deus, Pete, uma pessoa tem de se conter. Senão, porra, sentimo-nos culpados como tudo. Estas miúdas... agora... bom, quando eu era miúdo, a grande coisa era ir para a universidade, porque podíamos beber quando nos apetecesse. Pois bem: estas miúdas vão para a universidade para poderem ir para a cama como quem lhes apetece. E com quem é que elas querem ir para a cama? Isso é que é o mais patético. Querem rapazes simpáticos e saudáveis da idade delas? Não. Sabe o que é que elas querem? Querem: a Autoridade... o Poder... a Fama... o Prestígio... Querem ir para a cama com os professores! Os professores hoje em dia dão em doidos nas universidades. Quando o Movimento estava no auge da sua força, sabe, uma das coisas que tentámos fazer foi quebrar a barreira de formalismo entre a faculdade e os estudantes, porque achávamos que o formalismo era apenas um instrumento de controlo. Mas agora, meu Deus, já nem sei. Acho que querem todas dormir com o pai, para quem acredite em Freud, o que não é o meu caso. Sabe, este é um dos problemas que o movimento feminista não conseguiu resolver. Uma mulher que chega aos quarenta, tem hoje tantos problemas como sempre teve... enquanto um tipo como eu está como quer. Eu não sou assim tão velho, mas, que diabo, tenho cabelos grisalhos...
«Brancos — pensou Fallow —, brancos como os de uma velhinha.»
— ... e parece que isso não tem a menor importância. Um cheirinho a celebridade e caem todas. Caem, literalmente. Não me estou a gabar, porque acho isto patético. E o raio das miúdas... é cada uma mais espantosa que a anterior. Sobre este assunto é que eu gostava de fazer uma conferência para elas ouvirem, mas provavelmente nem percebiam de que é que eu estava a falar. Elas não têm pontos de referência acerca de coisa nenhuma. A conferência que fiz há dois dias foi sobre o movimento estudantil nos anos 80.
— Estava mortinho por saber sobre o que tinha sido — disse Fallow em surdina, sem mover os lábios.
— Perdão?
Os Americanos diziam perdão?, em vez de dizerem como?
— Nada.
— Falei-lhes do que se passou nos campus há quinze anos. — O rosto toldou-se-lhe. — Mas não sei... há quinze anos, há cinquenta anos, há cem anos... eles não têm pontos de referência. Para eles é tudo tão distante... Há dez anos... há cinco anos... Há cinco anos, foi antes dos walkmans. E eles não conseguem imaginar semelhante coisa.
Fallow parou de ouvir. Era impossível desviar Vogel da sua rota. Ele era imune à ironia. Fallow lançou um olhar à rapariga da longa cabeleira loura. A cena de pancadaria no restaurante. Caroline Heftshank e o seu ar assustado. Teria ele feito alguma coisa antes de saírem todos aos trambolhões pela porta fora? Fosse lá o que fosse, ela merecia-o — mas o que teria sido? Os lábios de Vogel moviam-se. Estava a dar um resumo detalhado da conferência. As pálpebras de Fallow descaíram. O monstro veio à superfície, debateu-se e fitou-o. Fitou-o bem nos olhos, com o seu focinho imundo. Agora o monstro tinha-o apanhado. Não se podia mexer.
— ... Manágua? — perguntava Vogel.
— Como?
— Já alguma vez lá esteve? — repetiu Vogel. Fallow abanou a cabeça. O movimento provocou-lhe
náuseas.
— Devia lá ir. Todos os jornalistas deviam lá ir. É mais ou menos do tamanho de... sei lá, de East Hampton. Talvez nem isso. Você gostava de lá ir? Não me é nada difícil arranjar-lhe uma viagem.
Fallow não quis tornar a abanar a cabeça. — Era essa a história de que me queria falar?
Vogel calou-se por instantes, como que avaliando a carga sarcástica do comentário.
— Não — disse — mas a ideia não é má. Neste país não se publica mais de uma centésima parte daquilo que deveria ser dito acerca da Nicarágua. Não, do que eu lhe queria falar era de uma coisa que aconteceu há dias no Bronx. Não é melhor que a Nicarágua, aliás, para quem lá vive. Você sabe quem é o Reverendo Bacon, não sabe?
— Sim. Acho que sim.
— Ele é um... bom, é um... você já deve ter lido alguma coisa sobre ele, ou deve-o ter visto.na televisão, não?
— Já o vi, sim.
Vogel riu. — Quer saber onde o encontrei pela primeira vez? Num enorme apartamento duplex da Park Avenue, o apartamento de Peggy Friskamp, há uma data de tempo, quando ela andava interessada na Fraternidade Gerónimo, e resolveu dar uma festa de recolha de fundos. Deve ter sido no fim dos anos sessenta, princípio dos anos setenta. Havia um tipo, um tal Veado Voador, que estava encarregado da conversa espiritual, como nós costumávamos dizer. Havia sempre a conversa espiritual e a conversa do dinheiro. Bom, esse tal tipo era o da conversa espiritual, o da conversa elevada. A Peggy não sabia era que o sacana estava perdido de bêbedo. Julgou que era conversa de índio, as coisas disparatadas que ele dizia. Ao fim de um quarto de hora ele vomitou em cima do piano dela, um Duncan Phyfe de oitenta mil dólares — sujou o teclado, as cordas, os martelinhos, tudo. Aqueles martelinhos forrados de feltro, sabe? Oh, foi uma vergonha. Ela nunca conseguiu esquecer a cena. O idiota perdeu um belo negócio, naquela noite. E sabe quem é que o maltratou mais? O Reverendo Bacon. Em pessoa. Já se estava a preparar para pedir a Peggy Friskamp que desse o seu apoio a algumas daquelas organizações dele, mas quando o Veado Voador vomitou as tripas em cima do Duncan Phyfe ele percebeu que podia dizer adeus a Peggy Friskamp. Então, desatou a chamar-lhe Cerveja Voadora (1). «Veado Voador? Cerveja Voadora, é o que é!» Meu Deus, teve a sua graça. Mas ele não estava a tentar ser engraçado. Bacon nunca tenta ser engraçado. Bom, o caso é que ele tem uma mulher que trabalha para ele de vez em quando, uma tal Annie Lamb, do Bronx. Annie Lamb vive no bairro social Edgar Allan Poe com o filho, Henry.
— É negra? — perguntou Fallow.
— É, é negra. Quase toda a gente no bairro social é negra ou porto-riquenho. A propósito, a lei diz que todos estes bairros devem ser integrados. — Vogel ergueu as sobrancelhas. — Seja como for, esta Annie Lamb é uma mulher invulgar. — Vogel contou a história de Annie Lamb e da família, culminando no atropelamento por um Mercedes-Benz que deixara às portas da morte o seu filho Henry, um rapaz muito promissor.
Foi uma infelicidade, pensou Fallow, mas o que é que isso tem de especialmente interessante?
Como que prevendo a objecção, Vogel disse: — Bom, há duas maneiras de encarar este caso, e ambas têm a ver com o que acontece a um bom rapaz como este, quando tem o azar de ser negro e de ter nascido no Bronx. Quer dizer, este rapaz nunca pisou o risco. Falar de Henry Lamb é falar daquele um por cento que faz exactamente aquilo que o sistema lhe diz que deve fazer. Ora bem, o que é que acontece? Primeiro, no hospital tratam-lhe... um pulso partido! Se fosse um miúdo branco da classe média, examinavam-no ao raio X, com o T.A.C., com o aparelho de ressonância magnética nuclear, com tudo e mais alguma coisa. Segundo, a Polícia e a Procuradoria não se mexem. Isso é que desespera mais a mãe do miúdo. Num caso de atropelamento seguido de fuga, eles, que têm uma parte da matrícula e a marca do carro, não fazem absolutamente nada.
— Porquê?
— Bom, no fundo é porque para eles a história é tão simples quanto isto: alguém atropelou um miúdo no Sul do Bronx. Não é caso que mereça grande atenção. Mas o que...
(1) O gracejo baseia-se na semelhança fonética entre deer (veado) e beer (cerveja). (N. do T.)
...eles dizem é que, como não há testemunhas além da própria vítima, que está em coma profundo, não poderiam abrir um processo mesmo que encontrassem o automóvel e o condutor. Ora imagine que isto se passava com um filho seu. O rapaz deu as informações, mas eles não podem servir-se delas, porque tecnicamente não são válidas em tribunal.
Toda aquela história fazia dores de cabeça a Fallow. Não conseguia imaginar-se com um filho, e muito menos num prédio da Câmara, no bairro do Bronx, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.
— É uma situação desagradável — disse Fallow — mas não vejo muito bem que história se pode tirar daí.
— Bom, muito em breve alguém vai tirar daqui uma história, Pete — disse Vogel. — A comunidade está em grande efervescência. A explosão é iminente. O Reverendo Bacon já começou a organizar uma manifestação de protesto.
— De protesto contra quê, ao certo?
— Eles estão cansados de serem tratados como se a vida humana no Sul do Bronx não valesse nada! E digo-lhe uma coisa: quando o Reverendo Bacon se mete numa história destas, começam a acontecer coisas. Ele não é um Martin Luther King nem um Bispo Tutu. Percebe? Não vai ganhar nenhum prémio Nobel. Tem a sua maneira própria de fazer as coisas, que às vezes poderá não resistir a um exame mais atento. Mas é por isso que ele é eficaz. É aquilo a que Hobsbawm chama um revolucionário primitivo. Hobsbawm era inglês, não era?
— Era e ainda é.
— Julguei que já era. Ele tinha uma teoria acerca dos revolucionários primitivos. As classes inferiores têm os seus chefes naturais, e a estrutura do poder interpreta como crimes aquilo que eles fazem — aliás, esta interpretação até pode ser sincera — mas no fundo o que eles são é revolucionários. E Bacon é um deles. Eu admiro-o muito. E tenho pena dessas pessoas. De qualquer maneira, parece-me que há aqui uma história em grande, independentemente das considerações filosóficas.
Fallow fechou os olhos. Viu o focinho do monstro, iluminado pelas luzes veladas de um bar. Depois, os arrepios gelados. Tornou a abrir os olhos. Vogel fitava-o com o seu sorriso de velha criada de meninos, de bochechas rosadas e alegres. Que país ridículo.
— Escute, Pete; na pior das hipóteses tira daqui uma boa história de um problema humano. E se tudo bater certo,
apanha uma coisa em grande. Eu posso arranjar-lhe uma entrevista com Annie Lamb. Posso arranjar-lhe uma entrevista com o Reverendo Bacon. Posso levá-lo à unidade de cuidados intensivos onde o miúdo está internado. Quer dizer, ele está em coma, mas pelo menos pode vê-lo.
Fallow tentou imaginar-se a transferir para o Bronx o ovo de mercúrio e as suas entranhas biliosas. Não lhe parecia possível sobreviver à viagem. Do seu ponto de vista, o Bronx era como o Árctico. Ficava algures, ao Norte, e ninguém lá ia.
Não sei, Al. Em princípio, eu sou um especialista da alta sociedade. — Esforçou-se por sorrir.
— Em princípio, Pete, em princípio. Não o vão despedir se aparecer com uma excelente história da baixa sociedade.
A palavra despedir fê-lo decidir-se. Fechou os olhos. O focinho do monstro já lá não estava. Em vez dele, viu a cara do Rato Morto. Viu o Rato a espreitar, nesse preciso instante, para o seu cubículo na sala de redacção, e a encontrá-lo vazio. O pânico invadiu-lhe todas as células; levou o guardanapo à testa.
— Importa-se que eu lhe faça uma pergunta, Al?
— Faça favor.
— Qual é o seu interesse em tudo isto?
— Nenhum, se é de interesses materiais que está a falar. O Reverendo Bacon telefonou-me a pedir-me conselho e eu disse que ia tentar ajudá-lo, mais nada. Gosto dele. Gosto daquilo que ele está a tentar fazer. Gosto da maneira como ele sacode esta maldita cidade. Estou do lado dele. Disse-lhe que ele devia fazer com que a história chegasse aos jornais antes da manifestação de protesto. Assim consegue mais cobertura da televisão, e tudo isso. Estou-lhe a dizer a pura verdade. Pensei em si porque me pareceu que talvez lhe pudesse convir uma oportunidade destas. É uma coisa que o pode beneficiar a si e beneficiar uma data de gente honesta desta cidade que nunca tem uma puta duma oportunidade na vida.
Fallow estremeceu. O que teria Vogel ouvido dizer acerca da situação dele? A verdade é que preferia não saber. Sabia que estava a ser usado. Mas, ao mesmo tempo, tinha ali um pedaço de carne para atirar ao Rato.
— Bom, talvez você tenha razão.
— Eu sei que tenho razão, Pete. De uma maneira ou de outra, isto vai dar uma grande história. Porque é que não há-de ser você a apanhá-la?
— Você pode levar-me até essas pessoas?
— Claro. Com isso não tem de se preocupar. Só há uma coisa: não pode demorar muito a escrever a história. Bacon está pronto para avançar.
— Ammmmm... Deixe-me tomar nota desses nomes.— Fallow enfiou a mão no bolso lateral do casaco. Meu Deus, nem sequer tinha pegado num bloco de apontamentos ou uma folha de papel antes de sair de casa. Acabou por tirar do bolso um aviso da Con Edison, que lhe anunciava para breve o corte do fornecimento de água e luz a sua casa. Nem sequer o podia usar para tomar notas. Estava escrito de ambos os lados. Vogel observou tudo aquilo e, sem fazer comentários, estendeu-lhe um bloco. Depois estendeu-lhe também uma esferográfica de prata. Repetiu os nomes e os dados todos.
— Sabe o que vou fazer? — disse Fallow. — Vou telefonar já para a redacção.
Pôs-se de pé e foi de encontro a uma cadeira da mesa ao lado, onde uma senhora de idade, com um saia casaco ao estilo de Chanel, tentava levar à boca uma colher de sopa de azeda. A senhora lançou-lhe um olhar furioso.
— O que é que você quer comer? — perguntava Vogel. — Eu peço por si.
-
Nada. Uma sopa de tomate. E paillard de galinha.
— Vinho?
— Não. Bem, só um copo.
O telefone público ficava num vestíbulo em frente do vestiário, onde estava sentada uma bonita rapariga, num banco alto, a ler um livro. Os seus olhos espreitavam do meio de sinistras elipses negras meticulosamente desenhadas em torno das pálpebras. Fallow telefonou a Frank de Pietro, o chefe de secção do City Light encarregado do noticiário da cidade de Nova Iorque. De Pietro era um dos poucos americanos com uma posição importante na redacção do jornal. Para aquele lugar precisavam de um nova-iorquino. Os outros ingleses que lá trabalhavam, e o próprio Fallow, só conheciam a zona de Manhattan que ia dos restaurantes em voga da TriBeCa, a sul, até aos restaurantes em voga de Yorkville, próximo da Rua 86, a norte. O resto de Nova Iorque era para eles tão distante e exótico como Damasco.
— Sim? — A voz de Frank de Pietro. O seu entusiasmo por receber uma chamada de Peter Fallow durante as horas de expediente era imperceptível.
— Frank — disse Fallow — conhece um lugar chamado bairro social Edgar Allan Poe?
— Iá. E você?
Fallow não saberia dizer o que era mais desagradável, se aquele hábito americano de dizer iá em vez de sim, se a incredulidade que transparecia na voz de Frank. No entanto, prosseguiu, contando, com os retoques que lhe pareceram necessários, a história de Albert Vogel, sem mencionar Albert Vogel. Deixou no ar a impressão de que já tinha contactado com o Reverendo Bacon e a mãe da vítima, e de que a sua aparição iminente no Bronx era ansiosamente esperada por todos. De Pietro disse-lhe que avançasse e visse o que aquilo dava. Disse-o, aliás, sem especial entusiasmo. Apesar disso, Fallow sentiu que o seu coração se enchia de uma alegria inesperada.
Quando regressou à mesa, Vogel perguntou-lhe: — Então, o que é que lhe disseram? Tem a sopa a arrefecer. — As palavras saíam-lhe a custo da boca atafulhada de comida.
No lugar de Fallow estava uma grande tigela de sopa de tomate e um copo de vinho. Vogel, entretanto, atirava-se a um pernil de vitela de aspecto repelente.
— A história agradou-lhes, hem?
— Ahammmmm! — Bom, não a desprezaram, pensou Fallow. Começaram a passar-lhe as náuseas. A gema de mercúrio ficou mais pequena. Uma viva euforia, não muito diferente da de um atleta antes da prova, insinuou-se no seu sistema nervoso. Sentia-se... quase limpo. Era a emoção, nunca comentada pelos poetas, dos que sentem que, por uma vez, estão a merecer aquilo que ganham.
Era a vez de Kramer usar à cintura, durante doze horas, o pequeno aparelho que sinalizava os telefonemas. No Departamento de Homicídios da Procuradoria do Bronx, havia em permanência uma pessoa de serviço, um procura-dor-adjunto. A ideia era ter alguém a postos para se deslocar imediatamente ao local dos crimes, para entrevistar as testemunhas antes de elas desaparecerem ou perderem a vontade de falar acerca dos assassinatos. Durante essas doze horas o procurador-adjunto podia contar que lhe iam cair em cima todos os casos de merda do Bronx que envolvessem homicídios, e fora um típico caso de merda do Bronx que levara Kramer à esquadra onde se encontrava. Um sargento da Polícia, negro, de nome Gordon, estava de pé, junto ao balcão da recepção, a dar-lhe os pormenores do caso.
— Toda a gente lhe chama Chulo — disse Gordon — mas ele não é chulo. É principalmente um jogador, e provavelmente também passa droga, mas veste-se como um chulo. Vai vê-lo daqui a bocadinho. Está lá dentro, no vestiário com um fato todo pinocas e um colete com duas filas de botões. — Gordon abanou a cabeça. — Está sentado na borda de uma cadeira a comer entrecosto, e segura a carne assim — inclinou-se para a frente e ergueu a mão num gesto afectado — para não sujar o fato de molho. Ele tem mais quarenta fatos como aquele, e quando fala da merda dos fatos parece que são quarenta filhos queridos que perdeu.
Tudo acontecera porque alguém tinha roubado os quarenta fatos. Oh, era um autêntico caso de merda. Vagas e vagas de infantilidade e violência inútil, e Kramer ainda nem sequer tinha ouvido a história toda.
A sala principal da esquadra estava saturada do cheiro húmido e estranhamente adocicado da madeira apodrecida, provocado por décadas e décadas de aquecimento central a vapor a pingar para os soalhos. Grande parte do soalho já fora substituído por cimento. As paredes estavam pintadas do verde de Repartição Oficial, excepto um rodapé de ripas de madeira, muito velho e estragado, com três pés de altura. O edifício tinha paredes grossas e tectos altos, agora infestados de lâmpadas fluorescentes. Do outro lado, Kramer via as costas de dois guardas. Tinham as ancas enormes do volume das armas e dos outros adereços, que incluíam lanternas, blocos de multas, walkie-talkies e algemas. Um deles erguia repetidamente as mãos em gestos explicativos para duas mulheres e um homem, moradores do bairro, cujos rostos deixavam transparecer claramente que não acreditavam numa palavra do que ouviam.
Gordon dizia a Kramer: — Portanto ele aparece no tal apartamento, onde estão mais quatro gajos, e um deles é esse André Potts, que na opinião dele sabe quem lhe roubou os fatos; só que André diz que não sabe nada de nada, e é a ver quem teima mais; André acaba por perder a paciência, levanta-se e sai da sala. Ora bem, o que é que você fazia se um sacana mal-educado se levantasse e lhe virasse as costas quando você estava a tentar descobrir o paradeiro dos seus quarenta fatos? Abatia-o pelas costas, não era? Pois foi o que o Chulo fez. Deu três tiros de 38 nas costas de Mr. André Potts.
— Há testemunhas? — perguntou Kramer;
— Oh, montes delas.
Nesse instante o aparelho que Kramer trazia à cintura começou a apitar.
— Posso servir-me do telefone?
Gordon apontou para uma porta aberta que dava para o Gabinete dos Detectives, um escritório que comunicava com a sala principal. Lá dentro havia três lúgubres secretárias metálicas de um cinzento de Repartição Oficial. A cada uma das secretárias estava instalado um homem negro de trinta e tal ou quarenta e tal anos. Todos envergavam trajos das ruas do Bronx, um pouco exagerados para serem autênticos. Kramer pensou em como era raro encontrar um gabinete inteiro só com detectives negros. O da secretária mais próxima da porta vestia um colete acolchoado preto e uma T-shirt também preta, sem mangas, que lhe permitia exibir os braços musculosos.
Kramer estendeu a mão para o telefone em cima da secretária e perguntou: — Posso usar o seu telefone?
— Que merda é esta, meu? Kramer retirou a mão.
— Quanto tempo é que vou ter de ficar aqui acorrentado como um animal, porra?
E, com isto, o homem ergueu o vigoroso braço esquerdo com um grande ruído metálico. Tinha uma algema no pulso, e presa à algema, uma corrente. A outra extremidade da corrente estava algemada à perna da mesa. E agora os outros dois, nas outras secretárias, também erguiam os braços no ar, protestando e fazendo chocalhar as correntes. Todos os três estavam presos às secretárias.
— A única coisa que eu fiz foi ver o filho da puta arrumar aquele idiota; esse filho da puta é que arrumou o outro idiota e é a mim que prendem aqui como um animal, foda-se, e o filho da puta — mais um grande ruído metálico, quando ele fez um gesto com a mão esquerda na direcção de um compartimento ao fundo da sala — está para ali sentado a ver a merda da televisão e a comer entrecosto.
Kramer espreitou para o fundo da sala e, na realidade, viu, no vestiário, uma silhueta sentada na borda de uma cadeira, iluminada pelo clarão pálido de uma televisão, a comer um pedaço de entrecosto de porco grelhado. E o homem estava, de facto, inclinado para a frente com um ar afectado. A manga do casaco era cortada de maneira a deixar ver grande parte do punho branco da camisa e um botão de punho reluzente.
Agora berravam os três: A merda do entrecosto... a merda das correntes!... a merda da televisão!
Mas é claro! As testemunhas. Quando Kramer compreendeu isso, compreendeu também tudo o mais, incluindo as correntes.
— Pois sim, pois sim — disse ao homem, com um ar impaciente — só um minuto, já trato de vocês. Tenho de fazer um telefonema.
A merda do entrecosto!... Sheee!... A merda das correntes!
Kramer telefonou para a Procuradoria, e Glória, a secretária de Bernie Fitzgibbon, disse que Milt Lubell queria falar com ele. Lubell era o assessor de imprensa de Abe Weiss. Kramer mal conhecia Lubell; não se lembrava de ter falado com ele mais de quatro ou cinco vezes. Glória deu-lhe o número de telefone de Lubell.
Milt Lubell trabalhara no velho Mirrorde Nova Iorque, nos tempos em que Walter Winchell ainda tinha a sua coluna. Conhecera muito superficialmente o grande homem e conservava como uma relíquia, que duraria até aos últimos dias do século XX, a maneira entrecortada que ele tinha de falar, como se o ar lhe faltasse.
— Kramer — disse — Kramer, Kramer, deixa-me ver, Kramer. Sim, sim, sim, O.K., já sei. O caso de Henry Lamb. Dado como moribundo. Em que é que deu essa história?
— É um caso de merda — disse Kramer.
— Bom, é que eu recebi um telefonema do City Light, de um inglês chamado Fallow. O tipo tem um destes sotaques! Julguei que estava a ouvir o Canal 13. Seja como for, ele leu-me o depoimento do Reverendo Bacon acerca do caso de Henry Lamb. Era só o que me faltava. As palavras do Reverendo Reginald Bacon com sotaque inglês. Você conhece o Bacon?
— Conheço — disse Kramer. — Foi no gabinete dele que falei com a mãe de Henry Lamb.
— Este tal tipo também a entrevistou a ela, mas quase só me falou do Bacon. Deixa ver, deixa ver, deixa ver. Diz assim... blá blá blá, blá blá blá... a vida humana no Bronx... um crime... os brancos da classe média... blá blá blá... ressonância magnética nuclear... Farta-se de falar da ressonância magnética nuclear. Acho que só há dois aparelhos desses no país inteiro, porra!... blá blá blá... Deixa ver... cá está. Acusa o procurador de baixar os braços. Ninguém se dá ao trabalho de avançar com ó processo porque o miúdo é negro, vive num bairro social e não merece tanta maçada.
— É uma mentira deslavada.
— Bom, isso sei eu tão bem como você, mas tenho de telefonar a este inglês e dizer-lhe alguma coisa.
Uma grande algazarra metálica. — Quanto tempo é que vou ter de ficar aqui preso com estas correntes, meu? — O homem dos braços fortes entrava outra vez em efervescência.
— Isto é ilegal!
— Ouça lá! — disse Kramer, genuinamente incomodado. — Se quer sair daqui depressinha, o melhor é parar com isso. Foda-se, nem consigo ouvir o que estou a dizer! — E, para Lubell: — Desculpe, é que eu estou aqui na esquadra.
— Pôs a mão diante da boca e do bocal do telefone e disse em voz baixa: — Têm aqui três testemunhas de um homicídio presas às pernas das secretárias no gabinete dos detectives; os tipos já estão de cabeça perdida. — Gozou a mísera emoção viril de comunicar a Lubell aquele pequeno episódio de guerra, embora não conhecesse o homem de parte nenhuma.
— Às pernas das secretárias! — disse Lubell, saboreando o pormenor. — Meu Deus, essa nunca tinha ouvido.
— Ah, mas onde é que eu ia? — disse Kramer. — Bom, temos um Mercedes-Benz com a matrícula começada por R. Para começar, nem sequer sabemos se a matrícula é de Nova Iorque ou não. Está a ver? Isto, para começar. Mas suponhamos que sim. Há 2 500 Mercedes registados no estado de Nova Iorque com matrículas começadas por R. Muito bem, ao que parece a segunda letra é um E ou um F, ou talvez um P, umou um R, uma letra com um traço vertical à esquerda e vários horizontais a partirem dele. Mesmo que usemos esta informação, ainda ficamos com uns quinhentos carros. O que é que querem que a gente faça? Que vá atrás de quinhentos carros? Se tivéssemos uma testemunha a dizer-nos que o rapaz tinha sido atropelado por um carro assim e assado, não digo que não fosse possível. Mas não há testemunhas além do miúdo, que está em coma e não vai recuperar. Não sabemos nada acerca do condutor. Só sabemos que iam duas pessoas no carro, dois brancos, um homem e uma mulher; e ainda por cima a história do miúdo não bate certa.
— Bom, então o que é que eu digo? Que vamos continuar a investigar?
— Pois. Vamos continuar a investigar. Mas a menos que Martin encontre uma testemunha, nada feito. Mesmo que o miúdo tenha sido atropelado, provavelmente não foi o tipo de colisão que permite encontrar no carro indícios válidos em tribunal, porque o miúdo não tem nenhuma das lesões que apontariam para esse tipo de colisão... quer dizer, que diabo, esta história está cheia de ses, porra, e além disso não tem ponta por onde se lhe pegue. Se quer saber a minha opinião, é um caso de merda. O miúdo parece um rapaz como deve ser, e a mãe também, mas aqui entre nós, acho que ele se deve ter metido nalguma alhada e inventou esta treta para contar à mãe.
— Está bem, mas então para que é que foi inventar parte de uma matrícula? Porque é que não disse que não tinha conseguido ver o número?
— Como é que quer que eu saiba? Porque é que as pessoas fazem aquilo que fazem neste condado, em vez de fazerem outra coisa qualquer? Acha que esse tipo, esse tal repórter, vai mesmo escrever alguma coisa sobre o asunto?
— Não sei. Eu vou-lhe só dizer que estamos a seguir atentamente o caso.
— Mais alguém lhe telefonou para saber como estavam as coisas?
— Não. Quer-me parecer que foi o Bacon que deu a informação a este tipo.
— O que é que o Bacon ganha com isso?
— Oh, é o género de coisa que ele faz por desporto. Dois pesos e duas medidas, a justiça branca, blá blá blá. Quando se trata de entalar o mayor, ele está sempre a postos.
— Bom — disse Kramer — mas olhe que só se for mágico é que consegue tirar alguma coisa deste caso de merda.
Quando Kramer desligou, as três testemunhas algemadas estavam outra vez a queixar-se e a fazer tilintar as correntes. Com um peso no coração, apercebeu-se de que ia mesmo ter de se sentar a falar com aqueles três vermes, para extrair deles alguma coisa coerente acerca de um homem chamado Chulo que tinha matado um homem que conhecia um homem que talvez soubesse ou talvez não soubesse do paradeiro de quarenta fatos. Ia ficar com a noite de sexta-feira toda lixada, e depois ia ter de jogar uma partida de dados com o Destino, regressando a Manhattan de metro. Tornou a espreitar para dentro do vestiário. Aquela autêntica visão, aquela figura digna da capa do GentlemanQuar-terly, o homem a quem chamavam Chulo, ainda lá estava, a comer entrecosto e a divertir-se à grande com um programa qualquer da televisão, que lhe projectava no rosto uma luz cor-de-rosa, do tom de uma queimadura de primeiro grau, e azul, como nos tratamentos de cobalto.
Kramer saiu do gabinete dos detectives e disse a Gordon: — As suas testemunhas estão a ficar um bocado impacientes. O tipo de cá estava cheio de vontade de me enrolar a corrente à volta do pescoço.
— Eu tinha de o prender.
— Bem sei. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa.
Esse tal Chulo está ali sentado a comer entrecosto. E não está algemado nem nada.
— Oh, o Chulo não me preocupa. Ele não vai a parte nenhuma. Está a arrefecer as ideias. Está satisfeito. Este bairro miserável é o único lugar que ele conhece. Aposto que nem sabe que Nova Iorque fica à beira do Oceano Atlântico. Ele é da casa. Não, esse não vai a parte nenhuma. Mas uma testemunha... meu amigo, se eu não acorrentasse as testemunhas, você não tinha ni-i-i-i-i-inguém para interrogar. Nunca mais lhes púnhamos a vista em cima. As sacanas das testemunhas põem-se ao fresco em menos de um credo, disso pode ter a certeza.
Kramer encaminhou-se de novo para o gabinete dos detectives para cumprir o seu dever interrogando os três cidadãos enfurecidos e acorrentados e tentando pôr um mínimo de ordem no mais recente dos casos de merda.
Como o City Light não saía ao domingo, nos sábados à tarde havia muito pouca gente na redacção do jornal. Era quase só o pessoal da secção dos telexes, que examinava o material que continuava a sair, aos solavancos e estremeções, das máquinas da Associated Press e da United Press International, seleccionando as notícias que pudessem servir para a edição de segunda-feira. Havia três repórteres na redacção, mais um na esquadra central da Polícia de Manhattan, para o caso de acontecer alguma catástrofe ou um crime tão horrendo que os leitores do City Light ainda estivessem dispostos a engolir a notícia na segunda-feira. Havia um redactor solitário da secção do noticiário de Nova Iorque, que passava a maior parte da tarde a fazer vendas pelo telefone, servindo-se da linha do City Light, na sua actividade paralela que consistia em vender, por grosso, jóias e insígnias de fraternidades universitárias aos directores das fraternidades, que depois vendiam todo esse material, os alfinetes de gravata, os anéis, os broches, a cada um dos membros, guardando para si a diferença entre o preço por grosso e o preço a retalho. Eram tais o tédio e o cansaço destas sentinelas da imprensa que dificilmente se poderá exagerar ao descrevê-los.
Mas, nesta tarde de sábado, excepcionalmente, havia também Peter Fallow.
Fallow, por contraste, era a personificação do entusiasmo. Dos vários cubículos na periferia da sala de redacção, o seu era o único ocupado. Estava sentado, muito direito, na borda da sua cadeira, com o telefone encostado ao ouvido e uma esferográfica na mão. Estava tão animado que a sua excitação submergia numa espécie de lucidez a ressaca da véspera.
Sobre a secretária tinha uma lista telefónica do condado de Nassau, que ficava em Long Island. Era uma coisa volumosa, pesada, aquela lista. Fallow nunca tinha ouvido falar do condado de Nassau, embora lhe ocorresse agora que lá devia ter passado no fim de semana em que conseguira sugerir ao chefe de St. John no museu, Virgil Gooch III — os americanos adoravam acumular numerais romanos a seguir ao nome dos filhos — a ideia de o convidar para a sua casa de uma grandiosidade algo ridícula em East Hampton, Long Island, junto ao mar. O convite não se repetira, mas... enfim, enfim... Quanto à cidade de Hewlett, que ficava no condado de Nassau, a sua existência à face da terra era para Fallow uma novidade, mas algures na cidade de Hewlett um telefone tocava, e ele esperava ansiosamente que alguém atendesse. E finalmente, após sete toques, lá atenderam.
— Está? — Uma voz esbaforida.
— Mr. Rifkind?
— Sim? — Esbaforida e desconfiada.
— Daqui Peter Fallow, do City Light de Nova Iorque.
— Não estou interessado.
— Como? Espero que me desculpe por lhe telefonar num sábado à tarde.
— Faz mal em esperar. Em tempos, assinei o Times. Só o costumava receber uma vez por semana.
— Não, não, não, eu não sou...
— Ou alguém mo tirava da porta da entrada antes de eu sair de casa, ou estava ensopado da chuva, ou não chegavam a vir entregá-lo.
— Não, mas eu sou jornalista, Mr. Rifkind. Eu escrevo no City Light.
Ao fim de algum tempo, lá conseguiu convencer Mr. Rifkind da veracidade desta afirmação.
— Bom, está bem — concedeu Mr. Rifkind — diga lá. Eu estava lá fora, no jardim, a beber umas cervejas e a pintar um letreiro a dizer VENDE-SE para pôr no vidro do meu carro. Por acaso não está interessado em comprar um Thun-derbirdde 1981, não?
-
— Não, tenho muita pena mas não estou — disse Fallow com uma gargalhadinha, como se Mr. Rifkind fosse uma das pessoas mais espirituosas que ele tivesse conhecido em todas as tardes de sábado da sua vida. — Olhe, telefonei-lhe para lhe fazer algumas perguntas sobre um dos seus alunos, o jovem Mr. Henry Lamb.
-
— Henry Lamb. O nome não me diz nada. O que é que
ele fez?
— Oh, não fez nada. Sofreu um acidente grave. — E passou ao relato dos factos, que apresentou de maneira bastante tendenciosa, de acordo com a teoria Albert Vogel — Reverendo Bacon do acidente. — Disseram-me que ele era seu aluno de inglês.
— Quem é que lhe disse isso?
— A mãe dele. Tive com ela uma conversa bastante longa. É uma mulher muito simpática, e que, como calcula, está muitíssimo transtornada com tudo isto.
— Henry Lamb... Ah, sim, já sei quem é. Bom, tenho muita pena do que aconteceu.
— O que eu queria que me dissesse, Mr. Rifkind, era que tipo de aluno é Henry Lamb.
— Que tipo de aluno como?
— Bom, o senhor diria que ele é um aluno excepcional?
— De onde é que o senhor é, Mr.... desculpe, pode-me repetir o seu nome?
— Fallow.
— Mr. Fallow. Quer-me parecer que não é de Nova
Iorque.
— É verdade.
— Então não é obrigado a saber como são as coisas no Liceu Coronel Jacob Ruppert, no Bronx. No Liceu Ruppert usamos alguns termos de comparação entre os alunos, mas excepcional não é um deles. A escala situa-se mais entre o dócil e o perigoso. — Mr. Rifkind desatou a rir. — Por amor de Deus, não escreva que eu disse isto.
— Bom, e como é que qualificaria Henry Lamb?
— Dócil. É um bom rapaz. Eu, pelo menos, nunca tive razões de queixa dele.
— Diria que ele é um bom aluno?
— Bom também não é uma coisa que se costuma chamar aos alunos no Liceu Ruppert. O problema é mais: «Ele vem ou não vem às aulas?»
— E Henry Lamb vai às aulas?
— Tanto quanto me lembro, sim. Costuma lá estar. É um dos alunos com quem se pode contar. É um miúdo às direitas, do melhor que por lá aparece.
— Havia alguma parte do curriculum em que ele fosse especialmente bom... ou melhor, de que ele gostasse mais, que ele fizesse melhor do que o resto?
— Não, nada de especial.
— Não?
— É difícil explicar, Mr. Fallow. Como se costuma dizer, «Ex nihilo nihil fit»(1). Nestas turmas não há uma grande gama de actividades diferentes, por isso é difícil comparar o aproveitamento numas e noutras. Estes rapazes e raparigas... às vezes estão a pensar no que se passa na aula, outras vezes não.
— E o Henry Lamb?
— É um bom rapaz. É bem educado, toma atenção, não arranja problemas. Esforça-se por aprender.
— Bom, mas algumas capacidades ele deve ter. A mãe disse-me que ele estava a pensar ir para a universidade.
— É bem possível. Ela devia estar a falar do C.C.N.Y., do City College of New York.
— Acho que sim, que foi dessa universidade que Mrs. Lamb falou.
— O City College tem uma política de inscrições abertas. Qualquer pessoa que viva em Nova Iorque e tenha terminado o liceu pode frequentar o City College, se quiser.
— E Henry Lamb vai acabar este ano o liceu, ou iria acabar, se não fosse o acidente?
— Tanto quanto sei, sim. Como lhe disse, ele tem uma excelente folha de presenças.
— Acha que ele teria dado um bom estudante universitário?
Um suspiro. — Não sei. Não faço ideia do que acontece a estes miúdos quando entram no City College.
— Bom, Mr. Rifkind, há alguma coisa que me possa dizer acerca do aproveitamento ou das capacidades de Henry Lamb?
— O senhor tem de ver que me dão, em média, sessenta e cinco alunos por turma no princípio do ano, porque sabem que no meio do ano já só vão ser quarenta e no fim do ano trinta. Mesmo trinta já é demais, mas é o que me dão. Não é propriamente aquilo a que se chama um sistema de tutoria. Henry Lamb é um rapaz simpático, aplicado e com vontade de se instruir. O que é que eu lhe posso dizer mais?
— Deixe-me fazer-lhe mais uma pergunta. Como é que são os trabalhos escritos dele?
Mr. Rifkind soltou uma exclamação de surpresa: — Trabalhos escritos? Já há quinze anos, ou talvez vinte, que não se fazem trabalhos escritos no Liceu Ruppert! Só se...
-
Nada se faz a partir do nada. (N. do T.)
...fazem testes de escolha múltipla. Compreensão do texto, só isso e mais nada. É a única coisa que interessa ao Departamento de Educação.
— E a compreensão de texto do Henry Lamb era boa?
— Só vendo. Mas calculo que não deve ser má.
— Acima da média? Dentro da média? Como é que a classificaria?
— Bom... eu sei que para si, que é inglês, isto deve ser difícil de compreender, Mr. Fallow. Acertei, não é verdade? O senhor é inglês?
— Sou, sim.
— Naturalmente... eu, pelo menos, acho que é natural... o senhor está habituado a níveis de excelência e a essas coisas. Mas estes miúdos não atingiram o nível mínimo a partir do qual vale a pena dar importância ao tipo de comparações de que o senhor está a falar. Tentamos simplesmente fazê-los atingir um certo nível e depois impedi-los de ficarem para trás. O senhor está a pensar em «quadros de honra», em «jovens superdotados» e tudo isso, o que é perfeitamente natural, como lhe digo. Mas no liceu Coronel Jacob Ruppert, o aluno do quadro de honra é o que vai às aulas, não é indisciplinado, procura aprender e tem um aproveitamento aceitável em leitura e aritmética.
— Bom, então usemos esse critério. Por esse critério, Henry Lamb é um aluno do quadro de honra?
— Por esse critério, é.
— Muito obrigado, Mr. Rifkind.
— Ora essa. Lamento muito o que aconteceu. Ele parece ser um bom rapaz. Não querem que lhes chamemos rapazes, mas é o que eles são, pobres rapazes tristes e confusos, com imensos problemas. Por amor de Deus não cite esta frase, senão quem vai ter imensos problemas sou eu! Ouça cá. Tem a certeza que não quer um Thunderbird de 1981?
10 - O Triste Almoço de Sábado
Nesse mesmo momento, também em Long Island, mas sessenta milhas mais a leste, na costa sul, o clube da praia acabava de abrir para a estação alta. O clube possuía um edifício baixo e desgracioso, de estuque, no meio das dunas, e umas cem jardas de praia, delimitadas por duas cordas grossas presas a estacas de metal. As instalações do clube eram espaçosas e confortáveis, mas conservavam-nas devota-mente com a traça e a decoração original de estilo Brâmane de Ascético Colégio Interno de Madeiras Nuas, que estivera na moda nos anos 20 e 30. Era por isso que Sherman McCoy estava agora sentado no terraço, a uma mesa de madeira de linhas muito sóbrias, debaixo de um grande guarda-sol desbotado. Com ele estavam o pai, a mãe, Judy e, intermitentemente, Campbell.
Podia-se passar ou, no caso de Campbell, correr directamente do terraço para a extensão de areia delimitada pelas duas cordas, e nesse preciso momento ela devia estar algures lá adiante com a filha de Rawlie Thorpe, Eliza, e a filha de Garland Reed, MacKenzie. Sherman estava muito atento a não ouvir o pai explicar a Judy como é que Talbot o barten-der do clube, lhe tinha feito o martini, que ficara de uma cor de chá fraco.
— ... não sei porquê, mas sempre preferi o martinileito com vermute doce. Sacudido até fazer espuma. O Talbot discute sempre comigo...
Os lábios finos do pai abriam-se e fechavam-se, o seu nobre queixo subia e descia, e o seu belo sorriso de conversador enrugava-lhe as faces. Uma vez, quando Sherman tinha a idade de Campbell, os pais tinham-no levado a fazer um piquenique na areia, para lá das cordas. Um certo espírito de aventura inspirava aquela excursão. Estavam dispostos a correr riscos... Afinal, os estranhos que povoavam a praia, a meia-dúzia que restava ao fim da tarde, tinham-se revelado inofensivos.
Agora Sherman desviava lentamente os olhos do rosto do pai para esquadrinhar de novo a areia para lá das cordas. Via-se obrigado a semicerrar os olhos, porque a partir do ponto onde acabava o grupo das mesas e dos guarda-sóis, a praia era uma pura extensão de luz, que o encandeava. Desistiu, portanto, de olhar para tão longe, e deu por si a fitar a cabeça de um ocupante de outra mesa, que estava mesmo atrás do pai dele. Era a inconfundível cabeça redonda de Pollard Browning. Pollard estava na companhia de Lewis Sanderson sénior, que durante a infância de Sherman sempre fora o Embaixador Sanderson, de Mrs. Sanderson e de Coker Channing e sua mulher. Como é que Channing conseguira entrar para o clube era uma coisa que ultrapassava a compreensão de Sherman, a não ser que fosse por se ter especializado em cair nas boas graças de gente como Pollard. Pollard era presidente do clube. Meu Deus, também era presidente do condomínio de Sherman. Aquela cabeça densa, redonda... Mas, no seu actual estado de espírito, a imagem daquela cabeça tranquilizava-o... densa como um rochedo, sólida como um rochedo, rica como Creso, inamovível.
Os lábios do pai deixaram de se mover por uns instantes, e Sherman ouviu a mãe dizer: — Meu querido, não estejas a maçar a Judy com os teus martinis. Isso faz-te parecer tão velho! Já ninguém toma martinis a não ser tu.
— Aqui na praia tomam. Se não acreditas...
— É como falar de meninas casadoiras, de automóveis de manivela, de carruagens-restaurantes ou...
— Se não acreditas...
— ... de rações de combate ou do Hit-Parade.
— Se não acreditas...
— Alguma vez ouviu falar de uma cantora chamada Bonnie Baker? — Dirigiu a pergunta a Judy, ignorando o pai de Sherman. — Bonnie Baker era a estrela do Hit Parade, na rádio. Chamavam-lhe a Pequena Bonnie Baker. Todo o país ouvia esse programa. Hoje já ninguém se lembra dela, imagino.
Sessenta e cinco anos e ainda belíssima, pensou Sherman. Alta, esbelta, muito direita, com a sua farta cabeleira branca, que se recusa a pintar — uma aristocrata, muito mais do que o pai, que tanto empenho tem em o ser — e sempre a minar a base da estátua do grande Leão da Dunning Sponget.
— Oh, não é preciso recuar tanto — disse Judy. — Estive a falar com o filho do Garland, Landrum. Acho que ele me disse que andava no terceiro ano, na Brown...
— O Garland Reed tem um filho na universidade?
— É filho da Sally.
— Oh, meu Deus. Tinha-me esquecido completamente da Sally. Não é horrível?
— Não, horrível não. Até está muito na moda — disse Judy, com um sorriso amarelo.
— Se não acreditas em mim, pergunta ao Talbot — disse o pai de Sherman.
— Até está na moda! — disse a mãe, rindo e ignorando o Leão, os seus martinis e o seu Talbot.
— Mas o que eu ia contar — disse Judy — era que na conversa com ele me aconteceu falar dos hippies, e ele ficou a olhar para mim. Nunca tinha ouvido falar. Era uma coisa pré-histórica.
— Aqui na praia...
— Como os martinis — disse a mãe de Sherman a Judy.
— Aqui na praia ainda se podem gozar os prazeres simples da vida — disse o pai de Sherman — ou pelo menos podia-se, até há bocadinho.
— Sabes, Sherman, o pai e eu fomos ontem à noite àquele restaurantezinho de Wainscott de que o pai gosta muito, com a Inês e o Herbert Clark, e sabes o que é que a dona do restaurante me disse... sabes, aquela mulherzinha bonita que é dona do restaurante?
Sherman acenou afirmativamente com a cabeça.
— Acho-a tão alegre! — disse a mãe. — Ora, quando íamos a sair ela disse-me... bom, primeiro devo referir que a Inês e o Herbert tomaram cada um dois gin tonics, o pai três martinis, além do vinho, e ela disse-me...
— Celeste, o teu nariz está a crescer. Só tomei um.
— Bom, talvez não tivessem sido três. Dois, então.
— Celeste.
— Bom, ela achou muito, a dona do restaurante. Disse-me: «De quem eu gosto mais é dos clientes mais velhos. São os únicos que ainda bebem alguma coisa.» «Os clientes mais velhos!» Não sei se ela terá achado que eu gostava de ser incluída no grupo...
— Ela a ti deu-te vinte e cinco anos — disse o pai de Sherman. E, para Judy: — De repente, dou por mim casado com uma mulher eternamente jovem.
— Eternamente jovem?
— Mais uma coisa pré-histórica — resmungou ele. — Ou melhor, estou casado com uma Menina da Moda. Tu sempre te mantiveste a par das modas todas, Celeste.
— Só comparada contigo, meu querido. — Sorriu e pôs-lhe a mão no braço. — Não te tirava os teus martinis por nada deste mundo. Nem os do Talbot.
— Os do Talbot pouco me importam — disse o Leão.
Sherman já ouvira o pai explicar como gostava que lhe fizessem os martinis pelo menos cem vezes, e Judy umas vinte, mas não fazia mal. Era uma coisa que bulia com os nervos da mãe, não com os dele. Era reconfortante: tudo continuava igual ao que sempre fora. Era assim que ele queria as coisas naquele fim de semana: iguais a si mesmas, iguais a si mesmas, e muito bem delimitadas pelas duas cordas.
O simples facto de sair do apartamento, onde o posso falar com a Maria continuava a envenenar o ar, já fora uma grande ajuda. Judy partira na véspera, ao princípio da tarde, na station, com Campbell, Bonita e Miss Lyons, a ama. Ele viera na véspera à noite, no Mercedes. De manhã, no caminho de acesso à garagem, nas traseiras da sua grande e velha casa de Old Drovers Mooring Lane, examinara o carro todo à luz do dia. Nenhum indício, pelo menos que ele fosse capaz de detectar, da colisão... Tudo parecia mais luminoso nessa manhã, incluindo Judy. Tagarelara amigavelmente à mesa do pequeno-almoço. E ainda agora sorria para o pai e a mãe dele. Parecia descontraída... e até bastante bonita, bastante chique... com a sua camisola polo, o seu casaco de lã shetland amarelo pálido e as suas calças brancas... Não era nova, mas tinha o género de feições delicadas que envelheceriam bem... Cabelos tão bonitos... As dietas, a abominável ginástica... e a idade... tinham deixado nos seios as suas marcas, mas a verdade é que ela continuava a ter um corpinho elegante... firme... Sentiu uma ligeira excitação... talvez nessa noite... ou a meio da tarde!... Porque não?... Talvez isso levasse ao degelo, ao renascer da primavera, ao regresso do sol... talvez reforçasse os alicerces... Se ela estivesse de acordo, poriam ponto final naquela... naquela história tão desagradável. Talvez todo o desagradável incidente fosse, para esquecer. Tinham já passado quatro dias, e não houvera qualquer notícia de um acidente horrível envolvendo um rapaz alto e magrinho, na rampa de acesso a uma via rápida, no Bronx. Ninguém lhe viera bater à porta. Além disso, quem ia a guiar era ela. Ela própria o dissera. E, acontecesse o que acontecesse, a atitude dele fora moralmente correcta. (Nada a temer da parte de Deus.) Tinha lutado pela sua vida, e pela dela...
Talvez tudo aquilo fosse um aviso divino. Porque é que ele, Judy e Campbell não fugiam da loucura de Nova Iorque... e da megalomania da Wall Street? Quem senão um tolo arrogante quereria ser Senhor do Universo — e correr os riscos loucos que ele corria? Um aviso sério!... Meu Deus, juro-vos que de hoje em diante... Porque é que não vendiam o apartamento e não se mudavam ali para a casa de Sout-hampton — ou para o Tennessee?... O Tennessee... O avô dele, William Sherman McCoy, viera de Knoxville para Nova Iorque com trinta e um anos... um labrego, aos olhos dos Brownings... Ora, e que mal tinha ser um bom labrego americano?... O pai de Sherman levara-o uma vez a Knoxville. Ele vira a casa perfeitamente decente onde o avô crescera... Uma cidadezinha encantadora, uma cidadezinha sóbria, razoável, Knoxville... Porque é que não se mudava para lá, arranjava um emprego numa casa de corretagem, um emprego regular, um emprego razoável, responsável, em que não tivesse de fazer girar o mundo na ponta do nariz, um emprego das nove às cinco, se é que é das nove às cinco que se trabalha em cidades como Knoxville; 90 ou 100000 dólares por ano, um décimo daquilo que tão insensatamente ele julgava ser-lhe agora necessário, e ainda sobraria... uma casa georgiana com um pórtico triangular de um dos lados... um belo relvado com um acre ou dois, uma máquina Snapper de cortar relva de que ele se serviria em pessoa, uma vez por outra, uma garagem que se abre com um Genie daqueles que se fixam ao retrovisor do carro, uma cozinha com um quadro magnético onde se deixam os recados, uma vida aconchegada, uma vida de amor e carinho, na Nossa Cidade...
Judy sorria agora de uma coisa que o pai dele dissera, e o Leão sorria de prazer por ela lhe apreciar o espírito, e a mãe sorria para ambos, e nas outras mesas Pollard sorria e Rawlie sorria e o Embaixador Sanderson, com as suas velhas pernas fracas e tudo, sorria, e o doce sol da beira-mar aquecia
os ossos de Sherman, e ele descontraiu-se pela primeira vez em duas semanas, e sorriu para Judy, para o seu pai e a sua mãe, como se tivesse estado a prestar atenção à conversa deles.
— Papá!
Campbell aproximava-se dele a correr, vinda da areia e da luz ofuscante, atravessando o terraço, por entre as mesas.
— Papá!
Ela estava absolutamente esplendorosa. Agora quase com sete anos, perdera os traços de bebé e era uma rapariguinha com braços e pernas esguios, músculos rijos e sem o menor defeito ou senão. Vestia um fato de banho cor-de-rosa com as letras do alfabeto estampadas a preto e branco. A sua pele brilhava do sol e do exercício. Aquela... aquela visão trouxe um sorriso luminoso ao rosto do pai e da mãe dele e de Judy. Sherman desviou as pernas de baixo da mesa e abriu os braços. Queria que ela se precipitasse para ser abraçada.
Mas ela deteve-se. Não viera para receber carinho. — Papá. — Ofegava. Tinha uma pergunta importante a fazer.
— Papá.
— Sim, minha querida!
— Papá. — Mal conseguia respirar.
— Tem calma, minha querida. O que foi?
— Papá... o que é que tu fazes? O que é que ele fazia?
— O que é que eu faço como, minha querida?
— Bom, o pai da MacKenzie faz livros, e tem oitenta pessoas a trabalhar para ele.
— Foi a MacKenzie que te disse isso?
— Foi.
— Oh, oh! Oitenta pessoas! — disse o pai de Sherman, no tom de voz que usava para falar com crianças pequenas.
— Caramba!
Sherman não tinha dificuldade em imaginar o que o Leão pensava de Garland Reed. Garland herdara a tipografia do pai e durante dez anos não fizera mais do que mantê-la a funcionar. Os «livros» que ele «fazia» eram encomendas dos verdadeiros editores, e tanto podiam ser manuais escolares, escalas de serviço de clubes, contratos e relatórios anuais como obras mais ou menos vagamente literárias. E quanto às oitenta pessoas — seria mais exacto dizer oitenta desgraçados sujos de tinta, compositores, tipógrafos e assim por diante. No auge da sua carreira o Leão tivera às suas ordens duzentos advogados da Wall Street, a maior parte deles da Ivy League(1).
— Mas e tu, o que é que fazes? — perguntou de novo Campbell, já impaciente. Queria voltar para junto de MacKenzie e transmitir-lhe a informação; era evidente que a resposta devia ser alguma coisa com que pudesse impressionar a amiga.
— Então, Sherman, não dizes nada? — disse o pai, com um largo sorriso. — Também eu estou interessado na resposta. Muitas vezes perguntei a mim próprio o que é que vocês fazem, ao certo. Campbell, fizeste uma excelente pergunta.
Campbell sorriu, tomando à letra o elogio do avô.
Mais ironia; e desta vez menos agradável. O Leão nunca lhe perdoara por ele ter entrado para o negócio das obrigações em vez de ter feito carreira como advogado, e o facto de ter prosperado na actividade que escolhera ainda piorara as coisas. Sherman começou a ficar irritado. Não podia dar de si a imagem de um Senhor do Universo, com o pai, a mãe e Judy suspensos de cada uma das suas palavras. Em contrapartida, também não podia apresentar-se modestamente a Campbell como um vendedor, um entre muitos, ou mesmo como o primeiro de entre os vendedores de obrigações, o que soaria pomposo sem conseguir impressioná-la e não teria para ela o menor significado — para Campbell, que ali continuava, ofegante, ansiosa por correr para junto da amiga que tinha um pai que fazia livros e tinha oitenta pessoas a trabalhar para ele.
— Bom, eu negoceio em obrigações, minha querida. Compro-as, vendo-as...
— O que são obrigações? O que é negociar?
A mãe dele desatou a rir. — Tens de arranjar uma explicação melhor, Sherman!
— Bom, minha querida, as obrigações são... uma obrigação é... deixa-me ver qual é a melhor maneira de te explicar.
— Explica-me também a mim, Sherman — disse o pai. — Eu devo ter feito pelo menos uns cinco mil contratos de compra e venda de obrigações, e sempre adormeci antes de perceber para que é que alguém as queria.
(1) Associação de oito universidades famosas do Nordeste dos Estados Unidos: Brown, Colúmbia, Dartmouth, Harvard, Princeton, Pensilvânia e Yale. O nome (Liga da Hera) talvez tenha a sua origem nos antigos edifícios dos colégios, cobertos de hera. (N. do T.)
Isso era porque tu e os teus duzentos advogados da Wall Street não passavam de funcionários dos Senhores do Universo, pensou Sherman, cada vez mais incomodado à medida que os segundos iam passando. Viu a expressão consternada com que Campbell fitava o avô.
— O avô está a brincar, minha querida. — Lançou ao pai um olhar reprovador. — Uma obrigação é uma maneira de emprestar dinheiro às pessoas. Imagina que eu quero construir uma estrada, não uma estrada pequenina mas uma grande auto-estrada, como aquela por onde fomos para o Maine no Verão passado. Ou então, que eu quero construir um grande hospital. Bom, para isso é preciso muito dinheiro, tanto dinheiro que não se pode ir levantá-lo a um banco. Então, o que a pessoa faz é emitir aquilo a que se chama obrigações.
— Então constróis estradas e hospitais, papá? É isso que tu fazes?
Agora ria a mãe e ria também o pai. Sherman lançou-lhes um olhar abertamente reprovador, o que os fez rir ainda mais. Judy sorria com um vago ar de compaixão.
— Não, não sou eu que os construo, meu amor. Vendo as obrigações, e as obrigações são o que torna possível...
— Ajudas a construí-los?
— Sim, de certa maneira. SIm.
— Quais é que ajudaste a construir? — Quais?
— Disseste estradas e hospitais. i;i
— Bom, nenhum em especial.- ,
— A estrada para o Maine?
Agora tanto o pai como a mãe soltavam aquelas risadinhas abafadas e exasperantes de quem se está a esforçar o mais possível por não rir na cara do interlocutor.
— Não, a...
— Acho que te meteste numa grande embrulhada, Sherman! — disse a mãe. O fim da palavra embrulhada soou quase como um gemido.
— Não, a estrada para o Maine não — disse Sherman, ignorando o comentário. — Deixa-me tentar explicar de outra maneira.
Judy interrompeu-o. — Deixa-me tentar.
— Bom... está bem.
— Minha querida — disse Judy — o papá não constrói estradas nem hospitais, nem ajuda a construí-los, mas compra e vende as obrigações das pessoas que precisam de dinheiro.
— Obrigações?
— Sim. Imagina que uma obrigação é uma fatia de bolo, e não foste tu que fizeste o bolo; mas de cada vez que passas a alguém uma fatia fica-te na mão um bocadinho, uma migalhinha, e tu podes guardar essa migalha.
Judy sorria, e Campbell também, parecendo compreender que aquilo era uma anedota, uma espécie de conto de fadas baseado naquilo que o papá fazia.
— Migalhas pequeninas? — perguntou, encorajando a mãe a continuar.
— Sim — disse Judy. — Só que tens de imaginar muitas migalhas pequeninas. Se distribuíres bastantes fatias de bolo, em pouco tempo consegues migalhas suficientes para fazer um bolo enorme.
— Isso é mesmo a sério? — perguntou Campbell.
— Não, não é a sério. Mas é como se fosse assim. — Judy olhou para o pai e a mãe de Sherman a ver se eles aprovavam aquela descrição espirituosa do negócio das obrigações. Eles sorriram, mas sem grande convicção.
— Não me parece que estejas a tornar as coisas mais claras para a Campbell — disse Sherman. — Santo Deus... migalhas! — Sorriu, para mostrar que sabia que aquilo não passava de uma dessas conversas inofensivas que se têm à mesa. E, na verdade... ele estava habituado à atitude superior de Judy em relação à Wall Street; só não tinha gostado daquela história das migalhas.
— Não me parece que a metáfora seja assim tão má — disse Judy, também a sorrir. Depois voltou-se para o pai dele: — Deixe-me dar-lhe um exemplo real, John, para ver se eu tenho ou não tenho razão.
John. Embora já houvesse qualquer coisa de errado na história das migalhas, aquela era a primeira indicação indiscutível de que o copo estava prestes a transbordar. O pai e a mãe dele sempre tinham encorajado Judy a tratá-los por John e Celeste, mas isso deixava-a pouco à vontade, portanto ela evitava dirigir-se-lhes directamente. Aquele John tão descontraído, tão confiante não era nada o género dela. Até mesmo o pai pareceu ficar desconfiado.
Judy embrenhou-se numa descrição do esquema da Giscard. Depois disse ao pai dele: — A Pierce & Pierce não as emite em nome do Governo francês nem as compra ao Governo francês, mas sim a quem quer que seja que já as tenha comprado ao Governo francês. Portanto, as transacções da Pierce & Pierce não têm nada a ver com aquilo que a França quer construir, desenvolver ou alcançar. Tudo isso já foi feito muito antes de a Pierce & Pierce entrar em cena. Portanto as obrigações são mesmo uma espécie de... fatias de bolo. Um bolo de ouro. E a Pierce & Pierce recolhe milhões de maravilhosas... — encolhendo os ombros — ... migalhas de ouro.
— Podes chamar-lhes migalhas se quiseres — disse Sherman, procurando, mas sem sucesso, não deixar transparecer o seu ressentimento.
— Bom, é o melhor que eu posso fazer — disse Judy alegremente. E, para os pais dele: — As firmas de investimentos são uma coisa estranha. Não sei se haverá maneira de as explicar a uma pessoa com menos de vinte anos. Ou talvez com menos de trinta.
Sherman reparou então que Campbell estava agora com um ar muito aflito.
— Campbell — disse — sabes uma coisa? Acho que a mamã quer que eu mude de profissão. — E sorriu, como se aquela discussão fosse uma das mais divertidas dos últimos anos.
— De maneira nenhuma — disse Judy, rindo. — Não me estou a queixar das tuas migalhas de ouro!
Migalhas — basta! Sentia-se cada vez mais furioso. Mas continuou a sorrir. — Talvez eu devesse tentar a decoração. Perdão, o design de interiores.
— Não me parece que sejas talhado para isso.
— Olha que não sei. Deve ser divertido arranjar cortinas e poufs de chintz brilhante para... como é que eles se chamavam, aqueles italianos a quem tu decoraste o apartamento? Os Di Duccis?
— Não acho que seja especialmente divertido.
— Bom, criativo, então. Não é verdade?
— Olha, pelo menos pode-se mostrar uma coisa que fomos nós a fazer, uma coisa tangível, definida...
— Para os Di Duccis.
— Mesmo que seja para pessoas frívolas e ocas, é uma coisa real, que se pode descrever, que contribui para a simples satisfação dos seres humanos, por muito superficial e temporária que essa satisfação seja; pelo menos é uma coisa que uma pessoa consegue explicar aos filhos. O que eu pergunto a mim própria é o que é que vocês, lá na Pierce & Pierce, dizem uns aos outros que fazem de manhã à noite!
E, nesse instante, um gemido. Campbell. Corriam-lhe lágrimas pelas faces. Sherman abraçou-a, mas o corpo dela estava hirto.
— Não foi nada, torrãozinho!
Judy levantou-se da cadeira, aproximou-se da filha e abraçou-a também.
— Oh, Campbell, Campbell, Campbell, meu torrãozinho de açúcar! O papá e a mamã estavam só a brincar um com o outro.
Pollard Browning estava a olhar para eles. Rawlie também. Rostos em todas as mesas à volta, olhando fixamente para a criança magoada.
Como ambos tentavam abraçar Campbell, Sherman deu por si com a cara muito perto da de Judy. Teve vontade de a estrangular. Lançou uma olhadela aos pais. Estavam consternados.
O pai pôs-se de pé. — Vou buscar um martini — disse. — Vocês são todos modernos de mais para mim.
Sábado! No SoHo! Depois de uma espera de menos de vinte minutos, Larry Kramer e a mulher, Rhoda, Greg Rosenwald e a namorada com quem vivia, Mary Lou Adora-o-Greg, e Herman Rappaport e a mulher, Susan, ocupavam agora uma mesa junto da janela no restaurante Haiphong Harbor. Lá fora, na West Broadway, estava um dia tão claro e luminoso de fim de Primavera que nem as paredes pardacentas do SoHo o conseguiam obscurecer. Nem mesmo a inveja que Kramer tinha de Greg Rosenwald o conseguia obscurecer. Ele, Greg e Herman tinham sido colegas na Universidade de Nova Iorque. Tinham trabalhado juntos na associação de estudantes. Herman era agora empregado, um entre muitos, da casa editora Putnam, e fora em grande medida graças a ele que Rhoda conseguira o emprego na Waverly Place Books. Kramer era procurador-adjunto, um entre 245, no Bronx. Mas Greg, Greg com as suas roupas da Baixa e a bela Mary Lou Loura ao lado, escrevia no Village Voice. Até agora, Greg era a única estrela que nascera do grupinho da universidade. Isso tornou-se evidente a partir do momento em que se sentaram. Sempre que os outros tinham algum comentário a fazer, era para Greg que olhavam.
Herman olhava para Greg quando disse: — Já foste àquele restaurante, o Dean and DeLuca? Reparaste nos preços? Salmão... fumado... escocês... a trinta e três dólares a libra? A Susan e eu fomos lá há pouco tempo.
Greg sorriu com um ar entendido. — Isso é coisa para a malta Short Hills-Seville.
— A malta Short Hills-Seville? — perguntou Rhoda. A minha mulher ainda realça mais, por contraste, o espírito de Greg. E além disso sorri logo, com aquele sorriso de quem tem a certeza de ir ouvir uma resposta brilhante.
— Sim — disse Greg — olha só para ali. — O sotaque dele era tão atroz como o de Rhoda. — Um carro em cada dois é um Cadillac Seville com matrícula de Jersey. E vê só a maneira como eles se vestem. — Não só tinha um sotaque pavoroso como tinha também a animação eléctrica do actor David Brenner. — Saem daqueles casarões georgianos de Short Hills com seis quartos de dormir, depois de terem vestido os anoraks e os bluejeans, metem-se nos seus Cadillac Sevilles e vêm todos os sábados para o Soho.
Aquele horrível sotaque... Mas Rhoda e Herman e Susan riam com um ar muito divertido. Achavam que aquilo tinha imensa piada. Só a Mary Lou Loura é que não parecia propriamente arrebatada por aquela urbanidade impagável. Kramer decidiu que, se conseguisse intervir na conversa com algum comentário mais ácido, seria a ela que o dirigiria.
Greg lançara-se numa dissertação acerca dos elementos burgueses que se sentiam agora atraídos para o bairro dos artistas. Porque é que não começava por si próprio? Olhem para ele. Uma barba ruiva, ondulada, tão comprida como a do Rei de Copas, a esconder-lhe o queixo retraído... um casaco de tweed preto esverdeado com ombros enormes e lapelas com os entalhes ao nível das costelas... uma T-shirt preta com o logotipo do grupo Pus Casserole no peito... calças pretas com pregas... o estilo Preto Oleoso que era tão... tão Pós-Punk, tão Baixa, tão da última moda... E a verdade é que ele fora um simpático rapazinho judeu de Riverdale, a Short Hills dos confins da cidade de Nova Iorque, e que os pais tinham uma bela e grande casa colonial, ou Tudor, ou lá o que era... Um zé-ninguém da classe média... um escritor do Village Voice, um sabichão, o possuidor de Mary Lou das Pernas Boas... Greg começara a viver com Mary Lou quando ela se inscrevera no Seminário de Jornalismo de Pesquisa que ele orientara na N.Y.U. (1) dois anos antes. Ela tinha um corpo fantástico, seios verdadeiramente notáveis, e um ar de típica WASP. No campus da N.Y.U., devia dar nas vistas como uma criatura vinda de outro planeta. Kramer chamava-lhe Mary Lou Adora-o-Greg, o que era uma maneira de dizer que ela desistira da sua verdadeira identidade para viver com Greg. Ela incomodava-os. Incomodava acima de tudo Kramer. Achava-a densa, distante — intensamente desejável. Lembrava-lhe a...
(1) Universidade de Nova Iorque. (N. do T.)
...rapariga do bâton castanho. E era esse o principal motivo por que invejava Greg. Agarrara naquela criatura esplendorosa e possuíra-a, sem assumir quaisquer obrigações, sem ter de se enfiar numa colónia de formigas do West Side, sem ficar com uma ama inglesa às costas, sem ter uma mulher que um homem vai vendo a pouco e pouco ficar igual à sua mamã shtetl... Kramer olhou de soslaio para Rhoda, para o seu rosto feliz e rechonchudo, e sentiu-se imediatamente culpado. Ele adorava o filhinho recém-nascido, estava ligado a Rhoda para sempre, de uma maneira sagrada... e, no entanto... Estamos em Nova Iorque! E eu sou jovem!
As palavras de Greg passavam por ele, numa torrente. Deixou vaguear os seus olhos. Por um instante, cruzaram-se com os de Mary Lou. Ela não desviou os seus. Seria possível... Mas não podia ficar para sempre a olhá-la. Espreitou, pela janela, as pessoas que passeavam na West Broadway. Quase todas eram jovens ou quase jovens — tão elegantes! — tão ao estilo da Baixa! — radiosos, mesmo os que seguiam a moda do Preto Oleoso, naquele sábado perfeito do fim da Primavera.
E ali mesmo, sentado a uma mesa do Haiphong Harbor, Kramer jurou a si próprio que havia de fazer parte daquele mundo. A rapariga do bâton castanho...
... olhara-o fixamente, e ele olhara-a fixamente, quando fora pronunciado o veredicto. Vencera. Conquistara o júri e arrasara Herbert, que apanharia uma sentença de três a seis anos, pelo menos, uma vez que já tinha uma condenação anterior no seu cadastro. Fora duro, intrépido, arguto — e vencera. Conquistara-a a ela. Quando o primeiro jurado, um negro chamado Forester, anunciara o veredicto, ele olhara-a nos olhos e ela olhara-o nos olhos, e ficaram a olhar-se durante muito tempo, ou pelo menos assim lhe parecera. Não havia a menor dúvida.
Kramer tentou que o seu olhar se cruzasse de novo com o de Mary Lou, mas não conseguiu. Rhoda olhava para o menu. Ouviu-a perguntar a Susan Rappaport, com o seu sotaque execrável: — Comeste alguma coisa antes de sair de casa?
Susan respondeu: — Não, e tu?
— Também não, estava ansiosa por sair de casa. Nos próximos dezasseis anos não vou poder tornar a fazer isto.
— Fazer o quê?
— Oh, vir ao SoHo porque me apetece vir ao SoHo. Ir a um lado qualquer. A ama do bebé vai-se embora na quarta-feira.
— Porque é que não arranjas outra pessoa?
— Estás a gozar? Sabes quanto é que pagamos a esta?
— Quanto?
— Quinhentos e vinte e cinco dólares por semana. A minha mãe é que nos deu o dinheiro para estas quatro semanas.
Muito obrigado. Vá, continua. Explica a todas estas yentas) que o teu marido nem sequer tem dinheiro para a maldita ama do bebé. Kramer reparou que Susan erguia os olhos, desviando-os do rosto de Rhoda. No passeio, do lado de lá do vidro fumado, estava um jovem a tentar espreitar para dentro do restaurante. Se não fosse o quarto de polegada de espessura do vidro, estaria encostado à mesa deles. Continuou a espreitar, a espreitar, a espreitar, até ter a ponta do nariz quase esborrachada contra o vidro. Agora todos os seis estavam a olhar para aquele tipo, mas aparentemente ele não os via. Tinha uma cara magra, atraente, sem rugas, o cabelo fino, castanho claro, aos caracóis. Com o colarinho da camisa aberto e a gola do blusão da marinha levantada, parecia um jovem aviador de outros tempos.
Mary Lou Carícia virou-se para Susan com uma expressão travessa no rosto. — Acho que lhe devíamos perguntar se ele já almoçou.
— Mmmmmmmm... — disse Susan que, tal como Rhoda, já ganhara a sua primeira camada subcutânea de matrona.
— Acho que ele tem um ar esfomeado — disse Mary Lou.
— E eu acho que tem ar de atrasado mental — disse Greg. Greg estava a menos de um pé de distância do rapaz, e o contraste entre o seu aspecto preto oleoso de fuinha da Baixa e as boas cores do rapaz era flagrante. Kramer perguntou a si próprio se os outros também teriam reparado. Mary Lou devia ter reparado. Aquele pateta de barba ruiva de Riverdale não a merecia.
Kramer tornou a trocar momentaneamente um olhar com ela, mas ela observava o rapaz, que, não tendo conseguido ver mais do que reflexos se afastava e começava a subir a West Broadway. Nas costas do blusão tinha bordado um raio amarelo e, acima dele, as palavras RADARTRONIC SECURITY.
— Radartronic Security — disse Greg num tom que não deixava dúvidas sobre a nulidade, a insignificância daquela criatura que deixara Mary Lou tão embasbacada.
(1) Palavra yidctish que significa bisbilhoteira, intrometida. (N. do T.)
— Podes ter a certeza de que o tipo não trabalha para nenhuma empresa de segurança — disse Kramer. Estava decidido a chamar a atenção de Mary Lou.
— Porquê? — perguntou Greg.
— Porque eu conheço o género de pessoas que trabalha para essas empresas. Vejo-as todos os dias. Eu é que não contratava um guarda de segurança nesta cidade, nem que a minha vida dependesse disso... principalmente se a minha vida dependesse disso. São todos criminosos violentos comprovados.
— São o quê? — perguntou Mary Lou.
— Criminosos violentos comprovados. Têm todos pelo menos uma condenação por crimes envolvendo actos de violência contra outras pessoas.
— Oh, não exageres — disse Herman. — Isso não pode ser verdade. — Tinha conseguido captar as atenções de todos eles. Estava a jogar a sua única cartada forte, a de machão conhecedor do Bronx.
— Bom, todos não, mas aposto que pelo menos uns 60 por cento. Vocês haviam de ir um dia à Grand Concourse assistir às sessões do tribunal em que se chega a acordo sobre as penas. Uma das maneiras de justificar o acordo é o juiz perguntar ao réu se ele tem um emprego, porque, se tiver, em princípio isso demonstra que está integrado na comunidade, e assim por diante. Portanto o juiz pergunta àqueles miúdos se têm emprego — miúdos que estão presos por assalto à mão armada, agressão, espancamento, homicídio involuntário, tentativa de homicídio e sei lá que mais — e os que têm emprego respondem sempre: «Tenho. Sou guarda de segurança.» Que diabo, quem é que vocês julgam que aceita esses empregos? Pagam-lhes o salário mínimo por um trabalho chato ou que quando não é chato é desagradável.
— Talvez eles dêem bons guardas — disse Greg. — Se calhar gostam de combinar as duas actividades. Pelo menos, sabem servir-se de uma arma.
Rhoda e Susan riram. Tão, tão espirituoso!
Mary Lou não riu. Continuava a olhar para Kramer.
— Sabem com certeza — disse ele. Não queria perder o controlo da conversa e dos olhos azuis da proprietária de tão magníficos seios. — Toda a gente no Bronx anda armada. Vou-vos contar a história de um caso que terminei há dias. — Ahhhhhhh! Era a sua oportunidade de relatar o triunfo do Povo sobre o fora-da-lei Herbert 92X, e foi com deleite que se embrenhou nos pormenores do caso. Mas logo desde o inicio Greg começou a criar-lhe problemas. Assim que ouviu
o nome de Herbert 92X, interrompeu-o para falar de uma reportagem que fizera nas prisões para o Village Voice.
— Se não fossem os muçulmanos, ninguém conseguia controlar as prisões desta cidade.
Aquilo era tarefa, mas Kramer não queria que a discussão derivasse para os muçulmanos e para a maldita reportagem de Greg. Portanto disse: — Herbert não é um autêntico muçulmano. Quer dizer, os muçulmanos não frequentam bares.
Era-lhe difícil avançar. Greg sabia tudo. Sabia tudo acerca dos muçulmanos, das prisões, do crime, das vidas nas ruas da grande cidade. Começou a virar a história contra Kramer. Porque é que eles estavam tão ansiosos por perseguir um homem que não fizera mais do que ceder ao instinto natural de proteger a sua própria vida?
— Mas ele matou uma pessoa, Greg! E com uma arma ilegal que trazia consigo todos os dias, por rotina.
— Sim, mas vê só o emprego que ele tinha! É óbvio que era uma actividade perigosa. E tu próprio disseste que lá no Bronx toda a gente anda armada.
— O emprego dele? Muito bem, eu digo-te qual era o emprego dele. Trabalhava para um negociante de bebidas falsificadas, caramba!
— O que é que querias, que ele trabalhasse para a IBM?
— Quem te ouvisse julgava que isso era uma coisa impossível. Aposto que a IBM tem um monte de programas para as minorias, mas o Herbert não aceitava um desses empregos mesmo que lho dessem. O Herbert é um jogador. É um vigarista que tenta valer-se da cobertura da religião para poder continuar a ser infantil, egocêntrico, irresponsável, incapaz...
De repente Kramer apercebeu-se de que todos o olhavam de uma maneira estranha, todos eles. Rhoda... Mary Lou... Olhavam-no como a alguém que se revela um reaccionário encapotado. Estava demasiado comprometido com o aparelho judicial... Estava em sintonia com os aspectos mais reaccionários do sistema... Era como uma das discussões que costumava haver no grupo quando ainda andavam na N.Y.U.; só que agora já todos passavam dos trinta e os outros olhavam para ele como se se tivesse transformado numa criatura horrível. E percebeu instantaneamente que não havia maneira de lhes explicar tudo o que vira nos últimos seis anos. Não compreenderiam, e Greg menos que ninguém, esse Greg que assim o obrigava a engolir o seu belo triunfo no caso Herbert 92X.
A situação era tão má que Rhoda se sentiu obrigada a vir em seu auxílio.
— Tu não compreendes, Greg — disse. — Não fazes ideia do número de casos que o Larry tem de tratar. No Bronx há sete mil processos-crime por ano, quando eles só têm capacidade para quinhentos julgamentos. Torna-se impossível examinar todos os aspectos de todos os casos e tomar todas essas coisas em consideração.
— Estou mesmo a ver-te a tentar explicar isso ao tal Herbert 92X.
Kramer olhou para o tecto do Haiphong Harbor. Estava pintado de preto mate, tal como todas as condutas, canos e tubos da instalação eléctrica. Pareciam intestinos.
Até a sua mulher. A melhor maneira que arranjara de vir em sua defesa fora dizer: «O Larry vê-se obrigado a despachar para a prisão tanta gente de cor que não tem tempo para os tratar como indivíduos. Portanto tens de ser indulgente com ele.» Dera o seu melhor no caso Herbert 92X, resolvera-o brilhantemente, fitara bem nos olhos o próprio Herbert, vingara um pai de cinco filhos, Nestor Cabrillo —e o que é que ganhava com isso? Tinha agora de se defender a si próprio contra aqueles intelectuais da moda, numa merda dum restaurante da moda no SoHo da moda.
Observou os seus companheiros de mesa. Até Mary Lou o olhava com um ar desconfiado. A bela e branca cabecinha no ar afinal não era menos bem-pensante que os outros.
Bom, mas havia uma pessoa que compreendia o caso Herbert 92X, que compreendia a que ponto ele fora brilhante, que compreendia a legitimidade da justiça que ele fizera vingar; e comparada com ela, a Mary Lou «Mamas» não valia... não valia nada.
Por um instante o seu olhar tornou a cruzar-se com o de Mary Lou, mas a luz extinguira-se.
Carlos Cunha  Arte & Produção Visual
Arte & Produção Visual
Planeta Criança Literatura Licenciosa