



Biblio VT




Em agosto de 2018, comecei a trabalhar num romance sobre um jovem príncipe árabe em uma cruzada para acabar com a intolerância religiosa de seu país e trazer uma mudança arrebatadora ao Oriente Médico e ao mundo islâmico em geral. Porém, deixei o manuscrito de lado dois meses depois, quando o personagem que me inspiraria, Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, tornou-se suspeito do assassinato brutal de Jamal Khashoggi, dissidente saudita e colunista do Washington Post. Elementos de A herdeira são obviamente inspirados nos acontecimentos ao redor da morte de Khashoggi. O resto ocorre apenas no mundo imaginário habitado por Gabriel Allon e seus associados e inimigos.
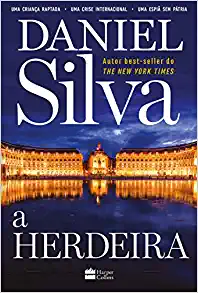
Parte Um
RAPTO
I
GENEBRA
Beatrice Kenton foi a primeira a questionar a identidade da recém-chegada. Fez isso na sala dos professores, às três e quinze da tarde de uma sexta-feira no fim de novembro. O clima era festivo e levemente rebelde, como sempre ocorria no último dia útil da semana. É uma obviedade dizer que ninguém recebe o fim da semana com mais animação do que os professores — mesmo aqueles de instituições de elite como a Escola Internacional de Genebra. A conversa era sobre os planos para sábado e domingo. Beatrice se absteve, pois estava sem programação, algo que não desejava compartilhar com seus colegas. Ela tinha 52 anos, era solteira e sem familiares, exceto por uma tia velha e rica que a recebia todos os verões em sua propriedade em Norfolk. A rotina de fim de semana de Beatrice consistia numa viagem a Migros e uma caminhada pela orla do lago pelo bem de sua cintura, que, como o universo, não parava de se expandir. A primeira aula da segunda-feira era um oásis em meio a um enorme Saara de solidão.
Fundada por uma organização multilateral havia muito falecida, a Escola Internacional de Genebra educava os filhos da comunidade diplomática da cidade. Do quinto ao nono ano, recebia alunos de mais de cem países diferentes, para os quais Beatrice ensinava leitura e redação. O
corpo docente era igualmente diverso. O líder do departamento de recursos humanos se esmerava para promover a amizade entre os funcionários —
coquetéis, jantares em que cada um levava um prato, passeios ao ar livre
—, mas, na sala dos professores, o velho tribalismo tendia a se reafirmar.
Alemães, franceses e espanhóis, por exemplo, conversavam quase que somente com seus conterrâneos. Naquela sexta à tarde, a única cidadã britânica, além da senhorita Kenton, era Cecelia Halifax, do departamento de história. Cecelia tinha um cabelo preto desgrenhado e visões políticas previsíveis, que insistia em compartilhar com Kenton a cada oportunidade.
A falastrona também contava detalhes do caso tórrido que estava tendo com Kurt Schröder, um gênio da matemática de Hamburgo que usava Birkenstocks e largara uma carreira lucrativa na engenharia para ensinar multiplicação e divisão a crianças de 11 anos.
A sala dos professores ficava no térreo do castelo do século XVIII que servia como prédio da administração. Suas janelas de vitrais tinham vista para o átrio, onde, no momento, carros alemães de luxo com placas diplomáticas buscavam os jovens alunos privilegiados. A loquaz Cecelia Halifax estava plantada ao lado de Beatrice, tagarelando sobre um escândalo em Londres, algo envolvendo o MI6 e uma espiã russa. Beatrice mal ouvia. Dedicava sua atenção à recém-chegada.
Como sempre, a menina estava no fim da fila para ir embora. Uma criança franzina de 12 anos, linda, com olhos castanhos e cabelo da cor de uma graúna. Para o horror conservador de Beatrice, a escola não exigia uniforme, só um código de vestimenta, que vários dos alunos liberais ignoravam, sem punições oficiais. Mas não a recém-chegada. Ela estava coberta da cabeça aos pés em lã xadrez cara, o tipo de coisa que se via numa loja da Burberry na Harrods. Carregava uma bolsa de livros de couro em vez de uma mochila de lona. Suas sapatilhas de couro envernizado eram lustrosas e brilhantes. Ela era comportada, modesta. Mas havia algo mais, pensou Beatrice, algo de diferente. Majestosa. Sim, essa era a palavra. Majestosa...
Tinha chegado no outono, duas semanas após o início das aulas — não era ideal, mas também não era incomum numa instituição como aquela, na qual os pais iam e vinham como as águas do rio Reno. David Millar, o diretor, encaixara-a no terceiro tempo de Beatrice, que já tinha dois alunos a mais do que deveria. A cópia da ficha de matrícula da menina era fina, até para os padrões da instituição. Dizia que seu nome era Jihan Tantawi, egípcia, e que seu pai era empresário, não diplomata. Seu histórico escolar era corriqueiro. Era considerada inteligente, mas longe de superdotada.
“Um pássaro pronto para voar”, anotou David na margem, com otimismo.
De fato, o único aspecto notável do arquivo era o parágrafo reservado às
“necessidades especiais” da aluna. Aparentemente, a privacidade era uma preocupação séria para a família Tantawi. Segurança, escreveu David, era a mais alta prioridade.
Isso explicava a presença no átrio naquela tarde — e em todas as outras, aliás — de Lucien Villard, o eficiente líder de segurança da escola.
Lucien era uma importação francesa, veterano do Service de la Protection, unidade da Polícia Nacional responsável por proteger dignitários estrangeiros em visita e oficiais franceses de alta patente. Seu cargo final fora no Palácio do Eliseu, onde servira no destacamento pessoal do
presidente da República. David Millar usava o currículo impressionante como prova do comprometimento da escola com o assunto. Jihan Tantawi não era a única estudante com preocupações dessa ordem.
Ninguém chegava e saía da Escola Internacional de Genebra como a recém-chegada. A limusine Mercedes preta que ela utilizava seria adequada para um chefe de Estado ou um potentado. Beatrice não era especialista no que diz respeito a automóveis, mas lhe parecia que a lataria e as janelas eram à prova de bala. Atrás, havia um segundo veículo, um Range Rover, com quatro brutamontes de jaquetas escuras.
— Quem você acha que ela é? — perguntou Beatrice, enquanto observava os dois veículos entrarem na rua.
Cecelia Halifax ficou confusa.
— A espiã russa?
— A recém-chegada — falou Beatrice, lentamente. Então, adicionou, desconfiada: — Jihan.
— Dizem que o pai dela é dono de metade do Cairo.
— Quem diz?
— A Veronica. — Veronica Alvarez era uma espanhola de pavio curto do departamento de arte e uma das fontes menos confiáveis para fofocas em todo o corpo docente, só perdendo para a própria Cecelia. — Ela disse que a mãe é parente do presidente egípcio. Sobrinha dele. Ou talvez prima.
Beatrice observou Lucien Villard cruzar o átrio.
— Sabe o que eu acho?
— O quê?
— Que alguém está mentindo.
E foi assim que Beatrice Kenton, uma veterana com cicatrizes de batalha decorrentes de várias escolas públicas menores na Inglaterra, que tinha ido a Genebra em busca de romance e aventura sem encontrar nenhum dos dois, começou uma investigação particular para descobrir a verdadeira identidade da recém-chegada. Começou procurando o nome JIHAN TANTAWI na internet. Vários milhares de resultados apareceram na tela, nenhum correspondia à linda menina de 12 anos que entrava na sala de aula no início de cada terceiro período, nunca com um único minuto de atraso.
Depois, a professora buscou em várias redes sociais, mas de novo não encontrou rastro da aluna. Parecia que a recém-chegada era a única menina
da sua idade na face da Terra que não vivia uma realidade paralela no ciberespaço. Beatrice achava isso louvável, pois testemunhara em primeira mão as consequências destrutivas emocionais e de desenvolvimento que mensagens, tuítes e compartilhamento de fotografias incessantes podiam causar. Infelizmente, esse comportamento não era limitado às crianças.
Cecelia Halifax mal conseguia ir ao banheiro sem postar uma foto sua retocada no Instagram.
O pai, um tal de Adnan Tantawi, era igualmente anônimo no reino cibernético. Beatrice achou algumas referências a uma Construtora Tantawi, uma Tantawi Participações e uma Incorporadora Tantawi, mas nada sobre o homem em si. A ficha de matrícula de Jihan listava um endereço chique na Route de Lausanne. Beatrice passou em frente à propriedade numa tarde de sábado. Ficava a algumas casas de distância de onde morava o industrial suíço famoso Martin Landesmann. Como todas as propriedades naquela parte do lago de Genebra, era cercada por muros altos e vigiada por câmeras de segurança. A docente olhou pelas grades do portão e viu de relance um gramado verde bem cuidado que ia até o pórtico de uma villa suntuosa em estilo italiano. Imediatamente, um homem veio pisando forte na direção dela pela entrada de veículos, um dos brutamontes da Range Rover, sem dúvidas. E não fez esforço para esconder que tinha uma arma dentro da jaqueta.
— Propriété privée! — gritou, num francês carregado.
— Excusez-moi — murmurou Beatrice, e se afastou em silêncio.
A fase seguinte de sua investigação começou na manhã de segunda-feira, quando ela embarcou em três dias de observação minuciosa de sua aluna misteriosa. Notou que Jihan, quando chamada em sala de aula, às vezes, demorava a responder. Também viu que a menina não tinha feito amizades, nem chegado a tentar. Beatrice percebeu, enquanto fingia elogiá-la por um ensaio mediano, que Jihan tinha apenas um conhecimento superficial do Egito. Sabia que Cairo era uma cidade grande cortada por um rio, mas pouco além disso. Seu pai, disse ela, era muito rico. Construía arranha-céus residenciais e comerciais. Como era amigo do presidente egípcio, a Irmandade Muçulmana não gostava dele, e era por isso que estavam radicados em Genebra.
— Para mim, faz sentido — disse Cecelia.
— Parece — respondeu Beatrice — algo que alguém inventou. Duvido que ela já tenha pisado no Cairo. Aliás, desconfio até de que seja egípcia.
Depois, Beatrice focou a mãe da garota. Ela a via quase sempre pelas janelas blindadas e escurecidas da limusine ou nas raras ocasiões em que a mulher saía do banco de trás para cumprimentar Jihan no átrio. Sua pele era mais clara que a da jovem, assim como o cabelo — era bonita, pensou, mas não exatamente no nível da menina. Aliás, Beatrice teve dificuldade de encontrar qualquer semelhança. Havia uma frieza escancarada na relação física das duas. Nenhuma vez ela testemunhou um beijo ou um abraço terno. Também detectou um desequilíbrio de poder. Era Jihan, não a mãe, que tinha a vantagem.
Quando novembro virou dezembro e as férias de inverno se aproximaram, Beatrice conspirou para marcar uma reunião com a mãe de sua pupila misteriosa. O pretexto era o desempenho de Jihan numa prova de ortografia e vocabulário em inglês — ela estava no terço inferior da turma, mas bem melhor que o jovem Callahan, filho de um oficial do corpo diplomático norte-americano e, supostamente, falante nativo do idioma. A professora redigiu um e-mail pedindo uma consulta segundo a conveniência da senhora Tantawi e mandou para o endereço que encontrou na ficha de matrícula. Quando vários dias se passaram sem resposta, ela reenviou. Nesse momento, recebeu uma suave reprimenda de David Millar, o diretor. Aparentemente, a senhora Tantawi não desejava ter contato direto com os professores da filha. Ela, então, deveria encaminhar suas preocupações por e-mail ao próprio David, que levaria as questões à senhora Tantawi. Apesar de ela saber que ele, provavelmente, conhecia a identidade de Jihan, tinha certeza que era melhor não tocar no assunto. Era mais fácil arrancar segredos de um banqueiro suíço do que do discreto diretor da Escola Internacional de Genebra.
Portanto, só sobrava Lucien Villard, o líder de segurança francês da escola. Beatrice foi falar com ele numa sexta-feira à tarde, durante seu tempo livre. O escritório dele ficava no porão do castelo, ao lado do cubículo ocupado pelo russo esquisito que cuidava dos computadores da instituição. Lucien era magro e robusto, e parecia ter menos que seus 48
anos. Metade das funcionárias da escola o desejava, inclusive Cecelia Halifax, que tinha, em vão, chegado a dar em cima dele antes de começar a sair com seu gênio da matemática teutônico de sandálias.
— Eu estava aqui pensando — disse Beatrice, apoiando-se com um relaxamento fingido no batente da porta aberta de Lucien — se poderíamos dar uma palavrinha sobre a recém-chegada.
Lucien a olhou friamente do outro lado da mesa.
— Jihan? Por quê?
— Porque estou preocupada com ela.
Lucien colocou uma pilha de papéis em cima de um celular que estava no mata-borrão. Beatrice não podia ter certeza, mas achou que era um modelo diferente do que ele costumava usar.
— Ficar preocupado com Jihan é trabalho meu, senhorita Kenton. Não seu.
— Esse não é o nome verdadeiro dela, né?
— De onde você tirou uma ideia dessas?
— Sou professora dela. Os professores veem coisas.
— Talvez você não tenha lido a anotação no arquivo de Jihan sobre conversas e fofocas. Eu a aconselharia a seguir as instruções. Senão, serei obrigado a levar esta questão ao Monsieur Millar.
— Desculpe, não quis...
Lucien levantou a mão.
— Não se preocupe, senhorita Kenton. É entre nous.
Duas horas depois, enquanto a prole da elite diplomática global atravessava, cambaleante, o átrio do castelo, Beatrice analisava-a do vitral da sala dos professores. Como sempre, Jihan estava entre as últimas a sair.
Não, pensou ela, não Jihan. A recém-chegada... Ela saltitava de leve pelos paralelepípedos, balançando sua bolsa de livros, aparentemente sem notar a presença de Lucien Villard a seu lado. A mulher esperava ao lado da porta aberta da limusine. A menina passou por ela quase sem olhá-la e sentou-se no banco de trás. Era a última vez que Beatrice a veria.
2
NOVA YORK
Sarah Bancroft soube que tinha cometido um erro terrível no instante em que Brady Boswell pediu um segundo martíni. Jantavam na Casa Lever, um restaurante italiano na Park Avenue decorado com uma pequena parte da coleção de reproduções de Warhol do proprietário. Brady Boswell escolhera. Diretor de um museu modesto, ainda que conceituado, em St.
Louis, ele ia a Nova York duas vezes por ano para comparecer aos leilões mais importantes e saborear os deleites gastronômicos da cidade, em geral, às custas dos outros. Sarah era a vítima perfeita. Tinha 43 anos, era loura de olhos azuis, brilhante e solteira. Mais importante, era de conhecimento geral no incestuoso mundo de arte nova-iorquino que ela tinha acesso a um poço sem fundo de dinheiro.
— Tem certeza de que não vai me acompanhar? — perguntou Boswell, levando a taça cheia até os lábios úmidos. Sua pele era da cor de salmão assado, e seus cabelos, grisalhos, penteados para o lado para cobrir meticulosamente a careca. Sua gravata-borboleta estava torta, bem como seus óculos de aro de tartaruga. Por trás deles, piscava um par de olhos lacrimejantes. — Eu realmente detesto beber sozinho.
— É uma da tarde.
— Você não bebe no almoço?
Não mais, mas ela ficou tremendamente tentada a renunciar a seu voto de abstinência diurna.
— Vou para Londres — disparou Boswell.
— É mesmo? Quando?
— Amanhã à noite.
Já vai tarde, pensou Sarah.
— Você estudou lá, não?
— No Courtauld — falou Sarah, levantando a mão num gesto de defesa.
Não queria passar o almoço revisando seu currículo. Era, como o tamanho de sua conta bancária, algo bem conhecido no mundo de arte de Nova York. Pelo menos, em parte.
Formada na Faculdade de Dartmouth, Sarah Bancroft estudara história da arte no famoso Courtauld Institute of Art em Londres antes de concluir
um doutorado em Harvard. Sua educação cara, financiada exclusivamente pelo pai, um banqueiro de investimentos do Citigroup, garantiu-lhe uma posição de curadora no Phillips Collection, em Washington, D.C., que lhe pagava uma mixaria. Ela saiu do Phillips sob circunstâncias ambíguas e, como um Picasso adquirido num leilão por um comprador misterioso, desapareceu de vista. Durante esse período, trabalhou para a CIA e empreendeu algumas missões secretas perigosas em nome de um agente israelense lendário chamado Gabriel Allon. Agora, ela era funcionária do Museum of Modern Art (MoMA), onde supervisionava a principal atração da instituição — uma coleção fascinante de obras modernas e impressionistas, avaliada em cinco bilhões de dólares, do espólio da falecida Nadia al-Bakari, filha de um investidor saudita incrivelmente rico, Zizi al-Bakari.
Isso tudo ajudava a explicar por que Sarah estava almoçando com um tipo como Brady Boswell para começo de conversa. Ela concordara em emprestar várias obras menores da coleção para o Museu de Arte do Condado de Los Angeles. Brady Boswell queria ser o próximo da fila. Não ia acontecer, e ele sabia disso. Seu museu não tinha a prominência e o pedigree necessários. E assim, após fazerem os pedidos do almoço, ele adiou a rejeição inevitável com papo furado. Sarah ficou aliviada. Não gostava de conflitos. Batera sua cota da vida toda. De duas, aliás.
— Ouvi um boato dos bons sobre você outro dia.
— Só um?
Boswell sorriu.
— E qual era o assunto dessa vez?
— Que você está fazendo um bico.
Treinada na arte do fingimento, Sarah escondeu com facilidade seu desconforto.
— Ah, é? Que tipo de bico?
Boswell se inclinou para a frente e baixou a voz para um sussurro de confidência.
— De conselheira secreta do KBM. — KBM eram as iniciais internacionalmente conhecidas do futuro rei da Arábia Saudita. — Fiquei sabendo que foi você que deixou que ele gastasse meio bilhão de dólares naquele Leonardo questionável.
— Não é um Leonardo questionável.
— Então, é verdade!
— Não seja ridículo, Brady.
— Uma negação sem negar — falou ele, com uma suspeita justificada.
Sarah levantou a mão direita como se num juramento solene.
— Não sou nem nunca fui conselheira de arte de Khalid bin Mohammed.
Boswell claramente duvidava. Durante a sobremesa, ele finalmente puxou o assunto do empréstimo. Sarah fingiu objetividade antes de informar a Boswell que sob nenhuma circunstância emprestaria a ele uma única pintura da Coleção al-Bakari.
— E um ou dois Monets? Um dos Cézannes?
— Desculpe, mas está fora de cogitação.
— Um Rothko? Você tem tantos, não vai fazer falta.
— Brady, por favor.
Eles terminaram o almoço amigavelmente e se despediram na calçada da Park Avenue. Sarah decidiu caminhar de volta ao museu. O inverno finalmente havia chegado a Manhattan após um dos outonos mais quentes da história recente. Só Deus sabia como seria o ano seguinte. O planeta parecia estar oscilando entre os extremos. Sarah também. Soldada secreta na guerra global ao terror num dia, cuidadora de uma das maiores coleções de arte do mundo no outro. A vida dela não tinha meio-termo.
Quando virou na 53th, percebeu, subitamente, que estava entediada. Era invejada por todo o mundo da arte, verdade. Mas a Coleção Nadia al-Bakari, apesar de todo o glamour e da agitação da abertura, andava sozinha. Sarah emprestava apenas seu belo rostinho. Nos últimos tempos, estava tendo almoços demais com homens tipo Brady Boswell.
Enquanto isso, sua vida pessoal murchava. Por algum motivo, apesar de uma agenda lotada de eventos beneficentes e recepções, ela não tinha conseguido conhecer um homem com a idade ou as conquistas profissionais adequadas. Ah, sim, ela encontrava muitos homens de 40 e poucos anos, mas eles não tinham interesse num relacionamento sério —
meu Deus, como ela odiava essa expressão — com uma mulher de idade similar à deles. Depois dos 40, queriam uma ninfeta de 23, uma daquelas criaturas lânguidas que desfilavam por Manhattan com suas leggings e seus tapetes de ioga. Sarah temia estar entrando na categoria de segundas esposas. Em seus piores momentos, via-se nos braços de um homem rico de 63 anos que tingia o cabelo e tomava injeções regulares de Botox e testosterona. Os filhos do primeiro casamento dele considerariam Sarah
uma destruidora de lares e a desprezariam. Depois de prolongados tratamentos de fertilidade, ela e seu marido envelhecido conseguiriam ter um filho único, que ela, após a morte trágica do companheiro na quarta tentativa de escalar o Everest, criaria sozinha.
O barulho da multidão no pátio do MoMA melhorou, temporariamente, o ânimo de Sarah. A Coleção Nadia al-Bakari ficava no segundo andar; o escritório de Sarah, no quarto. Seu registro telefônico mostrava doze ligações perdidas. Eram as de sempre — pedidos de imprensa, convites para coquetéis e aberturas de galerias, e um repórter de uma página de escândalos buscando fofocas.
A última mensagem era de alguém chamado Alistair Macmillan.
Aparentemente, o senhor Macmillan queria um tour privado da coleção com o museu fechado. Não tinha deixado informações de contato. Não importava; Sarah era uma das únicas pessoas do mundo que sabia o número particular dele. Ela hesitou antes de discar. Eles não se falavam desde Istambul.
— Achei que você não retornaria minha ligação. — O sotaque era uma combinação de Arábia e Oxford. O tom era calmo, com um traço de exaustão.
— Eu estava almoçando — respondeu Sarah, calmamente.
— Num restaurante italiano na Park Avenue com uma criatura chamada Brady Boswell.
— Como você sabe?
— Dois homens meus estavam a algumas mesas de distância.
Sarah não os notara. Obviamente, suas habilidades de contravigilância tinham se deteriorado desde que saíra da CIA havia oito anos.
— Você pode marcar? — perguntou ele.
— O quê?
— Um tour privado da Coleção al-Bakari, é claro.
— Má ideia, Khalid.
— Foi o que meu pai falou quando contei a ele que queria dar às mulheres do meu país o direito de dirigir.
— O museu fecha às 17h30.
— Nesse caso — disse ele —, pode me esperar às 18 horas.
3
NOVA YORK
Foi o Tranquility, o segundo maior iate do mundo, que fez até os defensores mais ferrenhos de Khalid no Ocidente pararem para pensar. O
futuro rei tinha visto a embarcação pela primeira vez, ou era o que se contava, do terraço da villa de férias de seu pai em Mallorca. Cativado pelas linhas elegantes da embarcação e por suas luzes azuis neon, ele despachou, no mesmo instante, um emissário para sondar uma possível intenção de venda do proprietário. O oligarca bilionário russo Konstantin Dragunov sabia reconhecer uma oportunidade e exigiu quinhentos milhões de euros. O herdeiro do trono concordou, desde que o russo e seu grande grupo saíssem imediatamente do iate. Eles o fizeram usando o helicóptero da embarcação, incluído no preço de venda. O futuro rei, ele mesmo um empresário implacável, mandou uma conta exorbitante ao russo pelo combustível.
KBM esperava, talvez ingenuamente, que a compra do iate ficasse em segredo até que ele pudesse achar as palavras para explicar isso a seu pai.
Mas, 48 horas depois de tomar posse da embarcação, um tabloide de Londres publicou um relato muitíssimo preciso da história, presumivelmente, com a assistência de ninguém menos que o oligarca russo. A mídia oficial da Arábia Saudita fez vista grossa, mas a matéria incendiou as redes sociais e a blogosfera subversiva. Devido a uma queda no preço do óleo, o futuro monarca tinha imposto medidas sérias de austeridade a seus súditos repletos de regalias, reduzindo seu padrão de vida outrora confortável.
Mesmo num país onde a gulodice real era uma característica permanente da vida nacional, a avareza do futuro rei não caiu bem.
Seu nome completo era Khalid bin Mohammed bin Abdulaziz Al Saud.
Criado num palácio enfeitado do tamanho de um quarteirão urbano, ele frequentou uma escola reservada para membros homens da família real e cursou economia em Oxford, na Inglaterra. Flertou com mulheres ocidentais e bebeu muito álcool proibido. Desejava permanecer no Ocidente. Mas quando seu pai assumiu o trono e voltou à Arábia Saudita para tornar-se ministro da Defesa, uma façanha e tanto para um homem
que nunca vestira um uniforme militar nem segurara uma arma que não fosse um falcão.
O jovem príncipe imediatamente lançou uma guerra por procuração devastadora e custosa contra o representante do Irã no vizinho Iêmen, e impôs ao Qatar um bloqueio que mergulhou a região do Golfo numa crise.
Além disso, ele tramou dentro da corte real para enfraquecer seus rivais, tudo com a benção de seu pai, o rei. Envelhecido e sofrendo de diabetes, o governante sabia que seu reinado não seria longo. Era costumeiro na Casa de Saud que irmão sucedesse irmão. Mas o rei quebrou essa tradição designando seu filho como príncipe herdeiro e, portanto, o próximo na linha de sucessão ao trono. Com apenas 33 anos, ele se tornou o governante efetivo da Arábia Saudita, líder de uma família cujo patrimônio líquido era de mais de um trilhão de dólares.
Mas Khalid sabia que a riqueza de seu país era em grande parte um milagre; que sua família tinha desperdiçado uma montanha de dinheiro em palácios e quinquilharias; que, dentro de vinte anos, quando a transição de combustíveis fósseis para fontes renováveis de energia estivesse completa, o óleo embaixo do solo da Arábia Saudita teria tanto valor quanto a areia de cima. Sem nenhuma intervenção, o reino voltaria ao que já foi, uma terra árida de nômades do deserto em guerra.
Para poupar seu país desse futuro calamitoso, ele decidiu arrancá-lo do século VII para o século XXI. Assim, contratou uma consultoria norte-americana, que produziu um manual econômico intitulado grandiosamente O caminho para o futuro. Ele trazia a visão de uma economia saudita moderna impulsionada por inovação, investimento estrangeiro e empreendedorismo. Seus cidadãos paparicados já não poderiam contar com empregos governamentais e benefícios vitalícios. Em vez disso, precisariam de fato trabalhar para sobreviver e estudar algo além do Alcorão.
O príncipe herdeiro entendia que a mão de obra dessa nova Arábia Saudita não podia ser composta apenas de homens. Mulheres também seriam necessárias, o que significava que as algemas religiosas que as prendiam num estado de quase escravidão teriam de ser abertas. Ele lhes concedeu o direito de dirigir, algo havia muito proibido, e lhes permitiu ir a eventos esportivos em que houvesse homens presentes.
Mas ainda não estava satisfeito. Queria reformar a própria religião.
Jurou fechar a torneira de dinheiro que financiava a expansão global do
wahabismo, a versão saudita puritana do Islã sunita, e combater o apoio particular do seu povo a grupos terroristas jihadistas como a al-Qaeda e o Estado Islâmico (EI). Quando um importante colunista do The New York Times escreveu um perfil elogioso do jovem príncipe e suas ambições, o clero saudita, os ulemás, espumou de raiva.
Khalid bin Mohammed prendeu alguns dos religiosos mais radicais e, de forma insensata, também alguns dos moderados, além de apoiadores da democracia e dos direitos das mulheres, e qualquer um tolo o bastante para criticá-lo. Chegou a recolher mais de cem membros da família real e da elite empresarial e trancá-los no hotel Ritz-Carlton. Em salas sem janelas, foram submetidos a duros interrogatórios, às vezes conduzidos pelo próprio príncipe. Todos acabaram sendo liberados, mas só depois de entregar mais de 100 bilhões de dólares. Ele alegou que o dinheiro era fruto de subornos e esquemas de propina. A velha forma de fazer negócios no Reino, declarou ele, chegara ao fim.
Com exceção, é claro, dele próprio. Khalid acumulava sua fortuna pessoal num ritmo delirante e a gastava na mesma velocidade. Comprava o que queria, e o que não conseguia, simplesmente tomava. Aqueles que se recusavam a dobrar-se à sua vontade recebiam um envelope contendo uma única bala calibre .45.
Essa postura fez com que o Ocidente reavaliasse sua relação com a Arábia Saudita. Seria KBM um verdadeiro reformista?, perguntaram-se os criadores de políticas públicas e especialistas em Oriente Médio, ou apenas mais um sheik do deserto que trancafiava seus oponentes e enriquecia às custas de seu povo? Ele realmente pretendia recuperar a economia saudita? Acabar com o apoio do reino ao fanatismo e terrorismo islâmicos? Ou estava apenas tentando impressionar os intelectuais de Georgetown e Aspen?
Por motivos que Sarah não conseguia explicar a amigos e colegas no mundo da arte, ela, inicialmente, colocou-se entre os céticos. E, portanto, ficou reticente quando Khalid, durante uma visita a Nova York, pediu para encontrá-la. Sarah concordou com o convite, mas só depois de uma consulta à divisão de segurança de Langley, que a protegia de longe.
Marcaram numa suíte do Four Seasons, sem guarda-costas nem assistentes. Sarah tinha lido as muitas matérias sobre KBM nos jornais e visto fotos dele usando robe e turbante tradicionais sauditas. Em seu terno inglês bem cortado, porém, ele era uma figura muito mais impressionante
— eloquente, culto, sofisticado, exalando confiança e poder. E, claro, dinheiro. Uma quantidade inimaginável de dinheiro. Pretendia usar uma pequena porção, explicou, para adquirir uma coleção de pinturas de primeira linha. Desejava que Sarah fosse sua conselheira.
— O que você pretende fazer com essas telas?
— Pendurar num museu que vou construir em Riad. Vai ser —
declarou, com orgulho — o Louvre do Oriente Médio.
— E quem vai visitar esse seu Louvre?
— As mesmas pessoas que visitam o de Paris.
— Turistas?
— Sim, claro.
— Na Arábia Saudita?
— Por que não?
— Porque os únicos que vocês permitem são os peregrinos muçulmanos que visitam Meca e Medina.
— Por enquanto — disse ele, incisivamente.
— Por que eu?
— Você não é curadora da Coleção Nadia al-Bakari?
— Nadia era reformista.
— Eu também.
— Sinto muito — falou ela. — Não estou interessada.
Um homem como Khalid bin Mohammed não estava acostumado à rejeição. Perseguiu Sarah de forma implacável, com ligações, flores e presentes luxuosos, todos rejeitados. Quando ela finalmente cedeu, insistiu que seu trabalho seria pro bono. Embora estivesse intrigada pelo homem conhecido como KBM, seu próprio passado não lhe permitiria aceitar um único riyal da Casa de Saud. Além do mais, para o bem dos dois, a relação seria estritamente confidencial.
— De que devo chamá-lo? — perguntou ela.
— Pode ser de Vossa Alteza Real.
— Tente de novo.
— Que tal Khalid?
— Bem melhor.
Eles foram ágeis e agressivos em leilões e vendas privadas — pós-guerra, impressionistas, os velhos mestres. Negociavam pouco. Sarah dava o preço e um dos cortesãos de Khalid cuidava do pagamento e dos arranjos de transporte. Eles conduziram sua maratona de compras da forma mais
discreta possível e com o subterfúgio de espiões. Ainda assim, não demorou para o mundo da arte perceber que havia uma nova figura importante na jogada, em especial depois de Khalid dar um belo meio bilhão pelo Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. Sarah o tinha aconselhado a não fazer isso. Nenhum quadro, argumentou, exceto talvez a Mona Lisa, valia esse dinheiro.
Durante a montagem da coleção, ela passou muitas horas sozinha com Khalid. Ele lhe falou sobre seus planos para a Arábia Saudita, às vezes, usando-a para testar suas ideias. Gradualmente, o ceticismo dela diminuiu.
Khalid, pensou ela, era um instrumento falho. Mas, se fosse capaz de trazer mudança real e duradoura à Arábia Saudita, o Oriente Médio e o mundo islâmico em geral nunca mais seriam o mesmo.
Tudo isso mudou depois de Omar Nawwaf.
Nawwaf era um importante jornalista e dissidente saudita refugiado em Berlim. Crítico da Casa de Saud, ele não era fã de Khalid; considerava-o um charlatão que sussurrava palavras doces no ouvido de ocidentais ingênuos enquanto aumentava sua fortuna e prendia seus críticos. Dois meses antes, Nawwaf fora brutalmente assassinado dentro do consulado saudita em Istambul, e seu corpo, desmembrado para ser eliminado.
Revoltada, Sarah Bancroft esteve entre os que cortaram laços com o outrora promissor jovem príncipe que respondia pelas iniciais KBM.
— Você é igualzinho ao resto — disse ela a Khalid numa mensagem de voz. — E, por sinal, Vossa Alteza Real, espero que apodreça no inferno.
4
NOVA YORK
O primeiro anúncio chegou alguns minutos após as cinco da tarde. Em tom educado, ele avisava aos frequentadores que o museu fecharia em breve, e os convidava a começar a se dirigir para a saída. Às 17h25, todos tinham obedecido, exceto por uma mulher com olhar transtornado que não conseguia se afastar de A Noite Estrelada, de Van Gogh. Um segurança a acompanhou gentilmente até a rua no fim da tarde antes de vasculhar o museu sala a sala para garantir que estivesse livre de algum ladrão de arte esperto que tivesse ficado para trás.
O aviso de “tudo certo” saiu às 17h45. Nesse ponto, a maioria da equipe administrativa já tinha ido embora. Portanto, ninguém testemunhou a chegada, na 53th Street, de uma caravana de três SUVs pretas com placas diplomáticas. Khalid, usando um terno e um sobretudo escuro, emergiu da segunda e caminhou rapidamente pela calçada até a entrada. Sarah, após um momento de hesitação, o deixou entrar. Eles se fitaram na meia-luz do átrio antes de Khalid estender a mão para cumprimentá-la. Sarah não correspondeu o gesto.
— Estou surpresa de terem permitido sua entrada no país. Eu não posso mesmo ser vista com você, Khalid.
Ainda com a mão pairando entre os dois, ele falou, em voz baixa:
— Não sou responsável pela morte de Omar Nawwaf. Você precisa acreditar em mim.
— Certa vez, acreditei, sim. E muitas outras pessoas neste país também. Gente importante. Queríamos crer que você era, de alguma forma, diferente, que ia mudar seu país e o Oriente Médio. E você nos fez de tolos.
Por fim, Khalid recolheu a mão.
— O que está feito não pode ser desfeito, Sarah.
— Então, por que está aqui?
— Achei que tinha deixado claro quando falamos ao telefone.
— E eu achei que tinha deixado claro que era para você nunca mais me ligar.
— Ah, sim, eu lembro.
Do bolso do sobretudo, ele tirou seu telefone e tocou a última mensagem de Sarah.
E, por sinal, Vossa Alteza Real, espero que apodreça no inferno.
— Com certeza — disse ela —, não fui a única que deixou uma mensagem assim.
— Não. — Khalid guardou o telefone de volta no bolso. — Mas a sua doeu mais.
Sarah ficou intrigada.
— Por quê?
— Porque eu confiava em você. E porque achei que entendia como ia ser difícil mudar meu país sem mergulhá-lo no caos político e religioso.
— Isso não significa que você tem direito de assassinar alguém que o criticou.
— Não é tão simples assim.
— Ah, não?
Ele não respondeu. Sarah via que algo o incomodava, algo maior do que a humilhação que ele deve ter sentido com sua queda em desgraça.
— Posso ver? — pediu ele.
— A coleção? É realmente por isso que está aqui?
Ele adotou uma expressão de levemente ofendido.
— Claro que sim.
Ela o conduziu até o andar da Ala al-Bakari. O retrato de Nadia, pintado pouco após a morte dela no deserto de Rub’ al-Khali, na Arábia Saudita, estava pendurado na entrada.
— Ela tinha intenções verdadeiras — disse Sarah. — Não era uma fraude como você.
Khalid a analisou antes de virar-se para o retrato. Nadia estava sentada na ponta de um longo sofá, vestida de branco, com um fio de pérolas ao redor do pescoço e os dedos enfeitados com diamante e ouro. Um relógio brilhava como a luz do luar acima do ombro dela. Havia orquídeas a seus pés descalços. O estilo era uma mescla hábil de contemporâneo e clássico.
A técnica e a composição eram impecáveis.
Khalid deu um passo à frente e estudou o canto inferior direito da tela.
— Não tem assinatura.
— O artista nunca assina seu trabalho.
Khalid apontou para a placa de informação ao lado do quadro.
— E também não há menção a ele.
— Ele quis ficar anônimo para não ofuscar sua modelo.
— É famoso?
— Em alguns círculos.
— Você o conhece?
— Sim, claro.
Os olhos de Khalid voltaram à pintura.
— Ela posou para ele?
— Na verdade, nesse caso bastou a memória.
— Sem nem uma fotografia?
Sarah fez que não.
— Impressionante. Ele devia admirá-la, para pintar algo tão lindo.
Infelizmente, nunca tive o prazer de conhecê-la. Ela tinha uma reputação e tanto quando era jovem.
— Mudou muito depois da morte do pai.
— Zizi al-Bakari não morreu. Ele foi assassinado a sangue frio no Porto Velho de Cannes por um assassino israelense chamado Gabriel Allon. —
Khalid sustentou o olhar de Sarah por um momento antes de entrar na primeira sala, uma das quatro dedicadas ao impressionismo. Aproximou-se de um Renoir, admirando-o com inveja. — Essas pinturas deveriam estar em Riad.
— Nadia as confiou permanentemente ao MoMA e me nomeou como cuidadora. Elas vão ficar exatamente onde estão.
— Talvez você pudesse me deixar comprá-las.
— Não estão à venda.
— Tudo está à venda, Sarah. — Ele sorriu brevemente. Era um esforço, ela conseguia ver. Khalid pausou diante do quadro seguinte, uma paisagem de Monet e, então, observou a sala. — Nada de Van Gogh?
— Não.
— Um pouco estranho, não acha?
— O quê?
— Uma coleção dessas ter um furo tão flagrante?
— Um Van Gogh de qualidade é difícil de encontrar.
— Não é o que minhas fontes me relataram. Aliás, algumas afirmaram que Zizi possuiu por um tempo um Van Gogh pouco conhecido chamado Marguerite Gachet à sua penteadeira. Comprou de uma galeria em Londres. — Khalid estudou Sarah com atenção. — Devo continuar?
Sarah não disse nada.
— A galeria é de propriedade de um homem chamado Julian Isherwood. Na época da venda, uma americana trabalhava lá.
Aparentemente, Zizi ficou muito encantado com ela e a convidou a ir com ele em seu cruzeiro anual de inverno no Caribe. O iate dele era bem menor que o meu. Chamava-se...
— Alexandra — disse Sarah, cortando-o. Então, perguntou: — Há quanto tempo você sabe?
— Que minha conselheira de arte é oficial da CIA?
— Era. Não trabalho mais para a Agência. E não trabalho mais para você.
— E os israelenses? — Ele sorriu. — Você acha mesmo que eu teria permitido que você chegasse perto de mim sem primeiro investigar seu histórico?
— E mesmo assim foi atrás de mim.
— Fui, de fato.
— Por quê?
— Porque eu sabia que, um dia, você poderia me ajudar com mais do que só minha coleção de arte. — Khalid passou por Sarah sem mais nenhuma palavra e parou diante do retrato de Nadia. — Sabe como entrar em contato com ele?
— Com quem?
— O homem que produziu essa pintura sem uma fotografia para guiar sua mão. — Khalid apontou para o canto inferior direito da tela. — O
homem cujo nome deveria estar bem aqui.
— Você é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Por que precisa que eu entre em contato com o chefe do serviço secreto de inteligência israelense?
— Minha filha — respondeu ele. — Alguém levou minha filha.
5
ASHTARA, AZERBAIJÃO
A ligação de Sarah Bancroft a Gabriel Allon naquela noite não foi atendida, pois, como muitas vezes acontecia, ele estava em campo. Devido à natureza sensível de sua missão, só o primeiro-ministro e um punhado de seus oficiais sêniores mais confiáveis sabiam onde ele estava — em uma villa mediana com paredes cor de ocre, bem à beira do mar Cáspio. Atrás da propriedade, terrenos agrícolas retangulares se estendiam na direção dos pés da cordilheira do Cáucaso a oeste. No topo de um dos morros, havia uma pequena mesquita. Cinco vezes por dia, o alto-falante crepitante convocava os fiéis a rezar. Independentemente de sua longa rixa com as forças do Islã radical, Gabriel achava o som da voz do muezim reconfortante. Naquele momento, ele não tinha amigo melhor no mundo do que os cidadãos muçulmanos do Azerbaijão.
A villa estava no nome de um grupo imobiliário baseado em Baku. Seu verdadeiro dono, porém, era o departamento de Governança do serviço de inteligência israelense, que buscava e administrava propriedades seguras.
O arranjo tinha sido abençoado em segredo pelo chefe do serviço de segurança azerbaijano, com quem Gabriel cultivava uma relação incomumente próxima. O vizinho do Azerbaijão ao sul era a República Islâmica do Irã. Inclusive, a fronteira ficava a apenas cinco quilômetros da villa, o que explicava por que Gabriel não tinha posto o pé para fora dos muros desde sua chegada. Se o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana soubesse de sua presença, sem dúvida teria montado uma tentativa de assassiná-lo ou sequestrá-lo. O chefe do serviço secreto de inteligência israelense não se ressentia do ódio que tinham dele. Eram as regras do jogo numa vizinhança barra-pesada. Além do mais, se tivesse a chance de matar o chefe da Guarda Revolucionária, ele teria puxado o gatilho alegremente.
A villa à beira-mar não era o único ativo logístico à disposição de Gabriel no Azerbaijão. O Escritório, como era conhecido o serviço por quem trabalhava lá, também mantinha uma pequena frota de barcos de pesca, navios de carga e lanchas rápidas, tudo devidamente registrado no país. As embarcações iam e viam regularmente entre portos azerbaijanos e
a costa iraniana, onde inseriam agentes e equipes operacionais do Escritório e pegavam valiosos ativos iranianos dispostos a fazer a vontade de Israel.
Um ano antes, um desses ativos, um homem que trabalhava no interior do programa secreto de armas nucleares do Irã, tinha sido levado de barco à villa em Ashtara. Ele contara a Gabriel sobre um armazém num distrito comercial sem graça de Teerã. O armazém continha 32 cofres de fabricação própria. Dentro, centenas de disquetes e milhões de páginas de documentos. A fonte alegava que o material era prova conclusiva do que o Irã negava fazia tempo: que tinha trabalhado de forma metódica e incansável para construir um aparato de implosão nuclear e conectá-lo em um sistema de entrega capaz de alcançar Israel e além.
Durante quase um ano, o Escritório estivera observando o armazém com vigilância presencial e câmeras em miniatura. Tinha ficado sabendo que o primeiro turno de seguranças chegava toda manhã às sete. Também descobrira que, a partir de 22 horas, o armazém só era protegido pelas trancas nas portas e pelo muro ao redor. Gabriel Allon e Yaakov Rossman, chefe de operações especiais, concordavam que a equipe permaneceria lá dentro até não mais do que cinco da manhã. A fonte tinha dito quais cofres abrir e quais ignorar. Devido ao método de entrada — maçaricos que queimavam a mais de 1.900 graus Celsius —, não havia como disfarçar a operação. Portanto, o chefe tinha ordenado que a equipe não copiasse o material relevante, mas o roubasse. Originais eram mais difíceis de ser explicados. Além disso, a audácia de se apossar dos arquivos nucleares do Irã e os contrabandear para fora do país humilharia o regime frente à massa. Não tinha nada que Gabriel amasse mais do que envergonhar os iranianos.
Roubar os documentos originais aumentava exponencialmente o risco da operação. Cópias criptografadas podiam ser tiradas do país em alguns pen-drives de alta capacidade, mas os originais seriam bem mais difíceis de mover e esconder. Um ativo iraniano do Escritório tinha comprado um caminhão de carga. Se os guardas do armazém seguissem seus horários normais, a equipe teria uma vantagem de duas horas. Pela cordilheira Elbruz, sua rota os levaria da periferia de Teerã até a orla do Cáspio. O
ponto de extração seria uma praia próxima à cidade de Babolsar. O
alternativo ficava alguns quilômetros a oeste, em Khazar Abad. Todos os 16 membros da equipe planejavam ir embora juntos. A maioria era
composta de judeus iranianos que falavam farsi e podiam facilmente se passar por nativos persas. O líder, porém, era Mikhail Abramov, um oficial de origem russa que tinha cumprido inúmeras missões perigosas para o Escritório, incluindo o assassinato de um importante cientista iraniano no centro de Teerã. Mikhail, de toda a operação, era quem mais dava nas vistas. Na experiência do chefe, toda operação precisava de pelo menos uma pessoa assim.
Em outras épocas, Gabriel Allon teria feito parte daquela equipe.
Nascido no vale de Jezreel, o terreno fértil que tinha produzido muitos dos melhores guerreiros e espiões israelenses, ele estava estudando pintura na Academia de Arte e Design Bezabel, em Jerusalém, em 1972, quando um homem chamado Ari Shamron foi vê-lo. Alguns dias antes, um grupo terrorista chamado Setembro Negro, uma fachada para a Organização para a Liberação da Palestina, tinha assassinado onze atletas e técnicos israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique. A primeira-ministra Golda Meir ordenara que Shamron e o Escritório “mandassem os garotos” para caçar e assassinar os responsáveis. Shamron queria que Gabriel, fluente em alemão com sotaque de Berlim e capaz de posar convincentemente como artista, fosse seu instrumento de vingança. O pupilo, com a ousadia da juventude, tinha dito para Shamron achar outra pessoa. E, não pela última vez, ele fizera Gabriel dobrar-se à sua vontade.
A operação tinha o codinome Ira de Deus. Por três anos, Gabriel e uma pequena equipe de operadores tinham seguido suas presas pela Europa Ocidental e o Oriente Médio, matando-as à noite e em plena luz do dia, vivendo com medo de que a qualquer momento pudessem ser presos por autoridades locais e julgados como assassinos. No todo, doze membros do Setembro Negro morreram em suas mãos. O próprio Gabriel matou seis dos terroristas com uma Beretta calibre .22. Sempre que possível, ele atirava em suas vítimas onze vezes, uma bala para cada judeu morto. Ao voltar para Israel, suas têmporas estavam grisalhas de estresse e exaustão.
Shamron as chamava de manchas de cinzas no príncipe de fogo.
A intenção de Gabriel era retomar sua carreira de artista, mas, sempre que se colocava diante de uma tela, só via os rostos dos homens que tinha matado. Assim, viajou a Veneza como um expatriado italiano chamado Mario Delvecchio para estudar a arte da restauração. Depois de terminar o curso, voltou ao Escritório e aos braços de Ari Shamron. Com o disfarce de um restaurador talentoso baseado na Europa, embora taciturno, ele
eliminou alguns dos inimigos mais perigosos de Israel e executou algumas das operações mais célebres do Escritório. A desta noite entraria para a lista das melhores. Mas apenas se tivesse sucesso. E se fracassasse?
Dezesseis agentes altamente treinados do Escritório seriam presos, torturados e, muito provavelmente, executados publicamente. Gabriel seria forçado a renunciar, um fim ingrato para uma carreira que era base de comparação para todas as outras. Era até possível que ele derrubasse o primeiro-ministro junto.
Por enquanto, o chefe não podia fazer nada a não ser esperar e sofrer de preocupação. A equipe tinha entrado no país na noite anterior e ido até uma rede de casas seguras em Teerã. Às 22h15 do horário local, Gabriel recebeu uma mensagem da Mesa de Operações no Boulevard Rei Saul, via link seguro, informando-o de que o último turno de guardas tinha saído do armazém. Ele ordenou que a equipe entrasse e, às 22h31, eles estavam dentro. Tinham seis horas e 29 minutos para abrir com fogo os cofres e capturar os arquivos nucleares. Era um minuto menos do que Gabriel esperava, um pequeno revés. Na experiência dele, cada segundo contava.
Allon era abençoado com uma paciência natural, uma característica que lhe servia tanto como restaurador quanto como agente de inteligência.
Mas, naquela noite às margens do mar Cáspio, qualquer autocontrole o abandonou. Ele andou para cima e para baixo dos cômodos com poucos móveis da villa, murmurou para si mesmo, gritou coisas sem sentido para seus dois guarda-costas resignados. Pensou sobre todos os motivos pelos quais 16 de seus melhores oficiais nunca sairiam vivos do Irã. Só tinha certeza de uma coisa: se confrontada por forças iranianas, a equipe não se renderia tranquilamente. Gabriel tinha dado a Mikhail, ex-soldado do Sayeret Matkal, ampla liberdade para lutar até sair do país, se necessário.
Caso os iranianos interviessem, boa parte deles morreria.
Por volta das 4h45, horário de Teerã, uma mensagem piscou no link seguro. A equipe saíra do armazém com os arquivos e disquetes e estava em rota de fuga. A mensagem seguinte chegou às 5h39, enquanto eles se dirigiam à cordilheira Elbruz. Dizia que um dos seguranças tinha chegado cedo ao armazém. Trinta minutos depois, Gabriel soube que a Força de Aplicação da Lei da República Islâmica do Islã (NAJA), a força policial uniformizada do Irã, emitira um alerta nacional e estava bloqueando estradas em todo o país.
Ele saiu de fininho da villa e, à meia-luz do amanhecer, caminhou até a beira do lago. Nos morros baixos às suas costas, o muezim convocava os fiéis. Orar é melhor do que dormir... Naquele momento, Gabriel não podia concordar mais.
6
TEL AVIV
Quando viu que seu telefonema e mensagens não surtiriam nenhum efeito, Sarah Bancroft concluiu que sua única escolha seria pegar um voo de Nova York para Israel. Khalid providenciou tudo para que ela fizesse uma viagem discreta e, de certa forma, até luxuosa. O único inconveniente foi uma breve parada na Irlanda para abastecer. Proibida de usar qualquer uma de suas antigas identidades da CIA, passou pelo controle de imigração do Aeroporto Internacional de Bem Gurion com seu nome verdadeiro — que era bem conhecido dos serviços de inteligência e segurança do Estado de Israel — e seguiu com um chofer para o Tel Aviv Hilton. Khalid reservara a maior suíte do hotel.
Uma vez instalada, Sarah enviou outra mensagem para o celular pessoal de Gabriel, dessa vez informando que teve que se hospedar no Tel Aviv por conta própria para resolver assuntos urgentes.
A mensagem, como todas as outras, não foi respondida. Gabriel não costumava ignorá-la. Talvez tivesse mudado de número ou sido forçado a entregar seu celular pessoal. Também era possível que só estivesse ocupado demais. Afinal, era o chefe do serviço de inteligência de Israel, ou seja, uma das figuras mais poderosas e influentes do país.
Sarah, porém, sempre pensaria em Gabriel Allon como o homem frio e inacessível que encontrara pela primeira vez numa graciosa casa de tijolos vermelhos na N Street, em Georgetown. Ele tinha fuçado todas as portas trancadas do passado dela antes de perguntar se estava disposta a trabalhar para o Grupo Empresarial Jihad, que era como ele se referia a Zizi al-Bakari, investidor e facilitador do terror islâmico. Sarah teve a sorte de sobreviver à operação que se seguiu, e passou vários meses se recuperando numa casa segura da CIA no meio do nada na Virgínia do Norte. Apesar do trauma, quando Gabriel precisou de uma última peça numa operação contra um oligarca russo chamado Ivan Kharkov, Sarah agarrou a chance de trabalhar com ele de novo.
Em algum momento que ela não sabia ao certo, apaixonou-se por Gabriel. E, quando descobriu que ele não estava disponível, começou um caso imprudente com um agente de campo do Escritório chamado Mikhail
Abramov. O relacionamento estava condenado desde o início; os dois tecnicamente eram proibidos de namorar oficiais de outros serviços. Até Sarah, ao analisar a situação friamente, admitia que o caso era uma tentativa transparente de punir Gabriel por rejeitá-la. Previsivelmente, acabou mal. Sarah só vira Mikhail mais uma vez desde então, numa festa em comemoração pela promoção de Gabriel a diretor-geral. Ele estava com uma linda médica judia francesa nos braços. Ela o cumprimentou com um aperto de mão em vez de um beijo.
Após mais uma hora sem resposta de Gabriel, Sarah desceu para caminhar pelo calçadão. O clima estava bom e suave, e algumas nuvens brancas gordas passavam como dirigíveis pelo límpido céu azul. Ela se dirigiu ao norte, passando por cafés badalados em frente à praia, por pessoas bronzeadas com roupa de laicra. Com seu cabelo louro e traços anglo-saxões, ela parecia levemente deslocada. O clima era secular na orla do Mediterrâneo, como no sul da Califórnia, em Santa Monica. Era difícil imaginar que o caos e a guerra civil da Síria estavam logo do outro lado da fronteira. Ou que a apenas quinze quilômetros a leste, em cima de uma espinha ossuda de morros, ficavam algumas das mais inquietas vilas palestinas da Cisjordânia. Ou que a Faixa de Gaza, um trecho de miséria e ressentimento, ficava a menos de uma hora de carro para o sul. Na moderna Tel Aviv, pensou Sarah, os israelenses podiam ser perdoados por acreditar que o sonho do sionismo tinha sido conquistado sem custo.
Ela se afastou da praia e se perdeu pelas ruas, aparentemente sem propósito nem destino. Na verdade, utilizava uma manobra de detecção de vigilância ensinada tanto pela Agência quanto pelo Escritório. Na rua Dizengoff, ao sair de uma farmácia com um frasco de xampu de que não precisava, concluiu que estava sendo seguida. Não havia nada específico, nenhuma aparição confirmada, só uma sensação chata de estar sendo observada.
Ela caminhou pelas sombras frescas dos cinamomos. As calçadas estavam lotadas de gente que fazia compras no meio da manhã. Rua Dizengoff... O nome era familiar. Algo terrível tinha acontecido aqui, Sarah sabia. Então, lembrou. A rua Dizengoff tinha sido alvo, em outubro de 1994, de um atentado suicida do Hamas que matara 22 pessoas.
Uma pessoa se ferira na ocasião, uma analista de terrorismo do Escritório chamada Dina Sarid. Ela tinha, certa vez, descrito o atentado a Sarah. A bomba continha mais de 18 quilos de TNT de uso militar e
pregos embebidos em veneno de rato. Explodiu às nove da manhã, a bordo do ônibus Número 5. A força da explosão jogou membros humanos decepados para dentro dos cafés próximos. Por muito tempo, pingou sangue das folhas dos cinamomos.
Choveu sangue naquela manhã na rua Dizengoff, Sarah...
Mas onde, exatamente, tinha acontecido? O ônibus acabara de pegar vários passageiros na praça Dizengoff e seguia para o norte. Sarah checou sua posição atual no iPhone. Então, atravessou a rua e continuou para o sul até encontrar um pequeno memorial cinza na base de um cinamomo. A árvore era muito mais baixa que as outras da rua, e mais jovem.
Ela se aproximou do memorial e observou os nomes das vítimas.
Estavam escritos em hebraico.
— Você consegue ler?
Assustada, Sarah se virou e viu um homem parado na calçada sob um foco de luz matizada. Ele era alto e longilíneo, com cabelo claro e pele pálida. Óculos escuros escondiam seus olhos.
— Não — respondeu Sarah, enfim. — Não consigo.
— Você não fala hebraico? — O inglês do homem continha um traço inequívoco de sotaque russo.
— Estudei brevemente, mas parei.
— Por quê?
— É uma longa história.
O homem agachou diante do memorial.
— Aqui estão os nomes que você está buscando. Sarid, Sarid, Sarid. —
Ele olhou para cima, para Sarah. — A mãe e as duas irmãs de Dina.
Ficou de pé e levantou os óculos escuros, revelando os olhos. Eram azul-acinzentados e translúcidos — como gelo glacial, pensou Sarah. Ela sempre amara os olhos de Mikhail.
— Há quanto tempo está me seguindo?
— Desde que saiu do seu hotel.
— Por quê?
— Para ver se havia mais alguém atrás de você.
— Contravigilância.
— Temos uma palavra diferente para isso.
— Sim — disse Sarah. — Eu lembro.
Naquele momento, uma SUV preta encostou no meio-fio. Um jovem de colete cáqui saiu do banco do carona e abriu a porta traseira.
— Entre — disse Mikhail.
— Aonde vamos?
Ele não respondeu. Sarah sentou-se no banco de trás e observou um ônibus Número 5 passar ao lado de sua janela escura. Não importava para onde estavam indo, pensou. Seria uma viagem bem longa.
7
TEL AVIV–NETANYA
– Gabriel não podia ter achado outra pessoa para me trazer?
— Eu me ofereci.
— Por quê?
— Queria evitar outra cena desconfortável.
Sarah olhou pela janela. Estavam dirigindo pelo coração da versão israelense do Vale do Silício: prédios de escritórios novos e brilhantes dispostos dos dois lados da rodovia impecável. No espaço de alguns anos, Israel tinha trocado seu passado socialista por uma economia dinâmica comandada pelo setor de tecnologia. Boa parte dessa inovação ia direto aos serviços militares e de segurança, dando ao país uma vantagem decisiva sobre seus adversários do Oriente Médio. Até os ex-colegas de Sarah no Centro de Contraterrorismo da CIA ficavam maravilhados com as proezas high-tech do Escritório e da Unidade de Inteligência 8200, o serviço de espionagem eletrônica e ciberguerra.
— Então, aquele boato desagradável é verdade, afinal.
— Que boato desagradável seria esse?
— Sobre você e a francesa linda se casando. Perdoe, mas esqueci o nome dela.
— Natalie.
— Legal — falou Sarah.
— Ela é.
— Ainda está praticando medicina?
— Não exatamente.
— O que ela faz agora?
Com seu silêncio, Mikhail confirmou a suspeita de Sarah de que a linda médica francesa era funcionária do Escritório. Embora o ciúme anuviando um pouco sua memória, Sarah se lembrava de Natalie como uma mulher morena e exótica que podia facilmente se passar por árabe.
— Imagino que haja menos complicações assim. É bem mais fácil quando marido e mulher estão empregados no mesmo serviço.
— Não foi só por isso que nós...
— Não vamos entrar nessa, Mikhail. Não penso nisso há muito tempo.
— Quanto tempo?
— Pelo menos, uma semana.
Eles passaram por baixo da Rodovia 5, a estrada segura que ligava a planície Costeira a Ariel, quarteirão colonizado por judeus no interior da Cisjordânia. O entroncamento era conhecido como Glilot Interchange.
Depois dele, havia um shopping com um cinema multiplex, além de outro novo complexo de escritórios, parcialmente encoberto por árvores grossas.
Sarah supôs que fosse a sede de mais um titã de tecnologia israelense.
Ela olhou para a mão esquerda de Mikhail.
— Você já perdeu?
— O quê?
— Sua aliança.
Mikhail pareceu surpreso pela ausência.
— Tirei antes de ir para o campo. Voltamos ontem à noite.
— Onde vocês estavam?
Mikhail olhou para ela sem expressão nenhuma.
— Ah, vá, querido. Temos um passado, você e eu.
— O passado é o passado, Sarah. Agora, você é uma forasteira. Além do mais, vai ficar sabendo em breve.
— Pelo menos, me diga onde foi.
— Você não acreditaria em mim.
— Onde quer que seja, deve ter sido horrível. Você está com uma cara péssima.
— O fim foi confuso.
— Alguém se machucou?
— Só os caras do mal.
— Quantos?
— Muitos.
— Mas a operação foi um sucesso?
— Para entrar na história — disse Mikhail.
Os quarteirões comerciais de tecnologia tinham aberto caminho para o subúrbio de Herzliya, ao norte de Tel Aviv. Ele estava lendo algo no celular. Parecia entediado, sua expressão padrão.
— Mande meus cumprimentos a ela — falou Sarah, maliciosamente.
Mikhail guardou o telefone no bolso da jaqueta.
— Diga uma coisa. Você realmente se ofereceu para me abordar?
— Queria dar uma palavra com você em particular.
— Por quê?
— Para me desculpar por como as coisas acabaram entre nós.
— Como assim?
— Por como eu a tratei no fim. Eu me comportei mal. Se você puder, no seu coração...
— Foi Gabriel que mandou você terminar?
Mikhail pareceu genuinamente surpreso.
— De onde você tirou uma ideia dessas?
— Sempre tive essa dúvida, só isso.
— Gabriel me disse para ir aos Estados Unidos e passar o resto da vida com você.
— Por que não aceitou o conselho dele?
— Porque minha casa é aqui. — Mikhail olhou para a colcha de retalhos de terras agrícolas pela janela. — Israel e o Escritório. Não tinha como eu ir morar nos Estados Unidos, mesmo que você estivesse lá.
— Eu podia ter vindo para cá.
— Não é uma vida tão fácil.
— Melhor que a alternativa. — Ela imediatamente se arrependeu de suas palavras. — Mas o passado é o passado. Não foi o que você disse?
Ele assentiu lentamente.
— Você se questionou alguma vez?
— Sobre deixá-la?
— Sim, idiota.
— Claro.
— E está feliz agora?
— Muito.
Foi surpreendente o quanto a resposta dele a magoou.
— Talvez devêssemos mudar de assunto — sugeriu Mikhail.
— Sim, vamos. De que podemos falar?
— Do que a trouxe até aqui.
— Desculpe, mas só posso discutir isso com Gabriel. Além do mais —
falou Sarah, brincando —, tenho a sensação de que vai ficar sabendo em breve.
Eles tinham chegado à fronteira sul de Netanya. Os prédios residenciais altos à beira-mar lembraram Sarah de Cannes. Mikhail trocou algumas palavras em hebraico com o motorista. Um momento depois, pararam ao lado de uma larga esplanada. Ele apontou para um hotel dilapidado.
— Foi ali que aconteceu o Massacre da Páscoa, em 2002. Trinta mortos, 140 feridos.
— Existe algum lugar neste país que não tenha sido bombardeado?
— Eu disse, a vida aqui não é tão fácil. — Mikhail acenou com a cabeça na direção da esplanada. — Dê uma volta. A gente faz o resto.
Sarah saiu do carro e começou a atravessar a praça.
O passado é o passado... Por um momento, ela quase acreditou que era verdade.
8
NETANYA
No centro da esplanada, havia uma piscina refletora azul, em torno da qual vários garotos ortodoxos, peiots voando, corriam num pega-pega barulhento. Estavam conversando não em hebraico, mas em francês. Era o mesmo idioma falado por suas mães de peruca e os dois hipsters de camiseta preta que olhavam Sarah com aprovação de uma mesa numa brasserie chamada Chez Claude. De fato, se não fosse pelos prédios gastos de cor creme e o sol ofuscante do Oriente Médio, Sarah podia se imaginar cruzando uma praça no 20° arrondissement de Paris.
De repente, ela percebeu que alguém a chamava pelo nome, com ênfase na segunda sílaba, não na primeira. Virando-se, deparou-se com uma mulher pequena e de cabelos escuros acenando do outro lado da praça. A mulher se aproximou mancando de leve.
Sarid, Sarid, Sarid...
Dina beijou Sarah nas duas bochechas.
— Bem-vinda à Riviera Israelense.
— Todo mundo aqui é francês?
— Nem todo mundo, mas chegam mais a cada dia. — Dina apontou para um dos extremos da praça. — Tem um lugar chamado La Brioche ali.
Recomendo o pain au chocolat. É o melhor de Israel. Peça para duas pessoas.
Sarah caminhou até o café. Jogou conversa fora em francês fluente com a balconista antes de pedir uma variedade de doces e dois cafés, um crème e um expresso.
— Sente-se onde quiser. Alguém vai levar seu pedido.
Sarah saiu. Havia várias mesas em um canto da praça. Numa delas, estava Mikhail. Ele fez contato visual com Sarah e indicou o homem de meia-idade sentado sozinho. Ele vestia um terno cinza-escuro e uma camisa social branca. Seu rosto era longo e estreito no queixo, com maçãs do rosto amplas e um nariz esguio que parecia talhado de madeira. Seu cabelo escuro era curto, grisalho apenas nas têmporas. Seus olhos tinham um tom de verde não natural.
Ele se levantou e esticou a mão, formalmente, como se estivesse conhecendo Sarah naquele momento. Ela segurou a mão dele por um pouco mais de tempo do que deveria.
— Que surpresa vê-lo num lugar assim.
— Saio em público o tempo todo. Além do mais — completou, com um olhar na direção de Mikhail —, tenho ele.
— O homem que partiu meu coração. — Ela se sentou. — Só ele?
Gabriel balançou a cabeça.
— Quantos?
Seu olhar vasculhou a praça.
— Oito, se não me engano.
— Um pequeno batalhão. Quem você conseguiu ofender desta vez?
— Imagino que os iranianos estejam um pouco irritados comigo. Meu velho amigo no Kremlin também.
— Li algo nos jornais sobre você e os russos há alguns meses.
— Leu?
— Seu nome apareceu durante aquele escândalo da espiã em Washington. Disseram que você estava a bordo do avião particular que levou Rebecca Manning do Aeroporto de Dulles a Londres.
Rebecca Manning era a ex-chefe de estação do MI6 em Washington.
Passara a bater cartão toda manhã no Centro de Moscou, sede do SVR, Serviço de Inteligência Exterior russo.
— Também foi sugerido — continuou Sarah — que foi você quem matou aqueles três agentes russos que encontraram no canal C&O, em Maryland.
Um garçom apareceu com o pedido deles. Colocou o expresso em frente a Gabriel com cuidado excessivo.
— Como é ser o homem mais famoso de Israel? — perguntou ela.
— Tem suas desvantagens.
— Com certeza, não é de todo mal. Quem sabe? Se você apostar as fichas certas, pode até virar primeiro-ministro, um dia. — Ela deu um puxão na manga do paletó dele. — Devo dizer, você está com o visual certo. Mas acho que gosto mais do Gabriel Allon antigo.
— Que Gabriel Allon era esse?
— O que usava jeans e jaqueta de couro.
— Todos precisamos mudar.
— Eu sei. Mas, às vezes, queria poder voltar no tempo.
— Para onde iria?
Ela pensou por um momento.
— Para a noite em que jantamos naquele restaurantezinho em Copenhague. Escolhemos uma mesa do lado de fora num frio congelante.
Eu contei um segredo antigo e pesado que deveria ter guardado para mim mesma.
— Não me lembro.
Sarah tirou um pain au chocolat da cesta.
— Não vai comer?
Gabriel levantou a mão, negando.
— Talvez você não tenha mudado, afinal. Em todos os anos que o conheço, acho que nunca o vi dar uma mordida em nada durante o dia.
— Eu compenso depois que o sol se põe.
— Não ganhou um quilo desde a última vez em que o vi. Quem me dera.
— Você está ótima, Sarah.
— Para uma mulher de 43 anos? — Ela despejou um pacotinho de adoçante no café. — Estava começando a achar que você tinha mudado de número de telefone.
— Eu estava fora de área quando você ligou.
— Eu liguei várias vezes. Também mandei mais ou menos uma dezena de mensagens de texto.
— Tive que tomar certas precauções antes de responder.
— Comigo? Por que isso?
Gabriel deu um sorriso cuidadoso.
— Por causa do seu relacionamento com certo membro proeminente da família real saudita.
— Khalid?
— Não sabia que vocês tinham intimidade para se chamar pelo primeiro nome.
— Eu insisti. — Gabriel ficou em silêncio. — Você obviamente não aprova.
— Só algumas de suas aquisições recentes. Uma em especial.
— O Leonardo?
— Se você diz...
— Tem dúvidas sobre a autoria?
— Eu poderia pintar um Leonardo melhor do que aquele. — Ele a olhou com seriedade. — Você devia ter me procurado quando recebeu a proposta de trabalhar para ele.
— E o que você teria me dito?
— Que o interesse dele em você não era um acaso. Que ele estava bastante ciente de suas ligações com a CIA. — Gabriel hesitou. — E
comigo.
— Você teria razão.
— Costumo ter.
Sarah beliscou seu doce.
— O que acha dele?
— Como você pode imaginar, o Escritório tem especial interesse no príncipe herdeiro Khalid bin Mohammed.
— Não estou querendo saber do Escritório, estou querendo saber de você.
— A CIA e o Escritório ficaram bem menos impressionados com Khalid do que a Casa Branca e meu primeiro-ministro. Nossas preocupações se confirmaram quando Omar Nawwaf morreu.
— Khalid ordenou o assassinato dele?
— Homens na posição de Khalid não precisam dar uma ordem direta.
— “Não haverá ninguém capaz de me livrar deste padre turbulento?”
Gabriel assentiu, reflexivo.
— Um exemplo perfeito de um tirano deixando seus desejos abundantemente claros. Henrique disse as palavras e, algumas semanas depois, Becket estava morto.
— Khalid devia ser removido da linha sucessória?
— Se for, é provável que seja substituído por alguém pior. Alguém que acabará com as reformas sociais e religiosas modestas que ele implementou.
— E se você ficasse sabendo de uma ameaça a Khalid? O que faria?
— Ouvimos coisas o tempo todo. Boa parte, da boca do próprio príncipe herdeiro.
— O que isso quer dizer?
— Quer dizer que seu cliente é alvo de coletas agressivas do Escritório e da Unidade 8200. Não faz muito tempo, conseguimos entrar no telefone supostamente seguro que ele carrega. Estamos ouvindo as ligações e lendo as mensagens e os e-mails dele desde então. A Unidade também conseguiu
ativar a câmera e o microfone do telefone, então, pudemos escutar também várias das conversas que ele teve pessoalmente. — Gabriel sorriu. — Não fique tão surpresa, Sarah. Como ex-agente da CIA, você deveria ter percebido que, ao trabalhar para um homem como Khalid bin Mohammed, não pode esperar uma zona de privacidade.
— Quanto vocês sabem?
— Sabemos que, há seis dias, o príncipe herdeiro fez uma série de ligações urgentes à Polícia Nacional Francesa sobre um incidente ocorrido na Alta Saboia, não longe da fronteira suíça. Sabemos que, naquela mesma noite, o príncipe herdeiro foi levado sob escolta policial a Paris, onde se encontrou com vários oficiais sêniores franceses, incluindo o ministro do Interior e o presidente. Permaneceu em Paris por 72 horas antes de viajar a Nova York. Lá, teve um único encontro.
Gabriel tirou um BlackBerry do bolso interno de seu paletó e deu dois toques na tela. Alguns segundos depois, Sarah ouviu o som de duas pessoas conversando. Uma era o futuro rei da Arábia Saudita. A outra era a diretora da Coleção Nadia al-Bakari no Museu de Arte Moderna de Nova York.
— Sabe como entrar em contato com ele?
— Com quem?
— O homem que produziu essa pintura sem uma fotografia para guiar sua mão. O homem cujo nome deveria estar bem aqui.
Gabriel clicou para pausar.
— Tomei café com meu primeiro-ministro hoje de manhã e disse a ele, sem deixar dúvidas, que não quero ter nada a ver com isso.
— E o que seu primeiro-ministro respondeu?
— Me pediu para reconsiderar. — Gabriel guardou o BlackBerry no bolso. — Envie uma mensagem a seu amigo, Sarah. Escolha com cuidado suas palavras, para proteger minha identidade.
Sarah pegou o iPhone da bolsa e digitou a mensagem. Um momento depois, o aparelho apitou.
— E então?
— Khalid quer nos ver hoje à noite.
— Onde?
Sarah transmitiu a pergunta. Quando chegou a resposta, entregou o telefone a Gabriel.
Ele olhou melancolicamente para a tela.
— Era o que eu temia.
9
NÉGEDE, ARÁBIA SAUDITA
O avião que tinha levado Sarah Bancroft a Israel era um Gulfstream G550, uma aeronave de 96 pés com uma velocidade de cruzeiro de 902
quilômetros por hora. Gabriel substituiu a tripulação de voo por dois pilotos de combate aposentados do IAF e a tripulação de cabine por quatro guarda-costas do Escritório. Eles decolaram do Aeroporto Ben Gurion pouco depois das sete da noite e cruzaram o golfo de Aqaba com o transponder desligado. À direita, banhada na luz laranja-fogo do pôr do sol, estava a península de Sinai, um porto seguro para várias milícias islâmicas violentas, incluindo um braço do EI. À esquerda, a Arábia Saudita.
Cruzaram a orla saudita em Sharma e foram para leste, sobre a cordilheira de Hejaz até o Négede. Tinha sido ali, no início do século XVIII, que um pregador obscuro do deserto chamado Muhammad Abdul Wahhab passara a acreditar que o Islã havia se afastado perigosamente das orientações do Profeta e das al salaf al salih, as primeiras gerações de muçulmanos. Durante suas viagens pela Arábia, ficou horrorizado de ver muçulmanos fumando, bebendo vinho, ouvindo música e dançando com roupas opulentas. Pior ainda era sua veneração a árvores e pedras e cavernas ligadas aos homens sagrados, uma prática que Wahhab condenava como politeísmo ou shirk.
Determinados a devolver o Islã a suas raízes, Wahhab e seu bando de seguidores entusiastas, o muwahhidoon, lançaram uma campanha violenta para limpar o Négede de qualquer coisa não sancionada pelo Alcorão. Para isso, ele achou uma aliada importante: uma tribo local chamada Al Saud.
O pacto que formaram em 1774 se tornou a base do Estado saudita moderno. Os Al Saud tinham o poder terreno, mas questões de fé eram deixadas nas mãos dos descendentes doutrinais de Muhammad Abdul Wahhab — homens que desprezavam o Ocidente, a cristandade, os judeus e os muçulmanos xiitas, que consideravam apóstatas e hereges. Osama bin Laden e a al-Qaeda compartilhavam dessa visão. Assim como o Talibã, os guerreiros santos do Estado Islâmico e todos os outros grupos terroristas sunitas. Os arranha-céus derrubados em Manhattan, as bombas nas
estações de trem da Europa Ocidental, as decapitações e os mercados explodidos em Bagdá: tudo isso remontava ao pacto fechado há mais de dois séculos e meio no Négede.
A cidade de Ha’il era a capital da região. Tinha vários palácios, um museu, um shopping, jardins públicos e uma base da Força Aérea Real da Arábia Saudita, onde o Gulfstream pousou logo após as 20 horas. O piloto taxiou na direção de quatro Range Rovers pretos esperando na beira da pista. Em torno dos veículos, estavam seguranças uniformizados, todos carregando armas automáticas.
— Talvez não tenha sido uma boa ideia, afinal — murmurou Gabriel.
— Khalid me garantiu que você vai estar seguro — respondeu Sarah.
— Ah, é? E se um desses seguranças sauditas bonzinhos for leal a outra facção da família real? Ou melhor, e se for um membro secreto da al-Qaeda?
O telefone de Sarah apitou com uma mensagem.
— De quem é?
— De quem você acha?
— Ele está em um desses Range Rovers?
— Não.
— Então, quem são eles?
— Nossa carona, aparentemente. Khalid diz que um deles é seu amigo.
— Não tenho amigo saudita — falou Gabriel. — Não mais.
— Talvez eu devesse ir primeiro.
— Uma americana loura sem véu? Pode passar a mensagem errada.
A porta fronteira da cabine do Gulfstream tinha uma escada embutida.
Gabriel a baixou e, seguido pelos quatro guarda-costas, desceu até a pista.
Alguns segundos depois, a porta de um dos carros foi aberta, e uma única figura desceu. Vestido num uniforme verde-oliva liso, era alto e esquelético, com olhos escuros pequenos e um nariz aquilino que lhe conferia a aparência de uma ave de rapina. Gabriel o reconheceu. O
homem trabalhava para o Mabahith, a divisão de polícia secreta do Ministério do Interior saudita. Gabriel certa vez passara um mês na instalação central de interrogatório do Mabahith, em Riad. O homem com a cara de ave de rapina tinha feito as perguntas. Ele não era amigo, mas também não era inimigo.
— Bem-vindo à Arábia Saudita, diretor Allon. Ou devo dizer bem-vindo de volta? Está muito melhor do que quando o vi pela última vez. —
Ele apertou com força a mão de Gabriel. — Imagino que sua ferida esteja totalmente curada.
— Só dói quando dou risada.
— Vejo que não perdeu seu senso de humor.
— Um homem na minha posição precisa disso.
— Na minha também. Os negócios são bastante duros, como você pode imaginar.
O saudita deu uma olhada para os guarda-costas de Gabriel.
— Estão armados?
— Fortemente.
— Por favor, instrua-os a voltar à aeronave. Não se preocupe, diretor Allon. Meus homens vão cuidar muito bem do senhor.
— É disso que tenho medo.
Os guarda-costas cumpriram com relutância a ordem de Gabriel. Um momento depois, Sarah apareceu na porta da cabine, seu cabelo louro balançando ao vento do deserto.
O saudita franziu o cenho.
— Imagino que ela não tenha véu.
— Deixou em Nova York.
— Sem problemas. Nós trouxemos, por via das dúvidas.
A rodovia era lisa como vidro e negra como um antigo disco de vinil.
Gabriel só tinha uma ideia vaga da direção; o telefone descartável que ele colocara no bolso antes de sair de Tel Aviv exibia o aviso SEM SERVIÇO.
Depois de deixarem a base aérea, eles tinham passado por quilômetros de campos de trigo — Ha’il era a cesta de pães da Arábia Saudita. Agora, a terra era dura e inclemente, como o tipo de islamismo praticado por Wahhab e seus seguidores intolerantes. Certamente, pensou Gabriel, não era um acidente. A crueldade do deserto tinha influenciado a fé.
De seu banco traseiro atrás do carona do Range Rover, ele conseguia ver o velocímetro. Estavam viajando a mais de 160 quilômetros por hora.
O motorista era do Mabahith, assim como o homem ao lado dele. Um veículo estava à frente, os outros dois, atrás. Fazia muito tempo que Gabriel não via outro carro ou caminhão. Imaginou que a estrada tinha sido fechada.
— Não consigo respirar. Aliás, acho que estou começando a perder a consciência.
Gabriel olhou para o montinho negro do outro lado do banco que era Sarah Bancroft coberta com o abaya negro pesado que o homem com um nariz aquilino lhe tinha jogado alguns segundos depois de os pés dela tocarem o solo.
— A última vez que usei uma coisa dessas foi na noite em que a operação Zizi desmoronou. Lembra, Gabriel?
— Como se fosse ontem.
— Não sei como as mulheres sauditas usam esses negócios a 48 graus na sombra. — Ela se abanava. — Khalid certa vez me mostrou uma foto da década de 1960 de mulheres sauditas sem véu andando de saia por Riad.
— Era assim no mundo árabe inteiro. Tudo mudou depois de 1979.
— É exatamente o que Khalid diz.
— Verdade?
— Os soviéticos invadiram o Afeganistão, e Khomeini tomou o poder no Irã. E, aí, houve Meca. Um grupo de militantes sauditas invadiu a Grande Mesquita e exigiu que os Al Saud entregassem o poder. Tiveram que trazer um grupo de soldados franceses para acabar com o cerco.
— Sim, eu me lembro.
— Os Al Saud se sentiram ameaçados — disse Sarah —, então, reagiram. Promoveram a expansão do wahabismo para contrabalançar a influência dos iranianos xiitas e permitiram radicais em casa para reforçar estritamente os editos religiosos.
— É uma visão bem caridosa, não acha?
— Khalid é o primeiro a admitir que houve erros.
— Que magnânimo da parte dele.
Os Range Rovers viraram num caminho de terra e o seguiram pelo deserto. Por fim, chegaram a um ponto de controle, pelo qual passaram sem desacelerar. O campo apareceu um momento depois, várias tendas grandes ao pé de uma formação rochosa imponente.
Sarah inconscientemente arrumou seu abaya enquanto o motorista freava o veículo.
— Como estou?
— Melhor do que nunca.
— Por favor, tente controlar esse seu sarcasmo israelense. Khalid não gosta de ironia.
— A maioria dos sauditas não gosta.
— E, não importa o que aconteça, não discuta com ele. Ele não gosta de ser contrariado.
— Você está se esquecendo de uma coisa, Sarah.
— Do quê?
— É ele que precisa da minha ajuda, não o contrário.
Sarah suspirou.
— Talvez você tenha razão. Talvez não tenha sido uma boa ideia, afinal.
10
NÉGEDE, ARÁBIA SAUDITA
Em coletivas de imprensa no Ocidente, o príncipe Khalid bin Mohammed falava frequentemente de sua reverência pelo deserto. O que ele mais amava, dizia, era sair de forma anônima de seu palácio em Riad e se aventurar sozinho pela imensidão árabe. Lá, ele montava um acampamento rudimentar e passava vários dias caçando aves, jejuando e orando. Também contemplava o futuro do reino que levava o nome de sua família. Foi durante uma dessas estadas, nas montanhas Sarawat, que ele concebeu O caminho para o futuro, seu plano ambicioso para refazer a economia saudita na era pós-petróleo. Alegava ter resolvido dar às mulheres o direito de dirigir enquanto acampava no deserto de Rub’ al-Khali. Sozinho em meio às dunas sempre móveis, ele lembrou que nada é permanente, que até numa terra como a Arábia Saudita, a mudança é inevitável.
A verdade sobre as aventuras de KBM no deserto era bem diferente. A tenda à qual Gabriel e Sarah foram levados tinha pouca semelhança com os abrigos de pelo de camelo nos quais viviam os ancestrais beduínos de Khalid. Era mais uma espécie de pavilhão temporário. Tapetes lindos cobriam o chão, lustres de cristal jogavam uma luz brilhante do teto. As notícias do dia passavam em várias televisões grandes — CNN
International, BBC, CNBC e, é claro, Al Jazeera, a rede baseada no Catar que Khalid estava tentando ao máximo destruir.
Gabriel tinha antecipado uma reunião particular com Vossa Alteza Real, mas a tenda estava ocupada pela corte itinerante de KBM — a comitiva de assessores, funcionários, ajudantes, fãs e parasitas que o acompanhavam em todo lugar. Todos usavam a mesma roupa, um thobe branco e um ghutra xadrez vermelho segurado por um agal preto. Havia também vários oficiais de uniforme, um lembrete de que o jovem príncipe com pouca experiência estava fazendo guerra do outro lado das montanhas Sarawat, no Iêmen.
Do príncipe herdeiro, porém, nem sinal. Um dos ajudantes instalou Gabriel e Sarah numa área de espera mobiliada com sofás e poltronas confortáveis, como os de um lobby de um hotel de luxo. Gabriel recusou
uma oferta de chás e doces, mas Sarah tentou comer uma massa folhada árabe encharcada de mel enquanto ainda vestia o abaya.
— Como elas fazem?
— Não fazem. Comem com outras mulheres.
— Sou a única aqui, notou? Não tem outras mulheres nesta tenda.
— Estou ocupado demais me preocupando com qual deles está planejando me matar. — Gabriel deu uma olhada em seu relógio. — Onde diabos ele está?
— Bem-vindo ao fuso horário KBM. É uma hora e vinte minutos a menos do que o resto do mundo.
— Não gosto que me deixem esperando.
— Ele está testando você.
— Não deveria.
— Vai fazer o quê? Ir embora?
Gabriel passou a palma da mão no tecido sedoso do sofá.
— Não é lá muito rudimentar, né?
— Você acreditou mesmo naquilo tudo?
— Claro que não. Só me pergunto por que ele se deu ao trabalho de dizer isso.
— O que importa?
— Porque homens que contam uma mentira, em geral, contam outras.
Uma comoção repentina emergiu entre os cortesãos de robe branco quando Khalid bin Mohammed entrou na tenda. Estava vestido tradicionalmente de thobe e ghutra, mas, ao contrário dos outros homens, também usava um bisht, um casaco cerimonial marrom com bordas douradas. Segurava-o com a mão esquerda. Com a direita, mantinha um celular na orelha. O mesmo telefone, supôs Gabriel, que a Unidade 8200
tinha comprometido. Ele só conseguia se perguntar quem mais poderia estar ouvindo — os americanos e seus parceiros em Os Cinco Olhos — a aliança formada entre Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos —, talvez até os russos e os iranianos.
Khalid terminou a ligação e olhou para Gabriel, como se surpreso de ver o anjo vingador de Israel na terra do profeta. Depois de um momento, cruzou, com cautela, o chão ricamente atapetado. Quatro guarda-costas fortemente armados também cruzaram. Mesmo rodeado por seus assessores mais próximos, pensou Gabriel, KBM temia por sua vida.
— Diretor Allon. — O saudita não esticou a mão, ainda segurando o telefone. — Obrigado por vir tão em cima da hora.
Gabriel assentiu, mas não disse nada.
Khalid olhou para Sarah.
— Está em algum lugar aí embaixo, senhorita Bancroft?
O montinho preto se moveu afirmativamente.
— Por favor, remova seu abaya.
Sarah levantou o véu do rosto e o jogou por cima da cabeça como um lenço, deixando visível parte de seu cabelo.
— Muito melhor. — Era óbvio que os guarda-costas de Khalid não concordavam. — Perdoe meus homens, diretor Allon. Não estão acostumados a ver israelenses em solo saudita, em especial, um com uma reputação como a sua.
— Que reputação é essa?
O sorriso de Khalid foi breve e insincero.
— Espero que seu voo tenha sido agradável.
— Bastante.
— E o caminho de carro não foi árduo demais?
— Nem um pouco.
— Algo para comer ou beber? Deve estar faminto.
— Na verdade, prefiro...
— Eu também, diretor Allon. Mas sou obrigado pelas tradições do deserto a demonstrar hospitalidade a um visitante em meu campo. Mesmo que ele já tenha sido meu inimigo.
— Às vezes — disse Gabriel — a única pessoa em quem se pode confiar é seu inimigo.
— Posso confiar em você?
— Não sei se tem muita escolha. — Gabriel lançou um olhar aos guarda-costas. — Diga para darem um passeio, estão me deixando nervoso. E dê esse seu telefone a eles. Nunca se sabe quem pode estar escutando.
— Meus especialistas me dizem que é totalmente seguro.
— Faça para me agradar, Khalid.
O príncipe herdeiro entregou o telefone a um dos guarda-costas e todos os quatro se afastaram.
— Suponho que Sarah tenha dito por que eu queria vê-lo.
— Não precisou.
— Você sabia?
Gabriel fez que sim e perguntou:
— Houve algum contato dos sequestradores?
— Infelizmente, sim.
— Quanto estão pedindo?
— Quem dera fosse tão simples. A Casa de Saud vale algo em torno de um trilhão e meio de dólares. Dinheiro não é o problema.
— Se eles não querem dinheiro, o que querem?
— Algo que não posso dar de jeito nenhum. E é por isso que preciso que você a encontre.
11
NÉGEDE, ARÁBIA SAUDITA
O bilhete de resgate tinha sete linhas em inglês. Estava grafado corretamente e com a pontuação adequada, sem nenhuma das construções esquisitas de softwares de tradução. Dizia que Vossa Alteza Real Príncipe Khalid bin Mohammed tinha dez dias para abdicar e, assim, abrir mão de herdar o trono da Arábia Saudita. Senão, sua filha, princesa Reema, seria morta. O bilhete não especificava como aconteceria a execução, nem se seguiria as leis islâmicas. Aliás, não havia qualquer referência religiosa nem a retórica floreada comum em comunicações de grupos terroristas.
No geral, pensou Gabriel, o tom era bastante profissional.
— Três dias depois, Reema foi levada. Foi tempo suficiente para o estrago estar feito. Ao contrário de meu pai e dos irmãos dele, só tenho uma esposa. Infelizmente, ela não pode ter outro filho. Só temos Reema.
— Você mostrou aos franceses?
— Não. Liguei para você.
Eles tinham saído do acampamento e estavam caminhando no leito de um uádi, com Sarah entre eles e o guarda-costas atrás. As estrelas estavam incandescentes, a lua brilhava como uma tocha. Khalid estava mexendo inquieto em seu bisht, um hábito de homens sauditas. Em suas vestes nativas, ele parecia à vontade na vastidão do deserto. O terno e sapatos oxford ocidentais de Gabriel lhe davam aparência de intruso.
— Como o bilhete foi entregue?
— Por mensageiro.
— Onde?
Khalid hesitou.
— No nosso consulado em Istambul.
Os olhos de Gabriel estavam na terra pedregosa. Ele olhou para cima, surpreso.
— Istambul?
Khalid assentiu.
— Me parece que os sequestradores estavam tentando enviar uma mensagem.
— Que tipo de mensagem?
— Talvez estejam tentando puni-lo por matar Omar Nawwaf e cortar o corpo dele em pedacinhos para caber numa mala de mão.
— É bem irônico, não acha? O grande Gabriel Allon dando lição de moral sobre um trabalhinho sujo.
— Nós fazemos operações de assassinato que têm como alvo terroristas conhecidos e outras ameaças à nossa segurança nacional, muitas financiadas e apoiadas por elementos de seu país. Mas não matamos pessoas que escrevem coisas desagradáveis sobre nosso primeiro-ministro.
Se matássemos, não faríamos mais nada.
— Omar Nawwaf não é problema seu.
— Sua filha também não. Mas você me pediu para achá-la, e preciso saber se pode haver uma ligação entre o desaparecimento dela e o assassinato de Nawwaf.
Khalid pareceu considerar cuidadosamente a questão.
— Duvido. A comunidade dissidente saudita não tem capacidade de executar algo assim.
— Seus serviços de inteligência devem ter um suspeito.
— Os iranianos estão no topo da lista.
A posição saudita padrão, pensou Gabriel. Colocar a culpa de tudo nos heréticos xiitas do Irã. Ainda assim, ele não desprezou a teoria de imediato. Os iranianos viam Khalid como uma das principais ameaças a suas ambições regionais, perdendo só para o próprio Gabriel.
— Quem mais? — perguntou ele.
— Os catarianos. Eles me odeiam.
— Com razão.
— E os jihadistas — completou Khalid. — Os linhas-duras dentro da comunidade religiosa saudita estão furiosos comigo por coisas que falei sobre o islã radical e a Irmandade Muçulmana. Também não gostam de eu ter permitido que as mulheres dirijam e frequentem eventos esportivos. O
nível de ameaça contra mim dentro do Reino é muito alto.
— Duvido que aquele bilhete de resgate tenha sido escrito por um jihadista.
— Por enquanto, esses são nossos únicos suspeitos.
— Os iranianos, os catarianos e os ulemás? Por favor, Khalid. Você é melhor que isso. E todos os parentes que afastou para se tornar príncipe herdeiro? Ou os cem sauditas proeminentes e membros da família real que
trancou no Ritz-Carlton? Refresque minha memória: quanto você conseguiu extorquir antes de deixá-los ir embora? O número me escapa.
— Foram cem bilhões de dólares.
— E quanto disso acabou no seu bolso?
— O dinheiro foi colocado no tesouro.
— Que é o seu bolso com outro nome.
— L’état c’est moi — falou Khalid. — Eu sou o Estado.
— Mas alguns dos homens que você espoliou ainda são muito ricos. O
bastante para contratar uma equipe de agentes profissionais para sequestrar sua filha. Eles sabiam que nunca conseguiriam chegar em você, já que vive cercado dia e noite por um exército de guarda-costas. Mas Reema era outra história. — Diante do silêncio, Gabriel perguntou: —
Deixei alguém de fora?
— A segunda esposa do meu pai. Ela se opôs a mudar a linha de sucessão. Coloquei-a em prisão domiciliar.
— O sonho de todo garoto judeu. — O ar de repente ficou muito frio.
Gabriel levantou o colarinho de seu paletó. — Por que você mandou Reema para um colégio na Suíça? Por que não na Inglaterra, onde você foi educado?
— O Reino Unido era minha primeira escolha, devo admitir, mas o diretor-geral do MI5 não podia garantir a segurança de Reema. Os suíços foram muito mais assertivos. O diretor da escola concordou em proteger a identidade de Reema, e o serviço de segurança suíço ficou de olho nela de longe.
— Foi muito generoso da parte deles.
— Não teve nada a ver com generosidade. Dei muito dinheiro ao governo para cobrir os custos adicionais da segurança de Reema. São bons hoteleiros, os suíços, e discretos. Na minha experiência, é natural para eles.
— E os franceses? Sabiam que Reema estava passando os fins de semana naquele seu château ridículo na Alta Saboia?
Gabriel levantou o olhar brevemente para as estrelas.
— Não consigo lembrar quanto você gastou naquela propriedade. Quase o mesmo que pagou por aquele Leonardo.
Khalid ignorou o comentário.
— Eu talvez tenha mencionado ao presidente, mas não fiz nenhum pedido de segurança ao governo francês. Quando o comboio de Reema
cruzava a fronteira, meus guarda-costas eram responsáveis por protegê-la.
— Foi um erro da sua parte.
— Em retrospecto — concordou Khalid. — As pessoas que sequestraram minha filha eram muito profissionais. A questão é: para quem estavam trabalhando?
— Você conseguiu fazer muitos inimigos num período curto de tempo.
— Temos isso em comum, você e eu.
— Meus inimigos estão em Moscou e Teerã. Os seus, bem mais perto.
E é por isso que não quero ter nada com essa história. Mostre o bilhete de resgate aos franceses, dê a eles tudo o que você tem. Eles são bons —
disse Gabriel. — Eu sei bem. Graças à ideologia e ao dinheiro sauditas, fui forçado a trabalhar de perto com eles em várias operações de contraterrorismo.
Khalid sorriu.
— Está se sentindo melhor?
— Quase.
— Não posso mudar o passado, só o futuro. Podemos fazer isso juntos.
Podemos fazer história. Mas só se você conseguir achar minha filha.
Gabriel parou e contemplou a figura alta de robe diante dele à luz das estrelas.
— Quem é você, Khalid? Você é autêntico ou Omar Nawwaf tinha razão? É só mais um sheik louco por poder, que, por acaso, tem um bom estrategista de relações públicas?
— Sou o mais perto de autêntico que a Arábia Saudita vai permitir neste momento. E se for obrigado a renunciar ao trono, vai haver consequências sombrias para Israel e o Ocidente.
— Nisso, eu acredito. Quanto ao resto... — Gabriel deixou o pensamento inacabado. — Você terá que manter tudo em sigilo. E isso significa também não contar aos americanos.
Com sua expressão, Khalid deixou claro que não gostava de receber ordens de plebeus. Expirando pesadamente, fez uma mudança sutil na posição de seu ghutra.
— Você me surpreende.
— Como?
— Concordou em me ajudar. Mas não pediu nada em retorno.
— Um dia, vou pedir — falou Gabriel. — E você vai me dar o que eu quiser.
— Você parece muito confiante.
— Eu sou.
12
JERUSALÉM
O comboio de Gabriel estava esperando na pista do Aeroporto Ben Gurion quando o Gulfstream pousou, alguns minutos após a meia-noite.
Sarah o acompanhou até Jerusalém. Ele a deixou na entrada do Hotel King David.
— O quarto é um dos nossos — explicou ele. — Não se preocupe, desligamos as câmeras e os microfones.
— Por algum motivo, duvido. — Ela sorriu. — Quais são seus planos?
— Contra todo o meu bom senso, vou empreender uma busca rápida pela filha de Vossa Alteza Real Príncipe Khalid bin Mohammed.
— Onde pretende começar?
— Como ela foi raptada na França, achei que podia ser uma boa ideia partir de lá.
Sarah franziu a sobrancelha.
— Desculpe, foi um dia longo.
— Eu falo francês muito bem, sabia?
— Eu também.
— E estudei na Escola Internacional de Genebra quando meu pai estava trabalhando na Suíça.
— Eu me lembro, Sarah. Mas você vai voltar para casa, em Nova York.
— Prefiro ir à França com você.
— Não vai ser possível.
— Por que não?
— Porque você trocou o mundo secreto pelo mundo aberto há muito tempo.
— Mas o mundo secreto é muito mais interessante. — Ela olhou as horas. — Meu Deus, que tarde. Quando você vai para Paris?
— No voo das dez da El Al para o Charles de Gaulle. Hoje em dia, pareço ter um assento fixo nele. Eu busco você às oito e a levo para o aeroporto.
— Na verdade, acho que vou ficar em Jerusalém por um ou dois dias.
— Não está pensando em fazer alguma bobagem, né?
— Tipo o quê?
— Entrar em contato com Mikhail.
— Nem sonharia. Além do mais, ele deixou muitíssimo claro que está feliz com aquela fulana.
— Natalie.
— Ah, é. Vivo esquecendo. — Ela deu um beijo na bochecha de Gabriel. — Desculpe arrastá-lo para tudo isso. Não hesite em ligar se eu puder fazer mais alguma coisa.
Ela desceu da SUV e desapareceu pela entrada do hotel. Gabriel discou para a Mesa de Operações do Boulevard Rei Saul e informou ao chefe de turno que tinha a intenção de viajar a Paris naquela manhã.
— Mais alguma coisa, chefe?
— Ative o quarto 435 do King David. Só áudio.
Gabriel desligou e se escorou, cansado, na janela. Ela tinha razão sobre uma coisa, pensou. O mundo secreto era muito mais interessante.
De carro, eram cinco minutos do Hotel King David à rua Narkiss, a via tranquila e arborizada no bairro histórico de Nachlaot, em Jerusalém, que Gabriel Allon, apesar das objeções de seu departamento de segurança e de muitos de seus vizinhos, continuava a chamar de lar. Havia postos de controle nas duas pontas da rua, e um sentinela posicionava-se em frente ao antigo prédio de pedra calcária no número 16. Quando Gabriel desceu do banco de trás de sua SUV, o ar trazia um odor de eucalipto e de um leve tabaco turco. O motivo não era nenhum mistério. A nova e chamativa limusine blindada de Ari Shamron estava estacionada no meio-fio, no espaço reservado para o comboio do chefe do serviço secreto israelense.
— Ele chegou por volta da meia-noite — explicou o guarda. — Disse que você tinha conhecimento da visita.
— E você acreditou nele?
— O que eu ia fazer? Ele é o Memuneh.
Gabriel fez que não. Já fazia dois anos que era diretor-geral, e até os membros de seus destacamentos de segurança ainda se referiam a Sharon como “aquele que está no comando”.
Ele seguiu pelo jardim, entrou no foyer e foi até o terceiro andar pela escada bem iluminada. Chiara, de leggings e pulôver pretos, esperava na porta do apartamento. Avaliou Gabriel com frieza por um momento antes de jogar os braços em torno de seu pescoço.
— Eu deveria ir mais à Arábia Saudita.
— Quando você estava planejando me contar?
— Que tal agora?
Ele entrou com ela. Espalhados pela mesa de centro na sala de estar havia copos, taças e pratos de comida pela metade, evidências de uma vigília noturna tensa. A televisão, ligada na CNN Internacional, estava no mudo.
— Eu apareci no jornal da noite?
Chiara o fitou, mas não disse nada.
— Como você descobriu?
— Como você acha? — Ela olhou de relance para o terraço, onde Shamron, sem dúvida, ouvia cada palavra que diziam. — Ele ficou ainda mais preocupado do que eu.
— Sério? Acho difícil de acreditar.
— Ordenou que o Comando de Defesa Aérea monitorasse seu avião. A torre do Ben Gurion nos alertou quando você pousou. Esperávamos que chegasse antes, mas, aparentemente, você fez um pequeno desvio no caminho para casa. — Chiara tirou os pratos da mesa de centro. Ela sempre limpava algo quando estava irritada. — Com certeza, adorou rever Sarah. Ela sempre gostou muito de você.
— Faz tanto tempo.
— Não tanto.
— Você sabe que eu nunca senti nada por ela.
— Seria completamente compreensível se tivesse sentido. Ela é linda.
— Não tão linda quanto você, Chiara. Nem de perto.
Era verdade. A beleza de Chiara era transcendental. Em seu rosto, Gabriel via traços da Arábia, do norte da África, da Espanha e de todas as outras terras por onde seus ancestrais haviam passado antes de se estabelecer atrás dos portões trancados do antigo gueto judeu de Veneza. O
cabelo dela era escuro e rebelde, com mechas avermelhadas e castanhas.
Os olhos eram grandes e castanhos com pontinhos dourados. Não, pensou, nenhuma mulher estaria entre eles. Gabriel só temia que, um dia, Chiara percebesse que era jovem e bela demais para ser casada com um desastre feito ele.
Ele se dirigiu para o terraço. Havia duas cadeiras e uma pequena mesa de aço, sobre a qual estava o prato que Shamron havia feito de cinzeiro.
Seis bitucas de cigarro estavam dispostas lado a lado, como cápsulas de
bala. O ex-diretor-geral estava no processo de acender o sétimo com seu velho isqueiro Zippo quando Gabriel o arrancou dos lábios dele.
Shamron franziu a sobrancelha.
— Só mais um não vai me matar.
— Talvez mate.
— Sabe quantos desses fumei na vida?
— Todas as estrelas no céu e a areia que se espalha nas praias do mar.
— Você não deveria citar o Gênesis para discutir um vício como o fumo. Traz carma ruim.
— Judeus não acreditam em carma.
— De onde você tirou uma ideia dessas?
Shamron pegou outro cigarro do maço com a mão trêmula repleta de manchas senis. Estava vestido, como sempre, com calça cáqui, camisa social de algodão e jaqueta bomber de couro com um rasgo no ombro esquerdo. Tinha estragado a peça na noite em que um terrorista palestino chamado Tariq al-Hourani plantara uma bomba embaixo do carro de Gabriel em Viena. Daniel, filho mais novo de Allon, morrera na explosão.
Leah, sua primeira mulher, ficara com queimaduras catastróficas. Naquele momento, morava num hospital psiquiátrico no topo do monte Herzl, enclausurada na prisão da memória e num corpo consumido pelo fogo.
Enquanto Gabriel morava ali, na rua Narkiss, com sua linda esposa de origem italiana e seus dois filhos pequenos. Deles, escondia seu luto sem fim. Mas de Shamron, não. A morte os tinha unido no início. E a morte continuava sendo a ligação primordial entre eles.
Gabriel se sentou.
— Quem contou?
— Sobre sua visita à Arábia Saudita? — O sorriso de Shamron era malicioso. — Acredito que tenha sido Uzi.
Uzi Navot era o diretor-geral anterior e, como Gabriel, um dos seguidores de Shamron. Numa quebra de tradição do Escritório, tinha concordado em continuar no Boulevard Rei Saul, permitindo, assim, que Gabriel agisse como um chefe operacional.
— Quanto você conseguiu arrancar dele?
— Não foi preciso usar coerção. Uzi estava preocupado com sua decisão de voltar ao país onde passou quase um mês preso. Desnecessário dizer — continuou Shamron — que compartilho da opinião.
— Você viajava em segredo para países árabes quando era chefe.
— Para a Jordânia, sim. Para o Marrocos, claro. Cheguei a ir ao Egito depois de Sadat visitar Jerusalém. Mas nunca coloquei os pés na Arábia Saudita.
— Eu não estava correndo perigo.
— Com todo o respeito, Gabriel, duvido que seja verdade. Você deveria ter conduzido a reunião em território neutro, num ambiente controlado pelo Escritório. O príncipe herdeiro tem uma veia tempestuosa. Você tem sorte de não ter acabado como aquele jornalista que ele matou em Istambul.
— Sempre achei que jornalistas eram muito mais úteis vivos do que mortos.
Shamron sorriu.
— Você leu a reportagem sobre Khalid no The New York Times?
Disseram que a Primavera Árabe finalmente tinha chegado à Arábia Saudita. Que um garoto inexperiente ia transformar um país fundado nas bases de um casamento às pressas entre o wahabismo e uma tribo do deserto de Négede. — Shamron balançou a cabeça. — Não acreditei nessa história na época e não acredito agora. Khalid bin Mohammed está interessado em duas coisas. A primeira é poder. A segunda é dinheiro. Para os Al Saud, dá tudo no mesmo. Sem poder, não há dinheiro. E sem dinheiro, não há poder.
— Mas ele teme os iranianos tanto quanto nós. Só por isso, já pode se provar bastante útil.
— E é por isso que você concordou em achar a filha dele. — Shamron estudou Gabriel com o canto dos olhos. — Foi por isso que ele quis encontrá-lo, não?
Gabriel entregou a Shamron o bilhete de resgate, que o homem leu sob a luz bruxuleante do Zippo.
— Parece que você se enfiou numa briga de família real.
— É exatamente isso que parece.
— Não é algo sem risco.
— Nada que valha a pena é.
— Concordo. — Shamron fechou o isqueiro com um movimento de seu pulso grosso. — Mesmo que não consiga encontrá-la, seus esforços vão dar frutos na corte real de Riad. E se conseguir... — Shamron deu de ombros. — O príncipe herdeiro vai ter uma dívida eterna com você. Para todos os fins, será um ativo do Escritório.
— Então, você aprova?
— Eu teria feito exatamente a mesma coisa. — Shamron devolveu o bilhete a Gabriel. — Mas por que Khalid lhe ofereceu essa oportunidade de comprometê-lo? Por que procurar o Escritório? Por que ele não pediu ajuda ao amigo dele na Casa Branca?
— Talvez ache que eu possa ser mais eficiente.
— Ou mais implacável.
— Isso também.
— Você precisa considerar uma possibilidade — disse Shamron, após um momento.
— Qual?
— Que Khalid saiba muito bem quem sequestrou a filha dele e esteja usando você para fazer o trabalho sujo.
— Ele já mostrou que é mais do que capaz de fazer isso sozinho.
— E é por isso que você não deveria fazer mais viagens à Arábia Saudita. — Shamron olhou seriamente para Gabriel por um instante. — Eu estava em Langley naquela noite, você lembra? Vi tudo pela câmera daquele drone Predator. Vi-os levar você e Nadia para o deserto para serem executados. Implorei para os americanos jogarem um míssil Hellfire em você para poupá-lo da dor da faca. Tive muitas noites terríveis na vida, mas aquela talvez tenha sido a pior. Se ela não tivesse entrado na frente daquela bala... — Shamron olhou para seu grande relógio de aço inox. —
Você precisa dormir um pouco.
— Já está tarde. Fique comigo, Abba. Vou dormir no caminho para Paris.
— Achei que você não conseguisse dormir em aviões.
— Não consigo.
Shamron observou o vento movendo as árvores de eucalipto.
— Eu também nunca consegui.
13
A princesa Reema bint Khalid Abdulaziz Al Saud aguentou as muitas humilhações de seu cativeiro com o máximo de graça possível, mas o balde foi a gota d’água.
Era azul-claro e de plástico, o tipo de coisa em que um Al Saud nunca tocava. Colocaram na cela de Reema depois de ela se comportar mal durante uma visita ao banheiro. Segundo um aviso datilografado e grudado na lateral do balde, Reema deveria usá-lo até segunda ordem. Só quando sua conduta voltasse ao normal, seus privilégios de banheiro seriam devolvidos. Reema se recusava a aliviar-se de forma tão humilhante, então o fazia no chão da cela. Por isso, seus sequestradores, de novo por escrito, ameaçaram parar de lhe dar comida e bebida.
— Não me importo! — gritou Reema para a figura mascarada que entregou-lhe o bilhete.
Ela preferia morrer de fome do que comer outra refeição horrenda com gosto de que tinha sido cozida na própria lata. A comida não era adequada para porcos, quanto mais para a filha do futuro rei da Arábia Saudita.
A cela era pequena — menor, talvez, do que qualquer cômodo em que Reema já tivesse entrado. Seu catre ocupava a maior parte do espaço. As paredes eram brancas, lisas e frias, e no teto, uma luz brilhava incessantemente. Reema não tinha noção do tempo que estava lá nem se era dia ou noite. Dormia quando cansada, o que era frequente, e sonhava com sua antiga vida. Ela não tinha dado o devido valor às coisas, à riqueza e ao luxo inimagináveis, e tudo acabara.
Eles não a acorrentaram ao chão como faziam nos filmes americanos que seu pai costumava deixá-la ver. Nem taparam a boca ou amarraram suas mãos e seus pés, nem a forçaram a usar um capuz — só por algumas horas, durante a longa jornada de carro depois do sequestro. Quando ela estava segura na cela, foram eles que cobriram o rosto. Eram quatro.
Reema conseguia identificar cada um pelo tamanho e formato, e pela cor dos olhos. Três homens e uma mulher. Nenhum era árabe.
Reema fazia o que podia para esconder seu medo, mas não tentava disfarçar que estava fora de si de tanto tédio. Pediu uma televisão para ver
seus programas favoritos. Seus sequestradores, por escrito, negaram. Ela pediu um computador para jogar ou um iPod e fones de ouvido para escutar música, mas, de novo, negado. Finalmente, pediu uma caneta e um bloco. Seu plano era registrar aquelas experiências numa história, algo que ela pudesse mostrar à senhorita Kenton depois de ser libertada. A mulher pareceu considerar o apelo de Reema, mas, quando chegou sua próxima refeição, havia um bilhete sucinto de negação. Reema comeu a gororoba oferecida, pois estava faminta demais para continuar sua greve de fome.
Depois, eles lhe permitiram usar o banheiro e, quando ela voltou à cela, o balde não estava mais lá. Parecia que tudo tinha voltado ao normal no mundo de Reema.
Ela pensava muito na professora. Reema enganara todo mundo — a senhorita Halifax, Herr Schröder, a espanhola maluca que tentava ensiná-
la a pintar como Picasso —, mas não a senhorita Kenton. A mulher estava na janela da sala dos professores na tarde em que Reema saiu da escola pela última vez. O ataque havia acontecido na França, na estrada entre Annecy e o château de seu pai. Reema lembrava-se de uma van estacionada no acostamento, um homem trocando pneu. De repente, um veículo batera no deles, uma explosão abrira as portas. Salma, a guarda-costas que fingia ser mãe de Reema, fora baleada. O motorista e todos os outros seguranças no Range Rover também. A menina tinha sido forçada a entrar no banco de trás da van. Foi encapuzada e recebeu uma injeção para dormir. Ao acordar, estava no pequeno quarto branco. O menor cômodo que já tinha visto na vida.
Mas por que tinha sido raptada? No cinema, os sequestradores sempre queriam dinheiro. O pai de Reema tinha todo o dinheiro do mundo. Não significava nada para ele. Pagaria o que os sequestradores quisessem, e ela seria libertada. Depois, seu pai mandaria homens para encontrar e matar todos os bandidos. Ou talvez ele mesmo matasse um ou dois. Com Reema, era muito carinhoso, mas ela tinha ouvido falar o que ele fazia com quem se opunha. Não demonstraria piedade com as pessoas que tinham sequestrado sua única filha.
Assim, a princesa Reema bint Khalid Abdulaziz Al Saud aguentou as muitas humilhações de seu cativeiro com o máximo de graça possível, segura por saber que logo seria libertada. Ingeria a comida horrenda deles sem reclamar quando a levavam pelo corredor escuro para o banheiro. Ao
retornar, ela encontrou uma caneta e um caderno ao pé do catre. É a morte, escreveu na primeira página. Morte, morte, morte...
14
JERUSALÉM–PARIS
Embora a princesa Reema não soubesse, seu pai já tinha contratado os serviços de um homem perigoso e, às vezes, violento para encontrá-la. Ele passou o restante daquela noite na companhia de um velho amigo que já não era capaz de dormir. E, ao amanhecer, depois de beijar sua esposa e seus filhos que dormiam, foi em seu comboio até o Aeroporto Ben Gurion, onde mais um voo o aguardava. Como sempre, foi o último a embarcar.
Havia um assento reservado para ele na primeira classe. O ao lado, como de costume, estava vazio.
Uma comissária lhe ofereceu uma bebida antes da decolagem. Ele pediu chá. Depois, solicitou que a pessoa da poltrona 22B fosse convidada para sentar-se ao seu lado. Normalmente, ela teria explicado que passageiros da classe econômica não tinham permissão para entrar na cabine da frente da aeronave, mas não se opôs. Ela sabia quem era o homem. Todo mundo em Israel sabia.
A comissária foi para a popa e voltou acompanhada por uma mulher de 43 anos, loura e de olhos azuis. Houve um murmúrio na cabine de primeira classe quando ela se sentou ao lado do homem que tinha embarcado por último.
— Você achou mesmo que meu departamento de segurança me permitiria entrar num avião sem revisar primeiro cada nome no manifesto?
— Não — respondeu Sarah Bancroft. — Mas valia a pena tentar.
— Você me enganou. Perguntou sobre meus planos de viagem e eu, tolo, contei a verdade.
— Fui treinada pelo melhor.
— E do quanto você lembra?
— Tudo.
Gabriel sorriu, triste.
— Esse era meu medo.
Eram poucos minutos depois das quatro da tarde quando o avião pousou em Paris. Gabriel e Sarah passaram separadamente pela imigração —
Gabriel com nome falso, Sarah com o real —, e se encontraram novamente no lotado saguão de desembarque do Terminal 2A. Lá, foram recebidos por um mensageiro da Estação de Paris, que entregou a Gabriel a chave de um carro estacionado no segundo andar do estacionamento rotativo.
— Um Passat? — perguntou Sarah, sentando-se no banco do carona. —
Não podiam ter nos dado algo mais divertido?
— Não quero divertido. Quero confiável e anônimo. Também é bastante rápido.
— Quando foi a última vez que você dirigiu?
— No início deste ano, quando estava em Washington no caso da Rebecca Manning.
— Matou alguém?
— Não com o carro. — Gabriel abriu o porta-luvas. Dentro, havia uma Beretta M9 com cabo de nogueira.
— Sua favorita — comentou Sarah.
— O Departamento de Transporte pensa em tudo.
— E os guarda-costas?
— Dificultam a eficiência da operação.
— É seguro você estar em Paris sem destacamento de segurança?
— É para isso que serve a Beretta.
Gabriel deu ré para sair da vaga e pegou a rampa para o andar de baixo.
Pagou o atendente em dinheiro e fez o possível para esconder seu rosto da câmera de segurança.
— Você não está enganando ninguém. Os franceses vão descobrir que está no país.
— Não é com os franceses que me preocupo.
Gabriel seguiu pela estrada A1 no momento em que o crepúsculo alcançava a margem norte de Paris. Quando chegaram à cidade, a noite tinha caído. A rue La Fayette os levou na direção oeste cruzando a cidade, e a Pont de Bir-Hakeim os carregou sobre o Sena até o 15°
arrondissement. Gabriel virou na rue Nélaton e parou em frente a um enorme portão de segurança operado por oficiais fortemente armados da Polícia Nacional. Uma pequena placa avisava que o prédio pertencia ao Ministério do Interior, sob constante vigilância por vídeo.
— Isso lembra a Zona Verde em Bagdá.
— Hoje em dia — disse Gabriel —, a Zona Verde é mais segura que Paris.
— Onde estamos?
— Na sede do Grupo Alpha. É uma unidade de contraterrorismo de elite da DGSI. — A Direction Générale de la Sécurité Intérieure era o serviço de segurança interna da França. — Os franceses criaram o Grupo Alpha não muito depois de você sair da Agência. Antes, ficava escondido dentro de um prédio antigo bonito na rue de Grenelle.
— O que foi destruído por aquele carro-bomba do Estado Islâmico?
— A bomba estava numa van. E eu estava dentro do prédio quando ele explodiu?
— Claro que estava.
— Paul Rousseau, o chefe do Grupo Alpha, também. Eu apresentei vocês dois na minha festa de nomeação.
— Ele parecia mais um professor que um espião francês.
— Antigamente era, na verdade. Foi um dos mais importantes estudiosos de Proust na França.
— Qual é o papel do Grupo Alpha?
— Infiltrar agentes em redes jihadistas. Mas Rousseau tem acesso a tudo.
Um oficial à paisana se aproximou do carro. Gabriel deu a ele dois pseudônimos, um de homem e outro de mulher, ambos franceses e inspirados em romances de Dumas, um toque particularmente rousseauniano. O francês os esperava em sua nova toca no andar mais alto.
Ao contrário de outros escritórios no prédio, o de Rousseau era sombrio, com painéis de madeira, cheio de livros e arquivos. Como Gabriel, ele os preferia aos dossiês digitais. Estava vestido com um casaco de tweed amassado e uma calça de flanela cinza. Seu cachimbo sempre presente soltou fumaça enquanto ele apertava a mão de Gabriel.
— Bem-vindo à nossa nova Bastilha. — Rousseau estendeu a mão para Sarah. — Que bom vê-la de novo, Madame Bancroft. Quando nos conhecemos em Israel, você me disse que era curadora de museu em Nova York. Não acreditei na época e não acredito agora.
— Mas é verdade.
— Obviamente tem mais nessa história. Quando se trata do Monsieur Allon, em geral, tem. — Rousseau soltou a mão de Sarah e contemplou
Gabriel por cima dos óculos de leitura. — Você foi bastante vago no telefone hoje pela manhã. Imagino que não seja uma visita social.
— Ouvi falar que você recentemente teve um dissabor na Alta Saboia.
— Gabriel hesitou, antes de completar: — Alguns quilômetros a oeste de Annecy.
Rousseau ergueu a sobrancelha.
— O que mais ouviu?
— Que seu governo escolheu encobrir o incidente a pedido do pai da vítima, que, por acaso, é dono do maior château da região. Também, por acaso, é...
— O futuro rei da Arábia Saudita — falou Rousseau, baixinho. — Por favor, diga que não teve nada a ver com...
— Não seja ridículo, Paul.
O francês mordeu com cuidado a haste do cachimbo.
— O dissabor, como você diz, foi rapidamente designado como ato criminoso, e não de terrorismo. Portanto, estava fora da alçada do Grupo Alpha. Não é da nossa conta.
— Mas você deve ter estado na mesa durante as primeiras horas da crise.
— É claro.
— E também tem acesso a toda a informação e inteligência coletada pela Polícia Nacional e DGSI.
Rousseau analisou Gabriel por um tempo considerável.
— Qual é o interesse do Estado de Israel no sequestro da filha do príncipe herdeiro?
— Nosso interesse é de natureza humanitária.
— Uma mudança de ares refrescante. Em nome de quem você veio?
— Do futuro rei da Arábia Saudita.
— Minha nossa — disse Rousseau. — Como o mundo mudou.
15
PARIS
Logo ficou claro que Paul Rousseau não aprovara a decisão de seu governo de esconder o sequestro da princesa Reema. A localização remota
— a intersecção de duas estradas rurais, a D14 e a D38, a oeste de Annecy
— facilitara a ação. Dois veículos cercaram o comboio da princesa, junto com um terceiro, abandonado pelos sequestradores. A primeira pessoa a chegar na cena fora um gendarme aposentado que morava num vilarejo próximo, seguido pelo próprio príncipe herdeiro e sua comitiva usual de guarda-costas. Para quem passava depois, parecia um acidente de trânsito sério envolvendo homens ricos do Oriente Médio.
— Uma ocorrência nada incomum na França — disse Rousseau.
O gendarme aposentado teve de jurar segredo, continuou ele, assim como os oficiais que participaram de uma busca rápida pela princesa em todo o país. Rousseau ofereceu a assistência do Grupo Alpha, mas foi informado por seu chefe e seu ministro de que seus serviços não eram necessários.
— Por que não?
— Porque Vossa Alteza Real disse ao meu ministro que o rapto de sua filha não era trabalho de terroristas.
— Como ele podia saber disso tão rapidamente?
— Seria preciso perguntar a ele. Mas a explicação lógica é...
— Que ele já sabia quem estava por trás.
Eles estavam reunidos em torno de uma pilha de arquivos na mesa de reunião do francês. Ele abriu uma das pastas e retirou uma única fotografia, que colocou diante de Gabriel e Sarah. Um Range Rover cheio de buracos de bala, uma Mercedes Maybach amassada, uma van Citröen caindo aos pedaços. Os corpos dos guarda-costas sauditas tinham sido removidos. Mas o sangue permanecia por todo o interior do Range Rover e da Maybach. Era muito, pensou Gabriel, especialmente no banco de trás da limusine. Ele se perguntou se parte daquele sangue era da princesa.
— Havia pelo menos mais um veículo envolvido, um furgão Ford Transit. — Rousseau apontou para o acostamento de grama ao longo da D14. — Estacionado logo ali. Talvez o motorista estivesse olhando o capô
ou fingindo trocar um pneu quando o comboio se aproximou. Ou talvez nem tenha se dado a esse trabalho.
— Como você sabe que era um Ford Transit?
— Num minuto. — Rousseau apontou para a frente amassada do Citröen. — Não houve testemunhas, mas as marcas de pneu e a tinta da colisão fornecem uma imagem precisa do que aconteceu. O comboio ia para oeste na D14, em direção ao château do príncipe. O Citröen estava indo para norte na D38. Obviamente, não parou no cruzamento. Com base nas marcas de pneu, o motorista da Maybach desviou para evitar a batida, mas o Citröen atingiu o lado dele da limusine com força suficiente para danificar a blindagem e forçar o carro a sair da estrada. O motorista do Range Rover pisou forte nos freios e parou atrás da Maybach. Muito provavelmente, os quatro guarda-costas morreram na hora. A análise balística e forense indica que os tiros vieram tanto do Citröen quanto do Ford Transit.
— Como eles tiraram a menina de um carro blindado com janelas à prova de bala?
Rousseau pegou uma segunda fotografia no arquivo. Mostrava o lado do passageiro da Maybach. As portas blindadas tinham sido abertas com o impacto — de forma bastante hábil, pensou Gabriel. O Escritório não teria feito melhor.
— Imagino que seus especialistas forenses tenham analisado o sangue dentro da Maybach.
— Veio de duas pessoas, o motorista e a guarda-costas. Como os quatro seguranças do Range Rover, eles morreram instantaneamente com as balas de nove milímetros. Os cartuchos batem com um HK MP5 ou uma de suas variantes.
Rousseau mostrou outra fotografia. Um furgão Ford Transit cinza-claro. A imagem tinha sido feita à noite. O flash da câmera iluminava um pedaço de terra seca e pedregosa. Não era, pensou Gabriel, o solo do norte da França.
— Onde a encontraram?
— Numa estrada deserta nos arredores do vilarejo de Vielle-Aure.
Fica...
— Nos Pireneus, a alguns quilômetros da fronteira espanhola.
— Às vezes, esqueço como você conhece bem nosso país. — Rousseau apontou para um dos pneus da van. — Foi uma combinação perfeita com
as marcas encontradas na cena do sequestro.
Gabriel estudou a fotografia do furgão.
— Suponho que tenha sido roubado.
— Claro. Como o Citröen.
— Havia sangue no compartimento traseiro?
Rousseau fez que não.
— E DNA?
— Bastante.
— Tinha DNA da princesa Reema?
— Pedimos uma amostra e nos disseram com bastante firmeza que não iam dar.
— Foi Khalid quem disse?
Rousseau fez que não.
— Não tivemos contato direto com o príncipe herdeiro desde que ele saiu da França. Todas as comunicações agora passam por um tal de Monsieur al-Madani, da Embaixada Saudita em Paris.
Sarah de repente levantou o rosto.
— Rafiq al-Madani?
— Você o conhece?
Ela não respondeu.
— Minha suposição, senhorita Bancroft, é que você é ou já foi oficial da Agência de Inteligência Central. Nem é preciso dizer que seus segredos estão seguros dentro destas paredes.
— Rafiq al-Madani trabalhou por vários anos como representante do Ministério de Assuntos Islâmicos. É um dos canais oficiais usados pela Casa de Saud para espalhar o wahabismo pelo mundo.
Rousseau sorriu caridosamente.
— Sim, eu sei.
— O FBI não gostava nada de al-Madani — disse Sarah. — Nem o Centro de Contraterrorismo em Langley. Não gostávamos das companhias que ele mantinha antes de ir para Washington. E o Bureau não gostava de alguns dos projetos que ele estava financiando nos Estados Unidos. O
Departamento de Estado pediu, discretamente, para Riad achar trabalho para ele em outro lugar. E, para nossa grande surpresa, eles concordaram com nosso pedido.
— Infelizmente — falou Rousseau —, eles o enviaram a Paris. Desde o momento em que chegou, ele envia dinheiro e apoio saudita a algumas das
mesquitas mais radicais na França. Na nossa opinião, Rafiq al-Madani é linha-dura e um fiel radical. Também é bastante próximo de Vossa Alteza Real. Visita com frequência o château do príncipe, e, no verão passado, passou vários dias no iate novo dele.
— Imagino que al-Madani seja alvo de vigilância da DGSI — disse Gabriel.
— Intermitente.
— Acha que ele sabia que a filha de Khalid ia a uma escola do outro lado da fronteira, em Genebra?
Rousseau deu de ombros.
— Difícil dizer. O príncipe herdeiro não contou a quase ninguém, e a segurança na escola era muito fechada. O responsável era um homem chamado Lucien Villard. É francês, não suíço. Trabalhava para o Service de la Protection.
— Por que um veterano de uma unidade de elite como a SDLP cuidava da segurança numa escola particular em Genebra?
— Villard não saiu do serviço nos melhores termos. Havia boatos de que estava tendo um caso com a esposa do presidente. Quando ele descobriu, mandou demiti-lo. Aparentemente, Villard ficou bem abatido com o sequestro da menina. Pediu demissão de seu cargo alguns dias depois.
— Onde ele está agora?
— Ainda em Genebra, imagino. Posso conseguir um endereço se você...
— Nem se preocupe. — Gabriel contemplou as três fotografias dispostas na mesa.
— Em que está pensando?
— Estou me perguntando quantos agentes foram necessários para fazer algo assim.
— E?
— De oito a dez para o sequestro em si, sem falar nos que ficaram de apoio. E, ainda assim, por algum motivo, a DGSI, confrontada com a pior ameaça de terrorismo do mundo ocidental, deixou passar todos eles.
Rousseau retirou uma quarta foto de seu arquivo.
— Não, meu amigo. Nem todos.












