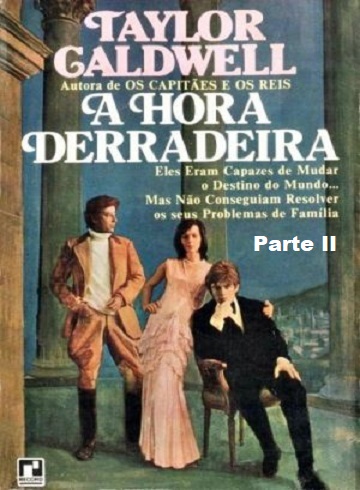A HORA DERRADEIRA / Taylor Caldwell
A HORA DERRADEIRA / Taylor Caldwell
.
.
.

.
.
.
— Lugar encantador! — disse o Conde Wolfgang Bernstrom, olhando ao redor. — Cada vez que o vejo parece-me mais maravilhoso. Sou um homem de sorte em alugá-lo de você para o resto do verão, caro Ramsdall.
Capítulo 12
Capítulo 20
Capítulo 23




Biblio VT




Não somente segue a tradição dos grandes trabalhos de Taylor Caldwell, A Hora Derradeira figura, muito justamente, entre os melhores livros da brilhante romancista.
Em A Hora Derradeira a autora faz um libelo contra a monstruosidade das guerras mundiais ao mostrar que enquanto o povo pensa em patriotismo — enviando seus filhos para a morte, em defesa da Pátria e de ideais e padrões em que foram criados — os poderosos, os políticos inescrupulosos e os fabricantes de armas desapiedadamente sacrificam essa juventude, visando apenas aos seus lucros.
Numa história portentosa, com um elenco de personagens notáveis, avultam as figuras de Henri, poderoso chefe do clã dos Bouchard — família que domina todo o livro; Celeste, bela e sofredora mulher; Christopher, seu irmão que nutre por ela uma paixão incestuosa; e muitos outros membros dessa família, pairando acima de suas vilezas a figura suave de Annette, toda doçura e abnegação, e Peter, fisicamente doente, mas um verdadeiro idealista, que deseja iluminar o mundo com a tocha da Verdade para salvá-lo do HOLOCAUSTO.
A Hora Derradeira é um romance que consagra definitivamente Taylor Caldwell como uma das maiores escritoras da atualidade.
Em A Hora Derradeira a autora faz um libelo contra a monstruosidade das guerras mundiais ao mostrar que enquanto o povo pensa em patriotismo — enviando seus filhos para a morte, em defesa da Pátria e de ideais e padrões em que foram criados — os poderosos, os políticos inescrupulosos e os fabricantes de armas desapiedadamente sacrificam essa juventude, visando apenas aos seus lucros.
Numa história portentosa, com um elenco de personagens notáveis, avultam as figuras de Henri, poderoso chefe do clã dos Bouchard — família que domina todo o livro; Celeste, bela e sofredora mulher; Christopher, seu irmão que nutre por ela uma paixão incestuosa; e muitos outros membros dessa família, pairando acima de suas vilezas a figura suave de Annette, toda doçura e abnegação, e Peter, fisicamente doente, mas um verdadeiro idealista, que deseja iluminar o mundo com a tocha da Verdade para salvá-lo do HOLOCAUSTO.
A Hora Derradeira é um romance que consagra definitivamente Taylor Caldwell como uma das maiores escritoras da atualidade.
.
.
.

.
.
.
— Lugar encantador! — disse o Conde Wolfgang Bernstrom, olhando ao redor. — Cada vez que o vejo parece-me mais maravilhoso. Sou um homem de sorte em alugá-lo de você para o resto do verão, caro Ramsdall.
— E eu — respondeu George, Lorde Ramsdall, um tanto secamente — tenho sorte em alugá-lo para você. Há uma epidemia em Cannes neste verão. — Parou e lançou um olhar de soslaio ao alemão.
Von Bernstrom encolheu violentamente os duros ombros militares, como se fossem feitos de madeira e não de carne e osso. Ajustou o monóculo e examinou o terraço com satisfação, antes de replicar:
— Há muitos boatos, meu caro Ramsdall. Muita histeria. Eu, pelo menos, não acredito em nada, não sei de nada, não ouço nada. Uma atitude bastante cômoda, que recomendo com entusiasmo. Por que antecipar um fato desagradável que provavelmente não acontecerá? Que desperdício de energia! É preciso conservar energias nestes dias turbulentos. É preciso estar prevenido, mas não demais.
Num sorriso, seu rosto pálido e árido enrugou-se com uma espécie de júbilo que realmente nada tinha de alegre. Seus olhos também eram pálidos e áridos com um curioso brilho nas retinas, como se feitas de mármore polido. Os cabelos brancos e finos eram cortados à moda Junker; o queixo era pontiagudo como uma espada, a boca fina frequentemente se abria num sorriso singularmente charmoso apesar de não possuir calor humano. Esse sorriso exibia dentes excelentes e brilhantes. Faces encovadas, como se tivessem sido espremidas: entre elas o nariz adunco e fino era agressivo possuindo, entretanto, transparência — como se feito unicamente de cartilagem e pele. Ele dava a impressão de não ser de carne, pela altura e magreza fora do comum; sob seus maravilhosos ternos de tweed inglês parecia haver apenas ossos aristocráticos. A apurada limpeza dos teutões nele era exagerada: ele exalava uma aura de sabonete, água fria, loção de barba e água-de-colônia, aura que ia até Lorde Ramsdall, através do vento morno e salgado.
Dizia-se que Lorde Ramsdall era impressionantemente parecido com Winston Churchill, a quem odiava com verdadeira histeria. Baixo, troncudo, rosto corado como o de um querubim, olhos azuis proeminentes, nariz em forma de um botão cor-de-rosa: aparentava amigável astúcia.
A cabeça grande e redonda era coberta por fiapos de louros cabelos desbotados, através dos quais seu couro cabeludo reluzia roseamente como uma careca de bebê, nada parecida com a do Sr. Churchill. Gostava de ser chamado Johnny Bull e procurava desempenhar essa caracterização com modos afáveis e calorosos, vasta e redonda gargalhada, modo vigoroso de falar e um sorriso aberto e cativante. Se tinha conhecimento de que sua única e amada filha Úrsula era chamada ‘a cadela de Cannes e de certos locais do Leste’, ou de que atualmente era amante do Conde von Bernstrom, não o demonstrava. Se era detestado e odiado na Inglaterra pela opressão que fazia aos operários de sua grande usina de aço (subsidiária da Robson-Strong) e se desconfiavam muito dele entre aqueles a quem se referia com desprezo como ‘vermelhos’, e também se o seu jornal — o London Opinion — era acusado de alcovitar a política pacifista do titubeante Chamberlain (com risco para o império britânico) nada disso era de importância aparente para o feliz e generoso nobre. Nessa linda manhã de 9 de maio de 1939 tudo parecia bem com George, Lorde Ramsdall, e ele aparentava ter apenas na cabeça uma suave afeição por von Bernstrom e um prazer simples porque o elefante branco, sua villa (que felizmente havia podido alugar ao jovem casal americano nos últimos cinco anos, por uma quantia bastante satisfatória), estava para passar às mãos de seu caro amigo — por um aluguel substancial.
Situada próximo ao mar, entre Juan-les-Pins e Cannes, a villa cintilava branca e fulgurante sob o brilho do sol de maio; cada uma de suas janelas francesas reluzia. Localizava-se sobre rochas castanho-escuras, mas três de seus lados ficavam sobre estreitas faixas de relva, frescas e aparadas, lindamente circundados por arbustos e canteiros de flores. Dava frente para o cintilante mar azul; o ar era doce, puro, salgado, e com a fragrância dos jardins. Tudo era tão tranquilo, tão suave e calmo que Lorde Ramsdall por momentos lamentou deixar Cannes quase que imediatamente pela poeirenta e suja Londres, onde tanta coisa deveria ser feita e sem demora. Pensando assim, lançou um olhar a von Bernstrom e fechou quase completamente as pálpebras.
O alemão parecia bem mais jovem do que realmente era, já que estava na casa dos cinquenta. Dava a impressão de não ter idade, como um falcão. Havia sido o mais jovem general do Kaiser na última guerra, mas recusava-se a ser chamado pelo seu antigo título.
— Não quero mais saber de coisas militares — dizia, com um gesto duro da mão ossuda. Desviava a cabeça estreita ao dizer isso e mostrava o perfil, perfil austero como se alguma coisa nauseante tivesse sido mencionada.
Ele jamais falara sobre o Terceiro Reich ou sobre Hitler, e se esse assunto fosse tocado em sua presença caía em silêncio soturno, retraído, desculpava-se e em seguida se retirava. Nunca, em momento algum, deu a impressão de ser contra ou abominar o regime atual de seu país, exceto através dessas pequenas manifestações. Que, entretanto, bastavam até mesmo para os ingênuos. Quanto aos iniciados, as atitudes e expressões de von Bernstrom causavam-lhes júbilo austero, embora secreto. Raramente visitava a Alemanha. Havia morado na França aproximadamente dez anos, num exílio aparentemente melancólico e reticente, um aristocrata que nem mesmo podia referir-se aos impostores vulgares, vagabundos e assassinos que agora infestavam seu país. Consequentemente — para as senhoras românticas em particular — ele era uma figura fascinante a quem perdoavam pela mulherzinha gorda. Na verdade, costumavam até esquecê-la. Seu caso com Úrsula Ramsdall era por elas aprovado, admirado, aplaudido. Se essa senhora havia anteriormente expressado a mais vitriólica paixão pelos nazistas, desde sua ligação amorosa com von Bernstrom ela havia mudado de opinião.
Havia também boatos persistentes de que suas propriedades na Prússia tinham sido confiscadas pelo onipotente Hitler como vingança contra a falta de entusiasmo pelo pintor de paredes austríaco, e que suas visitas à Alemanha, apesar de raras, eram perigosas para ele. Entretanto, para quem se dizia viver praticamente sem recursos financeiros, ele vivia bem, até mesmo perdulariamente. Ramsdall comentou uma vez, vagamente, que "talvez o sujeito haja aberto uma conta no Banco da Inglaterra, França e América". Em todo caso, nenhum negócio importante era realizado sem a presença de von Bernstrom, e ele era visto frequentemente no cassino, ganhando ou perdendo vastas somas com grande indiferença.
Se alguém de natureza desconfiada indagasse sobre o passado daquele fino aristocrata, salientava-se severamente que ele vivera algum tempo na villa do Barão Israel Opperheim, na Riviera, e que os dois eram grandes amigos.
Von Bernstrom caminhou pelo terraço maciamente, observando tudo com prazer discreto. Por uma janela aberta, espreitou rapidamente a sala de visitas cuja penumbra era convidativamente calma e fresca. Viu o brilho escuro dos assoalhos, o lustre de cristal, o vulto de um grande piano, a lareira de mármore branco. Havia flores sobre o vidro escuro de todas as mesas e sua doce fragrância enchia o ar tranquilo, como incenso. Ele deixou a descorada aspereza de sua expressão suavizar-se antecipadamente. Lorde Ramsdall o observava. Havia uma ponta de astúcia em seus lábios grossos e vermelhos.
— Ah! —- suspirou o conde. — Encantador! Encantador! Estranho como parece fascinante uma perspectiva, quando próxima de ser nossa! — Sua voz, suave e com sotaque apenas perceptível, era agradável. — Que gosto, meu caro Ramsdall! Você foi sempre conhecido por seu bom gosto, não?
Ramsdall inclinou a cabeça:
— Muito simpático de sua parte dizer isso, Wolfgang. Houve, porém, um toque feminino por aqui, sabe? Uma jovem de bom gosto, considerando que ela é americana.
Ouviram um barulho de passos suaves. O conde imediatamente recuou para junto de seu amigo no terraço lajeado e ambos fingiram estar enlevados em feliz contemplação do mar azul.
Uma jovem senhora, que entrara no salão, agora estava a uma das janelas antes de descer ao terraço, de pé junto à soleira, observando-os. O conde e Ramsdall voltaram-se com um olhar de agradável surpresa e prazer. Inclinaram-se.
— Espero não tenhamos chegado cedo demais, cara Sra. Bouchard, — disse Ramsdall —•mas como Wolfgang está para ser meu próximo inquilino, decidiu que gostaria de chegar um pouco adiantado. Regozijo, talvez.
A senhora sorriu timidamente. Estendeu a mão, que o conde tomou e levou aos lábios. Ele a examinou com verdadeiro prazer e cobiça.
— Tive um prazer e perdi outro, cara senhora — murmurou. — Ficaremos desolados com sua partida.
Como a senhora Bouchard e seu marido raramente recebiam convidados e pouco se importavam com os que se aglomeravam avidamente pela costa, a observação do conde foi absurda. Mas a jovem senhora não demonstrou surpresa.
— Muita gentileza, conde — disse ela, num tom de voz doce, mas indiferente.
O conde se aborreceu e, como sempre, irritou-se. Essas mulheres americanas! As mais lindas mulheres do mundo, com seios maravilhosos, lindas pernas e cinturas. Mas frias como a morte. Ele preferia as francesas, que sabiam mais sobre amor e sobre ‘safadezas’-. Adorava mulheres ‘safadas’. As americanas nunca eram ‘safadas’, mesmo as tolas apaixonadas expatriadas que se espremiam ruidosamente (em trajes requintados) em volta das mesas do cassino. Faltava-lhes maturidade, postura, graça, e suas imitações de libertinagem eram infantis. Quando exageravam, eram vulgares e desagradáveis. Ele desconfiava que houvesse nelas algo de puritano. O falso puritano era a criatura mais revoltante, pois não tinha gosto nem discrição.
A senhora Bouchard, entretanto, não era de forma alguma ‘pervertida’, pensou ele. Era, porém, como uma pedra, dura e rija como a morte. Uma linda estátua de carne congelada — o que era mais raro ainda, em se tratando de mulher tão jovem, com seus trinta anos. Mais propriamente feita para o amor e o mistério — continuaram suas reflexões. Ela havia morado naquela villa, naquele panorama, podendo ver e ouvir toda a sutil e deliciosa perversão da notória costa e havia permanecido — como a mulher de César — pura, distante e indiferente. Seria inocência ou repugnância? O conde não acreditava em nenhuma das hipóteses. Era simplesmente incapacidade de ser alegre, de viver, de sentir prazer. Sem dúvida alguma ela era imbecil, quase tanto quanto sua mulher alemã. Essa ideia abrandou-lhe a vaidade e ele passou a encará-la com mais afabilidade e até mesmo com superior piedade. Era estarrecedor ter morado aqui, diante da alegria, do prazer e do arrebatamento, por mais de cinco anos, e nunca haver experimentado um momento sequer de excitação e enlevo! Mas isso com toda a certeza por causa do marido inválido e de sua devoção a ele.
O grande e transparente nariz do conde contraiu-se com nojo. Lamentável o martírio daquela encantadora jovem com quem era, visivelmente, menos da metade de um homem! Ele, Wolfgang von Bernstrom, teria ficado encantado se ela lhe tivesse permitido aliviar o tédio dessa vida tão opressiva; ele e muitos outros... Porém, ela nunca permitiu que algum homem se aproximasse. Que devoção! Que estupidez!
Ele puxou-lhe uma cadeira branca no terraço e ela sentou-se. Os cavalheiros também se sentaram e sorriram ternamente para ela, que dirigiu um olhar indiferente ao alemão:
— Receio que este almoço venha a ser muito aborrecido — comentou ela sem o menor pesar. — Convidei apenas o senhor, conde, o senhor, Lorde Ramsdall, e o Barão Opperheim. Todos vocês são muito amigos e foram gentilíssimos com meu marido. Seremos então apenas seis: minha mãe, vocês três e meu marido, ninguém mais. Peter não tem passado bem ultimamente e não quis incomodá-lo, entendem?
— Minha cara, cara Sra. Bouchard! — exclamou Ramsdall, com expressão de afetuoso entendimento e lástima — claro que entendemos. Na verdade, foi muita gentileza sua convidar-nos. Somos gratos, garanto-lhe.
— Partimos amanhã — continuou a jovem senhora. — Faremos uma parada de alguns dias em Paris e em seguida iremos diretamente para casa.
Por um instante sua expressão foi reveladora, triste, melancólica e bastante cansada. Ela não desejava voltar para casa, pensou o conde. Quer dizer que não é completamente imbecil. Ele tinha a experiência de que as mulheres americanas muito ricas eram invariavelmente estúpidas e insensíveis. Mas aquela deliciosa criaturinha com enorme e incrível saúde tinha também momentos humanos de tristeza, insegurança e sofrimento. Ah! Se tivesse descoberto isso mais cedo! Talvez a tivesse corrompido pela alegria...
Ele a observava atentamente, sem trair sua análise. Ela era pequena e extraordinariamente bem-feita, de linda aparência, frágil e, a seu ver, magra demais. Excessivamente elegante, ele concordava. Quase sempre usava um fino vestido preto, muito simples, mas de feitio impecável, abrandado apenas por um pequeno colar de pérolas rosadas. Que pernas delgadas! Encantadoras! Adoravelmente curvas na panturrilha, afilavam junto aos frágeis tornozelos e minúsculos pés arqueados! Ela sentou-se graciosamente em sua cadeira, distante e despercebida de si mesma e provavelmente de suas visitas também. O conde deliciava os olhos com a fragilidade daquela cintura e a linha perfeita dos pequenos seios sob o tênue tecido preto. O olhar fixo do conde encontrou a alvura do pescoço onde as pérolas se moviam sob a respiração calma. Depois de um instante ele lhe olhou o rosto. Quão perfeitamente adorável, como era maravilhoso em sua perfeição!
O rosto pequeno e angular parecia esculpido em mármore, tão firmes e claros seus contornos, suas linhas e curvas. Ele não via imperfeição, violência, crueldade naquela escultura. Entretanto, havia uma espécie de rigidez em seus traços, uma dureza sutil que, para ele, era repelente, desumana. Tinha também aparência cansada, não muito tolerante quando reprimida e determinada. Aquela aparência se estendia à pequena boca vermelha e seus cantos profundos, em volta das narinas afiladas, e pairava numa espécie de fixidez empedernida na profundidade e beleza dos olhos azuis, onde as nítidas linhas pretas dos cílios pareciam curvas acetinadas de asas de pássaros. Os cabelos negros, muito sedosos, cheios de vida e de ondas lustrosas, eram escovados para cima — parecendo uma coroa antiga no topo da cabeça. Ornadas com brincos de pérolas, as pequenas orelhas eram brancas como alabastro transparente e ficavam completamente a descoberto. Ela possuía uma palidez luminosa, bastante vivida e sem o menor resquício de cor nas faces, cuja maciez e brilho suscitavam ódio e inveja a todas as mulheres que a olhavam.
Lembrou-se o conde que ela era de ascendência francesa, principalmente porque nas maçãs do rosto, na linha dos ombros, na pequenez dos pés e das mãos, na graciosidade de porte e atitude havia nitidamente um toque francês. Mas o espírito não era francês. Ela também tinha sangue inglês, o que justificava a fleuma, indiferença, frieza e discreta arrogância. No entanto, lembrou-se de que em uma ou duas raras ocasiões vira nela certo brilho, uma veemência contida, um sinal disfarçado e ansioso de calor humano, uma generosidade de temperamento imediatamente reprimida. Mais uma vez, sentiu doce piedade por ela. Como é deplorável tornar-se vítima ao serviço de um abominável inválido, um marido que aparentemente não era marido! Não era de espantar que a vida tivesse passado por ela...
Ele pensou naquele marido e a pele embranquecida de seu rosto enrugou-se como papel.
Nesse ínterim a jovem senhora e Lorde Ramsdall estiveram conversando com amável desinteresse, sobre absolutamente nada.
— Os empregados, logicamente, ficarão para o conde — disse ela. Hesitou: — Exceto Pierre, o cozinheiro, e sua esposa Elise. Eles me disseram que preferem voltar a Paris, se não encontrarem emprego aqui.
O conde voltou a si diante dessa catástrofe. Franziu a testa:
— Mas, Madame! Isso é impossível! Intolerável! Como poderei manter a casa sem eles? A senhora era invejada por todos pelo fato de possuir tamanhos tesouros. Isso é insuportável e inadmissível! — Voltou-se carrancudo para o amigo: — Meu caro Ramsdall, pensei que os empregados estivessem vinculados à villa.
Antes que Ramsdall pudesse responder, a jovem senhora olhou diretamente para o conde. Pela primeira vez havia nela um clima de agitação, como se estivesse indignada ou com raiva. Seus olhos azuis-escuros brilharam. Porém falou suavemente:
— Eles não têm nenhum vínculo com a villa. Pierre e Elise vieram comigo de Paris. É perfeitamente compreensível que, se eles não desejarem ficar depois que partirmos, poderão voltar para casa.
Mas o conde mal a ouviu. Fez um gesto brusco, ignorando-a como se ela fosse uma criança tola, uma intrusa, alguém a quem não se deve consideração. Arrogância e intolerância estavam implícitas na fria violência de seus modos. Ele apenas olhou para Ramsdall:
— Insisto em que essas criaturas fiquem. Como poderei continuar sem elas? Não aprovo sua partida.
A senhora Bouchard empertigou-se na cadeira. O rosto corou de repente:
— Não estamos na Alemanha, meu caro conde. — E sua voz se ergueu, clara e forte. — Pierre e Elise são livres cidadãos franceses. O senhor ‘insiste’ em que eles fiquem: é inacreditável! — Sorriu com raiva e desprezo.
O conde virou-se para ela, mostrando-lhe todo o ódio intolerante nos olhos, o desejo de domínio, a fúria de um homem não habituado à resistência, a ira covarde de uma raça cujos desejos jamais foram repelidos.
"Peter tem razão" — pensou ela. — "Eles são impossíveis! Perigosos! Venenosos!"
Ela continuou, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa:
— Quando Pierre me disse que voltariam para Paris, tentei substituí-los para o senhor. Amanhã, um casal belga vai procurá-lo para uma entrevista. Achei-os dignos de confiança e eficientes.
Ramsdall tentou persuadir o amigo. Inclinou-se solicitamente sobre ele e disse:
— Sim, sim a senhora Bouchard me falou sobre isso. Ela foi muito gentil, Wolfgang, em tentar substituir esse casal. Foi realmente muita generosidade sua. Não tinha obrigação de fazê-lo. Acho que o casal belga é na verdade excelente.
O conde cerrou o punho e deu um soco no braço da cadeira, provocando um barulho surdo e curiosamente violento.
— Não estou interessado nas ‘gentilezas’ de madame — disse ele com brutalidade. — Eu estava contando com Pierre e sua mulher.
A senhora Bouchard, com uma pequena exclamação chocada, apoiou-se, indignada e cheia de ódio, nos braços da poltrona como se fosse levantar-se e disse rápida e mordazmente, num fôlego só:
— Talvez lhe interesse saber, conde, que o filho do Pierre, Bernard, foi morto na Espanha. Capturado, torturado e depois assassinado por um oficial alemão.
Seus olhos azuis incendiaram-se; ela era muito branca. Os seios arquearam-se violentamente, como se por um sentimento reprimido. Olhou o conde e em seu rosto transpareceu uma emoção profunda.
Surpreendido por aquele olhar, ele caiu em silêncio profundo. Disse então desagradavelmente e com sorriso insolente:
— Ah! Nossos queridos Pierre e Elise são comunistas! Muito interessante! Por demais interessante!
Ela fez um gesto de repulsa:
— Absurdo! O senhor sabe que é absurdo. Os que detestam os fascistas são necessariamente comunistas? Meu marido os odeia! Eu os odeio! Eis por que vivemos. — Fez uma pausa, como se tivesse tomado consciência de sua impetuosidade vulgar, indiscrição, e impulsividade infeliz que a provocara. Quando a cólera sobrepujou a repressão, continuou ainda mais depressa: — O senhor me chamaria de comunista, conde? Porque odeio e desprezo essa sociedade de Cannes, corrupta e inútil, esses parasitas, essas criaturas desprezíveis que são coniventes com todos os fascistas que aqui chegam para seduzir os queixosos privilegiados de todos os países da Europa? Sou comunista porque detesto as mulheres da França, Espanha, Alemanha e Inglaterra sustentadas pelos políticos que se aglomeram por essa costa? Criaturas desprezíveis que venderiam a liberdade e a honra de seus países por camas macias, segurança e a garantia de suas contas bancárias? Se tudo isso me faz comunista, então tenho orgulho de o ser!
Eles a olhavam, pasmos. A criaturinha fria, requintada, a pequena estátua inumana encheu-se de vida, selvagem e indignada, cheia de paixão e ardor. O conde quase esqueceu suas palavras, tão intrigado e excitado ficou. Ele viu como lhe tremiam os seios, as mãos agarravam os braços da poltrona até ficarem brancas as articulações, olhos brilhando como metal em fusão. E ela voltou esses olhos primeiro para Ramsdall, depois para von Bernstrom, com desprezo e repugnância sugestiva e consciente.
— Minha cara Sra. Bouchard — disse Ramsdall apressadamente — o conde foi infeliz em suas palavras. Ele realmente não acredita no que disse. Tenho certeza de que a senhora sabe que ele está virtualmente exilado da Alemanha pois não pode suportar esse abominável impostor austríaco. — Tossiu e olhou disfarçadamente para o alemão. Von Bernstrom viu o olhar: era furioso e continha uma advertência. Mordendo os lábios, Ramsdall continuou: — Tenho certeza de que Wolfgang está de pleno acordo com a senhora. Falou impensadamente.
O nobre sorriu insinuantemente para a moça, que empalidecera demais e que permanecia sentada, em silêncio.
— Naturalmente ele se aborreceu quando soube que perderia o melhor cozinheiro de Cannes. Quem não se aborreceria? Devemos entender seu desapontamento, cara senhora Bouchard. Como sabe, ele pretendia oferecer na próxima semana seu primeiro jantar em homenagem ao mais ilustre, posso até dizer, real casal, e esse fato alterou seus planos. Um casal real em exílio virtual — acrescentou, lançando-lhe um sorriso significativo.
Ela ergueu a pequena mão num gesto desdenhoso. Foi um gesto eloquente que fez com que as bochechas gordas e enrugadas de Ramsdall enrubescessem de ódio. Ela disse suave e claramente:
— Sim, eu conheço esse casal. Não o permitirei nesta casa enquanto for a locatária. Ele é grande amigo seu, não, conde von Bernstrom?
Ele respondeu com dignidade sufocada:
— Realmente, madame, tenho muita honra em admiti-lo.
— Eu sei — disse ela gentilmente.
Agora os olhos estavam novamente vividos, cheios de coisas por demais assombrosas para serem ditas, mas completamente compreensíveis. Suspirou e afundou de novo na poltrona, como se exausta. Estava pálida demais; até os lábios estavam brancos. Parecia doente. Depois de instantes recuperou-se, e sua voz foi então seca:
— Os belgas vão satisfazê-lo. Contudo, não há obrigação alguma de sua parte de ficar com eles.
O conde recuperou-se da ira, pelo menos aparentemente. Disse brandamente e com ódio educado:
— Senhora, lamento, falei sem pensar. Sou-lhe muito grato. A senhora tem sido mais do que gentil. Nunca vi ninguém que tivesse pensado tanto no meu bem-estar.
Ela replicou, sem encará-lo:
— Tenho certeza de que esse casal real apreciará a comida.
O conde cumulou-a com excessivos protestos de gratidão.
Nesse ínterim, mentalmente acrescia outro item, relacionado com ela e seu ridículo marido, a um dossiê guardado entre documentos secretos em Berlim. Sorriu, lembrando-se daqueles itens — todos referentes às palhaçadas de certo Peter Bouchard, membro de uma família com quem o conde estava bastante familiarizado, bastante mesmo! Seu sorriso tornou-se mais amável e confiante à medida que exprimia outra vez seu arrependimento e gratidão. Percebeu que ela não o estava ouvindo e ficou bastante irritado: não estava habituado a mulheres tão insensíveis ao seu fascínio. Ela parecia mergulhada em pensamentos que a perturbavam, irritavam e revoltavam demais.
Ele disse:
— Embora eu não negue estar encantado em ser o próximo locatário desta villa, com prazer me resignaria se a senhora e seu marido, cara senhora, quisessem permanecer. Todavia devo supor que o senhor Bouchard recuperou a saúde e sente poder voltar ao seu país? É uma feliz notícia.
Ela veio à tona dos seus pensamentos e o fitou com o olhar puro e direto das crianças:
— Meu marido afirma sentir-se mais forte. Logicamente, ainda não se recuperou, não poderá nunca recuperar-se completamente do mal de seus pulmões, causado pelo gás tóxico durante a guerra. Mas agora deseja voltar para casa — fez uma pausa. — Acha que devemos voltar para casa antes da guerra.
— Antes da guerra! — exclamou Ramsdall, com um sorriso incrédulo. — Minha criança querida, não haverá guerra nenhuma.
— Sei disso por autoridade confidencial — confirmou o conde.
— Autoridade confidencial? — murmurou a senhora Bouchard. — Qual? De Hitler? — O tom de sua voz era tristemente satírico.
O conde deixou transparecer uma expressão de desagrado. Desviou abruptamente a cabeça, como sempre fazia ao se mencionar aquele nome ‘repulsivo’.
— Madame — falou rispidamente — devo protestar. Não, minha informação vem dos que têm a mente equilibrada e sensata.
— Apesar disso, haverá guerra — disse a senhora Bouchard. Sorriu estranhamente para o conde e ele percebeu aquele sorriso. Sua fronte pálida contraiu-se suspeitosamente:
— Seu distinto marido acredita realmente nisso? — perguntou — Como deve ser deprimente para ele! Deve feri-lo muito. Todos nós sabemos o quanto ele abomina a guerra. Seu livro The Terrible Swift Sword, (A Terrível Espada Veloz. — N. da T) revelação comprometedora sobre a indústria de armamentos, e as conspirações internacionais contra a paz mundial, foi muito popular na Alemanha. Ainda é excessivamente popular. Meus amigos na Alemanha assim me garantem.
Para ele, ela ficou inexplicavelmente agitada.
— Conde von Bernstrom, devo pedir-lhe que não mencione hoje esse livro ao meu marido. Isso o transtorna. Todo o seu significado foi deturpado. Ninguém o entendeu. Não foi apenas a indústria de armamentos que ele pretendeu denunciar. Esse fato foi o de menor importância para ele. Peter desejava chamar a atenção para a doença do mundo, o ódio, a crueldade, a maldade dos homens em todos os países. Desejou mostrar que as guerras não são causadas por apenas um grupo de homens, mas pela perturbação mental de todos os homens, em todas as partes. A indústria de armas serviu unicamente de instrumento para a insanidade mental. Aprovisionou-a. Sem a insanidade, acha Peter que não haveria a indústria de armas. As guerras são causadas pelo ódio e a corrupção das mentes de todos os homens: elas fazem com que eles percam a responsabilidade moral que tem cada um para com seu semelhante.
— Ele tentou mostrar — continuou ela, com genuína agitação que a fazia incoerente — que as guerras são a expressão da violência latente nos corações humanos. Ele chamou a atenção para o fato de que a guerra é apenas o prolongamento de princípios políticos, os mais primitivos e diretos prolongamentos e conclusões. Se ele odiava, e ainda odeia, a indústria de armamentos, é porque ela é, por si só, a expressão da cobiça dos homens que se aproveitam da fraqueza de todo o mundo.
O conde fingiu estar espantado com aquelas palavras impetuosas e incompreensíveis. Ergueu naturalmente as mãos e sorriu para ela, suplicante:
— Creio não compreender, cara senhora. É muito confuso! Já não foi dito ser a guerra a mais natural expressão do homem? Sem dúvida estava errado quem disse isso: tentaria simplificar uma situação complexa. Entretanto, existe alguma razão nessa observação.
Ela não se iludiu com aquela sinceridade:
— Afirma Peter que a intenção do cristianismo é sublimar os instintos humanos primitivos, pela consciência de suas responsabilidades morais. Hoje, ele acredita que o cristianismo tenha falhado. Não porque estivesse errado, mas porque é ignorado e deturpado. Em sua deturpação mais concentrada, o fascismo eclesiástico na Espanha, Itália e França, ele se tornou um horror, a morte e uma ameaça para a existência da civilização e da democracia.
Ramsdall a ouvia argutamente, com disfarçado e pressagioso sorriso:
— Tenho certeza — disse calmamente — de que os suficientemente inteligentes apreciariam os propósitos do senhor Bouchard. Sei que não tive dificuldade alguma. Nenhuma, mesmo. O senhor Bouchard pretende continuar seu trabalho quando voltar para a América?
Ela ficou absolutamente imóvel. Disse então depois de alguns momentos, claramente:
— Sim. — E os fitou com aqueles brilhantes olhos azuis. —- Ele tentará transmitir à América o que aprendeu aqui, o que viu, o que sabe. Antes que seja tarde.
O conde e Ramsdall trocaram um rápido olhar.
— Mas o senhor Bouchard mal saiu da villa! — disse Ramsdall especulativamente, inclinando-se um pouco até o peito tocar a barriga.
— Mas escutou — disse ela firmemente.
A mente de Ramsdall voou rapidamente para alguns anos atrás, quando conhecera os Bouchards. Tentou lembrar-se de cada homem e mulher que os tivesse visitado. Sentiu algo de sinistro no tipo daqueles que haviam sido convidados. Lembrou-se de que, naquela época, quando ele frequentava a casa, lá havia gente estranha e também pessoas a quem detestava e de quem tinha razões para suspeitar. Ficou alarmado. Sorriu tolerantemente, mas não disse nada.
Uma senhora idosa, franzina e curvada, de movimentos suaves e expressão gentil, entrou no terraço. Tinha um rosto gasto e enrugado, doce e triste, e grandes olhos castanhos cheios de sabedoria, cabelos brancos e sedosos. Vestia-se também de preto, mas um preto deprimente e desalentado. Os homens se levantaram e fizeram-lhe uma mesura. A senhora Bouchard beijou-lhe o rosto com profundo afeto.
— Como vai, Mama? — perguntou, num diapasão suave. —. Não muito cansada, espero, depois de toda essa arrumação.
Ela sorriu ternamente para a filha:
— Não, querida, estou bem. — Virou-se e olhou os cavalheiros, com expressão repentinamente muito fatigada e distante. Sentou-se na poltrona que o conde puxara para ela.
— Vamos sentir muito a sua falta, senhora Bouchard — disse Ramsdall, galantemente.
— Muita gentileza sua — murmurou ela. Olhou para ele firmemente, com aqueles olhos castanhos muito simples, inteligentes e ingênuos. Por um motivo qualquer, ele sentiu um calor subir-lhe pela garganta. Ela se virou para a filha:
— É quase meio-dia, querida. Não vi Peter esta manhã. Ele está bem?
— Sim, Mama — respondeu a jovem senhora Bouchard. —. Ele está de pé desde as oito horas. O Barão Opperheim está agora com ele. Estão juntos desde as dez horas.
O conde agitou-se ligeiramente:
— Desculpe-me, senhora. Disse Opperheim?
— Sim, conde. São grandes amigos, o senhor sabe, há já cinco anos. O barão vem muitas vezes aqui.
A expressão enrugada do conde permaneceu suave e apenas polidamente interessada:
— Claro. Foi estupidez minha esquecer isso. — Sorriu com prazer. — O barão e eu temos muito a nos dizer. Não o vejo há um mês. Quando lhe telefonei esta manhã disseram-me que já havia deixado o hotel.
— Ele tem estado em Paris — disse a jovem senhora Bouchard, indiferentemente.
A velha senhora Bouchard nada disse. Olhou demoradamente do conde para Lorde Ramsdall. Apenas ela vira a rápida troca de seus olhares. Sentiu um calafrio.
Não suportava aqueles dois. Seu olhar vagueou pelo terraço, listrado e pintalgado pela luz do sol. Olhou além do brilho azul do mar. Ouviu-lhe o som macio e sussurrante, viu a delicadeza das asas dos pombos que circundavam o golfo. Muito distante, uma vela branca dividia a água da pura incandescência do céu do meio-dia. Havia no ar um leve sussurro de folhas, um cheiro morno de grama, sal e flores. Quanta paz! Quanta serenidade e mansidão! Seu corpo se sentiu frio e muito, muito velho...
Voltou para a filha os tristes olhos castanhos e viu uma fixidez cansada naqueles lindos olhos azuis e nos cantos profundos dos lábios de Celeste Bouchard. Seu coração palpitou num desgosto profundo demais para ser expresso em palavras, pensamentos, ou mesmo lágrimas...
Capítulo 2
Em ondas de luz radiante o vento penetrou pelas janelas. Dali se podia ver o imenso e resplandecente azul do oceano, as escuras montanhas molhadas sobre as quais a villa se empoleirava, o deslizar cortante das gaivotas contra o puro e apaixonante céu da França. A paz e o tremulante brilho do meio-dia impregnavam o ar sereno, como uma bênção. Daquelas janelas não havia nenhum sinal da vida agitada e decadente de Cannes, nada além da purificação das águas, os gritos das gaivotas, e o suave farfalhar do vento.
Havia silêncio no quarto. As altas e desbotadas paredes e o teto luziam com brilho sombrio. Havia um reflexo ondulante nas frias e obscuras flores, nas formas dos simples, mas perfeitos móveis escuros, nos potes e vasos de flores espalhados nas mesas e na lareira. Num canto distante havia uma cama em forma de dossel preparada, como se esperasse alguém. No entanto, próximos às janelas, olhando para fora, para a serenidade e resplendor do verão, estavam sentados dois homens, em extrema quietude.
Não era, porém, a quietude da paz, da meditação tranquila. Coisas haviam sido ditas em voz abafada, atrás delas uma aura de amarga violência, desespero, desesperança, lamento impotente. Estendia-se o mais moço numa chaise-longue, um xale fino sobre os joelhos descarnados. A cabeça descansava num travesseiro arredondado, rosto virado para as janelas. Aquele rosto era branco e imóvel. Tão quieto como a morte, que parecia nunca estar longe dele. Era um homem próximo dos quarenta anos, de colorida palidez e formosura, cabelos sedosos e ralos. Sinistramente magro, o rosto parecia feito dos mais delicados ângulos, delicados, porém estranhamente fortes: salientes ou encovados, os ossos eram agudamente visíveis sob a magreza. Era um rosto gentil, severo, triste, reflexivo, e cheio de intenso intelecto. Sua atitude revelava profunda exaustão, mas também um espírito que não lhe permitia descansar a carne moribunda, de tão imbuído de paixão, coragem indomável e mágoa infinita. As mãos descarnadas, mas finas e pequenas, pousavam sobre o xale; e embora ele por muito tempo permanecesse calado, os dedos se mexiam, tremiam, convulsivamente cerrados sob o ímpeto de pensamentos tumultuosos. Fixos no mar, os olhos eram fortemente azuis e diáfanos, cheios de valor e destemidos, ardendo agora em louca infelicidade.
O homem sentado a seu lado era bem mais velho. Um homenzinho moreno, seco, enrugado, com uma barbicha acinzentada, careca. A expressão excêntrica e amarga, mas generosa e resignada, refletia-se nos grandes olhos castanhos fitos no homem mais jovem. Nele havia quietude, meditação, um sentido de grande sabedoria que contrastava visivelmente com a prostração agonizante implícita na atitude do outro. Ele pensou:
"Eles nunca aceitam, esses gentios. Seus clamores crescem tempestuosamente, e longe de seus desesperos abandonam tudo. Isso porque vivem no círculo do Hoje, na bolha do Agora. Atrás deles não podem enxergar o passado ou o futuro. Quem pode resistir sem a noção do ontem e do hoje? O desespero é prerrogativa da criança, mas a estupidez o é do homem. Sim, estou desolado. Na verdade, arruinado. Não vejo esperanças para mim. Mas não desespero. Que importância tenho eu? O amanhã não me pertence. E a vida ludibria os amanhãs, inevitavelmente, mundo sem fim. Por que o meu caro amigo não pode entender isso? Ele está absorvido com o hoje. Nele enxerga a imagem de todos os amanhãs. Mas o hoje, embora seja terrivelmente medonho e lance sua sombra ensanguentada no futuro, traz também uma esperança para esse futuro. O homem morre, mas a humanidade continua. Porém esses gentios creem que as agonias de cada homem são as agonias do mundo... sua morte, a morte do mundo. Estão presos por suas carnes intolerantes. Nós, pelo menos, temos uma visão mais ampla da humanidade, de sua diversidade, da obrigação moral de recuperar-se da angústia, da luz distante de outros sóis brilhando em seus rostos. Eu sucumbirei, mas meu irmão viverá."
O homem mexeu-se lentamente nos travesseiros e disse, em voz fraca, em alemão:
— Não consigo suportar, Israel! Não consigo! — Ergueu as mãos cansadas e entrelaçou-as numa convulsão reprimida: — Que posso fazer? Que pode alguém fazer?
O Barão Opperheim olhou para o amigo com piedade profunda. Esfregou o lado do nariz fenício e tossiu levemente. Murmurou algo. O homem virou-se para ele. O barão falou mais alto:
— Eu estava citando uma passagem de Egmont, de Goethe. Lembra-se do pranto de Ferdinand? "Devo apoiar e assistir passivamente... impotente para salvar-te ou apoiar-te! Que voz nos lamenta! Qual o coração que se não destroça ante tamanha angústia?!"
O jovem estava calado. Mas os olhos fixavam o outro com intensidade exausta e mortal. As mãos entrelaçadas apertavam-se.
O barão inclinou a cabeça e deu seu sorriso de esguelha e lamuriento. Mas o olhar permanecia compassivo quando disse suavemente:
— E Ferdinand continuou a dizer ao seu caro amigo Egmont: "Deves manter-te calmo, deves renunciar, levado pela necessidade, deves avançar para a terrível luta com a coragem de um herói! Que posso fazer? Que devo fazer? Deves conquistar-nos e a ti mesmo, és o vencedor; tu e eu sobreviveremos. Perdi minha luz no banquete, perdi minha bandeira no campo. O futuro para mim é negro, desolado, perplexo."
Silenciou um momento, depois sorriu ternamente. Inclinou-se para o amigo e repetiu, com suave insistência:
— "Deves avançar para a terrível luta, com a coragem de um herói."
De repente o jovem virou o rosto, para que o amigo não visse o que se passava em seus olhos.
— Goethe — continuou o barão ponderadamente — foi um grande homem. Até que esqueceu o mundo por si mesmo. Quando clamava por todos os homens, tinha a estatura de um gigante. Quando se lembrava apenas de si próprio, era um pigmeu. Quando lamentava os tormentos de todos os homens, sua voz era ampla como o vento. Quando começou a lamentar-se, a prantear sua impotência em voz intolerante, a bradar seus sofrimentos numa estridente voz feminina, então essa voz foi esmagada entre os próprios dentes. Não foi esse Goethe quem disse em Egmont: "Era meu sangue e o sangue de muitos corações bravos! Não! Ele não teria sido derramado em vão! Para a frente, bravo povo! E quando o mar irromper e destruir as barreiras que resistiriam à sua fúria, nós também esmagaremos o baluarte da tirania e em torrentes impetuosas o expulsaremos da terra usurpada. Eu morro pela liberdade por cuja causa tenho vivido e lutado, e para a qual me ofereço para mais do que um sacrifício doloroso."
Ele suspirou:
— Sim, Goethe foi um grande homem quando acreditou no poder de apenas uma alma. Foi um homenzinho perdido quando não mais acreditou nisso.
O homem mais novo entreabriu os lábios pálidos como se fosse falar e os fechou novamente. Rugas de sofrimento crônico lhe vincavam profundamente a boca.
— Você deve prosseguir. Deve falar. Deve prevenir, caro Peter. Nada deverá calar-lhe a boca, enquanto viver. A destruição está aqui. Mas não é irremediável. Ela não destruirá totalmente o mundo enquanto existir um único homem com uma grande alma. Você tem uma grande alma. Se apenas uns poucos homens o ouvissem, eles bastariam para salvar a humanidade. Lembra-se da história de Sodoma? Foi necessário apenas produzir alguns homens íntegros para salvar a cidade da justa ira de Deus. — Sorriu: — Certamente você não está só. Hão de existir no mundo dez homens como você, para salvar a cidade! — Riu suavemente: — Talvez Deus concorde. Talvez Ele esteja de acordo em poupar a cidade se apenas dez, se apenas cinco, se apenas uma alma virtuosa puder ser encontrada.
Peter Bouchard ergueu do colo as mãos entrelaçadas e respirou com dificuldade. Havia um som rascante em sua respiração, que vinha da alma e dos pulmões.
— É estranho! — continuou o barão. — Eu, como qualquer outro, jamais acreditei em Deus nos dias de paz e tranquilidade. Mas hoje creio. — Voltou a cabeça para as janelas e Peter viu seu perfil hebraico, sereno, meditativo, pesaroso, cheio de tristeza, mas bastante calmo. — Eu creio — repetiu.
— Porque não pode fazer mais nada. Como todos nós, você é impotente — comentou Peter com profunda amargura.
O barão virou-se rapidamente para ele. Os olhos vivos cintilavam:
— Não, não sou impotente! Creio em Deus!
Peter comprimiu as mãos sobre o rosto e os olhos, pensamentos cheios de mortal desprezo. Pois lhe parecia que o mundo dos homens era um mundo de ódio, no qual era impossível viver, dar o menor suspiro livre e feliz. Sentia a condenação suspensa sobre o mundo como uma espada. Sua sombra já havia caído sobre cada cidade, cada aldeia, cada oceano, cada rio, cada torrente. O fio a que ela estava presa balançava ao vento de uma fúria crescente. A condenação justa. Que se deixe a espada cair. O mundo merece isso. Coragem, ternura, honra, paz, piedade, justiça e clemência: mentiras! Não havia amor — nunca existira! Nunca! Honra? Oh! principalmente honra não havia! Apenas ódio. O mundo voltou-se sempre para ele com férreo clangor, eco condenatório da perfídia e da perversidade humanas.
Ele pensou:
"Não posso viver num mundo como esse, no mundo que está para vir."
As palavras do barão ‘Eu creio’ pareciam-lhe a essência de triste absurdo. Ele apenas podia lembrar-se das coisas que o barão lhe dissera. Perguntou:
— Você tem certeza, Israel? Hitler vai invadir a Polônia? Haverá guerra? Eu sempre disse que haveria guerra, mas dificilmente acreditava. Você me fez acreditar.
O barão acenou afirmativamente:
— Sim, caro Peter, haverá guerra. Quando Hitler atacará a Polônia não tenho certeza. Mês que vem? Agosto, setembro, outubro? Não sei. Mas será breve. Devemos aceitar isso.
— E a França? a Inglaterra?
— A Inglaterra entrará na guerra. Desta vez não ousará ignorar o desafio. Confio na Inglaterra. Sob a corrupção, deslealdade, pusilanimidade de seus líderes está o povo inglês. Sempre sob a cobiça dos poderosos permanece o povo. Em todo lugar. Não apenas na Inglaterra. Em todo lugar. — Olhou mais uma vez pelas janelas: — Até na França.
— Pode afirmar isso depois de tudo que vimos e soubemos?
— Sim, meu caro Peter. Mesmo depois de tudo isso. Quando os capitães e os reis partem com suas bandeiras e os enfeites de suas infâmias, o povo é abandonado no campo de batalha. Será ele finalmente quem vencerá, quem compreenderá, quem reconstruirá e enterrará os mortos. — Acrescentou suavemente: — Ele é que ouvirá a voz dos dez, dos cinco homens honrados de Sodoma.
Peter estava silencioso. O barão olhou-o com profunda piedade. Havia morte naquele homem tão jovem. Ela estava ali, nas sombras acinzentadas de seu rosto descarnado. Lá estava ela como uma luz espectral em sua fronte. Mas a voz ainda vivia. Podia ainda falar, e na loucura e no tumulto crescentes alguém a ouviria e dela se lembraria.
— Quando voltar à América, fale, escreva, não descanse nunca. Diga ao seu país o que sabe. Será odiado e ridicularizado pelos que conspiram contra seu povo. Será xingado de vários nomes. Que significa tudo isso para você? Em algum lugar alguns homens o ouvirão. Eles não esquecerão. Eles se lembrarão quando a tormenta estiver no auge.
Continuou:
— Eu não iria apenas a Paris, onde a decadência e o vício sobrevivem e tramam: iria por todo o campo. Falaria ao povo. Ele está perdido e aterrorizado. Confuso. Traído. Alguém precisa ficar sabendo disso. Eles sabem disso, em seus corações tolerantes. Eis por que estão assim tão confusos. Mas chegará o dia em que não mais ficarão confusos nem amedrontados. Em que perceberão quem são os que os traíram. Será um dia terrível. Mas será também o dia da força, da coragem e do valor. Pois o povo são os filhos daqueles que destruíram os direitos dos reis, o poder dos opressores, o domínio de um clero assassino e corrupto. Eles se lembrarão. Eles lutarão outra vez com os punhos de seus pais.
Peter nada disse. Mas olhava o barão com repentino estímulo nos olhos exaustos. As mãos erguidas permaneciam no ar, num gesto de extrema atenção.
— E na América — acrescentou o barão — também se lembrarão. Você deve ajudá-los a lembrar. A próxima guerra não será entre líderes, generais, reis, monstros e opressores. Será uma guerra entre filosofias. A filosofia da coragem, da vida, da liberdade, e a filosofia da covardia, da morte e da escravidão.
Um leve barulho de passos e Celeste entrou no quarto. O barão levantou-se rapidamente e curvou-se. Ela lhe sorriu, e a suave austeridade de seus lábios e de sua expressão suavizaram-se.
Debruçou-se sobre Peter e sentiu a temperatura de sua fronte. Ele virou-lhe a palma da mão e beijou-a. Ela lhe deu uma suave pancadinha no rosto e olhou-o com infinita ternura e ansiedade.
— Está se cansando, meu querido — disse ela. — Tem ânimo de descer para o almoço? — Fez uma pausa. — O Conde von Bernstrom e Lorde Ramsdall já estão aqui.
Peter olhou para o barão, que rapidamente lhe retribuiu o olhar:
— Sim, querida, estou me sentindo muito bem. — Parou um pouco. Olhou de novo para o barão: — Estou me sentindo muito bem — repetiu — na verdade, nunca me senti melhor.
Capítulo 3
Foi um almoço simples e delicioso, servido no terraço cheio de sombras de onde se avistava o mar e ouviam-se seus ruídos. O conde enfureceu-se mais uma vez com o fato de perder os excelentes Pierre e Elise — aqueles fazedores de milagres que haviam transformado um insípido pássaro num faisão assado por anjos do céu. Os pitus, a salada, os pãezinhos doces, estalando, os pequeninos petits-fours, o café ainda ajudaram a aumentar-lhe a raiva, pois permaneciam vivos em seu paladar. Sentiu-se bastante injuriado. Consequentemente, aumentou a ira contra os Bouchards, a quem obstinadamente culpava por sua perda.
Ele desejava demais Celeste Bouchard, mas agora sadicamente. No íntimo, sorriu com escárnio do seu marido. Um exemplo de pura decadência, sem dúvida alguma. Que mais se podia esperar daquele casamento consanguíneo? O conde estava bastante familiarizado com as ramificações da família Bouchard, aquela poderosa empresa de material bélico que dominou todas as outras existentes no mundo, e cujos dedos curvos e magros se apossaram de tantas indústrias aliadas. Esse Peter Bouchard: o conde meditava. Era primo em terceiro grau de sua mulher, nascida Celeste Bouchard. Reconhecia o conde que o casamento consanguíneo enfatizava traços positivos e eliminava os vulgares. Era só considerar a criação de cavalos. Porém isso inevitavelmente leva também à decadência, um apuro tão extenso que se torna tênue e implícito com o declínio. O pai de Celeste fora Jules Bouchard, esse velhaco brilhante e sem escrúpulos que se tornara lendário. O primo dele, Honoré Bouchard, era inteligente e íntegro. Era evidente haver legado tais qualidades ao filho mais novo, Peter. O conde fungou de novo. Inteligência e integridade! Atributos de tolos! Pura decadência.
O conde relanceou o olhar à senhora Bouchard mais velha, a viúva de Jules. Não uma autêntica Bouchard, mas como tantos outros aristocratas, ela também possuía essa aura de deterioração física e espiritual, comentou consigo mesmo. Ele próprio, refletiu, era um aristocrata. Porém a aristocracia germânica, devido à sua comparativa mocidade, ainda retinha a virilidade e a crueldade do bárbaro. Os franceses e os ingleses estavam velhos, acabados. Sorriu para consigo mesmo.
Adelaide, mãe de Celeste, misteriosamente ‘sentiu’ os pensamentos do alemão. Voltou para ele, relutantemente, os fatigados olhos castanhos. Ele percebeu-lhe o olhar, inclinou a cabeça cortesmente e com uma indagação. Ela se desviou em silêncio.
Lorde Ramsdall estivera fazendo-se agradável para sua anfitriã e o marido. Repetira que Cannes não seria a mesma após sua partida.
— Não posso acreditar nisso — falou Peter, que mal provara o almoço. Olhou para cima, e seus claros olhos azuis eram diretos: — Claro, é muita bondade sua dizer isso, Ramsdall, porém Celeste e eu não temos sido exatamente a vida da Côte... — Relanceou um olhar para a esposa e, por um momento, sua expressão se tornou triste e pesarosa: — Ficamos muito retraídos... ninguém sentirá falta de nós.
Como se lhe sentisse a tristeza, o pesar, o desgosto, Celeste procurou-lhe a mão, sob o punho de rendas, e a apertou calorosa e ternamente. Olhou para Ramsdall:
— Ingenuamente, não tivemos muito em comum com os turistas ou os residentes permanentes. Não demos importância às coisas que os atraem. Viemos aqui para descansar, acalmar-nos, e pelo clima.
O Barão Opperheim estivera muito silencioso durante o almoço. Contudo, seu velho rosto expressivo, moreno e inteligente, o mirar de seus olhos fundos e perspicazes, tão compassivos, pesarosos e gentilmente amargurados, pareciam ter contribuído muito para a desconexa conversa em torno da mesa. No momento, lentamente passeava o olhar por todos os rostos, e seus silenciosos comentários pareciam observações reais e audíveis. Chegou, por fim, à velha Sra. Bouchard e lhe sorriu. Seus lábios fizeram doce esse sorriso, doce e íntimo. Perguntou:
— Lamenta deixar-nos, senhora?
Sua fatigada abstração se aligeirou quando ela se voltou para ele. Aparentemente havia nele algo que despertava nela uma emoção profunda:
— A alguns de vocês — afirmou a senhora, voz cansada e gentil. — Especialmente ao senhor, Barão.
Ele inclinou a cabeça, agradecendo a gentileza:
— Gostaria de ir com vocês, querida amiga!
Peter se voltou para ele num fatigado alerta:
— Sim, gostaria de perguntar-lhe outra vez, Israel. Por que não pode ir? Seria fácil obter-lhe um passaporte. Eu... eu poderia fazer isso para sua filha, o marido e as crianças.
— Bem, muito bem! Pensa que esqueço? Mas para mim... não.
Calou-se, tocou a barba. Von Bernstrom ouvia atentamente, com uma expressão de afeto nas feições apergaminhadas. Falou:
— Israel não é alarmista. Não acredita, como o senhor, Sr. Bouchard, que haverá guerra.
O barão se virou para ele com branda, porém penetrante simplicidade. Seus olhos fitaram o amigo com fixa concentração:
— Pelo contrário, Wolfgang, creio que haverá guerra. Vai negar que também sabe disso?
— Absurdo! Absurdo! — gritou Ramsdall, vigorosamente, segurando o copo de vinho na mão atarracada. — Por que haveria guerra? Admitindo tudo que sabemos de Hitler, que é um louco paranoico, com manias de grandeza, que é um monstro, devemos também admitir que não é idiota. Ele sabe que não pode vencer. Buscará vitórias incruentas, tais como a de...
— Munique — disse Peter, e uma pálida contração lhe passou pelo rosto.
Ramsdall tossiu. Falou, gravemente:
— Sabe que nunca concordei com você, Peter, a respeito de Munique. "Paz em nossos dias." Que nobre frase! E não duvido de sua validade. — Recostou-se na poltrona e sorriu ao jovem: — Confesso que nunca entendi isso em você, Peter. Julgaria que você, acima de todos os outros, teria ficado deliciado com Munique. Você sempre odiou a guerra com uma paixão louvável e civilizada. Todavia, não ficou encantado. Nada disso. Explicou que...
— Disse e repeti vezes sem conta que Munique trouxe a guerra para mais perto do mundo que qualquer outro ato durante os últimos cinco anos — observou Peter, com impaciência febril. — Tivéssemos admitido a Rússia às discussões, tivessem Chamberlain e Daladier recusado ir a Berchtesgaden sem um representante de Stalin, tivesse estado aqui esse representante, não teria havido um ‘Munique’ no atual sentido da palavra. Quando repudiamos a Rússia assinamos nosso consentimento para a guerra. Agora, o sangue do mundo cairá sobre nossas cabeças.
Ramsdall sorriu indulgentemente:
— Tenho de discordar de você, Peter. Tivesse estado aqui o representante da Rússia, haveria guerra do mesmo jeito. Os bolchevistas estão desejando a guerra. Gostariam de ver nossa mútua destruição, para que pudessem assumir o controle. Qualquer estudante de História moderna sabe disso. Stalin nos instigaria para combate.
Hitler, depois se sentaria, sorrindo, vendo-nos cortar as gargantas uns dos outros. Mas fomos muito espertos para ele.
— Espertos demais... — observou Peter, com ênfase sombria.
— Agora, combateremos Hitler sozinhos.
— Drang nach Osten — murmurou o barão.
— Perfeitamente certo, caro Israel! — exclamou o conde. — Drang nach Osten. Se Hitler lutar, o que ele certamente não fará, atacará a Rússia. Não a Inglaterra, não a França, não a América.
O barão sorriu de esguelha. Esfarelou um pedacinho de pão entre os dedos morenos e lentamente relanceou o olhar em torno da mesa.
Peter suspirou, como se a conversa o fatigasse. Olhou para o barão:
— Mas falávamos de você, Israel. Por que não pode ir conosco? Ficaremos em Paris por algum tempo. Você pode obter um passaporte: esperaremos por você.
O barão balançou a cabeça:
— Para mim... não! É muito simples, mas ninguém compreende. O que aconteceu na Europa é culpa de todos nós. Seu julgamento será sobre todos nós. Sou um covarde? — Deu de ombros:
— Parece-me que sair daqui será a maior das covardias. Poderia eu haver ajudado a evitar esse horrível desastre? Poderia qualquer de nós tê-lo feito? Não estou sendo claro — acrescentou apologeticamente. — Todos somos culpados: ingleses, franceses, alemães. — Bateu na testa e depois no peito, significativamente: — Aqui e aqui é que jaz a culpa, é que o mal começa a florescer. Não em Hitler, não em Franco, não em Mussolini. Só aqui e aqui. Na alma. No coração. Na mente. Em qualquer homem. Correr e deixar a sentença cair sobre um companheiro pecador é covardia.
— Que poderia você haver feito? — gritou Peter, com impaciência. — Você, um judeu? Você, a primeira vítima?
Porém o barão olhou para Ramsdall, para o seu amigo von Bernstrom, daquela sua maneira direta e fatal. Respondeu a Peter, mas só olhava para aqueles dois.
— Que poderia eu ter feito? Poderia haver pensado com minha alma. Poderia ter-me voltado para Deus. Poderia ter tido fé. Eu, nós, não o fizemos. Há em Deus um estranho poder... — acrescentou, em tom suave e quase inaudível, e seu rosto se tornou velho e profundo sob a dor.
Os grossos lábios vermelhos de Ramsdall se franziram com deleite. Porém havia um brilho maligno em seus olhos, cheios de um desprezo hostil:
— Os judeus sempre recorrem a Deus quando falha o poder do seu dinheiro... — comentou.
Peter, sua esposa, sua sogra, o olharam, chocados. O conde fez uma careta.
Mas o barão inclinou a cabeça quase com humildade:
— Tem razão — murmurou suavemente. — Nisso diferimos de vocês. Vocês nunca cedem a Deus. Até o fim acreditam em dinheiro, em poder. Mesmo na forca, acreditam nele. Vocês nunca compreendem.
Ramsdall tossiu:
— Espero não o ter ofendido, Opperheim. Não tive essa intenção, asseguro-lhe. De certa forma, estava elogiando seu povo. Vocês cedem muito mais cedo que nós. Mas, francamente, não consideram isso uma grande covardia?
O barão sorriu e não respondeu. Suas mãos continuavam a esfarelar pão, e agora os movimentos dos dedos pareciam decisivos enquanto lentamente deixavam cair migalha a migalha de modo a formar um montículo como de cinzas.
Houve um silêncio em torno da mesa. A aragem forte levantou as abas da toalha de renda, reluziu na prataria. Havia no ar um forte perfume de rosas. O mar arremetia com um sussurro profundo, e a despeito da luz e do sol havia nesse fôlego cósmico rara qualidade agourenta.
O barão olhou a pilha de migalhas na toalha e, levados por sua atenção, os outros também a contemplavam. Ninguém poderia haver explicado o que tanto lhes atraía a atenção. Porém o montículo de migalhas parecia de importância enorme e-terrível para eles. Sentiam uma pressão na atmosfera, uma constrição no peito — mesmo Ramsdall, mesmo von Bernstrom.
— Quando criança tive uma babá — começou o barão, em voz macia. — Eu desperdiçava pão: era uma criança muito teimosa. Empilhava migalhas, assim. Era minha ocupação favorita. Certa vez ela me disse: "Quando se desperdiça pão, o pão sagrado, desse modo, a alma nunca terá descanso depois que deixar o corpo. Irá vagando pelo mundo até que a última migalha seja reunida fora da terra, fora dos estômagos das aves e dos animais, fora da água. Você vagará por muito tempo. Pois cometeu um grande pecado."
Ergueu a cabeça e pela última vez olhou vagarosamente para cada rosto.
— "Vagará por muito tempo." Logo o mundo estará cheio de almas procurando... Cometemos um grande pecado.
O conde acendeu um cigarro, com movimento gracioso, ainda que canhestro. Soprou uma coluna de fumaça azulada no ar luminoso e observou-a a enroscar-se. Seus pensamentos eram virulentos, e cheios de desdém. Porém mantinha uma expressão impassível e distante. Quando voltou a atenção para os outros, após um longo momento, o barão o observava, os olhos escuros atentos, expressivos, cheios de melancolia e profunda reflexão. Por alguma estranha razão, o conde sentiu-se imediatamente impregnado de raiva impotente e de aversão.
Ramsdall estirou-se desconfortavelmente na poltrona:
— Bem, quanto a mim, estou satisfeito em dizer que estou de volta à Inglaterra. Existem movimentos aqui na França. Confesso não gostar deles. Não gosto da implicação de julgamento aqui, recentemente. Na Inglaterra o clima é mais saudável, apesar de chover quase constantemente — e riu com simpatia.
Voltou-se para Peter:
— Você gostará de saber que pretendo continuar minha política de paz, no meu jornal. Sempre apoiei Chamberlain, que você não aprova, meu caro rapaz. Entretanto, creio que o velho excêntrico tem razão. Nada temos a ganhar com a guerra, mesmo que haja a mais remota possibilidade de tal catástrofe, coisa que não há. Seus artigos em meu jornal, Peter, eram muito louvados pelas pessoas previdentes. Podemos esperar por outros do mesmo tipo?
— Não! — disse Peter calmamente.
Ramsdall ergueu os sobrolhos ante essa impolidez. Adotou uma expressão esquisita e suspirou, inclinando-se para depositar as cinzas do excelente charuto no cinzeiro de prata.
Disse o conde:
— Se pensasse que ia haver guerra, meu caro Sr. Bouchard, eu deixaria a França imediatamente. Tenho amigos na Alemanha que me mantêm informado. Observe que estou perfeitamente à vontade na França. Não sairei. Permaneço. Isso não lhe significa nada?
— Sim — afirmou Peter.
Os olhos dos dois homens se encontraram e se sustentaram.
No silêncio ressoante que se seguiu à réplica de Peter, Celeste ergueu-se — e os cavalheiros com ela, todos exceto Peter, mantido em sua cadeira pela leve pressão da mão da esposa em seu ombro.
— Desculpem-nos, a minha mãe e a mim — disse Celeste, em sua voz suave. — Ainda temos que empacotar algumas coisas.
Estendeu a mão a Lorde Ramsdall, que a pegou calorosamente. O rosto da moça tinha o olhar fatigado de delicada severidade, porém o olhar era direto entre as negras pestanas curvas:
— Então é adeus, Lorde Ramsdall.
— Não, e sim ‘até à vista’, cara senhora Bouchard — replicou o homem galantemente. — Espero estar na América em outubro. Confio em que os verei então?
Ela sorriu brevemente, depois voltou-se para o conde, que levou sua mão aos lábios: então a severidade dela se tornou fixa e dura.
Sua mãe, Adelaide, recebeu em polido silêncio as observações de pesar dos cavalheiros. As senhoras saíram do terraço. Sua partida logo foi seguida pela de Lorde Ramsdall e do Conde von Bernstrom. O barão permaneceu.
Por longo tempo ele e Peter ficaram no terraço iluminado pelo sol, sem falar, mas contemplando o golfo onde o mar suspirava agitado.
— Será um dia infeliz para a França, se ou quando von Bernstrom se tornar um gauleiter — comentou o barão, cansadamente.
Peter se mexeu em sua poltrona, e bateu as mãos:
— Tem certeza, Israel? É este o plano? Inacreditável!
O barão deu de ombros:
— Tenho amigos na Alemanha que me mantêm informado — citou, com aquele sorriso triste e esquisito.
— Mas a França! A Linha Maginot!
— Disse-lhe inúmeras vezes, caro Peter, que mil Linhas Maginot não poderiam resistir à iniquidade do coração dos homens...
— Israel, tenho de perguntar-lhe outra vez: por que não informa Daladier, Bonnet, Renaud, todos eles? As autoridades? Que esse infame é um espião, um perigoso conspirador?
Novamente o barão deu de ombros e espalmou as mãos:
— Já lhe disse: eles já sabem. São indefesos, ou fazem parte da conspiração. Que fazer?
Peter gemeu:
— Digo-lhe que não acredito nisso! Deve ser engano! Isso é fantástico! É um pesadelo!
— É uma Noite de Valpúrgia! — concordou o barão. — O mundo está penetrando na longa noite! — E acrescentou: — A dança dos loucos! O carnaval dos palhaços! A folia dos assassinos! Ouça: pode escutar o lamento das flautas insanas, a batida dos terríveis tambores. O cenário está preparado. A assistência é o mundo, o mundo que pagou os atores e os chamou ao palco. Pagou seu preço para vê-los, com voracidade, ódio e traição. Ele deixará o teatro mergulhado em sangue. Seu próprio sangue.
Ele continuou, em voz tão baixa que Peter mal o ouvia:
— Não Hitler. Não Mussolini. Não. Não são esses os culpados! É o mundo inteiro! Não apenas a Alemanha. Não. Inglaterra, França, América. Esse o jogo que pediram. Esses os atores que chamaram. E que Deus tenha piedade de nossas almas!
Sua antiga e enorme doença apanhou Peter novamente, uma doença da alma, angústia e impotência da mente.
— Houve a Manchúria — falou o barão. — E Deus disse ao mundo: "Agora? Quer opor-se aos maus agora?" Porém os gananciosos responderam: "Não. Enriqueceremos com essa conquista!" Deus é paciente. Houve a Etiópia. "Agora?", perguntou Deus. Porém não, ainda não era agora. Houve a mesma resposta dos gananciosos, e os estúpidos choraram e gritaram: "Serei o guardião de meu irmão?" E houve a Espanha: "Oh!", gritou Deus, "certamente é agora? Olhem o sangue dos inocentes, dos corretos, dos justos, dos amantes da liberdade, pobres e honestos homens!" Porém os iníquos escarneceram, os gananciosos estenderam as mãos, os traidores se afastaram. E os estúpidos, como sempre, tremeram e ocultaram o rosto. Vieram depois Tchecoslováquia, Áustria, de suas profundezas, fora da Alemanha, veio o apelo de homens bons, homens inocentes, homens desamparados. "Mundo", falou Deus severamente, "é agora? Certamente é agora?" Porém houve apenas silêncio, ou gargalhar, ou gritos de ódio.
Deteve-se. Agora sua voz era solene, abafada, gélida:
— Virá outro dia. Muito em breve. E a voz de Deus encherá o universo como um terrível trovão cósmico, dizendo: "Homens, certamente morrereis, pois ignorastes o pranto de vossos torturados irmãos. A punição paira sobre vós. Esta é a hora final! Todos nós temos uma terrível e inevitável hora final, quando é preciso escolher entre as coisas pelas quais vivemos ou aquelas pelas quais morremos. A hora já está sobre vós. É AGORA. Deve ser agora, oh! geração adúltera e sem fé?"
Peter ouvia com atenção apaixonada. Perguntou:
— Será "agora", Israel?
O barão ergueu a cabeça e olhou para o céu. Juntou as mãos, como em prece urgente, humilde e profunda, murmurando:
— Creio, certamente creio: será AGORA!
Capítulo 4
Celeste e sua mãe ocuparam lugares de honra à mesa do comandante do íle de France. Era o comandante um bretão carrancudo, que não gostava do mar, e tinha particular aversão por passageiros ricos. Provinha de uma longa linhagem de pescadores, que consideravam o mar um imenso animal cuja existência podia ser tolerada apenas porque separava a costa da França da costa da Inglaterra, e continha peixes. Não tinha ilusões românticas a respeito das grandes águas; vira homens demais — inclusive seu próprio pai — morrer nelas. Segurança e alimento: isso o mar fornecia. Assim, tinha razão para existir. Mas não podia acreditar que uma de suas razões fosse proporcionar transporte luxuoso entre continentes para os vadios, os ricos e os viciosos. Usava-se o mar como um baluarte, uma necessidade. Usá-lo para recreação, cavalgar o topo de seus abismos aquosos e profundos horrores era para ele algo de amedrontador. Constantemente meditava sobre isso. À noite ficava na ponte, olhando o espumante negrume com ódio, impassível ante o fragmentado o caminho prateado da lua, ou a fosforescência que cintilava na esteira do navio. Em seu ódio havia medo. Mas os aloucados que dormiam, bebiam, dançavam, fornicavam e mentiam e comiam lá embaixo nada sabiam sobre ‘medo’ — exceto o medo de que os anos vindouros poderiam não ser tão bons para eles.
O comandante apertava os punhos e sorria sinistramente. Anos vindouros! Outrora fora primeiro-oficial num navio de guerra francês. Flexionou o braço. Não era velho! Ainda podia lutar! Com seu ouvido íntimo, ouvia o som oco das armas cavalgando as ondas como se fosse um urro de gigantes. Ah!, como lutara! O mar tinha outro uso além de segurança e alimento; podia levar as proas de navios de ferro até as entranhas do inimigo. Viu bandeiras contra o céu! O Boche! Como odiava o Boche! Quase tanto quanto odiava o mar. O Boche lhe parecia horror maior do que as águas, pois o Boche tinha mente e fazia o mal deliberadamente. Coração palpitando mais fortemente do que o fizera em anos, o comandante temporariamente se sentiu superior ao mar. Curvou-se sobre a ponte e cuspiu nele:
— Você é muito idiota! — dirigia-se a ele: — Não afunda os navios do Boche imediatamente quando ele embarca sobre você. Se você fizesse isso eu poderia suportá-lo. Poderia perdoá-lo.
Cogitou o quanto demoraria antes que o Boche se recuperasse e se pusesse a caminho pela antiga trilha de guerra. Ele, o comandante, tinha no cofre certo envelope selado, a ser aberto apenas em caso de guerra súbita. Que conteria o envelope? Que ordens? O escuro rosto enrugado do comandante tremeu. Receberia ordens para permanecer num porto neutro com seu navio? Isso seria mau. Sentia-se doente. Ou receberia ordens de render-se ao Boche — navio com toda a equipagem? Pensou nisso, incrédulo. Recordou que durante a última guerra nunca pensou semelhante coisa: pensar isso seria uma desonra, merecedora de morte. Mas nestes dias malignos tudo era possível. Não era desonra pensar coisas assim. Para o comandante isso parecia terrível. Considerava os inimigos ocultos da França, espreitando como lesmas loucas sob pedras, como víboras venenosas escondidas em pequenas tocas, sob samambaias, em lugares sombrios e úmidos. Esses inimigos sempre existiram, mas no passado não ousavam mostrar-se a menos que um tacão forte os esmagasse. Agora, esperavam. Não mais havia tacões fortes, ou estavam impedidos. Havia o clero, os que odiavam o liberalismo, esclarecimento e liberdade, sempre esperando com suas interdições, suas faces estreitas e venenosas, suas cruzes, suas correntes, sua crueldade e seu ódio. Havia os estadistas pusilânimes, os conspiradores, os servidores das mulheres roucas e venais, os covardes, os choramingas, as criaturas sem fortaleza de ânimo ou sem honra, os doentes, os mentirosos e traidores, os idiotas ricos que de nada se lembravam e odiavam sempre.
No que se transformara a França! Ele pensou em seus compatriotas que ele levara à América por simples diversão e depois trouxera de volta à França, um pouco mais tarde. Em suas sujas mulheres não havia sequer um prazer sadio. Eram podres de doenças; em seus olhos depravados não havia luz de alegria. Pensou nos gordos e morenos industriais, nos políticos, nos fornecedores de perfumes, nos diplomatas, nas costureiras, nos chapeleiros, nos autores de literatura elegante e obscena, nos jesuíticos cavalheiros enfraquecidos, impotentes e efeminados. Eram eles a França! Não!, disse o seu coração, com súbita paixão. Ainda havia o pescador bretão, o camponês em seu campo, o pequeno artesão, o homem na fábrica e nas minas. Ele os conhecia. A França estava morta e cheirando mal à superfície. Porém o tronco era sadio. Então se sentiu mal outra vez. Uma árvore sempre morre primeiro no topo. Quem, nesta situação desesperadora, cortaria com mão certeira a madeira podre, para que pudessem crescer novos ramos? Quem salvaria a árvore antes que a decomposição chegasse às raízes? Havia a bordo um prelado da Igreja, de rosto comprido e sinistro. Também ele se sentava à mesa do comandante. O comandante arrotou e pôs a mão no ventre. Não, não precisava do bismuto. Só precisava afogar o prelado. Depois poderia digerir adequadamente de novo...
Nessa viagem havia a bordo uma porcentagem extraordinariamente alta de americanos. Ah!, os ratos tinham ouvido o trepidar das madeiras da Europa! Pressentiram o fogo distante. Ouviram o pesado rumor das botas de ferro. Farejaram os eflúvios do gás tóxico. Assim, estavam de volta à sua pátria imensa e farta, onde poderiam esconder-se por trás de seus bancos e das barricadas de suas ações. Julgavam-se a salvo. Eram demasiado estúpidos para saber que, desta vez, ninguém estaria a salvo em lugar nenhum do mundo. As trombetas do julgamento estavam soando embaixo de cada muro do mundo. Já a argamassa ia sendo peneirada de entre as pedras, enchendo o ar de poeira sufocante. As grandes pedras gemiam enquanto se deslocavam desajeitadamente uma sobre outra. Oscilavam e guinchavam os portões. Poderiam esses idiotas, esses ricos vagabundos, imbecis inúteis, apodrecidos, ouvir e sentir tudo isso? Ele duvidava. Não, eles de nada lembravam, nada aprendiam, não pensavam nada. Não pensavam senão em sua carne, seus ventres, sua luxúria — homens e mulheres igualmente.
Talvez a ruína próxima fosse uma boa coisa. Talvez destruísse esses glutões vorazes, como paredes ao desmoronar destroem o cupim que as devora. As paredes de gesso e os dourados das catedrais cairiam, enterrando o mau cheiro dentro delas; os tronos dos reis, os tetos impregnados de mentiras do governo: também esses tremeriam no terremoto que estava a chegar. E quando a fumaça se retirasse das cidades arrasadas se descobriria que o fogo as purificara, as limpara de mentirosos, exploradores, assassinos, conspiradores e imbecis?
O comandante realmente odiava americanos. Pois eles se julgavam diferentes do comum dos mortais, e viviam em algum plano esotérico que podia estar em comunicação com o plano dos demais homens, mas não ser invadido por eles! Quando diziam: ‘Sou um americano’, sorriam presunçosamente, como se declarassem ser habitantes de Marte e da Lua — nada tendo em comum com a Europa e a Ásia — que respirassem outro ar, fossem pressionados por outra atmosfera, e seu ser fosse de outro tipo de carne e de outro universo, turbilhonando placidamente acima do mundo como uma nebulosa inexpugnável. Quem lhes disse isso?
Que mentirosos, que conspiradores, que traidores, em seu próprio governo, entre seu próprio povo, lhes transmitira essa mentira sobre sua morte vindoura? Existe apenas um mundo, apenas uma raça de homens. Se os americanos não aprenderem isso logo, logo, certamente morrerão. Pensou nessas tolas e tagarelas mulheres americanas a bordo do navio, as depravadas mulheres cheias de joias, com suas gargalhadas altas e agudas, seus homens igualmente desmiolados e complacentes, e rosnou uma praga.
Então se deteve. Lembrou-se das duas senhoras americanas à sua mesa, as Madames Bouchard. Porém essas senhoras eram bem estranhas, não eram como suas colegas americanas. Eram discretas, bem-nascidas, voz macia e educada, quase sempre silenciosas e retraídas. A mais jovem lhe recordava sua própria filha, que fora educada em um convento. Madame Bouchard possuía a mesma doçura, delicadeza e timidez, bem como o mesmo aristocrático orgulho. Ah!, e que fisionomia, austera e frágil, de contornos delicados, tão bela! Havia também sua mãe, uma grande dama. Sentiu-se mais benévolo e indulgente. Não havia conhecido muitas senhoras americanas tão distintas, mas talvez essas não fossem as únicas.
Depois, havia também o pobre Monsieur Bouchard, com a morte estampada na face, voz clara e firme, penetrantes olhos azuis-claros, integridade e honra. Não um americano típico. O capitão deu de ombros ao pensar no típico homem americano, que era ou obeso ou atlético, jogador ou apaixonado por cavalos e mulheres, ruidoso, dogmático, ignorante, egoísta, arrogante, acreditando que tudo estava à venda. (Mas... não estaria mesmo?, refletiu o capitão com ironia ácida.) Monsieur Bouchard não se assemelhava a seus camaradas americanos. Pena que só tivesse comparecido à mesa duas vezes nesses últimos quatro dias da viagem. Estava doente. Mas não tinha enfermeira, nem médico particular — embora sua família fosse uma das mais ricas do mundo. Nem tinha tomado o camarote mais luxuoso e caro. (Esse estava ocupado por uma americana cujo único título para a fama foram seus notórios adultérios, dos quais extraíra quantias verdadeiramente impressionantes. E tudo isso durante sua carreira de soubrette, nadadora, dançarina apenas vestida de leques, e oradora enfática no cinema! Na verdade, um país fantástico, essa América!) Não: a suíte ocupada pelos Bouchards era modesta: três quartos de dormir, uma pequena sala comum, e um banheiro. Diziam que a jovem Sra. Bouchard era enfermeira do marido, e que o servia com infinita devoção, essa, provavelmente, a razão para o aspecto cansado e a fixidez do olhar e da boca, e certa severidade na sombra azulada junto a suas delicadas narinas. O comandante suspirou. Esses não eram os expatriados habituais. Ouvira dizer que Monsieur Bouchard vivera na França por motivos de saúde. Se assim foi, não havia melhorado nada. A morte o andava rondando com seu sopro gelado. Mas podia-se compreender que um cavalheiro de tal gabarito estava de volta à América por alguma razão especial.
A jovem Sra. Bouchard não frequentara a mais simples festa durante a viagem. Não seria de esperar que comparecesse ao último baile, que se realizaria nessa noite. No dia seguinte chegariam a Nova York.
Tão jovem, tão bela, e tão sem luz, sem vida, sem alegria! Só aquela esquisita severidade de alguém unicamente dedicada ao dever. Quão pathétique!
Celeste bateu gentilmente à porta do quarto de Peter e, ante seu convite para entrar, pôs o rosto brejeiramente dentro do quarto e depois entrou, sorrindo brilhantemente. Peter estava na cama, seu remédio na mesinha-de-cabeceira ao alcance da mão. Sentava-se recostado nos travesseiros, pois não podia ficar deitado. Por vezes, durante a noite, a longa e solitária noite, Celeste podia ouvir-lhe a tosse até não suportar mais, tendo de cobrir os ouvidos.
A luz suave da lamparina destacava o encovado e a palidez de suas faces, a boca com sua sugestão de fanatismo intelectual, as olheiras, a testa resoluta. Devolveu o sorriso da esposa com fatigada paixão e amor, estendendo-lhe a mão:
— Alô, meu anjo! Veio dar boa-noite ao seu triste marido?
Para abafar uma revolta momentânea contra a débil autopiedade dele, ela se curvou e o beijou gentil e graciosamente:
— Alô, coitadinho! — falou, carinhosamente.
Sua voz suave o iludiu um pouco. Afofou-lhe os travesseiros, deu uma olhada ao reloginho recamado de pedras preciosas, serviu-lhe uma dose do sedativo que ele sempre tomava: habitualmente agia em cerca de quinze minutos. Ele o ingeriu obedientemente, a olhá-la ternamente. Depois ergueu-lhe as mãos e beijou suas palmas. Suspirou. Ela se sentou a um canto da cama. Seu rosto era belo em sua compaixão, sua coragem, e seu amor.
— Nossa última noite fora de casa — ela comentou. — Amanhã estaremos em Nova York. Que virá depois?
Ele estava silencioso. Ergueu a mão e tocou os lábios, tossindo automaticamente. Disse depois:
— Somos vagabundos sem lar. A que vida a conduzi! Planos?
Ela se curvou e levantou uma caixinha após outra em sua mesinha-de-cabeceira, examinando os conteúdos:
— Peter! Não tomou suas vitaminas ao jantar! Se eu não o vigiar constantemente, você se descuidará. Como uma criança. Bem, já é muito tarde. Amanhã tomará dose dupla.
Voltou-se para ele e tornou a sorrir:
— Sim, planos. Não sei. Podemos escolher uma meia dúzia de lares ou mais, de nossos queridos parentes. Preferiria o de quem, até encontrarmos nossa própria casa, ou construir uma? Naturalmente, levaria um ano para construir, e podemos circular entre a família, permanecendo até que nos expulsem.
Riu alegremente. Ele apenas sorriu distraidamente, olhando para longe dela.
Depois ele começou a falar com hesitação:
— Olhe, isto pode ser embaraçoso. Recebi hoje um radiograma de Henri, convidando-nos para ficar com ele e Annette em Robin’s Nest.
Ela ficou rígida de surpresa e choque. Mas não disse nada: apenas o observou atentamente.
Ele falou em tom mais alto, como a justificar-se, ou tentando quebrar a resistência dela — que julgava inevitável:
— Francis, Jean, Hugo, meus preciosos irmãos. Eu tinha uma espécie de predileção por Francis. Agora, não sei mais. Todos nos convidaram. Toda a família. Muito generoso e cheio de afeição por parte deles. Podemos ficar indo da casa de um para a de outro indefinidamente, até decidir o que fazer. Não gosto da ideia. Além disso, eles me enojam. Já lhe disse quanto desprezo a todos eles?
Teve um riso breve, que lhe acarretou um acesso de tosse. Celeste deu-lhe um copo d’água. Ele não viu que a mão dela tremia um pouco. Bebeu: cessou a tosse. Recostou-se nos travesseiros, aspirando exaustivamente, gotas de suor na testa e no lábio superior. Os olhos azuis estavam injetados. Ela o olhou, e seu coração frio foi retorcido como por dedos de ferro. Seu rosto estava tão pálido quanto o dele.
No súbito silêncio podiam ouvir o barulho do mar fora das vigias, as risadas e os passos de homens e mulheres no convés, o som distante de música de dança.
Ele falou de repente, olhando-a com sofrimento:
— Minha querida, que vida tem tido comigo! Que lhe dei eu? Era tão jovem quando nos casamos, pouco mais que uma criança! E era tão feliz antes de conhecer-me... Que foi que eu lhe trouxe? Cuidados para com um desprezível inválido, uma vida errante, desabrigo, noites sem sono, enfermagem constante. Você nunca teve um lar. E nunca teve um marido... — acrescentou em tom mais baixo, muito calmo, porém cheio de dor, e também de vergonha: — Como perdoar a mim mesmo? Desprezo a mim próprio!
A dolorosa ferida no coração dela aumentou, expandiu-se, até que toda a sua carne estava mergulhada em sua angústia. Recostou o rosto no travesseiro, ao lado do dele. Podia sentir-lhe o calor, podia ouvir o ruído rascante de sua respiração difícil. Beijou-lhe a face, os lábios... e lágrimas lhe saltavam, ardentes como metal em fusão.
— Peter, como pode dizer isso? Eu o amo tanto! Sempre o amei terrivelmente! Realmente, nunca me importou coisa alguma ou alguém, só você! Você me trouxe uma felicidade imensa, tão grande que odiei a mim mesma por fazer tão pouco por você. Tenho estado tão assustada! Não sabia ser tão covarde... Nunca acreditei em nada, de verdade. Mas desde que me casei com você, tenho rezado! Rezado de verdade. — Riu sufocadamente. — Você me fez ficar religiosa, querido.
Ele moveu a cabeça e apertou a face contra a dela com força febril, e suspirou repetidamente, o som triste parecendo vir de suas torturadas entranhas. Com ternura infinita, e sofrimento, alisou os negros cabelos no travesseiro ao lado dele...
— Tudo que tivemos foi tão, tão precioso! — ela sussurrou, sorrindo radiante nos olhos dele, rosto banhado em lágrimas. — Muito, realmente muito precioso. E tanto, que eu não trocaria isso por coisa alguma do mundo! É por isso que tenho rezado.
Ele continuava a acariciar-lhe os cabelos com seus dedos emaciados. Pensava: "Será melhor para ela quando eu morrer. Devo apressar-me. Devo fazer logo tudo que determinei. Isso feito, poderei partir. Será fácil partir. Mas devo apressar-me, antes que ela sofra demais. Antes que seja demasiado tarde para que ela refaça a sua vida, que eu quase arruinei. Ela ainda é jovem. Tem ainda tempo para ser feliz..."
O pensamento proporcionou-lhe uma alegria súbita, um súbito bem-estar. Um leve colorido voltou ao rosto lívido. Deu umas pancadinhas nas faces:
— Bem, as preces devem ter tido algum efeito. Neste último ano estive bem melhor. Sabe disso. Antes dos últimos doze meses estive praticamente acamado por dois anos. Agora, estou quase normal. Posso levantar-me por quatro... seis... horas por dia. Sairei do navio por mim mesmo. Deve contar-me a respeito de sua nova religião. Talvez eu também possa utilizá-la!
Ela sentou-se, enxugando as lágrimas e rindo um pouco:
— Oh! Peter, lembra-se de como o arrastei a Lourdes? Não foi ridículo? Não foi absurdo? Fazê-lo beber daquela água abominável, ajoelhar entre aquela mistura de pessoas diferentes, olhar para aquela estúpida gruta? Eu era tão determinada! Ajoelhei com você. Muitas vezes me perguntei por que me fez a vontade, indo lá...
Ele disse, sorrindo de leve, pegando-lhe a mão de novo:
— Mas isso lhe fazia tanto bem, meu anjo! Não era mesmo? Você parecia refrescada depois disso, cheia de esperança...
Ela balançou a cabeça, seu sorriso fazendo brilhar os alvos dentes à luz suave:
— Bem, havia todas aquelas muletas, e pessoas gritando que estavam curadas... Realmente casos sem esperança. E tudo que você tinha eram algumas manchas nos pulmões. Eu o considerei uma pechincha para os poderes místicos! Apenas algumas manchas. Era um trabalhão e tanto curar os aleijados, pensei, e os cegos e os surdos. Durante a distribuição sobrenatural, suas manchas apenas seriam um leve tremular do punho espiritual, mera bagatela de generosidade. E, por falar em esperança, você não tossiu durante dois meses depois disso!
Riram juntos, na plenitude do amor e das recordações.
— Psicologia — falou Peter afinal. — Você sabe, uma boa metade dos sofrimentos humanos vem da mente. Por fim sabemos disso, como os feiticeiros da selva e os supostos santos sempre souberam. A medicina moderna é apenas presumir, enquanto desgrenhados e arquejantes na retaguarda das bruxas e dos curandeiros pagãos. Talvez um dia isso se superará. Beijar a barra pétrea de uma estátua de Hera ou Juno, ou a imagem de Isis, ou as relíquias dos mártires e santos cristãos... tudo é a mesma palhaçada. O altar de Diana, a gruta de Lourdes. A mesma coisa. Supernaturalismo? Só o supernaturalismo, a incompreensão da alma e da mente humanas. E, talvez, o mistério de Deus, o que é provavelmente a mesma coisa. Sim, fui ajudado em Lourdes. Não se pode estar em presença da fé, mesmo a fé ignorante e supersticiosa, sem ser atingido.
— Percebi, rebaixei a você e a mim mesma — disse ela. — Parecia tão medieval... Repelente, repugnante, mórbido, supersticioso.
— No entanto, fui ajudado. Não podemos negar isso. Frequentemente tenho cogitado se não haverá localidades no mundo fortemente impregnadas do que chamamos ‘supernaturalismo’. O que provavelmente não é absolutamente supernaturalismo, porém o remanescente de desconhecidas e misteriosas cargas de força, força cósmica. Como depósitos de carvão, ou petróleo. Podem haver cristalizado, como diamantes, quando o mundo estava esfriando de seu estado de fusão. Que são tais depósitos de força oculta? Sabemos que o universo consiste em tremendas cargas atômicas de nêutrons e elétrons, que o que conhecemos como ‘matéria’ são apenas essas cargas, em fluxo constantemente, em movimento incrível. Os hindus jamais acreditaram em ‘matéria’, e inúmeros místicos tampouco. Acreditavam que ‘matéria’ e Deus são sinônimos. Quando me dei tempo para pensar, também acreditei nisso.
Ele continuou, reflexivamente:
— Na verdade, eu quase creio nesses depósitos cósmicos de força misteriosa em certas localidades do mundo. Exatamente como por vezes acredito que existam benevolentes depósitos de força oculta do que chamamos ‘bem’, também existem depósitos do que chamamos ‘mal’. E esse mal explode no mundo periodicamente como um vulcão ativo, atingindo todos os homens. Está explodindo agora. Pode-se senti-lo. A razão, como uma vela, apenas pode iluminar bem pouco. Porém por trás de sua luz tão fraca ouvimos estranhos ecos cósmicos, percebemos sombras de mistério.
Voltou-se para ela, rindo gentilmente:
— Bem, estamos ficando filósofos. Voltemos à superfície e às coisas como aparentam ser.
Hesitou:
— Chegou um cabograma de Henri. Pensei no assunto. Você e Annette eram muito chegadas. Gostaria de ficar com ela por algum tempo?
A expressão dela era impenetrável. Ele não podia perceber-lhe a agitação. Ela pensou: "Ele esqueceu. Muito sensato, claro. Como éramos tolos!" Disse:
— Recebi um cabograma de Annette nos convidando. Você vai rir de mim: pensei que ia recusar. Antigamente Henri era muito hostil... embora ele e Annette fossem gentilmente ao nosso casamento, e vocês apertassem as mãos, depois, com toda cordialidade.
Peter achou graça. Enquanto ria, parecia quase bem:
— Isso foi há muito tempo. Agora estamos mais velhos.
Deteve-se, e já não parecia divertido. Olhou-a com sinceridade:
— Vou dizer-lhe a verdade, minha querida. Sabe o que planejo fazer? Logo que possível, voltarei ao trabalho. Outro livro. Talvez vários. Você conhece meus planos. Por isso é que estamos voltando a Windsor. Devo estudar os Bouchards. Estudei os da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da Rússia. Sei o que têm feito. Sei que mãos movem o Departamento de Estado, os diplomatas americanos e estrangeiros. E sei de quem são as mãos mais fortes: de Henri.
— Mas, querido, nossa família não é tão onipotente assim! Sei que é muito poderosa. Porém não passa de uma organização. Não pode manipular o mundo inteiro tão facilmente...
— Você esquece suas ramificações. Esquece que está enredada com todos os homens de poder: na política, na indústria, no governo. Ela simboliza todos os homens de poder, os homens do mal. Ao escrever, deve-se confinar o geral ao particular. Não se pode abarcar toda a humanidade num simples livro: apenas se pode usar alguns caracteres, uns poucos incidentes. Uma sinfonia não contém toda a música. Mas sugere toda ela. Contém elementos de toda a harmonia escrita e ouvida. Henri é o mais poderoso dos Bouchards. É o ‘homem-chave’ dos ‘homens-chave’ do poder. Por isso é que desejo estudá-lo de perto.
Ela olhou o aro cintilante em sua mão esquerda. Balançou a cabeça, sorrindo:
— Isso não será um pouco traiçoeiro? Nós lhe aceitamos a hospitalidade, e você o coloca sob um microscópio! — E riu.
Ele a tomou a sério:
— Acha que seria desonroso? Se pensa assim, não aceitaremos seu convite. Eu não violaria mesmo o mais leve escrúpulo seu, minha querida.
Ela tornou a rir:
— Queridinho! Que falta de humor! Eu estava gracejando. Você tem seu trabalho a fazer. Sabe como sou devotada ao seu trabalho. Quase tanto quanto você. Farei tudo para ajudá-lo. Iremos, então. Telegrafarei imediatamente a Annette. Ela e Henri vieram a Nova York especialmente para encontrar-nos, e acho que foi muita bondade deles. Estão no Ritz-Plaza, informou.
Inclinou-se e beijou-o. O sedativo começara a agir. As pálpebras dele estavam pesadas. Havia em seu rosto exausto uma expressão de paz. Ele a observou deixar o quarto. Os olhos dele a seguiram com apaixonado enternecimento até ela desaparecer...
Capítulo 5
Sozinha, Adelaide estava à sua mesa de leitura, no seu quarto, quando a filha bateu maciamente à porta. Celeste entrou, sorrindo:
— Mamãe? Venho perturbá-la? — Trazia na mão o cabograma enviado a Peter.
— Não, querida — respondeu Adelaide, pondo o livro de lado. Olhou a filha com profundo carinho e tristeza. A moça estava tão pálida, tão contida, tão rígida que o coração de Adelaide doeu. Vivera na maior intimidade com Celeste e Peter durante os últimos cinco anos, porém agora conhecia menos a filha do que há catorze anos atrás, quando Celeste casara com Peter. Nunca havia a menor indicação do que ela pensava, naquele belo rosto de marfim, nenhuma centelha dos seus pensamentos mais profundos naqueles olhos azul-escuros. A tristeza de Adelaide era mais do que podia aguentar. Teria errado ao manobrar em favor desse casamento, julgando-o o melhor para Celeste? Certamente o casamento apenas trouxera dor e ansiedade para a moça, só temores e noites insones. Trouxera um amor profundo? No começo, Adelaide acreditara nisso. Agora, não tinha tanta certeza. Se tivesse havido um filho! Porém ela sabia, com a sutil onisciência de uma mãe, que pelos últimos dez anos, pelo menos, não tinha havido a possibilidade de um filho. Pensou na terna dedicação, nos cuidados pacientes e incessantes que Celeste dispensara ao marido. Certamente, isso devia ser amor! Mas, com Celeste, não se podia garantir. Havia nela um severo puritanismo, uma paixão pelo dever silencioso, pela mais dura autoimolação.
Muitas vezes Adelaide quisera gritar à filha querida, em lágrimas de angústia:
"Diga-me, querida! É feliz? Ama o pobre Peter? Não lamenta o que tem passado? Deve dizer-me, para que eu tenha um pouco de paz!"
Mas nunca pudera! Era uma velha agora, muito velha. Morreria em breve. Estava tão cansada... Porém nunca, mesmo que vivesse para sempre, arranjaria coragem para fazer tais perguntas. Se ouvisse a resposta, poderia expirar em uma convulsão de agonia cheia de remorso. Ora, ela podia ficar em paz. Não ousou correr o risco da primeira e terrível possibilidade.
Por vezes ela se consolava com a lembrança de que Celeste é que tomara a decisão final de desposar Peter, ela é que rompera o compromisso com o primo Henri Bouchard, cruel e friamente violento. Não havia fraqueza em Celeste. Sob aquela delicada atitude e gentileza havia um caráter firme como uma rocha, algo de duro, inflexível e determinado. Nada poderia obrigar Celeste a um casamento que lhe repugnasse. Sim, ela amara Peter. Disso Adelaide estava agora certa. Ainda o amaria? Ela, Adelaide, algum dia saberia?
Talvez Celeste sempre soubesse que essas perguntas atormentavam sua mãe. Talvez fosse a razão para o seu firme alheamento, seu olhar resoluto que desafiava Adelaide a intrometer-se impertinentemente, seu calmo afastamento quando a conversa parecia querer tornar-se íntima. ‘Até aqui você pode ir, não mais adiante’ — era a lei silenciosa de Celeste Bouchard. Adelaide não se sentira ferida por essa dureza. Apenas temia que Celeste não ousasse permitir nenhuma intimidade, pelo bem de sua própria alma, sua própria coragem, sua própria segurança. Ela fizera a coisa: casara com Peter. Tudo isso era irrevogável. Escolhera seu caminho, e o palmilhava brava e calmamente, não se arrependendo, não se desviando, nem ao menos suspirando.
Por vezes, com terror, Adelaide cogitava se Celeste teria amado Henri Bouchard. Oh!, nem ousava pensar nisso! Durante o noivado, ela, Adelaide, não podia pensar senão que Henri, com sua fria depravação, sua arrogância, sua força implacável, destruiria a moça. Violaria a virtude de Celeste. Agora, Adelaide não estava tão certa. Às vezes o terror a esmagava. Recordava sua parte na quebra do compromisso. Seria agora sua punição o observar o sofrimento paciente e sem queixas de sua filha? Não lhe seria dada oportunidade para descansar sua própria mente, oferecer consolação, simpatia e afeição? Para pedir perdão?
A desesperançada pergunta ainda lhe bailava na mente quando Celeste se sentou perto de sua mãe. Sorria seu habitual sorriso calmo e desmaiado. Usava uma fina blusa de renda preta, através da qual sua carnação muito alva brilhava como mármore. Seus lustrosos cabelos pretos estavam deliciosamente penteados, embora ela não tivesse camareira. A boca vermelha seria perfeita em sua face pálida e luminosa não fosse pela dureza nos cantos delicados, dureza provinda de longa paciência. Sacudiu o papel e riu um pouco:
— Sabe que vamos passar o verão em Crissons, Mamãe?
— Sim, querida — replicou Adelaide, com enternecido amor na voz trêmula.
Celeste riu e fitou o espaço. Seus olhos azuis-escuros estavam pensativos e um tanto satíricos:
— Acaba de ocorrer-me que não temos um lar absolutamente! Crissons é propriedade de Christopher, embora ele viva agora na Flórida e raramente pise lá. Deixe-me ver: há uns três anos que ele esteve lá. Muita gentileza dele oferecer-me Crissons.
— Você é irmã dele — disse Adelaide, retraindo-se como sempre que se mencionava o nome de seu filho mais novo. — Por que você não usaria Crissons? Afinal de contas eu contribuí para o mobiliário, embora o ache medonho!
Celeste sorriu:
— Sim, a casa é austera. Jamais gostei dela, por dentro ou por fora. Edith a odeia. Creio que ela se sente satisfeita porque ela e Christopher foram para a Flórida quando se casaram. Nunca os visitamos na Flórida. Poderemos fazê-lo, neste verão. Christopher nos convidou. O clima pode ser bom para Peter. — Calou-se. Ao falar o nome do marido, a tênue sombra de tristeza, como sempre, empanou-lhe as feições, fazendo sua calma oscilar e romper-se por um momento. Continuou, num tom ligeiramente mais firme: — Sim, poderá ser bom para Peter. Mas você sabe do antagonismo entre ele e Christopher. Ainda não lhe perguntei. Talvez seja melhor não falar nada a este respeito.
— Se vocês não quiserem Crissons, poderemos ir para Windsor, e ficar em Endur — falou Adelaide, esperançosa, lembrando-se de seu antigo lar.
Celeste deu de ombros:
— Não creio que Endur me atraia. Jamais gostei daquela casa, também. Além disso, Armand, o novo superintendente, não a alugou? Sim, lembro-me que ele me escreveu a este respeito.
Riu outra vez, sem alegria:
— Realmente não temos um lar! Os primeiros dois anos em que Peter e eu estivemos casados foram passados em Nova York. — Ergueu os dedos da mão esquerda e os contou com a direita:
— Depois, passamos quatro anos na Inglaterra, em Torquay. Voltamos a Nova York por um ano. Foi quando morreu o pobre Etienne. Ocupamos o apartamento dele. Que lugar fantástico! Depois, pensando que as montanhas poderiam ajudar Peter, fomos para a Suíça por dois anos, ou um pouco mais. Depois, Paris, por alguns meses. E então Alemanha, e Itália. Finalmente, Cannes, por cinco anos. Que horríveis expatriados somos!
Ela sorriu pensativamente.
— Por que não ficar em Nova York por algum tempo, e então você e Peter poderão escolher com calma onde preferem viver? — sugeriu Adelaide, apertando as mãos nodosas no gesto crônico de dor.
Celeste, sem responder, ergueu o papel dos joelhos e o estudou ponderadamente. Apareceu uma leve ruga entre seus olhos. Esteve calada por pouco tempo. Depois disse:
— Gosto de Windsor. Sinto que tenho raízes ali. Talvez porque seja praticamente infestada de Bouchards. Todos nós. Nós a possuímos, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. E financeiramente. Sinto-me importante em Windsor. Não inútil, como agora. Peter não disse que a odiava. Acho que, para ele, é perfeitamente indiferente. Também acho que ele poderia vir a amar a cidadezinha, como eu amo.
Estava calada de novo. Estudou o papel atentamente. Havia nele poucas linhas. Adelaide o reconheceu como o cabograma. Depois teve a sensação de que Celeste estava procurando ganhar tempo, de que, por uma vez, estava hesitante — ela, sempre tão resoluta.
— Isso é um cabograma, querida? — perguntou Adelaide, numa tentativa.
Ainda contemplando o papel, Celeste acenou que sim. Ergueu a cabeça e fitou sua mãe, quase desafiadoramente:
— Poderíamos ficar com Armand, ou Emile, ou Jean, ou qualquer um do resto de nossos numerosos parentes durante algum tempo, até nos decidirmos. Todos nos convidaram. Afinal de contas, Francis é irmão de Peter, e já tiveram algo em comum. Naturalmente, George nos convidou para ficar com ele e Marion na sua fazenda em Dutchess County. Eu não gostaria disso, embora ele e Peter sejam grandes amigos. Eu na verdade detesto Marion. Imagino se ela é tão sagaz como sempre... Lembra-se? Papai sempre falava por que ela ia por toda a danada da cidade com toda aquela ‘sagacidade’. Meu Deus! — acrescentou, após um momento — tenho estado longe por tanto tempo que não sei nada da família. Certamente teremos parentes mais jovens!
Com terror súbito e irracional, Adelaide pensou: "Ela está pensando em algo. Pelo menos uma vez, tem medo de falar nisso. Está hesitando!"
Obrigou-se a falar calma e indiferentemente:
— Bem, logo você saberá tudo a respeito de nossos parentes, ao voltarmos. Que decidiu fazer, querida?
Celeste tornou a fitar a mãe, que percebeu uma centelha de crueldade nos belos olhos da jovem mulher.
— Na verdade, entre a multidão de parentes existe apenas um com quem tive certa afinidade: Annette — referia-se à sobrinha, filha de seu irmão mais velho, Armand. — Sim, Annette. Éramos muito chegadas. E quase da mesma idade. Sempre gostei muito de Annette.
Então o terror acabou de cerrar-se sobre Adelaide. Annette, esposa de Henri Bouchard! Pobre pequena Annette, que quase morreu quando Celeste ficou noiva de Henri! Desde o casamento de Annette e Henri, Celeste os havia visto apenas três vezes em catorze anos, mesmo assim por momentos. Verdade que Annette e Celeste se haviam correspondido assiduamente, sempre, com afeição. Porém cartas não são contato pessoal.
Adelaide inspirou profundamente. Encontrou os olhos de Celeste, e seus lábios murchos ficaram secos.
— Está tentando dizer-me que realmente pensa em ficar com Henri e Annette em Robin’s Nest, Celeste? Você e Peter? Recordando ... tudo?...
Celeste ainda tinha os olhos fixos. Sua expressão era imóvel. Uma sobrancelha preta se ergueu de modo crítico:
— Oh! Mamãe! Isto é tão cansativo! Porque fui, há muito tempo, uma garota boba, e noivei com Henri, não quer dizer absolutamente nada. Foi há tanto, tanto tempo... Todos já esquecemos isso. ‘Recordando... tudo’, disse você. Tão melodramático! Que há para recordar, a não ser um pequeno engano? Estou certa de que Henri já esqueceu há muito tempo. Se você se lembra, ele não ficou inconsolável: casou com Annette quase imediatamente.
Adelaide forçou-se a falar em tom tão indiferente quanto o da filha. Mas sua voz estava bem fraca:
— Mas, por que Annette, querida? Afinal, há Emile, seu próprio irmão, e a esposa, Agnes. Emile é meu filho. Eu preferiria ficar com meu filho a ficar com minha neta e o marido.
Celeste a fitou com uma candura que era, no entanto, impenetrável.
— Bem, isso nos traz a um impasse, Mamãe. Não podemos, os três, desabar nas costas de nossos parentes, podemos? Assim, sugiro que você vá para Emile, ou para Armand, enquanto Peter e eu iremos para Annette e Henri até nos estabelecermos.
Adelaide, completamente sem fala, olhou para a filha. Seu rosto enrugado e triste pareceu deprimido. Pensou: ‘Exilei-me com você e seu marido, minha filha. Vagueei por todo o terrível mundo com você. Em sua esteira arrastei meus velhos ossos, querendo apenas estar com você, servi-la e ajudá-la, porque só a você amei, de todos os meus filhos. Porque você, de todos os meus filhos, é que tem integridade de caráter, honestidade, virtude. Eu assim julgava. Será possível que me haja enganado em todos esses anos? E está me recompensando por tanta dedicação com esse frio e cruel repúdio? Que estará por trás disso? Por que está fazendo isso comigo, com você mesma?"
E ela sabia que, uma vez separada de Celeste, nunca mais lhe seria permitido estar com ela. Será que Celeste compreenderia isto? Buscou o rosto da filha com doloroso fervor, com súplica apaixonada. Se Celeste compreendeu que estaria para sempre separada de sua mãe — estaria fazendo isso intencionalmente? E por quê?
Estaria ela amedrontada?
O pálido rosto macio à sua frente, com a firme boca florescente e os olhos quase violeta e polidos como ametistas em sua brilhante dureza, nada lhe disse. Mas Adelaide estava doente de medo, de terror.
Com um supremo e desesperado esforço ela chorou, estendendo-lhe as mãos:
— Minha querida, sejamos francas, por uma vez, em todos esses catorze anos! Você quer livrar-se de mim? Diga-me, honestamente! Eu lhe falhei de algum modo?
As feições de Celeste apenas expressaram uma surpresa impaciente:
— Mamãe! Como pode dizer isto? Você tem a imaginação fértil! Não seria a mais sórdida das criaturas se esquecesse o que tem feito por mim e por Peter? Que teria eu feito neste mundo sem você?
Adelaide se calou. Torcia as mãos. Olhou para elas, tão descoradas e cheias de manchas e de veias grossas, juntas ossudas. Ouviu um movimento macio. Celeste se ajoelhava a seu lado e punha os braços quentes e brancos em torno dos seus ombros, rindo um pouco, sacudindo-a carinhosamente:
— Oh! Mamãe, como pode ser tão tola! Olhe para mim. Não sabe o quanto a amo, minha querida?
Adelaide contemplou o rosto sorridente da filha e os olhos profundos, agora tão temos. Mas pensou: "Nunca foi tão indecifrável como agora..."
Uma horrível impotência se abateu sobre ela e um novo medo, mesmo quando beijava a filha e lhe apertava uma das pequenas mãos. Estamos falando através de uma vidraça, pensou. Isto não tem sentido real.
— Claro que sei que você me ama, querida. Sempre foi minha criança favorita. Dei o que pude. Pensa que esses anos foram fáceis para mim? Sou uma mulher idosa, muito idosa. Ando na casa dos setenta. Não viverei muito mais. Sabe — acrescentou, incoerentemente — tenho tanto medo! Sempre a achei muito vulnerável, querida. Os honestos e os virtuosos são sempre vulneráveis. Sempre tive medo por você.
Tomou o rosto de Celeste nas mãos, sentindo-lhe o calor e a textura aveludada contra suas trêmulas palmas. Segurou esse rosto em trêmulo desespero. Viu como uma fina película branca pareceu deslizar sutilmente sobre ele, ocultando todos os pensamentos, toda expressão.
— Ora, Mamãe, isso é tolice — disse Celeste, ligeiramente. Gentilmente afastou as mãos da mãe, apertou-as, levantou-se e voltou a seu assento. — Sabe, eu sou uma parada dura. Acho que nunca tive medo de ninguém. A não ser de Christopher, uma ou duas vezes. Porém era minha imaginação, já ultrapassei isso. Sabe, estamos fazendo tempestade em copo d’água. Aqui estou eu, sugerindo que aceitemos o convite de Annette, Peter e eu, e que você vá para a casa de Emile ou para a de Armand, seus próprios filhos, por algum tempo, até que nos instalemos. Francamente, pretendo não sair mais de Windsor. Nasci lá. Dúzias de Bouchards nasceram lá. Quero sentir-me novamente enraizada. Peter não poderá continuar a viajar por muito mais tempo. Não estou me iludindo. Provavelmente não estaremos com Annette em Robin’s Nest por mais de uma ou duas semanas. É melhor que um hotel, estou certa.
Aumentou em Adelaide o senso de desesperança, de confusão:
— Mas por que Henri e Annette? — tornou a insistir. — Já imaginou como Peter considerará isto? Você sabe como ele antipatiza com Henri. Sempre antipatizou.
Celeste riu outra vez, aquele riso instável e indiferente:
— Mamãe querida, isso foi há muito tempo! Se é que você se lembra, ele e Henri se escreveram várias vezes desde que estamos no estrangeiro. Cartas muito amigáveis. Acha que algum deles tem tido tempo para relembrar uma tola rixa romântica? Afinal, Henri está com cerca de quarenta anos agora, e Peter ainda é mais velho. Mamãe: você, como tantas outras pessoas mais velhas, vive agudamente no passado. Nós esquecemos tudo. Tudo, a respeito de nossa juventude e nossa adolescência. Era tudo tão idiota... Você esqueceu que Peter teve Henri como seu procurador para cuidar dos negócios dele enquanto estávamos fora, e que não pediu isso a seus próprios irmãos, Francis, Hugo e Jean? E você ainda vem com velhas armadilhas vitorianas, falando como os pais de Romeu e Julieta! Diga-me: isso não é tolice?
Acrescentou, com impaciência crescente:
— Tudo isso é um absurdo. Vou radiografar para Annette e Henri que aceitamos o convite deles.
Levantou-se, alisando as dobras do vestido de renda preta.
Adelaide pensou:
"Serei mesmo estúpida? Estarei fazendo um barulhão à toa? Estarei, como todos os velhos, pensando só no passado? A minha querida ainda é jovem. Esqueceu o passado."
Entretanto seu temor permaneceu. Pensou, com um sofrimento agudo:
"Essa menina está com medo. Mas, de quê?"
Capítulo 6
— Lá está ela, a queridinha! — gritou Annette Bouchard, na ponta dos pés para espiar por cima das cabeças ondulantes no convés do grande navio. Sacudia o lencinho de renda, atirava beijos.
— Celeste! Celeste! — chamou. — Olhe, Henri, lá está Peter ao lado dela, acenando. Ora, ele parece muito bem, Deus o abençoe. Celeste! — tornou a gritar, quase dançando de delícia, depois comportando-se. Mas sua satisfação permanecia, uma radiância em seu pobre rostinho, mais brilhante que o brilhante sol.
— Ela não pode ouvi-la, queridinha — disse Henri, indulgentemente. — Sim, ela viu você. Mas não grite tanto.
Ele se voltou para Rosemarie Bouchard, de pé ao lado dele, e sorriu ligeiramente. Rosemarie devolveu o sorriso com uma curva dos lábios vividamente pintados, e um pestanejar de desdém. Passou por trás de Annette, pequena e agitada, pegou a mão dele, apertou-lhe na palma a unha pontuda do dedo mínimo. Ele fez uma careta de dor fingida. Ela simulou um beijo exagerado.
Segundo as ramificações do clã dos Bouchards, Henri e Rosemarie eram primos distantes. O pai de Henri fora François Bouchard, irmão de Jules Bouchard, ambos primos de Honoré, avô de Rosemarie. Assim, Rosemarie era também vagamente prima de Celeste, como Jules — o pai de Celeste — fora primo do avô dela. (O pai dela, Francis, era primo em segundo grau do falecido Jules.) A avó de Rosemarie, e falecida Ann Richmond Bouchard, fora excelente genealogista, e mantivera gráficos do parentesco da família. Porém agora ninguém se importava. Era por demais complexo. O nome de família, mais do que o parentesco, é que mantinha o clã consolidado. Antigos retratos de família se alinhavam nas paredes das residências de todos os Bouchards, porém era por demais complicado traçar as linhas de descendência e intercasamentos, e da progênie resultante. O nome e o ódio mútuo eram melhores para a unidade que reminiscências de sangue. Mesmo as senhoras que entraram a fazer parte do clã pelo casamento, embora perfeitamente amigáveis e afeiçoadas no começo, invariavelmente cedo absorviam o orgulho e o ódio e superavam os Bouchards. Estelle Carew, mãe de Rosemarie, fora de início uma agradável e sadia criatura, sem odiar ninguém. Agora ela apenas antipatizava com os Bouchards — de modo que era, aparentemente, uma mulher sem caráter sólido.
Phyllis Bouchard, irmão de Rosemarie, casara com o filho do Morse National Bank de Nova York: assim era designado pelos Bouchards, embora seu pai tivesse o nome de Richard Morse. Phyllis tinha agora quatro meninas. Embora a família Bouchard fosse episcopal há muito tempo, Phyllis (casada com um provisor presbiteriano) subitamente se convertera ao antigo catolicismo do clã dos Bouchards, e suas filhas andavam com cruzes recamadas de pedras preciosas, medalhas e escapulários, fizeram a primeira comunhão, e frequentavam colégios religiosos. Tudo isso para divertimento dos Bouchards, que consideravam Phyllis uma idiota afetada, cheia de romantismo. Lembravam-se dela como o ‘pastelzinho’ — apelido posto por Christopher — e a abrupta conversão de Phyllis os divertia continuamente. De uma moça turbulenta e irreverente tornara-se uma matrona empertigada e carrancuda, diligentemente devota, e rancorosamente fanática em sua nova religião. Se alguém mencionasse a Igreja Romana com a mais leve indiferença ou ridículo, ou o mais remoto desdém, ela ficava completamente histérica, sua voz tremia, tornava-se rubra, os olhos negros faiscando com o que Henri chamava ‘a luz do auto-da-fé’. Estava constantemente brigando com os parentes, tentando convencê-los da ‘verdade’, orando por eles com ódio virulento, fazendo novenas por sua conversão, e pagando quantias tremendas de seu próprio dinheiro e do de seu marido por missas pelas almas de seus antepassados, agora penando no Purgatório — esperando remissão via dinheiro dos Bouchards. Embora os Bouchards odiassem todos os demais membros da família, Phyllis os odiava a todos com adequada crueldade e arrebatamento. Eles a engodavam, a arreliavam, quando de bom humor. Ela os aborrecia completamente, quase constantemente.
Rosemarie, embora atraente, era desagradável; muito elegante, muito francesa. Cursava a escola na França. Agora falava com sotaque francês, pura afetação, muito divertida para os Bouchards. Sua voz era áspera, elegantemente rouca — embora em momentos de tensão ela esquecesse, e lhe permitisse voltar a ser estridente. (Certa vez — distraidamente e à moda irlandesa, franca e direta — sua mãe a avisou, durante uma reunião de família, que ela acabaria por arruinar suas cordas vocais por compressão — pelo que a filha jamais a perdoou. Quando sua voz estava mais rouca, a família costumava murmurar algo a respeito de ‘compressão’, palavra calculada para tornar a jovem completamente violenta.)
Era alta e esguia, porém com esbeltez. Usava com classe suas roupas elegantes e simples, de modo que o olho do observador ficava fascinado. Parte desse fascínio se devia a seu magnetismo pessoal, pois era espirituosa, discretamente obscena, cheia de réplicas originais, e de humor. Era, também, excepcionalmente inteligente e dissimulada. E esperta demais para ser cínica, atributo do eterno adolescente, e não confiava em qualquer homem ou mulher, o que não evitava que tivesse muitos admiradores. A humanidade sempre a divertia; ela a desprezava mais do que a odiava, já que a achava constantemente divertida. Raramente admirava alguém, não sentia afeição por ninguém, embora fosse capaz de fogosa e feroz paixão — como Henri Bouchard descobriu havia pelo menos cinco anos. Desleal, traiçoeira, brilhante, maliciosa, até venenosa por vezes, nada sentimental, insensível e gananciosa, e, como todos os Bouchards, intrinsecamente egoísta, ela variava ao infinito, e nunca era monótona.
Aproveitou muito suas características desagradáveis, até que se tornassem fascinação. Os cabelos escorridos, como os de uma índia, eram sempre severamente penteados, escovados para trás, bem lisos num preto-azulado passando por trás das orelhas, e enrolados num coque na nuca. Chegavam-lhe aos joelhos. Sua trisavó, Antoinette, mulher do fundador dos Bouchards, Armand, fora italiana: talvez aí a explicação para sua tez cor de oliva, os maldosos olhos negros pequenos, porém vivazes, e o longo nariz mouro de narinas móveis. Tinha boca ampla e fina, que pintava parecendo uma vívida cutilada, e espessas sobrancelhas negras sob a testa baixa. Estava sempre em atividade constante, mesmo quando aparentemente serena. Sua expressão astuta, cintilante, cautelosa, divertida e desencantada, dava-lhe ao rosto desgracioso, mas atraente, um aspecto alerta e de forte malícia. Fora uma das inúmeras amantes de Henri durante pelo menos quatro anos. Estava agora com vinte e sete, e não encontrara ninguém com quem gostasse de casar, exceto Henri, que parecia firmemente unido a Annette.
Ela sabia que Henri não amava a esposa. Única, talvez, entre os Bouchards, sabia que ele ainda amava Celeste: em consequência, ela odiava Celeste com paixão selvagem. Fora a Nova York a compras, e a inocente Annette a convidara para acompanhá-los ao cais, para receber os expatriados. Não fora capaz de resistir ao convite, desejando ver a reação de Henri à vista de Celeste. Tanto quanto pudera discernir, as maneiras dele foram absolutamente calmas e indiferentes.
A excitação de Annette aumentou. Mal podia conter-se. Chilreava e esvoaçava como um passarinho agitado. Estava agora com cerca de trinta anos, mas nunca perdera sua aparência infantil, sua imaturidade de corpo. De pequena estatura e franzina, sempre com um jeito suave e tímido, caminhava tão gentilmente e de ombros curvados de modo que dava uma impressão de deformidade. Mas não era em absoluto deformada: é que seu corpo era todo delgadeza e fragilidade. Nunca pôde usar roupas sofisticadas: teriam parecido absurdas sobre seus delicados ângulos e busto apenas vagamente formado. Por isso era obrigada a usar estilos infantis, bonitinhos, enfeitados de fitas, fofos, que a faziam parecer ainda mais imatura do que realmente era. Podia-se apostar que mesmo em idade avançada ela conservaria a infantilidade de feições. Quando ria, era como que se desculpando e suplicante, e olhava para os outros com timidez de avezinha e gentilmente amedrontada, pois era uma alminha terna, toda doçura, castidade e bondade. Tinha um rostinho triangular, muito alvo, alquebrado de sofrimento (estivera tuberculosa na adolescência). A boca pequena, o nariz de porcelana, as linhas do queixo, da testa e das faces eram insignificantes, porém possuía os mais extraordinários e imensos olhos azuis-claros, cheios de luz, e angelicais em sua pureza. Tinham a íntima radiância dos puros de coração, sem astúcia ou crueldade. Seu pai a chamava ‘Anjo’ — como o fazia o marido nas raras ocasiões em que ela o tocava fundo, e despertava sua compaixão quase moribunda. Os cabelos cinzentos, com brilhantes ondulações, foram cortados e lhe enquadravam o rostinho em anéis como o de uma criança.
Nenhum dos Bouchards podia odiar essa pequena e doce criatura, que não pensava mal de ninguém. Apiedavam-se dela, alguns até a amavam. Rosemarie apenas a desprezava de modo indolentemente afetuoso. Ela era a queridinha do pai — que não amava a ninguém, só a ela — e era amada até pelo maléfico irmão, Antoine, de quem diziam, rindo, ser a reencarnação do letal e elegante Jules, seu avô.
Ao lado da morena e elegante Rosemarie, em seu fino costume preto de linho, Annette estava mais infantil que nunca em seu franzido vestido branco e amplo chapéu de renda branca. Sua cabeça mal chegava acima dos ombros do marido, que não era nenhum gigante.
Se Antoine, irmão de Annette, era a reencamação de Jules, Henri Bouchard era a reencarnação de Ernest Barbour, seu bisavô, o real fundador, o verdadeiro espírito da grande firma de armamentos agora chamada Bouchard & Sons. Entroncado, largo, ombros fortes, calmo e imponente de movimentos, ele dava uma impressão de força inexorável. Tinha uma cabeça extraordinariamente grande para um homem com a sua altura, e isso, combinado com topete de cabelos claros (não se podia dizer se eram cinzentos, ou meramente descoloridos), lhe dava uma aparência de perenidade. Tanto poderia estar no começo da casa dos trinta como com cinquenta. Na verdade, estava com cerca de quarenta anos. Seu rosto, também largo, era quase quadrado, com vincos fundos em volta dos lábios pesados, quase brutais. Tinha o nariz curto e grosso de Ernest Barbour, com as largas narinas grosseiras, e seu rude queixo quadrado com covinha funda. Os olhos, no entanto, é que eram a característica dominante. Pálidos, fixos, implacáveis, com brilhantes pupilas negras, eles fascinavam o observador e o enchiam de medo. Quando sorria, não passava de uma convulsão de seus lábios. Os olhos nunca sorriam. Possuía um corpo compacto e vital, com toda essa solidez. Suas roupas eram invariavelmente excelentes, bem-talhadas. Seu velho amigo Jay Regan, o mestre financista do mundo, declarou que Henri parecia incongruente em roupas modernas. Precisava do casacão de couro, das pantalonas, da gravata enrolada no pescoço e dos babados de seu bisavô para estar vestido apropriadamente. Sua voz era calma, firme, indomável.
Ele era a força dos Bouchards. Seu sogro, o gordo, corpulento, irresoluto Armand se havia aposentado. Henri era agora presidente de Bouchard & Sons, chefe de suas subsidiárias, maquinador do destino delas e, através delas, maquinador da América e, com outros, manejador do mundo.
Ficou de pé ao lado da esposa e de Rosemarie, e indolentemente observava os viajantes deixarem o navio. Annette era toda gentil impaciência para estar com sua amada Celeste e com Peter. Porém Henri a continha:
— Espere, amor. Eles têm de passar pela alfândega, você sabe.
— Por favor — ela implorou, olhando-o com todo o amor de seu puro coração aparecendo em seus olhos límpidos. E lhe tocou timidamente o braço. Ele pressionou a própria mão sobre sua mãozinha enluvada. Rosemarie fez uma careta:
— Por que a pressa? — perguntou naquela voz áspera. — É só questão de poucos minutos. — Acrescentou, indolentemente: — Vocês vão mesmo voltar amanhã de manhã? Por que essa correria toda?
— É por causa de Peter — disse Annette, com a anelante e preocupada justificativa que sempre usava com os exigentes, os gananciosos e os egoístas, como se assim lhes aplacasse a crueldade. — Ele tem estado bem doente, sabe.
"Doente! — pensou Henri. — São catorze anos! Eu lhe dava cinco, no máximo. Catorze anos! Não quero esperar mais."
Encontraram Celeste, Peter e Adelaide entre suas malas, caixas e outras bagagens. Adelaide parecia muito velha e pálida. Celeste, em sua toalete castanho e dourado, estava calma e eficiente, serena e segura, dando assistência ao funcionário da alfândega, a quem já havia encantado. Sob a aba larga do chapéu castanho seu rosto estava fresco e luminoso, como pedra branca pintalgada de sol. Peter sentou-se numa valise, emaciado e fraco, lábios bem cerrados para guardar sua débil exaustão. Os olhos estavam encovados, sombreados de sofrimento. Tossiu roucamente, e levou um lenço aos lábios enquanto observava a esposa.
Peter, mais que Celeste, é que Henri viu primeiro, e o que viu fê-lo sorrir internamente, com brutal satisfação.
Annette, num esvoaçar de rendas brancas, correu, chorando, para sua jovem tia, os frágeis bracinhos estendidos, toda lágrimas e sorrisos:
— Celeste! Oh, minha querida! Há tanto tempo! — atirou os braços em torno de Celeste, ficando na ponta dos pés para alcançar-lhe os lábios, apertando-a com paixão.
Celeste, rindo amorosamente, devolveu os beijos e abraços. Manteve Annette afastada um momento para estudar, com secreta seriedade, o rostinho triangular sob o chapéu de renda branca. O que viu lhe deu um baque no coração.
— Avozinha querida — disse Annette, virando-se para Adelaide e beijando-a. Nem sabe o quanto é bom tornar a vê-la! — Beijou a face úmida de Peter, com calorosa compaixão. Ele lutara para pôr-se de pé, e olhava para baixo, para sua prima distante com um sorriso tão gentil quanto o dela.
— Parece que fomos esquecidos — comentou Rosemarie, divertida. Mas seus brilhantes olhos negros, quando olhava Celeste, estavam cheios de ódio e ferocidade. Havia esperado que a longa enfermagem de Peter, a longa ausência podiam haver destruído aquela beleza tão perigosa para sua própria paz de espírito.
Celeste, rindo, um leve colorido agora nas faces, desculpou-se, estendeu a Rosemarie as mãos enluvadas e deu-lhe um beijo frio:
— Bonita como sempre — e sorriu. — Ainda não casou, Rosy?
Henri adiantou-se, e Celeste se voltou para ele. Olhou-o firmemente enquanto ele se aproximava. O macio véu branco deslizou sobre suas feições, e seu sorriso era o sorriso de uma estátua. Estendeu-lhe a mão. Ele a apertou fortemente, olhando-a bem nos olhos com gravidade. O coração dela começou a palpitar com a mais estranha sensação e ela sentiu um ardor na carne, uma longa vibração como um tremor passando-lhe para o braço pela mão que ele segurava. Suas narinas se dilataram um pouco, como se lhe fosse difícil respirar.
— Bem-vinda ao lar — falou ele, calmamente. — Demorou muito... Você não mudou nada, Celeste.
Como eram azuis os olhos dela à sombra do chapéu! Como violetas, como lobélias, como ametistas... Sim, neles havia o brilho e a dureza de uma joia, um colorido sem expressão. Agora estava uma mulher, ele pensou. Mais bela que nunca! Ela me pertence, sempre me pertenceu... Está com medo, sempre teve medo de mim. Por quê? Acho que sei: tem realmente medo de si mesma... Pobre tolinha!
Ele sorriu de leve, apertou-lhe a mão, soltou-a, virou-se para Adelaide:
— Como está, Tia Adelaide? — Seus lábios grossos, embora sorrissem, estavam trombudos.
Então ele não havia esquecido que ela fora sua inimiga, que ajudara a derrotá-lo, que, no mundo inteiro, só ela o havia derrotado um dia. Porém ele era muito cortês, e inclinou a cabeça, quase numa reverência, reminiscência de seu treinamento europeu.
Ela o olhou amedrontada. Lembrava-se muito bem de Ernest Barbour. Esse podia haver sido o homem terrível de que se recordava, inexorável, cheio de poder, poderoso como um exército, implacável como a morte. Como poderia ela haver esquecido a semelhança desse homem com o falecido bisavô? Até a voz, silenciosa agora por cerca de meio século, era a mesma. Seu medo aumentou:
— Que bondade a de todos vocês virem receber-nos — ela agradeceu num tom trêmulo. Seus olhos castanhos estavam acesos, com seu terror irracional. Olhou rapidamente para Celeste, o olhar da mãe cujo filho está ameaçado.
Não se deu conta do beijo cuidadoso de Rosemarie, nem do fato de que na face murcha lhe ficou uma mancha de pintura daquele beijo. Todos os seus pensamentos e sensações se centralizavam em Celeste, que se voltara tranquilamente para responder a uma pergunta do funcionário da alfândega.
Nesse ínterim, Peter e Henri apertavam-se as mãos. A voz de Henri se tornara calorosa, cheia de amizade:
— Ótimo! Você está com aparência muito melhor que na última vez em que esteve em casa!
Peter estava sorridente. Em sua face lívida havia um brilho de desalento. Olhou Henri de modo penetrante — os olhos azuis-claros de mártir heroico — mais intenso que nunca.
— Obrigado — disse ele, tentando fazer a voz tão forte quanto a de Henri e, como resultado, tendo de abafar a tosse. — Foi muito bom que viessem ao nosso encontro, que nos convidassem. Espero que não estejamos sendo incômodos, Henri.
— Absolutamente não. Estamos deliciados em tê-los conosco. Deve saber disso.
Nada poderia ser mais caloroso que as maneiras e o sorriso de Henri. Mas os pálidos olhos de basilisco não tinham calor de amizade. Peter sentiu a personalidade dele, com frieza e temor. O homem de poder. O mais terrível homem de poder. O velho ódio, o medo antigo, a repugnância de sempre o dominaram. Receoso de que Henri pudesse perceber-lhe os pensamentos, obrigou-se a ser excessivamente cordial:
— Muito bem, igualmente. Receio que nos ache cansativos. Mas ficaremos por pouco tempo.
Sua mão magra estava doendo devido ao forte aperto de Henri quando se voltou para Rosemarie, que tinha estado observando os dois homens, com um sorriso cínico e odioso. Ela o beijou cordialmente. Ele era seu tio, irmão de seu pai — Francis Bouchard — e relacionado com ela também através de outras ramificações do clã.
— Bem, Peter, em casa outra vez. Pensando em alguma nova peregrinação?
Pessoas como Rosemarie invariavelmente o faziam tremer. Eram tão firmes, tão impiedosas, tão refinadas e desumanas... Gaguejou enquanto tentava replicar-lhe com ligeireza.
— Reservamos uma suíte para vocês passarem a noite, no Ritz — informou Henri. — Melhor descansar antes de começar a viagem para casa.
Celeste estava tendo alguma dificuldade com a alfândega. Imediatamente Henri foi em seu auxílio. Em tempo inacreditavelmente curto havia resolvido tudo. Celeste o observava, um pouco à parte: viu o respeito quase rastejante dos funcionários. Ela sorriu, um tanto tristemente. Todos o olhavam. Ele atraía olhares, e estava completamente inconsciente deles, como se desdenhasse até a existência de outrem.
A limusine de Henri esperava. Estava intenso o calor em Nova York, nesse último dia de maio. Uma poeira amarelada rodopiava de encontro às vidraças do carro. Era demasiado intensa a luz nas grandes torres, doloroso o ruído. Celeste recostou-se nas almofadas e fechou os olhos. Mas podia sentir o olhar de Henri em seu rosto, a pressão do braço dele contra o dela. Suas maneiras haviam sido indiferentes, e casual a atitude. Agora ele conversava com Peter, fazendo-lhe perguntas amigáveis. Porém ela sentia seus pensamentos enlevados nela, como mãos exigentes em seu corpo e a que não podia resistir, e seu corpo respondia com calor e terror. Uma fraqueza circulava nela... seu coração palpitava tão fortemente que não podia ouvir a conversa em torno dela: chegava-lhe abafada e desarticulada. Seus joelhos estavam liquefeitos... os dedos lhe tremiam dentro das luvas...
E pensou:
"Nunca deveríamos ter aceito...", seu espírito lutando com as invisíveis, mas terríveis mãos que a agarravam, a subjugavam, tal como seu corpo teria lutado com mãos carnais. Arquejou no desejo de escapar, e quando estava cônscia desse desejo ele a abandonou, voluptuosamente. Calafrios lhe percorreram rosto, pescoço e seios. Ela o odiava; temia-o; não podia resistir-lhe. Sentiu o movimento do ombro dele de encontro ao seu quando ele respirou, e soube, sem olhá-lo, quando ele a mirava com o canto dos olhos.
Cogitou:
"Teremos de dar alguma desculpa. Amanhã, daremos alguma desculpa. Emile ainda está em Windsor. Podemos mudar de ideia... Sim, é isso. Não posso suportá-lo. Antigamente podia. Cheguei a pensar que o amava. Agora, eu o odeio! Como ousa pensar em mim, como ousa olhar para mim! Amanhã teremos de fazer outros planos. Não me lembro, agora, por que aceitei. Outros planos..."
Ela não fez outros planos. Na noite seguinte, ela e Peter ocupavam um belo apartamento de Robin’s Nest, em Roseville, subúrbio de Windsor, Pensilvânia.
Capítulo 7
Celeste esperava, vagamente, que a paz anelante e sinistramente brilhante que permanecera sobre a Europa nesse verão de 1939 ficaria ausente da América, de seu velho lar em Windsor. Assim não foi. Invadiu a América, também, como um mar de cromo rutilante que podia apartar-se momentaneamente para revelar as pontas de ofuscantes baionetas. A Depressão, "aquele homem na Casa Branca", trabalho, desemprego, o New Deal — eram, contudo, importantes em debates, em jornais, em livros, e no rádio. Porém o tópico principal era Hitler, o Corredor Polonês, as perspectivas de guerra.
Havia na América uma revolta silenciosa, uma inquietação, um olhar para o leste com medo, ódio ou esperança. Através desses mares azuis, tão calmos e suaves neste verão, tão cheios de alegre tráfico, vinham sinistros murmúrios, o sopro de ventos frios, os sons de exércitos invisíveis. E com eles vinham os gritos dos torturados, a sombra de uma multidão de braços erguidos clamando por socorro, as longas formas nebulosas da duplicidade e da traição, ganância e assassínio, terror e condenação, lançando seus reflexos no oceano cromado como presságio espectral do destino.
Celeste obrigava-se a acreditar em paz, contra o que realmente sabia, contra a cansada voz de Peter. Recusava-se a discutir com ele fosse o que fosse:
— Descansemos um pouco, meu querido — suplicava. — Só um pouco.
Sabia agora o quão nostálgica estivera. Mesmo seus numerosos parentes, os Bouchards, que já temera e com quem antipatizara, lhe pareciam adoráveis. Aceitava-lhes a cordialidade e a afeição superficiais. Seus dois irmãos, Armand e Emile — ainda em Windsor — e suas famílias estavam sempre entrando e saindo de Robin’s Nest. Seus outros parentes, Francis, Hugo, e Jean, e suas mulheres e filhos, eram visitantes frequentes, e mesmo Nicholas, aquele ‘homem sujo’. André Bouchard, mulher e filhos também vinham. Só Christopher, seu amado irmão, e a esposa Edith, irmã de Henri, ainda não haviam chegado da Flórida, mas eram esperados a qualquer momento.
Celeste sentiu a cordialidade da família. Estava inteiramente em sua mente, como Adelaide Poderia, triste, haver-lhe dito. Porém Adelaide estava com o filho, Emile, e a família dele. Sempre tivera um fraco por Agnes, a esposa de Emile, que, além de ser cínica, cruel, dissipada, e gananciosa, era também honesta. Por alguma razão, Agnes não ‘era capaz de enfrentar’ visitas frequentes a Robin’s Nest, embora Emile muitas vezes desse uma passadinha por ali quando ia para casa, ao voltar do escritório. Portanto Adelaide via a filha e Peter não mais que uma vez por semana, e até menos. Sentia uma sensação estranha na atmosfera, e por mais que tentasse afastá-la, a impressão permanecia. Sabia que bastava pedir um carro, ou mandar chamar um carro de aluguel, e poderia ir sozinha a Robin’s Nest. Mas a estranha barreira erguida contra ela, que sentia, em que não queria acreditar, evitava que fosse lá. Mas telefonava a Celeste pelo menos uma vez por dia, para ouvir, doloridamente, o tom da voz de Celeste mais do que suas palavras afetuosas.
Havia muitos outros parentes, além dos de nome Bouchard, e muitos amigos que iam visitar Celeste. Ela estava emocionada. Não esquecera que, outrora, não se importavam com ela, mais especialmente depois de seu casamento. Dificilmente era encontrada em casa. Peter, em recuperação da viagem à França, raramente a acompanhava às inúmeras casas onde a recebiam. A princípio ela recusara, porque Peter não podia ir; porém, vendo que de repente e inexplicavelmente ela manifestava uma ânsia de alegria e diversão, e pela presença de sua gente, ele quase implorara que não pensasse nele por uns tempos, e tratasse de distrair-se:
— Você merece isso, querida — dissera, gentilmente, beijando-a na mão. — Estou muito bem. Só preciso descansar. Em uma ou duas semanas estarei em condições de ir com você a qualquer lugar.
Observou que frequentemente ela jantava fora. Ele, Henri e Annette jantavam sós quase todas as noites. Henri não fazia comentários. Annette resplandecia de prazer:
— Nunca vi ninguém tão popular! Isso é bom para a nossa querida também.
Ouvindo isso, Henri inclinava a cabeça e sorria um pouco para si mesmo. Imaginava perfeitamente bem por que tão raramente encontrava Celeste em casa. Ele podia esperar um pouco mais. Compreendia essa fuga. Se Celeste não fugisse com tanta frequência, e tão persistentemente, ele não ficaria tão satisfeito. Sua ausência lhe dizia muito — para sua selvagem satisfação.
As forças de Peter não voltavam. Isso fazia com que o casal não pudesse fazer ainda planos de futuro. Ele não estava em condições de ser perturbado, de mudar-se, de ser agitado — os médicos haviam informado à esposa. Eles concordavam profundamente com Henri, que tivera uma conversa particular com eles. Ele os prevenira para não dar a ele a mais leve pista dessa conversa.
Um competente trio de enfermeiras aparecera em Robin’s Nest. Celeste protestara; Peter protestara.
— Você deseja recobrar a saúde tão rápido quanto possível, não? — perguntara Henri com impaciência, enquanto Annette carinhosamente implorava. — Além disso — Henri dissera privadamente a seu hóspede — se você recusa, Celeste ficará aprisionada aqui. Não acha que ela merece um pouco de liberdade, após todos esses anos?
Assim, infeliz como se sentia, e estranhamente apreensivo, Peter concordou com as enfermeiras, derrotando os protestos de Celeste. Sentiu-se recompensado pela nova juventude, felicidade e alegria que se tornou evidente no rosto de Celeste. Ela recuperou a vivacidade de sua juventude. Por vezes, essa vivacidade parecia febril a seu marido. Certamente, embora risse tão frequentemente e tivesse adquirido muita graça, quando em repouso ela parecia cansada. Estava mais amorosa que nunca; por vezes agarrava-se a Peter com uma espécie de desespero. Nessas vezes, ela dormia no quarto dele na caminha da enfermeira, e obstinadamente recusava ser desalojada.
Quando Peter se tornava agitado, pedia papel e certos livros, parecia prestes a começar sérias discussões com Henri, tudo isso era jeitosamente evitado pelo anfitrião cortês. Mais tarde, o médico visitava o irritável inválido, com recomendações de que "descansasse" um pouco mais, relaxasse, ficasse calmo, que sua saúde estava melhorando e seria loucura destruir os benefícios já adquiridos. Pelo bem de Celeste, Peter se submetia. Porém sua insônia aumentava.
Sentia-se rodeado de inimigos, embora todos fossem extremamente solícitos. Por vezes, em palavras mais febris, sugeria isso a Celeste. Contudo Celeste, que conversara com o médico, lhe implorava que fosse paciente. Peter ficava silencioso. Mas olhava a esposa com olhos apaixonados onde se vislumbrava a confusa luz de um prisioneiro.
Ele estava experimentando a lenta impotência de alguém acorrentado. Estava rodeado de cuidados e amizade, e da afeição de Annette, que era doida por ele. Nada ouvia de significativo nas vozes bondosas dos parentes. Lembrava-se dos rodeios, habilidade e ganância de seus irmãos, suas exigências homicidas. Todavia, agora via apenas rostos suaves, só ouvia expressões de solicitude, e riso fácil. Onde estavam as tendências ocultas de que se recordava, o ódio, as conspirações, a sensação de coisas terríveis acontecendo em silêncio e em segredo? Não estavam presentes em absoluto. Predominavam completa benevolência e calma. Todos apareciam no melhor dos termos, apenas interessados em opiniões sorridentemente desdenhosas sobre o Presidente, golfe, planos para o verão, e afeições de família. Gracejavam, riam, traziam pequenos presentes para o inválido, e muitos convites. A Depressão parecia não os afetar.
— Estamos aguardando — disse Francis, irmão de Peter, frigidamente louro, agora grisalhando.
— Aguardando? — diria Peter, sombriamente. — O quê?
Mas ninguém lhe responderia, exceto com uma leve risada, uma pressão no ombro, a mudança de assunto...
Entretanto, muito lentamente, à medida que os dias passavam, ele começou a sentir novamente tendências ocultas, mais fortes, mais assustadoras, mais significativas e sinistras do que jamais se lembrava. Isso o lançou num frenesi. Era um cego às apalpadelas através de cavernas medonhas cheias de ecos abafados, com o sussurro de inimigos apavorantes, com o bafo de terrores desconhecidos. Não podia falar deles mesmo a Celeste, interessada agora apenas em sua saúde. Nunca via Adelaide mais de uma vez por semana — ela, que fora mais sua confidente do que a própria esposa. Quando a via, ela estava sempre com outros.
Ele estava só, paralisado com a inércia dos que são sozinhos. Estendeu as mãos no escuro, para as formas suspeitas, as vozes sussurrantes... e nada encontrou. Mas seu terror e medo cresceram à proporção que os dias deslizavam como um sonho prateado indo para junho, para julho. Ouvia o apelo urgente a distância, e não podia erguer-se. Orava. Em suas preces havia o terror dos ameaçados, o terror de alguém que sabe não ter poder, não ter palavras para expressar o que sabia.
"Devemos sair daqui — pensou — não fiz bem em vir para cá." Sugeriu a Celeste que deixassem Robin’s Nest; porém, amedrontada pelas palavras do médico, ela resistiu, com doces palavras e toques suaves.
Lentamente chegou a ele a convicção — com medo dominante e supersticioso — de que estava sendo vigiado. De que mesmo quando os muitos parentes conversavam com ele inteiramente à vontade sobre as coisas menos importantes, estava sendo vigiado por eles. Disse a si mesmo que estava adquirindo a introspecção suspeitosa e lamurienta de um inválido. Mas não adiantou. Ele via o súbito brilho de um olho aqui e ali, imediatamente prevenido.
Por que estariam a vigiá-lo, se é que estavam? Absurdo! Estava louco. Não tinha poder entre os Bouchards. É verdade que o seu livro antiguerra, antiarmamentos — The Terrible Swift Sword — fora imensamente popular na América. Ele poderia pensar que teria tido muita influência. (Seu parente, Georges Bouchard, o editor, lhe havia amigavelmente assegurado, no entanto, que a influência de um escritor era romântica e totalmente superestimada, especialmente na América, onde tão poucos eram mentalmente literatos.) Porém o livro já não era mencionado, mesmo casualmente, nos jornais ou nas revistas literárias. Ele julgou isso inevitável: o livro fora publicado há tanto tempo... Não sabia que sua família tivera muito a ver com a supressão em periódicos ou jornais de qualquer menção ao livro. Nem soube que a família havia evitado a sua venda para a indústria cinematográfica, e que uma forte quantia trocara de mãos discretamente.
Por que, então, teria ele a sensação de estar sendo incessantemente vigiado? E isso, que ninguém conversava nada de importância com ele. Perguntavam-lhe, carinhosamente, a respeito das celebridades que conhecera na França, Alemanha, Itália e Inglaterra. Porém no momento em que ele falava, com paixão crescente, do que vira lá e compreendera, mudavam languidamente de assunto, os rostos se tornavam desinteressados, e aborrecidos. De início pensou que percebiam que ele ia ficando alterado — e isso o aborrecia, pois só quando debatia esses assuntos é que se sentia reviver. Contudo, mais tarde começou a prestar atenção.
Lia o Windsor Courier, o jornal de sua gente. Nele tudo era restrito e conservador: protestava contra a iminência de guerra. Ria tolerantemente de qualquer sugestão governamental de terríveis eventos futuros. Achava isso intolerável: assinou vários periódicos liberais, porém só lhe chegavam de longe em longe, e tinham o hábito de desaparecer.
Pelos fins de julho ele estava em efervescência! Seu terror era uma coisa viva.
Por vezes pegava Henri quase à força, pedindo que lhe dissesse o que se passava na companhia, e nas subsidiárias. Henri erguia as sobrancelhas sobre aqueles olhos pálidos e implacáveis, dizendo:
— Vamos indo... Marcando tempo. O que o interessa em nossos negócios? Francamente, não sei o que faremos se não nos livrarmos daquele homem na Casa Branca no próximo ano. Os negócios estão parados.
"Não é verdade — pensou Peter, atemorizado e em desespero. — Sei o que vocês estão fazendo..."
Porém nada podia fazer, a não ser olhar para Henri, com medo impotente, ódio concentrado, e esmagadora confusão.
Tentou levar os parentes a discussões sobre política. Todavia, além do fato de serem entusiasticamente vitriólicos à menção do nome de Roosevelt, nada diziam de significativo, exceto aludir a uma vitória republicana na eleição presidencial do ano próximo.
— Já temos nosso homem — Jean foi indiscreto o bastante para confessar; mas quando Peter pediu esclarecimentos, Jean desconversou, com os outros parentes a dardejar-lhe olhares furiosos
De modo que nada descobriu. Não deveria ter vindo para Robin’s Nest, para ser sufocado por esta sinistra solicitude. Estava prisioneiro. E era mantido incomunicável.
Nesse ínterim, a brilhante atmosfera de paz era constantemente agitada por ventos cheios de presságios e de horror. Poderia ter sido sua imaginação, no que dizia respeito aos Bouchards. Mais ainda em vez de melhorar, ele piorava, sendo sutilmente envenenado pela inércia que lhe era infligida por outros. Jazia acordado à noite, pensando nisso, pensando que estava ficando louco. Sua razão repudiava seus terrores. Mas o instinto o avisava agourentamente.
Absorto em si mesmo, asfixiado em Robin’s Nest, não via a febre no rosto pálido de Celeste, que ia perdendo sua qualidade luminosa. Não lhe via os olhos desesperados, a crescente repressão em sua boca.
Havia outra coisa: em todas as discussões para planos de verão, observou Peter que nenhum dos Bouchards esteve ausente de Windsor por mais de alguns dias. Também eles esperavam, como ele esperava. Sentia-lhes os olhos, fixos e perigosos, virados para o leste, para além do mar. O mundo esperava.
Capítulo 8
Em 26 de julho de 1939 Christopher Bouchard ("o Robô de Cromo") e a esposa, Edith, irmã de Henri, vieram para Robin’s Nest. Christopher vinha da Flórida, ostensivamente para ver a amada e única irmã, Celeste. Fora o tutor dela, substituindo Jules, o pai a quem odiara tão monstruosamente. Ele quase destruíra a moça. Ela nunca soubera disso. No fim, antes da implacabilidade final, enfraquecera. Não pudera completar a destruição. A fé que Celeste tinha nele a havia salvo e, estranhamente, também a ele.
Christopher estava à beira dos cinquenta agora, mas possuía a perenidade daqueles de seu temperamento e sua tez. Parecia-se muito com o pai, exceto pela tez, que era clara, pálida, com aquela sugestão de brilho do cromo polido que lhe havia proporcionado o seu apelido. Descorado, com um pequeno crânio lustroso com cabelo castanho grisalho, lóbulos das orelhas tão delicados e pequenos que eram quase transparentes, leve e esbelto e não excessivamente alto, voz sem tonalidade e sem ênfase, ele a princípio não dava indícios de sua mortal personalidade, crueldade sádica, íntimo terror egoísta, exigências homicidas. Também suas mãos eram delicadas, com veias azuis e unhas pálidas. Movia-se maciamente, como a "serpente prateada" com quem se parecia, no dizer de seu irmão Armand. Suas feições eram apuradas, nada expressando, e havia uma lividez argêntea em seus olhos "egípcios". Ao sorrir, era um sorriso imóvel. Não confiava em ninguém. Odiava a todos. Havia uma qualidade odienta mesmo em seu amor pela esposa e pela irmã. E só sua esposa, sua mãe e sua irmã o amavam. Pela mãe, Adelaide, sentia apenas a mais indiferente malícia e desdém. Habitualmente esquecia sua existência; certa vez, quando lhe lembraram que ela ainda vivia, exclamou, para Edith:
— Quê! Ainda não morreu? Meu Deus, deve estar com quase oitenta, então!
Jamais esqueceu que foi Adelaide quem ajudou a contrariar seu esquema de casar sua irmã com Henri, e assim melhorar suas próprias fortunas, suas próprias conspirações contra o irmão Armand, o herdeiro de seu pai. Ele era agora presidente de Duval-Bonnet, fabricantes de aviões, na Flórida.
Edith Bouchard, irmã de Henri — bisneta do terrível Ernest Barbour — e esposa de Christopher, era uma mulher simples, mas aristocrática, no começo da casa dos quarenta. Morena como os Bouchards "latinos" em oposição aos Bouchards "saxões" louríssimos, de cabeça erguida, tinha uma espécie de fria arrogância. Corpo sólido, mas muito esbelto, ombros largos e finos, era quase da altura do irmão, parecendo mais alta devido ao rosto de extrema mobilidade. Em alguns traços parecia-se com a elegante Rosemarie, pois seu rosto era estreito e de maçãs altas, o nariz um pouco longo e fino, e o queixo quadrado e firme. Usava pouca maquilagem e sua pele naturalmente escura era coberta apenas por uma leve camada de pó-de-arroz escuro não realçado por carmim ou batom. Os olhos eram castanhos, mas sem a característica afetiva desse colorido, eram francos e diretos, e completamente honestos. Porém era dotada de brilho, classe, bom gosto, e certa elegância que a mais ostentosa Rosemarie não possuía. Mesmo seu cabelo, negro, liso e lustroso, e penteado como o de Rosemarie, aumentava-lhe a aparência de inteligência.
Não tinha filhos, nunca os desejara, pois, enquanto tinha profunda e oculta bondade, e integridade, era destituída de sentimentos, e completamente egoísta. Havia ainda outra razão, que ela dificilmente confessava mesmo a si própria: receava gerar mais um Bouchard.
Completamente desiludida a respeito do marido ela, no entanto, o amava com a única paixão de sua vida. Ela e o irmão, Henri, haviam sido muito chegados, muito amigos, porém ela nunca sentira por ele essa completa dedicação de coração e alma. Entretanto, se acontecesse uma real competição entre seu irmão e seu marido — como sabia que se daria algum dia — ela examinaria desapaixonadamente a situação, sua opinião e apoio indo resolutamente para o que considerasse menos perigoso. Christopher sabia disso. Muitas vezes a irritava a respeito do seu "puritanismo", mas respeitava-a por isso.
Por Celeste sentia uma afeição casual, um deleite estranho, piedade, e, por vezes, pena. Detestava a pobre pequena Annette, como detestava tudo que era doentio e impotente. Peter era a única exceção: por ele sentia apenas compaixão e um indiferente senso de indignação por seus sofrimentos.
Muitas vezes refletiu que catorze anos haviam passado desde o casamento de Celeste com Peter, e cada ano era como outro forte na área vulnerável que rodeava Peter. Contudo, agora Celeste e o marido estavam sob o teto do implacável e paciente Henri — e a primeira reação dela ante as notícias fora de desgosto e apreensão. Conhecia Henri muito bem. Certamente, mesmo esses inocentes, Peter e Celeste, deviam conhecê-lo um pouco agora. Certamente poderiam haver lembrado, ainda que vagamente, que ele nunca esquecia, nunca perdoava, e nunca desistia do que havia desejado. Ele desejara Celeste. O cordeiro de olhos azuis fora abrigar-se exatamente na tocaia do lobo...
Christopher e Edith chegaram inesperadamente, num domingo de manhã, de avião. Era ainda muito cedo. Henri os recebeu à porta, na esteira dos criados, que se empenhavam em tirar do carro as bagagens. Edith o beijou carinhosamente, examinando-lhe as feições atentamente, embora soubesse de nada adiantar: Henri nunca revelava nada que desejasse manter oculto. Apertou calorosamente as mãos de Christopher. Ali estava de pé, no terraço, forte, um tanto atarracado, em roupas matinais pois o dia estava bem quente, e a irmã tornou a sentir o impacto de sua força formidável. Mesmo enquanto apertava a mão de Christopher, sua mão esquerda retinha os dedos morenos da irmã, e ele os pressionava com real afeição.
— Estão todos na cama, menos eu — falou. Encaminhou-se para a casa, entre a irmã e Christopher. — Mas já foram avisados. Daqui a pouco estarão todos aqui. Como foi a viagem?
— Excelente. Avião Duval-Bonnet, claro! — respondeu Christopher com seu sorriso metálico, que lhe marcava a pele seca com uma rede de rugas. A respeito dele, refletiu Henri, como já o fizera muitas vezes, existe uma qualidade de cabeça-de-morto, ressecada e quebradiça, sardônica e perigosa.
Os dois homens entraram na mansão, porém Edith se demorou sozinha, na linda manhã, olhando em tomo com um estranho anseio, uma doçura que não lhe era habitual. Sempre amara Robin’s Nest, a casa construída por seus antepassados no subúrbio de Roseville. Havia dois anos não vinha ali. Agora o seu frio coração doía de nostalgia.
Essa era a grande casa georgiana de pedra cinzenta, construída para a trágica Gertrude Barbour por seu marido, Paul. Através dessas janelas gradeadas Gertrude devia, muitas vezes, ter olhado lá embaixo a estrada sinuosa que levava através da propriedade enorme como um parque. Por quem esperaria ela, até sua morte prematura? Por Phillippe, o primo com quem estava para casar, e que fora mandado embora por seu pai? A ampla avenida arborizada lá estava, diante de sua neta Edith, serena, dourada ao sol do verão, sombreada pelo púrpura das árvores, altas e majestosas, rosadas nas ramarias mais altas. Havia uma beleza formal e severa nos gramados. Mas nos fundos, Edith sabia haver imensos roseirais, grutas, pequenos caminhos sinuosos, fontes, e salgueiros chorões cheios de vento e de misteriosos murmúrios.
Pelos padrões americanos, a casa era "velha", e bastante arcaica. Os quartos enormes não tinham "estilo", como Lady Bouchard declarava com frequência. Contudo, Edith recordava seu frescor e encanto, sua calma penumbra no calor do dia, as lareiras imensas em cada peça, sua dignidade e graça clássica, seus tetos imponentes e assoalhos escuros e polidos. Lembrava-se do ar de formalidade mesmo nas festinhas mais íntimas, a restrição das madeiras apaineladas e das paredes adamascadas. Das heroicas proporções do vestíbulo de recepção uma escada em espiral, graciosa e delicada, se enroscava para cima. Por vezes, em noites solitárias quando ela morava aqui, Edith em sua cama imaginava ouvir o farfalhar de tafetá nas escadas, o eco de um triste suspiro jovem vindo de um coração que ia lentamente se rompendo...
Ficou sozinha na vereda que levava à casa, ouvindo a onda de vento quente nas árvores, aspirando o aroma da manhã quente e úmida e a ilusória fragrância dos jardins de rosas e da terra viva. A luz do sol brilhava no severo rosto moreno sob o chapéu elegante e ela sentiu o seu calor nas mãos enluvadas. A brisa agitava o seu fino costume preto e o simples colar branco. Acalmados por sua imobilidade, pássaros corriam pela verde pelúcia do gramado, quase aos seus pés. Ela lhes ouvia o doce trinado nas árvores, via o brilho do sol em suas asas quando se arremessavam para as sombras. O fresco e brilhante silêncio da manhã fluía sobre tudo como água. Às vezes a hera que revestia as pedras cinzentas da mansão se tornavam brancas ao vento.
A longa rampa da entrada para carros, todo aquele verde, as árvores ondulantes eram um brilhante deslumbramento ante seus olhos. Ela e Henri haviam nascido aqui. Este era o seu lar. Ela sentia sua carne uma com a casa — a verdadeira substância viva de sua parte na terra. A casa tinha quase cem anos de construída, mas só duas pessoas haviam nascido ali: ela e o irmão. Fora feita para grandes famílias de crianças felizes, que brincariam nessas móveis sombras cor-de-malva debaixo das árvores, que encheriam os quartos imponentes de risadas e bonitos vestidos e faces rosadas. A sala de música ressoaria com os dedinhos no grande piano de cauda. Agora existe lá uma harpa, refletiu Edith, a harpa de Annette. Sem dúvida a penumbra tilintaria com as notas argênteas evocadas por dedos frágeis. Sentiu-se ultrajada.
Talvez se Christopher e eu morássemos aqui, em vez de Henri e Annette, eu pudesse ter tido filhos — ela pensou. Porém devia haver uma maldição sobre a casa, ela refletiu, com estranho humor. Mesmo sua mãe, Alice, não nascera ali, mas em casa de Ernest Barbour. O nascimento escapava desse recinto majestoso.
Aumentou seu senso de coragem. Como Henri podia ter sido tão obtuso que não visse logo que a frágil Annette nunca lhe daria filhos? De repente Edith, a despeito de sua dureza fundamental, sentiu a profundeza da terra. Pela primeira vez em sua existência, parecia-lhe que a vida era mais importante que poder e riqueza. Estava surpresa! Era uma verdadeira Bouchard, indiferente, falsa, e mesmo astuta, apesar de toda a sua honestidade e franqueza. Nunca pensara nessas coisas: que filhos, lar, serenidade e amor podiam ser mais preciosos que as coisas pelas quais viviam os Bouchards. Haviam tido senso de dinastia, sim. E assim haviam produzido filhos para prosseguir com essa dinastia. Porém filhos como carne, como vida, como saúde e doçura e força de coração e alma — isso nunca lhes ocorrera. Poder e vingança impulsionavam Henri. Não se importara em que isso tornara sua virilidade impotente na estéril Annette. Nunca teria desejado filhos, ao menos pelo bem da dinastia? Ele era seu irmão; seguramente devia, por vezes, ter sentido a agitação que agora criava aquela triste destruição em sua própria carne. Ela estava cheia de ardente compaixão por ele.
Henri casara com Annette num último esforço para recuperar o poder que fora cruelmente roubado do bisneto de Ernest Barbour pelo sobrinho, Jules Bouchard. Agora, para Edith, toda essa desapiedada recuperação de poder parecia louca e trágica, e muito infantil.
"Estou sendo absurda!" — pensou.
E então, sob a sombra do elegante chapéu preto de marinheiro com sua fita branca, seus olhos castanhos se arregalaram. O coração se acelerou apreensivamente: Henri, casado com a estéril e doente Annette; Celeste, casada com o moribundo Peter. Henri... e Celeste! Ela teve misteriosa e assustadora premonição de que o Destino, assim como Henri, podia ser considerado como vaga, porém gigantesca sombra atrás da presença de Celeste nesta casa. Henri, também, deve ter sentido a força instigadora desta casa.
"Não! — pensou. — Estou sendo absurda!"
Contudo, sua apreensão logo se transformou em medo. Inclinou a cabeça e correu para a fresca e sombria imensidão do vestíbulo. Seu pensamento era: "Mas isso é impossível!" Mais cedo, naquela manhã, não pensara nisso. Tivera ideia completamente diferente. Agora, o encantamento e o poder da casa a dominavam, e o forte ar a prevenia.
Celeste sempre impressionara Edith por sua puerilidade e simplicidade de mente e de pensamento. Uma eterna criança, pensara outrora. Contudo agora via que Celeste era uma mulher. Podia ainda haver certa qualidade infantil nos olhos azuis que olhavam direta e calmamente. Podia haver simplicidade em sua maneira digna. Mas era agora uma mulher. Podia não ser falsa como todos os outros Bouchards, mas não cultivava ilusões. Isso, também, Henri devia saber.
Edith e Celeste nunca tinham sido amigas. Edith apenas sentira uma divertida superioridade para com a criança silenciosa que seu irmão tanto desejava. Não julgara Celeste à altura de tal homem. Também ela tivera grande parte no impedimento de Henri, convencida de que ele não encontraria felicidade na pura inocência de Celeste. Ter-se-ia enganado? Fazia a si mesma essa pergunta que Adelaide se perguntara com tanta frequência.
Os cinco — Celeste, Henri, Annette, Christopher e Edith — tomaram o desjejum na saleta cheia de sol, cujas janelas francesas se abriam para o roseiral. Como sempre, Peter não descera para o café da manhã.
Annette estava adoravelmente deliciada com a presença de seus hóspedes. Seu pequeno corpo, tão frágil e esbelto, vestia um roupão matinal de renda branca. Os cachinhos de seu brilhante cabelo claro lhe emolduravam o rostinho triangular, destacando-lhe a palidez. Mas os olhos azuis extraordinariamente belos, tão grandes e ternos, estavam radiantes. Henri sentava-se a seu lado. Com um sorriso ouvia sua alegre conversa infantil, às vezes olhando-a com ternura. Ela já não era jovem demais, porém ainda parecia imatura. Quando relanceava um olhar para o marido, seus olhos tinham uma luz de patética admiração, e ela corava um pouco.
Como podia Henri suportar essa coisinha doente?, pensou Edith, como sempre pensara, mas agora com um desgosto novo e vigilante, pesarosa e ultrajada. Todavia, ele nada revelara a não ser um misto de bondade e solicitude pela esposa. Ele raramente dava um olhar a Celeste, sentada em frente a ele, em seu roupão azul-escuro que combinava com seus olhos.
Havia muitos anos Edith não via a cunhada, que também lhe era aparentada pelo sangue. Era a mesma Celeste, mas com uma severidade não familiar, uma expressão cansada nas narinas e nos lábios. Havia paciência ali, dominada e firme, e segurança. Ela sorria raramente. Mas estava mais bela que nunca, em sua maturidade, Christopher mal podia afastar os olhos de sua amada irmã. Quando ela encontrou o olhar dele, ele sorriu, e havia uma estranha busca de ternura nesse sorriso, apesar de sua qualidade imóvel e metálica.
Polidamente indagara a respeito de Peter, e ouvira com atenção quando Celeste respondeu:
— Está muito melhor. Apenas tosse um pouco durante a noite. Logo iremos procurar um lugar para morar.
Ouvindo isto Henri ergueu a cabeça, e dirigiu um pálido olhar a Celeste. Porém os grossos lábios com vincos brutais em volta não se moveram. Um momento depois ergueu os olhos para Christopher — olhos em branco que nada expressavam. Entretanto, todos os músculos de Christopher estremeceram numa espécie de surpresa alerta, e cálculo.
"Impossível!" — pensou. — "Isso acabou há muito tempo! Mas... nada acaba para sempre, com um homem assim!"
Entretanto, sentiu um divertimento negro e perigoso. Voltou para a irmã seu olhar brilhante, e as rodinhas cromadas de sua mente começaram um rápido e silencioso rodopio. Ela o arruinara, por seu casamento com Peter contra os seus planos. Como Henri, também ele nunca esqueceu, nunca perdoou inteiramente. Contudo, enquanto a estudava, a íntima traição dele mesmo que nunca pôde resistir ao amor que tinha por ela encheu-o de obscura ansiedade. O amorzinho! A louquinha! Ela arruinara a própria vida, a vida de Henri e a dele, Christopher. Ela causara aquela aparência fechada e profunda que havia em seus olhos e em sua boca, e o olhar de paciente sofrimento. Sentiu-lhe o marmóreo coração, e cogitou, pela centésima vez, como nunca se apercebera disso, quando ela fora criança e sob seus cuidados. Sua ansiedade amenizou-se um pouco. Ela fora uma "parada" para todos eles, porque era desprotegida. Era um páreo muito mais difícil agora, porque entendia as coisas e era uma mulher, por fim.
Intensificou-se o exame que fazia. Henri conversava com ela, indolentemente, de coisas sem importância. Ela devolvia o olhar dele indiferentemente. No seu rosto, grave e pálido, não havia o menor sinal de emoção. Sua mãozinha branca descansava perto da xícara de café em atitude indolente — sem qualquer tremor.
A mente de Christopher aumentou a velocidade. Henri controlava os Bouchards, através de seu casamento com Annette, devido à sua própria força de caráter. Annette. Christopher relanceou um olhar à cunhada, que era também sua sobrinha. Frágil e delicada como uma estatueta. Mas nem sempre se pode contar com a extinção prematura de criaturas tão pequenas. São tenazes, e agarram-se à vida até caírem dela como as folhas caem das árvores no outono. No entanto, às vezes morrem quando lhes partem o coração. Ele se lembrava que ela quase morreu quando Celeste ficara noiva de Henri. Agora, se ela morresse...
Se ela morresse. A mente de Christopher se fixou no pensamento assim como mãos ávidas se firmam num fruto maduro, o suco espirrando por entre os dedos no firme aperto. Se Peter devesse morrer... Um olhar de total malevolência brilhou por um instante em seus olhos cruéis. Depois, haverá apenas Henri e Celeste. Uma repentina quentura, quase como uma febre, lhe tocou a face.
Sentiu alguém a olhá-lo: era Henri. E Henri estava sorrindo, as pálpebras estreitadas.
Mas Henri disse, no tom mais casual:
— Gostaria de subir para ver Peter, Chris?
— Esperarei um pouco — disse Edith, que odiava inválidos. — Nós, garotas, temos muito que conversar.
Os dois homens se levantaram e deixaram a mesa do café. Entraram no longo corredor que levava ao vestíbulo. Christopher caminhava atrás de Henri, e não podia despregar os olhos da grande cabeça napoleônica, a posição desses largos ombros. Henri se movia rápida e firmemente. Ao chegar ao pé da escada, virou-se e olhou o cunhado, com aquela expressão vazia.
Nada fora dito, nada sugerido. Mas, enquanto os dois homens se fitavam na penumbra, o ar impalpável estava cheio de presságios. Christopher viu o pálido fulgor dos olhos de Henri, seu sorriso desmaiado. Viu-lhe a mão forte e larga no corrimão. Henri plantara um dos pés no primeiro degrau. Ali ficou, sem se mover: apenas olhava para o cunhado e esperava.
Christopher começou a sorrir. Disse, maciamente:
— Então, ele está aqui. Como está ele?
— Morrendo — falou Henri, calmo, impassível.
Novamente o silêncio.
— Tão aloucado como sempre?
Henri deu de ombros. Olhou a própria mão, ergueu-a distraidamente, e mordeu a unha do dedo indicador. Com um choque, Christopher lembrou-se de sua própria infância, desse gesto inesquecível de Ernest Barbour.
— Acho — disse Henri por fim, examinando a unha que mordera — que ele sabe muito. Sabe demais. Está queimando, por isso. Mas não sabe o bastante... deste lado. Quer a todo custo descobrir. Tem a obsessão de que nós, os sórdidos Bouchards, estamos conspirando, preparando guerra. — E sorriu.
Christopher também sorriu:
— Deve interessar a ele saber que, desta vez, temos outros pensamentos. Mas isso pode ser pior que suas ideias presentes. Muito pior. Na verdade, com a estúpida obsessão que ele tem agora, pode ser de ajuda inestimável. — Tossiu gentilmente.
— Meu pensamento, exatamente — concordou Henri, com amigável calor. Eles se miraram divertidos.
— Ele poderia ser delicadamente encorajado — continuou Christopher.
— Exatamente — repetiu Henri.
— Deve ser manejado jeitosamente...
— Com finesse. Ele pode ser manejado. Teremos uma reunião do clã. Ele nunca foi muito brilhante... — acrescentou Henri.
— Está com algum livro em gestação agora?
— Está incubando, eu diria. Em minha opinião, não poderia ter voltado em melhor ocasião. Mas teremos de trabalhar depressa. Dificilmente terá mais que alguns meses de vida. Vi as chapas de raios X!
Houve um silêncio vibrante, ali no vestíbulo, enquanto os dois homens se fitavam, impassíveis.
Então Christopher tocou os lábios com os dedos esqueléticos:
— E a pequena Celeste? Será mau para ela...
O olhar fixo de Henri não abandonou o cunhado.
— Talvez... —- murmurou. — Quem pode dizer?
Christopher, que odiava Henri mais do que qualquer dos outros Bouchards — por causa da humilhação pública e da ignomínia que Henri outrora lhe infligira — adiantou-se e pressionou o braço do outro com afeição:
— Estaremos à mão, para ajudá-la a suportar o golpe — disse, em tom jocoso.
Porém Henri nada falou. Subiu a escada. Christopher o seguiu, observando-o com os olhos apertados.
Henri bateu a uma porta no vestíbulo de cima, e ele e Christopher entraram nos aposentos de Peter.
Capítulo 9
Peter estava sentado numa poltrona funda perto de uma janela ensolarada, aberta para permitir a entrada do vento. Em uma mesa junto a seu cotovelo direito estava empilhada uma quantidade de papéis, livros e revistas. De algum modo conseguira obter algumas folhas de papel e, aparentemente, estivera tomando rápidas notas durante algum tempo. Uma criada se ocupava na limpeza do quarto.
Sorrindo, Christopher olhou atentamente para o cunhado e não perdeu detalhe desse rosto pálido e exausto, faces encovadas e lábios exangues, olhos cheios de sofrimento. O que viu animou-o excessivamente. Exclamou:
— Muito bem! Então, aqui estamos!
Aproximou-se de Peter, de mão estendida. Peter olhou-o em silêncio, mesmo enquanto mecanicamente lhe apertava a mão. Sentiu uma vibração do antigo asco e desgosto ao toque dessa carne fria e seca e à leve pressão dos dedos ossudos. O "Robô" não melhorara com o casamento. Estava de modos mais soltos, é verdade, e tinha ainda mais do inumano sangue-frio que sempre o distinguira. Mas sua qualidade letal ainda permanecia ali, esperando, como veneno num frasco.
— Você não mudou. Christopher — disse ele.
Christopher riu ligeiramente:
— Ora, deixe disso! Nenhum de nós é mais o mesmo, sabe disso. Mas obrigado, Peter.
Henri sorriu irreprimivelmente. Peter não era conhecido por seu tato... Não tinha rodeios. Henri julgava que ele poderia ter esclarecido o que realmente quis dizer — o que teria sido divertido... Mas Peter, por um esforço, não esclareceu. Retirou a mão febril da de Christopher, e ficou silencioso novamente.
— Todos estamos satisfeitíssimos de que você esteja em casa — disse Christopher, sentando-se perto do outro. — Demorou muito...
— Demais! — observou Peter.
— Também acho isso. Como está passando? A mim você parece perfeitamente bem. — Nada poderia ser mais carinhoso que o sorriso de Christopher, seu ar de solicitude.
— Estou muito melhor — murmurou Peter. Hesitou: — Na verdade, vou insistir para que todos parem de tratar-me como a um inválido.
— Certíssimo! — falou Henri, encaminhando-se para a janela e olhando indolentemente por ela. — Chega de tantos agradinhos. Mas, você conhece as mulheres: galinhas cacarejando em torno dos pintinhos... Celeste o vem mimando muito, Peter. Acha que aguentaria uma festa, um jantar com toda a danada família?
— Gostaria disso — disse Peter, em voz baixa. O perfil de Henri se voltava para ele, brutal, áspero, rudemente esculpido como se talhadeira poderosa o fizesse. — Tenho querido isso.
Não podia despregar de Henri o olhar. O homem parecia fascina-lo. Nesse ínterim, Christopher estudava a pilha de papéis e livros na mesa:
— Outro livro, Peter? Espero que, desta vez, seja algo de mais caridoso.
Peter colocou as mãos, protetoramente, sobre o conteúdo da mesa junto dele. Olhou Christopher com olhos que de súbito eram fogo azul:
— Tenho meus planos — falou, calmamente. Respirou profundamente. Os dois outros homens ouviram o ruído rascante em seu peito, o chiado. — Tenho estado coletando material. — Ergueu um livro fino; Christopher viu-lhe o título: Deutsche Wehr. Peter o segurou e o fitou.
— Uma publicação militar alemã, 13 de junho de 1935 — comentou Christopher. — Deve ser interessante. Mesmo que apenas como estudo psicológico da mentalidade germânica. Sempre odiei os alemães. Um povo odioso e pervertido. Completamente louco. Mas suponho que não concorda comigo, Peter? Nunca acreditou na virulência de povos.
Contudo, Peter falou calmamente:
— Pelo contrário, concordo com você. Desta vez. Não o fazia, a princípio. Um nobre sueco me disse, certa vez, que há um provérbio em seu país: "Louco como um alemão." Sim, é um povo insano. Não é Hitler. É a Alemanha, mesmo. Cada alemão, homem, mulher ou criança. Qualquer alemão, em qualquer lugar. Lá existe uma massa de insanidade. Mas isso não significa que devemos prover a essa insanidade, sabe. Todo homem inteligente compreende que pessoas loucas devem ser isoladas. Porém há homens, por todo o mundo, que pretendem aproveitar a demência da Alemanha para seu próprio uso. Pensam que, mais para diante, podem acorrentar a Alemanha. Mas não se pode facilmente pôr loucos de volta no hospício depois de tê-los usado...
— "Você não pode culpar um povo inteiro" — murmurou Henri. — Não foi você mesmo quem disse isso, em seu próprio livro?
— Não estou culpando os alemães — replicou Peter. Um colorido febril lhe cobriu as faces. — De certa forma, apiedo-me deles. Eles são intrinsecamente loucos. Não se mata um louco. Tem-se pena dele e o encarceramos onde não possa fazer mal à sociedade. Tentamos curá-lo por sugestão, ou drogas, ou tratamento... se podemos.
Deteve-se. O rubor apagou-se de seu rosto. Tornou-se lívido. Ergueu-se a meio na poltrona, e apesar de suas próprias advertências íntimas, não pôde controlar-se:
— Vi tanto na Europa! Ninguém quis ouvir-me... fui a toda parte... Vi tanto, tão terrivelmente! Por isso voltei, para contar o que vi! Talvez alguns me ouçam.
— Meu Deus! — interrompeu Henri, cansadamente, virando-se da janela e olhando para Peter: — Temos tido uma avalancha de livros a respeito da Europa. Profetas têm percorrido a América, gritando advertências. Tem havido Jeremias uivando em cada porta. O povo está cansado disso, acho. Você não pretende juntar-se aos profetas e Jeremias, não é, Peter? Não adianta. Temos tido legiões deles... Eles nos aborrecem de morte.
Peter estava tremendo violentamente. Eles podiam ver isso. Henri e Christopher trocaram um olhar malevolente de diversão. Christopher pensou:
"Ele está sendo impedido. Não lhe permitem falar. Henri está cuidando disso. Agora, deixa-o falar: quer que eu o ouça."
Ele, Christopher, sentiu o antigo fermentar de excitação, a satisfação de que seu implacável cunhado estava conspirando com ele novamente.
Peter gritou, em voz fraca e chocada:
— "Aborrecem vocês de morte!" Meu Deus! Pois não podem ver? — Parou, as mãos apertadas sobre a publicação militar alemã. Seus olhos eram uma chama azul, e a boca rígida. Falou em tom mais baixo: — Sim. Vocês veem, muito bem. Sei disso. Não há nada que lhes possa dizer. Vocês sabem de tudo. Isso é o que eu temia!
Henri deu de ombros e sorriu:
— Por Deus! Você acredita nisso, não é mesmo? Continuará a nos lisonjear falando em onipotência, onipresença e onisciência. Você é nosso melhor propagandista, nosso melhor relações-públicas, Peter. Não se incomode. Acalme-se. Talvez a Alemanha não seja tão louca quanto a julgamos. Isso passará. Você vai ver.
As mãos trementes de Peter abriram o livro:
— Deixem-me ler isto para vocês — falou, em voz tão forçada e agitada que era dificilmente audível: — "Vitória totalitária significa a total destruição da nação vencida e seu completo e final desaparecimento da arena histórica. Na realidade, a guerra totalitária nada mais é que uma gigantesca luta de eliminação cujo desfecho será terrível e irrevogável em sua finalidade." — Fechou o livro, olhou lentamente de um para o outro: — Suponho que já leram isto?
Henri riu, com indulgente fastio:
— Já ouvi isto em algum lugar, sim. Quem dá ouvidos às palavras bombásticas dos alemães? Todos são brigões e covardes e berradores. Deveríamos ter imposto o Tratado de Versalhes. Não o fizemos. Foi nosso sentimentalismo...
— Sua conveniência! — gritou Peter, desperto agora da inércia das últimas semanas.
Christopher estava silencioso, sorrindo de leve. Henri estava "chorando" o idiota, para seus próprios propósitos. De modo que Christopher ouvia atentamente, compreendendo que nessa conversa aparentemente incoerente e tola havia um plano e um modelo que Henri pretendia que ele percebesse.
— Nossa conveniência? — disse Henri, tornando-se mais frio e pesado à medida que crescia a apaixonada agitação de Peter. Ele estava estudando o doente com implacável interesse: — Não seja tolo, Peter. Sim, lembro-me do que disse em seu livro: "Homens perigosos buscam destruir o Tratado de Versalhes, pedem uma moratória sobre as reparações da Alemanha, ajudam-na secretamente a armar-se e soltar sua loucura sobre o mundo novamente, por lucro."
Deteve-se. Sorriu com agradável ferocidade. Estendeu um de seus largos dedos indicadores para Peter e continuou:
— Agora, deixe-me dizer-lhe algo, Peter. Você, e os seus iguais, destruíram o Tratado de Versalhes. Você e os seus iguais influenciaram Hoover em sua perigosa moratória. Em consequência, vocês são a causa do rearmamento da Alemanha e do perigo presente nela implícito para o mundo. Você e os seus escritores pacifistas; você e os seus escritores anti-munições. Você e os seus investigadores de corrupção. Que temos agora, aqui na América? Um povo moroso e obstinado, determinado a não saber mais de complicações europeias, um povo que olha com ódio e suspeita todos os fabricantes de munições e armamentos. Um bando de sociedades pacifistas e anti-guerra, de mulheres guinchadoras e de eunucos. Veja nossa situação militar agora. Que planos reais temos? Que tanques? Que exército, que armada? Que defesa vital?
Deteve-se. Deixou cair o dedo que apontava. O sorriso permaneceu. Os pálidos olhos luziam de divertida malevolência:
— Sim, Peter, vocês nos ajudaram a desarmar a América. Nós, Bouchards, não podemos fazer um movimento sem as estúpidas massas mugindo que estamos "conspirando guerras". Nossos relações-públicas nos dizem que não adianta nada intrigarmos, ou apelarmos, ou trabalharmos. O próprio Roosevelt, na ânsia de rearmamento, está sendo chamado "fomentador de guerras". Se a coisa tivesse sido deixada a nós, Bouchards, com outros como nós, a América poderia não estar agora olhando para a Europa com tamanho terror, a Inglaterra poderia não ter feito um Munique, a França poderia não estar em tais condições de degenerescência e decadência. Dizem que buscamos lucros: confessamos isto. Somos negociantes. O negócio é rearmar a América.
Deteve-se outra vez. Peter recaíra em sua poltrona. Olhava para Henri sem pestanejar. Seus olhos eram buracos azuis e imóveis no rosto exausto. Henri inclinou a cabeça e olhou o homem doente, com aquele seu frio sorriso homicida.
Então Peter falou, quietamente:
— Você simplifica as coisas. Deduz que sou um tolo. Mas não sabe o que eu sei. — Inspirou profunda e audivelmente.
Henri ergueu os sobrolhos:
— Então não sabemos o que você sabe? Garanto-lhe que sabemos muito, meu amigo. Espere, ainda não acabei. Veja a América, outra vez. Olhe para nós, uma gorda nação desarmada, vociferante com tolas vozes berrando contra o rearmamento. Você despertou essa tempestade de vozes, Peter. Você, e outros como você, com seus livros imprudentes e histéricos. Agora, estamos impotentes. E agora você corre de volta para casa, para a América, para apregoar a "verdade"! Se houver uma guerra, que não vai haver, naturalmente, e a América mergulhar nela, indefesa, e for conquistada pela Alemanha, você terá a satisfação de saber que terá ajudado essa realização. Sabe que sociedades pacifistas você ajudou a criar aqui? Em breve terá oportunidade de descobri-lo. Isso deverá dar-lhe uma sensação de poder. Era isso que buscava, não é?
Peter estava calado. Fixava Henri com uma espécie de horror tranquilo, como se algo naquele pálido semblante o fascinasse. Parecia não ter ouvido o que o outro dissera.
— Sim — falou Christopher gentilmente — é tudo verdade, Peter. Você ajudou. Ajudou a criar a situação de que agora veio correndo avisar-nos. Muito, muito contraditório...
Peter os contemplava no silêncio imóvel e glacial que desabara sobre ele. Havia uma espécie de incredulidade horrorizada em seu olhar. As mãos apertavam os braços da poltrona. Esses homens terríveis! Esses macios e diabólicos mentirosos! Sentiu o coração inchando e subindo em seu peito de tal forma que pensou que iria sufocar até à morte — ali, diante deles, para sua satisfação e divertimento. Não fale! — uma vozinha instou com ele. Não deixe que saibam tudo que você conhece. Estão tentando descobrir.
Mas a paixão não o deixaria completamente silencioso!
Ergueu a mão e a dirigiu para Henri.
— Responda-me a uma pergunta, Henri Bouchard — disse, quase num sussurro. — Diga-me o que estava fazendo na Itália em dezembro último, na Alemanha em janeiro, na Espanha em março.
Pela primeira vez, Henri involuntariamente ficou agitado. Christopher olhava, alerta, o corpo descarnado contraído na poltrona. Ele e Henri trocaram um de seus rápidos olhares.
— Sim! — gritou Peter, erguendo-se um pouco. — Sim! Diga-me, "Mr. Britton"! Assim o chamavam, não? Pensava que ninguém sabia. Só alguns sabiam. Eu era um deles.
Pesado e perigoso silêncio encheu o quarto ensolarado. Peter sentou-se aprumado, tremendo violentamente. Henri baixou os olhos sobre ele, e a larga face descorada estava fechada e rígida. Porém ele não se mostrava desconcertado. Disse afinal:
— Creio que não ocorreu a essa cabeça esquentada que eu poderia estar lá em missão secreta para ajudar a manter a paz, pois não? Para, incógnito, vigiar a situação?
Apesar de todo o seu conhecimento dos Bouchards, Peter estava horrorizado, furioso por um novo sentimento de impotência e desespero. Eles estavam tentando reduzi-lo à loucura, ao ridículo. Acima de tudo, ousaram mentir-lhe tão imprudentemente, como se ele fosse um idiota, um mentecapto, um desprezível pardalzinho num ninho de falcões. Por um momento sua própria vaidade foi ultrajada, enraivecida. Isso foi imediatamente substituído por um real e enorme terror.
"Fique calado" — avisava-lhe a vozinha severamente. — "Você está nas mãos deles. Fique calado, em nome de Deus!"
Porém ele não podia calar-se, o que o aterrorizava ainda mais.
— Quando estava na Itália, Henri, teria sido possível que visitasse a Assoziane fra Industriali Metallurgici Mecannici ed Affini? As indústrias de automóveis Fiat? Lega Industriale de Turim? Societá Ansaldo, os construtores de navios? As indústrias de aço de Veneza Giulia? Banca Commerciale de Milão, Banca Italiana di Sconto? E, quando na Espanha, seria possível que tivesse tido uma calma conversa com o Duque de Alba, um dos assassinos donos da Espanha e do fascismo? Viu Juan March, aquele criminoso incrivelmente rico, aquele assassino dos pobres e desamparados? Viu o Cardeal de Llano, o alcoviteiro de Franco, aquele destruidor da liberdade e ilustração da nova Espanha? E, enquanto na Espanha, visitou os funcionários de Rio Tinto, a maior aventura de mineração do mundo de hoje?
Henri nada disse. Apenas observava Peter, com interesse alerta e imóvel. Levou o dedo indicador aos dentes, e distraidamente um sabugo de unha. Christopher cobrira os lábios com os pálidos dedos.
Peter estava aprumado em sua poltrona. Novamente esticou a mão e gritou:
— E quando estava na Alemanha, não é possível que tivesse ido visitar Hitler, Göring, Thyssen, a I. G. Farbenindustrie, o presidente do Reichsbank? E quando Mr. Claude Bowers, o Embaixador americano na Espanha, o chamou, não lhe disse, na presença do Embaixador britânico na Espanha que, com a vitória de Franco sobre o povo espanhol, a Inglaterra encontraria Hitler em Gibraltar, e assim perderia o controle do Mediterrâneo? E você não se divertiu com a resposta do Embaixador britânico de que "na Inglaterra os interesses privados são mais fortes que os nacionais"?
"Cristo!" — pensou Christopher. — "Quem disse isto a este suíno? Por onde vazou a informação?"
Mas Henri estava muito calmo. Disse, com indiferença:
— Tudo isso é possível. Você parece esquecer que temos interesses no mundo inteiro, que os acionistas americanos em nossas companhias e subsidiárias têm de ser protegidos. Era meu dever investigar, no interesse da América, em nosso próprio interesse, e no de nossos acionistas. Assim, por que toda essa agitação?
Peter apertou as mãos juntas, e literalmente as torceu. "Você é um louco" — dizia sua voz íntima, severamente, — "Que fez? Esses homens são mais poderosos que você. Estão a reduzi-lo a uma ridícula impotência."
Henri falou, numa voz subitamente alta e cruel:
— Meu único interesse é proteger a América. Deixe-me dizer-lhe isto, meu amigo, e pode acreditar ou não: não estou interessado em guerra. Farei tudo que possa, todos nós faremos tudo que pudermos, para manter a América fora de qualquer guerra que possa ocorrer na Europa.
A voz soava no quarto, inexorável e potente. Peter a ouvia. Subitamente, uma sensação de desfalecimento o oprimiu. O quarto girou em volta dele em grandes e lentos círculos cheios de faixas luminosas.
Em meio ao caos que o rodeou ele pensou com incrédulo e desesperado horror:
"É verdade! Disse-me a verdade, por fim! Eles não querem guerra, para a América... Há uma hora atrás eu acreditava que estavam conspirando para mergulhar-nos em tal guerra. Agora, creio, sei que não a querem... para a América. Farão tudo para manter-nos fora de qualquer conflito. Nunca descansarão... Por quê?"
Um fraco vislumbre da verdade apavorante começou a aparecer diante dele. Não ousou olhá-lo. Pensou: "Se eu pudesse morrer! Não posso viver, e saber!" Sentia o coração palpitar em grande agonia no peito abafado.
A voz de Henri lhe enchia os ouvidos, muito perto, como um vendaval enorme:
— De modo que, se você teve a ideia de que iria "denunciar-nos", como já nos "denunciou" antes, está perdendo seu tempo. Se pensou que estávamos "incubando guerras" novamente, meu Deus, que estupidez, pode descansar a cabeça. Se pensou mostrar que estivemos intrigando ou manipulando para meter a América em qualquer danada confusão forjada na Europa, posso dizer-lhe com absoluta franqueza que é um completo idiota. A América não tomará parte nela. Cuidaremos disso. Isso deve acalmá-lo consideravelmente.
"É verdade" — pensou Peter. — "Por quê? Oh, Deus! Por quê?"
A voz enorme e esmagadora continuava:
— Eu lhe direi um segredo, Peter. No instante em que a guerra estourar na Europa, teremos sociedades na América, sociedades para a paz, que nosso dinheiro ajudou a organizar. Grandes sociedades, que pisarão, aniquilarão quaisquer tentativas para fomentar bons sentimentos para com a Inglaterra, a França, a Espanha. Seremos neutros, tanto como nunca fomos antes. Você nos encontrará apoiando abertamente qualquer Lei de Neutralidade que o Congresso ache necessário legislar. Vê, você ajudou a incitar um montão de sórdida sujeira contra nós. No interesse da autopreservação, ninguém será mais anti-bélico do que nós.
Então Peter, ultrajado, apavorado, ouviu sua fraca voz dizendo:
— A América deve preparar-se...
Ouviu uma enorme gargalhada... Parecia vir do espaço rodopiante. Não pôde relacioná-la com a boca aberta de Henri, onde os dentes muito grandes reluziam. Nem, para seus sentidos confusos, parecia vir de Christopher.
— Meu Deus! — gritava Henri. — Será possível que você esteja dizendo isto? Você, o pacifista, inimigo dos fabricantes de armas e investigador da corrupção, o amante da fraternidade?
E então Peter soube que havia naquele quarto um poder mais terrível, mais terrível do que jamais vivera entre os Bouchards, ou no mundo. Agarrou-se aos braços da poltrona para evitar desmaiar. Sentiu o impacto de ventos cósmicos em sua carne, em seu rosto. Sentiu o vasto movimento de coisas ignotas e aterrorizantes...
"Por quê?" — uma voz possante gritava nele. — "Por que tudo isso?"
Não ousou tentar responder. Apenas podia sentar ali e olhar para Henri. Não sabia que sua expressão era completamente cadavérica.
Como num sonho de horror, em que tudo se move vagarosa e sonolentamente, viu a porta abrir-se. Celeste ia entrando. Christopher levantou-se para puxar-lhe uma cadeira. Ela sorria, um tanto ansiosamente. Olhou somente para Peter. Foi diretamente a ele. O que viu fez toda expressão abandonar-lhe o rosto. Virou-se para o irmão e Henri:
— O que andaram fazendo a ele? — gritou. — Ele ainda está tão doente... Seu pulso está... está... — Seus dedos se crispavam no pulso do marido, os olhos cheios de uma raiva apaixonada. Muito pálidos, os lábios lhe tremiam.
Henri franziu as sobrancelhas. Deu um passo em direção a ela:
— Pelo amor de Deus, Celeste, não seja tola! Não fizemos nada. Seu marido voltou às velhas acusações... que estamos "fomentando guerra". Estávamos apenas a convencê-lo do contrário. Que há de errado nisso? Deverá dar-lhe alguma paz de espírito.
Ela olhou Henri em agitado silêncio, e o olhar daqueles olhos azuis-escuros fê-lo franzir as sobrancelhas novamente, um colorido embaçado subindo-lhe desagradavelmente às faces. Mas devolveu-lhe o olhar de modo imperativo e com considerável desdém.
Então ela se virou para o irmão e, em voz trêmula, exclamou:
— Christopher, você sempre transtornou Peter desse jeito. Que fez agora?
Christopher a olhou zombeteiramente:
— Ora, minha querida, isso é absurdo! Pensamos, para o bem da saúde de Peter, e sua paz de espírito, que devia ser desiludido. Aparentemente a verdade é demais para ele.
A respiração de Peter enchia o quarto de sons rascantes. Ele estava lutando por controlar-se. Pegou a mão de Celeste, e a sua estava fria e úmida de suor. Mesmo assim falou bem calmamente, olhando-a com um sorriso:
— Sim, minha querida, é isso mesmo. Eles acabaram de dizer-me a verdade. E, como diz o Chris: aparentemente é demais para mim.
Apertou-lhe a mão e ela o olhou espantada, enormemente abalada.
— Não se preocupe, querida. Estou bem. Eu... voltei à vida. Todas estas semanas, apenas sentado aqui... realmente, sinto-me bastante forte. Tenho muito trabalho a fazer, e você deve ajudar-me. — Ergueu-lhe a mão e pressionou os lábios em sua palma, pequena e trêmula.
As sobrancelhas de Henri, claras e espessas, se juntaram enquanto ele apreciava essa pequena cena, e agora seus olhos estavam cheios de maldade. Christopher, observando-o agudamente, viu como seus punhos se apertavam, e com o lábio superior se arregaçava deixando os dentes à mostra.
Celeste falou, suavemente, vendo apenas o marido:
— Sairemos daqui, Peter querido, imediatamente. Iremos para qualquer lugar. Amanhã?
Christopher se levantou, sorrindo para si mesmo:
— Parece que não somos queridos aqui, Henri, meu rapaz. Assim, deixemos a sós esse devotado casal.
Saíram do quarto. Fecharam a porta cuidadosamente, vendo, como última cena, Celeste ajoelhando ao lado de Peter, a cabeça no ombro dele, os braços em volta do marido. Ele lhe alisava ternamente os negros e lustrosos cabelos. Ela chorava.
Os dois homens se afastaram. Henri estava muito calmo. Christopher tocou-lhe o braço, dizendo:
— E então?
Henri voltou-se para o cunhado. Falou, maciamente:
— Ele sabia muito. Agora, sabe demais.
— Então...? — indagou Christopher, gentilmente.
Henri deu de ombros e sorriu:
— Homicídio ou será fratricídio?, não é aprovado pela polícia. Nem pelos Bouchards. Vamos: que sugere?
Christopher ergueu os sobrolhos:
— É evidente que ele não aguenta a verdade. Ora, doses maciças dela poderiam...
— E — refletiu Henri — sempre se pode mantê-lo impotente. Ninguém ousaria publicar o que o imbecil poderia dizer. Ainda há leis contra a difamação, você sabe. Nem mesmo nosso querido parente, Georges, ousaria. A propósito: seus negócios publicitários não estão indo muito bem ultimamente. Existem outros negócios dele, também, que podem não suportar a clara luz do dia. Acho que um de nós deve visitar o querido Georges.
Christopher assobiou de leve:
— Georges? Que conseguiu sobre o velho Georges?
Henri tornou a sorrir:
— Não omiti possibilidades. Georges, que não deve gostar muito de nós, poderia facilmente ser induzido a publicar alguma insanidade. De modo que fiz algumas investigações. Não se preocupe. Pode ser que eu nunca use o que sei. A propósito: ele não publicou recentemente um panfleto a respeito de "negociar com Hitler"? Chamava-se, creio: "O Louco e o Industrial". Tudo a respeito da impossibilidade de ter um normal relacionamento comercial com o forrador de paredes? Teve grande saída, acho. Embora fosse demasiado técnico para a rude mente americana média. Foi lido quase exclusivamente por nossos competidores mais cristãos, porém menores. Nenhum prejuízo. Mas a insanidade de Peter pode ser importante. Não se incomode. Posso deter tudo isso antes que se torne perigoso.
No quarto de que eles haviam saído, Peter estava dizendo a Celeste:
— Eles não querem guerra! Tentarão manter-nos de fora... Por quê? Celeste, pode dizer-me por quê? Meu Deus, por quê?
Continuou, sufocadamente:
— Secretamente, ajudaram a Alemanha a rearmar-se. Forneceram o dinheiro através de bancos americanos, franceses e ingleses. Mas não nos querem na guerra. Por quê? Por quê?
Capítulo 10
Henri foi ver sua mulher, Annette.
Ela se vestia para o jantar, tendo acabado de banhar-se e repousar. Sua saúde frágil necessitava de longos períodos de descanso e sono. Durante o primeiro ano de sua vida de casada, instintivamente compreendendo que sua doença e fraqueza física repugnavam ao marido, tentara dispensar esses períodos, e pateticamente assumira uma vivacidade e atividade que mais tarde a prostraram e a confinaram ao leito por perto de três meses. Daí por diante, não houve mais questão de compromissos para a tarde. Ela se recolhia quase invariavelmente às dez da noite, não se levantando até quase às nove horas da manhã seguinte. Não que fosse uma inválida, porém uma enfermidade congênita e a fragilidade física a compeliam a uma vida calma e de semi-convalescente.
Sua maior agonia mental era que o médico a prevenira de que qualquer tentativa para ter filhos provavelmente lhe causaria a morte, e que, de qualquer forma, não viveria muito após o nascimento de um filho. Na melhor das hipóteses, ficaria inválida. Havia querido tentar essa desesperada possibilidade, mas Henri não permitira. Ele fora muito "nobre" a respeito da situação — ela confiaria a Celeste, em lágrimas. Ninguém teria sido mais cheio de consideração, mais compreensivo, mais gentil. Ele não lhe permitia sequer voltar a falar do assunto com ele.
— Não, minha querida — dissera — não podemos discutir isso. Para mim, sua vida é mais preciosa que a possibilidade de ter filhos. Não posso suportar perdê-la, sabe disso.
Ele sorrira um pouco ao dizer isso, não de modo jocoso, mas severamente. Annette não compreendera absolutamente esse sorriso. Seu coração chegara a doer de apaixonada gratidão, e de alegria. Os anos seguintes do casamento tinham sido iluminados de felicidade. Havia amado Henri com êxtase irresistível antes de casar com ele. Discernira que ele não tivera por ela tal paixão e absorção, mas apenas uma afeição indiferente... se tivesse. Por que casara com ela em tais circunstâncias, não sabia. Para ela fora suficiente que casasse. Durante o noivado, algumas vezes ela o pegara a olhá-la fixamente, o que a aterrorizara. Sua ingenuidade e inocência, a falta de familiaridade com as emoções e reações humanas a haviam protegido, não lhe haviam deixado entrever o completo significado desse olhar — que implicava repugnância, repulsa, e desdenhosa piedade. Apenas o vago palpitar de seu coração, mais do que a razão, lhe causara terror. E então, vendo-lhe o medo, o terror, ele de súbito se tornava solícito, cheio de consideração, e mesmo terno. Revelava um cuidado quase extravagante por ela, o que, em lugar de lhe despertar suspeitas, as atenuava.
Nunca lhe ocorreu que ele casara com ela porque era a filha única e muito amada de Armand Bouchard, o presidente de Bouchard & Sons. Pois não era ele dono poderoso dos bônus Bouchard? Que mais poderia ele desejar? Ela não conhecia Henri Bouchard. Viria um tempo em que isso se daria, mas não agora. Até aquele momento, ela não compreendera seu ódio inquieto porque Jules Bouchard, seu avô, havia manipulado de tal forma os negócios da mãe de Henri que o filho, bisneto de Ernest Barbour, fora reduzido à impotência. Henri dissipara essa impotência. Era ele agora o poder entre os Bouchards e o presidente da companhia da mãe desde a aposentadoria do diabético Armand. Mas o ódio permaneceu. Era parte da sua personalidade. Não lhe era possível esquecer uma ofensa, uma injúria. Por vezes ele a olhava de maneira mais estranha, lembrando-se de que ela era neta do sutil e maquiavélico Jules.
Annette tornara objetivo o poder que ele mantinha por trás da cena. Ela fora uma coisinha demasiado frágil e gentil para conhecer ou compreender o que ele fizera imediatamente antes de seu casamento com ele. Ela ouvira fracos ecos do trovão, o sombrio tremor da terra sob todos os Bouchards. Porém seu casamento a tornara inconsciente de tudo mais. Sabia haver uma espécie de terribilidade a respeito dos Bouchards, mas acreditava ser porque era tão frágil e fraca e eles tão fortes. Não odiava ninguém; nem sequer antipatizava com o mais repelente dos Bouchards. Apenas ansiava por afeição, bondade, por mãos e vozes e olhos gentis. Agora que era esposa de Henri, tinha tudo isso à vontade. Sua gratidão era tocante, mesmo para o mais empedernido coração. Regozijava-se de que sua família agora a aceitasse como um ser humano completo, que muitos a ouvissem respeitosamente, e que fossem solícitos para com ela. Não fazia perguntas. Era muito doce, muito humilde, muito tímida.
Essas qualidades é que a protegiam contra as fúrias glaciais e a brutalidade sem remorsos de Henri Bouchard. Quando ele vira a prima pela primeira vez em 1925 (o pai dele e a avó dela tinham sido irmãos) imediatamente se deu conta de que ali estava uma pobre criatura instintivamente dominada por um conhecimento subconsciente do caráter de sua família. Soube que eles a desprezavam, quando ela, raramente, lhes chamava a atenção. Somente a antiga posição do pai como executivo dominante dos negócios dos Bouchards a defendera de abusos encobertos ou às claras. Sua juventude gentil, sua timidez, sua fraqueza física, seu aspecto de deformidade (que na realidade não existia) lhes lembrava uma antiga, lendária figura da família: Jacques Bouchard, filho do co-fundador da dinastia, o velho Armand, avô do avô dela. A lenda persistira na família, um conto furtivo que ainda despertava risos silenciosos entre os de mentalidade mais sórdida. Diziam que Jacques estivera "apaixonado" por Martin Barbour, irmão do terrível Ernest, e se matara quando Martin casou com Amy Drumhill, prima da esposa de Ernest. Emile, irmão de Annette, possuía uma velha e apagada miniatura de Jacques e, na verdade, o pobre deformado era estranhamente parecido com a pequena Annette. Os mesmos imensos olhos azuis, claros e radiantes, as mesmas feições delicadas, idêntico rosto triangular, pálido e indeciso, igual massa de cabelos claros e flutuantes. Até a expressão, gentil, trágica e atraente, era espantosamente parecida.
A primeira emoção de Henri ao ver Annette fora de indiferente compaixão. Mais tarde, ficou ligeiramente interessado por sua inteligência, doçura e inocência. Porém nunca se recobrou de uma sensação de forte aversão por ela. Por vezes a odiava, como se o houvesse ofendido só pelo fato de existir, embora ela lhe houvesse economizado anos de trabalho ao dar-lhe o controle de Bouchard & Sons. Sua razão se aborrecia ante essa reação emocional contra uma gentil criatura que nenhum mal lhe fizera, e que o amava tão apaixonadamente. Seu aborrecimento consigo mesmo causava esses intervalos de frieza para com ela que tanto a espantavam e amedrontavam, e que a enchiam de um sentimento de culpa. Esses intervalos aconteciam raramente. Ela era agora apenas a dona-de-casa, a anfitrioa, sua terna amiguinha sempre que ele lhe permitia isso, sua idólatra. E existem poucos homens capazes de resistir à idolatria... Ele apenas tinha de ser bom e cortês para satisfazê-la, para transformá-la numa alegria radiante.
A família estava completamente cônscia do motivo que o levara a casar com Annette, e o admirava por isso — mesmo quando riam à socapa ante o espetáculo do implacável Henri acasalado com esse esvoaçante passarinho. Conheciam-lhe as muitas ligações, mas pelo medo dele não eram levados ao conhecimento de Annette os saborosos fatos. E especialmente desde o advento de Rosemarie na vida amorosa dele. Também tinham Francis Bouchard, pai dela, com quem contar na eventualidade de um escândalo. Francis saberia? Acreditavam que sim. Com perspicácia conjeturavam que Francis até encorajava o "caso", na esperança da morte prematura de Annette e que Henri casasse com Rosemarie.
Desse modo, um muro de afeiçoado silêncio rodeava Annette. Ocasionalmente, no entanto, ela percebia as formas obscuras da realidade passando atrás do espelho, ouvia os apagados ecos ásperos de vozes cruéis, mas tensa como estava, com medo, não discernia nada de bastante definido para despedaçar o espelho e ficar desolada e tremendo. Talvez isso fosse porque não ousava olhar mais de perto. Forçava-se a satisfazer-se com as coisas como apareciam à superfície. Sempre fora demasiado introspectiva e sensível, muita medrosa. Mesmo no Paraíso ela procuraria a serpente, observaria o eterno sol buscando sinais de tormenta, acreditaria que os ventos sussurrantes do céu continham as vozes ardilosas dos inimigos. Assim disse a si mesma.
Pois Annette não era tola. Anos de vida calma e reclusa lhe haviam inclinado a mente para livros e música, longos pensamentos e silêncios meditativos. Isso lhe dera clareza de percepção — coisa perigosa para os desamparados. Sua consciência tinha sido como um emaranhado de antenas trêmulas a cada vento sutil emanado de outras personalidades. Fora capaz de sentir os pensamentos de outrem, suas reações, não apenas para com ela, mas para com as circunstâncias, o ambiente, as vozes, até mesmo para o sol e o tempo. Ela lhes percebera o passado e a reação deles a esse passado. Isso frequentemente lhe dava tal senso de desorientação e confusão que ela muitas vezes sentia sua própria personalidade a desintegrar-se na massa geral de reações a seu respeito — e não podia dizer se estava pensando assim ou assado, ou se outros é que pensavam de tal maneira.
Agora sabia que, se devia manter sua personalidade, se tinha de viver, de suportar tudo, deveria proteger-se contra esse exaustivo render-se a impressões alheias, e desamparadas identificações com suas personalidades. Devia adquirir uma crosta; melhor: devia encerrar-se em concreto. Se — como por vezes pensou — esse concreto tinha a qualidade de um sarcófago, pelo menos ela estaria comparativamente segura contra uma perceptibilidade que ameaçava sua própria existência, física e mental.
Pois, como seu parente Peter, sabia que certamente morreria se compreendesse demais sobre o mundo dos homens. Sua vida era agora uma luta sem fim para não ver mais do que o necessário para sua sobrevivência, não ler o verdadeiro sentido sob palavras casuais, aceitar as declarações dos outros com uma fé simples, acreditar que seus gestos significavam apenas o que pretendiam transmitir, que seus rostos expressavam o que eles aparentemente desejavam que expressassem.
De modo que tinha uma espécie de paz, feliz embora estática, em seu torturado coração. Se se pilhava ouvindo o severo e sinistro eco por trás de vozes casuais e amigáveis, se se via buscando um trejeito maldoso e um olhar cruel atrás de sorrisos afetuosos, ela austeramente cobria os ouvidos espirituais com as mãos e fechava os claros e desesperados olhos. Quem poderia conhecer a verdade a respeito da humanidade, e continuar a viver?, ela sussurrava para si mesma.
Quando Henri entrava em seus aposentos durante os primeiros meses, ou mesmo anos, de seu casamento, o olhar dela instintiva e medrosamente se cravava nele, seu coração palpitava mais rapidamente, atemorizada, o sangue lhe esfriava, de modo que ela tremia como se esperando um choque mortal. Já havia superado isso. Aceitava-o como ele desejava ser aceito por ela. Se ele sorrisse afetuosamente — como fazia nesta tarde — ela aceitava essa afeição. Porém ainda não podia controlar o instintivo desamparo de um coração que pedia a verdade, mesmo que morresse por isso.
Sua camareira lhe colocou nos ombros magros um roupão de rendas e discretamente saiu do quarto. Annette sorriu alegremente para o marido, estendendo-lhe a mãozinha. Ele a tomou: como sempre, ela tremia um pouco. Seus grandes olhos claros se fixaram nele com uma súplica desamparada a que ele já se acostumara e que nunca deixava de excitar-lhe a compaixão. De modo que se inclinou e beijou-lhe a testa, depois lhe tocou nos cabelos com mão terna.
— Estou interrompendo algo de importante, querida? — perguntou.
Ela suspirou, e sorriu: passara o perigo iminente. Sempre passava. Contudo, ela sempre esperava por ele, num terror incompreensível. Ela sentou numa cadeira estofada de cetim, como se estivesse fraca. Ele se sentou perto dela.
— Não, meu querido. Nada mais é importante, quando você aparece — disse ela. Suas mãos esvoaçavam, como se ela desejasse desesperadamente apoderar-se dele e sentir sua força.
— Muito bem: gostaria de oferecer uma grande reunião de família em homenagem a Celeste e Peter? — perguntou o marido, olhando-a com indulgente ternura. Seus pálidos olhos inexpressivos tinham até um leve sorriso.
— Oh!, querido! — ela exclamou. Juntou as mãos, suavemente. Agora era toda alegria, e delícia. Depois o rostinho se ensombreceu: — E Peter? Ele aguentará? E gostará disso?
— Acho que ele está bastante bem, doçurinha. Francamente, penso que o temos mimado demais. É como você faz, Annette: está sempre tão solícita e o mimando, como uma danadinha de uma carriça.
A isso ela riu, feliz, e adorou:
— Oh! Henri, isso é injusto! Não foi você mesmo que me avisou que o pobre Peter não devia ser perturbado, que precisava ser tratado cuidadosamente? Não foi você mesmo quem sugeriu as enfermeiras? Foi tanta bondade sua, tanta bondade! Mas foi você quem insistiu nisso tudo. Se realmente pensa que Peter pode suportar uma festa, então ficarei feliz em oferecer-lhe uma, bem como a Celeste. Quando acha que deve ser?
Porém ele ficou silencioso por um momento, olhando-a em penetração. Imediatamente ela se sentiu apreensiva. Ele disse:
— Você é louca por Celeste, não é verdade, doçura?
Logo ela ficou radiante:
— Oh, sim! — falou vivamente. — Sempre fomos muito boas amigas. Você nem imagina. Celeste foi minha única amiga. Somos quase da mesma idade, embora ela seja minha tia. Estávamos juntas sempre que tio Christopher o permitia. Acho que também fui a única amiga que a pobre querida teve. Tio Christopher a mantinha como uma freirinha. Eu faria qualquer coisa por Celeste — acrescentou, com a vivacidade do sofrimento e do amor. — Sei que ela é muito infeliz agora, por causa do Peter.
Ele não moveu um músculo; mesmo assim ela teve a estranha sensação de que se aproximara dela, como se para não perder a mais simples expressão, ou solitária entonação de sua voz.
— Por que pensa que ela é tão infeliz, Annette?
Ela sentiu a pressão poderosa de sua personalidade, sua presteza. Isso a confundiu, de modo que só pôde gaguejar:
— Ora, não é óbvio, querido? Peter esteve tão doente, ainda está. Parece não haver muita esperança de recuperação para ele. E Celeste lhe é tão dedicada, ama-o tanto! É terrivelmente tocante: por vezes não posso aguentar isso... — Sua voz se apagou; havia lágrimas em seus olhos.
Henri deu de ombros:
— Ela casou com ele, não foi? Sabendo que era um homem doente? Que poderia esperar?
Ela falou aflitamente, como se implorando sua compaixão para Celeste e Peter:
— Sim, ela sabia. Mas era tão jovem... Acreditava que ele se curaria. Afinal de contas, os médicos eram otimistas. O dano em seus pulmões era profundo, mas não irreparável, diziam. Porém ele não se curou. Até piorou. — Ela hesitou, novamente implorando piedade com aqueles olhos iluminados: — Certa vez Celeste me confiou que havia algo mais que tornava Peter tão doente. Disse que... pensava ser devido a não poder suportar as coisas que soubera a respeito... a respeito... — Sua voz silenciou, e agora os olhos estavam cheios de terror, como se ouvisse em si mesma o eco de coisas que não ousava ouvir.
Henri ergueu as sobrancelhas, numa expressão divertida. Riu:
— Ora, não vamos ficar metafísicos. Não consigo entendê-la quando fala esses absurdos, ratinho. É minha opinião, e a do doutor também, que Peter é por demais introspectivo, demasiadamente absorto em si mesmo e no que acredita. O egoísta supremo. Olhe, não estou querendo ser maldoso, assim não me olhe desse jeito. Estou dando minha opinião, após longo estudo de nosso sensível inválido. Por isso é que estou sugerindo uma festa. Pode ajudá-lo. Arrancá-lo de si mesmo. Além disso, Celeste também necessita distrair-se. Já observei que ela se sente infeliz. Por vezes cogitei se não estará arrependida de se haver casado com Peter.
— Oh, não! — gritou Annette, num tom singularmente alto e desesperado. — Está enganado, Henri! Ela o ama demais, sei disso!
— Como pode saber disso? — ele perguntou, obviamente aborrecido, e levantando-se. — Ela deve estar cheia de bancar a enfermeira. Não tem tido uma vida normal. Eu não a censuraria se estivesse farta disso.
Ela o olhou, alargando e estreitando os olhos até que todo o rostinho parecia cheio de uma angustiada tonalidade azul.
— Henri, você não compreende. Celeste é tão... tão austera! Não se permitiria pensar tais coisas. Conheço Celeste. Sei que prefere sua vida com Peter, embora ansiosa e infeliz como tem sido por vezes, a uma vida mais normal e serena com algum outro. Por favor, acredite-me. Eu sei.
— Celeste lhe disse isto?
Ela tornou a sentir que ele se aproximara dela demais. Havia em sua garganta uma sensação de sufocação. Ergueu as mãos como para afastá-lo, e ele pensou:
"Ele também fez isso, esta manhã... São parecidos, esses patéticos coitados!"
— Não, não, ela não me disse! — ela gritou. — Apenas, eu sei! — Agora apertava as mãos na almofada a seu lado como se prestes a saltar e fugir.
Ele viu sua angústia, mas não tinha remorsos. Estudou-a atentamente. Pensou:
"Ela está apavorada. Receia olhar a verdade. Ela conhece a verdade."
Relaxou e sorriu. Tomou-lhe o rostinho nas mãos: estava frio e úmido ao toque. Inclinou-se e tornou a beijá-la. Ela estava vibrando como um diapasão tocado muito violentamente. Mas sob seu toque forte, seu sorriso, sob seus olhos deliberadamente amorosos, ela se apaziguou, sentindo apenas uma profunda fraqueza.
— Agora, estamos ficando muito excitados sem motivo nenhum — ele disse, de maneira calmante. — Por que se agita assim, sua tolinha? — Afagou-lhe as faces novamente, depois endireitou-se. Tirou do bolso a cigarreira de ouro que ela lhe havia presenteado no último aniversário, e indiferentemente acendeu um cigarro. Ela observava todos os seus movimentos, deliberados, pesados, calmos, e não podia desviar dele os olhos. Ele lançou algumas baforadas, franzindo as sobrancelhas pensativamente ante a fumaça espiralante.
— Tenho a impressão de que você talvez tenha razão — ele reconheceu. — Esta manhã mesmo Celeste disse algo, diante de Peter, quanto a deixar-nos em breve.
Ela deu um leve grito de protesto. A fraqueza ainda se abatia fortemente sobre ela, mas esqueceu-lhe a causa diante do que agora se apresentava.
— Oh, não posso ouvir isto! Esperei que Celeste e Peter ficassem conosco indefinidamente... Não posso suportar perdê-la agora, Henri!
Ele sorriu com satisfação oculta.
— Bem, não podemos acorrentá-los, você sabe. Entretanto, você deveria mencionar seus sentimentos a Celeste o mais breve possível. Diga-lhe que precisa dela, ou algo assim. Ela adora saber-se necessária.
Havia alguma coisa em seu tom, alguma coisa de cruel ou sardônico, que fez a pobre criaturinha tremer. Porém ela se obrigou a pensar: "Ele é tão bom! O meu querido é muito bom! Sempre pensa em mim!" E disse:
— Farei isso, meu querido. Talvez esta noite.
E se levantou quando ele se dirigiu à porta, seguindo-o como uma frágil sombra branca. No limiar ele se deteve, para tocar-lhe o rosto de leve. Abriu a porta e saiu. Ela a fechou lentamente.
As palmas de suas mãos adejaram de encontro à madeira polida. Seus lábios quase a tocaram. Depois, bem devagar, eles entraram em contato com a porta. Ela ficou ali, encostada à porta, como se crucificada de encontro a ela, como se desmaiada contra ela, incapaz de afastar-se por medo de cair na escuridão total, para sempre...
Capítulo 11
Imediatamente antes do jantar Annette foi aos aposentos de Celeste e Peter.
Sua fingida vivacidade tornara-se involuntariamente um hábito, e ela se movia rapidamente em suas perninhas finas e pezinhos minúsculos, mal parecendo tocar o chão em seu andar. Seu vestido primaveril azul e branco enfatizava a infantilidade de seu todo, e os cachinhos que lhe emolduravam o pálido rostinho destacavam sua aparente imaturidade. Nada poderia ser mais doce que o seu sorriso quando, após uma leve batida à porta, entrou na sala de estar de seus hóspedes.
Encontrou Celeste sentada perto de Peter, enquanto aguardavam a sineta para o jantar. Celeste, de vestido branco, parecia toda frialdade e frescura, embora o dia tivesse sido extremamente quente e abafado. Como de costume, Peter estava exausto. O olhar rápido e perceptivo de Annette ficou preocupado: seria imaginação sua ou Celeste estava anormalmente pálida e de olhos e lábios tensos? Certamente o olhar dela era mais austero que de hábito, e seu queixo arredondado mostrava uma severa obstinação. Teriam os queridinhos estado brigando? Como sempre, ao menor sinal de uma atmosfera perturbada e violenta, o coração de Annette se enchia de inquietação e de medo. Seu sorriso se tornou ainda mais terno e ansioso, e suas mãos se ergueram a meio, como se para implorar, para suavizar.
— Não esteve horrivelmente quente? — falou infantilmente. — Não, não, querido Peter, por favor, não .se levante. Ficarei apenas um minuto, até o jantar: já está na hora.
Adiantou-se e pegou na mão de Celeste, enquanto se sentava, e a olhou com seriedade muda e implorativa. Estariam cansados dela? Será que os aborrecia com sua tola impotência? Estaria a incomodá-los?
Celeste, que sempre conhecera tanto a respeito da sobrinha, sentiu uma aflição sem nome. Teria a pobre criaturinha "sentido" as palavras de protesto, frias e amargas ali trocadas antes de sua chegada? Teriam tais palavras deixado um som de discórdia no ar? Forçou-se a sorrir afetuosamente:
— Esteve bem quente, porém mal o sentimos aqui em Robin’s Nest.
— Não sairemos neste verão, como de costume — disse Annette, pateticamente grata ao sorriso de Celeste e à pressão em sua mão. — Henri achou que não devíamos fazê-lo, com as coisas como estão na Europa. Quer estar em casa, caso haja "evolução" dessas coisas... Porém eu não acho que isso poderá piorar, não acham? Seria tão estúpido, tão terrível... Nem se deve pensar nisso!
Peter olhou rapidamente para a esposa. Porém ela não o olhou. Era toda atenção para com Annette.
— Bem, estou certa de que não poderíamos encontrar local mais agradável do que Robin’s Nest, querida — disse Celeste. — Foi tanta bondade de vocês nos convidarem... Estamos muito gratos. — Deteve-se. Seus lábios se apertaram numa linha fina. — Mas deve ser muito cansativo para você, ter-nos no seu caminho todo o tempo. Por isso já falei com Peter que devemos procurar onde morar.
Annette ficou imediatamente alarmada e angustiada. Com ambas as mãos apertou estreitamente a de Celeste, e se inclinou para ela:
— Henri pensou que vocês teriam isso em mente — falou, a voz quebrada. — Não pude, realmente, acreditar nisso. Você nem sabe o quão feliz me fez, querida, só por estar na mesma casa que eu. Estabeleceu uma grande diferença. Por vezes sinto-me tão solitária... Eu... eu pensei que vocês ficariam indefinidamente. Se vocês se forem quebrarão meu coração.
Celeste ficou silenciosa. Seus lábios ficaram mais rígidos que nunca. Desviou os olhos. Porém Peter soergueu-se um pouco em sua poltrona. Disse:
— Isso é o que eu estava dizendo a Celeste, Annette. Deveríamos ficar um pouco mais. — Ele parecia um tanto confuso, e um leve rosado lhe chegou às descarnadas maçãs do rosto. — Estive delineando meu trabalho. Não gostaria de interrupções logo agora. Mas Celeste acha que estamos atrapalhando vocês.
— Continuo achando — falou Celeste, em tom áspero. Olhou para o marido diretamente. — É demais para Annette. Devia dar-se conta disto, Peter. — Mas seus olhos continuavam sua zangada discussão com ele.
Ele havia declarado, imediatamente antes da entrada de Annette, que devia ficar, que precisava ficar, que uma vez fora dessa casa nada saberia de Henri. Aprendera tão terrivelmente muito naquela manhã... Tinha de saber mais. Ele — dissera — simplesmente não podia compreender Celeste. Ela se tornara mórbida, supersensível, histérica mesmo. Por que, Senhor! Insistia em sair dali? Ela não respondera. Porém o olhara estranhamente, com uma espécie de medo desesperado e sem palavras. Ninguém diz ao marido:
"Devemos deixar a casa desse homem para nossa própria salvação. Você não compreende que eu nunca o esqueci, que por todos estes anos ele tem estado em minha mente, como uma praga, ou uma obsessão, ou uma moléstia? Acreditei odiá-lo; pensei que nunca esquecemos aqueles a quem odiamos. Não sei. Será que o odeio? Ele me repelirá? Eu o detesto? Não sei! Só sei que não posso parar de pensar nele, que lhe ouço a voz em todo lugar, que quando o vejo mal posso respirar, e que quando fico insone à noite vejo seu rosto diante de mim no escuro. Que, quando ele me toca, mesmo se apenas ao passar, ou por acidente, fico em fogo! Sempre foi assim, desde o começo, quando o vi pela primeira vez. Ainda não compreendo. Só sei que estou em perigo, talvez mais por mim mesma do que por ele. Por sua salvação, meu querido, devemos sair daqui."
Não, nunca ninguém disse isso: apenas se levanta e foge. Olhou para Peter, e o perigo parecia adejar em torno dele, para destruí-lo, e todo esse perigo provinha dela mesma, e não de Henri.
Em seu desespero ela tomou a falar, bem alto, para fugir à voz implorativa de Annette:
— Devemos sair, Annette. Não podemos impor-nos a vocês por mais tempo. Todas essas enfermeiras, essa inconveniência, essa perturbação de sua rotina. Vocês têm de pensar em nós antes de fazer seus próprios planos. Têm de adaptar suas vidas à nossa. Não é justo para vocês.
Podemos dizer a uma querida anfitrioa, a quem amamos:
"Tenho de ir embora, antes que a destrua? Não pode compreender que me parece terrível vê-la como esposa de Henri, que por vezes a odeio, minha querida, e que receio que algum dia tenha esperança que você morra? Não pode ajudar-me a salvar-me dessa coisa horrível? Cada vez que vejo Henri... há em mim pensamentos terríveis: Ajude-me a salvá-la e salvar-me..."
Pensando essas coisas, cheia de terror, olhou de Peter para Annette. Pela primeira vez percebia a misteriosa semelhança entre eles. Ambos eram puros de coração, ambos ternos e vulneráveis, ambos gentis e castos e demasiado honrados para compreender as coisas vergonhosas que podem invadir os corações de outros. Ela se sentia de espírito tenebroso e violento, de mente retorcida e atavista diante de sua pureza de coração, sua verdade e sua fé. Ela se sentia impura, degradada, corrupta, toda calor e trevas úmidas, toda tempestade. Não ficou prostrada por isso. Antes, sentia-se forte e mais consciente, vital e de peito quente e pernas trêmulas. O perigo, nela, era todo volúpia, cheio de quente langor e de um desejo a que não ousava dar nome... E eles apenas olhavam para ela com seus diáfanos olhos azuis-claros, perturbados e angustiados, como para uma criança voluntariosa e egoísta.
Então Annette levantou-se, inclinou-se sobre sua jovem tia e a beijou ternamente. Havia doçura em sua voz:
— Oh, querida, como pode dizer tais coisas? Como pode ser tão cruel? Eu a amo, Celeste. Se você se for, não lhe posso dizer a falta medonha que me vai fazer...
Lágrimas ardentes pesavam nos olhos de Celeste, embora ela as desviasse. Disse:
— Mas não vamos para longe!! Ficaremos em Windsor.
— Mas onde, querida? — instou Annette. — Vocês têm de construir. Pensei que ficara entendido que vocês permaneceriam conosco até construir sua própria casa...
Celeste estava silenciosa.
— Já andamos estudando planos e plantas — falou Peter, friamente. — Havíamos quase decidido sobre o tipo de casa que queremos. E agora Celeste quer ir-se, antes que as coisas estejam estabelecidas. Seria só por um pouco mais.
Annette olhou para a tia, para aquele branco e severo perfil. Dificilmente podia conter as lágrimas. Curvou a cabeça de modo a poder ver claramente o rosto de Celeste, e a massa de seus cabelos claros e fofos lhe caiu sobre o rosto da maneira mais tocante.
— Querida, olhe para mim. Não gosta mais de mim? Está cansada de mim? Realmente quer deixar-me? Aborreço-a tanto assim?
Celeste ergueu rapidamente a cabeça, entreabrindo os lábios. Mas quando seus olhos deram com a líquida pureza azul dos de Annette, e viu seus rogos, sua dor, sua patética inocência, apenas pôde permanecer silenciosa. Beijou a frágil face tão junto da sua, e tentou sorrir. Finalmente falou:
— Como pode ser tão tolinha! É que eu julgava que os estávamos incomodando. Já estão aqui Christopher e Edith. Pensei em sua saúde...
— Oh, eu estou muito, muito vigorosa! — gritou Annette, tão depressa como sempre que se mencionava seu estado físico. — Sou muito enganadora. Diz o doutor que gente como eu vive para sempre. "Nanicos têm muita vitalidade", disse-me. Posso ser pequenina, mas sou forte como aço. Você nem faz ideia. Muitas vezes Henri me diz que o deixo exausto. Disse que não ficaria surpreso se eu o enterrasse meio século antes de minha morte, e que acabaria meus dias como uma velhinha a um canto da chaminé. Por vezes chego a acreditar nele, embora ele seja tão extravagante. A cada ano fico mais forte. De verdade. — Sorriu radiante e pôs o bracinho magro em volta dos ombros de Celeste, convidando Peter a rir com ela.
"Contudo — pensou Celeste — seu coração se romperia, e então você morrerá. E seguramente nós partiremos o seu coração e também o de Peter, Henri e eu, a menos que me deixe ir. Não tenho a força de vocês, meus queridos. Não tenho sua bondade e confiança. Vocês não sabem o que sou! Até ultimamente, eu mesma não me conhecia..."
Depois pensou:
"Não poderei confiar em mim por mais algum tempo, por amor deles? Não terei decência nem autocontrole? Certamente não sou tão fraca, tão depravada assim!"
E disse:
— Vejo que vocês dois me venceram, de modo que suponho não haver nada que eu possa dizer. Peter — e se voltou para o marido com a antiga gentileza — você realmente se decidirá amanhã a respeito dos planos? Você foi tão indeciso...
Agora que havia dominado, Peter estava ansioso por acalmá-la:
— Claro! E também consultaremos Annette: haverá aposentos para Annette, quando nos visitar. — Sorriu para Annette, que lhe retribuiu alegremente o sorriso. Ela batia palmas e quase dançou de delícia.
— Mas que ótimo! E, claro, darei um grande jantar para homenagear vocês dois! Henri falou nisso. Ele é sempre tão cheio de consideração... Não será perfeito?
Capítulo 12
Enquanto Annette estava ocupada em sua amorosa persuasão de Celeste para permanecer em Robin’s Nest, Armand Bouchard — pai de Annette, irmão de Celeste — chegou para jantar, com o filho, Antoine, "a reencamação de Jules Bouchard."
Armand era viúvo. Morava com o filho solteiro em seu castelo enorme e quase ridiculamente palaciano, sobre o rio Allegheny. Tinha quase duzentos quartos e, como declarara um espirituoso, abrigava criados em número suficiente para formar o núcleo de uma florescente aldeia. Sua esposa tentara sobrepujar os castelos e palácios dos demais Bouchards pelo tamanho e a majestade das proporções — e conseguira produzir uma vasta monstruosidade pseudo-medieval de ostentação. Não tivera bom gosto. Armand, embora lhe permitisse satisfazer seus gostos em questão de castelo e de mobiliário, tivera a prudência de chamar os melhores jardineiros paisagistas da América para suas terras. Em consequência, o ridículo do castelo foi em grande parte modificado, amenizado, pela beleza, magnificência, e luxuriante esplendor do meio ambiente. Para minimizar as tremendas proporções do edifício, os jardineiros instalaram terraços que gradualmente desciam até o rio, haviam transplantado elmos e carvalhos gigantes para sombrear esses terraços, fizeram longas rampas que levavam às muralhas de pedra cinzenta, onde uma casa-de-guarda vigiava os altos portões de ferro.
Em meio a tudo isso vivia o diabético e obeso Armand. Henri o fizera Presidente do Conselho de Bouchard & Sons, o que pouco exigia de Armand, exceto um ocasional e pomposo aparecimento e maneiras sérias e judiciosas durante as reuniões. Nessas ocasiões, sentava-se em sua grande cadeira forrada de pelúcia, estendendo o grosso lábio inferior, a olhar com perspicácia de rosto em rosto, com aqueles olhinhos feito contas, emitindo profundos resmungos sob a respiração e, nesse ínterim, fazendo retinir um punhado de pequenas moedas de prata no bolso sujo. Sempre que ouvia o retinido, sorria com patético prazer, e cantarolava de boca fechada. Por vezes passava a mão na grande cabeça redonda de cabelo grisalho à escovinha, ou esfregava as costas da mão vigorosamente no nariz acharparrado. E novamente, por vezes, "aliviava-se" de uma opinião sem a menor importância. Todos o tratavam com a máxima cortesia, inclinando a cabeça respeitosamente sempre que ele falava; e muitas vezes, disfarçando um sorriso, algo brilhava friamente nos pálidos olhos de Henri. Assim, permitiam a Armand acreditar que ainda era uma força entre os terríveis Bouchards. Era um velho agora. Já era suficiente que Henri o houvesse admitido, embora os Bouchards com frequência expressassem ligeira surpresa por que ele tivesse feito mesmo isso, pois Henri não era dado a ações caritativas. Poucos chegaram a notar o fato de que as mãos do gordo velho, em repouso, tinham um movimento trêmulo crônico, impotente e trágico, como as mãos de um cego. Estavam mais interessados em contemplar as ruínas de quem fora outrora todo-poderoso, e depois tão completamente anulado pelo genro. Cogitavam quais seriam seus pensamentos, se teria noites de raiva frenética e fútil, ou de grande tristeza.
Por vezes até se apiedavam dele, desdenhosamente. Ele nunca fora um favorito, fora escarnecido mesmo em seus dias de grandeza. Pois era desasseado, grosseiro, não era limpo de hábitos nem com a sua pessoa, apesar de uma quantidade de criados. Calças acabadas de passar logo se enrugavam em suas coxas grossas; coletes imaculados, imediatamente, ficavam manchados; e as camisas, amarrotadas e sujas.
Só seu irmão, o vitriólico "Trapista rabelesiano" Christopher, tinha perspicácia para adivinhar os pensamentos que ocasionalmente acudiam ao velho irmão. Sabia Christopher que, durante toda a vida, Armand tinha sido atormentado por uma espantosa consciência de classes que, em última instância, não lhe deixava fazer certas coisas. Não eram muitas, essas coisas, porém eram o bastante para despertar a hilaridade dos Bouchards, e seu divertido desprezo. Por conseguinte, Armand, mesmo quando mais atarracado, tinha sempre um ar de perplexidade, medo e hesitação.
Entretanto, Christopher tinha a ideia perspicaz de que Armand desfrutava de alguma paz desde que fora removido do poder. Por vezes, quando as discussões se tornavam muito secretas e cheias de intriga, um vago olhar de medo e inquietação lhe encobria a expressão fofa e florida, e, após alguns momentos — tendo primeiro pigarreado, sacudido a cabeça, esfregado o nariz, fungado e piscado. — Armand se levantava com dignidade e alegava indisposição, ou um compromisso. Depois saía gingando da sala da Diretoria, naquelas pernas curtas e inchadas, apressando o passo ao chegar à porta. Parecia fugir, e os outros o olhavam, rindo à socapa. Por vezes, tratava-se de um truque deles, para fazê-lo sair antes de debates realmente sérios. Não queriam testemunhas para esses procedimentos — especialmente não uma testemunha como Armand.
Christopher também achava que Armand, agora, tinha realmente apenas dois interesses na vida: a amada filha Annette, e sua diabete. Devido à sua "largueza" em matéria de alimentação, a moléstia foi uma catástrofe. Sempre fora um comilão. Durante anos, quando tinha de enfrentar a necessidade de uma decisão iníqua — que deveria tomar pela sorte da Companhia, ou repudiar pelo bem de sua consciência — ele repentinamente abandonava a iminência de decisão por uma sessão à mesa. Seus cozinheiros tinham ordens de produzir os pratos mais ricos e deliciosos, e Armand sentava-se diante deles em desesperada concentração e comia, literalmente, durante horas. Havia algo de orgiástico nessas ocasiões. Armand não falava; muitas vezes ficava só, nos espaços vastos como os de uma catedral da sua sala de jantar. Prendia sob o queixo um guardanapo que era um verdadeiro "lençol", erguia os ombros, empunhava garfo, faca, colher, e enchia o silêncio da sala com o som de um mastigar alto e frenético, e um engolir, e um remoer glutão. Seu grande rosto fofo ficaria mais rubicundo, congesto, coberto por uma camada de suor gorduroso, as orelhas ficando arroxeadas nas bordas. Mais tarde, ele "baixaria" em seus aposentos na semi-coma de uma torturada digestão, e, envolto em aflições físicas, esqueceria as agonias mentais. Um camareiro lhe traria vários sedativos para os intestinos, lhe aplicaria saco quente no ventre inchado, e mais tarde chamaria um médico. Quando, finalmente, chegasse a dormir, uma aparência de paz semelhante à morte estaria em suas feições.
Agora tinha sua diabete, que lhe ameaçava a vida se descuidada ou ignorada. Tinha sua agulha de insulina — que se tornara de interesse absorvente para ele. Na ocasião, tinha pouco que o perturbasse, e só ocasionalmente recorria aos prazeres da mesa para suavizar seus conflitos psíquicos. Nunca se sentava para uma refeição sem a lista de sua dieta diante de si — documento que era agora mais importante para ele do que qualquer outro outrora ligado à Companhia. Levava com ele a sua lista para todo lugar onde fosse convidado a jantar com os parentes; e, quando a conversa ameaçava tocar nos negócios da Companhia e suas várias subsidiárias, ele a interromperia com avisos a respeito de determinados pratos:
— Este — dizia, apontando com o garfo ou a faca — é praticamente veneno. Cheio de açúcar. Cheio de albumina. Proteína demais. Vocês não fazem a menor ideia, estou vendo, sobre o que pode fazer ao pâncreas de vocês. Meu médico me dizia, no outro dia mesmo...
Por isso, Armand era raramente chamado pelo nome entre seus alegres parentes. Era designado como "A Lista". Causava grande alacridade entre eles devido a suas discussões a respeito da necessidade de "refeições simples, completas, cheias de minerais, simples e substanciais, bem fortificadas com vitaminas". Muitas vezes, gravemente visitava os cozinheiros de sua família em suas próprias cozinhas, e os exortava a respeito de manteiga demais, molhos demais, muito vinho, temperos em excesso. Ele enchia o prato de saladas sem sabor, uma fatia de carne magra, algum vegetal cru, e dizia aos outros (cujos pratos estavam cheios de "veneno") que estavam cavando suas sepulturas com os dentes. Então os observava a devorar o "veneno" com gosto, seu próprio rosto expressando avidez. Certa vez, com ingenuidade patética, chegara a convidar alguns dos parentes para observar a aplicação da injeção de insulina, o que não fora aceito.
Além de sua saúde e de sua injeção, tinha só uma paixão: a filha. Pelo filho, Antoine, agora secretário de Bouchard & Sons, sentia apenas medo e um ódio secreto, e uma aversão aterrorizada. Por vezes Antoine o fascinava, pela semelhança com seu próprio pai, Jules. Certas ocasiões, tinha sonhos em que via o velho Jules, sutil, sorrindo, sardônico, cheio da antiga gargalhada maquiavélica. E então via que não era Jules absolutamente, mas Antoine: acordava tremendo e banhado em suor, e durante dias evitava Antoine.
No entanto, Antoine era todo respeito pelo pai, ouvia-o com cortês gravidade quando Armand discursava sobre dieta, pedia-lhe conselho sobre matérias de menor importância da Companhia, e chegava a diverti-lo com comentários picantes sobre outros membros da família. Pois Antoine era espirituoso, um fazedor de epigramas, boa palestra, pessoalmente elegante e afável — o retrato perfeito do cavalheiro francês do tempo antigo. Havia um retrato de Jules na biblioteca apainelada de Armand cheia de ecos desolados, e muitas vezes Armand parava diante dele a mirá-lo com a tristeza, o temor instintivo, a inquietação e aversão que sentira pelo pai nos últimos anos da vida dele. Depois, com terror crescente se bem que obscuro, observava as feições de Antoine naquela expressão dos sutis olhos negros, a boca satírica e cheia de mobilidade com o canto esquerdo erguido, o nariz longo de narinas estreitas. Todas as qualidades intelectuais, a astúcia refinada, a delicadeza cruel, a vivida perversidade, a vigilância vivaz daquele rosto, se haviam reproduzido em Antoine, mesmo as sobrancelhas oblíquas com seu olhar inquisitivo. Era a fisionomia de Mefisto, fascinante, rutilante de sadística diversão, perceptiva e letal.
Havia respirado num alívio sem nome quando Antoine, alguns anos antes, declarara não estar absolutamente interessado nos Bouchards ou suas preciosas velhacarias ou sua rede de subsidiárias. Ele era um poeta — dissera, com um sorriso que zombava de si mesmo tanto quanto dos outros. ("Céus! Iremos ter outro François na família?" — perguntara Christopher, lembrando-se do trágico pai de Henri, que se matara em face deste áspero mundo.) De modo que Antoine, após uma brilhante carreira em Harvard, estudara na Inglaterra, na França e na Alemanha, viajara quase constantemente, gastara bem, porém discretamente, e parecia haver decidido que a carreira de um diletante consumado e aperfeiçoado lhe convinha admiravelmente. Publicara um volumezinho de poemas excepcionalmente irreverentes, mas intelectuais, aclamados deliciadamente no mundo inteiro. Era um conhecedor das várias artes, mas apenas pela fama, para sua própria distração, e seu gosto era impecável. Ora considerava candidamente o palco, ora se interessava pela pintura futurista, ora só dava atenção a miniaturas. Era soberbo o seu conhecimento de música, e era um fino pianista. Mesmo seus vícios se distinguiam pelo refinamento e uma elegância nativa, suas amantes sendo de tão alta linhagem quanto ele próprio. Ainda não estava casado, embora já na casa dos trinta.
Essa flor da família Bouchard era muito popular, mesmo entre a sua própria gente — o que não é dizer pouco a respeito de suas graças de temperamento e personalidade. As senhoras da família rivalizavam por sua presença à sua mesa, pois nenhuma festa seria enfadonha com Antoine Bouchard. E elas todas estavam mais ou menos apaixonadas por ele; até os parentes masculinos faziam questão de sua presença. Ele era um imprestável, diriam, provavelmente um louco, porém era decorativo, e acrescentava distinção à família.
Então, cinco anos antes, esse gracioso, esse completo, esse vivaz e arguto jovem calmamente anunciara à família que pretendia identificar-se com ela, isto é: com a sorte da família.
— Não se apressem! — disse, com um sorriso, e estendendo as mãos naquele sempre lembrado gesto de Jules. — Não sou impaciente. Repousarei placidamente em casa enquanto vocês, rapazes, rivalizam por meus serviços. Quando tiverem algo de sólido para me oferecer, tragam-no em bandeja de prata. O mais alto licitante obtém os incomparáveis serviços de Antoine Bouchard, garantidos para acrescentar colorido e vida ao mais insípido dos escritórios.
A princípio não o levaram a sério. Porém Christopher aparentemente o fez. Dentro de uma semana escreveu a Antoine, oferecendo-lhe a posição de Secretário em sua própria companhia, a Duval-Bonnet, fabricantes de aviões na Flórida. Com a posição vinha um excelente salário. Mas Antoine prontamente recusou:
— Não suporto o clima — disse, numa nota amigável ao tio.
Depois, garantindo uns aos outros que eram uns idiotas em dar atenção ao brilhante e inútil Antoine, todos lhe fizeram ofertas. Francis, Jean, Alexander, Emile, até Nicholas se apresentaram, discretamente, com sugestões. Hugo, o Senador pela Pensilvânia, sugeriu política. Antoine fingiu investigar cada uma dessas amigáveis proposições, porém afinal pesarosamente declinou.
— Ele não está realmente interessado... — disse Francis. — Que é que vocês esperavam?
Então Georges, o editor em Nova York, fez ao jovem uma oferta que todos tinham certeza que ele aceitaria, considerando seus poemas e sua familiaridade com os negócios de publicidade. Para surpresa geral, também isso foi recusado.
— Está cheio de disparates — foi o veredicto da família. — Gosta de brincar com ideias.
Contudo havia alguém que não estava certo disso, e esse alguém era Henri Bouchard, seu cunhado e primo. E só Henri não fez qualquer oferta. E Henri é quem escutava, e observava, com um impenetrável sorriso íntimo, e silêncio.
Pois fora Henri quem, em sua vingança, sua ganância e implacabilidade, despojara Armand, pai de Antoine, de seu poder; quem, saído da obscuridade e da impotência, se apoderara do trono dos Bouchards. Na ocasião Antoine era muito menino, um garoto de escola e, portanto, indiferente e inconsciente da geleira que se movera inexoravelmente sobre a família, uma geleira a erguer-se de uma base oculta, reunindo força e terror em silêncio, irresistível em sua força e implacabilidade. Antoine chegara à idade viril, viajara por todo o mundo buscando seus prazeres, sorrindo, cheio de savoir faire, gracioso e indiferente, gastando de sua própria e enorme fortuna, não demonstrando interesse por coisa alguma. Depois, de repente, languidamente, a sorrir, dando de ombros, espalmando as mãos, anunciara seu interesse casual nos negócios dos Bouchards.
Isso foi o que Henri observou, divertido, de lábios cerrados. De modo que não ficou absolutamente surpreso quando Armand, acanhado e confuso, acompanhou o filho ao escritório de Henri e anunciou que Antoine finalmente decidira que gostaria de entrar para o "negócio".
— Ele pensou bem em todas as propostas — falou Armand, como vaga desculpa. — Nada atrai o rapaz. Então... então sugeri você, Henri. Ele está disposto a aceitar o que você oferecer.
Haviam-se sentado à escrivaninha de Henri, o pai e o filho, enfrentando o homem formidável de olhos pálidos e brutais lábios grossos. Henri usava a escrivaninha antiga de Armand: sentou-se ali, diante da vasta extensão de mogno, a mão quadrada de grandes unhas descoloridas agarrando uma caneta. E Armand sentou-se do outro lado da mesa, a mesma mesa onde outrora ele fizera todos os planos para Bouchard & Sons — quase um suplicante agora, um homem velho e impotente, completamente despojado por essa reencarnação mais jovem e mais terrível de Ernest Barbour.
E então Henri lentamente voltou os olhos para Antoine, ali sentado tão graciosamente e com um sorriso tão brilhante, ao lado do pai, e completamente à vontade, cheio de elegância e compostura, aparentemente apenas divertido, aparentemente apenas casual e amigavelmente interessado na súplica de seu pai. Calmamente encontrou os olhos de Henri, os seus próprios reluzindo e cheios de leve júbilo, um cigarro numa longa piteira de ouro pendurado nos seus finos dedos morenos.
"Então é assim!" — pensou Henri, brincando com a caneta em suas mãos, bem devagar.
Ampliou-se o sorriso de Antoine. Era um sorriso muito atraente, que as mulheres achavam irresistível.
— Nada de exaustivo, compreende, Henri? — disse ele, e tinha a voz melíflua de Jules, cheia de subtons musicais que ameaçavam romper numa risada. — Nada de muita clausura. Tenho apólices e ações em Bouchard e nas subsidiárias, e só Deus sabe o que mais. Muito confuso!
A boca de Henri se apertara até parecer um fino talho no rosto pálido.
— Conhece alguma coisa a respeito da casa Bouchard? — perguntou, a voz poderosa em granítico contraste com a de Antoine.
— Afinal de contas, você tem sido uma espécie de playboy, não é verdade? Que garantias posso ter de que isso não é apenas um novo e temporário interesse que se esgotará em poucas semanas? Isto aqui não é um circo, sabe; nem um carnaval, com um carrossel, uma banda e dançarinos. Tenho de saber um pouco mais.
Ante seu tom sardônico, desdenhoso e condescendente, Armand foi subitamente despertado de sua indolência doentia, sua inércia comatosa. Ergueu o vulto poderoso da cadeira onde outros suplicantes se haviam sentado durante sua própria gestão. Por um momento ou dois houve nele um selvagem e raivoso clamor, uma confusão, uma fúria! Aquela era a sua cadeira, na qual esse assustador intruso sentava-se agora! Era a seu filho que o intruso dirigia essas palavras condescendentes e escarnecedoras! Seu filho, que deveria sentar-se agora ali, o poder dos Bouchards! Seu filho, que fora espoliado tão espantosamente de seus direitos de nascimento!
Seu gordo rosto ficou arroxeado. Os olhinhos cor de azeviche faiscaram. Um longo tremor lhe passou pelo corpo, pelo ventre, como uma ondulação visível. Falou, com a voz sufocada:
— Henri, estou certo de que Antoine... se dá conta. Ele... ele não é um louco!
Deteve-se. O sangue lhe subiu à cabeça. Gritou:
— Este é meu filho! Meu filho!
Suas palavras expressavam todo o seu ultraje, a súbita compreensão, o completo ódio e desespero.
Henri virou a cabeça maciça e o olhou com a face formidável de Ernest Barbour. Nada disse: apenas o fitou, sem expressão. Armand sentiu o impacto desse olhar, como um soco mortal de um punho pétreo.
Então Antoine riu de leve. Dera uma olhada em seu pai, surpreso. O velhote devia, pois, ter-lhe alguma amizade, sob o medo instintivo, o ódio e a aversão. Armand captou esse olhar. Seu pai também o olhara com essa jovial surpresa em seu leito de morte, quando o filho — incoerentemente, mas com dolorosa sinceridade — protestou: não queria que Jules morresse. Armand estava completamente arrasado. Sentia uma enorme necessidade de chorar. Todos aqueles anos, anos loucos, infrutíferos, impotentes, arruinados! — pensou, confusamente. E agora estava de volta à estaca zero, face a face com Jules, com Ernest Barbour... e se sentia fatigado e doente, muito doente...
— Olhe! — disse Antoine — não sejamos sentimentais. Isso compete a Henri, meu pai. Ele tem direito a fazer perguntas. Se não me quiser, e Deus sabe que não há muito em minha vida para fazer com que alguém me queira, isso é lá com ele.
Jules e Ernest! Armand passou nos olhos a mão gorda e trêmula, esfregou o nariz freneticamente. Ele os olhou, encarando a um e a outro, e o passado era uno com o presente. Queria levantar-se, fugir para a escuridão e o olvido... Que terrível família aquela! Que assassinos, ladrões, e mentirosos, que bandidos e monstros! Agora ele via isso. E não podia suportá-lo!
— Sou um homem doente. Não sei de nada... — resmungou.
Eles o ignoraram. Estava ali sentado, prostrado em sua poltrona, as mãos agarrando-lhe os braços, os olhos enevoados fitando cegamente o vácuo. Nada soube do que se falou: apenas ouvia os ecos da voz calma de Henri, os tons claros e leves de Antoine. Mais tarde Antoine lhe disse que Henri lhe fizera uma oferta: ele entraria para Bouchard & Sons como um chefe de escritório, um secretário, a fim de familiarizar-se com os negócios da Companhia. Henri lhe prometera um secretariado assistente, se provasse ser bom no trabalho.
Três anos mais tarde Antoine era Secretário de Bouchard & Sons.
Desde o início os Bouchards ficaram assombrados e incrédulos.
"Isso não vai durar — diziam. — Logo ele sairá."
Porém durou, e Antoine ainda não saíra. Mais ainda: para espanto de todos eles, provou ser excepcionalmente brilhante, audacioso e perspicaz. Henri expressou sua aprovação ao novo Secretário. Lentamente, no decorrer dos anos, uma aparentemente grande confiança se desenvolveu entre eles. Antoine nunca ousava: cedia diante de todas as decisões de Henri. Sugeria, porém jamais insistia. Sob esse exterior gracioso e elegante havia uma mente de aço flamejante, ao oposto da clava de ferro da mente de Henri.
"O homem de Neandertal e o espadachim dançarino — dizia Christopher, observando atentamente através dos anos. — O homem em pele de urso e o de casaco bordado."
Muito discretamente, os Bouchards procuraram seduzir Antoine para uma discussão sobre o seu inexorável parente. Mas Antoine era todo lealdade, todo admiração entusiasta, todo deferência. O que ele pensava não conseguiram saber. Mas Henri sabia. Ele não era audacioso ou demasiado imaginativo por natureza. Era o homem de força, e sabia que homens de força são os mais poderosos.
Mas compreendia o que se passava sob o estreito e escuto crânio de Antoine com o cabelo liso como um selo úmido. Sabia que tinha, em seu escritório, o inimigo mais implacável que já conhecera. Por vezes se sentia alta e sombriamente divertido, divertimento tingido de um desdém brutal. Sabia quem era o mais forte. Nesse ínterim, isso o divertia.
Havia entre os dois homens uma sutil compreensão, uma admiração mútua. Não precisavam "escrever livros" para se tornar claros um para o outro. A tal ponto que Henri fez de Antoine seu confidente. Podia confiar — teria dito a si mesmo — no irmão de sua mulher. Sabia que durante sua própria vida Antoine não ousaria nada ameaçador ou surpreendente; pelo menos, acreditava saber que o jovem estava completamente consciente da desesperança de qualquer ação assim. Mas, depois de sua morte, que aconteceria? Antoine era muito mais moço que ele. Provavelmente se casaria, e haveria filhos. Quanto a ele, não tinha filhos, e de Annette jamais poderia esperar tê-los. O senso de dinastia era muito poderoso em Henri Bouchard. Desejava filhos, que manteriam seu poder quando estivesse no túmulo. Sua virilidade era como um rio enorme e tumultuoso contido por uma represa. Ele compreendeu que Antoine nunca esqueceu que devia estar ocupando o trono de Armand. Compreendeu que em Antoine ardia um incessante espírito de vingança, lascívia e determinação. Eram inimigos. Porém também eram amigos que se admiravam. Odiavam-se mutuamente. Mas se dedicavam também uma afeição profunda e traiçoeira.
Antoine era visitante frequente em Robin’s Nest. Henri apreciava muitíssimo a sua companhia. Antoine nunca deixava de distraí-lo. Ele até se descobria tornando-se sutil na presença de Antoine, e compartilhavam piadas secretas. Surpreendia-o que Antoine tivesse uma ternura especial pela irmã, Annette, um curioso senso de proteção, e que aquela fisionomia jesuítica insensivelmente se adoçasse à vista dela. Isso era tanto mais estranho porquanto Annette, embora aparentemente louca pelo irmão, demonstrava certa inquietação na presença dele, um alarme crônico.
Henri chegou a buscar uma esposa apropriada para Antoine. Uma da família, se possível. Talvez Dolores, a filhinha de Jean, jovenzinha aparentemente inofensiva de rostinho angelical e uma nuvem de cabelos claros. Exatamente o tipo capaz de atrair o moreno e divergente Antoine. Fez com que Annette convidasse Dolores com frequência.
Agradava muito a Annette que Henri invariavelmente demonstrasse satisfação quando sabia que Antoine jantaria com eles. Sua pesada equanimidade se aligeirava consideravelmente, e aquela sua qualidade granítica se tornava mais alegre.
Foi o primeiro no fresco terraço, nessa noite, a receber Armand e Antoine. Annette, Celeste, Peter, Christopher e Edith ainda não haviam descido. No entanto, logo Christopher apareceu, e os quatro homens tomaram um drinque extra enquanto esperavam. Henri, que herdara do bisavô a aversão pelo álcool, apenas provou um cálice de xerez, sem nenhuma satisfação, enquanto Christopher e Antoine bebiam uísque e soda. A olhá-los ansiosamente, Armand tomou o seu suco de frutas, sacudindo a cabeça negativamente para o uísque.
Entre Christopher e Antoine havia um ódio profundo, embora se entendessem perfeitamente. Christopher estava melancólico, como sempre, fascinado pela espantosa semelhança entre Antoine e seu próprio pai, Jules. Por vezes ficava a contemplá-lo por longos minutos, ainda ouvindo a voz que se calara desde o Dia do Armistício, vendo em cada gesto, cada movimento da pequena cabeça lustrosa, cada sorriso, cada erguer das "diabólicas" sobrancelhas, o fantasma de alguém a quem odiara e temera. Quando falavam ao mesmo tempo, era como a leve dança dos floretes.
— Como está Peter? — perguntou Antoine, com seu sorriso moreno e resplandecente. — Há semanas não o vejo. Melhoras?
— Consideráveis — disse Henri. — Está ficando impaciente.
— Ainda intransigente?
Henri deu de ombros, olhando calmamente para Christopher.
— Nosso cavalheiro branco de armadura de prata está afiando a sua lança — falou Christopher. — Há sons de trombetas no ar. O torneio está prestes a começar...
— E Celeste? — indagou Antoine. — Está amarrando o laço de fita azul em seu braço outra vez, como de costume?
— Que esperava você? — observou Christopher cuidadosamente. Ele podia ridicularizar a irmã, mas não gostava que outrem o fizesse. Amara a irmãzinha com amor profundo: fora seu tutor após a morte do pai. Por vezes lhe parecia estranho que Antoine fizesse tiradas peçonhentas contra Celeste, ele, a viva imagem do avô, Jules, pai de Celeste, e cuja única adoração fora a filha.
— Houve uma transformação em Celeste nestes últimos anos — comentou Antoine, acendendo um de seus intermináveis cigarros que tinham monograma. — Eu tinha cerca de dezesseis anos quando ela casou com Peter, mas lembro-me dela claramente. Havia nela uma espécie de "virtude", uma inocência. Se quisesse ser afetado, eu diria que uma espécie de "pureza". Mais da mente do que qualquer outra coisa. Tudo isso se foi. Ela agora é "um osso duro de roer"! É uma Bouchard, afinal. Mas não pensem que estou insultando a minha tiazinha. De certa forma, eu a estou cumprimentando. Porém algo fugiu dela, provavelmente para sempre.
— Diria que ela está mais amarga — comentou Armand, procurando no bolso do casaco pela sua lista de dieta, e contraindo as feições gordas e congestas na apreensão momentânea de havê-la esquecido. Sua expressão relaxou: a lista estava ali. — Amargurada. A palavra é esta. Ela era sempre tão doce...
Christopher girou a haste do copo de coquetel em seus dedos delicados. Nada disse. Henri era todo brandura:
— Talvez apenas tenha crescido. Era quase uma criança quando casou com Peter. Que esperavam vocês? Afinal de contas, está com mais de trinta. Já não é tão jovem...
— Que diabo de vida ela teve! — comentou Antoine, com humor impiedoso e um riso leve, como se o pensamento lhe desse um prazer perverso. — Era de esperar, por tudo que tenho ouvido... Por que alguém não a impediu de casar com ele? Que houve com você, Henri? Você estava noivo dela. Por que a deixou ir tão facilmente? Você não é desse tipo.
Henri apenas sorriu. Aceitou um dos cigarros de Antoine, embora não gostasse de tabaco. Mas descobrira que fumar, o aceitar a cortesia de alguém, por vezes estendia uma ponte para desfazer um momento embaraçoso. Permitiu que seu Secretário o acendesse para ele. Por um instante, enquanto o isqueiro lhe iluminava o rosto granítico, os olhos dos dois homens se encontraram — os de Antoine sutil e cruelmente divertidos, os de Henri tão sem expressão como uma pedra polida.
"Então, bem... — pensou Antoine. — Ele não esqueceu... A esfinge não é tão invulnerável, afinal..."
— Por que trazer à baila um assunto tão indelicado? — perguntou Christopher. Permitiu que o mordomo lhe enchesse o copo novamente. — Temos coisas mais interessantes para tratar, estou certo.
— Especialmente quando sua própria irmã é agora esposa de Henri — falou Armand, reprovadoramente. Virou sua redonda cabeça à escovinha, de cabelos quase brancos, de um para o outro: — Não é um bonito tópico de conversa.
— De todo jeito, vamos conversar a respeito de dietas —• falou Christopher, com um olhar que era veneno puro em direção de seu irmão. — Como vai o pâncreas, Armand?
Seu ridículo se perdeu no enfatuado Armand, que pareceu grato.
— Meu médico me disse que posso reduzir a insulina a uma injeção por dia. É algo novo. Concentrado, creio. Muito conveniente. Nada mais de rebuliços quanto a pedir água fervente, quando vou jantar fora. Às vezes as pessoas ficam pasmas...
Sorriu para eles, como se acabasse de realizar um ato meritório que devessem aplaudir. Henri observava as volutas da fumaça de seu cigarro; Christopher bebeu rapidamente; Antoine sorriu para todos eles.
Abriu-se a porta francesa e Celeste apareceu. Eles se levantaram para recebê-la.
— Bem, tiazinha, está tão radiosa como sempre! — disse Antoine, pegando-lhe a mão e beijando-lhe a face com afetação. Adorava mulheres bonitas, mesmo quando eram suas parentas. Estudou-a astutamente divertido. Uma mulher que valia a pena! Ela se sentou e aceitou um dos cigarros de Antoine, que o acendeu para ela. "Pétrea — ele pensou. — Mas a pedra racha sob golpes repetidos..." Fechou o isqueiro com movimentos lentos e pensativos.
— Peter descerá diretamente — ela informou. Nos olhos de um azul profundo havia uma espécie de véu quando os olhou. — Já não precisa da enfermeira do dia, é o que acha — acrescentou, embora ninguém lhe houvesse perguntado nada a respeito do marido.
— Acha que isso é tolo, e eu também acho. A Srta. Tompkins pode ir no fim da semana. Ele dorme bem à noite e raramente tosse. Amanhã quer sair para um passeio.
Recostou-se na poltrona, e suas mãos brancas apenas tremiam um pouco. Sorriu. Olhou para Christopher:
— Você foi muito mau, Christopher. Agitou-o terrivelmente esta manhã. Deveria ter sido mais bondoso, considerando o que tem acontecido.
— Por Deus! Ele será uma criança? — perguntou Christopher.
— Você sabe muito bem que ele é inclinado a discussões. Sempre foi beligerante e acusador. Depois, jamais gostou de mim. Que lhe fiz eu? Fez-me algumas perguntas, e eu as respondi. Celeste, sabe que não é sua mamãe...
— Você esquece o quão doente ele esteve — ela replicou. — Bem, esqueça. Vocês dois nunca estiveram de acordo.
Apesar de toda a sua calma aparente, havia nela uma agitação contida. Vendo-a de perto, Antoine atentou em que ela nunca olhava diretamente para Henri, que parecia aborrecido. Ele virara a cabeça: estava olhando o vasto gramado que, ao crepúsculo, se ia tomando misterioso... O céu estava heliotrópico, os topos das grandes árvores brilhavam às luzes do enfraquecido sol poente. A penetrante doçura do roseiral chegava até eles trazida pelo vento morno da tarde. Os pássaros trinavam com melancolia nos ramos altos. Em torno deles havia uma grande paz, porém Antoine, com sua aguda percepção, sabia não haver paz naquele calmo terraço.
— Ele vai escrever outra vez? — perguntou.
Mas Celeste apenas moveu de leve a cabeça.
— Outra denúncia sobre os Bouchards — resmungou Antoine. — Os Fomentadores de Guerra. Que pensa ele que estamos fazendo agora? Ficaria surpreso.
Ao ouvir isso, Henri se voltou para ele, e algo naquela fisionomia imóvel e implacável fez com que Antoine se calasse. Havia ocasiões em que esquecia o poder de Henri Bouchard, em que podia pilheriar com o cunhado e impudentemente desafiá-lo. Mas tinha a impressão enraivecedora de que essas ocasiões só apareciam com o consentimento de Henri. Um macaco ágil pode atormentar um leão, quando o último se sente indiferente ou indulgente. De outras vezes isso pode ser extremamente perigoso. Esta era uma dessas vezes. Antoine se acalmou. Mas enterrou as unhas nas palmas das mãos.
— Nada a respeito da família surpreenderia Peter — observou Celeste, amargamente. Deteve-se, abruptamente: Peter e Annette vinham entrando no terraço, Annette rindo docemente, Peter caminhando devagar e com deliberada firmeza. Por trás deles apareceu o rosto moreno de Edith e seu elegante vestido.
Cadeiras foram oferecidas às senhoras, e Antoine, com muita gesticulação, ofereceu uma a Peter, cujo rosto descarnado corou ante essa ostentosa cortesia. Graciosamente Antoine lhe perguntou por sua saúde. A silenciosa Edith aceitou um coquetel. Annette começou sua parolagem infantil, em sua doce voz.
— Não é ótimo, Henri? Celeste e Peter decidiram ficar conosco mais um pouco, até construírem sua própria casa. Levei um tempão para convencê-los — acrescentou, com um olhar cheio de amor para a jovem tia. — Ela acreditava estar nos importunando. Ora veja que absurdo! — E olhou para eles, radiante.
"Então — pensou Antoine — Celeste queria fugir! Muito interessante ..." Ao nítido dossiê de sua mente anexou outro fato.
Anunciaram o jantar, e todos se levantaram. Antoine sentiu que havia reunido informações muito divertidas e úteis nos últimos cinco minutos, informações que ele acreditava poderem um dia destruir Henri Bouchard.
Capítulo 13
Armand colocou sua lista perto do prato e ansiosamente a consultava sempre que o mordomo lhe apresentava um prato. Ajustava os óculos, espiava a lista, após um olhar reprovador para as velas que iluminavam mal, então ou aceitava ou recusava o que lhe era oferecido. As janelas permaneciam abertas: uma brisa fresca e perfumada invadia a sala encantadora. Em algum lugar um tordo cantava à aproximação da noite. Acima dos muros do jardim subia a lua crescente, deslizando como uma foice de prata contra o azul profundo do céu noturno.
Annette era toda felicidade. Para ela, era lindo ter os parentes em sua casa. Demorava o olhar em cada um deles, ternamente, de seu lugar ao fundo da mesa. Nunca sentira tamanha paz, tanto contentamento. Aquele momento encostada à porta do seu quarto estava esquecida. Em algum lugar lá fora, no espaço, o inferno esperava, mas aqui tudo eram luzes, flores, o brilho das pratas, o cintilar da água nos copos de cristal, os rostos daqueles a quem amava. Às vezes se inclinava para estudar com o pai a sua lista: ele se sentava à sua direita. Enquanto os seus cabelos macios e brilhantes captavam as luzes dos candelabros, e sua gentil boquinha rosada se franzia em profunda concentração, Armand esquecia a dieta para esquadrinhar o doce e suave perfil com uma dor estranha e desesperada no coração aterrorizado.
— Papai — falou ela, reprovadoramente — diz aqui: você pode comer salada de frutas. Você a recusou. E eram frutas deliciosas.
— Mas não gosto de melão...
— E peixe. Também pode comê-lo. Mas você não quis.
— Não quando há carne. Proteínas demais.
Peter estava absorto em alguma das suas sombrias meditações. Sentava-se junto de Edith, que o observava com muita tristeza. "Quanto ele tem sofrido toda a vida!" — ela pensou. Porém ele era um dos que nascem na dor, vivem em tristeza, e morrem em angústia. Seria melhor para eles morrer depressa; e ainda melhor se não tivesse nascido. "Morra logo, pobre Peter!" — pensou. — "Isso seria a coisa mais misericordiosa para você..."
Viu-lhe as mãos cansadas, apaticamente segurando os talheres. O rosto fino tinha um colorido febril. Ele lutava para reprimir a vontade de tossir. Celeste o observava, como sempre, e enquanto o fazia aumentava a expressão fatigada de seus olhos, e os cantos de sua boca baixavam, abatidos. Ela foi quem lhe encheu o prato silenciosamente, embora ele abanasse a cabeça automaticamente. E então, ante seu olhar ansioso, ele lhe sorriu breve e ternamente, e obedeceu a seus pedidos silenciosos.
Antoine e Christopher é que viram como Henri vigiava aqueles dois, sem parecer fazê-lo, e como a brutal opressividade aumentava em seu rosto. Christopher observou isso com íntima satisfação, e Antoine sorriu internamente.
Celeste receara certo constrangimento após o acontecido pela manhã, mas Christopher era a própria amabilidade, especialmente para com Peter, que respondia com relutante laconismo. Edith estava distraída: observava o marido, com uma curiosa prega entre os olhos castanhos, e depois seu olhar tocou no irmão, rapidamente. Annette conversava docemente; Armand estudava sua lista, e advertiu a filha a respeito da provável quantidade de albumina em seu farfait (sobremesa preparada com ovos e creme batido. (N. da T.)).
— Mas estou certa de que não há ovos nisso, querido!
Ele provou cautelosamente a deliciosa mistura, balançou a cabeça, depositou a colher com resoluta decisão:
— Certamente que há ovos — falou. Annette perdeu o apetite.
Nesse ínterim, Christopher se empenhara numa conversa a respeito de gasolina com Henri:
— Estamos experimentando com o motor de um novo avião lá em Duval-Bonnet, o que promete ser excitante, animador. Porém isso exige uma gasolina de alto teor, além de tudo que já se criou ou desenvolveu. Naturalmente, temos estado empregando o princípio da catálise. Contudo, um de nossos químicos pensa ter descoberto um fluido catalítico de fracionamento que, como você deve saber, é realmente um pó muito fino, e pode ser canalizado e bombeado e tratado exatamente como um líquido. Você pode não achar isso muito dramático, ou importante, mas garanto-lhe que é uma das descobertas mais espetaculares deste século.
— Já o usou na gasolina que você emprega em seus aviões? — perguntou Henri, com interesse aparentemente fora de proporção com o assunto.
Porém Peter subitamente levantou a cabeça, alerta, e ouviu com intensa avidez.
— Sim. — Christopher se calou, e olhou para Henri de modo significativo. — Construímos quarenta desses fragmentadores, tamanho normal. Foi um experimento dispendioso. Deu resultado.
— E o projeto do motor? — perguntou Henri casualmente.
— Para usar a nova gasolina?
— Temos uma oferta. Uma oferta excepcionalmente esplêndida. Provavelmente a aceitaremos. A oferta inclui o novo processo.
Peter depositou o garfo. Olhou para Henri e Christopher.
— Essa famosa oferta terá vindo da Alemanha? — perguntou.
Voltaram-se para ele, Christopher com astuta surpresa, Henri com o costumeiro olhar imóvel.
— Por Deus! Mas que imaginação você tem! — exclamou Christopher com um riso leve. — Não, a oferta não veio da Alemanha. Poderia, você sabe, ter vindo de nosso próprio abençoado Governo. É tudo que posso dizer-lhe.
Henri sorriu um pouco. Pegou a cigarreira, bateu um cigarro em sua tampa, acendeu-o. Através da fumaça seus olhos fulguravam como frias ágatas.
"Você mente!" — pensou Peter, com desespero.
Depois de um longo sorriso para Peter, Christopher tornou a voltar-se para Henri.
— Como sabe, estivemos fazendo experiências com butadieno... acrescentando estirênio e várias outras coisas. Temos esperanças nisso. Eventualmente nos libertará da borracha das Índias Orientais. Há muito trabalho a ser feito. Você deveria ver nossa nova fábrica e os laboratórios. Há uma história química em formação, ali.
— Por que — perguntou Peter — lhe é necessário experimentar com esse... esse butadieno? Não estão esperando agressão do Japão nas Índias, estão?
Christopher tornou a rir. Porém os olhos de Peter coruscavam, um músculo tremeu em sua face.
— Cristo! — falou Christopher maciamente. — Você é um monomaníaco, Peter! Não esperamos nada, nem mesmo uma guerra na Europa. Não estamos interessados. — Repetiu, ainda mais maciamente: — Não estamos interessados. No presente momento, nosso único interesse é tornar a América autossuficiente.
Por um momento Peter nada disse, depois falou com muita calma.
— Ouvi dizer que a Alemanha já aperfeiçoou um processo de borracha sintética. Não seria o seu processo, seria, Christopher?
Christopher estava completamente espantado, e irresistivelmente divertido.
— Como posso saber? Afinal de contas, os "crânios" não estão confinados na América. É possível que os químicos alemães também andem fazendo experiências.
A expressão de Peter era severa, fria como gelo:
— Ouvi dizer que é chamado "processo americano". Dois de seus homens estiveram na Alemanha há oito meses atrás, Chris, e passaram seis semanas com os químicos germânicos.
Por um instante a brilhante máscara metálica sobre as delicadas feições de Christopher se obscureceu. Ele encontrou os olhos de Peter, porém Peter estava inabalável. Devolveu o olhar de Christopher, com amargura e desdém, e grande desolação.
— Está mal informado, Peter — falou Christopher por fim, gentilmente. — Sempre o tem sido. Ninguém de Duval-Bonnet esteve na Alemanha. Quem lhe disse isso?
— Seus nomes — continuou Peter, como se não o tivesse ouvido — eram Carl Brouser e Frederick Schultzmann. Esses nomes lhe são familiares?
Christopher sorriu. Mas seus dedos agarraram o garfo como se fosse uma arma. Henri baixou a mão que segurava o cigarro, e lentamente olhou de Peter para Christopher. A fumaça se lhe espiralava por entre os dedos fortes. Por alguma razão, Antoine achou Henri mais interessante nesses tensos momentos do que Christopher. Edith, erguendo, alerta, a cabeça escura, fitou o marido, de lábios franzidos; e Celeste apenas pôde sentar-se ali em silêncio, os olhos violeta brilhando. Esquecido, Armand estudava sua lista com auxílio da filha ansiosa: suas cabeças estavam juntas.
— Brouser e Schultzmann nunca estiveram afastados de Duval-Bonnet senão por poucos dias, no decorrer dos últimos quatro anos — falou Christopher. — Alguém andou lhe impingindo contos de fadas... — Então Henri falou, e olhava só para Christopher:
— É mesmo? — perguntou, com profunda calma.
Era medo o que se revelava nos olhos claros de Christopher, pensou Antoine, e ódio defensivo? Por um momento, ficou sem fala.
— É mesmo? — repetiu Henri, em voz mais alta, mas ainda calmamente. No entanto, em seu tom havia algo de terrível e violento.
— Bom Deus! Mas o que é isso?! Certamente, é mentira. Carl e Fred são nossos químicos de maior confiança. Têm família na Flórida, também. São cidadãos americanos. Como a maioria dos químicos talentosos, estão sempre absorvidos em seu trabalho. Por vezes passam vinte horas por dia nos laboratórios. Boas praças. Devotados. Geniais.
— Muito interessante — comentou Henri, interrompendo rudemente o ‘discurso’ de Christopher. — Entretanto, não estou absolutamente interessado nas famílias deles ou em sua poética devoção a Duval-Bonnet. Só quero saber se estiveram na Alemanha como disse Peter.
Não se moveu; a fumaça do seu cigarro se elevava, tranquila, por entre seus dedos. Contudo, dava a impressão de fria e colossal violência mesmo sentado, imóvel, em sua poltrona.
Aparentemente Christopher estava espantado, e apenas podia fitar o cunhado. Ainda olhando para ele, Henri disse a Peter:
— Peter, onde conseguiu a informação?
Peter se voltou para ele, e o estudou, perplexo. Viu aquele perfil grande e pétreo, com sua mortal falta de expressão. Seria possível que Henri estivesse representando, para livrar-se dele, Peter? Mas quando olhou para Christopher, e viu o tremor espectral de sua boca, os olhos indecisos e coruscantes, já não estava tão certo. Disse, vagarosamente:
— Tenho meios para descobrir. Não lhe direi, Henri. Isso poria em perigo os homens que me contaram. Os Socialdemocratas Germânicos que formam o Underground na Alemanha. Dois deles são empregados numa empresa química no Ruhr. É tudo que posso dizer. Provavelmente já ouviu falar da Gestapo, não?
— Digo-lhe — afirmou Christopher, emocionado — que isso é mentira! Brouser e Schultzmann nunca estiveram afastados de seus postos por mais de um dia ou dois. — Deteve-se. Suas delicadas narinas fremiam. — Sou positivo a respeito da lealdade deles. Entretanto, é possível que haja espiões, mesmo em Duval-Bonnet, mas custo a acreditar nisso.
— Brouser e Schultzmann estiveram na Alemanha. Mostraram-me fotografias — falou Peter.
— Tem essas fotografias? — perguntou Henri, ainda observando Christopher.
— Não. Claro que não. Mas posso identificar os homens, se os vir.
Uma escura veia roxa inchou nas têmporas lívidas de Christopher, palpitando visivelmente. Edith ficara extremamente pálida. Fitava o marido, olhos dilatados.
— É fácil tirar fotografias de qualquer pessoa — disse Christopher. — Falsificar fotografias, também. É muito possível que seu ridículo espião obtivesse tais fotografias diretamente da Flórida, e as passasse dramaticamente para você como sendo tomadas na Alemanha.
— Göring aparece ao fundo: sua mão está no ombro de Schultzmann — informou Peter, calmamente.
Christopher explodiu numa risada:
— Cristo! Pensa, caso isso fosse verdade, que ousariam bater tais fotografias, ousariam distribuí-las, ousariam torná-las acessíveis a qualquer um?
— Era uma fotografia secreta, tomada por um dos alemães do Underground. Conseguiu fazer uma câmara tão pequena que cabe em um anel. Devo acrescentar não haver necessidade de procurar essa câmara: está destruída agora, ou muito bem escondida. A fotografia me foi mostrada, e mais uma ou duas outras, para determinado propósito: o espião desejava que esta informação fosse exposta perante as autoridades americanas.
Christopher, embora ainda sorrindo, bateu o punho fechado, de leve, na mesa. Mas seus olhos eram malignos, enquanto olhava Peter:
— Era uma fraude, uma fotografia falsificada. Insisto nisso. Qualquer amador poderia fazê-la.
— O espião — afirmou Peter — falou livremente com Schultzmann e Brouser. Mas não mande seus amigos procurá-lo: não o encontrariam.
Em torno da mesa houve um silêncio sinistro. Sentindo algo de prodigioso na atmosfera, Armand esqueceu sua lista. Lentamente olhou-os a todos, apreensivamente silencioso. Não ouvira a conversa: apenas sabia que estava acontecendo alguma coisa de terrível. Umedeceu os grossos lábios ressecados.
Então Henri se moveu um pouco, e sorriu. Era como um basilisco sorrindo...
— Tudo não passa de um absurdo, claro! — disse, serenamente. — Desculpe-me, Peter, mas o drama não foi convincente. Se Brouser e Schultzmann estivessem lá realmente, Chris deveria saber.
Christopher puxou uma respiração inaudível de pulmões que tinham estado completamente comprimidos:
— Mas claro que eu teria sabido! Entretanto, questionarei os rapazes rigorosamente, quando voltar.
Peter pensou:
"Será possível que Henri não soubesse, que esteja zangado, que faça alguma coisa para descobrir? E se. não sabia, por que se importa? É associado da I.G. Farbenindustrie: para ele, seria a coisa mais natural do mundo arranjar para dar aos alemães o processo de fracionamento e o projeto para os novos aviões... por uma bela quantia. Seria natural que Christopher tivesse sua aprovação. Em tais circunstâncias, por que isso o enraiveceu e o fez olhar para Christopher desse modo homicida? Sempre fizeram coisas assim durante um século, os Bouchards."
Ele estava totalmente perplexo. Não era natural que Henri não soubesse, que sua aprovação não fosse obtida de início nessa espantosa transação. Desde o princípio fora convicção de Peter que o poder da família Bouchard arranjaria a questão. Quem ousaria fazer fosse o que fosse na família sem o consentimento de Henri?
Contudo Henri estava olhando Christopher, com aquela fria e aterradora firmeza, mesmo enquanto dizia:
— Concordo em que é um absurdo. — Espichou-se na poltrona, como para levantar-se.
Christopher estava calado. Mas sob as pálpebras abaixadas os olhos pareciam os de uma serpente.
"Por que o implacável, o monstruoso Henri se importaria, desde que estivessem garantidos grandes lucros? — pensou Peter.
— A menos que tenha outros planos?..."
Então Henri se voltou para Edith e falou, tranquilamente:
— Como está Galloway se comportando com esse seu braço? Afinal é mesmo artrite?
Edith se sobressaltou. Fitou o irmão, estupidificada. Seus lábios finos estavam lívidos. Passou-se um bom momento antes que pudesse responder:
— Não. Não é artrite, graças a Deus! Uma entorse. No tênis, há alguns meses.
De repente seus olhos escuros ficaram nublados de lágrimas. Levantou-se, relanceou um olhar para Celeste e Annette, que também se levantaram:
— Meninas, vamos empoar o nariz —•disse.
Peter também se ergueu. Tremia tanto que se sentia extremamente doente:
— Têm de desculpar-me — murmurou. E saiu da sala.
Depois que as mulheres se foram, Henri ficou silencioso enquanto era servido o porto e acesos os cigarros.
Depois olhou para Christopher e disse:
— Você é um mentiroso acabado. Eu sempre soube disso. Ainda não sei se está mentindo. Você pode decepcionar até a mim.
— Sua mão se fechou sobre um pequeno saleiro. Os olhos descoloridos estudavam Christopher à luz dos candelabros, e havia algo de amedrontador em sua expressão parada. — Espero que não esteja mentindo. Seria muito mal para você se estivesse. Sabe disso.
Christopher corou, e sua fisionomia se tornou diabólica de raiva e impotência. E de medo, pensou Antoine. Contudo, mais que qualquer outra coisa, sua humilhação pelo modo de falar de Henri e suas maneiras o envenenavam.
— Duval-Bonnet é minha — disse, num tom neutro. — Quero que se lembre disso, Henri. Eu a fiz; eu a construí; eu a possuo.
— Interessante! — sublinhou Henri, com um sorriso. — Esqueceu que possuo trinta e cinco por cento do estoque? — Chupou o cigarro um momento, tirou-o da boca, olhou-o com profundo desgosto. — Fora disso, posso arruiná-lo, você sabe. Posso fazer bom trabalho em arruinar alguém. Qualquer pessoa. Em poucos meses seria muito perigoso que o Governo soubesse a respeito dos aviões e do processo de fracionamento. Ouvi dizer que Leavenworth é um lugar muito desagradável... Mais tarde, se estivermos em guerra, não posso imaginar se esquadrões de fuzilamento não serão usados.
A impotente humilhação de Christopher fez com que inchassem todas as veias em suas têmporas:
— Por Deus! Será você idiota o bastante para dar ouvidos aos disparates daquele imbecil? Aceita a palavra dele contra a minha? — Afastou da mesa a sua cadeira. Agora estava fora de si. — Você sabe o que ele é. Mesmo assim, tem a audácia de ouvi-lo, a estupidez! Conhece as tolices que ele escreve. E sabe o que ele anda procurando. Sabe tirar proveito de tudo, mentiras e meias verdades e outras idiotices. Ele não dirá nada, não fará nada. Olhe, mande um investigador a Duval-Bonnet. Que ele faça todas as verificações a respeito de Brouser e Schultzmann. — Deteve-se, quase chocado em sua cólera reprimida: — Tenho recursos pessoais. Se esse idiota publicar alguma calúnia, eu o processarei. Arrancarei dele até o último níquel.
Henri estava silencioso. Por trás da ampla fronte ele pensava rapidamente. De repente começou a sorrir. Mas Antoine lhe viu os olhos, e fez uma careta para si mesmo...
— Por que toda essa agitação? — perguntou Henri. Empurrou a cadeira de junto da mesa. — Esqueçamos tudo isso, está bem?
Ergueu-se. Christopher e Antoine também. Haviam esquecido Armand, que estivera a observá-los, fascinado e horrorizado. Seu rosto papudo era cor de toucinho. Não se levantou: não podia. Apenas podia estar sentado em sua cadeira, as mãos apertando a bendita lista.
— Esquecer? — perguntou Christopher, glacialmente. — Fácil dizer. Acha que posso esquecer tão facilmente as suas ameaças? Suas desprezíveis ameaças?
Henri estava imperturbável:
— Não ameacei levianamente. Não sou um tirano, espero. Apenas quero as coisas se processando de modo correto. Apenas desejo saber o que está acontecendo. E existem certas coisas que não me agradam. Espero que essas "mentiras" não sejam uma delas.
Pôs a mão no ombro de Christopher:
— Sempre que tiver um plano em mente, faça-me saber, está bem? Assim ficaremos todos satisfeitos. Mas os planos, tenho certeza, não incluirão deixar que os nazistas tenham os projetos dos aviões, os processos de fracionamento, e a borracha sintética. É tudo. Vamos ao encontro das senhoras, para ver se têm algo de mais interessante para conversar?
Afastou-se deles. Christopher e Antoine se olharam. Nem sequer relancearam um olhar ao paralisado Armand, sentado ali como uma massa informe. Antoine ergueu as sobrancelhas jocosamente para Christopher que, derrotado e furioso, lhe devolveu o olhar.
Christopher não falou. Porém lenta, lentamente começou a sorrir. Tocou no braço de Antoine, e os dois seguiram Henri até o terraço. Antoine principiou a sussurrar musicalmente, boca fechada.
Christopher pensou:
"Tenho de escapar imediatamente. Preciso ver se consigo pegá-los numa ligação interurbana..."
Capítulo 14
Celeste gastou uma exaustiva meia hora com Peter, antes de conseguir convencê-lo a ir para a cama. Ele estava muito excitado, confuso e veemente.
— Digo-lhe que existe algo por aqui que não compreendo! — gritou ele. — Foi esta manhã... e agora à noite. Há alguns anos atrás, eles eram perfeitamente óbvios. Mas, e agora? Dizem não querer guerra. Acredito. As coisas vêm seguindo um padrão. Hugo trabalhou para invocar a Lei da Neutralidade contra a Espanha, quando foi Secretário Assistente de Estado. Pode-se pensar que ele se oporia a que... Sei que, por natureza, os Bouchards seriam fascistas. Porém nunca desdenharam lucros, e oportunidades para estimular guerras. Têm sido muito ardentes a respeito de nacionalismo, com um propósito. Mas aqui há coisa... — Calou-se, e uma total expressão de horror se fixou em seus olhos, ao olhar para a esposa. — Estou pensando na França... — sussurrou, em voz chocada.
Celeste lhe deu uma dose forte de sedativo:
— Nesse andar, em breve não estará mais pensando em nada, magoando-se com especulações desse tipo — falou a moça. — Espere até se haver recuperado de todo, querido.
— O que anda Henri perseguindo? — ele continuou, infatigável, sem sequer a ouvir. — Posso perceber que eles têm medo dele. Ele os governa como um ditador. Que será que estão tentando esconder dele?
— Estou certa de que você está imaginando coisas — comentou Celeste, maciamente, abanando-se com o lenço.
A noite estava opressiva, quase insuportável. Ela ergueu um pouco os braços, como para ajudar-se a respirar. De repente, sentiu-se sufocada por sua tristeza, sua prisão, sua desesperança. Peter ameaçava ter uma noite má. Ela não podia ir a parte alguma, não podia escapar ao menos por algumas horas, quando uma fuga se tornara a mais exigente necessidade de sua vida. Se Peter ao menos dormisse uma ou duas horas lhe seria possível vaguear pelos gramados, sentar-se quietamente sob alguma grande árvore, ficar só. Relanceou o olhar para o relógio: quase dez. Havia estado quase uma hora tentando acalmar Peter — que insistia em falar, em confusão e desespero. Annette já devia ter-se recolhido. Armand se fora às nove e meia, Christopher e Edith aceitaram um convite para a noite, e Antoine se lhes juntara. Sem dúvida Henri teria saído também. O casarão estava cheio de calor e sussurrante calma. Deveria estar lindo no jardim, com a curva prateada da lua acima das árvores.
Porém Peter, com suas terríveis preocupações, não lhe via o rosto cansado e o brilho fixo de seus olhos. Discutiu com ela quando insistiu em ajudá-lo a ir para a cama. Por uma ou duas vezes até lhe empurrou as mãos pacientes. Ela, porém, apertou os lábios firmemente e recusou ser posta de lado, recusou ouvir. Quando ele já estava na cama, ela não lhe trouxe o bloco de escrever e a caneta. Ao tocar nele, sentira seu calor febril. Por fim, foi obrigada a chamar a enfermeira Tompkins, que chegou com um sorriso profissional e, após rápida olhadela em Celeste, seu rosto fundo e cansado, pô-la para fora do quarto.
— Eu lerei para o Sr. Bouchard — prometeu. — dormir logo. Inválidos em recuperação são, muitas vezes, irascíveis. — Afofou os travesseiros de Peter: ele a olhou furiosa e desesperançadamente.
— Que deverei ler para o senhor?
— Nada. Apenas vá embora — ele respondeu, com fatigada rudeza. — Tenho coisas a dizer à Sra. Bouchard.
A enfermeira sacudiu o dedo para ele, brejeiramente:
— Ora, estamos sendo muito mauzinhos... — Ele a olhou com desgosto. — A Sra. Bouchard está muito cansada. Está uma noite desagradável, muito quente. Não devemos sobrecarregar a mocinha, devemos?
Pela primeira vez Peter olhou para Celeste e a viu.
Ela hesitou, e tornou a aproximar-se da cama:
— Talvez fosse melhor que eu lesse -para o Sr. Bouchard. Não tenho nada mais para fazer, e ele prefere que seja eu quem leia para ele.
Peter estava silencioso. Via o quão esgotada ela estava. Via que se tornara muito magra, e que sua palidez luminosa se reduzira a branca exaustão. Havia escuros entalhes em seus olhos. Ele se encheu de medo por causa dela, e de remorso. Obrigou-se a sorrir.
— Não, minha querida. Vá, e descanse. Estarei perfeitamente bem.
Estendeu para ela a mão quente e trêmula, e ela a pegou. Ele a beijou demoradamente. E pensou:
"Eu a estou matando! Sou teimoso e egoísta. Espero demais dela. Fiz dela minha criada, minha audiência, minha escrava, minha confidente. É demasiado! Porém, quem mais eu tenho?"
Ele estava esmagado por sua solidão, por sua desolação. Agora se sentia muito doente outra vez: recostou-se nos travesseiros e fechou os olhos.
Celeste deslizou pelo silêncio da casa, até o terraço. Estranho como seu coração palpitava com uma dor tão sufocante e tamanho desalento... Ficou de pé no terraço por um momento, contemplando os escuros e murmurantes gramados. Soprava um vento através dos topos das árvores indistintas, porém nenhuma brisa na terra, que deslizava com uma luz pálida e espectral que não podia provir da fina orla da lua. Tinha o céu um curioso palor, contra o qual os pontudos cimos de choupos distantes oscilavam em negros contornos. As estrelas estavam turvas, embora não houvesse nuvens a tocar a curva brilhante da lua... e o aroma da grama, das rosas e das folhas — como marés, avançando e recuando em direção de Celeste e para longe dela — pressagiava tempestade. Por vezes, contra o escuro e fantasmagórico céu, as plumas dos salgueiros se sacudiam e se acalmavam como as saias gigantes de uma bailarina, e às vezes o silencioso lampejo de um relâmpago iluminava algum inquieto pano de fundo de folhagens.
Celeste sabia que no roseiral havia bancos de ferro pintados de branco, onde se podia sentar sob as árvores. Começou a caminhar pelo gramado. Subitamente os grilos principiaram um coro vociferante, e do lago dos lírios — mais longe, à sua esquerda — veio a resposta abaritonada dos sapos-bois. Pirilampos se arremessavam a seus pés, e havia o roçar espectral de asas minúsculas junto dela. O vento vinha chegando mais perto da terra: ela lhe sentiu o hálito quente em suas faces úmidas. Erguia mechas de cabelo de sua nuca, enrolava-lhe nas pernas as saias finas. Mas não esfriava ou refrescava.
As rosas estavam em plena e luxuriante floração, e ela viu a mancha confusa de sua brancura ao crepúsculo, e lhes aspirou a poderosa fragrância. Descobriu um assento debaixo de uma árvore e se recostou, dominada pela fraqueza. Porém era belo não ouvir vozes, e saber que ali não havia ninguém a não ser ela mesma. A noite, o silêncio, o coro dos grilos, o profundo murmúrio misterioso das árvores, o súbito lampejo do relâmpago silencioso, o isolamento e a paz, o ar dá noite solene e mística, lhe proporcionavam calma e proteção.
Ela ousava pensar tão raramente... Mantinha seus pensamentos severamente controlados, rechaçando-os como se rechaçam cães raivosos a chicote. Quase sempre receava ficar só, por causa desses pensamentos. Mesmo quando pensava, apenas permitia a seus pensamentos que se tornassem meras sombras de emoção, recusava-se a enfrentá-los.
Ao sentar-se ali, no escuro, disse a si mesma:
"Estou velha. E, de certa forma, não me importo. Não me interessa se vivo ou morro. Não existe nada para mim, absolutamente nada no mundo. Devo compreender, por fim, que Peter não viverá por muito tempo. Tenho de enfrentar isso. Como o aceitarei? O que será de mim depois? Terei uma vida vazia e inútil. Estou esgotada. Não existe mais nada em mim. Nada para consolar e preencher as horas e dias e noites sem fim... Nada que importe, nada.
Agora via tudo claramente. Perdera a capacidade de sentir agudamente. Uma inércia entorpecedora a penetrava. Ergueu as mãos e as contemplou à luz crepuscular. Estavam vazias e inúteis. Não tinha desejos de enchê-las. De repente o vazio dessas mãos lhe parecia parte de sua própria alma. Essa total falta de desejar era semelhante à morte. Não podia sentir no coração ou na mente nada que pudesse inspirar vida ou alegria, prazer ou utilidade. Ela era formada de uma névoa sem consistência. E nessa névoa havia um núcleo de dor e de tristeza. Ela se afastou de si mesma como nos afastamos de uma pesada exaustão, doente e cheia de aversão.
Todos esses anos havia ajudado e mimado Peter, e vagueado pelo mundo com ele. Até recentemente fora una com ele em seu terror, indignação e desespero. Fora seu eco. Agora não era sequer um eco. Simplesmente não se importava mais. Desejava deitar-se, apertar-se de encontro à terra, morrer, esquecer! Pois sabia que ainda não ousava pensar, que, se realmente se permitisse pensar, seria destruída — e outros com ela. O núcleo de dor e tristeza nela começou a arder, a tornar-se incandescente como uma ameaça de fogo resplandecente e destruidor.
Sentiu lágrimas involuntárias nas faces, mas não as enxugou. Anos atrás, sentara-se assim, solitária na noite, e tudo fora para ela o distante trovão da promessa, a promessa de sua vida. Era então jovem, ardente, apaixonada... E inocente e estúpida. Estupidamente ávida de viver. Podia relembrar como se sentira, como a memória de um sonho. Esse vento, a obscura riqueza da noite, embora sinistra, essa onda de perfume de rosas e a fragrância da grama, eram antes recordações do que acontecimentos presentes.
"Vejo, mas não sinto, como é belo!" citou para si mesma. Sentou-se, não no presente, mas em uma recordação do passado. Nela mesma havia apenas um caos sem som, o nada informe.
Como poderia alguém suportar os infindáveis anos futuros de uma vida, sentindo apenas a lembrança da emoção, sentindo somente o perfume das lembranças de uma esperança morta, nada experimentando a não ser recordações de acontecimentos passados? Fosse o que fosse que acontecesse no mundo de amanhã não tinha significação para ela, nem dor, ou sequer terror. Ela seria um fantasma neste mundo, apenas desejando a morte, impassível ante qualquer catástrofe. Já estava morta.
A dor tornou-se imensa!
"Mas não sou velha!" — ela gritou para si mesma, silenciosamente, nos últimos frenéticos movimentos de desespero ante a ameaça de dissolução. Devia haver uma promessa de alegria no futuro ou, pelo menos, a promessa de uma vida ativa, de apaixonada insegurança. Contudo, mesmo quando pensava isso, não se importava.
O vento nas árvores aumentou como uma multidão de vozes roucas e sinistras. Ela ouvia. Ouvira vozes assim com Peter, outrora, também num jardim escuro e uma noite escura, e elas a haviam excitado. Havia-se agarrado a ele e virado o rosto, corajosamente, para as vozes, desafiando-as. Agora, elas apenas vagamente a aterrorizavam. O relampejar ficara mais forte, e misturado ao vento havia o eco surdo do trovão que se aproximava. Porém o brilho da lua não diminuira. Agora o aroma da grama e das flores estava asfixiante, enquanto as folhas e as pétalas eram agitadas com crescente agitação.
Ela olhou para a casa. Escondia-se entre as árvores, menos uma janela distante, que brilhava com uma luz amarelada. Seria a janela de Peter? Levantou-se a meio do banco, levada pelo velho hábito de correr para ele quando não podia dormir. Mas enquanto se levantava, apagou-se a luz. A enorme mansão, agora, não era sequer uma sombra na noite.
Ela permaneceu ali, sob as árvores, as mãos caídas aos lados do corpo, fisionomia imóvel. Não se moveu. Não tinha desejo de dar nem um passo.
Houve um ruído perto dela. Virou a cabeça nessa direção. Talvez um esquilo insone, ou uma serpente, ou um sapo saltador. O ruído chegou mais perto e ela teve a sensação súbita e inexplicável de que alguém se aproximava dela, embora nada visse. Algum instinto fora das primordiais fontes de instinto fez com que ficasse perfeitamente imóvel, aguçando os ouvidos, os olhos tentando varar a escuridão. O ruído cessou. Porém a sensação de haver alguém perto dela era mais aguda que nunca.
Sabia, também, que aquele que ali estivesse sentira a presença dela e estava precavidamente silencioso, "sentindo-a" na atmosfera. Seu coração disparou, como com medo. Mas isso era absurdo! Algum criado, talvez, incapaz de dormir na noite quente. Ou talvez um assaltante. Mas Robin’s Nest era rodeada de altos muros, e patrulhada por dois vigilantes com cães.
Ela estremeceu violentamente quando uma voz abafada disse:
— Há alguém aí?
Era a voz de Henri, calma e baixa como sempre, embora vivamente interessada.
Celeste não se moveu. Mas de repente uma labareda a envolveu, de modo que se sentiu incandescente, ardendo na escuridão, tão visível como uma coluna de chamas. Seu coração começou a pulsar tumultuosamente. Súbito, a inanimada confusão da noite, todos os sons sem sentido, toda a pesada inércia e espantosa deformidade, tomam um significado selvagem e universal, tornam-se tão próximos e estrondosos como ressacas tempestuosas. Ela se tornara o núcleo da voragem, e todos os seus sentidos eram presas de tumulto. Experimentava uma consciência de si mesma como jamais lhe acontecera, bem como consciência de tudo a respeito dela própria.
Não poderia haver falado mesmo que o quisesse. Só podia permanecer ali, vergastada por ventos poderosos. Um lampejo de luz iluminou o céu e revelou a sua presença ali, no côncavo da árvore, imóvel, tão imóvel como o tronco da árvore atrás dela.
— Celeste! — exclamou Henri, com genuína surpresa. Agora estava escuro novamente. De súbito o vento cessou, embora ainda houvesse turbulência nos ramos mais altos das árvores. Como um sopro quente percorreu o gramado. O trovão murmurou bem longe, no espaço. Celeste mais sentiu do que viu Henri se aproximando. Agora, via-lhe a silhueta escura na obscuridade.
Forçou-se a falar, e era fraca sua voz:
— Está quente! Saí para refrescar-me.
Ela se moveu, então, sem se dar conta de que dera um passo em direção a ele. Foi um passo involuntário, e suas mãos se ergueram como conchas numa onda, depois caíram. Todo o seu corpo era também como uma concha, frágil como um sopro. Parecia-lhe estar sonhando. Se Henri percebeu isso ou não, não deu a menor indicação. Apenas ficou ali a olhá-la, contemplando o branco oval de seu rosto.
— Sim — falou, calmamente. — Está quente. Também saí para ver se posso respirar um pouco de ar fresco.
Chegou mais perto dela:
— Não vai entrar agora? Vamos sentar-nos um pouco. Acho que vem aí uma tempestade. É possível que refresque. A casa está como uma fornalha.
Ela se viu sentada no banco novamente, com ele ao lado. A doçura de um sonho, misturada com um terror inominável, aumentava dentro dela. Estava ficando languidamente entorpecida, e sem resistência. Viu um pequeno raio de luz na escuridão. Henri abria a cigarreira e a estendia para ela. Com dedos quase insensíveis ela tirou um cigarro. Quando ele o acendeu para ela, a chama a cegou de modo que fechou os olhos momentaneamente. Ele lhe viu a brancura das pálpebras, a palidez, o vago colorido dos lábios. Acendeu o seu cigarro, recostou-se no banco, e fitou a escuridão.
— Já quis instalar ar condicionado aqui, mas parecia tolice já que sempre vamos para fora veranear — comentou ele, no tom de voz mais casual e indiferente. — Mas acho que farei isso.
Ela ouvia a voz, porém não as palavras. Agora, tudo nela era forte quentura e pungência, um langor e uma estranha palpitação que pareciam provir do próprio ar. Ela tremia. Ela nada se perguntava, não pensava em nada, estava apenas sentindo. Respirou profundamente.
— Sim — murmurou. As pontas acesas de seus cigarros pareciam vaga-lumes na quente escuridão. Seus lábios formaram palavras, e ela as ouviu vagamente, como se ditas por uma estranha: — Annette já foi dormir?
— Sim, há muito tempo. E Peter?
— Estava inquieto, e o deixei com a enfermeira Tompkins. Vi que sua luz já se apagou.
Ele lhe ouviu a voz, e percebeu seu tom sonhador. Não respondeu. Ficaram ali em silêncio. A respiração de Celeste se tornava cada vez mais difícil. Transpirava muito. Estava cheia de emoção, o sangue lhe cantava nas veias e havia um prolongado rugido em seus ouvidos. Porém não desejava mover-se. Apenas queria sentir-se assim, para sempre, nunca mais se mover, apenas sentir...
— Acho que ele está muito melhor — comentou Henri por fim, quietamente. — O descanso lhe tem feito bem.
Aumentou a confusão de Celeste. Obrigou-se a compreender as palavras de Henri. De quem falavam? Peter! Ela ali se sentava, rigidamente, sentindo-se mal, com uma espécie de choque. Agora estava totalmente cônscia de si mesma, de Henri, e cheia de um terror mortal. Fez um movimento, como para levantar-se, e ele lhe pegou o braço — embora parecesse não ter feito qualquer movimento. Ela sentiu o forte aperto de seus dedos, que desceram lentamente e lhe pegaram a mão. Sua própria mão tremia e queimava!
— Não! — ele disse. — Fique comigo por alguns minutos. De que tem medo?
Ela estava sem fala, coração intumescido:
"Se fico — ela pensou — cairei. Certamente fraquejarei!"
— Não tenho tido um minuto a sós com você — falou ele, ainda lhe agarrando a mão firmemente. — Afinal de contas, somos parentes, sabe disso. Você é minha hóspede, porém mal a vejo, indo ou vindo. Como um fantasma.
Ela não pôde falar. Podia sentir o doce e pesado langor a percorrê-la e tentou resistir:
— Há tantas pessoas a visitar... Estive longe por muito tempo.
— Tempo demais — disse ele, gentilmente.
Soltou-lhe a mão. Imediatamente uma tremenda desolação caiu sobre ela, uma sensação de perda, aguda e dolorosa. Ele se estava inclinando para diante, mas distante dela, cotovelos nos joelhos, a mão calma levando o cigarro aos lábios.
— Lembra-se do dia, há muito tempo, quando você veio aqui pela primeira vez, e todos passeamos no roseiral? — ele perguntou. — Isso foi quando Edith e eu viemos para casa. O velho Thomas estava conosco, então: morreu na Flórida, quando estava com Edith e Christopher. Era uma tarde quente quando a vi pela primeira vez. Você chegou com sua mãe e Christopher, e não passava de uma garotinha. Foi em julho de 1925?
— Creio que sim — ela murmurou. Sua mão ainda sentia o aperto que já não estava nela. Seu coração estava devorado por uma fome estranha.
Ele riu maciamente:
— Uma menininha! Com um chapéu enorme e de vestido branco. Você até usava fitas azuis! Que romântico era o Chris, naquele tempo... Eu nem podia acreditar que você existia, quando a vi. Ele devia guardá-la sob uma redoma. Você era, também, inacreditavelmente linda! — Deteve-se. — Você mudou, Celeste. Não é só por estar mais velha. É algo mais.
"Devo ir-me daqui! Imediatamente!" — ela pensou. Mas não se mexeu. Sentia a força e o poder dele, embora estivesse tão quieto, e isso a mantinha imóvel. As emanações de seu corpo e sua personalidade eram como pesadas cadeias nos braços e pernas dela, que não podia lutar contra elas.
Então ela sentiu, mais do que viu, que ele se estava voltando para ela:
— O que foi, Celeste? Que lhe aconteceu?
Ela juntou e apertou os dedos e falou quase incoerentemente:
— Fiquei mais velha, foi isso. Já não sou uma criança. Não sou, mesmo, muito jovem. Deve-se permanecer a mesma?
Ele ficou silencioso por alguns minutos. Ela lhe sentia os olhos nas sombras de seu rosto.
— É alguma outra coisa — ele repetia, por fim, e ela estremeceu ao som daquela voz na escuridão. — Você possuía uma qualidade de frescor e simplicidade, de fé e de força. Isso se foi. Lamento muito.
Ela não respondeu. Havia em torno deles um silêncio pesado, a não ser pelo vento. Até os grilos se haviam calado. Um longo ribombar à distância. Um cheiro sulfuroso passou pela grama invisível.
— Devia ter casado comigo — disse ele, e seu tom era casual, bem leve.
Agora ela pôde mover-se. Gritou:
— Não deve dizer isto! Não deve repetir isto, nunca...
E nada mais pôde dizer. Mas sua garganta se apertou, lágrimas lhe saltaram, correndo-lhe pelas faces. O coração estava estrangulado em seu peito.
— Por que não? — perguntou ele, sensatamente. — Afinal de contas, agora já não importa. — Deteve-se. Tornou a pegar-lhe a mão, apertando-a. — Agora não importa mais, importa?
Ela tentou puxar a mão, depois rendeu-se:
— Não... — sussurrou.
— Conseguimos o que queríamos — falou Henri, em tom divertido. — Você, Peter. Eu, Annette. Somos muito felizes agora. E satisfeitos. Deveríamos parabenizar um ao outro.
— Não! — ela tornou a gritar, como se numa dor insuportável.
— Por que não? É verdade, não é?
Arrancou a mão da mão dele. Por um momento cobriu o rosto com as mãos, apertando-as contra os olhos. Estava doente de pura angústia.
— Lembra-se do dia em que me mandou embora? — perguntou o homem, gentilmente. — Cheguei, e você me entregou meu anel. — Ficou silencioso por um momento. — Então, fui embora. Mas você ficou me espiando, pela janela. Vi seu pobre rostinho lá, enquanto me encaminhava para o portão. Por que ficou me olhando, Celeste?
Ela retorceu as mãos, torceu o lenço:
— Como vou saber? Foi há tanto tempo... Talvez eu estivesse triste... triste por tê-lo magoado.
Porém ele replicou impiedosamente:
— Eu sei por quê. Era porque você realmente me amava, Celeste. Soube disso, por fim, não é? Não era o Peter que você queria, na verdade. Talvez se tivesse convencido de que o queria; era o que ele dizia, tão novo e único, que fascinava sua pobre ingenuidade. Ele era um herói. Combatia os dragões Bouchards. Você não gostava da sua família. Todos a aterrorizavam, a faziam sentir tola, pequena e inferior. Peter os combateu: era um herói! E tão romântico! Eu não era romântico, receio bem.
A voz dela tremia, mas agora estava dura como ferro:
— Não deve falar assim. É estúpido. Muito estúpido. Você é injusto. Sempre foi injusto, Henri. De qualquer modo, que importa isso agora? Foi tudo há muito tempo. Eu era apenas uma criança. Nada mais importa agora. Palmilhamos um longo caminho. Já não somos jovens.
Contudo, ele disse, como se ela não tivesse falado:
— Você era boa e doce e tinha um peculiar tipo de "virtude". Então Peter a atraiu. De certo modo, talvez você tenha realmente se importado com ele. Porém era a mim que amava. Sempre amou. — Após um momento, acrescentou: — Sempre amou. Mesmo agora. Por isso é que tem medo de mim, Celeste?
O terror a dominou. Pôs-se de pé. Ele também, porém muito mais vagarosamente. Ela o encarou e gritou:
— Não tenho medo de você, Henri Bouchard! Sabe o que penso de você? Penso que é um covarde. Um trapaceiro! Se não fosse, não me falaria assim! Não tem vergonha? Não pensa em...
—- Annette? Em Peter? — Ela estava trêmula e aterrorizada ante a súbita mudança na voz dele, que se tornara rouca e brutal: — Posso dizer-lhe algo a seu próprio respeito, Celeste? É uma idiota. Está agora com mais de trinta, mas ainda é uma mocinha romântica, cheia de sonhos idiotas. Quando ouve a verdade, se intimida e encolhe-se, delicadamente. Não gosta da verdade, gosta? Deixe-me dizer-lhe algo mais: eu a desprezo.
A voz dele e suas palavras a chocaram tão profundamente que ela não podia mover-se, nem falar: podia apenas fitar o contorno do rosto dele acima do dela, na escuridão que se tornava mais espessa.
— Sim — disse ele — eu a desprezo. Você não é o que eu pensava. Nunca pensei que fosse uma mentirosa, especialmente que mentisse a si mesma. Pensa ser nobre e honrada quando mente assim, não é? Toda lealdade, e orgulho, dedicação e dever. Você pensa: "Que seria do mundo se renunciássemos ao dever, ou fôssemos desleais, ou encarássemos a verdade?" Pois deixe-me dizer-lhe que princípios como os seus tornaram o mundo doente. Isso foi que fez do mundo o que ele é. A loucura sentimentalista de pessoas como você fez mais para emperrar o progresso que qualquer outra coisa que possa nomear. Digo-lhe que tem de encarar a verdade e viver de acordo com isso. Se o mundo tem de sobreviver, terá de encarar a verdade.
O choque ainda lhe fazia vibrar a came. Gritou desdenhosamente:
— E você, Henri Bouchard, pensa que encarou a verdade?! Não sabe que eu sei o que você é? Realmente pensou que eu era tão cega, e idiota, e estúpida, que não soubesse? Disse que me despreza. Bem, deixe-me dizer-lhe que sei que você é um mentiroso, um charlatão, um malfeitor, um embusteiro em escala colossal. Você é um canalha, Henri. Um animal. Quando o mundo se livrar de pessoas como você, será um lugar melhor, um lugar mais limpo e mais seguro... — Deteve-se, sufocada pela raiva e impotência.
Porém mesmo nessa impotência e nessa raiva tornou-se cônscia de que ele a ouvia atentamente e chegara mais perto dela:
— Sim? Quem lhe disse todas essas coisas? Peter?
— Você pensa que estivemos cegos todos esses anos na Europa? — ela gritou, amargamente. — Não sabe que Peter tem estudado, entrevistado pessoas, lido, pesquisado?
E então ouviu-o a rir incontrolavelmente. Ela parou de súbito.
— Oh, Deus! — ele exclamou. — Se isso não é a mais maldita podridão! E você o tem arrastado pelo mundo, ouvindo isso, fielmente gravando as idiotices dele! Eu tinha ideia de algo assim. Mas não imaginava toda a extensão da coisa...
Agarrou-lhe a mão e puxou-a de encontro a ele violentamente:
— Você é uma tola, Celeste.
Ela ainda tentou lutar, porém ele segurou-lhe o rosto e beijou-lhe brutalmente os lábios. Tomou-a nos braços e a beijou repetidamente até deixá-la atordoada e cega, sem nenhuma resistência.
Com as mãos ela lhe empurrava o peito:
— Solte-me! — gritou, por entre os dentes cerrados. Seus joelhos, porém, estavam fracos demais. Se ele a tivesse soltado ela cairia. Seus lábios ardiam como fogo.
— Não! — disse ele suavemente, beijando-a mais uma vez.
— Não a soltarei nunca mais! Você nunca desejou que eu fosse embora. É uma impudente, não é, querida? Eu a tenho observado nestas últimas semanas: sabia que bastaria ir ao seu encontro... e você cederia. Você também sabia disto. Eu a toquei e logo cedeu. Bastante simples, não é?
Ela lhe agarrara os braços, para empurrá-lo, mas suas mãos perderam a força. Explodiu em lágrimas, quando ele a segurou. Ele inclinou a cabeça e juntou sua face à dela, embora ela tentasse afastar o rosto.
— Deixe disso, querida! — falou ele, com grande ternura.
— Desculpe-me ter-lhe dito essas coisas. Mas precisavam ser ditas. Eu soube de tudo a esse respeito. Não sabe o quanto a amo, Celeste? Não sabe que nada importa a não ser você? Há coisas que eu gostaria de fazer, mas iriam magoá-la. Assim, teremos de esperar. Não, não esperar pelo amor. E não esperar demais, por outras coisas. Já esperamos muito tempo. Tenho muita paciência, caríssima. Mas não demais.
Alisou-lhe os cabelos, murmurando ao seu ouvido. Apertou o rosto contra o dela. Ela era toda angústia, toda desdita, vergonha e resistência. Mas subitamente foi dominada por uma alegria delirante. Sem ser por sua vontade, agarrou-se a ele, devorada pela ânsia e pelo primeiro desejo que jamais sentira. Seus lábios floriram e amaciaram sob os dele, e os olhos se arregalaram fitando as estrelas, que se encolheram e faiscaram em pontos de luz. Vento, árvores, o trovão e o distante rumor da tempestade em formação cantavam, exultantes, com paixão atávica e êxtase! Ela sentiu o giro da terra sob seus pés, e sua selvagem rotação lhe invadiu o corpo quando ele a ergueu nos braços e a carregou para a escuridão que estava quente, clamorosa e impenetrável... e cheia de vozes harmoniosas ...
Christopher e Edith estavam sentados no calor sufocante do enorme salão, todas as lâmpadas acesas. Ouviram a tempestade em formação que, embora a chuva ainda não houvesse chegado, sacudia as janelas com um som subterrâneo.
Silenciosa e triste, Edith enxugava os olhos. Christopher se mantinha imóvel. De tempos a tempos, olhava o relógio.
— Não compreendo! — comentou, em sua voz neutra. — Disseram que ela não saiu. Pelo menos, não mandou vir o carro. O mordomo a viu no terraço, há mais de uma hora, sem chapéu. Teve a impressão que ela ia dar um passeio. E ninguém sabe onde está Henri. Também ele não saiu agora à noite.
Edith suspirou. Depois disse, cansadamente:
— Está uma noite quente. Talvez estejam aí fora, nos gramados, juntos, tentando tomar um pouco de ar fresco.
— Sem dúvida — respondeu Christopher.
De repente, ele se pôs de pé e se dirigiu a uma das janelas, que refletia cada uma das luzes. Um relâmpago lhe iluminou o rosto, que parecia uma máscara de gesso, descarnado e mau, encovado e abatido sob as faces ossudas. Estava de costas para Edith: ela apenas via o contorno de seus ombros, porém sentia nele algo de violento e reprimido.
— Acha que deveríamos sair e procurá-los? — perguntou Edith, agitada. — Afinal de contas...
Christopher ficou calado por um momento. Depois falou, sem se voltar:
— Não. Estarão aqui logo. Onde poderiam ter ido?
— Receio... por Celeste — comentou Edith, levando novamente o lenço aos olhos. — Seria terrível para ela, Christopher. Ela e Adelaide são tão unidas... Ela nunca se perdoará.
Christopher se virou e então ela lhe viu o rosto: num medo súbito, levantou-se a meio da cadeira. "Seria possível — pensou — que ele tivesse uma secreta afeição por sua mãe, que isso fosse assustador para ele? Aquela palidez de gesso, o brilho apagado dos olhos, eram alarmantes para ela. Ou (e esta seria a explicação mais lógica), se preocupava por Celeste, temeroso de sua grande tristeza..."
Contudo, havia algo no olhar dele que era incongruente com a sua suspeita de sentimentos mais brandos — algo que aumentava seu temor instintivo e sua confusão.
— Christopher, o que é? — gritou involuntariamente.
Ele não a ouviu. Estava à escuta. Ela virou a cabeça e também se pôs a escutar. Ouviu abrir-se a porta do terraço, mas não ouviu vozes. Agora, havia apenas silêncio. Edith permaneceu no centro da sala, perto do marido, e o coração começou a palpitar-lhe exageradamente. Christopher lhe agarrou o pulso, e tão inesperado e desagradável foi esse aperto que ela quase gritou. Ele não a olhava: fitava a grande arcada vazia da sala. Depois empurrou-a para trás, de modo que ela quase caiu na poltrona, e ele se encaminhou para a arcada tão silenciosamente como uma pena flutuando. Ela o via ir, como na névoa de um pesadelo.
Viu-o parar rigidamente no limiar, ao chegar ali. Porém ela não via o que ele viu: Henri e Celeste apertados um contra o outro no silencioso abandono da paixão, à sombra da escada. Edith queria ir até o marido, enquanto ali estava vendo o que ela não podia ver, mas algo no rígido contorno dos ombros dele, a esculpida imobilidade da cabeça descarnada, a segurou em sua cadeira.
Christopher pensou, com brilhante claridade: "Cadela!"
Não poderia obrigar-se a mover-se ou a falar. Apenas podia observar e sentir dentro de si uma seca desintegração, um vento pulverulento de ódio, acompanhado de traiçoeiras punhaladas de amargura e de dor. Misturada a isso, uma horrível espécie de humilhação e aviltamento pessoal.
Em toda a sua vida ele amara apenas uma criatura com ternura e completa pureza, com absoluta doçura e gentileza. E fora a irmã, Celeste, que desde o nascimento fora de seu exclusivo encargo. Mesmo quando ela casara contra a sua vontade, e fora para longe por tantos anos, nunca a esquecera por um momento sequer, e desejara a sua volta com uma espécie de desespero frio. Sempre a considerara diferente e acima das outras mulheres, algo de puro e intocável, vestida de castidade, integridade e nobreza que nada poderia destruir. Esse foi seu sentimentalismo, sua ingenuidade e, agora, sua vergonha, sua degradação.
Há muito tempo sabia que Henri Bouchard nunca desistiria de Celeste, não importando o quanto tivesse de esperar. Porém Christopher, com uma curiosa simplicidade, acreditara que Celeste é que resolveria o período de espera e lhe imporia os limites. Esses limites seriam a morte do marido e o divórcio de Annette e Henri.
Durante esses últimos meses ele, Christopher, vivera numa espécie de vácuo abafado de indecisão, dúvida, e obscura ansiedade. Tudo dependia do que transpirasse entre Henri e Celeste, do que fosse decidido por sua irmã. Agora, enquanto ficava ali, devorado pelo ódio mais terrível, a raiva e a humilhação própria, tomou sua decisão. Sua degradação não diminuiu, apenas aumentou pela confirmação de que fora um ingênuo e um tolo sentimental, um sentimental vitoriano. Só lhe restava a vingança. Pensou:
"Ela não é melhor que qualquer outra. É suja e corrupta, torpe e nojenta. Rendeu-se facilmente, sem sequer lutar."
Em outro homem, esses pensamentos o divertiriam, e lhe forneceriam comentários jocosos sobre a simplicidade e o absurdo da natureza humana. Não achou nada de engraçado em si mesmo.
Pensou:
"Agora, sei o que fazer! Devo ir a ele e matá-lo! Gostaria de mostrar-lhe o que sei!"
Mas não ousou fazê-lo. Não ousou deixar que Henri Bouchard sequer soubesse o que ele havia visto.
Então, não fora suficiente para Henri Bouchard tê-lo humilhado, a ele, Christopher, catorze anos antes, tê-lo despojado e degradado diante de toda a família, tê-lo traído publicamente e o destruído, e tê-lo enviado para um virtual exílio. (E depois, triunfante, Henri se apoderara do poder dos Bouchards, que Christopher cobiçara tão maligna e incessantemente: como Napoleão, pusera a coroa na cabeça com as próprias mãos...). Não, isso não fora o bastante para ele. Não fora o bastante até apossar-se de Celeste e a desgraçar, sob este teto que abrigava o irmão e o marido dela! E o irmão ali estava, sofrendo a humilhação final, a mortal impotência.
Bem fundo no redemoinho, Christopher estava cônscio do quente núcleo de dor, que não podia analisar, apenas sentir.
A concentração de seus olhos, a violência das emoções que estavam quase a destruí-lo, devem ter chegado à consciência de Henri Bouchard, pois ele ergueu a cabeça e a virou na direção de Christopher.
Por alguns instantes os dois homens se fitaram num silêncio intenso. Então Henri, gentilmente, afastou Celeste.
— Sim? — falou ele, quietamente, com aquela forma direta, brutal que sempre intimidava os outros. Celeste, agora, permanecia ao lado dele, nos olhos uma expressão remota e agreste. Os cabelos estavam desgrenhados, uma massa de cachos negros a rodear-lhe as faces e o pescoço.
"Cristo!" — pensou Christopher, olhando-a. Sentiu um impulso de correr para ela e esbofeteá-la até que ela caísse.
Edith apareceu na arcada. Adiantou-se um ou dois passos, primeiro relanceando os olhos para o irmão e depois para Celeste. Então seu rosto comprido ficou vermelho.
Mas disse à perturbada Celeste:
— Celeste, temos más notícias. Voltamos... há poucos momentos. E havia um recado. Sua mãe sofreu um derrame cerebral, em casa de Emile. Você deve ir para lá, imediatamente. — Deteve-se, e as lágrimas começaram a correr, com raiva obscura. — Esperamos por você. Celeste você deve ir imediatamente!
Capítulo 15
Henri relanceou os olhos para o relógio: três horas. Recomeçou o inquieto caminhar acima e abaixo na sala clara e vazia, estranhamente brilhante e silenciosa nessa manhã. Os grilos já não trilavam no gramado quente; a lua crescente deslizara para trás das grandes árvores. Fora breve a tempestade: passara com a mesma rápida violência com que viera, deixando apenas o fresco e apaixonado aroma da terra e da folhagem embebidas de água.
À uma hora, Christopher telefonara brevemente, da casa de Emile, para avisar que Adelaide Bouchard, sua mãe, acabara de falecer, após um ou dois momentos, apenas, de consciência. Henri pretendia informar Annette, neta de Adelaide, imediatamente? Não, replicara Henri. Não havia necessidade de incomodá-la. Isso iria apenas chocá-la e perturbá-la. Melhor deixar que ela soubesse pela manhã, depois de uma boa noite de descanso. Nesse ínterim ele, Henri, esperaria a volta de Christopher, Edith e Celeste. Não estava cansado em absoluto — replicou impacientemente, ante a sugestão de Christopher de que fosse para a cama. Ele próprio teria ido para a casa de Emile, não fosse o receio de que Annette acordasse e notasse a sua falta, ficando alarmada. A todo momento ia até a porta do quarto verificar se ela ainda dormia. Ouvindo isso, Christopher sorriu enigmaticamente para si mesmo e desligou, depois que Henri tardiamente lhe apresentou seus pêsames pela morte da avó de sua mulher, e que era sua tia.
Henri, que raramente fumava, só o fazendo em companhia de outros — e que era conhecido por seus hábitos de precisão e de higiene — enchera vários cinzeiros com pontas de cigarros nas últimas horas. Ele as olharia com nojo ao encontrá-las, como se feitas por um estranho não dotado de boas maneiras, mas acenderia outro cigarro, que fumaria inquietamente. Sentava-se, às vezes, passando os dedos pelos cabelos que ainda não estavam grisalhos, mas de aparência descorada, e ficava olhando fixo diante de si. Pensava em Celeste, mas também pensava em muitas outras coisas.
Há muito descobrira que os pensamentos podem ser anormalmente agudos nas primeiras horas antes da aurora. As sobrancelhas retas se juntaram em grande concentração.
Não era seu costume ficar remoendo ideias, saborear em retrospecto frutos já comidos, nem vinho já bebido o embriagava. "Deixe-o pegar o que for capaz; deixe-o segurar o que puder" — sempre fora a sua filosofia de vida, e continuava sendo. Amanhã devia visitar Jay Regan, o envelhecido, mas ainda poderoso financista. Agora isso era impossível. Mesmo ele não poderia omitir as amenidades necessárias após um passamento. Estava aborrecido. Adelaide não poderia haver morrido em ocasião mais inoportuna. Não era hábito do Sr. Regan enviar convocações secretas a qualquer de seus amigos, a menos que pressagiasse algo de grave, algo iminente e da mais profunda importância. Por uma vez, Henri estava perplexo. Especulou sobre a comunicação de Regan, e amaldiçoou a pouca sorte da morte de Adelaide. Uma pobre velha apagada, insignificante, que devia ter morrido anos atrás! Ela havia distorcido, praticamente arruinado várias vidas com sua maldita nobreza. Quanto mal o bem pode fazer!
Henri refletiu que há em todos os homens uma sede de poder, porém nos "bons" a ânsia é maior que nos "iníquos". Mais ainda: o iníquo pode por vezes deter-se a instâncias da razão, mas os bons são sem razão. Portanto, são os mais destrutivos, os mais perigosos. Ao homem mais iníquo falta uma completa convicção; os bons são impudentes devido a isso. O que acontecera naquela noite foi o resultado, a longo prazo, da "bondade" e nobreza de caráter de Adelaide. Tornou a franzir os sobrolhos. Esperava que Celeste não reagisse de maneira ridícula à morte da mãe. Se o fizesse, tornaria a coisa um pouco mais difícil para ele. Mas era só. Ele gostava que os acontecimentos se dessem de modo ordenado e progressivo, e consequentemente fossem arquivados para futura referência. Tê-los regurgitando desordenadamente dos arquivos e todos espalhados era desagradável e irritante para ele. Durante os catorze anos do casamento de Celeste, nos quais a vira muito de longe em longe, não fizera qualquer tentativa para chegar a ela. Aguardara a hora apropriada, quando o ato pudesse realizar-se, e ficasse como alicerce para acontecimentos futuros. Nesses anos tivera de consolidar sua posição. Nem mesmo por Celeste teria arriscado essa posição. Agora, quando tudo estava a salvo e seguro, movimentara-se para apoderar-se dela. Seria muito aborrecido se ela outra vez se tornasse temporariamente inacessível. Isso tomaria tempo, e tempo, agora, era muito importante para ele, e não devia ser desperdiçado com uma mulher tola que teria de ser novamente seduzida. Por um momento pensou em deixar de persegui-la. Por que não a deixar ir em sua loucura e simplicidade? Ele tinha coisas mais importantes para absorver sua atenção.
Sempre lhe fora absolutamente inacreditável que homens poderosos fossem frequentemente destruídos por sua ânsia por uma simples mulher, ou, por vezes, apenas mulheres. Isso o espantava. Não podia pensar em qualquer ocasião em que sua paixão por Celeste fosse irresistível a ponto de fazê-lo desviar-se de questões mais importantes e cometer disparates por causa dela e perder a cabeça.
"Como um cão libidinoso" — pensou, enojado. As mulheres eram as recompensas do poder, as recompensas finais. Apenas isso. Mas na América adolescente (que, em meio à sua própria adolescência já estava podre) a recompensa era considerada a única coisa de valor. Essa era a influência das mulheres, que acreditavam que os traseiros que se empoleiravam nos joelhos daquele que se sentava no trono eram mais importantes do que o trono. Por Deus! O mundo estava cheio de traseiros vorazes, e realmente havia homens que se apoderavam de um deles e se deixavam arrumar durante sua preocupação! Seu nojo aumentou.
Se seu interesse por Celeste a qualquer momento ameaçasse pô-lo em perigo, então a deixaria ir-se. Sempre soubera disso. Embora, a tal pensamento, fosse dominado por um desânimo assustador. Tornou a levantar-se e recomeçou o inquieto caminhar abaixo e acima. Não havia razão para deixar Celeste. Apenas era irritante que pudesse ter de começar tudo de novo exatamente quando era mais importante que sua mente se ocupasse em coisas mais relevantes. Devia levar as coisas de sua vida particular a um clímax muito em breve. Tinha confiança em si mesmo, em que poderia manobrar sua vida privada sem pôr em perigo o que era principal em sua vida: o poder.
Estava tão preocupado que ficou completamente espantado ao ver que Edith, Christopher e Celeste haviam voltado. Foi ao encontro deles. Celeste não chorara — ele notou, após o olhar penetrante que lhe lançou. Seu rosto parecia de mármore branco, e os olhos estavam arregalados e brilhantes. Estava muito quieta. Olhou para ele cegamente, como o faria uma estátua, e parecia não saber o que fazer. Edith tinha um braço em volta dos ombros da jovem mulher. Ela, mais do que Celeste, dava sinais de tristeza, pois tinha as pálpebras inchadas. Christopher, muito pálido, era impenetrável como sempre.
— Bem? — falou. Olhava Henri, sem a menor expressão.
— Sinto muito — disse Henri, olhando apenas para Celeste. — Porém ela já estava muito velha. Temos de lembrar-nos disso.
Por que Celeste olhou para ele daquele jeito? Ele franziu a testa.
— Acho — disse Christopher à esposa — que será melhor que você leve Celeste para a cama.
— Venha, querida — falou Edith para Celeste. — Você está tão cansada...
Então Celeste abriu muito a boca, e ainda olhando para Henri falou como uma sonâmbula, numa voz alta e sem vibrações:
— Não posso esquecer o que ela disse. Disse que devo ir-me, imediatamente. Foi exatamente antes de morrer. Falou: "Afaste-se daquele homem mau, vá para onde ele não possa alcançá-la, e matá-la. Em nome de Deus, vá embora e nunca mais torne a vê-lo!"
Depois de dizer isso, ela ficou ali, rígida como uma estátua, fitando-o com o cego azul brilhante de seus olhos.
Um rubor passou pelo rosto carrancudo de Henri. Christopher sorriu disfarçadamente, e tocou os lábios com os dedos ossudos e delicados. Edith se sentia muitíssimo embaraçada.
Henri olhou lentamente de um para outro, percebeu o sorriso de Christopher e a fria raiva de Edith quando ela encontrou os olhos dele. Ele apertou os punhos. Abaixou a cabeça como um touro e as narinas se lhe dilataram. Isto era ridículo, humilhante. Virou-se para a irmã, dizendo secamente:
— Leve-a para a cama.
— Sim. Não se deve recordar o que diz um moribundo — comentou Christopher, acenando de cabeça para Edith. — Ela não sabe o que está dizendo.
— Devo ir embora... — falou Celeste arrancando-se do aperto de Edith e afastando-se deles, um súbito desespero estampado no rosto. — Devo ir-me imediatamente! Vocês podem ver isso, não podem? — Agora sua voz já se transformara em grito, e ela torcia as mãos ruidosamente.
— Está histérica — disse Christopher, friamente. Segurou o braço da irmã e falou alta e claramente: — Vá para a cama, Celeste. Quer que eu chame o médico para que a faça dormir como qualquer outra mulher idiota? Comporte-se. Você já não é uma criança.
Ela o encarou, branca e trêmula, e tentou retirar o braço do seu forte aperto. Porém ele a agarrava firme.
— Você não compreende... — falou Celeste num tom de mágoa tão agoniado que os olhos desumanos de Christopher estranhamente se adoçaram. Ela ergueu a mão para o irmão num gesto patético: — Nunca o esqueci. Não podia esquecer. Fiquei fora, fugi, durante anos e anos. Era terrível! Não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser ficar longe. E então voltei... e então houve ontem à noite... — Ela se deteve e gritou, numa voz cheia de dor: — Você não sabe a respeito de ontem à noite! Foi quando eu soube que fora inútil toda aquela fuga, que eu não poderia ficar afastada dele! Que devo fazer? Christopher, diga-me o que fazer!
Apesar de sua tristeza, Edith estava nauseada:
— Que cena! A família sempre foi conhecida por suas suculentas cenas de família, porém esta é a mais revoltante! Celeste, não se envergonha? Não sabe o que está dizendo? Por favor, Chris, ajude-me a pô-la na cama imediatamente, antes que os criados ouçam e venham bisbilhotar!
Voltou-se para o irmão e disse:
— Bem, diga alguma coisa! Não fique aí como a imagem de um touro prestes a atacar! Que fez a ela? Oh! Deus, mas é uma desgraça!
— Concordo com você — disse Henri, calmamente. Ainda estava vermelho. Foi até Celeste e falou, em voz dura e penetrante: — Não aconteceu nada. Você está histérica, minha cara. Vá para a cama. Teve uma noite difícil e não é responsável pelo que diz, mas, pelo amor de Deus, tente controlar-se!
Ao som de sua voz ela tremeu violentamente. Ficou rígida, mas tremendo, ainda segura pelo irmão. Relanceou os olhos para Henri, numa espécie de horror de pesadelo. Depois, de repente começou a chorar, as lágrimas correndo como um rio.
— Henri — disse, alquebrada, e deu um passo em sua direção. Christopher a soltou. Ela ergueu as mãos para Henri e ele as pegou bem gentilmente, tentando controlá-la com o poder de seus olhos.
— Sim, querida — falou, suavemente — eu sei. Vá para a cama. Descanse. Falaremos a este respeito em outra hora.
Mas Celeste murmurou, lábios trêmulos:
— Ela disse que devo afastar-me de você, Henri. Você sabe que não posso fazer isso. Nunca mais. Henri, por que não morro? Por que voltei? Mas você queria que eu voltasse, não queria?
Henri estava silencioso. Edith recuou alguns passos com uma expressão de desdenhosa aversão e um embaraço ainda maior. Porém Christopher observava atentamente. Via que Henri e sua irmã, o haviam esquecido bem como a Edith. Então Henri concordou:
— Sim, Celeste, eu queria que você voltasse.
Puxou-a para si, e ela descansou a cabeça em seu ombro. Ele lhe acariciou a cabeça gentil e ternamente. A violência do choro dela começou a diminuir quando se agarrou a ele, com mãos desesperadas. Quando ele a beijou, ela se achegou a ele mais e mais, os cachos negros a cobrir-lhe os dedos fortes.
Edith olhou para o marido, que parecia muito calmo, e falou:
— Bem, eis uma coisa bem vergonhosa, devo dizer. Uma linda cena. Chega-se a esquecer, claro, que Annette e Peter estão lá em cima dormindo como cordeirinhos. Isto não é nada bonito, sabe. Elegante, fino e romântico! Acho que é apenas sujo, sórdido e repugnante. Lavo as minhas mãos quanto a toda essa coisa!
Ergueu a cabeça escura, endireitou os ombros, e caminhou para fora do quarto. Christopher sorriu, e depois ficou em silêncio, observando a irmã e Henri. Agora a moça estava mais calma, soluçando baixinho, enquanto Henri lhe murmurava ao ouvido palavras inaudíveis para Christopher, embora este se esforçasse para captá-las.
Outrora ele usara a irmã para enlear e prender Henri para seus próprios desígnios. Agora — refletia exultante — podia usá-la para destruir Henri. O basilisco de pedra tinha sua mancha de carne vulnerável, através da qual poderia ser ferido no coração. Christopher esperara por muito, mas não tanto assim. Sua exultação cresceu até o delírio. Sobre suas feições secas e descoradas passou um relâmpago de luz assassina.
Henri estava aos poucos se liberando do abraço de Celeste. Dizia-lhe gentil e lentamente:
— E agora, deve ir para a cama e descansar. Sabe disso, não é?
Ele olhou em torno, buscando a irmã. Ela se havia metido no vestíbulo, ao lado da sala, e esperava ao pé da escada, pálida e carrancuda. Ele levou Celeste como uma criança até Edith, que esperava e observava, boca cerrada, olhos cheios de desdém.
— Ela irá agora. Ponha-a na cama — ele disse e, ante seu olhar implacável e sem expressão, ela sentiu o velho medo dele, e tornou a pôr o braço nos ombros de Celeste. Henri observou as duas mulheres a subir lentamente a escada; depois voltou para a grande sala iluminada onde Christopher ainda esperava.
Christopher abriu a cigarreira e ofereceu, casualmente:
— Cigarro?
Henri o fitou como se em dúvida sobre o que era isso, depois aceitou. Christopher o acendeu para ele, acendeu um para si mesmo. Falou:
— O enterro é quinta-feira. Uma pena que minha mãe não tivesse morrido antes de chegarmos lá. Viveu o tempo exato para ver Celeste. Deve ter esperado por ela. A pobre menina passou o diabo!
Henri sentou-se e olhou diretamente para Christopher com aqueles olhos descorados, que haviam recuperado seu antigo fulgor:
— Quem mais ouviu? — perguntou abruptamente.
— Só Celeste, Edith e eu. Só éramos admitidos em grupos de dois ou três para ver a velha senhora. Isso foi bom. Não que alguém mais houvesse entendido. Provavelmente pensariam tratar-se de Peter. — Riu silenciosamente.
Henri olhou o cigarro, atirou-o fora:
— Sente-se — comandou.
Sob os altos malares de Christopher houve um leve colorido. Em todos esses anos nunca se acostumara — como acontecera com os demais parentes — às ordens ditatoriais de Henri. Seu ódio venenoso lhe trouxe à boca um gosto metálico. No entanto, sentou-se. Podia esperar, aturar, um pouco mais
Fora, os pássaros haviam dado início ao seu coro matutino. O vento começava a soprar. A leste, o céu ia vagarosamente ficando acinzentado. Henri acomodou-se em sua poltrona, as mãos descansando nos braços dela, e olhou o cunhado em longo e meditativo silêncio.
Havia em seus olhos um desprezo divertido, compreensão? Nunca se podia dizer, com esse formidável bastardo. Intimamente contorcido em sua impotência, Christopher dificilmente podia conter-se. Havia em seu desamparo uma voluptuosa qualidade, de modo que de súbito se sentiu fraco e desgraçado. Porém seu ódio era mais maligno que nunca.
Esperou. Seguramente, o suíno deve dizer algo, fazer algo!
Mas Henri apenas disse, com um sorriso peculiar:
— Posso oferecer-lhe minhas condolências pela morte de sua mãe?
Christopher estava silencioso. Henri é que esperava. Estudava a máscara da face de Christopher, agora enigmática e fechada. Tornou a sorrir. Levantou-se com a habitual facilidade e calmamente saiu da sala.
Capítulo 16
Jay Regan sentou-se na vasta e sagrada obscuridade de seu escritório, como uma catedral, e observou Henri Bouchard caminhar firmemente pelo soalho escuro e polido em sua direção. A grande secretária de mogno era como um espelho escuro diante do velho gordo, tão poderoso e tão sombrio, e lhe punha reflexos bruxuleantes no grande rosto cansado de bigode aparado, quase branco. Atrás dessa secretária, nessa obscuridade, ele era quase invisível, porém mesmo Henri ficou impressionado. Esse poderoso bucaneiro das finanças parecia, em sua idade, não bravo, não aventureiro, mas um poder que, ao erguer a mão, poderia fazer impérios em pedaços, ao mero som de cuja voz profunda e calma os cabeças de parlamentos mundiais se voltariam para ele, como hipnotizados. Aí estava o verdadeiro imperador do mundo, o real ditador. Hitlers e Mussolinis, com todas as suas trombetas e estilo bombástico, devem, no fim, ouvi-lo e agachar-se diante dele.
Porém ele estava velho, agora, aproximando-se da morte. Durante todos os anos em que Henri o conhecera, nunca sentira nele uma ânsia de poder, ou exultação por possuí-lo. Era uma força simples e natural, sem prazer aparente pelo conhecimento de que o terror e a ruína podiam ser invocados por ele. Nem jamais fora uma força espetacular, uma força teatral e dramática, amando publicidade e um cortejo de servidores. Sempre que se movimentava, era em abissal silêncio e obscuridade, e só a longa reverberação de um terremoto, afastando-se do silencioso centro dele, dava provas de que o Titã se havia mexido ou falado. Haveria lampejos de significativos relâmpagos na imprensa; haveria Comitês Congressionais, ou reuniões em escritórios semelhantes a este, em Wall Street, ou uma reunião dos milhares de membros da Associação Americana de Industriais, ou presidentes conferenciariam e políticos procurariam acordos. E, longe, na Europa, na Ásia, na América do Sul os ventos começariam a mover-se inquietamente ao sopro do terremoto, e brancos palácios de Governo zumbiriam como colmeias, e as portas de bronze da Bolsa, do Reichsbank, do Banco da Inglaterra, dos bancos da Itália, Romênia, Hungria, Escandinávia captariam fagulhas amarelas de luz solar quando abrissem e fechassem numa atividade febril. Mas sempre ele se movia por trás de um muro de sombras, em silêncio aveludado, e nem mesmo o ouvido mais aguçado ouviria o eco maciço de seu passo através das colunatas do mundo.
Esse o homem que puxara os cordões do títere Mussolini, e insuflara em seu peito de madeira o verdadeiro sopro da vida. Em 1927 esse miserável contorcionista e impostor, esse pequeno charlatão, esse desprezível ator de terceira classe, esse paranoico com ilusões de grandeza chegara ao ponto de colapso, ridicularizado e escarnecido por seus próprios realísticos compatriotas, que, amando a verdadeira arte e adorando um ator de verdade, achavam seus gestos e sua voz absurdos e ridículos, sem o menor traço de arte. Os italianos perdoam qualquer coisa enquanto se tratar de arte, e um homicida com graça e destreza, boa voz e maneiras, pode inspirar-lhes admiração e aplausos. Aplaudiriam um Bórgia, se envenenasse com classe e tivesse uma cortina apropriada para sua manga quando levantasse uma dramática mão para deitar veneno numa taça recamada de pedrarias, e mostrasse certa grandeza heroica de perfil. Eles amavam a ênfase sobre a graça, a ressonância de um período bem burilado, num mundo que sabiam ser insensível e frequentemente sem beleza. Porém esse charlatão perverso não tinha esplendor, nem beleza. Sequer sabia representar. Se um homem não fosse dotado da verdadeira apreciação do gesto elegante, não tivesse consciência de que uma frase deve ser completada com certas ricas entonações, nenhuma sutileza de atitudes, então era sem valor, e muito provavelmente um idiota.
Sua "marcha sobre Roma" interessara os vivos e inteligentes italianos, com sua adoração pela arte apropriada. Isso reviveu lembranças das entradas de César, com pajens, trombetas, bandeiras vermelhas contra o ardente céu azul, a marcha pesada de cavalos brancos e o brilho de capacetes ao sol, a luminosidade captada na ponta das lanças daquela imortal claridade da luz italiana, o trovão dos vitoriosos pés blindados. Por algum tempo, o interesse deles permaneceu. Mas logo reconheceram que esse César era fictício, ridículo, um louco sifilítico, e que mesmo sua perseguição a mulheres não tinha classe, era apenas o bamboleio de um Pan velhusco correndo atrás de costureirinhas. Ele os punha doentes. Os que o apoiavam, os grandes industriais e financistas da Itália, estavam consternados. Exibiam seu César cada vez mais à populaça irreverente e escarninha, pondo-lhe à cabeça um absurdo fez com borlas, inventando para ele uniformes aparatosos, ensaiando-o em seus discursos, descobrindo para ele mais e mais beldades com que coabitar publicamente, ataviando suas coortes com púrpura e ouro e armando-as de espadas cinzeladas. Aumentou o divertimento dos italianos. O Affaire Mussolini se tornou, para os civilizados romanos, a invasão dos sonhos de grandeza de um camponês — e sentiam-se insultados.
"Má ópera", diziam, balançando a cabeça. Para um italiano, "má ópera" era o crime supremo, sem perdão.
Jay Regan compreendeu tudo isso. Onde a arte não podia engodar, disse, o dinheiro poderia ser usado como uma clava. Foi naquele portentoso março de 1927 que ele emprestou cem milhões de dólares aos fascistas emboscados por trás de Mussolini, e os espantados italianos descobriram que, "má ópera" ou não, esse maligno ator de terceira categoria estava sobre eles com uma adaga equilibrada, e os constrangia não só a observar seus nojentos desempenhos como a aplaudi-los, também. Eles o viram pavonear-se no cenário da História, e ficaram nauseados por sua voz roufenha, sua falta de técnica, sua ignorância mesmo das mais elementares atitudes da verdadeira arte. Deram de ombros fatalisticamente e foram cuidar da sua vida, esperando que o desprezo universal em breve aquietasse esse portador de lança para sempre.
Mas o portador de lança, que deveria ter mergulhado no olvido a mando do povo italiano, tinha amigos não tão amantes da arte quanto esse povo. Tinha Mr. Regan, na América. Tinha o Banco da Inglaterra, e o silencioso movimento de mãos de ouro voltadas para ele. Tinha os banqueiros da França, que odiavam o seu país. Mas não tinha a Alemanha. A República Germânica o observava com alarma e tristeza, e seus confusos protestos se perderam nos gritos violentos dele, no sapatear dos seus pés chatos. Os alemães não tinham muita certeza a respeito do que protestavam, exceto que seu instinto, sempre tão elementar e primitivo, cheirava perigo. Alguns condescendiam em explicar que, para eles, Mussolini era realmente valioso. "Ele fez os trens italianos correrem no horário" — disseram, com solenes acenos de cabeça.
"Porém — indagou um grande liberal alemão, a quem Mussolini nunca perdoou, e mais tarde foi torturado até à morte num campo de concentração nazista, a mando do charlatão — o que têm a ver os trens no horário com o espírito humano, com o esclarecimento humano, com a liberdade humana?"
Tamanha ignorância, estupidez tão ingênua, foi devidamente ignorada. Os alemães continuaram a perguntar, e ninguém respondeu. Nesse ínterim, o heroico fundo da História carregou a atitude e a sombra arrogante de um lunático criado e mantido por uma centena de mãos secretas que o manipulavam. E essa sombra aumentou, e aumentou, e as espadas que a seguiam não eram espectrais, porém feitas de aço forjado na América, na Inglaterra, na França.
Por fim, mesmo aqueles alemães que, sob certas circunstâncias, tinham um olhar apropriado para a pontualidade de trens tiveram seu próprio problema, e temporariamente esqueceram Mussolini, pois outro charlatão, que nem sequer usava um fez com borlas, nem tinha o esplendor de uniformes para recomendá-lo, erguera a voz roufenha em seu próprio meio. Havia, na Alemanha, um amor pelo que fosse de estatura heroica, por capacetes, pelo clangor de espadas, pelos Nibelungen, por pés alados e blindados, por vozes wagnerianas. Porém esse miserável homúnculo, esse empregadinho de expressão desagradável, esse sapo saltador nada tinha que o recomendasse, nem sequer o conhecimento da "má ópera". Mas possuía uma Voz, e essa Voz ecoou no silêncio de catedral do escritório de Jay Regan, nas austeras paredes do Banco da Inglaterra, na Bolsa febricitante. O povo germânico ouviu, exausto pelo langor de anos infelizes, e se desviou com hesitante fadiga. Só os seus inimigos ouviram em seu próprio país, os loucos, os lunáticos, os perversos, os gananciosos, os depravados, e os danados. Porém outros ouviram e puseram ouvidos atentos através dos oceanos, através das montanhas, através das estraçalhadas fronteiras. E depois de ouvir um pouco, movimentaram-se — e a vasta maquinaria da destruição começou a ronronar, a elevar um rugido secreto.
Pois o Sapo prometera que mataria o Homem da Barba Vermelha que jazia como um gigante deitado além dos Montes Urais, sempre observando o mundo dos homens e, em silêncio, afagando sua barba. Ninguém sabia o que o gigante estava pensando, ou o que estava ponderando. O mundo dos homens podia aturar tudo menos silêncio, e podia ser levado à loucura por ele. Apenas sentiam os ferozes olhos azuis indo lentamente de nação a nação em meditação profunda, e ficaram histéricos ante a ameaça que acreditavam existir nele. Deixem-no sair de sua contemplativa imobilidade atrás de suas montanhas — diziam — deixem-no pôr-se ereto como um colosso, e fortalezas ruiriam ao som de sua voz, e governos se desfariam ao eco de seus passos. Deixem-no andar, e à sua sombra contra o sol os povos escravizados do mundo se erguerão como uma maré negra e inundarão seus senhores.
Até o momento o Monstrengo era apenas uma voz. Mas logo teve dinheiro. Com as espadas douradas veio um exército de assassinos, mentirosos e ladrões, vieram longos e mortais sussurros de cada canto do mundo. E o Monstrengo cedo eclipsou um mau ator, embora não possuísse sequer uma arte própria, mesmo má. O Sapo, com sua voz coaxante, o italiano ensaiador de atitudes que mal podia inabilmente manejar seu disfarce, se ergueu diante das turbas estupefatas, armadas com espadas forjadas em segredo em outros países. Olharam para o Homem da Barba Vermelha, guincharam sua desconfiança a respeito dele, e agitaram as espadas em sua direção. E então a Igreja ouviu, a Igreja que odiava a nova libertação dos homens. Na fresca penumbra das catedrais, na umidade mofada dos pequenos tabernáculos, ergueu-se uma tempestade de vozes, guinchando, gritando, cheias de veneno, medo e ódio — e ressoaram e ecoaram em todas as nações do mundo. O Homem da Barba Vermelha era o Inimigo Supremo de governos ordeiros, da lei, da moralidade, do casamento, da autoridade estabelecida, de Deus, da Bíblia, da virtude feminina, da obediência infantil, do comércio, do pequeno prédio escolar vermelho, e da mercearia da esquina. O Sapo e o Mau Ator eram Messias gêmeos que protegiam os leitos das boas mulheres, as pequenas contas de Banco, o trabalho, o governo, a Bíblia de dólar, e a igreja modesta com campanário de madeira.
Começara a sedução do Homem Comum.
A sedução — como os Mestres bem sabiam — não foi difícil. Só se tinha de inscrever a Igreja. Ano a ano, o próprio Homem Comum se apegara às picuinhas do preconceito, da estupidez, ignorância e medo e ódio e se sentava sobre esse material facilmente inflamável esperando pela centelha que incendiaria o refugo. A Igreja tinha essa centelha, já preparada e guardada para a hora própria. Sempre, através dos séculos, tinha ela tal centelha, abrigada por suas mãos sinistras. Acenderam as fogueiras. Por sua luz desvairada, os homens se convenceram de estar vendo a sombra agachada do Homem da Barba Vermelha, equilibrado para saltar sobre os limites do mundo.
O trabalho estava pronto. O fogo se espalhava. O mundo penetrava em um universo de nuvens carmesins.
Nesse ínterim, o Homem da Barba Vermelha mantinha seu silêncio. Contudo, ele sabia. Começou a mover-se por trás de suas montanhas.
O Povo Comum, enamorado de lendas e de contos de fadas, sempre acreditou que o homem do destino arderia como um cometa a explodir contra os céus do mundo. Gracejavam, sempre na implicação de que homens do destino se sentavam atrás de secretárias reluzentes em vastos e calmos escritórios, e falavam juntos em palavras do vernáculo. Quem, entre os distantes italianos, os distantes e aterrorizados alemães, sabia que seus Césares eram controlados por homens de ternos amarrotados, calças desmazeladas e sem vinco, em Nova York, em Berlim, em Londres, em Roma, em Paris? Quem sabia que os fogos da destruição ardiam na ponta de bons charutos em mesas de mogno com pilhas de documentos? Quem sabia que a voz da destruição não vinha dos espaços ressoantes do tempo, mas sussurravam quietamente em Wall Street, na Bolsa, no Reichsbank, e que com frequência essa voz tinha sotaque inglês ou francês ou americano? Fora-se o tempo dos heróis. O terror usava paletó e empanturrava uma pança inchada, e usava tônico na cabeça calva.
Nem mesmo a angustiada Espanha pôde despertar o Homem Comum, ou puderam seus gritos atravessar as paredes de sua casa, ou pôde a claridade de suas cidades incendiadas atingir-lhe as pálpebras entorpecidas.
Assim, quando Henri Bouchard se aproximou do seu velho e poderoso amigo, viu nele todo o enorme e subterrâneo poder que agora ondeava com força crescente através do mundo. Mas, sentado ali estava apenas um homem idoso e doente, olhos como que emboscados, bigode branco aparado, mãos quietas, e um sorriso peculiarmente encantador.
Tinha grande predileção pelo homem mais jovem, bem como indulgente admiração. Diante dele, na secretária, espalhava-se uma enorme folha de papel na qual aparecia algo como uma árvore genealógica. O Sr. Regan estivera estudando esse papel durante horas, mudando-o de lugar vez por outra. Era na verdade uma espécie de árvore genealógica. No topo aparecia: Bouchard & Sons, e daí se estendiam as múltiplas subsidiárias controladas por aquela companhia, os nomes dos presidentes e outros funcionários.
Estendeu a mão a Henri, apertando a dele calorosamente:
— Senti muito ouvir a respeito da morte de sua tia. Pretendia assistir ao sepultamento, mas apareceu algo. Recebeu meu telegrama?
— Ela era muito velha — respondeu Henri, sentando-se. — Completamente sem importância. Além disso, essa morte fez com que eu não pudesse vir vê-lo, conforme havia sugerido.
Sorriram um para o outro. O Sr. Regan esfregou o queixo. Disse, como invariavelmente o fazia ao ver Henri:
— Não posso deixar de espantar-me pela sua semelhança com seu bisavô. Posso vê-lo agora, sentado exatamente onde você está. A última vez em que veio a este escritório foi quando estava com setenta e cinco anos. Mas ainda potente. Você lhe herdou os olhos.
— E suas outras virtudes, espero — falou Henri.
Sempre se divertia com essas preliminares. Sabia que o Sr. Regan estava sutilmente tentando gravar nele que devia agir como faria seu bisavô, que devia considerar o que Ernest Barbour teria feito em face de certas circunstâncias iminentes.
O Sr. Regan girou em sua cadeira e abriu uma gaveta, de onde tirou uma garrafa de prata e dois copinhos. Essa era uma cerimônia habitual. Beberam juntos. O Sr. Regan acendeu um charuto para Henri, que não gostava de charutos. Por trás das pesadas portas entalhadas havia uma atividade constante, mas nenhum som chegava até ali. As janelas eram tão pesadamente encortinadas que pouquíssima claridade as atravessava. Portanto surpreendeu Henri quando o grande velho pesadamente se ergueu e foi até uma das imensas janelas, olhando distraidamente para fora. Espiou, inclinou a cabeça, pareceu muito interessado, depois desinteressou-se. Seu vasto e atarracado perfil aparecia indistintamente contra a nova luminosidade que invadiu o escritório.
— Ontem — disse por fim — um homem honesto passou pela Street.
— E isso é raro — comentou Henri.
— Muito raro — concordou Regan, com um sorriso. Novamente esfregou o queixo, e continuou a espiar.
— Espera-o agora? — perguntou Henri.
— Infelizmente, não. Mas espero vê-lo com frequência. Na Casa Branca.
Henri ergueu as sobrancelhas, surpreso:
— Não sabia que — mencionou o nome de certo cavalheiro que, fora combinado, seria o próximo Presidente — estava em Nova York! Está? Gostaria de dar-lhe uma palavrinha nesta viagem.
— Ele não está aqui — informou o Sr. Regan, calmamente. Voltou à secretária, tornou a sentar-se na poltrona de madeira entalhada e veludo. — Além disso, não é a ele que me refiro. Você o conhece ligeiramente: Wendell Wilkie.
Henri o fitou, genuinamente espantado:
— Commonwealth & Southern! Está brincando, Sr. Regan! — E explodiu numa gargalhada.
O Sr. Regan sorriu. A claridade da janela estava por trás dele, mas Henri teve a impressão esquisita de que havia algo de estranho na face de gigante.
Capítulo 17
— Não estou brincando — afirmou o Sr. Regan.
— Mas, por Deus! O homem não tem a mais leve noção de política! Ninguém jamais ouviu falar dele, exceto a Street. Não pode estar falando sério!
— Estou — falou Regan, quietamente. Cruzou as mãos sobre a enorme barriga e se recostou na poltrona. — Sabe, Henri, estou sofrendo do estômago. Ulceras na barriga espiritual. Por isso o chamei aqui.
Henri mal o ouvia. Estava de olhar fixo, os olhos desbotados a luzir na meia luz. Sua expressão era carrancuda:
— Não Wilkie — falou maciamente. — Um joão-ninguém, no que se refere ao povo. Quem o quereria? Não é homem para nós. Nunca foi nosso homem.
— Por isso o quero para Presidente — sorriu Regan.
— Não compreendo, Sr. Regan. O homem que escolhemos é o nosso homem. Outro Coolidge; um segundo Harding. Mesmo um eco de Hoover. Seguro. Temos de consegui-lo. Para o próximo ano. A máquina já foi posta em movimento. — Seu espanto cresceu. Inclinou-se para o velho amigo: — Ainda não acredito que esteja falando a sério. "Um homem honesto." Sabe qual a mais recente cotação de Commonwealth & Southern?
— Sei. Não é culpa de Wilkie, sabe. Ele não criou a TVA.
Henri estava calado. Sentava-se ali, imóvel, a não ser pelo tamborilar de seus dedos fortes nos braços da poltrona. Então disse:
— Minha ignorância é terrível. Poderia esclarecer-me por que está tão apaixonado por Wilkie assim de repente?
Os olhinhos do Sr. Regan começaram a cintilar, mas a expressão era sombria. Tocou a montanha de papelada sobre a secretária:
— Henri, sabe o que é isto? — Com um ágil movimento da mão atarracada empurrou os papéis em direção ao mais jovem, que os olhou atentamente.
Henri sorriu:
— Sim. Sei. O que isto tem a ver com Wilkie, seu "homem honesto"? E, se é tão danadamente "honesto", que quer o senhor com ele? Não temos tido honestidade bastante na Casa Branca desde 1933? Pensei que se havia fartado...
Regan falou tranquilamente:
— Jamais gostei de Franklin, mesmo quando ele era jovem. Por muitas razões. Além disso, ele não é o homem... para os anos vindouros. Precisamos de mocidade, força e virilidade. Assim... Wilkie é o meu homem.
— O homem para o seu dinheiro? — perguntou Henri.
Regan ficou silencioso por um momento. Olhou o espaço:
— Não — respondeu brandamente — não o homem para o meu dinheiro.
— O Partido não o quererá. Mesmo o senhor não pode fazer isso, contra os desejos de todos. Já decidiram sobre nosso homem, para a nomeação em junho próximo.
— Está querendo dizer — disse Regan, saindo de uma preocupação na qual caíra momentaneamente — é que desta vez você e os outros não querem apoiar o meu homem.
— Estou querendo dizer é que já lhe demos ouvido, Sr. Regan — falou Henri maciamente. — O outro era seu homem. Temos estado a robustecê-lo por suas ordens mesmo de há menos de um ano atrás. Não podemos mudar. Por um capricho súbito e inexplicável.
Regan bateu as mãos na barriga e contemplou Henri por um longo momento:
— Primeiro, falaremos a respeito de uma porção de outras coisas, filho. Depois voltaremos a Wilkie. Que idade tem, Henri? Quarenta e um? Quarenta e dois? Boa idade. Está no clímax de seu vigor mental e físico. Congratulo-me com você. Henri, você e eu estivemos de acordo no ano passado... a respeito de certo assunto. Continua de acordo?
Henri não respondeu. Mordeu levemente o indicador, sem afastar do velho amigo os olhos implacáveis.
— Mudamos nossa opinião, acho — continuou Regan — a respeito de algumas coisas. Henri, qual é a sua posição hoje?
— Sabe qual é. Hitler nos deu um pontapé no traseiro. Descobri isso, eu mesmo. Por isso fui à Europa este ano.
— E...?
— Francamente, e simplesmente... fomos logrados. Somos tolos, Sr. Regan. É uma ideia humilhante. Isso não se ajusta em absoluto à concepção que tenho de mim mesmo. — E Henri sorriu ligeiramente. — Sabe, em nossas discussões com Hitler, esquecemos a geopolítica alemã. Esquecemos a geopolítica alemã que por mais de cem anos tem declarado mais ou menos abertamente que a Alemanha pode, e deve conquistar o mundo. Hitler foi o sonho dos professores do Messias militar, mas um Messias que realizaria a conquista sem guerra ou derramamento de sangue. Esses professores, e os outros mais brandos, os intelectuais germânicos, acreditavam que a conquista moderna era através da economia, e pela "superior mentalidade" germânica. Não pode vê-los, em suas bibliotecas bolorentas e laboratórios, em suas universidades em desintegração, ficando líricos a respeito da robusta ideia de "Força através da Alegria?" Não há nada de que um emaciado e brando intelectual goste tanto quanto de um flexionar de músculos... em outro homem. Já os vi acariciando tais músculos; um fato. E com olhares de adoração. Para o casual olho masculino americano, isso seria indecente, vergonhoso; para alguém com conhecimentos elementares de psicologia, era significativo e nem ao menos homossexual.
— Continue — animou Regan, quando Henri se deteve. O velho grande e gordo inclinou-se para diante, cotovelos na escrivaninha, mãos sob o queixo.
— Sim, esquecemos a geopolítica alemã, a ideia do Pangermanismo que tem mais de um século de existência. Acredito que os American Gounding Fathers estavam cônscios disso. Agora, acho isto muito significativo, também. Por que não foi dada publicidade à ideia, exceto para os alemães? Isso me parece, hoje, a coisa mais importante... essa ideia de Pangermanismo. Negligenciamos a coisa. Pensamos poder fazer negócios com Hitler. Ou melhor: com os economistas alemães, que sabiam que a guerra significa ruína tanto para o vitorioso quanto para o vencido, e preferem lucros e mercados a expansão territorial. De modo que os economistas, o Reichsbank, os intelectuais, estavam todos em um campo entusiástico: conquista sem guerra. Estavam bem a caminho disso, também.
Intelectualismo e economia... eram capazes de dominar a intrínseca psicologia de guerra do povo germânico, nos que eram inteligentes. Porém havia muitos que não eram inteligentes: a massa germânica, o povo que se esgoelava, cujo protótipo, cujo herói, cujo deus era Hitler. E Hitler, descobri, não ligava a mínima para a economia intelectual geopolítica.
Regan franziu a testa:
— Receio não estar acompanhando o seu raciocínio, Henri.
Henri deu uma risada:
— Espere um pouco. Não acabei. Como sabe, durante o período 1933-38, houve uma luta interminável entre Hitler e os economistas germânicos. Hitler organizou cada fase da vida germânica, inclusive indústria e economia. Todos sabemos que a Alemanha não tinha ouro com que comprar matérias-primas; o pessoal encarregado da estrutura econômica pôs-se em campo para criar o crédito germânico em todo o mundo. Hjalmar Schacht, o líder e organizador, inaugurou o sistema de trocas. Chegava ao mercado, fosse onde fosse, em que houvesse excedentes, e comerciava quaisquer matérias-primas que pudesse comprar... fosse café, aço, cobre, etc. Pagava por elas com produtos acabados, tais como máquinas de escrever, e bugigangas e dispositivos baratos de toda espécie, e inundava outros países com eles, especialmente a América. Em seguimento a seu comércio, criou e controlou as maiores linhas aéreas da América do Sul, como sabe. Incidentalmente: Duval-Bonnet, preocupação de Christopher, forneceu a maior parte dos aviões.
"Assim a Alemanha foi capaz de competir em grande escala conosco e a Inglaterra na Europa, e na América do Sul, até que encontramos vários mercados fechados para nós. Estão ficando muito maus, como sabe. Nós e os britânicos vimos que as coisas estavam ficando péssimas. Schacht e seus amigos planejaram uma conquista econômica lenta e gradual, primeiro por infiltração e comércio, e segundo, por verdadeiro controle de finanças. Instaram com Hitler para que tivesse paciência. Acreditavam que gradualmente, através de competição e pela utilização de trabalhadores alemães e dos países satélites, nos reduziriam a nada. Conquista completa, pois controlariam finanças, comércio e indústria. Lamuriavam-se de ser um ‘povo sem nada’, para que os idiotas na América e na Inglaterra não ficassem desconfiados, e chegaram a angariar ampla simpatia entre imbecis e sentimentalistas. Porém durante esses anos nunca ficaram sem matérias-primas... pelo que devem agradecer a Bouchard e subsidiárias, receio bem. Esperavam tornar-se tão potentes econômica e financeiramente que dentro de quinze anos a Alemanha não precisaria ir à guerra pela conquista de mercados.
— Ah! — fez Regan, maciamente. — E isso nos deixa... onde?
— Há dois anos — continuou Henri — percebi isso claramente. Ainda não havia dado muita atenção à geopolítica alemã e aos militaristas. Assim, comecei a reduzir os embarques, para a Alemanha, ou através da América do Sul, para evitar o Tratado de Versalhes, ou diretamente, por meio de cartéis. A Alemanha poderia, sim, ter certa quantidade de material. Contudo, não a supríamos mais com coisas que poderiam pôr-nos em perigo, como os mais recentes planos para aviões, processos novos, e uma dúzia de outras coisas. Meu plano era integrar toda a produção americana, no referente a armamentos; tê-la preparada, aumentar os embarques de armas e materiais para a Inglaterra e a França através da América do Sul. Um lento e firme desvio do fluxo da Alemanha. Fizemos com que nossos políticos aumentassem na América a mentalidade para um plano pague-e-leve, que redundaria em vantagem para a França e a Inglaterra. Fizemos planos a longo prazo, quietamente. Pois víamos o que estava por vir: a Alemanha se apoderaria de todos os mercados e, percebendo a fraqueza militar de outras nações, as desafiaria a retomá-los dela.
— Continue — insistiu Regan, pois Henri parara por um momento para examinar as mãos, e franzira a testa ao olhá-las.
O homem mais jovem ergueu a cabeça e fixou os olhos inexoráveis no rosto do grande financista:
— Mas o senhor sabe de tudo isso. Já o discutimos antes.
— Mas gosto de uma sinopse — Regan sorria.
— Cooperamos com a Alemanha, nós industriais e economistas da Inglaterra e da América. Porque fomos fraudados por um supercanalha: Hitler, que não só nos desiludiu como também a Schacht e a todos os demais financistas e economistas da Alemanha. Hitler prometera proteger o capitalismo germânico, no qual todos estávamos interessados, contra o comunismo e os sindicatos organizados. Ele viria a ser nosso estado-tampão entre a Rússia e a Europa, o que era muito satisfatório, considerando-se nossas subsidiárias e outros investimentos, na Europa. Ele protegeria nossos compromissos e investimentos europeus, e nosso controle financeiro lá. De modo que cooperávamos com ele, agradavelmente. Então, de repente, descobri a verdade!
"Eu achava que um forte controle econômico e financeiro na Alemanha asseguraria a toda a Europa liberdade contra o comunismo, e à América também. E então li Mein Kampf, e empreendi um sério estudo da geopolítica germânica. Originalmente, como sabe, os antigos geopolíticos germânicos pretendiam a conquista militar do mundo pela Alemanha. Os modernos geopolíticos a pretendiam pela conquista do mercado, e a economia. Pensei que a velha ideia estivesse morta. Descobri que estava muito viva.
"Pois subitamente descobri que Hitler desprezava a geopolítica moderna, e Schacht, e todos os professores e intelectuais que odiavam sangue. Que ele era um anacronismo, um geopolítico militar. Acreditava em cortar caminhos... pela espada. Estava começando a mostrar grande desprezo pelos mestres financistas e industriais, e agora que conseguira iludi-los, levando-os a ajudá-lo, na Alemanha, na América, na Inglaterra e na França, era uma força, uma poderosa força militar. A respaldá-lo tinha os Junkers. E tinha a massa do povo alemão, que nunca poderia entender as sutilezas da nova geopolítica, e queria excitação, assassinatos, força e sangue. Os insignificantes amam a violência. Hitler era o imperador de todos os insignificantes de todo o mundo, e não apenas na Alemanha.
— Em resumo... — murmurou Regan.
— Em resumo: ele queria guerra. Por sua própria causa. A moderna geopolítica era mais lenta e segura, e tinha como objetivo a completa subjugação dos mercados e das finanças mundiais. Isso não é bastante para o insignificante. Ele deseja arcos triunfais, percorrer estados escravizados, trombetas, bandeiras, tronos e coroas... toda a parafernália da lírica conquista militar. Almeja os sinais visíveis da conquista. Não é bastante para os conquistadores sentarem-se polidamente em Bancos internacionais. Aspira a marchar nas capitais através de um mar de sangue. Quer ser Deus, não o protetor de banqueiros e industriais e de toda a maquinaria cromo-prateada do grosseiro comércio e dos lucros. Não haveria exultação entre a massa de insignificantes germânicos se seus próprios banqueiros e industriais pudessem explicar liricamente que tinham posto a América e a Inglaterra para fora das máquinas de escrever, dos aviões, das fábricas e dos mercados financeiros do mundo. O que adiantaria isso ao alemão médio em seu miserável escritório, e em sua fazendola? Ele queria outros funcionários e outros fazendeiros para beijar-lhe os pés, saudá-lo como um super-homem, agachar-se diante dele, servi-lo, enquanto ele os esmagava. Esta é a verdadeira psicologia germânica, que negligenciamos enquanto perdíamos tempo com Schacht. Este é o animalesco, o irracional espírito germânico: o ódio por todos os outros homens, o desejo de esmagá-los fisicamente, pisoteá-los, chicoteá-los, torturá-los, matá-los. E isso é o que enfrentamos agora: o espírito germânico.
— E agora lhe deixaram nas mãos um fino maquinismo econômico ... mais Hitler e o povo alemão.
— Sim. Por isso é que agora me levanto e deixo que alguém me dê um pontapé no traseiro. E imagino que centenas de outros como eu, por todo o mundo, estão fazendo a mesma coisa. Pois não se pode fazer negócios com Hitler.
— Então, que pretende fazer?
Henri se levantou e vagarosamente palmilhou abaixo e acima a vasta sala. Em seu largo rosto, ora havia luz, ora havia sombras. Seu passo era pesado. Então parou diante da mesa de Regan, nela pousou as mãos, e falou quietamente:
— Teremos de deixar que a Europa se vá. Hitler atacará em breve. Sabemos disso. Teremos de deixar que a Europa se vá... para ele. Nada mais podemos fazer. Motivamos isso, todos nós. Mas podemos cortar nossas perdas, e salvar o que pudermos. Na América. Na América do Sul. Um mau negócio. Mas não temos escolha.
— E como espera realizar isso, meu caro Henri? — Regan sorria tristemente.
— Fazendo-nos fortes demais para atacar. Hitler não nos atacará, quando vir que a luta será demasiado custosa. Mas... não podemos ter uma guerra. Isso nos arruinará a todos. Será o fim do capitalismo e da indústria como os conhecemos hoje. Será uma revolução econômica interna na América, bem como um banho de sangue e a bancarrota, se formos à guerra. Nesse ínterim, enquanto recuperamos nossa própria força, que perdemos através das ideias americanas idiotamente sentimentais de desarmamento, temos de aguentar a Inglaterra e a França, torná-las fortes o bastante para resistir a Hitler, pelo menos por um pouco de tempo. Não podemos negociar com Hitler. Tampouco podemos ter uma guerra. Temos de nos tomar bastante fortes para resistir à ideia de fazer negócios com Hitler e aos provocadores de guerras.
Sorriu subitamente, e ergueu as mãos da secretária de Regan.
— Assim — continuou — dei ordens a todas as nossas subsidiárias para que cortassem todos os embarques de materiais para Hitler, e aos nossos Bancos para que negassem crédito aos alemães. Temos de apressar-nos. Agora, o tempo é essencial.
Regan esfregou o queixo:
— Naturalmente, patriotismo nada tem a ver com isso?...
Henri ignorou isso como uma piada absurda entre eles.
— Fomos enganados — repetiu. — Nosso nobre defensor contra o comunismo, contra o trabalho organizado em todo o mundo, nos chutou solidamente e está se voltando contra nós. Devíamos ter tido mais inteligência antes de nos meter, e à América, a Inglaterra e a França nesta maldita confusão. Não tivemos inteligência. Agora, devemos salvar o que pudermos. Fizemos Hitler. Agora ele está a caçar-nos com as mesmas armas que lhe demos para defender-nos.
Deteve-se.
— Como sabe, durante muito tempo tivemos outro plano, que aparentemente não vai lá muito bem desde Munique. Pensamos em virar contra a Rússia o militarismo de Hitler. Afinal de contas, pensamos razoavelmente: isso é o que ele realmente odeia, não é? A Rússia? A Rússia era inimiga dele e nossa. A Rússia, com sua odiosa revolução proletária. Outra forma de insignificância. O despontar do Homem Comum. Temos de evitar isso. Agora, perdi a esperança de que Hitler deixe a Europa em paz, e ataque a Rússia. Todos estamos nisto.
Houve um longo silêncio na sala, enquanto os dois homens se fitavam sombriamente. Então Regan falou:
— Sabe, acho que isso não vai dar certo, Henri. E que entraremos também na guerra.
Henri bateu com o punho solidamente na mesa:
— Não! — disse, carrancudo. — Não vamos. Não permitiremos isto. Já traçamos planos. Seria a ruína final... para nós. A economia americana de guerra seria tão colossal que seríamos destruídos. Isso daria a Roosevelt sua mais forte oportunidade de destruir-nos e provocar uma forma de socialismo na América, na qual nosso atual sistema de lucros, capitalismo e indústria não poderia sobreviver. Nós, "realistas econômicos", como ele tão lindamente nos designou, seríamos comandados, controlados, regulados, e postos fora dos negócios. Por isso é que não podemos ter guerra... para a América. Nossos senhores seriam as massas americanas dos insignificantes, o homem comum, o caixeirinho e o fazendeiro miseráveis e o camponês das fábricas, bem como os sindicatos vociferantes.
Regan pôs a mão na boca, e falou num tom abafado por trás dos dedos:
— E sua grande família, Henri: qual a sua atitude?
— Eles também não querem guerra. Todos concordamos nisso. Não o permitiremos, nenhum de nós. Contudo... discordam de mim quanto à ideia de que não podemos negociar com Hitler. Acham que podemos. Tiveram uma ideia inteligente que, confesso, a princípio me atraiu. Acreditavam há muito tempo que os Grandes Negócios poderiam sair do controle da indústria e das finanças para o atual poder sobre o destino do povo. Como autocratas benevolentes, estão dispostos a conceder certos privilégios e benefícios às massas, contanto que o poder supremo seja para eles mesmos na política, para ganhar não só a esfera de influência na América, como o controle internacional da matéria-prima em todo o mundo: sua manufatura, distribuição e partilha. Em outras palavras, a revolução dos gerentes de negócios. Como eu disse, isso outrora também me atraiu. Eu não fazia objeção — e sorriu largamente — a ser o ditador econômico de todo o danado mundo.
"Eles, os Bouchards, acreditavam que, acontecesse o que acontecesse na Europa, poderiam fazer um acordo com Hitler. Diziam que ele simplesmente ‘não se arranjaria sem eles’. Julgam que podemos comprar uma dúzia de Görings. Assim, queriam continuar a suprir Hitler com tudo que ele quisesse, através de cartéis na América do Sul, e têm vindo formando um sentimento pró-Alemanha, encorajando fascistas nativos e conciliadores, e andam ocupados com planos para a criação de várias sociedades pacifistas por todo o país. Ficaram incrédulos quando lhes falei a respeito da antiga geopolítica germânica. Estão obcecados com a ideia de que uma Europa controlada por Hitler é nossa melhor garantia contra o comunismo na América, ou radicalismo, ou o New Deal, ou sindicalismo. Riram de mim quando lhes disse que Hitler deseja a conquista militar e física do mundo. Mesmo que o fizesse, argumentam eles, seus inteligentes economistas, financistas e industriais o controlariam. Assim sendo, desejam manter seu apoio material e financeiro a ele. Ele só quer a Europa, dizem eles. Deixem-no tê-la, com nossas bênçãos.
"Mas eu afirmo que ele quer o mundo! E vou detê-lo. Porém não pela guerra. Pus freios em nossas companhias. Não estamos vendendo a Hitler nada que nós mesmos possamos precisar. Estamos guardando nossas patentes e nossos novos e inumeráveis processos... em casa.
— Então, Henri, você e sua família estão resolvidos a ter paz. Mas está determinado a fazer a América forte, de modo que Hitler não nos possa atacar fisicamente. Não está interessado em desenvolver a América. Acha isso desnecessário?
— Penso que isso está subentendido, Sr. Regan.
Regan ficou muito quieto por um ou dois minutos. Depois disse, de forma quase inaudível, mas com estranha penetração:
— Henri, já lhe ocorreu que sua família realmente deseja que Hitler conquiste o mundo, literalmente, bem como de outras maneiras?
Henri o fitou. Seus olhos claros pestanejaram, atônitos. Não se moveu, porém, suas mãos lentamente se apertaram. Então disse, com o maior desprezo:
— Ridículo!
— Não tão ridículo, Henri. Vejamos os fatos. Suponha que Hitler não só conquiste a Europa como a nós também. Precisará de fortes homens nativos da América, homens poderosos, para manter a indústria americana trabalhando e aumentando, suprindo-o do que precisar. Sob tal sistema, esses homens terão mais poder, sob Hitler, sobre os destinos dos povos americanos do que teriam sob nosso presente Governo independente. Sim, eles poderiam então negociar com Hitler! Poderiam reduzir o trabalho americano à servidão, produzir uma economia de senhores e escravos. Senhores não só da finança e da indústria, mas senhores de homens. Sob o domínio de Hitler, claro! Mas isso não importa muito.
Henri estava silencioso. Então, inclinou-se para a frente e disse, maciamente:
—O senhor não fala sem razão. Sr. Regan. E tem provas, não?
— Tenho, Henri — replicou Regan, em voz lenta e grave.
Ergueu-se pesadamente e foi até um cofre disfarçado na parede apainelada. Retirou um grosso rolo de papéis, que pôs diante de Henri. O homem mais jovem pegou-os e começou a lê-los rapidamente. Houve um silêncio prolongado na grande sala, quebrado apenas pelo ruído dos papéis. Regan observava Henri enquanto este lia. O rosto pálido e maciço não mostrava emoção, nem raiva. Estava rígido como uma pedra. Era a face de Ernest Barbour, toda glacial selvageria e calma sobre-humana.
— Proprietários de jornais, famosos heróis "militares" da última guerra, sacerdotes, mulheres de sociedades pacifistas, escritores que pesquisam e denunciam casos de corrupção, traidores, mentirosos, idiotas, senadores, políticos, quase-lunáticos, conspiradores, espias; estão todos aí, não estão, Henri? — disse o velho, por fim, quando Henri lentamente abaixou os papéis. — Conseguiram juntá-los todos aparentemente organizados, não é mesmo? E não para o bem da "paz". Não apenas por causa de "negociar com Hitler", como você acreditava. E você viu a ligação aí, não viu, com nazistas estrangeiros e fascistas? Não é um quadro muito bonito, hein, Henri?
Henri não respondeu. Mas sua expressão era terrível, tanto mais quanto não expressava absolutamente nada.
— Eles não veem, como você vê, Henri, que o domínio de Hitler sobre a América significa o verdadeiro fim do capitalismo, da empresa privada, da indústria. Esquecem Thyssen, por exemplo. É o egoísmo deles, Henri — e agora ele bateu as mãos gentilmente na secretária. — Descobri algo. Somente numa democracia o capitalismo pode florescer, servir a si mesmo, servir ao povo.
Mas Henri apenas disse:
— Então, contra as minhas ordens, estão continuando a suprir Hitler com o que é o nosso próprio sangue! Desafiaram-me.
Levantou-se.
— Estão dispostos a arruiná-lo, Henri — disse Regan, no mais gentil dos tons. — Porque você não joga no time deles. Querem seu escalpo, Henri. Não há nada que não façam para isso. Estão se preparando para entregar a América a Hitler numa bandeja. E entregarão você também, provavelmente.
— Mês passado — comentou Henri, relanceando um olhar para os papéis na mesa — embarcaram uma tremenda quantidade de níquel canadense para Hitler. Quando precisamos de níquel tão desesperadamente... — Ele parou, e sua respiração era rouca.
— E na última semana — falou Regan, pensativamente — seu cunhado Christopher teve um almoço agradável com certos cavalheiros, entre os quais estava seu cunhado Emile, seus parentes Jean e Nicholas Bouchard, o senhor Doutor Meissner, do Reichsbank, o Cônsul Geral alemão, o presidente de sua própria organização, a American Association of Industries, o filho do Sr. Hiram Mitchell, piedoso pequeno fabricante de automóveis para milhões de insignificantes, o Sr. Joseph Stoessel da Nazareth Steel Company, rival da sua própria companhia de aço, Sessions, os presidentes de quatro de suas maiores subsidiárias americanas de várias partes do pais, dois senadores de nomeada conhecidos por odiar a Inglaterra e amar os fascistas, seu parente Hugo Bouchard, assistente do Secretário de Estado, o Bispo Halliday, esse harmonioso antissemita, antitrabalhista, anti-Roosevelt, antibritânico, e antiliberal bastardo do rádio General-Brigadeiro Gordon MacDouglas, proprietário de uma das mais influentes cadeias de jornais da América, o Conde Luigi Pallistrino, chargé d’affaires italiano, o Sr. Horace Edmund, vice-presidente de sua companhia britânica associada e subordinada de armamentos, Robsons-Strong, o Sr. John Byran, meu estimado competidor na Street, e outros de maior ou menor importância. Sim, também estava aquele cavalheiro que havíamos escolhido para a nomeação para a lista de candidatos republicanos no próximo ano, e certo infame cavalheiro a quem não nomearemos agora, mas que também já foi nosso homem. A propósito: um dos mais íntimos associados do Sr. Roosevelt estava lá, também, fato que surpreenderia excessivamente o Presidente, e faria com que esquadrinhasse o seu Gabinete um pouco mais apuradamente do que parece fazê-lo.
— E? — indagou Henri, calmamente.
Regan se maravilhou ante sua tranquilidade. E disse:
— Discutiram o que já lhe contei. Também discutiram você. Parece que o Sr. Hitler não gosta de você, Henri. Não gosta absolutamente. O Cônsul Geral entregou algumas acerbas citações. Chegaram, afinal, à decisão de que deviam livrar-se de você, e logo, logo: você é um "obstrucionista". Essas foram as ordens de Hitler. — Ele sorriu austeramente: — Já teve um ataque de coração, Henri?
— Não sejamos melodramáticos — replicou Henri, sentando-se com imensa calma. Então ficou silencioso, lábios comprimidos, olhos fixos com uma expressão terrível, as mãos apertando os braços da poltrona.
— Garanto-lhe não estar sendo melodramático em absoluto, meu caro rapaz. Pensa que se deterão ante qualquer coisa para livrar-se de você? Você é um dos homens mais poderosos da América, e seu obstrucionismo pode ser fatal para eles. Estamos enfrentando os adversários mais perigosos que o mundo já viu. Maquiavel, Mettemich, Napoleão, Torquemada, Richelieu, etc., eram meros diletantes de intrigas de boudoir comparados com esses. Eles jogam, não só por territórios e mercados, Henri, mas por todos os povos do mundo. E... estão muito dispostos a ter o que querem. Você se atravessa em seu caminho? Bem, um ataque de coração, ou um assassinato por um "bolchevista" intransigente são meios rápidos para morrer.
Com mais agilidade do que habitualmente mostrava, Henri tornou a levantar-se e começou a caminhar abaixo e acima, cabeça abaixada, os braços rigidamente dobrados no peito. Então, essa imperturbalidade pétrea podia ser abalada, e abalada até a base... O rosto largo se tornara terrível de paixão, e perigosamente carregado. A testa ampla estava visivelmente úmida.
Parou abruptamente e olhou para Regan:
— E assim, devido a seus empréstimos a Mussolini e seus arranjos de empréstimos para Hitler, e os embarques Bouchard de materiais, os cartéis e designações chegamos a isto!
— Todos somos culpados, confesso, Henri. Porém... você e eu tivemos a mesma ideia: fazer de Hitler um "tampão" entre a América e o comunismo, entre a Europa e o comunismo. A ideia não foi má... na ocasião. De fato, sob outras circunstâncias, ainda seria uma boa ideia. E lá estava nosso Departamento de Estado. Sob nossa instigação, fez um bom trabalho para a França. De certa forma, ainda é nosso Departamento, embora seu parente, Hugo, ande ocupadíssimo em solapá-lo.
Henri ficou de pé diante dele, a olhá-lo fixamente sem realmente vê-lo. Regan balançou a cabeça:
— Não adianta, Henri. Agora, já não pode mantê-los na linha. Os prêmios são grandes demais. Não pode fazer isso sozinho.
Aí Henri ficou roxo com a raiva mais violenta que jamais sentira. Sua egolatria fora mortalmente golpeada. Ante essa mortificação, essa fúria, deu-se conta de toda a extensão de sua degradação e impotência.
Regan levantou-se e se aproximou dele. Pôs-lhe a mão no ombro e, de sua tremenda altura, olhou-o, os olhinhos brilhantes a trespassá-lo:
— Quer deter tudo isso, não quer? Por você mesmo. Eu também o desejo. Por causa da moléstia que está a comer-me vivo.
— E quanto à publicidade? — perguntou Henri, mais para si mesmo que para Regan. — E se expuséssemos os fatos ao Presidente?
Regan balançou a cabeça lenta e pesadamente:
— Não adianta. Imagino que o Presidente tenha alguma suspeita. Isso não pode ser exposto. Seria uma revolução. Talvez o que querem os demônios. Na confusão, no tumulto, tomariam conta do poder. Mais ainda: devem ter seus homens espalhados pelo Congresso, também, e em cada Ministério. É um escândalo que não pode ser denunciado, por medo das consequências, mesmo que pudesse ser provado. E, Henri, não podemos expor coisa alguma, você e eu, sem que fatalmente nos envolvamos. Gostaria de Leavenworth, Henri?
— Então — disse Henri, sombriamente — estamos indefesos diante da chantagem?
— Estaria disposto — prosseguiu Regan — a sacrificar-se por seu país?
Quando Henri não respondeu, o velho continuou:
— Mesmo sob as melhores circunstâncias, meu rapaz, você estaria arruinado. Você, um "realista econômico". O Sr. Roosevelt poderia encontrar em sua confissão a grande oportunidade de sua carreira: destruir os verdadeiros senhores da América.
— Poderíamos tentar um acordo com ele — murmurou Henri, mordendo o lábio.
Regan riu melancolicamente, apertando a mão no ombro do outro:
— Não se deve tentar nenhum acordo com Franklin. Lembra-se de como o tentamos, há alguns anos? Não, Henri, estamos entre a cruz e a caldeirinha.
Olharam um para o outro.
— Henri — falou Regan — creio que posso confiar em você. Acho que sei de um meio de escapar. Existem alguns como você, que também não querem o que os Bouchards querem: a Amalgamated Carbide Company, por exemplo, seu competidor no fabrico de vários produtos sintéticos. A American Motors Company. Várias outras que posso nomear. E eu mesmo. Além disso, temos ao nosso lado alguns congressistas, você sabe. — Parou um pouco. — Quer jantar comigo na próxima semana, Henri? Um jantarzinho calmo, com alguns convidados?
Henri ficou silencioso. Juntara as sobrancelhas, em funda concentração. Disse, finalmente:
— E, nesse ínterim, farei o que tenho de fazer.
Regan estava alarmado:
— Henri, eles não devem saber ao que você se propõe, compreende? Se tiverem a menor pista, estaremos perdidos.
O peso total da catástrofe subitamente se impôs a Henri Bouchard. Incharam as veias de sua testa.
— Deus! — exclamou, maciamente. — Os desgraçados ousaram desafiar-me! Ousaram fazer-me isso!
Regan o olhou, em completa surpresa:
— Então, você é um ególatra infantil, também! Esperava algo melhor que isso, Henri. Deixe para lá... Ainda tenho fé em seu poder, em sua força pessoal. Se Deus quiser nos safaremos desta.
Voltou à secretária e caiu na cadeira, como se estivesse exausto. A poderosa cabeça lhe descaiu para o peito. Fitou a secretária às cegas, e suspirou repetidas vezes.
— Veja, Henri, como é a coisa. Aqui é que entra Wendell Wilkie. Mesmo sob Roosevelt, tivemos oportunidade de romper tudo isso. Porém, com Wilkie, que conhece muito mais a respeito das intrigas dos senhores, teremos ainda melhores oportunidades. Mais ainda: teremos conosco as pessoas melhores e mais inteligentes, com Wilkie. Os negociantes menores, de comparativa integridade, por exemplo, além da população. A sólida classe média. Roosevelt não deve tê-los. Wilkie é um realista. Podemos expor-lhe a coisa toda, e ele não pulará em nosso pescoço em gritos de alegria, como Roosevelt faria. Com Wilkie, a América vem em primeiro lugar. Quando eu disse que ele era um homem honesto, quis dizer muitas coisas. E todas elas elogiosas para um grande realista, um grande americano, um grande homem de negócios.
Ergueu a cabeça e estendeu a mão a Henri:
— Bem, Henri? Estamos nisto juntos. Continuamos juntos?
Henri tomou-lhe a mão. Sorriu, e esse sorriso, no rosto congesto, era horrível de ver.
— Continuamos juntos — confirmou.
Sentaram-se em silêncio, por algum tempo, enquanto Regan tornava a encher de brandy os copinhos. Não estava surpreso, e sorriu apenas um pouco, enigmaticamente, quando Henri bebeu com rápida brusquidão e devolveu o copo para ser cheio novamente.
Então, enquanto a sala ia ficando mais escura à medida que o dia descambava para o ocaso, Regan começou a falar com macia e grave lentidão:
— Henri Bouchard, eu sou um velho, e em breve morrerei,
Henri, que havia estado pensando numa porção de coisas, ficou momentaneamente espantado com a mudança de conversa. Mas disse, polidamente:
— Claro que não. Não está doente, não é, Sr. Regan?
Contudo, Regan apenas o olhou num silêncio estranho e imperturbável por algum tempo:
— Não — disse, lentamente — não adiantaria. Não adiantaria mesmo.
Henri estava evidentemente embaraçado. Depois sorriu, um sorriso desagradável, e levantou-se.
Depois que ele se fora, Regan pensou:
"Sim, você continuará comigo, filho de uma cadela! Sim, continuará, bisneto de um cão colossal! Mas não pelas razões que eu sentimentalmente esperava. De fato, a ideia de seus preciosos parentes deveria ter tido considerável atração para você, sob outras •circunstâncias. Talvez, se a tivessem respeitosamente discutido com você. Sim, estou certo disto.
"Mais continuará comigo porque ousaram desafiar sua soberania, mesmo se foi um desafio totalmente expresso em particular. Continuará porque eles estão tentando destruí-lo, desalojá-lo, atirá-lo fora. E isso você jamais lhes perdoará; é uma coisa que sua monstruosa egolatria não consegue engolir: que ousassem pensar que poderiam fazer isso a você. Por isso, não se deterá diante de coisa alguma.
Capítulo 18
Henri Bouchard permaneceu em Nova York por vários dias, trancado em sua suíte no Savoy-Plaza. Durante esse tempo teve o "calmo jantarzinho" com Jay Regan e certas pessoas. Fosse ele um verdadeiro aventureiro e poderia ter apreciado o que foi dito naquele jantar, que planos foram traçados em face da precária enormidade da situação. Poderia haver sentido muita excitação e contentamento ante a perspectiva, e ao pensamento de confundir e arruinar seus inimigos.
Porém ele não era um verdadeiro aventureiro. Era um conspirador em escala gigantesca. No entanto não era dotado de audácia, tal como o bisavô. Acreditava na força, na obtenção do poder que lhe permitisse usar força e coerção como um bastão nodoso.
Ele estudou muitos documentos. Deu atenção especial ao estudo de seu cunhado, Christopher Bouchard. Durante longas horas roeu a unha do indicador, e pensou. Depois, careteando de desgosto e raiva fria, fez uma ligação para Christopher, que ainda estava em Robin’s Nest.
— Surgiu algo — disse, em tom confidencial. — Gostaria de falar com você, privadamente. Aqui mesmo. Qual é o mais cedo que pode vir? Praticamente, deve ser já, já. Incidentalmente devo dizer que será de tremenda importância para você.
Christopher estava espantado, e cauteloso. Seu perfil parecia mais agudo quando pensava. Seria possível que o ameaçador e inflexível demônio soubesse de alguma coisa? Mas isso era incrível. Quis tornar a ouvir a voz de Henri, julgar pelo seu tom de voz, pegar uma pista, de modo que disse, amigavelmente:
— Certamente, irei de imediato! De avião. Estarei aí antes da meia-noite. Será tarde demais para vê-lo?
— Absolutamente! — tranquilizou-o Henri, fazendo sua voz soar agradável e amiga. — Quanto mais cedo, melhor. Como eu disse, isto é muito importante. — Com esforço, deixou a voz cair mais, tornar-se incrivelmente amigável: — A propósito, como estão as coisas em casa?
Christopher riu um pouco. Conhecia Henri muito bem. O suíno não sabia disfarçar: a voz sempre o traía.
— Bem, você não vai gostar disto, acho, mas Celeste empacotou Peter e a bagagem abruptamente hoje e se mandou.
Os olhos de Henri se estreitaram e ele sorriu sombriamente. Porém disse, fazendo eco à risada de Christopher:
— Realmente, não é muito bom. Bem, para onde foram, nessa fuga de Herodes?
— Deixei-os em Endur, que Celeste afirmou detestar. Tiveram uma conversa com Annette, que se banhou em lágrimas, com Edith consolando. Celeste explicou que, como Peter começou a escrever sua denúncia de corrupção, precisa da mais completa calma. Peter pareceu meio espantado ouvindo isso, mas está claro que a rapozinha o havia chamado à ordem previamente a respeito de irem embora, pois não fez nenhum comentário. Foram-se rapidamente. Claro, para estar fora de lá antes da sua volta. Celeste cuidou de tudo com presteza e arrogância. Nunca pensei que tivesse tais qualidades. Quando tentei, um discreto protesto, virou-se para mim como um demoninho e disse-me que tratasse da minha vida. — Tossiu, gentilmente: — A propósito: ela está com uma aparência terrível! Acossada por fantasmas, é a melhor descrição. Refugiada de um campo de concentração. Parece estar sofrendo muito com a morte de minha mãe.
— Hein? — falou Henri, apanhado desprevenido: havia esquecido tudo a respeito de Adelaide. — Oh, sim, claro! Foi péssimo para ela...
Acrescentou, depois de um momento:
— Então o verei, antes da meia-noite?
Depois de acabar sua conversa com Christopher, recapitulou o estudo dos documentos. Por vezes olhava fixo o espaço, imóvel como uma pedra. Devia ser hábil, agora. Devia enredar e observar, jogar delicadamente: tudo coisas que desprezava. Às vezes ficava branco de raiva contra a família que ousara conspirar contra ele. Não era sadista, como Christopher, que amava a vingança pelo seu próprio sabor. Devia vingar-se, devia esmagar. Subjugar, destruir, mas só por sua própria proteção e pelo ensinamento, de uma vez por todas, de que ele era o supremo, nunca deviam conspirar contra ele, ou opor-se a ele de maneira alguma. Seu ultraje era o ultraje de um Napoleão: tinha de ensinar que seus medíocres e traiçoeiros irmãozinhos tinham ousado sonhar que poderiam derrubá-lo.
Quando Christopher chegou — muito antes da meia-noite — Henri estava tão calmo e contido como sempre. Christopher lhe dardejou um olhar agudo, mas nada achou naquele rosto largo que lhe causasse algum mal-estar. Henri estava perfeitamente à vontade, mandou vir uísque e soda para seu hóspede, e riu enquanto dizia:
— Suponho que é algo de iníquo chamá-lo aqui a esta hora da noite. Mas acontece que terei de tomar certa decisão amanhã, e... preciso de suas sugestões, e de sua própria decisão.
Imediatamente, Christopher ficou alerta e intrigado. Sentou-se perto de Henri, numa espécie de cômoda intimidade, e ninguém que observasse esse "voraz lobo cromado", como o chamavam os irmãos, suspeitaria da secreta malignidade por trás do sorriso amigável que dirigia ao cunhado.
— Terei prazer em ajudar — afirmou, com grande cordialidade, passando a mão sobre o crânio estreito e delicado.
Henri se recostou na poltrona e o observou com humor melancólico:
— Importa-se se eu passar em revista sua história, por um momento? É muito interessante. Não tenciono ofendê-lo, claro, mas é necessária uma refrescada na memória.
Christopher sorriu e deu de ombros, dizendo:
— Vá em frente.
Henri juntou os dedos e os contemplou meditativamente:
— Estou certo de que todos concordam que lhe foi distribuída uma suja missão por seu colorido pai, Jules, quando deixou o controle de Bouchard & Sons a Armand e fez de você um insignificante funcionário inferior. Sua fortuna pessoal, quando se pensa nas fortunas Bouchards, era comparativamente escassa. Penso que ele fez isso deliberadamente. Bem, não importa. Mas você trabalhou bem por si próprio. E conseguiu Duval-Bonnet, sua própria criação. Alguém já o parabenizou por isso? — E ele sorria zombeteiramente
Christopher riu. Permitiu que Henri tornasse a encher-lhe o copo.
— Sim — continuou Henri com franqueza — você fez bastante por si mesmo. Com ajuda. Minha ajuda — acrescentou, franzindo os lábios comicamente. — E acho que sabe que nunca apoio ninguém sem razão. Você se tem mostrado à altura das expectativas. Há muitos anos que o observo, Chris, e você jamais cometeu um erro.
— Obrigado — falou Christopher, secamente.
Estudou Henri com olhos brilhantes como os de uma serpente, e igualmente cautelosos. Uma fraca pulsação de medo começou a latejar nele, medo desse homem formidável que ainda podia esmagá-lo e pisoteá-lo. E seu ódio aumentou junto com o medo. Misturada a isso, uma raiva gelada ante a condescendência que sentia na voz de Henri, embora amigável e cheia de afeição.
Henri ficou silencioso por um momento, enquanto ele lhe estudava as mãos grandes e poderosas. Depois ergueu os olhos descoloridos e inexoráveis e os fixou em Christopher.
— Você me permitirá ser um pouco sentimental, não? Bem, nós, Bouchards, sempre fomos grandes procriadores, até à dinastia que chegou à nossa geração. Agora já não vamos tão bem. Um ou dois filhos, no máximo. Isso é mau. Vejamos Bouchard & Sons, por exemplo. Armand, que está de fora, e não importa muito, só tem o filho, Antoine, para contribuir com alguma carne para a Companhia. E, de todo jeito, não tenho muito prazer ao pensamento de que os filhos de Antoine podem vir a herdar Bouchard & Sons. Na verdade, já cuidei dessa parte. Compreende que isso lhe é dito estritamente em confidência?
Christopher sentiu uma súbita e bravia excitação. Pousou o copo cuidadosamente e prestou a máxima atenção ao cunhado. A pulsação de medo fora substituída por essa nova emoção. Sorriu:
— Antoine não gostará disso — comentou maciamente. — Ele tem... ambições.
Henri lhe devolveu o sorriso, com uma inclinação de cabeça:
— Sei disso. E gosto de bloquear ambições, quando não se encaixam nos meus planos. Assim, Armand não tem senão Annette, sua filha e minha esposa. Não preciso dizer-lhe que Annette nunca terá filhos, e o que isso tem significado para mim. Quando você casou com minha irmã, tive algumas esperanças. Mas você e Edith parecem tão estéreis como outros na família. Vocês não produziram sequer uma menina!
Mas Christopher estava tão rígido como metal:
— Quer dizer que se tivéssemos filhos, poderiam ser seus herdeiros?
Henri abanou a mão negligentemente:
— Por que não? Edith é minha irmã. Sou louco pela Edith, como você já deve ter descoberto. Contudo, o tempo de ter filhos já passou para Edith. Inconveniências da natureza.
Christopher relaxou subitamente na cadeira, e agora seu ódio volátil se virou contra a esposa a quem ele, de fato, amava profundamente. Lembrou-se do que ela dissera quando de seu casamento, havia catorze anos: "Não, Chris, nada de filhos. Não quero ser responsável por trazer mais nenhum Bouchard a este mundo!" Na ocasião, ele não se importara particularmente. Apenas rira. Para ele era o bastante ter Duval-Bonnet e Edith. Na verdade, detestava crianças. O senso de dinastia não era absolutamente forte nele.
Henri viu-lhe o olhar e sorriu internamente. Abriu as mãos e deu de ombros:
— De modo que aqui estamos: eu, com Bouchard & Sons e sem herdeiros; você, com Duval-Bonnet e sem herdeiros. Gosta da ideia de Bouchard & Sons, embora você já não esteja ativamente ligado à Companhia, indo para o filho de seu amado irmão Emile, Robert?
Christopher teve uma rápida visão íntima de Robert, secretário pessoal de Emile, Robert, o baixote, o escuro, carrancudo e depravado, sempre silencioso e cronicamente ressentido. Dificilmente se prestava atenção a esse rapaz, de voz fanhosa e negros olhos salientes, tão parecido com o pai — só que Robert nada tinha da falsa genialidade de Emile e sua gorda vivacidade. Porém agora Christopher via Robert claramente, e seus lábios finos se apertaram.
Henri inclinou a cabeça e disse:
— A coisa é assim. Quem mais temos? — Acrescentou, quando Christopher não respondeu: — Não admiro Robert. Contudo seu pai já tem isso planejado.
"Então — pensou Christopher — este é o jogo! Nunca deixou escapar nada... Enquanto ia conspirando conosco, tinha em mente o danado do filho, todo o tempo!" Contemplou a visão íntima do sobrinho, com aversão e fúria. Contudo, nada transpareceu na máscara de seu rosto emaciado. Apenas balançou a cabeça, vagarosamente.
— Claro, isso parece lógico — concedeu Henri. — Posso compreender. Emile tem direito a planejar. Afinal de contas, é vice-presidente de Bouchard & Sons. Natural que tivesse ambições pelo filho. Além disso, a mulherzinha de Robert, Isabel, parece que em breve irá presentear Bouchard & Sons com um principezinho. Uma grande procriadora, ao que parece. Há quanto tempo estão casados? Menos de nove meses, mas o ovo está praticamente pronto para abrir-se, não é? E ela é católica, sendo que os católicos não limitam a natalidade. Sim, tudo parece funcionar de acordo com um plano. Emile está se fortificando. Sua fortuna pessoal é enorme. Possui um grande bloco de ações da Bouchard, e grandes porções das subsidiárias. Sua mulher, Agnes, também é muito rica. Depois, a pequena Isabel, neta de nosso louco fabricante de automóveis, Mitchell, herdará muita prata por direito próprio, pois seu avô era realmente um "Ku-Kluxer" e adorador da Bíblia, e não aprovou que o filho, Edmund, casasse com uma católica romana. Entendo que nossa Isabel é seu "bichinho de estimação". — Fitou Christopher com afeiçoada imobilidade: — Não se importa de dizer-me, Chris, se já havia pensado em tudo isto antes?
Christopher estava silencioso. Os dedos descarnados se torciam num movimento letal. Ele odiara o irmão, Armand, mas agora meramente o desprezava desde que descera do poder nas complexidades da Lista. Pelo irmão Emile ele tinha um ódio natural enorme, congênito e incompreensível. Agora, quando via a "conspiração natural", estava dominado por uma sensação de sufocação impotente, como se estivesse a afogar-se.
Henri mexeu-se na poltrona, suspirou, e ergueu as sobrancelhas. Ao leve som que Henri fez, Christopher estremeceu visivelmente, lentamente fixou os olhos no rosto de Henri. Disse, quietamente:
— Você. Você pensou em algo, não pensou? Você não vai deixar que Bouchard se vá tão facilmente, vai?
— Não! — disse Henri, francamente, após um momento. — Não vou. Por isso você está aqui.
Ouvindo isso Christopher sentiu um tal alívio que ficou realmente fraco. Nunca depreciara o poder de Henri Bouchard. Em outro homem ele chamaria a isso ingenuidade, essa crença na onisciência de seu cunhado. Sua voz estava rouca ao dizer:
— Sim. Continue.
Mal podia conter-se. Levantou-se, rápido, caminhou abaixo e acima por um ou dois minutos, passando as mãos no crânio pequeno e ossudo. Depois tornou a sentar-se, alerta como um lobo magro. Seus olhos começaram a cintilar de maldade sorridente.
— Adiante, adiante! — repetiu.
— Pensei longamente num meio de sair dessa — continuou Henri, genialmente. — Planejei um meio desde o início: Celeste.
À menção do nome da irmã, Christopher se endireitou na poltrona, com um movimento de quase violenta energia. Fitou Henri com ferocidade fria, porém furtiva.
— Sim, Celeste! — murmurou. Respirou fundo: — Mas ali também não há esperança de filhos. Sabe disso. — Seus olhos começaram a pular em suas cavidades alongadas.
— Talvez não agora — falou Henri, maciamente — não com Peter. Não. Mas comigo... sim.
Christopher mal podia respirar, depois dessa espantosa declaração. Inclinou-se para diante, apertando os braços da poltrona. Suas feições estavam vivas, fluidas, brilhantes:
— Você quer dizer?...
— Quero dizer — falou Henri com equanimidade — que pretendo em breve divorciar-me de Annette. E casar com Celeste. Depois que aquele coelho tossidor, Peter, morrer. E morrerá logo, é o que lhe garanto.
Christopher recostou-se na poltrona. Depois, subitamente foi sacudido por uma repugnante e terrível alegria. Sua pequena Celeste! Então estava tudo ótimo! Tudo ótimo! Esqueceu tudo, ao pensamento de Celeste. E então lembrou-se de Emile e o filho, Robert, e de repente pôs-se a rir alto, um som agudo e desagradável.
Embora Henri estivesse bem cônscio da paixão de Christopher pela irmãzinha, ainda assim ficou espantado. E uma compaixão rara nele o agitou um pouco. Sempre acreditara haver algo mais que um pouquinho incestuoso no amor de Christopher, com muito de paternal. Mas nunca se havia dado conta da extensão de tudo isso. Sabia que Celeste amava o irmão mais moço, mas também o temia e tinha certa aversão por ele, especialmente desde o casamento com Peter. Daí a compaixão de Henri. Parecia-lhe deplorável que tanto amor, tanta feroz proteção, tanta sinceridade e devoção inexorável pudessem haver brotado de um homem tão implacável e tortuoso para uma irmã cujo amor, nesses últimos anos, fora apenas indiferente. Todo homem tem o seu ponto fraco. O de Christopher era Celeste. Novamente Henri sentiu piedade.
Tinha outro pensamento: talvez agora não fosse necessário prosseguir com seus planos. Talvez Celeste fosse o bastante. Olhava para Christopher fixamente. Não, não faria mal nenhum apelar também para sua rapacidade. Amor e rapacidade: uma combinação invencível.
Disse, em tom bondoso:
— Por que tão surpreso? Certamente sabe que nunca desisto? Deve saber que eu sempre quis Celeste, e pretendia tê-la algum dia. — Sorriu fracamente: — E minhas intenções sempre foram honradas, garanto-lhe. Outrora, ela pensou que me odiava. Na verdade, nunca o fez. Voltou completamente condescendente. Quando Peter morrer, não haverá dificuldade. Mas, naturalmente, tudo isso é absolutamente confidencial, como sabe. Celeste e eu tivemos uma conversa, naquela noite em que sua mãe morreu. Está tudo arranjado.
Henri continuava a observar Christopher firmemente, olhos apertados. Fora tão fácil... Novamente sua piedade se agitou. Ele não tinha a menor intenção de divorciar-se de Annette e sua fortuna enquanto Armand vivesse.
Mudou para uma posição mais confortável na poltrona, tornou a encher o copo de Christopher que, ainda exultante, pegou-o automaticamente e bebeu.
— E agora — disse Henri, com deliberada mudança de tom — acabamos com os sentimentalismos. Naturalmente, não havia necessidade de toda essa explanação. Você deve ter sabido disso sempre. Não o chamei para discutir uma coisa tão óbvia. Era para algo totalmente diferente, algo imediatamente importante.
Christopher acordou de seu sonho de triunfo e alegria com um estremecimento, e uma nova cautela. Como podia haver esquecido! Com dedos trêmulos buscou sua cigarreira de platina, acendeu um cigarro. Porém o cigarro ficou secamente pendurado em seus lábios, enquanto ele pensava. Podia erguer uma mão assassina contra o irmão de sua mulher; poderia regozijar-se, num regozijo mortal e virulento, com a queda de Henri Bouchard. Porém o marido de Celeste era outra questão. Todo o triunfo e a alegria que dele fluíam se congelaram. De repente, sentiu-se muito doente.
Henri viu tudo isso. "Sim — pensou — tinha toda a razão. O amor não era tão invencível quanto a rapacidade." Via agora, pela constante vibração das pálpebras de Christopher, que ele estava subitamente conspirando outra vez. Estava além das suas forças tentar separar Celeste de Henri, como proteção a seus próprios planos. O pensamento estava causando a Christopher uma verdadeira agonia mental. Mas por trás disso estava a sua rapacidade. Henri soube o exato momento em que o amor de Christopher perdeu a luta para a sua avidez todo-poderosa. Foi então que Henri tornou a mexer-se, e sua piedade se fora inteiramente, substituída pela maldade implacável.
— Voltemos aos negócios, Chris. Passa de uma hora da manhã e ainda não chegamos ao que importa.
Porém Christopher estava mergulhado profundamente em seu caos particular. Henri teve de altear a voz para trazê-lo de volta. Ele estremeceu. Os olhos cor-de-cromo haviam perdido todo o brilho: estavam desvairados. Perturbado, mal entendeu as palavras iniciais de Henri:
— Vamos reduzir a coisa ao essencial. Sabemos que Hitler ocupará a Polônia em poucos meses, talvez mais cedo. Haverá guerra. A Inglaterra e a França atacarão Hitler. Terão de fazê-lo: desta vez estarão apavoradas. É agora ou nunca. Mas você conhece tudo isso...
Christopher nada disse. Mas agora estava completamente alerta. Tivera um choque. Obrigava-se a se recuperar.
— Tem sido firme crença minha, pelo menos tornou-se minha crença recentemente, que não podemos negociar com Hitler — resumiu -Henri. — Você, Chris, e alguns dos outros não concordavam comigo. Presumo que ainda discorde?
Agora Christopher esqueceu tudo só para ouvir intensamente. Voltou-lhe a vaga pulsação do medo, porém mais forte agora, latejando pesadamente em seu peito e suas têmporas. Olhou Henri fixamente em silêncio por alguns momentos, antes de sorrir facilmente, e erguer a mão num gesto de imploração.
— Ainda penso que podemos negociar com Hitler — falou.
Henri balançou lentamente a cabeça:
— E eu sei que não podemos. Mas isso é história antiga. Já voltamos a isso uma dúzia de vezes. Não quero discutir com você. A única coisa em que concordamos é em que a América não vai entrar em nenhuma guerra maquinada na Europa.
Christopher acenou de cabeça:
— Cuidaremos disso.
— Como todos concordamos antes, uma guerra nos arruinaria. Roosevelt se inclina para um governo dominador, ou pelo menos uma forte forma de socialismo. A guerra, se entrarmos nela, será para ele uma dádiva divina. A América se tornará o paraíso do Homem Comum. Nesse curral, a civilização será pisoteada sob cascos. Não que não apreciemos os bons serviços que o Homem Comum nos prestou e continuará a prestar no futuro! Você pode sempre contar com as Massas para ir grunhindo, em tropel, e mastigando para onde você as dirija. Suínos!
— Sim — disse Christopher sorrindo e recordando. — Cada vez que nosso santo reverendo Halliday envia seu veneno sonoro pelo rádio, há a ameaça de um massacre organizado, os poloneses de Detroit se preparam para puxar barbas de judeus, os aristocráticos Oakies do Sul acariciam cordas e sonham linchar negros, e Mitchell, anjo da guarda de Halliday, massacra outro sindicato em suas fábricas de automóveis baratos. A populaça nunca aprende, graças a Deus.
— Graças a Deus! — Henri lhe fez eco. — E assim, se tivermos guerra, a populaça seguirá Roosevelt no socialismo, e mugirá por nossos escalpos. No passado, fizemos bom trabalho com as massas. Não posso confiar em que continuaremos um trabalho igualmente bom se entrarmos na guerra. Quando a coisa se torna uma escolha: os camponeses se empanturrando ou odiando outros, preferem o empanturramento. Roosevelt lhes enche a barriga; nós lhe damos ódio. Eles preferem seus ventres.
— Entretanto — disse Christopher — as massas instintivamente amam o fascismo. Podemos contar com isso. Amam a bota e o chicote. Isso lhes proporciona uma espécie de orgasmo... uma volúpia. Não são os alemães os únicos perversos. As massas amam matar e torturar. Deem-lhes a oportunidade, e elas a aproveitarão, gritando de alegria. Por isso o fascismo é tão popular. Porque seria popular também aqui.
Henri o contemplou por um momento:
— No entanto o fascismo, embora pessoalmente me atraia, não vingaria na América. Não quererei servir a nenhum amo. E, acredito, concorda comigo?
— Certamente! — falou Christopher, maciamente.
Agora o medo estava forte, um gosto metálico em seus lábios, Henri parecia crescer diante dele. Tornar-se gigantesco e terrível e ameaçador. Mas Henri estava rindo, levemente:
— Não que haja perigo de real fascismo na América. Conhecemos os limites. Para nossa própria sobrevivência. Mas receio que isso seja mau para os negócios. Quando chegar a guerra, teremos a nossa maior oportunidade. Na América do Sul. Quando a Alemanha estiver envolvida na guerra, será incapaz de controlar suas linhas aéreas na América do Sul: aí teremos a oportunidade de assumir o controle.
Christopher moveu-se imperceptivelmente na poltrona, mas deu a impressão de inclinar-se para a frente, observando Henri, de olhos semicerrados.
— Tenho agora a oportunidade de obter o controle da Eagle Aviation Company — explicou Henri, impassível: — Foi-me oferecido. A ação está abaixo de cinco dólares a quota. Porém eles têm planos e patentes já prontos para grandes aviões de passageiros que podem facilmente ser transformados em bombardeiros.
Christopher nada disse. Estava mais branco do que nunca.
— Agora — comentou Henri, com um gesto casual — sua companhia, a Duval-Bonnet, só fabrica aviões de combate. A Eagle Aviation também fabrica aviões de combate, e possui patentes para aviões de caça. Enquanto você, você mesmo, aperfeiçoou aviões quanto à velocidade, não tem facilidades para fabricar grandes naves, nem os motores para eles. Nossa própria subsidiária, Giant Motors, está fabricando o tal motor para os aviões planejados pela Eagle Aviation.
Christopher sentia-se asfixiar. Pôs a mão, momentaneamente, na garganta. Mas não denunciou de outra maneira nada do que estava pensando. Através de um nevoeiro brilhante viu que Henri sorria brandamente.
— Se eu adquirisse a Eagle Aviation poderia pôr Duval-Bonnet fora dos negócios. Mas — disse ele — algo de pouco fraternal seria isso, naturalmente. E, claro, isso não passa de um pensamento, como você pode imaginar. Mas tive um pensamento muito agradável, que vai interessar-lhe.
"E é este: vou adquirir a Eagle Aviation. Você pode promover a fusão da Duval-Bonnet com ela, sob o nome de Eagle Aviation, com você, naturalmente, como presidente com um excelente salário. Isso deve atraí-lo. Sua fortuna pessoal, da maneira em que estão as fortunas Bouchard, não é muito grande... graças a seu delicioso pai. E, como presidente das companhias incorporadas, você estará no controle do mais poderoso monopólio de fabricação de aviões do país.
Confuso, entorpecido, Christopher — ouvidos zunindo, coração em tumulto — apenas podia fitá-lo. Súbito, não pôde conter-se. Literalmente pulou. Começou a caminhar abaixo e acima na sala, rosto cor-de-cinza, olhos faiscantes. E Henri o observava, sorrindo horrivelmente consigo mesmo. Christopher parou diante dele, abruptamente.
— O que deseja? — perguntou, em voz baixa e trêmula.
— Sente-se, Chris. Nunca o vi tão agitado. — Henri sorria calmamente. — Por Deus!, terá que ser sempre uma questão de barganha entre nós dois?...
— Sim — afirmou Christopher, num tom de voz que informou Henri que ele estava a ponto de estourar. — É sempre uma questão de acordo. Que quer você?
— Sente-se, já disse. Assim é melhor. Agora, podemos falar razoavelmente. Que quero? Quero a Eagle Aviation. Quero você como presidente. Afinal, você é marido de minha irmã. A propósito, você sabe que eu ainda controlo os bônus e quotas de Edith em Bouchard. Achou que isso não era generoso de minha parte, não achou? Gostaria de controlá-los, como marido dela. Infelizmente, penso de modo diferente. Nada de ressentimentos, espero?
Christopher não respondeu. Sentou na beira da poltrona, as mãos ossudas agarrando os joelhos. Não podia despregar os olhos de Henri.
— Claro, isso ainda é passível de discussão — continuou Henri. — Posso mudar de ideia... amanhã. Apenas queria conhecer sua reação à minha sugestão.
— Você apenas queria... — repetiu Christopher, com um sorriso fraco. E não pôde dizer mais nada.
— Na eventualidade de que se consume o acordo, e você esteja disposto a fundir a Duval-Bonnet com a Eagle Aviation, tornando-se seu presidente com, digamos, quatro vezes o seu salário atual, reterei cinquenta e um por cento das ações preferenciais das duas companhias, o que me dará o seu controle. Naturalmente, você se dá conta de que eu lhe fornecerei os Giant Motors e os instrumentos Spark.
— Então isso lhe dará também o controle — falou Christopher numa voz sufocada — sobre Duval-Bonnet, a minha própria companhia.
— Apenas — interveio Henri suavemente — figurativamente. Não estou interessado em aviação. Tenho Bouchard & Sons, e em breve estaremos ocupadíssimos fabricando armamentos. A propósito, já lhe disse que na próxima segunda-feira também comprarei a Concord Ars? Ótima companhiazinha! Pretendo fundi-la com a Kinsolving Arms, depois de uma conversa com Francis.
Christopher estava sem fala. Só uma vez em sua vida ele já fora tão abalado. Sua rapacidade clamava, nele, exultante! Mal podia conter-se. Mas forçou-se à imobilidade, obrigou seus olhos a sustentar os descorados olhos do terrível Henri Bouchard.
— Você quer alguma coisa! — sussurrou.
Houve na sala um breve silêncio. Henri recostou-se na poltrona e vigiou o cunhado com calma atenção.
— Sim — falou, quietamente — quero algo: quero você!
Christopher ouviu tais palavras com terror imediato. Pensou:
"Será que ele sabe? Será possível que saiba? Como poderia? Inacreditável que esse formidável suíno possa ter ouvido o mais leve murmúrio! Mas, se sabe, então vai se mexer. Ainda há tempo!" Ainda havia tempo para esmagar os conspiradores, e Christopher não tinha ilusões de que seria poupado...
Naquele silêncio, os dois homens se fitaram. Havia um som cantante no cérebro de Christopher, uma dor em seu coração. Saboreou o amargor do completo terror. Tentou penetrar a larga máscara inexpressiva que era o rosto de Henri. Mas nada pôde ler.
Mesclada ao terror havia a crescente onda de sua rapacidade exultante. Estava com mais de cinquenta, mas, comparado aos outros Bouchards (que, ele sabia, riam dele pelas costas), era um ninguém. A enorme fortuna da esposa ainda era controlada pelo irmão: o marido não podia tocá-la. A mãe de Edith dera a Henri esse controle, por maldade, devido ao ódio pela filha. Christopher, exilado na Flórida, era um nada aos olhos dos parentes, até mesmo uma figura burlesca, graças a Henri Bouchard. Agora chegara a oportunidade de dar-lhe poder igual ao de qualquer outro membro da família — exceto Henri. Era o preenchimento de um sonho sonhado durante centenas de noites de ódio, insones e corrosivas.
Gritou subitamente, acima das suspeitas e do terror:
— Que quer você?
— Por Deus! — disse Henri brandamente: — Já lhe disse. Talvez tenha havido uma mudança em meu coração, também. Afinal de contas. Edith é minha irmã. Gostaria de vê-la com maior frequência. Depois, como já lhe disse, você me impressionou com sua habilidade. Há anos que o venho observando. Quem mais escolheria eu naturalmente para a Eagle Aviation, a não ser você? Quem mais, aqui, é tão familiarizado com as coisas da aviação? Pode apontar-me alguém mais na família?
Christopher estava quieto. Mas seus olhos estavam pregados nos de Henri, com renovado medo e confusão.
— Outra coisa! — disse Henri, no tom mais gentil. — É uma questão de precaução. Não que eu não confie implicitamente em você, claro. Porém, para proteger meus interesses, terei meus próprios homens na companhia... para assisti-lo. Só para assisti-lo, naturalmente.
"Ele sabe!" — pensou Christopher. E imediatamente ficou confuso de susto.
— Quero que esteja comigo — disse Henri, ainda mais gentilmente. — Mas quero confiar em você. Sabe, não gostei da história de Peter a respeito de Brouser e Schultzmann. Apesar de, estou certo, não ser verdade. Entretanto, isso me perturbou. Não gosto de... mentiras.
Christopher se levantou outra vez, andou pra cá e pra lá, passando as mãos na cabeça — velho gesto seu, parecido com o do pai. E Henri o observava, sem expressão.
Aceitar tudo isso significava o abandono da conspiração, da associação com os outros, seu sonho de poder e vingança. Porém — ele pensou, em sua febre — já não havia necessidade de vingança, devido ao que Henri se propunha fazer com Celeste. E conspirações podem ser descobertas, conspiradores procurados e destruídos. Embora os conspiradores fossem poderosos, a conspiração ainda era precária, cheia de perigos mortais. O que Henri oferecia era seguro e certo. Contudo, aceitar faria dele um dos homens de Henri. Nada poderia fazer contra Henri sem destruir a si mesmo.
"Ele sabe" — ele se repetia, selvagemente.
Aqui estava o meio de escapar de uma conspiração sobre a qual sempre tivera suas dúvidas. E essa fuga lhe traria riqueza, poder, triunfo! Isso o forçaria a trair, porém trair seus parentes não o aborrecia nada, nada! Seria seu triunfo pessoal sobre eles, depois de anos de ridículo e de risos não muito secretos.
Parou abruptamente diante de Henri, e Henri viu todo o mal que havia nesse homem, sua exultação cruel, sua decisão selvagem e mortal.
Contudo, Henri disse:
— Repito: devo confiar em você. E — acrescentou com um sorriso — você não ousará fazer com que eu não confie.
Olhou para o cunhado e esperou, impassível.
Christopher respirou fundo:
— Posso oferecer-lhe uma sugestão? — perguntou, numa voz esquisita. — Livre-se de Antoine, meu brilhante sobrinho. Imediatamente.
"Então — pensou Henri — está feito!"
— Sim? — falou, quietamente. — Antoine? Alguém mais? Christopher tornou a sentar-se. Sua respiração ainda vinha em rápidos haustos.
— Acho que devemos ter uma conversinha.
Capítulo 19
Peter escreveu, febril e rapidamente:
"Esta é uma história contada à classe média da América, do mundo. Os poderosos não precisam dela: conhecem a história muito bem. As massas são incapazes de esclarecimento, devido a uma imaturidade biológica da mente que só séculos de evolução podem erradicar. Embora sofram nos dias que correm, sofrem como sofrem os animais, cegamente, estupidamente, sem questionar, sem sequer desejar mudar. As forças da reação, o vigor do status quo não residem nos poderosos, como se acredita popularmente, nem na cautelosa classe média, como eles próprios julgam, mas nas massas. Por conseguinte, a tentativa para esclarecer as massas é um fracasso. O velho aforismo de César, de que a populaça só deseja pão e circo, ainda é válido. Se César puder fazer com que esses circos sejam sangrentos, ressoando com os gritos dos moribundos, as massas ficarão felizes, contentes, satisfeitas, e voltarão a seu tugúrios e sarjetas sem o menor desejo de melhorar a própria sorte. Daí a finalidade dos circos.
"Portanto, este livro não é dedicado às massas iletradas — realmente os maiores sofredores nas mãos de seus senhores. Pois não são as massas que reformam governos, que destroem tiranos, que derrubam os opressores. Os homens que lideram as massas, homens de boa vontade, de compaixão, piedade, justiça e indignação, vêm, na maioria dos casos, da esclarecida e inteligente classe média. Nem eu desejo o apoio e a ira dos intelectuais, esses eunucos suaves impotentes que pouco sabem de governanças, muito de livros, e absolutamente nada de homens. Suas ácidas indignações são impotentes. Seus gritos são gritos de crianças zangadas. São ignorados pelos tiranos e contemplados com desprezo pelos homens sadios e vigorosos.
"Assim, este livro é dedicado àquela classe ainda pouco corrompida: a classe média do mundo. Pois essa é a classe que tem dado a cada república, cada democracia, os soldados mais sóbrios, a melhor arte, os governos mais fortes e decentes, os maiores melhoramentos sociais, a estabilidade mais firme, a mais limpa moral espiritual, a mais judiciosa indignação, as reformas mais sólidas, a ciência mais avançada. Destruída essa classe, toda a nação perece — seja destruída pelos poderosos (permanentemente conspirando contra ela), seja pelas massas (que permanentemente a invejam e odeiam). Ela permanece só, forte, sadia, por vezes desnorteada, quase sempre saudável, e sobre isso e seu esclarecimento depende toda a estrutura da civilização, toda a progressiva evolução do homem, toda a esperança do futuro.
"As massas são facilmente mantidas em sujeição pelos opressores. Na verdade, preferem a sujeição, governo fortemente paternalista e orientação autocrática, pois lhes faltam os órgãos com que pensar, pesar, julgar e planejar.
"Na América, hoje em dia, a conspiração contra a classe média já foi tramada, pronunciada sua sentença, sua destruição planejada. Isso foi feito na Alemanha, por Hitler. Se tais coisas fossem permitidas na América, veríamos o fim da civilização, o reduzir-se a Terra à habitação de escravos e príncipes, cuja condição, embora amada pela Igreja e procurada pelos senhores, é tão horrível, tão repugnante, tão espantosa que o último dos homens de boa vontade deveria pôr um nó corrediço em torno do pescoço e morrer de desespero.
"A você, pois, a grande, sólida, saudável e esclarecida classe média a minha saudação, todas as minhas esperanças, todas as minhas preces sabendo que só você pode salvar o mundo dos homens, sabendo que só você pode mudar a América de uma República realista para uma Democracia, sabendo que só por sua própria vontade você pode perecer, e todos nós com você.
"Esta, América, é a história de seus inimigos.
"Você acredita ter muitos inimigos. É esse obtuso e estúpido político, ou aquele outro. O ‘Comunismo’, talvez. É este homem que deseja mantê-la isolada do mundo dos homens, ou o homem que você amargamente denuncia como ‘provocador de guerra’. É este Presidente, ou este ex-Presidente, é Hitler ou Winston Churchill ou Stalin. É esta religião, ou aquela raça. Você não gosta deste homem de nariz comprido? Não gosta do inglês, ou do francês? Talvez os judeus a aborreçam? Talvez os italianos a irritem com sua ferocidade, ou sua alegria, ou suas risadas? Seus sacerdotes e professores lhe disseram que todos os homens são irmãos, e que Deus é seu pai. Mas alguém lhe disse, não foi, que isso é absurdo, perigoso, fantástico, o sonho de loucos que a levaria à guerra e à morte e à ruína econômica?
"Sim, você tem muitos inimigos. Mas os que lhe foram apresentados não existem: apareceram conjurados pelos seus verdadeiros adversários, por seus senhores na América que não conhecem raça nem nacionalidade, mas conspiram com seus camaradas secretos em cada país do mundo — não apenas contra você, mas contra todos os seus irmãos sob todos os sóis, e contra o próprio povo deles.
"Você pensa que seus senhores e inimigos americanos odeiam, temem e desprezam seus companheiros conspiradores na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, no Japão, na América do Sul, na Rússia? Se o faz, você é ingênuo e estúpido. Você é perigoso em sua ignorância. E em seu perigo, a América pode morrer.
"Se houvesse guerra — e haverá, que Deus se apiede de nós! — pensa que seus inimigos americanos recusarão firmemente negociar com seus inimigos de além-mar? Pensa que os senhores, os Bancos, as indústrias, automaticamente erguerão muralhas uns contra os outros? Novamente você é ingênuo e estúpido. Enquanto você morre, enquanto você se arrebenta de fome, enquanto você luta, reza, espera e se sacrifica, seus senhores americanos estarão alegremente reunidos com seus co-conspiradores na Suíça, talvez, ou qualquer outro local "neutro", e trocas financeiras e de utilidades e de materiais de guerra serão facilmente arranjadas, passados dinheiro e créditos — tudo num espírito da mais afetuosa camaradagem, e seu destino decisivo decidido numa atmosfera que transcendeu nacionalidade, raça e fronteiras. Você provavelmente estará em luta mortal com a Alemanha. Mas quando bretões e americanos estiverem lutando, metidos até os joelhos na lama e no sangue, contra alemães e italianos, e outros, os banqueiros americanos, os banqueiros britânicos, e os banqueiros alemães estarão calma e afetuosamente reunidos para debater trocas de créditos — em algum lugarzinho anônimo. Pensa que seus jornais lhe contarão isso? Outra vez, você é pateticamente ingênuo. Nenhuma reportagem chegará a seus ouvidos.
A cortina negra será puxada sobre os conspiradores e você nunca saberá...
"Enquanto a América estiver, febrilmente, a armar-se e a seus aliados futuros, seus senhores americanos estarão cuidando de embarques de utilidades vitais de guerra para os alegados "inimigos" através de cartéis internacionais. E essas necessidades de guerra, traduzidas em armas, balas e bombardeiros, serão dirigidas contra as vidas de seus filhos e de seus amigos.
"Foi Hitler quem inventou o fascismo, ou Mussolini? Olhe mais de perto, irmão, nesses imponentes escritórios por trás da fumaça dos moinhos e das fábricas, naquele boudoir, naquele suave salão de jantar onde as resplandecentes damas e seus benfeitores se sentam e devoram os ricos do mundo, naquele poderoso Banco de portas de bronze, nas salas da bolsa internacional de valores, e por trás daquelas catedrais altaneiras em meio de cidades famintas. Nesses lugares a conspiração contra a humanidade foi inventada, planejada, executada em ação de âmbito mundial.
"Quando a Manchúria foi invadida, quem orientou para que a matéria fosse tratada obscuramente, que seu antagonismo fosse sutilmente despertado contra os chineses? Quando a Etiópia foi torturada, quem inspirou os jornais com comentários entusiásticos de que Mussolini ‘fizera os trens da Itália correr no horário?’ Quando a República Espanhola foi atacada pelos mercenários da reação, escravatura e exploração e ignorância, quem foi que lhe disse que a República era ‘comunista’, criminosa, assassina de inocentes e de padres? Quem o ensurdeceu contra os gritos dos atormentados e dos desamparados, e lhe embotou a consciência quando seu irmão estava morrendo? Quem distorceu as notícias vindas da Rússia, quem inspirou sua desconfiança e ódio, quem ameaçou com vagas calamidades a menos que a Rússia fosse completamente derrotada e dominada, e negou embarques para a Rússia a não ser que fossem pagos imediatamente em ouro — enquanto outros embarques eram enviados à Alemanha através de cartéis internacionais sem ouro? Quem chamou a Rússia de ‘descrente, ímpia, conspiradora contra o mundo, contra a ordem, contra Deus, contra a moral’? Quem, quando o mundo de homens sãos, civilizados e decentes era traído em Munique, saudava o senil Chamberlain como um grande homem, um herói?
"Não é tarde demais. Você só tem de olhar, de compreender, de aprender. Só tem de afastar as ricas cortinas e ver seus desprezíveis inimigos cochichando em segredo — os homens de todas as nações, que inventaram Hitler, Mussolini, Franco, e suas abomináveis conspirações contra a espécie humana.
"Entre esses homens, seus inimigos americanos são os mais poderosos. Esses homens decidiram que forma de governo cada país deve ter e manter, eles os traíram com seus eternos inimigos, roubaram os recursos naturais de suas terras natais, elevaram loucos ao poder e autoridade sobre povos subjugados, atraíram sacerdotes e príncipes da Igreja para seu secreto exército de destruição, estenderam as mãos rapaces aos cantos mais distantes do mundo, decretaram como você deve viver, o que deve ler, comer, usar e pensar, que políticos deve apoiar, que bons homens deve matar, que vítimas você- deve torturar ou ignorar, que exército deve manter ou não manter, se deve viver, ou morrer em agonia e ódio.
"Pois esses homens têm tal controle sinistro e indisputado sobre os destinos do povo americano, e o destino do mundo, que podem decretar o que vender, quanto vender, quanto produzir, e a que preço, em qualquer lugar da Terra. Podem decretar a quem eleger como Presidente dos Estados Unidos, qual deve ser nossa política externa, que modificações ocorrerão em nosso governo, ou mesmo decidir sua derrubada! Quem deve sentar nos tronos da Europa, quem deve controlar as chancelarias, quem deve marchar, quem deve aposentar-se, quem deve morrer? Essas decisões estão nas mãos de tais homens.
"Seus mercenários e lacaios no Congresso, suas organizações de caráter fascista, de combate aos sindicatos trabalhistas, seus clérigos assalariados, seus partidários homens de negócios e industriais, seus jornais subornados e editores traidores, sua máquina política, têm, como meta final, a substituição do poder político do povo americano, e o estabelecimento deles mesmos como ditadores supremos sobre todas as fases da vida do mundo.
"Povo da América! Que agonias tem você suportado nas mãos desses homens, em guerras, em fomes, em desespero, em desesperança e em pobreza, em exploração e perda de liberdade! Que agonias ainda terá de sofrer — a menos que olhe atrás das paredes dos jornais, dos políticos, dos clérigos e do silêncio, paredes que eles construíram em torno de si mesmos, para esconder-se...
"Pois decidiram que você perca sua liberdade, seus privilégios, suas liberdades civis, sua dignidade, sua honra e sua virilidade. Criaram Hitler como uma defesa contra o comunismo. Se a defesa está agora ameaçando tombar sobre nossas próprias cabeças, seus inimigos olharão além das ruínas para o futuro. Eles não quiseram guerra com sua criatura, Hitler. Esperaram que ele pudesse ajudá-los a subjugar e escravizar você. Se ele não o fizesse — se nós, o povo americano, devêssemos erguer-nos e destruir o monstro que eles criaram — então mudariam rapidamente de planos, conspirariam para que o fascismo não seja totalmente destruído na Europa, e se assegurariam de que o futuro bicho-papão seja a Rússia, de que nenhum homem de boa vontade entre na Casa Branca, de que uma forma odiosa e perigosa de nazismo seja instituída na América. Trabalharão incansavelmente para essa finalidade, haja guerra ou não.
"Este livro é escrito para contar-lhe o que deve saber. É planejado para fazer com que você deixe de olhar os seus circos, suas bugigangas e seus brinquedos baratos — e fixe os olhos em seus reais inimigos."
Lentamente a pena escorregou dos dedos de Peter num gesto de completa exaustão. Inclinou a cabeça na mão magra e fechou os olhos. Com frequência sentia essas ondas de fraqueza, que provinham mais da alma que do corpo devastado. Por trás das pálpebras viu círculos e bolas de fogo, girando numa nebulosa de azuis e carmesins e amarelos. Apertou as mãos contra eles. Agora, uma familiar debilidade o dominou, durante a qual seus pensamentos turbilhonavam numa espiral de névoa, formada de dor, e flutuava afastando-se dele.
Em meio a essa desintegração, ele só tinha um pensamento claro: como era possível abranger, entre as estreitas páginas de um livro, toda a incrível e gigantesca história? Apenas podia aflorar aqui e ali, como relâmpagos brilhando nos mais altos picos de montanhas, mas deixando as profundas fendas dos valores, os oceanos e os rios tumultuosos em completa escuridão. Ele só podia tornar audíveis algumas vozes trovejantes, vindas de distâncias várias. Seu quadro, portanto, devia ser desconjuntado, incoerente, e, por isso, cada vez mais fantástico e inacreditável. As pessoas só acreditavam em pequenas histórias comuns. Consideravam os ecos de gigantes, o estremecer de seus passos, suas silhuetas esfumadas, como fantasia, a pavorosa quimera criada por escritores de histórias de fadas ou de lendas épicas. Podiam até achar que imagens tão imensas teriam uma qualidade heroica ou semidivina, que suas almas mesquinhas deviam admirar. O povo sempre anseia por heróis, por super-homens, por deuses olímpicos. Ele, Peter, devia ser extremamente cuidadoso em não apresentar tais imagens à mente do público, por sua adulação infantil. As imagens deviam ser terríveis, mas também odiosas. Deveria ser mostrado que, afinal de contas, eles não passavam de homúnculos, porém mais dotados que a maioria de avidez pelo poder, de impiedade, de crueldade e rapacidade e traição. Mas como fazer isso, quando apenas os picos mais elevados poderiam ser mostrados pelos relâmpagos, quando apenas as mais estupendas alturas podiam ser reveladas... no limite de um livro?
Abriu os olhos e mirou em torno de si. Sua mesa estava empilhada de dados, centenas de páginas deles, e cartas, e livros. Devia escrever uma verdadeira livraria se devia produzir mesmo uma história bidimensional. Mais ainda: não podia citar nomes, por medo de processos. Apenas podia dar "pistas", dotar seus verdadeiros caracteres com apelações estranhas, desfigurar mais do que um pouco, realçar fora de proporções, reduzir outros fatos a um escuro pano de fundo. Ele devia fazer tudo isso, apenas para ter o livro publicado.
Sua cunhada, Estelle, mulher de Francis, instara com ele para que escrevesse "algo que atraísse a atenção de Hollywood, Peter, se você realmente deseja passar uma ‘mensagem’ ".
Como, então, poderia alguém despertar essa imensa multidão americana, essa multidão cantante, amante dos esportes, egoísta, estúpida e generosa que amava apenas pequenos prazeres? Ao pensar isto, Peter era dominado por uma angústia de amor, raiva e sofrimento. Como a América poderia ser grande, quão nobre e forte se apenas ouvisse, compreendesse e pulasse de pé com um grito de indignação e de fúria?!
Sua impotência o oprimia. Tanto a dizer, tanto a contar e revelar, e tudo isso devia passar através do fino rangido de sua pena e das gotas de uma tinta desenxabida! A história, terrível e total, devia ser reduzida a rabiscos que provavelmente apenas atrairia os olhos de uma pequena minoria... E hora a hora a destruição se aproximava mais rapidamente, despercebida entre os clarões das Main Streets, não ouvida entre as obscuras delicias dos cinemas.
A Noite de Valpúrgia se vinha fechando sobre a humanidade, mas o profeta gesticulava sozinho nos bazares desertos, e o eco de sua voz lhe voltava das praças vazias! Os vendedores e os compradores haviam afluído para ouvir a voz insegura de alguma prostituta na cidade...
Da pilha de cartas junto à sua mão Peter tirou uma e a releu. Era de seu parente Georges Bouchard, o editor:
"Há de lembrar-se, Peter, que seu livro The Terrible Swift Sword não foi bem recebido pelo público. As pessoas não estão interessadas em não-ficção -— pelo menos, ainda não. (Pessoalmente, creio estar chegando o dia em que estarão.) Ainda não estão receptivas para livros como os seus. Ficam apenas perturbadas por eles, e finalmente incrédulas. Não querem ser incomodadas.
Você me dirá que se eu lhe houvesse permitido usar seu próprio nome, em vez de um pseudônimo, o livro teria despertado mais atenção de críticas e de público igualmente. Porém, como lhe disse, havia nisso muitas desvantagens. Mau gosto em primeiro lugar, embora você não concordasse comigo, como de costume. O público não gosta de homens que atraiçoam suas famílias, mesmo quando por uma "boa causa". Depois, havia o ângulo do libelo. Ainda não simpatizo com a ideia de minha família a cair em cima de mim, en masse, nem você o quereria, se pensasse nisso ao menos um pouquinho.
Isso nos traz ao novo livro que me propôs, The Fateful Lightning. Olhei o seu resumo, e pensei seriamente no assunto. E, francamente isso me aterroriza completamente. Que espera conseguir com ele? Realmente pensa que o público americano se importaria com ele, o tomaria em consideração, iria pesá-lo, seria despertado por ele? Como editor de certo gabarito e há alguns anos, discordo de você. Seria apodado de melodramático, insano, bombástico e inacreditável. Além disso, já houve uma verdadeira inundação de livros escritos sobre o mesmo assunto, e não levantaram a mais leve brisa. Então, sua cândida ideia de usar nele seu próprio nome me apavora.
E também estou em posição delicada. Sou um Bouchard: simplesmente não posso ver-me publicando tal livro."
Ele acrescentou (e isso Peter não poderia perdoar):
"É péssimo que já não tenhamos conexões de publicações na Alemanha. Estou certo de que Goebbels apreciaria The Fateful Lightning. Seu livro The Terrible Swift Sword foi recebido muito cordialmente por ele."
Peter comprimiu os lábios pálidos. Continuou a ler a carta: "Entretanto, se você está realmente resolvido a publicar o livro sob seu próprio nome, recomendo-lhe que procure Cornell T. Hawkins, de Thomas Ingham’s Sons. É uma firma antiga de grande prestígio, forte e conservadora, e altamente respeitada. Antigamente só publicava a literatura mais decorosa e textos eclesiásticos, mas parece que um novo espírito vem animando a casa, recentemente. Acho que é influência de Hawkins. Você deve ter ouvido falar nele, pelo menos, embora nunca houvesse mencionado tê-lo conhecido, um grande homem; um grande editor. Posso até afirmar, um grande democrata e aristocrata — embora isso pareça paradoxal. Embora seu ambiente apropriado devessem ser as austeras e brancas paredes de alguma mansão da Nova Inglaterra, ele tem um espírito moderno, frio embora apaixonado, e um intelecto notável. Mesmo que não faça nada mais, ele o ouvirá simpaticamente, e lhe dará algum bom conselho. Pode confiar nele. E quando digo isto, quero assegurar-lhe que raramente o disse de outro ser humano."
Peter atirou a carta para o lado e cobriu com as mãos a dolorida cabeça. Sua exaustão se tornou insuportável. Se fosse mulher, explodiria em lágrimas terríveis. Após longo tempo, deixou cair as mãos e fitou através da janela.
Estremeceu, como sempre, ante o que viu. A partir das paredes da casa, a Endur de Christopher se estendia, uma campina feito um lençol de verdes gramados até os muros distantes e os portões lustrosos. Tudo era completamente rígido e luzia brilhantemente ao vento quente e estéril e sob um sol que parecia uma bola de vidro em chamas. Não havia árvores a refrescar esses vastos relvados, exceto onde, a cada lado da imensa área, duas filas idênticas de álamos pontudos e rígidos, parecendo de madeira pintada de encontro a um descolorido céu de verão, as agudas sombras arroxeadas tão imóveis como eles mesmos. Vazio o cenário radiante, insuportável no calor intenso, pois Christopher tinha aversão a flores. O panorama combinava com o interior do casarão quadrado, com seu espelhante mobiliário de cromo, colocado em seus próprios reflexos contra paredes de vidro ou madeira branca.
Nenhuma curva graciosa da asa de um pássaro amaciava tal cenário de vazio e de ardente radiância. Só os ventos desimpedidos sem obstáculo à frente, secos como o ar que sai das fornalhas, faziam algum som audível na casa ou nos gramados. Esse vento era quase constante. Exacerbava os nervos de Peter. As janelas eram amplas e claras como as de um laboratório, e as cortinas estreitas eram colocadas ao longo das paredes e não das vidraças, de modo que não se podia escapar à ardente austeridade do panorama.
"Estéril como a morte, desapaixonado como o próprio dono" — pensou Peter. Detestava Endur. Sua desolação, sua falta de sombra misericordiosa, seu desabrigo, que parecia o cauteloso desabrigo diante de uma fortaleza onde nenhum inimigo poderia esconder-se, dizia bem do caráter de Christopher. Contudo deveria permanecer aí até que estivesse pronto seu próprio lar, em Placid Heights.
Enquanto contemplava tão amargamente através da janela, a carta de Georges na mão, Peter pensou subitamente no pai, Honoré Bouchard. Muito estranho que pensasse tão frequentemente no pai, agora, e a cada vez a visão era mais nítida, aguda, urgente, mais bondosa. Em todos os anos desde a morte de Honoré no Lusitânia, sua lembrança permanecia com o filho mais jovem, seu favorito, como a gentil melancolia de um horizonte outonal. Foi em 1932 que Peter começou a ter essas cálidas visões, cheias de substância e claridade, como se Honoré, ao vivo, estivesse diante dele, falando. Ele não passava de um colegial quando seu pai soçobrara nos abismos do Atlântico e, com o passar dos anos, a fisionomia e o aspecto de Honoré se haviam tornado apagados, incertos, a voz cava. De modo que era muito estranho que Peter o visse agora tão claramente, e lhe ouvisse a voz tão fortemente.
Capítulo 20
Parecia a Peter — enquanto recordava o pai agora — que Honoré sempre fora atacado por uma espécie de melancolia desesperada, era silencioso, paciente, gentilmente sorridente, e distraído. Nunca se queixara, nunca fora rabugento ou irritável ou desatento, embora por vezes dado a gestos inexplicáveis de silenciosa violência bem no meio de alguma observação casual. Seus três filhos mais velhos — Francis, Hugo e Jean — achavam isso um tanto divertido; a esposa, Ann Richmond, achava aborrecido. Porém Peter, quando viu tais gestos, viu como o sorriso bondoso do pai subitamente se tornava fixo, quase uma careta, e sentiu-lhe o coração ao desamparo com um medo obscuro e muita compaixão. O Honoré que falava, que mantinha uma aparência firme, que ouvia atentamente e com simpatia, não era o Honoré que vivia sob a superfície da carne, atormentado, desesperado, desanimado e sem esperança. Isso Peter sabia, mesmo quando ainda muito jovem.
Não era pequena a parte do presente êxito de Bouchard & Sons que se devia a Honoré Bouchard. Peter, apesar de buscas ansiosas, nada pôde descobrir que justificasse sua esperança de que o pai fora menos inescrupuloso, menos inexorável, menos venal e rapace do que Jules Bouchard, seu primo e amigo. Verdade que fora bom e compadecido, que suas caridades tinham sido amplas e praticamente secretas, que fora simpático e gentil para todos, mesmo em relação à esposa, viciosa e ávida, que deve tê-lo enojado muitas vezes; e que, de um modo estranho, tivera integridade e caráter. Entretanto seguira todos os conselhos de Jules —tanto quanto Peter podia ver — ouvira Jules, reconhecera sua perspicácia e talento. A pesquisa de Peter nada revelou de objetivo que lhe esclarecesse e aligeirasse o coração e o consolasse. O registro de Honoré Bouchard foi aberto a seus olhos, e não havia exemplo de caso em que Honoré houvesse posto o bem-estar da América acima dos lucros, ou a segurança da espécie humana acima do poder em ascensão da dinastia Bouchard.
Mas Peter não se podia livrar da recordação dos profundos olhos castanhos do pai com sua expressão de melancolia desesperada e abstrata meditação. Lembrava-se daquela cabeça redonda com seu topete de cabelo grisalho, a figura vigorosa, os ombros largos e sólidos, o nariz um tanto curvo, e o sorriso bondoso e pensativo. Havia em Honoré um estranho silêncio, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais ouvia.
Por vezes Peter até havia esperado que seu pai tivesse sido um fraco, demasiado fraco para resistir à pressão do primo, Jules, e dos outros, que fosse bom demais para opor-se a eles, ou que tivesse havido nele uma indiferença espiritual ou física que não o deixasse lutar com os outros Bouchards. Mas não tinha havido fraqueza, nem indiferença, naquele rosto forte e simples, Peter tivera de admitir mais tarde, com tristeza. Ele podia ter aversão pelo ávido e o exigente, o egoísta e o cruel (e demonstrara isso bem vigorosamente muitas vezes na presença de Peter), mas, quando se tratava da fortuna, do poder e dos lucros dos Bouchards, ele era tão inexorável como o primo Jules.
Que distorção de alma acontecera nele que fazia esse homem habitualmente reservado tornar-se gárrulo, volúvel, quando descobria alguma malignidade pessoal, rapacidade ou crueldade em um membro de sua família imediata — a ponto de infligir punição física aos filhos — mas o mantinha silencioso, aquiescente ou cooperativo quando se tratava da riqueza dos Bouchards, dos lucros dos Bouchards, ou do engrandecimento dos Bouchards? Não importava, então, se multidões sofressem, se a honra nacional fosse traída, se houvesse conspirações em andamento contra a paz e o bem-estar de uma nação inteira ou do mundo todo! Às vezes Peter via um brilho de prazer em seus parentes ante o êxito de algum esquema abominável, uma satisfação maligna, rindo à socapa. Nunca viu isso em seu pai. Ao invés, observara que a melancolia se aprofundava nos olhos de Honoré; ele se tornava mais silencioso e mais solitário que de costume.
Peter se atormentou eternamente pelo enigma que seu pai representava. As lembranças mais nítidas que tinha eram da voz profunda e cheia de bondade de Honoré, sua mão gentil e afetuosa, o sorriso doce e pensativo, a filosofia meditativa e a estranha e amargurada sabedoria. De todos os Bouchards, só Honoré era um estudioso. Possuía uma biblioteca imensa, e gastava noites sem fim lendo ao pé do abajur. Entre todos os parentes, estranhamente, ele parecia preferir Jules Bouchard, seu primo: na presença alegre e cortês de Jules ele ficava quase alegre, risada invulgarmente fácil, fisionomia iluminada de real prazer.
Haveria algo de fundamentalmente semelhante nesses dois? — pensava Peter, sentindo-se miserável. De certo, tudo de bom e íntegro e decente em Honoré devia ter sido violado pelo suave Jules. Embora, se foi violado, não havia sinais disso.
Então Honoré, enviado por Jules em alguma missão secreta e perigosa na Europa, subitamente mergulhou no caos: morreu no Lusitania.
Peter recordava bem aquela noite. Agora, enquanto lembrava, tirou a mão dos olhos e ergueu a cabeça dolorida. Os olhos azuis se estreitaram, tornaram-se atentos, enquanto ele olhava sem ver através da janela resplandecente do quarto. Algo parecia estar se formando ante seus olhos, algo significativo, algo que iria explicar-lhe o enigma de seu pai. Suas mãos se apertaram lentamente no papel à sua frente, enquanto com calma desesperada ele tentava concentrar-se. Agora via as feições do pai, via claramente, graves, bondosas, cautelosas e sem esperança. Viu os lábios do pai moverem-se em silenciosa, porém urgente explanação.
A notícia — ele se lembrava — chegara primeiro a Jules, por alguma rota misteriosa. E Jules foi ferido, no mesmo instante, pelo primeiro de seus terríveis ataques de coração. Peter se lembrava que Leon, irmão de Jules, fora à casa de Honoré naquela noite para comunicar à recente viúva a morte do marido. Leon, carrancudo, volumoso, de voz sombria, entrara na casa, completamente aniquilado, fisionomia cinzenta e abalada. Deu a notícia incoerentemente, e Peter recordou que a maior preocupação dele era pelo irmão, Jules, e que muitas e muitas vezes exclamara, em meio às lágrimas da viúva, que "isto matará Jules!"
Peter, então muito jovem, escutara Leon, ouvira-o através de uma ondulante névoa de sofrimento. Sentira uma raiva dolorosa de Leon, por ousar tais exclamações a respeito de Jules. Não se espantara de que esses olhos fundos e carrancudos se enchessem de curiosas lágrimas, de que as fortes mãos quadradas literalmente se torcessem numa espécie de distração. Sabia que Leon tinha por Jules uma afeição relutante, porém profunda. Porém era certamente estranho que sua única preocupação não tivesse sido pela trágica morte de Honoré, mas pelo estado de Jules, pelo sofrimento de Jules, e que, por fim, se tivesse levantado distraído, e declarado que devia voltar imediatamente para junto do irmão.
Peter aceitara isso como dor, como todos o fizeram. Mas agora, enquanto estava ali sentado em tão dolorosa concentração, pôs-se a cogitar. Jules, é verdade, devia ter sentido a mais profunda tristeza de sua vida com a morte do primo bem-amado. Porém — pensou Peter — tinha havido um esquisito significado nas palavras de Leon, em suas maneiras.
— Meu Deus! — resmungou, esfregando a testa com os nós dos dedos.
Algo ali estava diante dele, cheio de explicações: era só olhar e compreender. Forçou-se a manter-se calmo. Viu outra vez o rosto do pai bem claramente, e tentou ler as palavras silenciosas nos lábios que se moviam.
Depois recordou algo mais, algo que veio das sombrias profundezas de sua memória como uma névoa que lentamente tomou forma.
Tinha havido uma testemunha da morte de Honoré. Os barcos salva-vidas se haviam enchido rapidamente até à capacidade máxima após a explosão do torpedo germânico. Havia um lugar vazio, e um oficial do navio, mesmo em meio a tal catástrofe, ainda plenamente consciente do poder dos Bouchards, instara com Honoré para que tomasse esse lugar. Porém ele recusou. Disse a testemunha que Honoré ficara de pé no convés inclinado, e balançara a cabeça lenta e quietamente. E que sorrira do modo mais estranho. Tinha um olhar misterioso de paz e contentamento, de recolhimento e desinteresse. Olhara em redor as centenas de pessoas frenéticas e aterrorizadas que não seriam salvas, que deviam morrer. E apertara as mãos na balaustrada, erguendo a cabeça. Morrera com elas, recusando viver.
O que causara aquele terrível ataque de coração de Jules? Apenas sofrimento? Apenas o pensamento de que fora ele que enviara o primo para a morte? Peter agora acreditava, com apaixonada convicção, de que não fora isso.
Aos poucos, a verdade foi surgindo, coração agitado, Peter teve consciência de que Jules sabia que Honoré morrera porque já não suportava viver.
Fora isso, então, que derrubara Jules.
As pálpebras de Peter queimavam! Mas seu espírito ficou súbita e dolorosamente aliviado. Seu coração doía com renovado sofrimento por seu pai, mas também com exaltação: estava solucionado o enigma! A morte autodecretada de Honoré fora o repúdio final de sua vida, de todas as coisas que fizera, de todas as coisas que fora persuadido a fazer. Fora uma expiação deliberada.
Então, ele devia ter odiado sua vida...
As coisas começaram a encaixar-se. Peter lembrava-se de uma estranha conversa que tivera com o pai na véspera de sua primeira partida para a escola. Tinha apenas catorze anos. Honoré o chamara para a biblioteca e, desajeitadamente, tomara a sua mão. Não era dado a demonstrações de afeição, e o jovem Peter ficara muito comovido — tão faminto de coração estivera, tão solitário e temeroso em meio a seus terríveis irmãos. Sabia, claro, que fora o favorito do pai, porém Honoré nunca o tocara tão gentilmente, ou lhe sorrira com tão grave afeição.
"Você vai para a escola, meu filho, e ficará sozinho" — dissera Honoré, com aquele sotaque francês que sempre espantara Peter. Filho de Eugene Bouchard, francês, Honoré nascera na América, mas havia adquirido o sotaque de seu pai. O que emprestava à sua voz uma espécie de calor e dignidade.
"Sim — repetira Honoré — você estará sozinho. Mas isso não lhe importa, não é, Peter? Você sempre esteve sozinho. Exatamente como eu era, outrora."
E depois mirou o filho bem nos olhos, com profunda e melancólica concentração:
"Sempre nos entendemos bem, não é verdade, filho? E assim, algum dia, você se lembrará que se um homem tem de permanecer como Deus quer que ele seja, ele deverá sempre esforçar-se para estar sozinho em seu coração. Desde que esse coração se abra para coisas do mundo, sejam essas coisas poder, ou ambição, ou ganância, ou mesmo um grande amor, estará perdido para sempre. O vaso está quebrado. Nunca mais poderá conter água."
Depois acrescentou, olhando para além de seu filho, embora lhe segurasse a mão ainda mais estreitamente:
"Não há remendo para vidro. Nunca se inventou um cimento capaz de colá-lo ou de dissimular as rachaduras. Nunca mais poderá conter água."
Tudo isso, pois, Honoré tentava explicar a Peter mesmo nessa hora tardia. E essa explicação era a resposta ao enigma. Diminuiu a sensibilidade dolorosa no coração de Peter. Agora só sentia pelo pai uma apaixonada compreensão, e um profundo amor sem nada de impuro.
De imediato sentiu-se forte e integrado novamente, quase exultante. Desapareceu sua exaustão. O rosto de Honoré se desvaneceu ante seu olhar íntimo. Porém podia sentir-lhe o sorriso, terno, em paz.
Peter pegou a caneta. As palavras vinham mais facilmente agora. Já não havia nele qualquer conflito, nenhuma dor. Podia trabalhar. Podia ter fé. Nada mais importava além de seu trabalho, nem mesmo Celeste. Sentia-se invulnerável como nunca fora antes!
Capítulo 21
—- Que tocarei? — perguntou Annette, afastando da testa uma mecha dos finos cabelos claros e sorrindo para a jovem tia. Sentava diante da harpa, os finos dedinhos a tocar as cordas brilhantes, maciamente, os braços brancos lançando uma sombra na escultura dourada do instrumento.
— Alguma composição sua, querida — replicou Celeste.
Estava sentada na fresca penumbra do grande salão, o colo cheio de rosas magníficas dos jardins de Robin’s Nest. Todo o rosto permanecia na penumbra, porém tomara emprestada sua qualidade luminosa de modo que suas feições tinham a aparência pálida e polida de uma máscara de mármore, austera e rígida. No contorno de sua testa havia uma quietude petrificada, e certa rigidez nos lábios.
Os dedos de Annette feriram as cordas com muda gentileza: as notas se ergueram como borboletas douradas a expandir-se à luz do sol. Celeste podia ver essas borboletas, absorvendo nas asas a luz pura, mergulhando, circulando, movendo-se rapidamente como folhas brilhantes, dançando numa súbita lufada de ar, em movimentos murmurantes com a mais suave harmonia, dificilmente ouvida, porém doce como uma melodia imaginada. Era música ouvida em sonho, pura e alegre, descendo a um sussurro, subindo até uma fina e deliciosa nota única, subitamente dispersa numa explosão de som pungente, frágil e esvoaçante, para novamente mergulhar num incoerente capricho de movimento radiante, quase inaudível...
Celeste estava extasiada! As mãos tensas que jaziam sobre as rosas relaxaram. Seus olhos se fixavam na visão iluminada e inocente evocada pela harpa. Sob a harmonia inócua e brilhante havia a doçura de melancolias, de delicadas tristezas. Então ela ouviu, sob o murmúrio das asas das borboletas, um vento a erguer-se, indistintamente agourento, carregado de sombrios presságios. A claridade nas asas dançantes se tornou severa e rígida, como a súbita luz perfurando através de nuvens escuras. Mais depressa, mais depressa moviam-se as borboletas, agora num frenesi francamente discordante, lutando contra a voz da ventania —•que se tornara rouca e ameaçadora. Agora as borboletas eram pálidas formas fantasmagóricas, sem dourados, sem brilhos, e o vento tinha uma forma, ondulante, cinzenta, espiralada como fumaça, a subir numa forma ampla como uma parede de escuridão. E em meio ao redemoinho adejavam as penas frias e descoloridas de pequeninas asas a cair, frenéticas...
Agora as notas se tornavam mais altas, desoladas e dissonantes, como se vindas de longas faixas de gelo negro de regiões de morte trovejante. A última pena caiu e se desintegrou. Caos no mundo! Celeste discerniu gritos selvagens em meio ao vórtice, perdidos gritos de almas perdidas. Um derradeiro rodopio de som discordante, um súbito estalar de cordas, e então houve apenas silêncio.
Pesada inércia caiu sobre Celeste. Mexeu-se, morosamente, olhando para Annette — que ficara muito pálida e olhava para diante, olhos arregalados e vazios. Celeste começou a falar, depois cerrou os lábios. Mirou Annette por muito tempo. As mãos de Annette ainda pousavam nas cordas, porém molemente, mãos mortas e sem sangue. O rostinho estava extremamente quieto, de expressão trágica em sua imobilidade.
A esbraseante luz solar batia nos largos peitoris das janelas em dolorosa radiância. A sombra verde das árvores lançava reflexos ondulantes na sala tranquila. Em algum lugar pássaros piavam sonolentamente ao calor, a brisa de verão recendia ao perfume de trevo ceifado, cálido e doce, e a rosas.
Então Annette subitamente sorriu. Um sorriso gentil, alegre como sempre. Porém os grandes olhos azuis-claros, tão lindos, permaneceram vazios. Olhou para Celeste:
— Não tenho nome para isso, ainda — disse, deixando cair as mãos nos joelhos. — Gostou, querida?
Celeste hesitou. Depois disse, em voz tensa:
— É... é terrível! Sim, terrível. Como pode pensar tais coisas, Annette?
Os dedos de Annette se entrelaçaram, num movimento convulsivo. Porém ela ainda sorria, embora o sorriso fosse fixo:
— Acho terrível? Mas verdadeiro, não? Tudo que era inocente e adorável, gentil e puro, está finalmente destruído. Isto é o que quero expressar.
Celeste levantou-se abruptamente. As rosas se espalharam a seus pés. Ficou de pé por trás delas, como se fossem uma barricada.
— Não diga isso, Annette — falou em voz baixa. — Não é verdade. Não pode ser.
Porém Annette olhava as rosas caídas, e não se moveu nem falou. Celeste curvou-se e remexeu nas rosas. Espinhos lhe espetaram os dedos. Os olhos estavam opacos, e o coração palpitava de tristeza e temor.
Ergueu-se, por fim, as rosas nos braços. Viu que Annette a fixava agora, gentilmente, tragicamente, e com terna quietude.
— É tão bela, Celeste! — disse, em sua doce vozinha.
Mais se aguçou o medo em Celeste, e o sofrimento.
— Algum dia escreverei uma serenata para você — prometeu Annette. Sorria um pouco.
Celeste olhou as rosas. Pensou:
"Eu não devia ter vindo hoje..." Mas os pedidos de Annette lhe haviam finalmente quebrado a decisão de ficar longe de Robin’s Nest para sempre. Viera para almoçar com a sobrinha. Nessa mesma sala ouvira falar da doença de sua mãe, e aí, mais tarde, ocorrera aquela cena que não podia recordar sem vergonha e angústia. No momento, como tornou a lembrar, o próprio ar quente estava impregnado com a personalidade de Henri. Celeste ergueu a cabeça com um sofrimento súbito e insuportável, e viu que Annette a contemplava com um sorriso triste. Seria possível que Annette soubesse? Não podia ser! Ela, Celeste, não poderia suportar isso!
Celeste gaguejou.
— Não se incomode escrevendo nada para mim, querida. Não estou interessada absolutamente. — As palavras fúteis, sem sentido, lhe chocaram os próprios ouvidos, como uma imbecilidade.
Entrou uma criada com o chá. Celeste a olhou e explicou:
— Não. Devo mesmo ir agora. São quase quatro horas. Peter há de estar cogitando...
Annette se levantou com os movimentos leves e sem esforço de uma criança. Fora-se o olhar estranho e triste. Estava ansiosa outra vez, e procurando agradar:
— Por favor! Há tanto tempo não a vejo... Sempre recusa nossos convites para jantar. Agora não vou deixá-la ir tão cedo.
Sentou-se num sofá, diante do qual a criada colocou a bandeja com o aparelho de chá. Toda a sua aparência estava novamente leve e alegre, cheia de inocente felicidade. As mãozinhas se moviam rapidamente por entre o tilintar das porcelanas e das pratas. Encheu uma xícara e, sorridente, a estendeu para Celeste, que estava de pé desajeitadamente ali por perto, as rosas ainda nos braços.
— Oh! Venha! — disse Annette. Os olhos estavam brilhantes.
Nas últimas três horas Celeste só sentira a inércia pesada e apática que caíra sobre ela desde a morte da mãe. Tinha a vaga sensação de que essa inércia era provocada, uma proteção contra pensamentos que seriam intoleráveis. Forçara-se a mover-se lenta e cuidadosamente, como um homem drogado, pois qualquer gesto rápido, qualquer palavra apressada teriam aberto as grossas cicatrizes que lhe cobriam as feridas com uma crosta quebradiça. Cuidado, cuidado! — sussurrara sua mente. Não pense. Não se recorde.
Todavia, agora a crosta fora quebrada. Sua mente e seu corpo palpitavam em dolorosa união. Ela estava doente de tristeza, desespero e medo. E ainda havia uma doentia e dominadora vergonha. Tudo que queria era fugir desta sala, fugir à visão do rosto lindo e frágil de Annette com os grandes olhos inteligentes que sabiam tanto, e nunca haviam estado cheios de ódio, e eram sempre tão compreensivamente gentis.
Aceitou a xícara que Annette lhe passou, e ficou a olhá-la estupidamente. Annette estivera falando. Vários minutos se passaram antes que Celeste se desse conta, com um vago sobressalto, de que havia silêncio na sala já há algum tempo. Ergueu os olhos. Annette a contemplava com uma expressão singular, cheia de profunda compaixão.
— Creio que não sou lá muito boa companhia... — balbuciou Celeste.
— Sei — falou Annette, suavemente. Pôs a mão na de Celeste: — Mamãe e eu não éramos tão chegadas como você e a vovó, querida. Mesmo assim, foi terrível para mim, quando ela morreu.
Celeste estava quieta. O azul profundo dos olhos de Annette estava muito perto dela, de modo que não via nada mais. Sentia o coração cheio de sofrimento.
Para evitar o olhar de Annette, virou o rosto em outra direção, e seus olhos deram com o retrato de Ernest Barbour acima da lareira. De imediato, uma tal agonia de avidez, desejo e paixão a invadiu que chegou a tremer. Pôs a mão no rosto e pressionou os dedos fundamente na carne, num espasmo de angústia. Esqueceu tudo: apenas via o rosto retratado, que tomara o aspecto, a terceira dimensão, a cor da carne viva.
Voltou-se para Annette e depositou sua xícara:
— Devo ir-me — falou, abruptamente, em voz bastante rouca.
Agora estava tomada de terror. A qualquer momento Henri podia voltar, Henri a quem não havia visto havia quase um mês. Annette não se moveu. Apenas ergueu os olhos, em silêncio, e seu rosto, imóvel, era indecifrável. A xícara estava em seus joelhos, seu conteúdo ambarino captando um raio de sol, de modo que parecia ouro líquido.
Celeste se voltou e mais uma vez juntou suas rosas. O forte perfume a nauseava.
— Peter ficará tão grato... — murmurou. — Não há flores em Endur.
— Eu sei — falou Annette. — Deve ser muito triste.
Ouviram-se passos no terraço, leves e rápidos. Com renovado terror Celeste virou a cabeça, alerta, na direção dos passos. Seu coração, subitamente trovejante, mandou-lhe o sangue para o rosto, de modo que sua palidez foi inundada por uma onda carmesim. Então relanceou os olhos para Annette, ali sentada rígida e imóvel, e que a observava com a mais estranha intensidade.
Mas não foi Henri quem entrou. Foi Antoine, Antoine do sorriso resplandecente, crânio pequeno e lustroso, presença elegante e graciosa. Trouxe com ele aquele ar que Christopher declarara pertencer à Internationale des Salonards. Seus sutis olhos negros reluziram sardonicamente à vista da irmã e da tia, e fez-lhes uma exagerada reverência.
— Senhoras! — exclamou. Atirou-lhes um beijinho. — Bem a tempo para o chá, estou vendo. Mas poderia eu ter uísque e soda, bichinha? — acrescentou, curvando-se para beijar Annette, que passou a mãozinha frágil no rosto dele, num gesto de afeição.
— Claro! Toque a campainha. Não sabia que você viria aqui hoje. Nunca se sabe quando se vai vê-lo novamente... Como vai Papai?
— Papai? — repetiu Antoine, dando à palavra um jeitinho de sutil ridículo. — Oh! Papai, como sempre, está interessado na Lista. Noite passada comeu pâncreas de vitela, e está observando a reação. Você sabe: a velha superstição de que "saliva de leão cura feridas de leão". A pedra mágica na cabeça do sapo cura pedras nos rins — continuou ele, ante o olhar interrogativo de Annette. — Cérebros de cães curam febre cerebral, ou tumores no cérebro. Comer fígado é bom para quem tem mau fígado. E assim, o querido Papai acredita que o pâncreas de um inocente animal normalizará seu próprio pâncreas. Nós observamos e esperamos.
— Você é repelente! — falou Annette, com um sorriso afetuoso. Suspirou: — Pobre Papai! Quando não posso vigiá-lo, tem as ideias mais exóticas e perigosas. Pâncreas de vitela estão na Lista?
— Nunca estudei esse interessante documento — replicou o irmão.
Voltou-se galantemente para Celeste, que continuava de pé, silenciosa. Ele pensou: "Está ficando mais magra e mais pálida... Está descarnada, a linda cadelinha Desejo, sem dúvida. Que olhar devorador tem ela..."
Disse:
— Então, Celeste, como vai o nosso gênio?
Ela se sobressaltou um pouco, e o olhou com dureza, odiando-o, repudiando-o.
— Suponho que se refere a Peter? — respondeu a moça, com o mais completo desprezo. — Peter está bem. Muito ocupado.
A criada entrou, com o uísque-soda. Antoine se inclinou sobre a bandeja e encheu um copo. Aspirou-o delicadamente. Sacudiu a -cabeça com tristeza:
— Seu estimado marido, minha bichinha, tem um gosto execrável para uísque! Um dia desses eu lhe darei uns conselhos. Este cheira a bebida fermentada de banheira, do tempo da Proibição.
— Você é muito grosseiro — falou Annette. — Sabe que Henri bebe muito raramente, ou não bebe de todo.
Antoine sacudiu a cabeça várias vezes, vagarosa e sabiamente:
— Mas deveria, minha querida. Deveria, realmente. Creio que esta é a dificuldade com ele. Um homem que não bebe é perigoso. E, por vezes, também é vulnerável.
Bebeu e fez uma careta:
— Um homem que não foge ocasionalmente à realidade, eventualmente enlouquecerá — observou, erguendo o copo e virando-o nos dedos morenos e finos. — Hitler não bebe. Ergo, é louco. Henri não bebe. Ergo...
Annette riu. O doce e musical trinado de sua risada era como a nota de um passarinho...
— Ergo? — repetiu.
— Ergo, ele é seu marido — disse Antoine, ligeiramente.
Tornou a voltar-se para Celeste. Seus olhos negros, postos nela, faiscavam diabolicamente:
— Estou certo, Celeste?
Ela o olhou:
— Você diz absurdos! — Hesitou, e acrescentou: — Querida, na verdade, tenho de ir embora.
Porém Annette estendeu a mão e apertou a dela calorosa e carinhosamente:
— Oh! Não se vá ainda, querida! Antoine acabou de chegar!
— Enchendo o ar de brilho e de alegria! — observou Antoine.
— Sou um demônio fascinante, não é mesmo, Celeste? Não como nosso pesado vilão, Henri? É verdade que as mulheres preferem os demônios? Ou preferem geleiras como o nosso Homem de Ferro?
— Antoine! — protestou Annette, com uma risada. — Não chame Henri assim!
— Bem, então que tal velho "Cara de Pedra"? — ele perguntou, desmanchando os leves e brilhantes cabelos dela. Sua mão estava extremamente terna. Ela ergueu os olhos para ele, enternecida:
— Você é tão malvado! Tem um nome para todo mundo, não tem? Como me chama, seu miserável?
Ele fez uma pausa. Contemplou-a com uma estranha mudança em suas elegantes feições morenas, e disse:
— Talvez a "Dama de Shalott". Lembra-se? Ela se sentava em frente de um espelho e fiava grandes teias de tecido prateado. Não ousava afastar-se do espelho e olhar o mundo real que ele refletia.
Calou-se por um momento. Virou-se para Celeste tão rapidamente que ela recuou, como para evitá-lo. — Você se lembra, não, Celeste?
— Não — ela falou friamente, os braços apertando as rosas.
— Nem eu — disse Annette. Recostou-se no sofá e sorriu.
— Continue, Antoine.
Ele tornou a encher o copo, mas não bebeu. Fitou seu conteúdo, sorrindo de modo peculiar:
— Havia uma maldição sobre a Dama de Shalott. Estava condenada a nunca olhar o mundo diretamente, mas apenas seu reflexo no espelho. Ela viu o rio verde através dele, perto de seu castelo, e as ladeiras arborizadas, e o tráfego sobre a água, e as torres da cidade distante. Viu Lancelot no espelho, e apaixonou-se por ele. E então... afastou-se do espelho para vê-lo claramente.
Ergueu aqueles chispantes olhos negros e olhou para Celeste, mas falava à sua irmã:
— E quando ela viu Lancelot, sem ser no espelho, morreu. E o espelho rachou de alto abaixo e caiu sobre ela em milhares de estilhaços prateados.
Annette estava muito pálida, mas sorridente:
— Era bonita, essa Dama de Shalott? — perguntou.
— Tão linda que chegava a ser uma lenda — replicou o irmão, tornando a voltar-se para ela. — Sou um demônio caprichoso, não é, bichinha? Sempre poeta... Não se incomode. Nunca olhe fora do espelho. Ele rachará. Sempre racha. — Subitamente, acrescentou para Celeste: — Seu espelho já rachou?
Porém ela contrapôs, com um sorriso forçado:
— Como me chama, Antoine?
Ele a fitou, meditativo, e fingiu concentrar-se nela:
— Outrora eu a teria alcunhado "Inocente no Estrangeiro". Mas, de certa forma, isso já não lhe assenta. — Estendeu a mão e lhe deu uma palmadinha no ombro, alegremente: — Encontrarei um nome para você, não se preocupe. Alguém já lhe disse que seus olhos são como delphiniums (Delphinium = esporinha dos jardins. (N. da T.)) Celeste? Não, estou enganado. São pedras azuis. Punhais azuis. Isso é melhor.
Disse Celeste, olhando-o fixamente:
— Sabe seu próprio nome? Chamam-no "Substituto". — Parou e o olhou de cima abaixo com deliberado desdém: — Mas... não sei. Você sabe: meu pai, seu avô, era um cavalheiro.
Os olhos negros de Antoine se estreitaram até ficarem como fendas brilhantes no rosto escuro e diabólico. Era desagradável o sorriso de Celeste. Ela virou-se para Annette, cuja aflição era evidente:
— Adeus, querida — falou, beijando a sobrinha com súbita gentileza. — Vou telefonar-lhe em breve. Virá almoçar comigo.
Saiu da sala, andando rápida e ereta. Antoine a via afastar-se, com um sorriso virulento. Annette gritou:
— Oh! Antoine! Como pôde ser tão cruel? Agora você a magoou, e eu a amo tanto! Gastei um tempão para convencê-la a vir aqui hoje, e agora ela não voltará...
Ele se sentou ao lado dela, passando o braço por seus ombros infantis. Apertou-a de encontro a si. E estava agora muito grave:
— Queridinha, posso dar-lhe um conselho? Mantenha-se longe de Celeste. Deixe-a em paz. Será melhor para vocês duas.
Caminhando com pés entorpecidos e desajeitados, Celeste entrou em seu pequeno carro, depositando as rosas a seu lado. Saiu da ampla e sinuosa avenida de Robin’s Nest e se encaminhou para a estrada quente e solitária. Então fez alto sob uma grande árvore, parou o carro, descansou os braços no volante. Ficou a olhar para diante de olhos enxutos, durante muito tempo, antes de dar partida ao carro novamente e voltar a casa.
Encontrou Peter descansando após seu dia de trabalho. Ele a recebeu ansiosamente. Porém, antes de beijá-lo, ela pôs a mão em sua testa e no rosto quente. Sua mão era gentil e cheia de ternura. Sentou-se perto dele, depois de colocar num jarro de água as rosas de Annette.
Ele lhe perguntou como fora o seu dia, porém ela sabia que estava apenas sendo polido e afetuosamente solícito. Ele queria que ela lhe perguntasse a respeito de seu trabalho. Ela assim o fez, e ele se inclinou sobre a mesa e pegou um maço de papéis. Agora os olhos exaustos eram patéticos em sua incerta exultação.
— É muito difícil condensar coisas. É uma questão de classificar e eliminar, escolher os pontos culminantes, descartar e encurtar. Quando escrevi meu primeiro livro, tinha um tema só: a formação de guerras pelos fabricantes de armamentos e os políticos venais. O campo de suas atividades era necessariamente estreito e bem definido. A separação entre as nações era bem definida. Mas agora não há limites, não existem fronteiras. Mesmo no campo da indústria, uma coisa se estende dentro de outra num intrincado sistema de subsidiárias. Os industriais são agora os verdadeiros governantes do mundo. Não posso resumir nada. Quando comecei com os Bouchards, descobri esse sistema de raízes alastrado na Bolsa, no Reichsbank, no Banco da Inglaterra, e depois na I.G. Farbenindustrie, e numa quantidade de outros interesses industriais por toda a Europa, no mundo inteiro. É uma rede sinistra. Puxo uma ponta, e toda a estrutura se movimenta. Eu precisaria escrever uma dúzia de livros, e isso seria apenas o começo.
Celeste pegou o maço de papéis. Sentia-se esgotada e doente. Num momento ele se daria conta. Disse, em voz alta e clara:
— Posso ler isto, querido? Agora?
— Claro! — ele replicou, ansioso, e tocantemente lisonjeado. Ficou a observá-la enquanto ela lia os papéis com toda a aparência de concentração. Depois de muito tempo, ela baixou a papelada e o fitou vagamente:
— A história é tão horrível, tão fantástica, que não será acreditada, Peter. Esta é a salvação deles: a enormidade da verdade é inacreditável. Sim, eu tinha uma ideia de tudo isso, pelo que tenho ouvido e pelo que você me disse. Contudo, mesmo eu acho isto inacreditável. Como, então, será aceito pelo povo?
Ele se inclinou para ela com súbita paixão:
— Nos dias que correm, Celeste, a moderação é omitida, a prudência aborrece. Tudo é de tamanho desproporcionado, gigantesco, clamoroso. Se eu escrevesse de modo contido, negligenciasse ou depreciasse fatos, sussurrasse de modo conservador, o livro não teria valor, nem público. Como já disse, realcei os pontos críticos, exibi apenas os crimes mais importantes, só revelei os maiores criminosos. Talvez você ache isso sensacional. Mas só o sensacional atrai a atenção do povo americano. Isto não é um manual de criminologia, Celeste. É uma revelação. Ninguém se lembra dos revolucionários princípios de Lutero. Lembra, sim, que ele atirou um tinteiro no demônio.
Celeste pousou na mesa o maço de papéis:
— Georges publicará isto, Peter?
Ele hesitou, entristeceu:
— Receio que não. Mas deu-me um conselho: sugeriu que eu fale com o editor de Thomas Ingham’s Sons, em Nova York, Cornell Hawkins. Sabe, de repente Georges ficou muito suscetível a respeito da Família. Além disso, está ficando velho. E cauteloso. — Acrescentou: — Irei a Nova York segunda-feira, para ver Hawkins. Francamente, não tenho muitas esperanças. Vai dizer-me, naturalmente, que os leitores americanos não estão interessados. Ou melhor: que as mulheres americanas não estão interessadas. E, neste país, as mulheres formam a maioria dos leitores. Elas preferem "simples histórias de amor" e outras bobagens, especialmente se houver uma "heroína" adorável.
Sua voz se tornara amarga. Empurrou os papéis de súbito com mão desesperada, depois cobriu os olhos por um momento.
— Eu estaria interessada — disse Celeste. — Certamente as mulheres americanas, cujos maridos e filhos vão morrer, também se interessarão. As mulheres, agora, é que ouvem a voz que chora no deserto. Os homens estão ocupados demais ganhando dinheiro. Aprovam qualquer coisa, desde que sejam deixados em paz o tempo suficiente para acumular uma conta no Banco, ou comprar bugigangas. Parece-me que essas bugigangas substituíram o interesse político na América. Se os colonizadores americanos tivessem estado interessados num fluxo diário de bugigangas nunca teríamos tido uma Revolução. O progresso tecnológico matou o desejo do homem comum de participar do Governo.
— Porque isto serve ao amor infantil do homem comum pelos brinquedos — afirmou Peter, com insistência. — E brincar com essas coisinhas destrói a idade da razão, a capacidade de pensar. Sabe, deve haver um desígnio profundo e sinistro em tudo isso.
Celeste estava silenciosa. Mirava através das amplas janelas. Só ao pôr-do-sol Endur era suportável. Então os terrenos vazios, despidos de folhagens e outras obstruções naturais, ofereciam um panorama imenso, amplo e solene, do céu ocidental. Esse céu era agora um lago de chama palpitante, onde flutuava o sol vermelho e incandescente. O gramado liso e vazio tinha um sombreado róseo, como o reflexo dos céus. Naquele lado da mansão, a cavalgada de pontudos álamos estava de pé contra o céu escarlate e imóvel. Imenso era o silêncio, como se toda vida estivesse em suspenso.
Celeste falou apressadamente, numa voz ligeira e sem tonalidade cheia de dor contida:
— Amanhã vamos até Placid Hills, Peter, para ver em que pé está a construção da nossa casa. Odeio Endur! É como um deserto... Além disso, você mesmo notou que Edith e Christopher não têm pressa alguma de voltar à Flórida. Edith sugeriu, esta manhã, que eles poderiam querer voltar a Endur. Claro, ficariam muito satisfeitos de ter-nos como hóspedes permanentes, ela disse: — A boca de Celeste se torceu com amargura. — Nunca pude suportar este lugar!
Peter hesitou. Estava quase a dizer que no dia seguinte desejava trabalhar, e que não estava particularmente interessado na casa em construção em Placid Heights. Mas algo na voz de Celeste o fez ficar silencioso. Pela primeira vez ele a via claramente. Durante semanas havia estado tão engolfado em seus pensamentos, nos planos para o livro, que na realidade nem enxergava a esposa. Agora ficou alarmado. Ergueu-se a meio da poltrona, e olhou penetrantemente seu perfil. Seria apenas a sinistra luz do ocaso que a fazia parecer tão magra, tão doente, tão perturbada e contida? Suas feições estavam afiladas, havia um sombreado escuro sob os ossos da face, e os lábios, habitualmente florescentes e cheios, estavam ressecados e pálidos. As narinas, sempre delicadamente arfantes, agora estavam tão distendidas que pareciam perpetuamente em luta para respirar. Viu que os dedos dela estavam apertados numa atitude de autocontrole.
— Celeste! — falou, alarmado. — Minha querida, você parece doente! Que se passa?
Adiantou-se e cobriu com as mãos as mãos dela, tensas. Sentiu-lhes a firmeza e a frialdade. Mas seu sorriso, quando se voltou para ele, era completamente calmo, cheio de ternura. No entanto, havia uma opacidade em seus olhos, e ela não o olhou diretamente:
— Nada de errado, querido! Talvez eu esteja um pouco cansada. Tem estado muito quente, você sabe. Nem sei dizer-lhe o quão ansiosa estou para que tenhamos a nossa casa.
Pôs-se de pé, subitamente, empurrando-lhe as mãos gentilmente. Riu um pouco, tensa.
— Sabe de uma coisa, Peter? Acho que não posso suportar ver mais os Bouchards. Eles... me asfixiam! Coisa horrível para dizer a respeito da própria família, não é? Antoine chegou hoje, exatamente quando eu estava deixando Annette. Ele é uma criatura horrível, é cheio de insinuações e de malícia. Jamais gostou de mim, e receio, agora, que eu o odeie!
— Insinuações? — repetiu Peter, lentamente, olhando-a atentamente. — Que insinuações, Celeste?
Ela estava apavorada! Os olhos de Peter, fixos nela, eram tão claros e firmes, tão perceptivos... Em seu medo ela não podia mover-se ou falar, e o olhar de Peter a esquadrinhava, a examinava. Ela contemplou seu rosto emaciado e intelectual, suas têmporas com veias altas, e os finos cabelos claros. Estava indefeso, esse homem bom e honrado, que a amava, e a quem ela traíra... Quem podia comparar-se a Peter? Peter, que nunca pensava em si mesmo, cuja única paixão e preocupação era por toda a humanidade, seu sofrimento, seu desespero? Ela se sentiu impura, degradada, imprópria para ser vista por ele. O remorso era uma quentura metálica em sua boca, uma dor ardente em seu coração, que ela não podia suportar. Encarou-o sem palavras, olhos arregalados de tormento.
— Você quer dizer "insinuações" a meu respeito? — ele continuou. Sorriu, tristemente: — E isso importa, querida? Eu nunca me importei, você bem sabe. Não gosto de Antoine. De certo modo, ele me lembra seu pai, e Jules e eu andávamos sempre às turras.
E agora a ofendi — acrescentou, vendo o tormento aumentar nos olhos de Celeste.
— Não! — ela murmurou. — Oh, não, Peter! Você nunca poderia ofender-me.
Caiu de joelhos ao lado dele, mas não o tocou. O olhar dela implorava, apaixonadamente, desesperadamente. Ele estava alarmado e espantado. Então sorriu com infinito amor, e gentilmente lhe tocou os cabelos. Ela deixou cair a cabeça em seus joelhos, e ficou imóvel.
Capítulo 22
— Não, não me compreendeu — falou Peter, com a urgência febril que ia aumentando nele. — Tentei mostrar que toda essa vilania, toda essa conspiração implacável e rapace, todo esse império industrial inter-relacionado que não conhece limites nacionais, nem lealdades, nem idealismo, não operam em separado do resto da humanidade. Tentei mostrar que a indiferença do mundo, a ganância particular e a estupidez, a falta de valores humanitários é que permitiram, e estão permitindo, o crescimento desse império industrial internacional que se inclina a escravizar todos os outros homens. Se esses monstros e vilões, esses conspiradores, foram finalmente bem-sucedidos, e receio bem que o sejam, a culpa recairá sobre todos os homens em todos os lugares... não sobre apenas uns poucos.
"Você só tem de olhar a América. Em certo tempo, nos primeiros dias da República, era a política a preocupação principal do jovem povo americano. Por isso elegemos um Washington, um Adam, um Jefferson, um Jackson, um Lincoln. Cada candidato era examinado minuciosamente por seus eleitores. Tivemos um ilustre desfile de Presidentes. Mas agora abandonamos a política aos políticos. A política opera acima e além do povo, que não quer ser perturbado, mas deseja que o deixem gozar seus esportes e prazeres infantis, e seus múltiplos brinquedinhos... que lhe foram dados para distrair-lhe a atenção. Desde Lincoln, que Presidente tivemos que fosse nobre, um homem de Estado, preocupado com o bem-estar de seu povo e o bem-estar do mundo? Poderá citar Wilson, Sr. Hawkins. Mas os políticos americanos é que o mataram. Tivesse o povo estado desperto, cônscio, e não fosse estúpido e insensível e fascinado pelo movimento da Bolsa e por lucros fáceis e brinquedinhos, Wilson teria sido bem-sucedido em seus planos para regenerar o mundo, despertá-lo para responsabilidades morais e espirituais para com seus vizinhos. Como pode ter êxito um herói se seu povo é ignorante, egoísta, cego e surdo? E o plano de seus novos senhores é mantê-lo assim. De modo que o que vai acontecer à humanidade em futuro próximo é culpa do povo americano, do povo britânico, do povo francês, e não apenas do povo alemão.
— O senhor quer dizer — falou o Sr. Hawkins — que o povo cria seus próprios destruidores e opressores?
— Sim — replicou Peter. Ficou silencioso um momento, apertando as mãos na pasta que continha parte de seu manuscrito. Sua expressão tornou-se sombria. — Depois, há outra questão, em que pensei. Nos primeiros tempos da República, o povo americano era uma raça homogênea. Havia herdado a consciência política e o interesse de seus ancestrais britânicos. E isso, combinado com o "pensamento elevado e o modo simples de viver" dos Puritanos, deu a esse povo um senso de responsabilidade nacional e uma universalidade de percepção. Era o melhor dos povos: eram homens simples, mas inteligentes, com idealismo e racionalidade. Compreenderam que o mundo não podia viver meio-escravo e meio-livre. Por isso é que entusiasticamente apoiaram e ajudaram a Revolução Francesa. Por exemplo: se ainda houvesse a escravidão negra no Sul, duvido muito que o povo americano pudesse ser levado, naquele tempo, à indignação, a uma cruzada contra essa escravidão.
"Por quê? Porque já não somos espiritualmente homogêneos. Grande parte de nossa população se compõe de imigrantes de nações-escravas, que legaram a seus filhos sua filosofia escrava, sua ignorância espiritual e sua preguiça. A instrução em nossas escolas públicas não os esclareceu, ou lhes aumentou a paixão pela liberdade, pelos ideais americanos. Os filhos dos insensíveis alemães escravos, dos camponeses eslavos, dos italianos famintos não podem possuir a alegria ardente da liberdade. Não podem, e jamais poderão sentir esse brilhante entusiasmo pelos direitos do homem que os primeiros americanos acharam a coisa mais preciosa da vida. Não vieram para a América, como os Colonizadores e os Puritanos, por não poder mais aturar o antagonismo da Europa para com seu ódio à opressão, seu desejo de liberdade. Vieram para comer, para devorar, para violar, para destruir. E para trair.
Acrescentou, sombriamente:
— Quando chegar para a América a hora final de prova, como pode essa multidão-escrava ser despertada para defender nosso país, morrer por ele, se necessário? No momento de nosso perigo, não é possível que essa multidão, através da influência de seus sacerdotes, seus senhores, seus exploradores, deserte, traia, e nos destrua?
— Sombria perspectiva... — observou o Sr. Hawkins, pensativamente. — Acredita que isso possa acontecer, Sr. Bouchard?
— Certamente. Você só tem de olhar nossas várias organizações estrangeiras inventadas. A Bund teuto-americana. As várias organizações ítalo-fascistas. Os ucranianos "Brancos". As organizações que deram ajuda e conforto a Franco. Que farão essas na hora final? Como poderá o povo americano sobreviver a elas? Subornaram membros de nosso Departamento de Estado. São financiadas por nossos grandes financistas e industriais. À medida que o ritmo se eleve, depois que a guerra for declarada na Europa, elas se tornarão mais ativas, e mais perigosas. E enquanto agem assim, o povo se tornará mais apático, mais isolacionista, mais desunido. Nisso reside o nosso perigo.
Cornell Hawkins estava silencioso. Reclinou-se em sua antiga cadeira giratória e fitou Peter com seus gelados olhos azuis. Esse descendente dos Puritanos da Nova Inglaterra, de discípulos de Thoreau, de Emerson, era enxuto e esbelto nos seus cinquenta anos, grisalho, ríspido e pensativo. Sua fisionomia calma e reflexiva expressava a força de intelecto que já adquirira fama entre sábios e artistas. O seu não era a ostentação e o brilho de homens inferiores e mais explosivos. Seu intelecto tinha a dispersão, aquela totalidade e fria austeridade de uma paisagem da Nova Inglaterra vista sob os claros céus hibernais. Nada de vago, de confuso, de duvidoso, no seu quieto e penetrante olhar. Possuía aquela tranquilidade e consciência, aquela indiferença patrícia que é a marca do aristocrata. Seu sorriso era lento e de esguelha, porém gentil; seu modo de falar, baixo e hesitante, mas incisivo. Só ria silenciosamente, e bem raramente, e então sua jovialidade desiludida aparecia apenas em seus olhos — com brilho maior e mais azul.
Era sincero e bondoso, pensativo e cauteloso, cortês, mas firme. Possuía a indiferença aristocrática pela elegância de alfaiate — que assinala o plebeu. Raramente estava sem o chapéu um pouco usado, e não fazia poses. Eternamente segurando um cigarro aceso, sua mão era magra e bem-formada. Quando ouvia uma frase que lhe interessava, suas feições adquiriam vida, tocadas de uma luz fria, brilhando com um real prazer.
Peter, sentado à desordenada secretária desse grande e afamado editor, sentia paz. Sua insistência já não era quente e confusa. Era compreendido. Suas incoerências se tornaram coerentes sob essa espécie de olhar glacial. Acreditou que suas palavras desajeitadas não eram levadas em consideração, mas seu pensamento era entendido. As empoeiradas janelas do escritório amplo e desguarnecido deixavam entrar a jorros o sol do verão, fazendo brilhar as partículas de pó em suspenso. Aqui não havia pretensão, nada de grossos tapetes e mobiliário fino para impressionar. Pilhas de manuscritos se mostravam na secretária lascada, cinzeiros transbordantes, desordenadas pilhas de cartas, canetas e lápis espalhados. O assoalho era encardido e desbotado. Cadeiras de pernas rinchadoras encostavam-se às paredes mofadas. Porém, do meio dessa desordem, desse desleixo e indiferença pela elegância, havia saído alguma da mais fina e nobre literatura do mundo. Esse homem tinha classe, nessa sala cheia de rigorosa e quente luz solar, de grandeza e simplicidade. Sabia-se instintivamente que a um aterrorizado autor novato seria dada a mesma cortesia e consideração que ao mais vistoso e popular escritor que se podia gabar de dez ou vinte "grandes tiragens."
Peter sabia que o Sr. Hawkins não estava impressionado pela presença de um Bouchard em seu escritório. Era visto como um homem, como um autor apaixonado, apenas. Se o Sr. Hawkins julgasse que seu trabalho tinha valor, integridade, e colorido, então podia estar certo de merecer uma audição, e talvez publicação. Se o Sr. Hawkins acreditasse que era um estúpido, amador, sem valor e inutilmente violento, não haveria considerações que pesassem a seu respeito.
Algo compacto, indefeso, e medroso em Peter relaxou. Pensou:
"Gostaria que esse homem fosse meu amigo. Não tem rodeios, nem crueldade, nem astúcia. Existe nele uma qualidade mística, uma dúvida e uma busca filosóficas. Nunca tive um amigo! Se ele gostar de mim, então estarei livre. Se considerar meu trabalho, saberei que tem valor."
Por sua vez, o Sr. Hawkins simples e abertamente estudava Peter, sopesando-o. Peter lhe enviara a primeira quarta parte de seu manuscrito uns dias antes. Ele encontrara tempo para lê-lo, entre grande quantidade de manuscritos. Ficara impressionado com a paixão e a sinceridade de Peter. Agora descansava a mão na pilha que havia lido, e pensativamente a desfolhava.
— Diz que seu primo, Georges Bouchard, não quer considerar a publicação disto? — perguntou.
— Não — replicou Peter, brevemente, corando um pouco. — Considerações de família, sabe como é...
O Sr. Hawkins sorriu tristemente;
— É caso de difamação, claro!
— Mas tenho as provas, os documentos! — gritou Peter, com novo desespero.
— Entretanto, verdade não é garantia contra um processo por difamação — disse Hawkins, estranhamente. — Se Jesus fosse vivo hoje, e fazendo suas observações a respeito de certos fariseus, Ele seria processado por meio milhão de dólares. Naquele tempo, apenas puderam crucificá-lo. Naturalmente, processos por difamação são uma forma de crucificação. Temos de ser cautelosos, bem sabe.
Esfregou os lábios finos com a mão, pensativamente, e fixou Peter com o fio azul de seus olhos:
— Não pensou em publicar isto o senhor mesmo, Sr. Bouchard?
A cor de Peter se alterou. Respondeu, rispidamente:
— Não! Pensei que seria péssimo! Há um estigma em publicar o próprio trabalho. Como se ninguém o achasse digno do risco. Meus parentes se divertiriam enormemente, e se sentiriam gratificados, se eu não achasse um editor.
— Mas Georges Bouchard publicou seu primeiro livro, The Terrible Swift Sword?
— Sim, anonimamente — disse Peter, penosamente. — Além disso, a família não o processaria. Isso seria lavar a roupa suja em público. Especialmente porque assim meu anonimato teria sido exposto.
— E apenas considerações de família fazem com que ele não publique este? Por que, então, publicou o seu primeiro?
Peter ficou silencioso por alguns momentos. Mordeu o lábio. Então falou, hesitante:
— Francamente, não compreendo. Pensei que alguma pressão forçara o velho Georges: é só o que poderia explicar isso
A cadeira de Hawkins rinchou quando gentilmente se balançou nela. Acendeu outro cigarro, de onde puxou algumas fumaças meditativamente. Peter o observava com profunda ansiedade.
— Olhe, tem de dizer-me uma coisa, Sr. Hawkins: fora suas revelações, meu livro tem algo que o recomende? É amadorístico, mal escrito?
— Não, não é amadorístico — falou Hawkins, pausadamente. — Tem drama, e fogo, e cores fortes! O que é raro em escritos informativos. Sou um antigo jornalista, e querem que exerçamos contenção em nosso trabalho. Temos de adquirir aversão a adjetivos. — Falou incisivamente, em sua voz calma e hesitante. Depois sorriu: — Entretanto, gosto de adjetivos. Não gosto do moderno modo rígido de escrever, que substitui por pontos de exclamação e obscenidades a boa perícia profissional. Não há exuberância ou paixão entre os escritores modernos. Acham isso vulgar, ou coisa assim. Riqueza de frase e opulência de adjetivos... são "vitorianos". Muito luxuriante, acreditam. Pessoalmente, lamento isso. A rigidez pode ser decadente, o senhor sabe, especialmente a moderna rigidez autoconsciente. Só quando pura e sincera a rigidez é sadia e cheia de beleza.
Peter ouvia, e aumentava seu senso de bem-estar e liberdade:
— Então, pode considerar a publicação disto?
Mais uma vez, Hawkins sorriu estranhamente:
— Serei franco, Sr. Bouchard. Seu nome tem de ser tomado em consideração, claro. Num livro, seu nome aumentará a possibilidade de grandes vendas. Quero que compreenda isso, para que não pense que tomamos seu livro, se o fizermos, sob falsos pretextos. Os editores são negociantes, também. Vendemos livros. Devemos ter lucro, ou deixar os negócios. Isto é que é tão difícil de compreender, para o autor comum. Ele roseamente acredita que um livro deveria ser publicado por seus méritos... e o seu próprio livro, claro, sempre tem uma porção de qualidades, a maioria "artísticas"... Arrogantemente desdenha o fato de que seu livro provavelmente não venderá. Se mencionar isto, ele o favorecerá com um olhar de soberbo desprezo. Que importa isso?, pergunta. O público precisa que livros de mérito lhe sejam empurrados garganta abaixo, para seu próprio bem. Acha que os editores deveriam ser os cruzados de uma nobre causa. Superóleo-de-fígado para um público que gosta de pirulitos. Felizmente para seus acionistas, os editores discordam dessa opinião. Publicamos livros que pensamos, ou esperamos, que venderão: aí todo mundo, do impressor ao autor, ficará feliz.
Deteve-se. As faces emaciadas de Peter coraram de mortificação. Hawkins o observava atentamente. Sorriu um pouco, embora estivesse comovido pela expressão de Peter:
— Não estou falando pessoalmente, claro. Dinheiro não é consideração em nosso caso. O senhor é um cruzado. Mas escreveu de modo interessante, e com força. O que tem a dizer é grave e significativo; melhor ainda, é bem escrito. Acho que pode ser popular. Não posso garantir. Mas penso que pode. E seu nome despertará interesse preliminar entre os críticos, e o público. Penso que é chegado o dia em que o público estará mais interessado em não-ficção do que em ficção. Meus competidores não concordam comigo nisso. Pensam que a história de amor é a coisa mais importante para escrever. Chamam a isso: "interesse humano". Como se não houvesse interesse humano em nada que não seja um par de adolescentes e seus sentimentos mútuos.
Ficou silencioso um momento, depois continuou mais fortemente:
— Acho que há interesse humano no que escreveu. O mais terrível e pressago interesse humano. Também acredito que os leitores americanos estão "crescendo". Acredito que se deve dizer agora aos americanos quem são seus inimigos, e por que devem defender-se. Sabe, sou americano.
Tornou a sorrir, um tanto tristemente. Mas a frieza de seus olhos se desfez em bondade. Levantou-se:
— Vamos almoçar. Falaremos mais a este respeito. Tenho de discutir seu livro com o Sr. Ingham, primeiro, claro. Em poucos dias lhe darei uma resposta.
Enquanto Peter acompanhava o editor no elevador rangente, mais uma vez experimentou aquela sensação de libertação, de conforto, de paz, porque tantos haviam passado na presença desse homem grande e simples que tinha apenas bondade para o sincero, e simpatia para o honesto, porém o máximo desprezo para com o afetado e o néscio.
Livro Dois - O Começo das Dores
"Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em diversos lugares... Tudo isso é o começo das dores."
Mateus XXIV: 7,8
Capítulo 23
Armand estava só em sua grande casa cheia de ecos. Estava sempre muito só. Vagueava pelos imensos quartos, fracamente iluminados, os cantos cheios de sombras como teias, os pés hesitantes sem lazer som devido aos grossos tapetes. Era um homem anulado por uma integridade que nunca fora o bastante. Em algum lugar, nos vagos recessos do seu íntimo, sabia disso, mas estava apenas confuso, espantado. Tinha ido longe, e praticado muito mal. Sofismara petulantemente apenas nas pequenas coisas, mas aí com aguda veemência, sentira então um suavizante de sua consciência, um afrouxamento de tensão. Assim, por muitos anos se iludira achando-se melhor que sua família, e que era um homem intrinsecamente bom. "No coração — diria a si mesmo — sou realmente um homem bom."
Mas agora a fórmula de encantamento já não agia. Ele a repetia vezes sem conta, agora que estava velho, mas não lhe trazia conforto. Estava face a face consigo mesmo, mas ainda não podia mirar-se no desapiedado espelho mantido diante de si.
Certa vez gritara para si mesmo:
"Se ao menos eu fosse completo!" Queria significar que desejava nunca ter tido aquela pequena integridade que tanto o atormentara toda a sua vida e nada lhe trouxera, nem ao menos um pouco de paz.
"Ninguém vem visitar-me..." — teria pensado, enquanto ia, inquieto, de sala em sala. — Embora eu ainda possua cinquenta e um por cento das ações de Bouchard." Ainda não chegara ao ponto de poder sorrir disso, ou explodir em riso. Ainda era uma questão, para ele, de queixosa e solitária cogitação. Repetia vezes sem conta; "Cinquenta e um por cento!" E depois sacudia as moedas que trazia no bolso e, com satisfação infantil, ouvia o seu tilintar.
"Cinquenta e um por cento...", murmurava, depois que o tinido das moedas o acalmava um pouco. E sorria. Enquadrava os ombros gordos e curvados e olhava desafiadoramente em torno de si, embora nada a não ser paredes silenciosas seus olhos encontrassem. Então, ainda era poderoso! Os cinquenta e um por cento se interpunham entre ele e a horripilante realidade. Nesses momentos mais otimistas podia iludir-se de que o ciúme e a inveja é que o mantinham tão solitário em sua vasta e vazia mansão. Os parentes o odiavam por seu poder financeiro. Davam vazão a seus ressentimentos evitando-o.
Por vezes ele espiava através das janelas escuras, que refletiam as lâmpadas espalhadas, e olhava lá embaixo a estrada silenciosa que lhe atravessava o parque. Às vezes prestava ouvidos ao som de algum carro, ou de pneus cantando no asfalto... mas não havia som: apenas o vento. Ia para outra sala, olhava através de outras janelas que revelavam o rio escuro e faiscante e o distante cintilar de luzes do outro lado. Um vapor apitava; as árvores perto da janela chocalhavam asperamente. Muitas vezes ele ouvia o apito de um desolado trem, o eco de sua passagem se o vento estivesse em sua direção. A mais fria e solitária das luas batia nos peitoris das janelas ou tocava com sua luz prateada suas bochechas gordas e desanimadas. Era o rosto de um fantasma que espiava esperançosamente através das vidraças polidas.
Movendo-se sem barulho pelos grandes vestíbulos acarpetados, os criados tinham rápidas visões desse velho gordo indo de sala em sala. Ele relanceava o olhar sobre eles sem vê-los, lambia os lábios, franzia a testa, e caminhava. Eles o viam andar, viam como se sobressaltava — como se pensasse ouvir o tilintar de um telefone, ou passos nas calçadas, fora. Porém ninguém, a não ser a filha, lhe telefonava, e isso habitualmente de manhã. Por vezes ele abria a porta do seu quarto e vinha para o vestíbulo, julgando ter ouvido uma voz. E depois a porta voltava a fechar-se, e o silêncio o rodeava...
Não tinha amigos. Nos primeiros anos, fora muitas vezes convidado a jantar nas casas dos parentes, ou conhecidos. Mas isso, quando era presidente de Bouchard & Sons. Sua conversa nunca fora brilhante. Era tímido e desconfiado, obtuso e sem imaginação. Como a maioria dos homens com temperamento igual ao seu, dava impressão de medo, até mesmo de covardia. Ninguém jamais se preocupara com ele o bastante para descobrir por que estava atemorizado, ou o que tanto o aterrorizava. Ele mesmo não o sabia. Quando lhe pediam uma opinião, pesquisava o rosto amável do perguntador com seus olhinhos negros salientes, como se conjeturando que ardilosa vilania, que desejo de apanhá-lo numa armadilha, que motivo dúplice havia inspirado ainda a mais inocente e polida das indagações. Depois respondia cautelosamente, observando cada expressão no rosto do interlocutor que lhe pudesse revelar que se havia tornado vulnerável ou ridículo. Em consequência, suas palavras eram sempre sem conteúdo, pesadas, sem cor ou vitalidade. Se por vezes esquecia de si mesmo, e replicava espontaneamente, movido por alguma emoção, depois gastava longas horas ansiosamente examinando sua resposta, a ver se teria dito algo que pudesse ser usado contra ele. Mesmo nos primeiros tempos, raramente discutiu política, acreditando — em seu patético egotismo — que suas palavras eram sopesadas e gravemente anotadas, e mais tarde citadas em conferências como chave para uma "tendência". Não havia alívio ou consolo para ele em livros, pois sua única absorção na juventude fora sua Companhia. Não compreendia música, nunca dera importância a isso: era coisa de efeminados, própria apenas para aqueles europeus decadentes que não tinham "Companhia" para interessá-los. Não gostava sequer de golfe, esse último recurso dos ignorantes homens de negócios americanos.
Só lia o jornal de propriedade da família, o Windsor News, e o Times de Nova York. Pelo Times conseguiu alguns conhecimentos do mundo; fora a tremenda biblioteca de notícias, ele pôde obter alguma consciência do mundo dos homens, de política, de História. Mas nunca lia nada além dos relatórios das cotações das ações na Bolsa, notícias financeiras, obituários, e um ou dois dos editoriais mais conservadores que os mais esclarecidos evitavam. Agora que fora afastado de sua própria Companhia, dificilmente lia alguma coisa a não ser as seções financeiras e comerciais, e então apenas para observar a Bolsa de Valores e regozijar-se com a alta das ações Bouchard, ou desesperar-se com seu declínio.
Por algum tempo ficara muito animado a respeito da Europa, antes do fiasco de Munique. Sem ser convidado, fora à casa dos parentes e lá se agarrara aos homens — que entendiam de negócios. — E exortara, discutira e se encolerizara por horas. Porém eles logo descobriram que seu conhecimento era escasso, seus preconceitos ignorantes, embora veementes, e infantil sua excitação. Mesmo os jovens e as mulheres não puderam deixar de rir-lhe no rosto. Desde então não sabia praticamente de nada. Encerrara-se em sua solidão e infelicidade, e olhava pelas janelas. Nada mais tinha para dar a ninguém. Já não possuía poder com que subornar ou coagir. Não era dotado de dons pessoais que o fizessem desejado por si mesmo. Não tinha amor ou temperamento cálido, nenhuma preocupação pelos outros homens, que pudesse torná-lo benquisto. Tinha apenas duas moedas tilintantes, seus "cinquenta e um por cento", seu diabetes para fazer-lhe companhia nos longos dias e nas noites infindáveis.
O seu "médico da corte", apesar de seu enorme adiantamento em dinheiro, achou-o insuportável naqueles dias. Pois Armand chegara à última extremidade: chamava o médico ao telefone pelo menos quatro noites por semana, para discutir com ele gravemente algum novo sintoma suspeito em sua moléstia. As conversações demoravam pelo menos meia hora de cada vez. Nessas ocasiões o velho rosto balofo, intumescido, ficava vivo e iluminado, os olhos brilhavam. Sentava-se na beira de uma cadeira, agarrando o telefone, a voz tremendo de ânsia absorta, e até mesmo fanatismo. Que achava daquela nova insulina concentrada sobre a qual havia lido na mais recente edição da revista da Associação Médica Americana? Havia algo a tal respeito? Afirmava a revista que se vaticinava que seria necessária apenas uma injeção por semana. Que há de errado com vocês, moços? Que há de errado com as pesquisas? Estão deixando morrer toda a coisa?
O médico — homem realmente brilhante interessado em pesquisas — na verdade pudera obter, mediante lisonja, muitos milhares de dólares do apertado bolso de Armand para certa pesquisa de laboratório na qual jovens médicos, talentosos e devotados, sem meios particulares, trabalhavam dia e noite para descobrir novas curas e novos remédios para aliviar as agonias de homens como Armand Bouchard. Entretanto, o dinheiro não fora suficiente, pois o médico informara a Armand, nos primeiros meses de esperança, que o laboratório precisava de milhões. Armand não podia entender isso. Queixou-se lamentosamente a respeito da "ganância" desses jovens pesquisadores. Por que não se contentavam em trabalhar abnegadamente pela salvação da humanidade? Por que não compreendiam que eram realmente "consagrados"? Por que se importavam com "gordos" salários? Não era bastante servir à humanidade? Quando o médico explicou que os jovens tinham famílias, obrigações, Armand sentiu-se ultrajado. Famílias e obrigações, na verdade! Como ousavam os bem-dotados sacerdotes da ciência médica ter tais coisas? Eram traidores, exploradores! A ciência médica deveria ser uma fraternidade monacal, onde homens dedicados ao céu deveriam gastar suas vidas em devoção, em nada pensando a não ser no serviço. Serviço! — Armand repetia, de má vontade fazendo outro pequeno cheque e atirando-o ao seu médico. Quando este mencionou a Fundação Rockefeller, Armand sorriu acidamente e disse que, graças a Deus, ele não tinha nada na consciência. Então o médico o olhou sombriamente e perguntou silenciosamente: "Não?"
O médico era corrupto e voluptuoso, não era nenhum santo abnegado. Mas às vezes fitava Armand por longo tempo e cogitava se as vidas de homens assim valiam o trabalho dos jovens pesquisadores de olhos brilhantes naquele laboratório pobre e quente. Pensou na exaustão deles, nas suas mãos magras e ansiosas, sua paixão pela análise, sua alegria na descoberta. Tudo isso seria primacialmente destinado a prolongar a existência inútil e miserável de velhos gordos com moléstias causadas por mentes fatalmente afetadas? "Quem pode atender a uma mente doente?", citava para si mesmo. Pois estava chegando a acreditar, relutantemente, com muitas iradas rejeições, que as moléstias da carne eram apenas manifestações externas e visíveis de doenças da alma. Descobrira — com demasiada frequência para sua própria paz de espírito — que o sofredor de doenças do coração, de diabetes, de câncer estava enojado do mundo, e da vida, e de si próprio. Seriam essas moléstias apenas um desejo subconsciente de morrer, de obliteração de uma mente que incessantemente o acusa, uma ânsia pela tranquilidade eterna de um insone desespero? A carne luta por sobreviver. Mas, nos olhos do sofredor, muitas vezes o médico percebe a agonia de uma alma que nada mais deseja... a não ser a escuridão e o nirvana, e fugir à consciência... As doenças que mutilam, também: não serão essas o sinal de uma alma que mudamente implora ser aliviada de participação ativa em um mundo que febrilmente trabalha para nada?
Era consciência, ou desespero, ou sofrimento que adoeciam a alma, e adoeciam a carne. Isso, o médico estava começando a acreditar. Estava revoltado, zombava de si mesmo por tornar-se um crente da Ciência Cristã, ou outras "superstições". Mas a evidência ia crescendo. Achou-se, completamente contra a sua vontade, hesitante com uma nova Bíblia que comprara recentemente, e iradamente lendo os testemunhos do Novo Testamento das curas dos doentes, feitas por Jesus. "Toma a tua cama e anda" (Novo Testamento, S. Joâo V-3-8. (N. da T.)) Jesus advertiu o paralítico. "Toma tua cama, tem coragem, tem virilidade, enfrenta o mundo da realidade e o combate com fé e bravura", Ele deve realmente ter querido dizer.
Para o médico, o mundo se estava tornando cheio — apesar de sua "esclarecida" resistência — de milhões de almas angustiadas e desesperadas que não podiam suportar a existência em lugar tão horrível. Também observou que, à medida que aumentava a tensão entre as nações, e o ódio florescia como uma flor sangrenta em todos os habitantes do homem, e o medo explodia como um gás envenenado através das cidades, as moléstias aumentavam. Morte e o desejo de morrer estavam golpeando as almas dos homens como a ferrugem ataca as árvores frutíferas, enegrecendo-as, murchando- as, matando os ramos floridos.
Outrora estivera a ponto de dizer a Armand:
"Dê milhões, não milhares, para meu laboratório de pesquisas, compreendendo que ajudará a ciência a descobrir novos métodos de curar doenças — não apenas para você, mas para milhões de outros homens. Então talvez se cure." Mas sabia que suas palavras seriam recebidas com a maior indignação, ou consideradas com total incompreensão. Queria arrancar-se a tais especulações com uma palavra irada, ou um gesto de desdém. Ia para seu laboratório de pesquisas, e cautelosamente e com circunlóquios, daria sugestões a suas especulações. Descobriu, com grande surpresa, que os jovens médicos sabiam tudo a tal respeito, e por sua vez também especulavam muito.
De modo que, com maior gentileza que a habitual, ouviu as ansiosas perguntas de Armand, suas sugestões, as longas e tortuosas discussões sobre sua doença. Sob esse fluxo de palavras, procurava uma pista sobre a causa real do sofrimento desse homem idoso, a causa real da recusa de suas glândulas para trabalhar. Finalmente, conseguiu a pista: Armand vivia num medo crônico. De quê? De si mesmo? De outrem?
A Lista era agora o evangelho de Armand, a mágica que lhe prolongava a existência. Mas não a estava prolongando, o médico sabia. Dia a dia ficava mais fraco. Morrer, o desejo de sua alma, em breve daria fim à vida de seu corpo. Por que isso?
O médico podia haver recebido uma pista certa noite em que Armand, em seus solitários aposentos, ouvia rádio.
Armand detestava rádios. Alguns anos antes nunca se poria a ouvir o fluxo que se movia pesadamente pelo éter. Mas agora, em seu solitário final, ele ouvia. Da Europa, das capitais do mundo vinham vozes ansiosas, vozes exultantes, aterrorizadas, estimulantes, todas preocupadas com uma só coisa: a decadência da civilização, a guerra próxima e inevitável, as torturas e agonias da humanidade face a face com a sua dissolução autoconstruída. Algumas das vozes censuravam Hitler, instavam para que o mundo se levantasse contra esse louco criado pelos poderosos, pelos concupiscentes, pelos que odiavam a raça humana. Declaravam algumas das vozes que os "provocadores de guerra britânicos, americanos ou franceses é que estavam trazendo essa condenação sobre todos. Outras denegriam os interesseiros, os exploradores, os velhacos, os conspiradores, os ambiciosos. Eram censurados os pacifistas que haviam mantido a América desarmada; os "fabricantes de armamentos", declaravam outras, haviam conspirado o horror que estava chegando — por amor a seus lucros. Nenhuma proclamava que todos os homens em todos os lugares é que tinham concebido, tolerado ou consentido na catástrofe em ascensão. Nenhuma afirmou que nas almas dos homens é que a culpa jazia, sangrenta. A loucura germânica ali estivera para que qualquer pessoa pudesse vê-la, mas ninguém a revelara ao mundo. Alguns a haviam visto, mas calaram-se, esperando tirar proveito do mal.
Agora, só tumulto, desordem vinha do ar, e através de milhões de rádios em lares indefesos. Mas nenhuma voz gritou: "Vocês, que ouvem, são culpados disto!"
Armand ouvia, encolhido em suas salas escuras, inclinando os ouvidos para o instrumento, a claridade difusa que vinha dele sendo a única luz a iluminá-lo. E, enquanto ouvia, seu rosto se contraía, e franzia as sobrancelhas grisalhas muito juntas. Seria uma súbita fraqueza e desintegração, uma febre entorpecedora, uma angústia sem nome.
Ele sofria como sofre um animal, com uma surpresa embotada ante sua própria dor silenciosa, com incompreensão. E com isso havia um horror doentio e uma culpa informe. Por vezes considerava a si mesmo na obscuridade difusa, e se dizia:
"Onde estive durante todo esse tempo? Que aconteceu?"
Não tinha imaginação, nem a capacidade de analisar-se ou a outros. Apesar disso, dentro dele crescia um enorme senso de culpa, de tal modo que sentia o sangue circular mais rápido com uma espécie de terror. Onde estava sua culpa? Não sabia. Mas o mal-estar crescia nele. Começou a ver o rosto de Jules Bouchard no dial iluminado do rádio. Era uma face sorridente, enigmaticamente exultante, sutil e irônica.
Quando algum comentarista histericamente gritou contra os "fabricantes de armamentos", Armand se pôs de pé e berrou: "Isto é um absurdo! Como se um punhado de homens como eu tivesse algo a ver com tudo isso!" Sentia a veracidade de suas próprias palavras e ficou momentaneamente confortado. Que insensatez acreditar que, alguns homens realmente tratavam de criar guerras para obter lucros! Como ousavam os cretinos enfatizar tais idiotices! O pior é que os ignorantes e os estúpidos podiam acreditar nisso...
Sentou-se de novo, tremendo com a primeira raiva forte que sentira em muitos anos. Desligou a furiosa irrupção de palavras, e sentou-se arquejante na obscuridade, apertando os punhos e batendo com eles nos gordos joelhos. Onde estavam Henri, Christopher, Antoine, Francis, Emile, Nicholas — toda a maldita família? Por que permitiam todo esse infernal absurdo? E, então, viu-lhes os rostos, a passar lentamente diante dele, e ficou silencioso.
Começou a falar em voz alta, lentamente, pesadamente, incredulamente:
"Sim, naturalmente! São culpados. Todos somos culpados. Não apenas nós — não os Bouchards apenas. Mas gente como nós, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Pessoas como nós, que fizemos Hitler, que o armamos, que embarcamos para ele material de guerra, que lhe emprestamos dinheiro, que conspiramos com ele, contra nossos próprios países, nosso próprio povo! E por que o fizemos?"
Franziu as sobrancelhas, e mordeu os lábios na escuridão. Havia nele um tremor tão profundo que vagamente chegou a pensar que a casa toda oscilava numa vasta agitação. Apertou os punhos sob o queixo e se encolheu na cadeira, figura grotesca com uma grande cabeça parcialmente coberta por cabelos grisalhos. Nessa obscuridade, podia parecer um gordo gnomo, a concentrar-se como não o havia feito por muitos anos, a mente doendo e palpitando, coração agitado.
Recordava todos aqueles anos em que fora Presidente do Conselho de Bouchard & Sons, após haver cedido a presidência a Henri. Mesmo agora, em retrospecto, sentia o estremecimento profundo, a súbita saudação, o impulso de lutar, que sentira durante o comparecimento às reuniões do Conselho. Lembrava-se como seus ouvidos de súbito retiniam, ficavam surdos, de modo que as palavras e declarações dos outros eram indistintas, e sem sentido. Porém ele ouvira, a despeito de si mesmo, e o que ouvira lhe voltava agora tão vividamente que parecia escrito em letras de fogo nas paredes escuras da sala. Sua mente subconsciente ouvira e recordava — e agora era como uma mão a abrir livros inexoráveis para que lesse.
Rostos, rodeados de uma luz sinistra, flutuavam diante dele. Viu-lhes os sorrisos, as sobrancelhas erguidas, ouviu suas vozes abafadas. Lábios se moviam sem som, depois subitamente trovejavam, de modo que ele captava cada palavra, cada distinta e sinistra palavra, antes que se desfizesse de novo no silêncio.
As vozes falavam de dinheiro, alimentos, petróleo, algodão, chegando à Espanha de Franco depois do colapso e ruína da República, um fluxo constante que fora recusado ao valente e faminto povo que sacudiu o poder esmagador da Igreja e a exploração do Estado. Ouviu a voz de seu parente, Hugo Bouchard, Assistente do Secretário de Estado, instando para que metais preciosos e material de guerra fossem enviados a Franco, pedido concedido pelos Bouchards e os presidentes de suas subsidiárias. "Naturalmente — disse a voz de Hugo, soando aguda e clara na quente obscuridade da sala da Armand — existe a questão de certos radicais: por causa deles Franco necessita de tão enormes quantidades. Pode-se até indagar se muito desse material não está se encaminhando para Mussolini e Hitler. Agora nós, rapazes, empregamos homens de relações públicas e de publicidade muito dispendiosos, e depende deles aquietar a coisa. Podem fazê-lo. Já realizaram trabalhos maiores e mais importantes que isso. Serão loucos, ou pior, se jamais transpirar as reais quantidades que enviamos a Franco. Que diabo! Estamos ajudando Franco desde 1936 — vocês, rapazes, em posições ativas, e eu e alguns amigos no Departamento de Estado. Não vamos parar agora. Hitler precisa..." e a voz desceu a um murmúrio, perdeu-se, pois foi nesse momento, anos atrás, que Armand murmurara algo de incoerente e fugira da sala, seguido pelos olhos zombeteiros dos outros.
Agora a voz de Christopher, vitriólica e incisiva, ergueu-se na escuridão:
"Espero que não estejamos a iludir-nos a respeito da imensidão da luta que está por vir na América, haja ou não guerra na Europa. O trabalho está rapidamente escapando ao controle, sob esta Administração. Com todos os diabos! Temos de trabalhar, e sem demora! Francis, o que está fazendo com os sindicatos?"
A voz de Emile:
"Hitler pode ganhar a próxima guerra. Digam-me, rapazes, o que têm sido seus embarques para Hitler, através da Holanda e da América do Sul? Tenho aqui os meus algarismos, de Bouchard & Sons, mas não estou muito familiarizado com o trabalho de vocês. Henri, o que há com esses cartéis? Que há em números de produção?"
A voz de Jean:
"Digo-lhes que o fascismo é a única proteção que temos contra o trabalho. Alguns de vocês cogitaram a respeito da reação das massas americanas a tal regime. Mas digo-lhes que agora o povo não quer pensar. Quer ser conduzido, governado, que se pense por ele, e até ser dirigido, dirigido firme e fortemente ‘para seu próprio bem’. Pensam que a multidão americana é mais inteligente que a germânica ou a italiana? Se pensam isso, são uns idiotas."
A pomposa voz de pároco de Alexandre:
"Temos de ter na América um Governo de Gerentes. Gerentes de Negócios. Ora, tenho a aprovação bíblica para isso...!"
A voz do Presidente da Associação Americana de Industriais: "Digo-lhes que isto não vai ser fácil. Interessante dizer que destruímos a democracia na América. Mas vocês devem lembrar que existe um barulhento grupo minoritário todo a favor da democracia jeffersoniana, e se forem bastante eloquentes haverá perturbações por aqui. Especialmente se houver guerra. Somos fortes, admito. Mas o que faremos, na prática?
"Vejam os fatos: idealistas tipo ‘filhinhos-da-mamãe’; professores marxistas; políticos do New Deal; jornalistas vociferantes e bêbados já estão mugindo e arruinando a confiança pública em nossa estrutura de negócios. Somos ‘fascistas, conservadores, reacionários e Tories’. Conseguiram adeptos, e isso pode crescer entre as massas estúpidas. Veja os benefícios trabalhistas, desde que aquele tratante está na Casa Branca! Acham que o trabalhismo vai renunciar facilmente a seus direitos, e quietamente deixar que destruamos sua danada e preciosa democracia? Se pensam assim, são uns malditos asnos!"
Novamente a voz macia e risonha de Jean:
"Podemos dar-lhes algo mais colorido. Já organizamos fortes minorias, reacionárias e seguras. Qual é essa sua nova organização, Chris, para quando a guerra estalar na Europa? America Only Committee? Teremos cinco milhões de membros de um dia para o outro, e todos odiarão qualquer coisa que lhe mandemos odiar: ‘provocadores de guerras’, judeus, homens de Estado radicais, idealistas de nariz sujo. Qualquer coisa. Enquanto estão odiando tão vigorosamente, podemos dar a conhecer nossos próprios Guardiães da América, legais e conciliadores sucessores da Ku Klux Klan. Não esqueçam, também, que temos a Legião Americana com seu ódio pelos comunistas. Tudo que precisamos agora é de alguns bons slogans, e nosso pessoal da publicidade deve ter capacidade de encontrá-los. Temos comitês suficientes, acho, para entontecer e desorganizar as massas malcheirosas o tempo suficiente para deixar Hitler vencer na Europa e manter a América fora do barulho. Depois, quando Hitler tiver posto em ordem o equilíbrio da Europa lhe pediremos que nos dê assistência aqui. É o mínimo que ele pode fazer, depois de tudo que fizemos por ele."
E então a voz de Antoine, acompanhada por seu sorriso moreno e resplandecente:
"Vi o bastante na França, entre meus elegantes parceiros, para saber que a França, com todo o seu fervente patriotismo e sua ‘devoção’ a liberté, égaliíé, fraternité, cairá facilmente durante os primeiros meses do assalto germânico. Está tudo decidido lá. Um fraco show de resistência, para afastar as suspeitas públicas, depois uma situação ‘insuportável’ que terminará na capitulação imediata. Os líderes franceses fizeram seu trabalho excelentemente, mesmo em país tão homogêneo onde as massas professam adorar a França. Será ainda mais fácil na América. Quem ama a América? Descendentes de alemães, de italianos, de poloneses, e só Deus sabe que outra escória humana? Também, o povo americano é o mais estúpido e ignorante do mundo! Permitirá que o fascismo ganhe ascendência aqui muito mais depressa do que o francês o faria. Concordo com Jean. Uns poucos comitês e organizações ativos, todos odiando alguém ou alguma coisa com a sincera delícia que anima o homem americano de Neandertal, alguns linchamentos provocados, extorsões, processos, e um bom esparrame de rico e vulgar ridículo — e está feito o trabalho. Trabalhismo? O trabalhismo é por demais iletrado, ganancioso demais, demasiado grosseiro e animalesco para erguer uma mão. Quando assumirmos o Governo sob o novo nacionalismo, o trabalhismo simplesmente adorará trabalhar doze horas por dia apenas para manter cheia a barriga."
"Além disso, não temos a Igreja, na América, com seu evangelho de trabalho, procriação, família, obediência e ignorância para as massas? Deus sabe que subsidiamos isso bastante! Depois, temos nossos jornais, nossas cadeias. Creio que justificarão nossa fé."
.
.
CONTINUA
.
.
As vozes chegavam rapidamente agora aos ouvidos de Armand, malévolas, exultantes, rindo, conspirando. E agora a voz de Douglas Flannery, editor do Clarion de Detroit, que se gabava de ter quatro milhões de leitores não só na área de Detroit como muito além disso:
.
.
CONTINUA
.
.
As vozes chegavam rapidamente agora aos ouvidos de Armand, malévolas, exultantes, rindo, conspirando. E agora a voz de Douglas Flannery, editor do Clarion de Detroit, que se gabava de ter quatro milhões de leitores não só na área de Detroit como muito além disso:
"Meu jornal ganhou mais de um milhão de leitores durante os últimos seis meses. Isso não lhes significa nada, senhores? Vergastei tudo: do New Deal à Inglaterra, França e Espanha, dos líderes trabalhistas aos comunistas, e orgulho-me do recorde. Enfatizei que precisamos em Washington de homens de negócios, sólidos e conservadores, que coloquem as necessidades da América antes das necessidades marxistas dos radicais europeus. Não tenho receio!" — continuou triunfantemente a voz pomposa e retumbante. — "Sou o único jornal da América que ousa atacar os judeus e os negros; e no caso de alguma insatisfação ou confusão na América — que possa interferir com seus planos, cavalheiros — um pogrom, uma epidemia de linchamentos pode facilmente ser arranjada. Isso distrairá a mente do público. Vejam meus colunistas! Posso dizer que esses rapazes estão fazendo maravilhosamente o seu trabalho. Se Roosevelt tiver a audácia de apresentar-se para um terceiro mandato — o que ele não fará, claro! — nós o demoliremos abertamente.
.
.
.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_HORA_DERRADEIRA_2.jpg
.
.
.
Na escuridão, Armand subitamente pôs as mãos nos ouvidos, e balançou-se desoladamente em sua cadeira. A testa enrugada estava úmida e fria como gelo.
.
.
.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_HORA_DERRADEIRA_2.jpg
.
.
.
Na escuridão, Armand subitamente pôs as mãos nos ouvidos, e balançou-se desoladamente em sua cadeira. A testa enrugada estava úmida e fria como gelo.
Agora as vozes se tornaram uma confusão no quente silêncio da sala, vozes de conspiração contra a América, contra o mundo, contra toda a humanidade. Vozes de ganância, crueldade, rapacidade e imensa astúcia. Vozes que falavam do rearmamento da Alemanha, dos camaradas conspiradores na Inglaterra e na França, dos conservadores, dos Tories, dos conspiradores nas classes rurais inglesas e na Riviera francesa, de enormes empréstimos a Hitler, do intrincado labirinto de cartéis internacionais que restringiam o armamento da América, e da conversão de sua economia em eficaz produção de guerra, da divisão — sob esses cartéis — da América do Sul entre companhias alemães e americanas, da supressão de competição — sob esses mesmos cartéis — e do monopólio dos mercados da América, da troca de patentes vitais com Hitler, de propaganda através do mundo que serve como apologia para o nazismo e louva as vitórias em países fascistas sobre o trabalhismo e a 'decadência’, de arranjos para embarques de vital material de guerra para Hitler em caso de guerra — através da América do Sul e outros países neutros. As vozes se erguiam como uma tempestade, como um furacão, de modo que o homem doente ouvindo-as, enquanto se balançava desoladamente em sua cadeira, pensou que a própria abóbada celeste ecoava com elas, e as devolvia aos ecos terrestres.
E depois elas desapareceram numa derradeira nota aguda. Mas o ar do mundo vibrou com elas, tremeu como cordas sendo tangidas, que embora silenciosas agora, ainda tremiam com reverberações não ouvidas...
Armand ergueu a cabeça do peito e olhou cegamente à sua volta. Tinha a boca aberta, e arquejava. Sua doença estava a devorá-lo como um tigre.
Os anos de sua vida passavam diante dele, aqueles anos confusos, medrosos e informes, cheios de hesitação e de temor. Tivera tão pequena integridade, que nunca fora suficiente para coisa alguma a não ser provocar nele essa moléstia mortal. Todos aqueles anos, quando poderia ter feito alguma coisa! Ao invés, sua fraca consciência o roera, devorando as células de sua carne, petrificando nele as forças vitais, entregando-o por fim a essa desolação e a esse desespero, essa solidão e desesperança, espanto e tortura...
Não lamentava: apenas sofria. "Que poderia eu haver feito? — murmurava para si mesmo. — "Na realidade, nunca me importa. Por que, então, me sentia atormentado? Por que fugira?"
Levantou-se, e uma lamúria fugiu-lhe dos lábios: "Eu era bom! Odiava tudo isso! Eu era melhor que eles! Eu realmente tinha a capacidade..."
Agora o terror o inundava e ele apertava convulsivamente as mãos gordas e olhava em volta, apavorado.
Nunca soubera o que é patriotismo. Sua única lealdade fora para consigo mesmo, para com sua família. Não podia compreender. Mesmo agora, conscientemente, não sentia temor pela América, nenhuma preocupação pelo mundo. Só estava cônscio do terrível e subjugante temor.
"Eu era realmente um homem bom!" — tornou a gritar, para a sombria escuridão.
E então soube que toda a sua vida desejara ser bom, e simples. Mas fora um covarde. Mesmo esse desejo fora parte de sua covardia. Nunca fora capaz de sobrepujar sua rapacidade e avareza nativas. Viu que fora criminoso ainda maior que Henri, e Christopher, que todo o resto de sua sinistra família.
Nunca tivera fé em coisa alguma. Murmurou: "Deus!" Mas a palavra não lhe significava absolutamente nada. Era um encantamento sem magia. Seu coração palpitava em fortes pancadas, como se estivesse se afogando.
Sentira agora que as salas de sua casa se estavam amontoando em torno dele, as paredes inclinando-se sobre ele como os paredões de um penhasco, que estava a ponto de ser esmagado. Abriu a boca e soluçou. Disse em voz alta, com espanto:
"Minha consciência só tinha medo por mim mesmo, medo de quaisquer possíveis consequências que poderiam desabar sobre mim devido às minhas conspirações e...
Capítulo 12
Capítulo 20
Capítulo 23
As vozes chegavam rapidamente agora aos ouvidos de Armand, malévolas, exultantes, rindo, conspirando. E agora a voz de Douglas Flannery, editor do Clarion de Detroit, que se gabava de ter quatro milhões de leitores não só na área de Detroit como muito além disso:
Na escuridão, Armand subitamente pôs as mãos nos ouvidos, e balançou-se desoladamente em sua cadeira. A testa enrugada estava úmida e fria como gelo.
Não somente segue a tradição dos grandes trabalhos de Taylor Caldwell, A Hora Derradeira figura, muito justamente, entre os melhores livros da brilhante romancista.
Em A Hora Derradeira a autora faz um libelo contra a monstruosidade das guerras mundiais ao mostrar que enquanto o povo pensa em patriotismo — enviando seus filhos para a morte, em defesa da Pátria e de ideais e padrões em que foram criados — os poderosos, os políticos inescrupulosos e os fabricantes de armas desapiedadamente sacrificam essa juventude, visando apenas aos seus lucros.
Numa história portentosa, com um elenco de personagens notáveis, avultam as figuras de Henri, poderoso chefe do clã dos Bouchard — família que domina todo o livro; Celeste, bela e sofredora mulher; Christopher, seu irmão que nutre por ela uma paixão incestuosa; e muitos outros membros dessa família, pairando acima de suas vilezas a figura suave de Annette, toda doçura e abnegação, e Peter, fisicamente doente, mas um verdadeiro idealista, que deseja iluminar o mundo com a tocha da Verdade para salvá-lo do HOLOCAUSTO.
A Hora Derradeira é um romance que consagra definitivamente Taylor Caldwell como uma das maiores escritoras da atualidade.
.
.
.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_HORA_DERRADEIRA_.jpg
.
.
.
— Lugar encantador! — disse o Conde Wolfgang Bernstrom, olhando ao redor. — Cada vez que o vejo parece-me mais maravilhoso. Sou um homem de sorte em alugá-lo de você para o resto do verão, caro Ramsdall.
Em A Hora Derradeira a autora faz um libelo contra a monstruosidade das guerras mundiais ao mostrar que enquanto o povo pensa em patriotismo — enviando seus filhos para a morte, em defesa da Pátria e de ideais e padrões em que foram criados — os poderosos, os políticos inescrupulosos e os fabricantes de armas desapiedadamente sacrificam essa juventude, visando apenas aos seus lucros.
Numa história portentosa, com um elenco de personagens notáveis, avultam as figuras de Henri, poderoso chefe do clã dos Bouchard — família que domina todo o livro; Celeste, bela e sofredora mulher; Christopher, seu irmão que nutre por ela uma paixão incestuosa; e muitos outros membros dessa família, pairando acima de suas vilezas a figura suave de Annette, toda doçura e abnegação, e Peter, fisicamente doente, mas um verdadeiro idealista, que deseja iluminar o mundo com a tocha da Verdade para salvá-lo do HOLOCAUSTO.
A Hora Derradeira é um romance que consagra definitivamente Taylor Caldwell como uma das maiores escritoras da atualidade.
.
.
.
https://img.comunidades.net/bib/bibliotecasemlimites/A_HORA_DERRADEIRA_.jpg
.
.
.
— Lugar encantador! — disse o Conde Wolfgang Bernstrom, olhando ao redor. — Cada vez que o vejo parece-me mais maravilhoso. Sou um homem de sorte em alugá-lo de você para o resto do verão, caro Ramsdall.
— E eu — respondeu George, Lorde Ramsdall, um tanto secamente — tenho sorte em alugá-lo para você. Há uma epidemia em Cannes neste verão. — Parou e lançou um olhar de soslaio ao alemão.
Von Bernstrom encolheu violentamente os duros ombros militares, como se fossem feitos de madeira e não de carne e osso. Ajustou o monóculo e examinou o terraço com satisfação, antes de replicar:
— Há muitos boatos, meu caro Ramsdall. Muita histeria. Eu, pelo menos, não acredito em nada, não sei de nada, não ouço nada. Uma atitude bastante cômoda, que recomendo com entusiasmo. Por que antecipar um fato desagradável que provavelmente não acontecerá? Que desperdício de energia! É preciso conservar energias nestes dias turbulentos. É preciso estar prevenido, mas não demais.
Num sorriso, seu rosto pálido e árido enrugou-se com uma espécie de júbilo que realmente nada tinha de alegre. Seus olhos também eram pálidos e áridos com um curioso brilho nas retinas, como se feitas de mármore polido. Os cabelos brancos e finos eram cortados à moda Junker; o queixo era pontiagudo como uma espada, a boca fina frequentemente se abria num sorriso singularmente charmoso apesar de não possuir calor humano. Esse sorriso exibia dentes excelentes e brilhantes. Faces encovadas, como se tivessem sido espremidas: entre elas o nariz adunco e fino era agressivo possuindo, entretanto, transparência — como se feito unicamente de cartilagem e pele. Ele dava a impressão de não ser de carne, pela altura e magreza fora do comum; sob seus maravilhosos ternos de tweed inglês parecia haver apenas ossos aristocráticos. A apurada limpeza dos teutões nele era exagerada: ele exalava uma aura de sabonete, água fria, loção de barba e água-de-colônia, aura que ia até Lorde Ramsdall, através do vento morno e salgado.
Dizia-se que Lorde Ramsdall era impressionantemente parecido com Winston Churchill, a quem odiava com verdadeira histeria. Baixo, troncudo, rosto corado como o de um querubim, olhos azuis proeminentes, nariz em forma de um botão cor-de-rosa: aparentava amigável astúcia.
A cabeça grande e redonda era coberta por fiapos de louros cabelos desbotados, através dos quais seu couro cabeludo reluzia roseamente como uma careca de bebê, nada parecida com a do Sr. Churchill. Gostava de ser chamado Johnny Bull e procurava desempenhar essa caracterização com modos afáveis e calorosos, vasta e redonda gargalhada, modo vigoroso de falar e um sorriso aberto e cativante. Se tinha conhecimento de que sua única e amada filha Úrsula era chamada ‘a cadela de Cannes e de certos locais do Leste’, ou de que atualmente era amante do Conde von Bernstrom, não o demonstrava. Se era detestado e odiado na Inglaterra pela opressão que fazia aos operários de sua grande usina de aço (subsidiária da Robson-Strong) e se desconfiavam muito dele entre aqueles a quem se referia com desprezo como ‘vermelhos’, e também se o seu jornal — o London Opinion — era acusado de alcovitar a política pacifista do titubeante Chamberlain (com risco para o império britânico) nada disso era de importância aparente para o feliz e generoso nobre. Nessa linda manhã de 9 de maio de 1939 tudo parecia bem com George, Lorde Ramsdall, e ele aparentava ter apenas na cabeça uma suave afeição por von Bernstrom e um prazer simples porque o elefante branco, sua villa (que felizmente havia podido alugar ao jovem casal americano nos últimos cinco anos, por uma quantia bastante satisfatória), estava para passar às mãos de seu caro amigo — por um aluguel substancial.
Situada próximo ao mar, entre Juan-les-Pins e Cannes, a villa cintilava branca e fulgurante sob o brilho do sol de maio; cada uma de suas janelas francesas reluzia. Localizava-se sobre rochas castanho-escuras, mas três de seus lados ficavam sobre estreitas faixas de relva, frescas e aparadas, lindamente circundados por arbustos e canteiros de flores. Dava frente para o cintilante mar azul; o ar era doce, puro, salgado, e com a fragrância dos jardins. Tudo era tão tranquilo, tão suave e calmo que Lorde Ramsdall por momentos lamentou deixar Cannes quase que imediatamente pela poeirenta e suja Londres, onde tanta coisa deveria ser feita e sem demora. Pensando assim, lançou um olhar a von Bernstrom e fechou quase completamente as pálpebras.
O alemão parecia bem mais jovem do que realmente era, já que estava na casa dos cinquenta. Dava a impressão de não ter idade, como um falcão. Havia sido o mais jovem general do Kaiser na última guerra, mas recusava-se a ser chamado pelo seu antigo título.
— Não quero mais saber de coisas militares — dizia, com um gesto duro da mão ossuda. Desviava a cabeça estreita ao dizer isso e mostrava o perfil, perfil austero como se alguma coisa nauseante tivesse sido mencionada.
Ele jamais falara sobre o Terceiro Reich ou sobre Hitler, e se esse assunto fosse tocado em sua presença caía em silêncio soturno, retraído, desculpava-se e em seguida se retirava. Nunca, em momento algum, deu a impressão de ser contra ou abominar o regime atual de seu país, exceto através dessas pequenas manifestações. Que, entretanto, bastavam até mesmo para os ingênuos. Quanto aos iniciados, as atitudes e expressões de von Bernstrom causavam-lhes júbilo austero, embora secreto. Raramente visitava a Alemanha. Havia morado na França aproximadamente dez anos, num exílio aparentemente melancólico e reticente, um aristocrata que nem mesmo podia referir-se aos impostores vulgares, vagabundos e assassinos que agora infestavam seu país. Consequentemente — para as senhoras românticas em particular — ele era uma figura fascinante a quem perdoavam pela mulherzinha gorda. Na verdade, costumavam até esquecê-la. Seu caso com Úrsula Ramsdall era por elas aprovado, admirado, aplaudido. Se essa senhora havia anteriormente expressado a mais vitriólica paixão pelos nazistas, desde sua ligação amorosa com von Bernstrom ela havia mudado de opinião.
Havia também boatos persistentes de que suas propriedades na Prússia tinham sido confiscadas pelo onipotente Hitler como vingança contra a falta de entusiasmo pelo pintor de paredes austríaco, e que suas visitas à Alemanha, apesar de raras, eram perigosas para ele. Entretanto, para quem se dizia viver praticamente sem recursos financeiros, ele vivia bem, até mesmo perdulariamente. Ramsdall comentou uma vez, vagamente, que "talvez o sujeito haja aberto uma conta no Banco da Inglaterra, França e América". Em todo caso, nenhum negócio importante era realizado sem a presença de von Bernstrom, e ele era visto frequentemente no cassino, ganhando ou perdendo vastas somas com grande indiferença.
Se alguém de natureza desconfiada indagasse sobre o passado daquele fino aristocrata, salientava-se severamente que ele vivera algum tempo na villa do Barão Israel Opperheim, na Riviera, e que os dois eram grandes amigos.
Von Bernstrom caminhou pelo terraço maciamente, observando tudo com prazer discreto. Por uma janela aberta, espreitou rapidamente a sala de visitas cuja penumbra era convidativamente calma e fresca. Viu o brilho escuro dos assoalhos, o lustre de cristal, o vulto de um grande piano, a lareira de mármore branco. Havia flores sobre o vidro escuro de todas as mesas e sua doce fragrância enchia o ar tranquilo, como incenso. Ele deixou a descorada aspereza de sua expressão suavizar-se antecipadamente. Lorde Ramsdall o observava. Havia uma ponta de astúcia em seus lábios grossos e vermelhos.
— Ah! —- suspirou o conde. — Encantador! Encantador! Estranho como parece fascinante uma perspectiva, quando próxima de ser nossa! — Sua voz, suave e com sotaque apenas perceptível, era agradável. — Que gosto, meu caro Ramsdall! Você foi sempre conhecido por seu bom gosto, não?
Ramsdall inclinou a cabeça:
— Muito simpático de sua parte dizer isso, Wolfgang. Houve, porém, um toque feminino por aqui, sabe? Uma jovem de bom gosto, considerando que ela é americana.
Ouviram um barulho de passos suaves. O conde imediatamente recuou para junto de seu amigo no terraço lajeado e ambos fingiram estar enlevados em feliz contemplação do mar azul.
Uma jovem senhora, que entrara no salão, agora estava a uma das janelas antes de descer ao terraço, de pé junto à soleira, observando-os. O conde e Ramsdall voltaram-se com um olhar de agradável surpresa e prazer. Inclinaram-se.
— Espero não tenhamos chegado cedo demais, cara Sra. Bouchard, — disse Ramsdall —•mas como Wolfgang está para ser meu próximo inquilino, decidiu que gostaria de chegar um pouco adiantado. Regozijo, talvez.
A senhora sorriu timidamente. Estendeu a mão, que o conde tomou e levou aos lábios. Ele a examinou com verdadeiro prazer e cobiça.
— Tive um prazer e perdi outro, cara senhora — murmurou. — Ficaremos desolados com sua partida.
Como a senhora Bouchard e seu marido raramente recebiam convidados e pouco se importavam com os que se aglomeravam avidamente pela costa, a observação do conde foi absurda. Mas a jovem senhora não demonstrou surpresa.
— Muita gentileza, conde — disse ela, num tom de voz doce, mas indiferente.
O conde se aborreceu e, como sempre, irritou-se. Essas mulheres americanas! As mais lindas mulheres do mundo, com seios maravilhosos, lindas pernas e cinturas. Mas frias como a morte. Ele preferia as francesas, que sabiam mais sobre amor e sobre ‘safadezas’-. Adorava mulheres ‘safadas’. As americanas nunca eram ‘safadas’, mesmo as tolas apaixonadas expatriadas que se espremiam ruidosamente (em trajes requintados) em volta das mesas do cassino. Faltava-lhes maturidade, postura, graça, e suas imitações de libertinagem eram infantis. Quando exageravam, eram vulgares e desagradáveis. Ele desconfiava que houvesse nelas algo de puritano. O falso puritano era a criatura mais revoltante, pois não tinha gosto nem discrição.
A senhora Bouchard, entretanto, não era de forma alguma ‘pervertida’, pensou ele. Era, porém, como uma pedra, dura e rija como a morte. Uma linda estátua de carne congelada — o que era mais raro ainda, em se tratando de mulher tão jovem, com seus trinta anos. Mais propriamente feita para o amor e o mistério — continuaram suas reflexões. Ela havia morado naquela villa, naquele panorama, podendo ver e ouvir toda a sutil e deliciosa perversão da notória costa e havia permanecido — como a mulher de César — pura, distante e indiferente. Seria inocência ou repugnância? O conde não acreditava em nenhuma das hipóteses. Era simplesmente incapacidade de ser alegre, de viver, de sentir prazer. Sem dúvida alguma ela era imbecil, quase tanto quanto sua mulher alemã. Essa ideia abrandou-lhe a vaidade e ele passou a encará-la com mais afabilidade e até mesmo com superior piedade. Era estarrecedor ter morado aqui, diante da alegria, do prazer e do arrebatamento, por mais de cinco anos, e nunca haver experimentado um momento sequer de excitação e enlevo! Mas isso com toda a certeza por causa do marido inválido e de sua devoção a ele.
O grande e transparente nariz do conde contraiu-se com nojo. Lamentável o martírio daquela encantadora jovem com quem era, visivelmente, menos da metade de um homem! Ele, Wolfgang von Bernstrom, teria ficado encantado se ela lhe tivesse permitido aliviar o tédio dessa vida tão opressiva; ele e muitos outros... Porém, ela nunca permitiu que algum homem se aproximasse. Que devoção! Que estupidez!
Ele puxou-lhe uma cadeira branca no terraço e ela sentou-se. Os cavalheiros também se sentaram e sorriram ternamente para ela, que dirigiu um olhar indiferente ao alemão:
— Receio que este almoço venha a ser muito aborrecido — comentou ela sem o menor pesar. — Convidei apenas o senhor, conde, o senhor, Lorde Ramsdall, e o Barão Opperheim. Todos vocês são muito amigos e foram gentilíssimos com meu marido. Seremos então apenas seis: minha mãe, vocês três e meu marido, ninguém mais. Peter não tem passado bem ultimamente e não quis incomodá-lo, entendem?
— Minha cara, cara Sra. Bouchard! — exclamou Ramsdall, com expressão de afetuoso entendimento e lástima — claro que entendemos. Na verdade, foi muita gentileza sua convidar-nos. Somos gratos, garanto-lhe.
— Partimos amanhã — continuou a jovem senhora. — Faremos uma parada de alguns dias em Paris e em seguida iremos diretamente para casa.
Por um instante sua expressão foi reveladora, triste, melancólica e bastante cansada. Ela não desejava voltar para casa, pensou o conde. Quer dizer que não é completamente imbecil. Ele tinha a experiência de que as mulheres americanas muito ricas eram invariavelmente estúpidas e insensíveis. Mas aquela deliciosa criaturinha com enorme e incrível saúde tinha também momentos humanos de tristeza, insegurança e sofrimento. Ah! Se tivesse descoberto isso mais cedo! Talvez a tivesse corrompido pela alegria...
Ele a observava atentamente, sem trair sua análise. Ela era pequena e extraordinariamente bem-feita, de linda aparência, frágil e, a seu ver, magra demais. Excessivamente elegante, ele concordava. Quase sempre usava um fino vestido preto, muito simples, mas de feitio impecável, abrandado apenas por um pequeno colar de pérolas rosadas. Que pernas delgadas! Encantadoras! Adoravelmente curvas na panturrilha, afilavam junto aos frágeis tornozelos e minúsculos pés arqueados! Ela sentou-se graciosamente em sua cadeira, distante e despercebida de si mesma e provavelmente de suas visitas também. O conde deliciava os olhos com a fragilidade daquela cintura e a linha perfeita dos pequenos seios sob o tênue tecido preto. O olhar fixo do conde encontrou a alvura do pescoço onde as pérolas se moviam sob a respiração calma. Depois de um instante ele lhe olhou o rosto. Quão perfeitamente adorável, como era maravilhoso em sua perfeição!
O rosto pequeno e angular parecia esculpido em mármore, tão firmes e claros seus contornos, suas linhas e curvas. Ele não via imperfeição, violência, crueldade naquela escultura. Entretanto, havia uma espécie de rigidez em seus traços, uma dureza sutil que, para ele, era repelente, desumana. Tinha também aparência cansada, não muito tolerante quando reprimida e determinada. Aquela aparência se estendia à pequena boca vermelha e seus cantos profundos, em volta das narinas afiladas, e pairava numa espécie de fixidez empedernida na profundidade e beleza dos olhos azuis, onde as nítidas linhas pretas dos cílios pareciam curvas acetinadas de asas de pássaros. Os cabelos negros, muito sedosos, cheios de vida e de ondas lustrosas, eram escovados para cima — parecendo uma coroa antiga no topo da cabeça. Ornadas com brincos de pérolas, as pequenas orelhas eram brancas como alabastro transparente e ficavam completamente a descoberto. Ela possuía uma palidez luminosa, bastante vivida e sem o menor resquício de cor nas faces, cuja maciez e brilho suscitavam ódio e inveja a todas as mulheres que a olhavam.
Lembrou-se o conde que ela era de ascendência francesa, principalmente porque nas maçãs do rosto, na linha dos ombros, na pequenez dos pés e das mãos, na graciosidade de porte e atitude havia nitidamente um toque francês. Mas o espírito não era francês. Ela também tinha sangue inglês, o que justificava a fleuma, indiferença, frieza e discreta arrogância. No entanto, lembrou-se de que em uma ou duas raras ocasiões vira nela certo brilho, uma veemência contida, um sinal disfarçado e ansioso de calor humano, uma generosidade de temperamento imediatamente reprimida. Mais uma vez, sentiu doce piedade por ela. Como é deplorável tornar-se vítima ao serviço de um abominável inválido, um marido que aparentemente não era marido! Não era de espantar que a vida tivesse passado por ela...
Ele pensou naquele marido e a pele embranquecida de seu rosto enrugou-se como papel.
Nesse ínterim a jovem senhora e Lorde Ramsdall estiveram conversando com amável desinteresse, sobre absolutamente nada.
— Os empregados, logicamente, ficarão para o conde — disse ela. Hesitou: — Exceto Pierre, o cozinheiro, e sua esposa Elise. Eles me disseram que preferem voltar a Paris, se não encontrarem emprego aqui.
O conde voltou a si diante dessa catástrofe. Franziu a testa:
— Mas, Madame! Isso é impossível! Intolerável! Como poderei manter a casa sem eles? A senhora era invejada por todos pelo fato de possuir tamanhos tesouros. Isso é insuportável e inadmissível! — Voltou-se carrancudo para o amigo: — Meu caro Ramsdall, pensei que os empregados estivessem vinculados à villa.
Antes que Ramsdall pudesse responder, a jovem senhora olhou diretamente para o conde. Pela primeira vez havia nela um clima de agitação, como se estivesse indignada ou com raiva. Seus olhos azuis-escuros brilharam. Porém falou suavemente:
— Eles não têm nenhum vínculo com a villa. Pierre e Elise vieram comigo de Paris. É perfeitamente compreensível que, se eles não desejarem ficar depois que partirmos, poderão voltar para casa.
Mas o conde mal a ouviu. Fez um gesto brusco, ignorando-a como se ela fosse uma criança tola, uma intrusa, alguém a quem não se deve consideração. Arrogância e intolerância estavam implícitas na fria violência de seus modos. Ele apenas olhou para Ramsdall:
— Insisto em que essas criaturas fiquem. Como poderei continuar sem elas? Não aprovo sua partida.
A senhora Bouchard empertigou-se na cadeira. O rosto corou de repente:
— Não estamos na Alemanha, meu caro conde. — E sua voz se ergueu, clara e forte. — Pierre e Elise são livres cidadãos franceses. O senhor ‘insiste’ em que eles fiquem: é inacreditável! — Sorriu com raiva e desprezo.
O conde virou-se para ela, mostrando-lhe todo o ódio intolerante nos olhos, o desejo de domínio, a fúria de um homem não habituado à resistência, a ira covarde de uma raça cujos desejos jamais foram repelidos.
"Peter tem razão" — pensou ela. — "Eles são impossíveis! Perigosos! Venenosos!"
Ela continuou, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa:
— Quando Pierre me disse que voltariam para Paris, tentei substituí-los para o senhor. Amanhã, um casal belga vai procurá-lo para uma entrevista. Achei-os dignos de confiança e eficientes.
Ramsdall tentou persuadir o amigo. Inclinou-se solicitamente sobre ele e disse:
— Sim, sim a senhora Bouchard me falou sobre isso. Ela foi muito gentil, Wolfgang, em tentar substituir esse casal. Foi realmente muita generosidade sua. Não tinha obrigação de fazê-lo. Acho que o casal belga é na verdade excelente.
O conde cerrou o punho e deu um soco no braço da cadeira, provocando um barulho surdo e curiosamente violento.
— Não estou interessado nas ‘gentilezas’ de madame — disse ele com brutalidade. — Eu estava contando com Pierre e sua mulher.
A senhora Bouchard, com uma pequena exclamação chocada, apoiou-se, indignada e cheia de ódio, nos braços da poltrona como se fosse levantar-se e disse rápida e mordazmente, num fôlego só:
— Talvez lhe interesse saber, conde, que o filho do Pierre, Bernard, foi morto na Espanha. Capturado, torturado e depois assassinado por um oficial alemão.
Seus olhos azuis incendiaram-se; ela era muito branca. Os seios arquearam-se violentamente, como se por um sentimento reprimido. Olhou o conde e em seu rosto transpareceu uma emoção profunda.
Surpreendido por aquele olhar, ele caiu em silêncio profundo. Disse então desagradavelmente e com sorriso insolente:
— Ah! Nossos queridos Pierre e Elise são comunistas! Muito interessante! Por demais interessante!
Ela fez um gesto de repulsa:
— Absurdo! O senhor sabe que é absurdo. Os que detestam os fascistas são necessariamente comunistas? Meu marido os odeia! Eu os odeio! Eis por que vivemos. — Fez uma pausa, como se tivesse tomado consciência de sua impetuosidade vulgar, indiscrição, e impulsividade infeliz que a provocara. Quando a cólera sobrepujou a repressão, continuou ainda mais depressa: — O senhor me chamaria de comunista, conde? Porque odeio e desprezo essa sociedade de Cannes, corrupta e inútil, esses parasitas, essas criaturas desprezíveis que são coniventes com todos os fascistas que aqui chegam para seduzir os queixosos privilegiados de todos os países da Europa? Sou comunista porque detesto as mulheres da França, Espanha, Alemanha e Inglaterra sustentadas pelos políticos que se aglomeram por essa costa? Criaturas desprezíveis que venderiam a liberdade e a honra de seus países por camas macias, segurança e a garantia de suas contas bancárias? Se tudo isso me faz comunista, então tenho orgulho de o ser!
Eles a olhavam, pasmos. A criaturinha fria, requintada, a pequena estátua inumana encheu-se de vida, selvagem e indignada, cheia de paixão e ardor. O conde quase esqueceu suas palavras, tão intrigado e excitado ficou. Ele viu como lhe tremiam os seios, as mãos agarravam os braços da poltrona até ficarem brancas as articulações, olhos brilhando como metal em fusão. E ela voltou esses olhos primeiro para Ramsdall, depois para von Bernstrom, com desprezo e repugnância sugestiva e consciente.
— Minha cara Sra. Bouchard — disse Ramsdall apressadamente — o conde foi infeliz em suas palavras. Ele realmente não acredita no que disse. Tenho certeza de que a senhora sabe que ele está virtualmente exilado da Alemanha pois não pode suportar esse abominável impostor austríaco. — Tossiu e olhou disfarçadamente para o alemão. Von Bernstrom viu o olhar: era furioso e continha uma advertência. Mordendo os lábios, Ramsdall continuou: — Tenho certeza de que Wolfgang está de pleno acordo com a senhora. Falou impensadamente.
O nobre sorriu insinuantemente para a moça, que empalidecera demais e que permanecia sentada, em silêncio.
— Naturalmente ele se aborreceu quando soube que perderia o melhor cozinheiro de Cannes. Quem não se aborreceria? Devemos entender seu desapontamento, cara senhora Bouchard. Como sabe, ele pretendia oferecer na próxima semana seu primeiro jantar em homenagem ao mais ilustre, posso até dizer, real casal, e esse fato alterou seus planos. Um casal real em exílio virtual — acrescentou, lançando-lhe um sorriso significativo.
Ela ergueu a pequena mão num gesto desdenhoso. Foi um gesto eloquente que fez com que as bochechas gordas e enrugadas de Ramsdall enrubescessem de ódio. Ela disse suave e claramente:
— Sim, eu conheço esse casal. Não o permitirei nesta casa enquanto for a locatária. Ele é grande amigo seu, não, conde von Bernstrom?
Ele respondeu com dignidade sufocada:
— Realmente, madame, tenho muita honra em admiti-lo.
— Eu sei — disse ela gentilmente.
Agora os olhos estavam novamente vividos, cheios de coisas por demais assombrosas para serem ditas, mas completamente compreensíveis. Suspirou e afundou de novo na poltrona, como se exausta. Estava pálida demais; até os lábios estavam brancos. Parecia doente. Depois de instantes recuperou-se, e sua voz foi então seca:
— Os belgas vão satisfazê-lo. Contudo, não há obrigação alguma de sua parte de ficar com eles.
O conde recuperou-se da ira, pelo menos aparentemente. Disse brandamente e com ódio educado:
— Senhora, lamento, falei sem pensar. Sou-lhe muito grato. A senhora tem sido mais do que gentil. Nunca vi ninguém que tivesse pensado tanto no meu bem-estar.
Ela replicou, sem encará-lo:
— Tenho certeza de que esse casal real apreciará a comida.
O conde cumulou-a com excessivos protestos de gratidão.
Nesse ínterim, mentalmente acrescia outro item, relacionado com ela e seu ridículo marido, a um dossiê guardado entre documentos secretos em Berlim. Sorriu, lembrando-se daqueles itens — todos referentes às palhaçadas de certo Peter Bouchard, membro de uma família com quem o conde estava bastante familiarizado, bastante mesmo! Seu sorriso tornou-se mais amável e confiante à medida que exprimia outra vez seu arrependimento e gratidão. Percebeu que ela não o estava ouvindo e ficou bastante irritado: não estava habituado a mulheres tão insensíveis ao seu fascínio. Ela parecia mergulhada em pensamentos que a perturbavam, irritavam e revoltavam demais.
Ele disse:
— Embora eu não negue estar encantado em ser o próximo locatário desta villa, com prazer me resignaria se a senhora e seu marido, cara senhora, quisessem permanecer. Todavia devo supor que o senhor Bouchard recuperou a saúde e sente poder voltar ao seu país? É uma feliz notícia.
Ela veio à tona dos seus pensamentos e o fitou com o olhar puro e direto das crianças:
— Meu marido afirma sentir-se mais forte. Logicamente, ainda não se recuperou, não poderá nunca recuperar-se completamente do mal de seus pulmões, causado pelo gás tóxico durante a guerra. Mas agora deseja voltar para casa — fez uma pausa. — Acha que devemos voltar para casa antes da guerra.
— Antes da guerra! — exclamou Ramsdall, com um sorriso incrédulo. — Minha criança querida, não haverá guerra nenhuma.
— Sei disso por autoridade confidencial — confirmou o conde.
— Autoridade confidencial? — murmurou a senhora Bouchard. — Qual? De Hitler? — O tom de sua voz era tristemente satírico.
O conde deixou transparecer uma expressão de desagrado. Desviou abruptamente a cabeça, como sempre fazia ao se mencionar aquele nome ‘repulsivo’.
— Madame — falou rispidamente — devo protestar. Não, minha informação vem dos que têm a mente equilibrada e sensata.
— Apesar disso, haverá guerra — disse a senhora Bouchard. Sorriu estranhamente para o conde e ele percebeu aquele sorriso. Sua fronte pálida contraiu-se suspeitosamente:
— Seu distinto marido acredita realmente nisso? — perguntou — Como deve ser deprimente para ele! Deve feri-lo muito. Todos nós sabemos o quanto ele abomina a guerra. Seu livro The Terrible Swift Sword, (A Terrível Espada Veloz. — N. da T) revelação comprometedora sobre a indústria de armamentos, e as conspirações internacionais contra a paz mundial, foi muito popular na Alemanha. Ainda é excessivamente popular. Meus amigos na Alemanha assim me garantem.
Para ele, ela ficou inexplicavelmente agitada.
— Conde von Bernstrom, devo pedir-lhe que não mencione hoje esse livro ao meu marido. Isso o transtorna. Todo o seu significado foi deturpado. Ninguém o entendeu. Não foi apenas a indústria de armamentos que ele pretendeu denunciar. Esse fato foi o de menor importância para ele. Peter desejava chamar a atenção para a doença do mundo, o ódio, a crueldade, a maldade dos homens em todos os países. Desejou mostrar que as guerras não são causadas por apenas um grupo de homens, mas pela perturbação mental de todos os homens, em todas as partes. A indústria de armas serviu unicamente de instrumento para a insanidade mental. Aprovisionou-a. Sem a insanidade, acha Peter que não haveria a indústria de armas. As guerras são causadas pelo ódio e a corrupção das mentes de todos os homens: elas fazem com que eles percam a responsabilidade moral que tem cada um para com seu semelhante.
— Ele tentou mostrar — continuou ela, com genuína agitação que a fazia incoerente — que as guerras são a expressão da violência latente nos corações humanos. Ele chamou a atenção para o fato de que a guerra é apenas o prolongamento de princípios políticos, os mais primitivos e diretos prolongamentos e conclusões. Se ele odiava, e ainda odeia, a indústria de armamentos, é porque ela é, por si só, a expressão da cobiça dos homens que se aproveitam da fraqueza de todo o mundo.
O conde fingiu estar espantado com aquelas palavras impetuosas e incompreensíveis. Ergueu naturalmente as mãos e sorriu para ela, suplicante:
— Creio não compreender, cara senhora. É muito confuso! Já não foi dito ser a guerra a mais natural expressão do homem? Sem dúvida estava errado quem disse isso: tentaria simplificar uma situação complexa. Entretanto, existe alguma razão nessa observação.
Ela não se iludiu com aquela sinceridade:
— Afirma Peter que a intenção do cristianismo é sublimar os instintos humanos primitivos, pela consciência de suas responsabilidades morais. Hoje, ele acredita que o cristianismo tenha falhado. Não porque estivesse errado, mas porque é ignorado e deturpado. Em sua deturpação mais concentrada, o fascismo eclesiástico na Espanha, Itália e França, ele se tornou um horror, a morte e uma ameaça para a existência da civilização e da democracia.
Ramsdall a ouvia argutamente, com disfarçado e pressagioso sorriso:
— Tenho certeza — disse calmamente — de que os suficientemente inteligentes apreciariam os propósitos do senhor Bouchard. Sei que não tive dificuldade alguma. Nenhuma, mesmo. O senhor Bouchard pretende continuar seu trabalho quando voltar para a América?
Ela ficou absolutamente imóvel. Disse então depois de alguns momentos, claramente:
— Sim. — E os fitou com aqueles brilhantes olhos azuis. —- Ele tentará transmitir à América o que aprendeu aqui, o que viu, o que sabe. Antes que seja tarde.
O conde e Ramsdall trocaram um rápido olhar.
— Mas o senhor Bouchard mal saiu da villa! — disse Ramsdall especulativamente, inclinando-se um pouco até o peito tocar a barriga.
— Mas escutou — disse ela firmemente.
A mente de Ramsdall voou rapidamente para alguns anos atrás, quando conhecera os Bouchards. Tentou lembrar-se de cada homem e mulher que os tivesse visitado. Sentiu algo de sinistro no tipo daqueles que haviam sido convidados. Lembrou-se de que, naquela época, quando ele frequentava a casa, lá havia gente estranha e também pessoas a quem detestava e de quem tinha razões para suspeitar. Ficou alarmado. Sorriu tolerantemente, mas não disse nada.
Uma senhora idosa, franzina e curvada, de movimentos suaves e expressão gentil, entrou no terraço. Tinha um rosto gasto e enrugado, doce e triste, e grandes olhos castanhos cheios de sabedoria, cabelos brancos e sedosos. Vestia-se também de preto, mas um preto deprimente e desalentado. Os homens se levantaram e fizeram-lhe uma mesura. A senhora Bouchard beijou-lhe o rosto com profundo afeto.
— Como vai, Mama? — perguntou, num diapasão suave. —. Não muito cansada, espero, depois de toda essa arrumação.
Ela sorriu ternamente para a filha:
— Não, querida, estou bem. — Virou-se e olhou os cavalheiros, com expressão repentinamente muito fatigada e distante. Sentou-se na poltrona que o conde puxara para ela.
— Vamos sentir muito a sua falta, senhora Bouchard — disse Ramsdall, galantemente.
— Muita gentileza sua — murmurou ela. Olhou para ele firmemente, com aqueles olhos castanhos muito simples, inteligentes e ingênuos. Por um motivo qualquer, ele sentiu um calor subir-lhe pela garganta. Ela se virou para a filha:
— É quase meio-dia, querida. Não vi Peter esta manhã. Ele está bem?
— Sim, Mama — respondeu a jovem senhora Bouchard. —. Ele está de pé desde as oito horas. O Barão Opperheim está agora com ele. Estão juntos desde as dez horas.
O conde agitou-se ligeiramente:
— Desculpe-me, senhora. Disse Opperheim?
— Sim, conde. São grandes amigos, o senhor sabe, há já cinco anos. O barão vem muitas vezes aqui.
A expressão enrugada do conde permaneceu suave e apenas polidamente interessada:
— Claro. Foi estupidez minha esquecer isso. — Sorriu com prazer. — O barão e eu temos muito a nos dizer. Não o vejo há um mês. Quando lhe telefonei esta manhã disseram-me que já havia deixado o hotel.
— Ele tem estado em Paris — disse a jovem senhora Bouchard, indiferentemente.
A velha senhora Bouchard nada disse. Olhou demoradamente do conde para Lorde Ramsdall. Apenas ela vira a rápida troca de seus olhares. Sentiu um calafrio.
Não suportava aqueles dois. Seu olhar vagueou pelo terraço, listrado e pintalgado pela luz do sol. Olhou além do brilho azul do mar. Ouviu-lhe o som macio e sussurrante, viu a delicadeza das asas dos pombos que circundavam o golfo. Muito distante, uma vela branca dividia a água da pura incandescência do céu do meio-dia. Havia no ar um leve sussurro de folhas, um cheiro morno de grama, sal e flores. Quanta paz! Quanta serenidade e mansidão! Seu corpo se sentiu frio e muito, muito velho...
Voltou para a filha os tristes olhos castanhos e viu uma fixidez cansada naqueles lindos olhos azuis e nos cantos profundos dos lábios de Celeste Bouchard. Seu coração palpitou num desgosto profundo demais para ser expresso em palavras, pensamentos, ou mesmo lágrimas...
Capítulo 2
Em ondas de luz radiante o vento penetrou pelas janelas. Dali se podia ver o imenso e resplandecente azul do oceano, as escuras montanhas molhadas sobre as quais a villa se empoleirava, o deslizar cortante das gaivotas contra o puro e apaixonante céu da França. A paz e o tremulante brilho do meio-dia impregnavam o ar sereno, como uma bênção. Daquelas janelas não havia nenhum sinal da vida agitada e decadente de Cannes, nada além da purificação das águas, os gritos das gaivotas, e o suave farfalhar do vento.
Havia silêncio no quarto. As altas e desbotadas paredes e o teto luziam com brilho sombrio. Havia um reflexo ondulante nas frias e obscuras flores, nas formas dos simples, mas perfeitos móveis escuros, nos potes e vasos de flores espalhados nas mesas e na lareira. Num canto distante havia uma cama em forma de dossel preparada, como se esperasse alguém. No entanto, próximos às janelas, olhando para fora, para a serenidade e resplendor do verão, estavam sentados dois homens, em extrema quietude.
Não era, porém, a quietude da paz, da meditação tranquila. Coisas haviam sido ditas em voz abafada, atrás delas uma aura de amarga violência, desespero, desesperança, lamento impotente. Estendia-se o mais moço numa chaise-longue, um xale fino sobre os joelhos descarnados. A cabeça descansava num travesseiro arredondado, rosto virado para as janelas. Aquele rosto era branco e imóvel. Tão quieto como a morte, que parecia nunca estar longe dele. Era um homem próximo dos quarenta anos, de colorida palidez e formosura, cabelos sedosos e ralos. Sinistramente magro, o rosto parecia feito dos mais delicados ângulos, delicados, porém estranhamente fortes: salientes ou encovados, os ossos eram agudamente visíveis sob a magreza. Era um rosto gentil, severo, triste, reflexivo, e cheio de intenso intelecto. Sua atitude revelava profunda exaustão, mas também um espírito que não lhe permitia descansar a carne moribunda, de tão imbuído de paixão, coragem indomável e mágoa infinita. As mãos descarnadas, mas finas e pequenas, pousavam sobre o xale; e embora ele por muito tempo permanecesse calado, os dedos se mexiam, tremiam, convulsivamente cerrados sob o ímpeto de pensamentos tumultuosos. Fixos no mar, os olhos eram fortemente azuis e diáfanos, cheios de valor e destemidos, ardendo agora em louca infelicidade.
O homem sentado a seu lado era bem mais velho. Um homenzinho moreno, seco, enrugado, com uma barbicha acinzentada, careca. A expressão excêntrica e amarga, mas generosa e resignada, refletia-se nos grandes olhos castanhos fitos no homem mais jovem. Nele havia quietude, meditação, um sentido de grande sabedoria que contrastava visivelmente com a prostração agonizante implícita na atitude do outro. Ele pensou:
"Eles nunca aceitam, esses gentios. Seus clamores crescem tempestuosamente, e longe de seus desesperos abandonam tudo. Isso porque vivem no círculo do Hoje, na bolha do Agora. Atrás deles não podem enxergar o passado ou o futuro. Quem pode resistir sem a noção do ontem e do hoje? O desespero é prerrogativa da criança, mas a estupidez o é do homem. Sim, estou desolado. Na verdade, arruinado. Não vejo esperanças para mim. Mas não desespero. Que importância tenho eu? O amanhã não me pertence. E a vida ludibria os amanhãs, inevitavelmente, mundo sem fim. Por que o meu caro amigo não pode entender isso? Ele está absorvido com o hoje. Nele enxerga a imagem de todos os amanhãs. Mas o hoje, embora seja terrivelmente medonho e lance sua sombra ensanguentada no futuro, traz também uma esperança para esse futuro. O homem morre, mas a humanidade continua. Porém esses gentios creem que as agonias de cada homem são as agonias do mundo... sua morte, a morte do mundo. Estão presos por suas carnes intolerantes. Nós, pelo menos, temos uma visão mais ampla da humanidade, de sua diversidade, da obrigação moral de recuperar-se da angústia, da luz distante de outros sóis brilhando em seus rostos. Eu sucumbirei, mas meu irmão viverá."
O homem mexeu-se lentamente nos travesseiros e disse, em voz fraca, em alemão:
— Não consigo suportar, Israel! Não consigo! — Ergueu as mãos cansadas e entrelaçou-as numa convulsão reprimida: — Que posso fazer? Que pode alguém fazer?
O Barão Opperheim olhou para o amigo com piedade profunda. Esfregou o lado do nariz fenício e tossiu levemente. Murmurou algo. O homem virou-se para ele. O barão falou mais alto:
— Eu estava citando uma passagem de Egmont, de Goethe. Lembra-se do pranto de Ferdinand? "Devo apoiar e assistir passivamente... impotente para salvar-te ou apoiar-te! Que voz nos lamenta! Qual o coração que se não destroça ante tamanha angústia?!"
O jovem estava calado. Mas os olhos fixavam o outro com intensidade exausta e mortal. As mãos entrelaçadas apertavam-se.
O barão inclinou a cabeça e deu seu sorriso de esguelha e lamuriento. Mas o olhar permanecia compassivo quando disse suavemente:
— E Ferdinand continuou a dizer ao seu caro amigo Egmont: "Deves manter-te calmo, deves renunciar, levado pela necessidade, deves avançar para a terrível luta com a coragem de um herói! Que posso fazer? Que devo fazer? Deves conquistar-nos e a ti mesmo, és o vencedor; tu e eu sobreviveremos. Perdi minha luz no banquete, perdi minha bandeira no campo. O futuro para mim é negro, desolado, perplexo."
Silenciou um momento, depois sorriu ternamente. Inclinou-se para o amigo e repetiu, com suave insistência:
— "Deves avançar para a terrível luta, com a coragem de um herói."
De repente o jovem virou o rosto, para que o amigo não visse o que se passava em seus olhos.
— Goethe — continuou o barão ponderadamente — foi um grande homem. Até que esqueceu o mundo por si mesmo. Quando clamava por todos os homens, tinha a estatura de um gigante. Quando se lembrava apenas de si próprio, era um pigmeu. Quando lamentava os tormentos de todos os homens, sua voz era ampla como o vento. Quando começou a lamentar-se, a prantear sua impotência em voz intolerante, a bradar seus sofrimentos numa estridente voz feminina, então essa voz foi esmagada entre os próprios dentes. Não foi esse Goethe quem disse em Egmont: "Era meu sangue e o sangue de muitos corações bravos! Não! Ele não teria sido derramado em vão! Para a frente, bravo povo! E quando o mar irromper e destruir as barreiras que resistiriam à sua fúria, nós também esmagaremos o baluarte da tirania e em torrentes impetuosas o expulsaremos da terra usurpada. Eu morro pela liberdade por cuja causa tenho vivido e lutado, e para a qual me ofereço para mais do que um sacrifício doloroso."
Ele suspirou:
— Sim, Goethe foi um grande homem quando acreditou no poder de apenas uma alma. Foi um homenzinho perdido quando não mais acreditou nisso.
O homem mais novo entreabriu os lábios pálidos como se fosse falar e os fechou novamente. Rugas de sofrimento crônico lhe vincavam profundamente a boca.
— Você deve prosseguir. Deve falar. Deve prevenir, caro Peter. Nada deverá calar-lhe a boca, enquanto viver. A destruição está aqui. Mas não é irremediável. Ela não destruirá totalmente o mundo enquanto existir um único homem com uma grande alma. Você tem uma grande alma. Se apenas uns poucos homens o ouvissem, eles bastariam para salvar a humanidade. Lembra-se da história de Sodoma? Foi necessário apenas produzir alguns homens íntegros para salvar a cidade da justa ira de Deus. — Sorriu: — Certamente você não está só. Hão de existir no mundo dez homens como você, para salvar a cidade! — Riu suavemente: — Talvez Deus concorde. Talvez Ele esteja de acordo em poupar a cidade se apenas dez, se apenas cinco, se apenas uma alma virtuosa puder ser encontrada.
Peter Bouchard ergueu do colo as mãos entrelaçadas e respirou com dificuldade. Havia um som rascante em sua respiração, que vinha da alma e dos pulmões.
— É estranho! — continuou o barão. — Eu, como qualquer outro, jamais acreditei em Deus nos dias de paz e tranquilidade. Mas hoje creio. — Voltou a cabeça para as janelas e Peter viu seu perfil hebraico, sereno, meditativo, pesaroso, cheio de tristeza, mas bastante calmo. — Eu creio — repetiu.
— Porque não pode fazer mais nada. Como todos nós, você é impotente — comentou Peter com profunda amargura.
O barão virou-se rapidamente para ele. Os olhos vivos cintilavam:
— Não, não sou impotente! Creio em Deus!
Peter comprimiu as mãos sobre o rosto e os olhos, pensamentos cheios de mortal desprezo. Pois lhe parecia que o mundo dos homens era um mundo de ódio, no qual era impossível viver, dar o menor suspiro livre e feliz. Sentia a condenação suspensa sobre o mundo como uma espada. Sua sombra já havia caído sobre cada cidade, cada aldeia, cada oceano, cada rio, cada torrente. O fio a que ela estava presa balançava ao vento de uma fúria crescente. A condenação justa. Que se deixe a espada cair. O mundo merece isso. Coragem, ternura, honra, paz, piedade, justiça e clemência: mentiras! Não havia amor — nunca existira! Nunca! Honra? Oh! principalmente honra não havia! Apenas ódio. O mundo voltou-se sempre para ele com férreo clangor, eco condenatório da perfídia e da perversidade humanas.
Ele pensou:
"Não posso viver num mundo como esse, no mundo que está para vir."
As palavras do barão ‘Eu creio’ pareciam-lhe a essência de triste absurdo. Ele apenas podia lembrar-se das coisas que o barão lhe dissera. Perguntou:
— Você tem certeza, Israel? Hitler vai invadir a Polônia? Haverá guerra? Eu sempre disse que haveria guerra, mas dificilmente acreditava. Você me fez acreditar.
O barão acenou afirmativamente:
— Sim, caro Peter, haverá guerra. Quando Hitler atacará a Polônia não tenho certeza. Mês que vem? Agosto, setembro, outubro? Não sei. Mas será breve. Devemos aceitar isso.
— E a França? a Inglaterra?
— A Inglaterra entrará na guerra. Desta vez não ousará ignorar o desafio. Confio na Inglaterra. Sob a corrupção, deslealdade, pusilanimidade de seus líderes está o povo inglês. Sempre sob a cobiça dos poderosos permanece o povo. Em todo lugar. Não apenas na Inglaterra. Em todo lugar. — Olhou mais uma vez pelas janelas: — Até na França.
— Pode afirmar isso depois de tudo que vimos e soubemos?
— Sim, meu caro Peter. Mesmo depois de tudo isso. Quando os capitães e os reis partem com suas bandeiras e os enfeites de suas infâmias, o povo é abandonado no campo de batalha. Será ele finalmente quem vencerá, quem compreenderá, quem reconstruirá e enterrará os mortos. — Acrescentou suavemente: — Ele é que ouvirá a voz dos dez, dos cinco homens honrados de Sodoma.
Peter estava silencioso. O barão olhou-o com profunda piedade. Havia morte naquele homem tão jovem. Ela estava ali, nas sombras acinzentadas de seu rosto descarnado. Lá estava ela como uma luz espectral em sua fronte. Mas a voz ainda vivia. Podia ainda falar, e na loucura e no tumulto crescentes alguém a ouviria e dela se lembraria.
— Quando voltar à América, fale, escreva, não descanse nunca. Diga ao seu país o que sabe. Será odiado e ridicularizado pelos que conspiram contra seu povo. Será xingado de vários nomes. Que significa tudo isso para você? Em algum lugar alguns homens o ouvirão. Eles não esquecerão. Eles se lembrarão quando a tormenta estiver no auge.
Continuou:
— Eu não iria apenas a Paris, onde a decadência e o vício sobrevivem e tramam: iria por todo o campo. Falaria ao povo. Ele está perdido e aterrorizado. Confuso. Traído. Alguém precisa ficar sabendo disso. Eles sabem disso, em seus corações tolerantes. Eis por que estão assim tão confusos. Mas chegará o dia em que não mais ficarão confusos nem amedrontados. Em que perceberão quem são os que os traíram. Será um dia terrível. Mas será também o dia da força, da coragem e do valor. Pois o povo são os filhos daqueles que destruíram os direitos dos reis, o poder dos opressores, o domínio de um clero assassino e corrupto. Eles se lembrarão. Eles lutarão outra vez com os punhos de seus pais.
Peter nada disse. Mas olhava o barão com repentino estímulo nos olhos exaustos. As mãos erguidas permaneciam no ar, num gesto de extrema atenção.
— E na América — acrescentou o barão — também se lembrarão. Você deve ajudá-los a lembrar. A próxima guerra não será entre líderes, generais, reis, monstros e opressores. Será uma guerra entre filosofias. A filosofia da coragem, da vida, da liberdade, e a filosofia da covardia, da morte e da escravidão.
Um leve barulho de passos e Celeste entrou no quarto. O barão levantou-se rapidamente e curvou-se. Ela lhe sorriu, e a suave austeridade de seus lábios e de sua expressão suavizaram-se.
Debruçou-se sobre Peter e sentiu a temperatura de sua fronte. Ele virou-lhe a palma da mão e beijou-a. Ela lhe deu uma suave pancadinha no rosto e olhou-o com infinita ternura e ansiedade.
— Está se cansando, meu querido — disse ela. — Tem ânimo de descer para o almoço? — Fez uma pausa. — O Conde von Bernstrom e Lorde Ramsdall já estão aqui.
Peter olhou para o barão, que rapidamente lhe retribuiu o olhar:
— Sim, querida, estou me sentindo muito bem. — Parou um pouco. Olhou de novo para o barão: — Estou me sentindo muito bem — repetiu — na verdade, nunca me senti melhor.
Capítulo 3
Foi um almoço simples e delicioso, servido no terraço cheio de sombras de onde se avistava o mar e ouviam-se seus ruídos. O conde enfureceu-se mais uma vez com o fato de perder os excelentes Pierre e Elise — aqueles fazedores de milagres que haviam transformado um insípido pássaro num faisão assado por anjos do céu. Os pitus, a salada, os pãezinhos doces, estalando, os pequeninos petits-fours, o café ainda ajudaram a aumentar-lhe a raiva, pois permaneciam vivos em seu paladar. Sentiu-se bastante injuriado. Consequentemente, aumentou a ira contra os Bouchards, a quem obstinadamente culpava por sua perda.
Ele desejava demais Celeste Bouchard, mas agora sadicamente. No íntimo, sorriu com escárnio do seu marido. Um exemplo de pura decadência, sem dúvida alguma. Que mais se podia esperar daquele casamento consanguíneo? O conde estava bastante familiarizado com as ramificações da família Bouchard, aquela poderosa empresa de material bélico que dominou todas as outras existentes no mundo, e cujos dedos curvos e magros se apossaram de tantas indústrias aliadas. Esse Peter Bouchard: o conde meditava. Era primo em terceiro grau de sua mulher, nascida Celeste Bouchard. Reconhecia o conde que o casamento consanguíneo enfatizava traços positivos e eliminava os vulgares. Era só considerar a criação de cavalos. Porém isso inevitavelmente leva também à decadência, um apuro tão extenso que se torna tênue e implícito com o declínio. O pai de Celeste fora Jules Bouchard, esse velhaco brilhante e sem escrúpulos que se tornara lendário. O primo dele, Honoré Bouchard, era inteligente e íntegro. Era evidente haver legado tais qualidades ao filho mais novo, Peter. O conde fungou de novo. Inteligência e integridade! Atributos de tolos! Pura decadência.
O conde relanceou o olhar à senhora Bouchard mais velha, a viúva de Jules. Não uma autêntica Bouchard, mas como tantos outros aristocratas, ela também possuía essa aura de deterioração física e espiritual, comentou consigo mesmo. Ele próprio, refletiu, era um aristocrata. Porém a aristocracia germânica, devido à sua comparativa mocidade, ainda retinha a virilidade e a crueldade do bárbaro. Os franceses e os ingleses estavam velhos, acabados. Sorriu para consigo mesmo.
Adelaide, mãe de Celeste, misteriosamente ‘sentiu’ os pensamentos do alemão. Voltou para ele, relutantemente, os fatigados olhos castanhos. Ele percebeu-lhe o olhar, inclinou a cabeça cortesmente e com uma indagação. Ela se desviou em silêncio.
Lorde Ramsdall estivera fazendo-se agradável para sua anfitriã e o marido. Repetira que Cannes não seria a mesma após sua partida.
— Não posso acreditar nisso — falou Peter, que mal provara o almoço. Olhou para cima, e seus claros olhos azuis eram diretos: — Claro, é muita bondade sua dizer isso, Ramsdall, porém Celeste e eu não temos sido exatamente a vida da Côte... — Relanceou um olhar para a esposa e, por um momento, sua expressão se tornou triste e pesarosa: — Ficamos muito retraídos... ninguém sentirá falta de nós.
Como se lhe sentisse a tristeza, o pesar, o desgosto, Celeste procurou-lhe a mão, sob o punho de rendas, e a apertou calorosa e ternamente. Olhou para Ramsdall:
— Ingenuamente, não tivemos muito em comum com os turistas ou os residentes permanentes. Não demos importância às coisas que os atraem. Viemos aqui para descansar, acalmar-nos, e pelo clima.
O Barão Opperheim estivera muito silencioso durante o almoço. Contudo, seu velho rosto expressivo, moreno e inteligente, o mirar de seus olhos fundos e perspicazes, tão compassivos, pesarosos e gentilmente amargurados, pareciam ter contribuído muito para a desconexa conversa em torno da mesa. No momento, lentamente passeava o olhar por todos os rostos, e seus silenciosos comentários pareciam observações reais e audíveis. Chegou, por fim, à velha Sra. Bouchard e lhe sorriu. Seus lábios fizeram doce esse sorriso, doce e íntimo. Perguntou:
— Lamenta deixar-nos, senhora?
Sua fatigada abstração se aligeirou quando ela se voltou para ele. Aparentemente havia nele algo que despertava nela uma emoção profunda:
— A alguns de vocês — afirmou a senhora, voz cansada e gentil. — Especialmente ao senhor, Barão.
Ele inclinou a cabeça, agradecendo a gentileza:
— Gostaria de ir com vocês, querida amiga!
Peter se voltou para ele num fatigado alerta:
— Sim, gostaria de perguntar-lhe outra vez, Israel. Por que não pode ir? Seria fácil obter-lhe um passaporte. Eu... eu poderia fazer isso para sua filha, o marido e as crianças.
— Bem, muito bem! Pensa que esqueço? Mas para mim... não.
Calou-se, tocou a barba. Von Bernstrom ouvia atentamente, com uma expressão de afeto nas feições apergaminhadas. Falou:
— Israel não é alarmista. Não acredita, como o senhor, Sr. Bouchard, que haverá guerra.
O barão se virou para ele com branda, porém penetrante simplicidade. Seus olhos fitaram o amigo com fixa concentração:
— Pelo contrário, Wolfgang, creio que haverá guerra. Vai negar que também sabe disso?
— Absurdo! Absurdo! — gritou Ramsdall, vigorosamente, segurando o copo de vinho na mão atarracada. — Por que haveria guerra? Admitindo tudo que sabemos de Hitler, que é um louco paranoico, com manias de grandeza, que é um monstro, devemos também admitir que não é idiota. Ele sabe que não pode vencer. Buscará vitórias incruentas, tais como a de...
— Munique — disse Peter, e uma pálida contração lhe passou pelo rosto.
Ramsdall tossiu. Falou, gravemente:
— Sabe que nunca concordei com você, Peter, a respeito de Munique. "Paz em nossos dias." Que nobre frase! E não duvido de sua validade. — Recostou-se na poltrona e sorriu ao jovem: — Confesso que nunca entendi isso em você, Peter. Julgaria que você, acima de todos os outros, teria ficado deliciado com Munique. Você sempre odiou a guerra com uma paixão louvável e civilizada. Todavia, não ficou encantado. Nada disso. Explicou que...
— Disse e repeti vezes sem conta que Munique trouxe a guerra para mais perto do mundo que qualquer outro ato durante os últimos cinco anos — observou Peter, com impaciência febril. — Tivéssemos admitido a Rússia às discussões, tivessem Chamberlain e Daladier recusado ir a Berchtesgaden sem um representante de Stalin, tivesse estado aqui esse representante, não teria havido um ‘Munique’ no atual sentido da palavra. Quando repudiamos a Rússia assinamos nosso consentimento para a guerra. Agora, o sangue do mundo cairá sobre nossas cabeças.
Ramsdall sorriu indulgentemente:
— Tenho de discordar de você, Peter. Tivesse estado aqui o representante da Rússia, haveria guerra do mesmo jeito. Os bolchevistas estão desejando a guerra. Gostariam de ver nossa mútua destruição, para que pudessem assumir o controle. Qualquer estudante de História moderna sabe disso. Stalin nos instigaria para combate.
Hitler, depois se sentaria, sorrindo, vendo-nos cortar as gargantas uns dos outros. Mas fomos muito espertos para ele.
— Espertos demais... — observou Peter, com ênfase sombria.
— Agora, combateremos Hitler sozinhos.
— Drang nach Osten — murmurou o barão.
— Perfeitamente certo, caro Israel! — exclamou o conde. — Drang nach Osten. Se Hitler lutar, o que ele certamente não fará, atacará a Rússia. Não a Inglaterra, não a França, não a América.
O barão sorriu de esguelha. Esfarelou um pedacinho de pão entre os dedos morenos e lentamente relanceou o olhar em torno da mesa.
Peter suspirou, como se a conversa o fatigasse. Olhou para o barão:
— Mas falávamos de você, Israel. Por que não pode ir conosco? Ficaremos em Paris por algum tempo. Você pode obter um passaporte: esperaremos por você.
O barão balançou a cabeça:
— Para mim... não! É muito simples, mas ninguém compreende. O que aconteceu na Europa é culpa de todos nós. Seu julgamento será sobre todos nós. Sou um covarde? — Deu de ombros:
— Parece-me que sair daqui será a maior das covardias. Poderia eu haver ajudado a evitar esse horrível desastre? Poderia qualquer de nós tê-lo feito? Não estou sendo claro — acrescentou apologeticamente. — Todos somos culpados: ingleses, franceses, alemães. — Bateu na testa e depois no peito, significativamente: — Aqui e aqui é que jaz a culpa, é que o mal começa a florescer. Não em Hitler, não em Franco, não em Mussolini. Só aqui e aqui. Na alma. No coração. Na mente. Em qualquer homem. Correr e deixar a sentença cair sobre um companheiro pecador é covardia.
— Que poderia você haver feito? — gritou Peter, com impaciência. — Você, um judeu? Você, a primeira vítima?
Porém o barão olhou para Ramsdall, para o seu amigo von Bernstrom, daquela sua maneira direta e fatal. Respondeu a Peter, mas só olhava para aqueles dois.
— Que poderia eu ter feito? Poderia haver pensado com minha alma. Poderia ter-me voltado para Deus. Poderia ter tido fé. Eu, nós, não o fizemos. Há em Deus um estranho poder... — acrescentou, em tom suave e quase inaudível, e seu rosto se tornou velho e profundo sob a dor.
Os grossos lábios vermelhos de Ramsdall se franziram com deleite. Porém havia um brilho maligno em seus olhos, cheios de um desprezo hostil:
— Os judeus sempre recorrem a Deus quando falha o poder do seu dinheiro... — comentou.
Peter, sua esposa, sua sogra, o olharam, chocados. O conde fez uma careta.
Mas o barão inclinou a cabeça quase com humildade:
— Tem razão — murmurou suavemente. — Nisso diferimos de vocês. Vocês nunca cedem a Deus. Até o fim acreditam em dinheiro, em poder. Mesmo na forca, acreditam nele. Vocês nunca compreendem.
Ramsdall tossiu:
— Espero não o ter ofendido, Opperheim. Não tive essa intenção, asseguro-lhe. De certa forma, estava elogiando seu povo. Vocês cedem muito mais cedo que nós. Mas, francamente, não consideram isso uma grande covardia?
O barão sorriu e não respondeu. Suas mãos continuavam a esfarelar pão, e agora os movimentos dos dedos pareciam decisivos enquanto lentamente deixavam cair migalha a migalha de modo a formar um montículo como de cinzas.
Houve um silêncio em torno da mesa. A aragem forte levantou as abas da toalha de renda, reluziu na prataria. Havia no ar um forte perfume de rosas. O mar arremetia com um sussurro profundo, e a despeito da luz e do sol havia nesse fôlego cósmico rara qualidade agourenta.
O barão olhou a pilha de migalhas na toalha e, levados por sua atenção, os outros também a contemplavam. Ninguém poderia haver explicado o que tanto lhes atraía a atenção. Porém o montículo de migalhas parecia de importância enorme e-terrível para eles. Sentiam uma pressão na atmosfera, uma constrição no peito — mesmo Ramsdall, mesmo von Bernstrom.
— Quando criança tive uma babá — começou o barão, em voz macia. — Eu desperdiçava pão: era uma criança muito teimosa. Empilhava migalhas, assim. Era minha ocupação favorita. Certa vez ela me disse: "Quando se desperdiça pão, o pão sagrado, desse modo, a alma nunca terá descanso depois que deixar o corpo. Irá vagando pelo mundo até que a última migalha seja reunida fora da terra, fora dos estômagos das aves e dos animais, fora da água. Você vagará por muito tempo. Pois cometeu um grande pecado."
Ergueu a cabeça e pela última vez olhou vagarosamente para cada rosto.
— "Vagará por muito tempo." Logo o mundo estará cheio de almas procurando... Cometemos um grande pecado.
O conde acendeu um cigarro, com movimento gracioso, ainda que canhestro. Soprou uma coluna de fumaça azulada no ar luminoso e observou-a a enroscar-se. Seus pensamentos eram virulentos, e cheios de desdém. Porém mantinha uma expressão impassível e distante. Quando voltou a atenção para os outros, após um longo momento, o barão o observava, os olhos escuros atentos, expressivos, cheios de melancolia e profunda reflexão. Por alguma estranha razão, o conde sentiu-se imediatamente impregnado de raiva impotente e de aversão.
Ramsdall estirou-se desconfortavelmente na poltrona:
— Bem, quanto a mim, estou satisfeito em dizer que estou de volta à Inglaterra. Existem movimentos aqui na França. Confesso não gostar deles. Não gosto da implicação de julgamento aqui, recentemente. Na Inglaterra o clima é mais saudável, apesar de chover quase constantemente — e riu com simpatia.
Voltou-se para Peter:
— Você gostará de saber que pretendo continuar minha política de paz, no meu jornal. Sempre apoiei Chamberlain, que você não aprova, meu caro rapaz. Entretanto, creio que o velho excêntrico tem razão. Nada temos a ganhar com a guerra, mesmo que haja a mais remota possibilidade de tal catástrofe, coisa que não há. Seus artigos em meu jornal, Peter, eram muito louvados pelas pessoas previdentes. Podemos esperar por outros do mesmo tipo?
— Não! — disse Peter calmamente.
Ramsdall ergueu os sobrolhos ante essa impolidez. Adotou uma expressão esquisita e suspirou, inclinando-se para depositar as cinzas do excelente charuto no cinzeiro de prata.
Disse o conde:
— Se pensasse que ia haver guerra, meu caro Sr. Bouchard, eu deixaria a França imediatamente. Tenho amigos na Alemanha que me mantêm informado. Observe que estou perfeitamente à vontade na França. Não sairei. Permaneço. Isso não lhe significa nada?
— Sim — afirmou Peter.
Os olhos dos dois homens se encontraram e se sustentaram.
No silêncio ressoante que se seguiu à réplica de Peter, Celeste ergueu-se — e os cavalheiros com ela, todos exceto Peter, mantido em sua cadeira pela leve pressão da mão da esposa em seu ombro.
— Desculpem-nos, a minha mãe e a mim — disse Celeste, em sua voz suave. — Ainda temos que empacotar algumas coisas.
Estendeu a mão a Lorde Ramsdall, que a pegou calorosamente. O rosto da moça tinha o olhar fatigado de delicada severidade, porém o olhar era direto entre as negras pestanas curvas:
— Então é adeus, Lorde Ramsdall.
— Não, e sim ‘até à vista’, cara senhora Bouchard — replicou o homem galantemente. — Espero estar na América em outubro. Confio em que os verei então?
Ela sorriu brevemente, depois voltou-se para o conde, que levou sua mão aos lábios: então a severidade dela se tornou fixa e dura.
Sua mãe, Adelaide, recebeu em polido silêncio as observações de pesar dos cavalheiros. As senhoras saíram do terraço. Sua partida logo foi seguida pela de Lorde Ramsdall e do Conde von Bernstrom. O barão permaneceu.
Por longo tempo ele e Peter ficaram no terraço iluminado pelo sol, sem falar, mas contemplando o golfo onde o mar suspirava agitado.
— Será um dia infeliz para a França, se ou quando von Bernstrom se tornar um gauleiter — comentou o barão, cansadamente.
Peter se mexeu em sua poltrona, e bateu as mãos:
— Tem certeza, Israel? É este o plano? Inacreditável!
O barão deu de ombros:
— Tenho amigos na Alemanha que me mantêm informado — citou, com aquele sorriso triste e esquisito.
— Mas a França! A Linha Maginot!
— Disse-lhe inúmeras vezes, caro Peter, que mil Linhas Maginot não poderiam resistir à iniquidade do coração dos homens...
— Israel, tenho de perguntar-lhe outra vez: por que não informa Daladier, Bonnet, Renaud, todos eles? As autoridades? Que esse infame é um espião, um perigoso conspirador?
Novamente o barão deu de ombros e espalmou as mãos:
— Já lhe disse: eles já sabem. São indefesos, ou fazem parte da conspiração. Que fazer?
Peter gemeu:
— Digo-lhe que não acredito nisso! Deve ser engano! Isso é fantástico! É um pesadelo!
— É uma Noite de Valpúrgia! — concordou o barão. — O mundo está penetrando na longa noite! — E acrescentou: — A dança dos loucos! O carnaval dos palhaços! A folia dos assassinos! Ouça: pode escutar o lamento das flautas insanas, a batida dos terríveis tambores. O cenário está preparado. A assistência é o mundo, o mundo que pagou os atores e os chamou ao palco. Pagou seu preço para vê-los, com voracidade, ódio e traição. Ele deixará o teatro mergulhado em sangue. Seu próprio sangue.
Ele continuou, em voz tão baixa que Peter mal o ouvia:
— Não Hitler. Não Mussolini. Não. Não são esses os culpados! É o mundo inteiro! Não apenas a Alemanha. Não. Inglaterra, França, América. Esse o jogo que pediram. Esses os atores que chamaram. E que Deus tenha piedade de nossas almas!
Sua antiga e enorme doença apanhou Peter novamente, uma doença da alma, angústia e impotência da mente.
— Houve a Manchúria — falou o barão. — E Deus disse ao mundo: "Agora? Quer opor-se aos maus agora?" Porém os gananciosos responderam: "Não. Enriqueceremos com essa conquista!" Deus é paciente. Houve a Etiópia. "Agora?", perguntou Deus. Porém não, ainda não era agora. Houve a mesma resposta dos gananciosos, e os estúpidos choraram e gritaram: "Serei o guardião de meu irmão?" E houve a Espanha: "Oh!", gritou Deus, "certamente é agora? Olhem o sangue dos inocentes, dos corretos, dos justos, dos amantes da liberdade, pobres e honestos homens!" Porém os iníquos escarneceram, os gananciosos estenderam as mãos, os traidores se afastaram. E os estúpidos, como sempre, tremeram e ocultaram o rosto. Vieram depois Tchecoslováquia, Áustria, de suas profundezas, fora da Alemanha, veio o apelo de homens bons, homens inocentes, homens desamparados. "Mundo", falou Deus severamente, "é agora? Certamente é agora?" Porém houve apenas silêncio, ou gargalhar, ou gritos de ódio.
Deteve-se. Agora sua voz era solene, abafada, gélida:
— Virá outro dia. Muito em breve. E a voz de Deus encherá o universo como um terrível trovão cósmico, dizendo: "Homens, certamente morrereis, pois ignorastes o pranto de vossos torturados irmãos. A punição paira sobre vós. Esta é a hora final! Todos nós temos uma terrível e inevitável hora final, quando é preciso escolher entre as coisas pelas quais vivemos ou aquelas pelas quais morremos. A hora já está sobre vós. É AGORA. Deve ser agora, oh! geração adúltera e sem fé?"
Peter ouvia com atenção apaixonada. Perguntou:
— Será "agora", Israel?
O barão ergueu a cabeça e olhou para o céu. Juntou as mãos, como em prece urgente, humilde e profunda, murmurando:
— Creio, certamente creio: será AGORA!
Capítulo 4
Celeste e sua mãe ocuparam lugares de honra à mesa do comandante do íle de France. Era o comandante um bretão carrancudo, que não gostava do mar, e tinha particular aversão por passageiros ricos. Provinha de uma longa linhagem de pescadores, que consideravam o mar um imenso animal cuja existência podia ser tolerada apenas porque separava a costa da França da costa da Inglaterra, e continha peixes. Não tinha ilusões românticas a respeito das grandes águas; vira homens demais — inclusive seu próprio pai — morrer nelas. Segurança e alimento: isso o mar fornecia. Assim, tinha razão para existir. Mas não podia acreditar que uma de suas razões fosse proporcionar transporte luxuoso entre continentes para os vadios, os ricos e os viciosos. Usava-se o mar como um baluarte, uma necessidade. Usá-lo para recreação, cavalgar o topo de seus abismos aquosos e profundos horrores era para ele algo de amedrontador. Constantemente meditava sobre isso. À noite ficava na ponte, olhando o espumante negrume com ódio, impassível ante o fragmentado o caminho prateado da lua, ou a fosforescência que cintilava na esteira do navio. Em seu ódio havia medo. Mas os aloucados que dormiam, bebiam, dançavam, fornicavam e mentiam e comiam lá embaixo nada sabiam sobre ‘medo’ — exceto o medo de que os anos vindouros poderiam não ser tão bons para eles.
O comandante apertava os punhos e sorria sinistramente. Anos vindouros! Outrora fora primeiro-oficial num navio de guerra francês. Flexionou o braço. Não era velho! Ainda podia lutar! Com seu ouvido íntimo, ouvia o som oco das armas cavalgando as ondas como se fosse um urro de gigantes. Ah!, como lutara! O mar tinha outro uso além de segurança e alimento; podia levar as proas de navios de ferro até as entranhas do inimigo. Viu bandeiras contra o céu! O Boche! Como odiava o Boche! Quase tanto quanto odiava o mar. O Boche lhe parecia horror maior do que as águas, pois o Boche tinha mente e fazia o mal deliberadamente. Coração palpitando mais fortemente do que o fizera em anos, o comandante temporariamente se sentiu superior ao mar. Curvou-se sobre a ponte e cuspiu nele:
— Você é muito idiota! — dirigia-se a ele: — Não afunda os navios do Boche imediatamente quando ele embarca sobre você. Se você fizesse isso eu poderia suportá-lo. Poderia perdoá-lo.
Cogitou o quanto demoraria antes que o Boche se recuperasse e se pusesse a caminho pela antiga trilha de guerra. Ele, o comandante, tinha no cofre certo envelope selado, a ser aberto apenas em caso de guerra súbita. Que conteria o envelope? Que ordens? O escuro rosto enrugado do comandante tremeu. Receberia ordens para permanecer num porto neutro com seu navio? Isso seria mau. Sentia-se doente. Ou receberia ordens de render-se ao Boche — navio com toda a equipagem? Pensou nisso, incrédulo. Recordou que durante a última guerra nunca pensou semelhante coisa: pensar isso seria uma desonra, merecedora de morte. Mas nestes dias malignos tudo era possível. Não era desonra pensar coisas assim. Para o comandante isso parecia terrível. Considerava os inimigos ocultos da França, espreitando como lesmas loucas sob pedras, como víboras venenosas escondidas em pequenas tocas, sob samambaias, em lugares sombrios e úmidos. Esses inimigos sempre existiram, mas no passado não ousavam mostrar-se a menos que um tacão forte os esmagasse. Agora, esperavam. Não mais havia tacões fortes, ou estavam impedidos. Havia o clero, os que odiavam o liberalismo, esclarecimento e liberdade, sempre esperando com suas interdições, suas faces estreitas e venenosas, suas cruzes, suas correntes, sua crueldade e seu ódio. Havia os estadistas pusilânimes, os conspiradores, os servidores das mulheres roucas e venais, os covardes, os choramingas, as criaturas sem fortaleza de ânimo ou sem honra, os doentes, os mentirosos e traidores, os idiotas ricos que de nada se lembravam e odiavam sempre.
No que se transformara a França! Ele pensou em seus compatriotas que ele levara à América por simples diversão e depois trouxera de volta à França, um pouco mais tarde. Em suas sujas mulheres não havia sequer um prazer sadio. Eram podres de doenças; em seus olhos depravados não havia luz de alegria. Pensou nos gordos e morenos industriais, nos políticos, nos fornecedores de perfumes, nos diplomatas, nas costureiras, nos chapeleiros, nos autores de literatura elegante e obscena, nos jesuíticos cavalheiros enfraquecidos, impotentes e efeminados. Eram eles a França! Não!, disse o seu coração, com súbita paixão. Ainda havia o pescador bretão, o camponês em seu campo, o pequeno artesão, o homem na fábrica e nas minas. Ele os conhecia. A França estava morta e cheirando mal à superfície. Porém o tronco era sadio. Então se sentiu mal outra vez. Uma árvore sempre morre primeiro no topo. Quem, nesta situação desesperadora, cortaria com mão certeira a madeira podre, para que pudessem crescer novos ramos? Quem salvaria a árvore antes que a decomposição chegasse às raízes? Havia a bordo um prelado da Igreja, de rosto comprido e sinistro. Também ele se sentava à mesa do comandante. O comandante arrotou e pôs a mão no ventre. Não, não precisava do bismuto. Só precisava afogar o prelado. Depois poderia digerir adequadamente de novo...
Nessa viagem havia a bordo uma porcentagem extraordinariamente alta de americanos. Ah!, os ratos tinham ouvido o trepidar das madeiras da Europa! Pressentiram o fogo distante. Ouviram o pesado rumor das botas de ferro. Farejaram os eflúvios do gás tóxico. Assim, estavam de volta à sua pátria imensa e farta, onde poderiam esconder-se por trás de seus bancos e das barricadas de suas ações. Julgavam-se a salvo. Eram demasiado estúpidos para saber que, desta vez, ninguém estaria a salvo em lugar nenhum do mundo. As trombetas do julgamento estavam soando embaixo de cada muro do mundo. Já a argamassa ia sendo peneirada de entre as pedras, enchendo o ar de poeira sufocante. As grandes pedras gemiam enquanto se deslocavam desajeitadamente uma sobre outra. Oscilavam e guinchavam os portões. Poderiam esses idiotas, esses ricos vagabundos, imbecis inúteis, apodrecidos, ouvir e sentir tudo isso? Ele duvidava. Não, eles de nada lembravam, nada aprendiam, não pensavam nada. Não pensavam senão em sua carne, seus ventres, sua luxúria — homens e mulheres igualmente.
Talvez a ruína próxima fosse uma boa coisa. Talvez destruísse esses glutões vorazes, como paredes ao desmoronar destroem o cupim que as devora. As paredes de gesso e os dourados das catedrais cairiam, enterrando o mau cheiro dentro delas; os tronos dos reis, os tetos impregnados de mentiras do governo: também esses tremeriam no terremoto que estava a chegar. E quando a fumaça se retirasse das cidades arrasadas se descobriria que o fogo as purificara, as limpara de mentirosos, exploradores, assassinos, conspiradores e imbecis?
O comandante realmente odiava americanos. Pois eles se julgavam diferentes do comum dos mortais, e viviam em algum plano esotérico que podia estar em comunicação com o plano dos demais homens, mas não ser invadido por eles! Quando diziam: ‘Sou um americano’, sorriam presunçosamente, como se declarassem ser habitantes de Marte e da Lua — nada tendo em comum com a Europa e a Ásia — que respirassem outro ar, fossem pressionados por outra atmosfera, e seu ser fosse de outro tipo de carne e de outro universo, turbilhonando placidamente acima do mundo como uma nebulosa inexpugnável. Quem lhes disse isso?
Que mentirosos, que conspiradores, que traidores, em seu próprio governo, entre seu próprio povo, lhes transmitira essa mentira sobre sua morte vindoura? Existe apenas um mundo, apenas uma raça de homens. Se os americanos não aprenderem isso logo, logo, certamente morrerão. Pensou nessas tolas e tagarelas mulheres americanas a bordo do navio, as depravadas mulheres cheias de joias, com suas gargalhadas altas e agudas, seus homens igualmente desmiolados e complacentes, e rosnou uma praga.
Então se deteve. Lembrou-se das duas senhoras americanas à sua mesa, as Madames Bouchard. Porém essas senhoras eram bem estranhas, não eram como suas colegas americanas. Eram discretas, bem-nascidas, voz macia e educada, quase sempre silenciosas e retraídas. A mais jovem lhe recordava sua própria filha, que fora educada em um convento. Madame Bouchard possuía a mesma doçura, delicadeza e timidez, bem como o mesmo aristocrático orgulho. Ah!, e que fisionomia, austera e frágil, de contornos delicados, tão bela! Havia também sua mãe, uma grande dama. Sentiu-se mais benévolo e indulgente. Não havia conhecido muitas senhoras americanas tão distintas, mas talvez essas não fossem as únicas.
Depois, havia também o pobre Monsieur Bouchard, com a morte estampada na face, voz clara e firme, penetrantes olhos azuis-claros, integridade e honra. Não um americano típico. O capitão deu de ombros ao pensar no típico homem americano, que era ou obeso ou atlético, jogador ou apaixonado por cavalos e mulheres, ruidoso, dogmático, ignorante, egoísta, arrogante, acreditando que tudo estava à venda. (Mas... não estaria mesmo?, refletiu o capitão com ironia ácida.) Monsieur Bouchard não se assemelhava a seus camaradas americanos. Pena que só tivesse comparecido à mesa duas vezes nesses últimos quatro dias da viagem. Estava doente. Mas não tinha enfermeira, nem médico particular — embora sua família fosse uma das mais ricas do mundo. Nem tinha tomado o camarote mais luxuoso e caro. (Esse estava ocupado por uma americana cujo único título para a fama foram seus notórios adultérios, dos quais extraíra quantias verdadeiramente impressionantes. E tudo isso durante sua carreira de soubrette, nadadora, dançarina apenas vestida de leques, e oradora enfática no cinema! Na verdade, um país fantástico, essa América!) Não: a suíte ocupada pelos Bouchards era modesta: três quartos de dormir, uma pequena sala comum, e um banheiro. Diziam que a jovem Sra. Bouchard era enfermeira do marido, e que o servia com infinita devoção, essa, provavelmente, a razão para o aspecto cansado e a fixidez do olhar e da boca, e certa severidade na sombra azulada junto a suas delicadas narinas. O comandante suspirou. Esses não eram os expatriados habituais. Ouvira dizer que Monsieur Bouchard vivera na França por motivos de saúde. Se assim foi, não havia melhorado nada. A morte o andava rondando com seu sopro gelado. Mas podia-se compreender que um cavalheiro de tal gabarito estava de volta à América por alguma razão especial.
A jovem Sra. Bouchard não frequentara a mais simples festa durante a viagem. Não seria de esperar que comparecesse ao último baile, que se realizaria nessa noite. No dia seguinte chegariam a Nova York.
Tão jovem, tão bela, e tão sem luz, sem vida, sem alegria! Só aquela esquisita severidade de alguém unicamente dedicada ao dever. Quão pathétique!
Celeste bateu gentilmente à porta do quarto de Peter e, ante seu convite para entrar, pôs o rosto brejeiramente dentro do quarto e depois entrou, sorrindo brilhantemente. Peter estava na cama, seu remédio na mesinha-de-cabeceira ao alcance da mão. Sentava-se recostado nos travesseiros, pois não podia ficar deitado. Por vezes, durante a noite, a longa e solitária noite, Celeste podia ouvir-lhe a tosse até não suportar mais, tendo de cobrir os ouvidos.
A luz suave da lamparina destacava o encovado e a palidez de suas faces, a boca com sua sugestão de fanatismo intelectual, as olheiras, a testa resoluta. Devolveu o sorriso da esposa com fatigada paixão e amor, estendendo-lhe a mão:
— Alô, meu anjo! Veio dar boa-noite ao seu triste marido?
Para abafar uma revolta momentânea contra a débil autopiedade dele, ela se curvou e o beijou gentil e graciosamente:
— Alô, coitadinho! — falou, carinhosamente.
Sua voz suave o iludiu um pouco. Afofou-lhe os travesseiros, deu uma olhada ao reloginho recamado de pedras preciosas, serviu-lhe uma dose do sedativo que ele sempre tomava: habitualmente agia em cerca de quinze minutos. Ele o ingeriu obedientemente, a olhá-la ternamente. Depois ergueu-lhe as mãos e beijou suas palmas. Suspirou. Ela se sentou a um canto da cama. Seu rosto era belo em sua compaixão, sua coragem, e seu amor.
— Nossa última noite fora de casa — ela comentou. — Amanhã estaremos em Nova York. Que virá depois?
Ele estava silencioso. Ergueu a mão e tocou os lábios, tossindo automaticamente. Disse depois:
— Somos vagabundos sem lar. A que vida a conduzi! Planos?
Ela se curvou e levantou uma caixinha após outra em sua mesinha-de-cabeceira, examinando os conteúdos:
— Peter! Não tomou suas vitaminas ao jantar! Se eu não o vigiar constantemente, você se descuidará. Como uma criança. Bem, já é muito tarde. Amanhã tomará dose dupla.
Voltou-se para ele e tornou a sorrir:
— Sim, planos. Não sei. Podemos escolher uma meia dúzia de lares ou mais, de nossos queridos parentes. Preferiria o de quem, até encontrarmos nossa própria casa, ou construir uma? Naturalmente, levaria um ano para construir, e podemos circular entre a família, permanecendo até que nos expulsem.
Riu alegremente. Ele apenas sorriu distraidamente, olhando para longe dela.
Depois ele começou a falar com hesitação:
— Olhe, isto pode ser embaraçoso. Recebi hoje um radiograma de Henri, convidando-nos para ficar com ele e Annette em Robin’s Nest.
Ela ficou rígida de surpresa e choque. Mas não disse nada: apenas o observou atentamente.
Ele falou em tom mais alto, como a justificar-se, ou tentando quebrar a resistência dela — que julgava inevitável:
— Francis, Jean, Hugo, meus preciosos irmãos. Eu tinha uma espécie de predileção por Francis. Agora, não sei mais. Todos nos convidaram. Toda a família. Muito generoso e cheio de afeição por parte deles. Podemos ficar indo da casa de um para a de outro indefinidamente, até decidir o que fazer. Não gosto da ideia. Além disso, eles me enojam. Já lhe disse quanto desprezo a todos eles?
Teve um riso breve, que lhe acarretou um acesso de tosse. Celeste deu-lhe um copo d’água. Ele não viu que a mão dela tremia um pouco. Bebeu: cessou a tosse. Recostou-se nos travesseiros, aspirando exaustivamente, gotas de suor na testa e no lábio superior. Os olhos azuis estavam injetados. Ela o olhou, e seu coração frio foi retorcido como por dedos de ferro. Seu rosto estava tão pálido quanto o dele.
No súbito silêncio podiam ouvir o barulho do mar fora das vigias, as risadas e os passos de homens e mulheres no convés, o som distante de música de dança.
Ele falou de repente, olhando-a com sofrimento:
— Minha querida, que vida tem tido comigo! Que lhe dei eu? Era tão jovem quando nos casamos, pouco mais que uma criança! E era tão feliz antes de conhecer-me... Que foi que eu lhe trouxe? Cuidados para com um desprezível inválido, uma vida errante, desabrigo, noites sem sono, enfermagem constante. Você nunca teve um lar. E nunca teve um marido... — acrescentou em tom mais baixo, muito calmo, porém cheio de dor, e também de vergonha: — Como perdoar a mim mesmo? Desprezo a mim próprio!
A dolorosa ferida no coração dela aumentou, expandiu-se, até que toda a sua carne estava mergulhada em sua angústia. Recostou o rosto no travesseiro, ao lado do dele. Podia sentir-lhe o calor, podia ouvir o ruído rascante de sua respiração difícil. Beijou-lhe a face, os lábios... e lágrimas lhe saltavam, ardentes como metal em fusão.
— Peter, como pode dizer isso? Eu o amo tanto! Sempre o amei terrivelmente! Realmente, nunca me importou coisa alguma ou alguém, só você! Você me trouxe uma felicidade imensa, tão grande que odiei a mim mesma por fazer tão pouco por você. Tenho estado tão assustada! Não sabia ser tão covarde... Nunca acreditei em nada, de verdade. Mas desde que me casei com você, tenho rezado! Rezado de verdade. — Riu sufocadamente. — Você me fez ficar religiosa, querido.
Ele moveu a cabeça e apertou a face contra a dela com força febril, e suspirou repetidamente, o som triste parecendo vir de suas torturadas entranhas. Com ternura infinita, e sofrimento, alisou os negros cabelos no travesseiro ao lado dele...
— Tudo que tivemos foi tão, tão precioso! — ela sussurrou, sorrindo radiante nos olhos dele, rosto banhado em lágrimas. — Muito, realmente muito precioso. E tanto, que eu não trocaria isso por coisa alguma do mundo! É por isso que tenho rezado.
Ele continuava a acariciar-lhe os cabelos com seus dedos emaciados. Pensava: "Será melhor para ela quando eu morrer. Devo apressar-me. Devo fazer logo tudo que determinei. Isso feito, poderei partir. Será fácil partir. Mas devo apressar-me, antes que ela sofra demais. Antes que seja demasiado tarde para que ela refaça a sua vida, que eu quase arruinei. Ela ainda é jovem. Tem ainda tempo para ser feliz..."
O pensamento proporcionou-lhe uma alegria súbita, um súbito bem-estar. Um leve colorido voltou ao rosto lívido. Deu umas pancadinhas nas faces:
— Bem, as preces devem ter tido algum efeito. Neste último ano estive bem melhor. Sabe disso. Antes dos últimos doze meses estive praticamente acamado por dois anos. Agora, estou quase normal. Posso levantar-me por quatro... seis... horas por dia. Sairei do navio por mim mesmo. Deve contar-me a respeito de sua nova religião. Talvez eu também possa utilizá-la!
Ela sentou-se, enxugando as lágrimas e rindo um pouco:
— Oh! Peter, lembra-se de como o arrastei a Lourdes? Não foi ridículo? Não foi absurdo? Fazê-lo beber daquela água abominável, ajoelhar entre aquela mistura de pessoas diferentes, olhar para aquela estúpida gruta? Eu era tão determinada! Ajoelhei com você. Muitas vezes me perguntei por que me fez a vontade, indo lá...
Ele disse, sorrindo de leve, pegando-lhe a mão de novo:
— Mas isso lhe fazia tanto bem, meu anjo! Não era mesmo? Você parecia refrescada depois disso, cheia de esperança...
Ela balançou a cabeça, seu sorriso fazendo brilhar os alvos dentes à luz suave:
— Bem, havia todas aquelas muletas, e pessoas gritando que estavam curadas... Realmente casos sem esperança. E tudo que você tinha eram algumas manchas nos pulmões. Eu o considerei uma pechincha para os poderes místicos! Apenas algumas manchas. Era um trabalhão e tanto curar os aleijados, pensei, e os cegos e os surdos. Durante a distribuição sobrenatural, suas manchas apenas seriam um leve tremular do punho espiritual, mera bagatela de generosidade. E, por falar em esperança, você não tossiu durante dois meses depois disso!
Riram juntos, na plenitude do amor e das recordações.
— Psicologia — falou Peter afinal. — Você sabe, uma boa metade dos sofrimentos humanos vem da mente. Por fim sabemos disso, como os feiticeiros da selva e os supostos santos sempre souberam. A medicina moderna é apenas presumir, enquanto desgrenhados e arquejantes na retaguarda das bruxas e dos curandeiros pagãos. Talvez um dia isso se superará. Beijar a barra pétrea de uma estátua de Hera ou Juno, ou a imagem de Isis, ou as relíquias dos mártires e santos cristãos... tudo é a mesma palhaçada. O altar de Diana, a gruta de Lourdes. A mesma coisa. Supernaturalismo? Só o supernaturalismo, a incompreensão da alma e da mente humanas. E, talvez, o mistério de Deus, o que é provavelmente a mesma coisa. Sim, fui ajudado em Lourdes. Não se pode estar em presença da fé, mesmo a fé ignorante e supersticiosa, sem ser atingido.
— Percebi, rebaixei a você e a mim mesma — disse ela. — Parecia tão medieval... Repelente, repugnante, mórbido, supersticioso.
— No entanto, fui ajudado. Não podemos negar isso. Frequentemente tenho cogitado se não haverá localidades no mundo fortemente impregnadas do que chamamos ‘supernaturalismo’. O que provavelmente não é absolutamente supernaturalismo, porém o remanescente de desconhecidas e misteriosas cargas de força, força cósmica. Como depósitos de carvão, ou petróleo. Podem haver cristalizado, como diamantes, quando o mundo estava esfriando de seu estado de fusão. Que são tais depósitos de força oculta? Sabemos que o universo consiste em tremendas cargas atômicas de nêutrons e elétrons, que o que conhecemos como ‘matéria’ são apenas essas cargas, em fluxo constantemente, em movimento incrível. Os hindus jamais acreditaram em ‘matéria’, e inúmeros místicos tampouco. Acreditavam que ‘matéria’ e Deus são sinônimos. Quando me dei tempo para pensar, também acreditei nisso.
Ele continuou, reflexivamente:
— Na verdade, eu quase creio nesses depósitos cósmicos de força misteriosa em certas localidades do mundo. Exatamente como por vezes acredito que existam benevolentes depósitos de força oculta do que chamamos ‘bem’, também existem depósitos do que chamamos ‘mal’. E esse mal explode no mundo periodicamente como um vulcão ativo, atingindo todos os homens. Está explodindo agora. Pode-se senti-lo. A razão, como uma vela, apenas pode iluminar bem pouco. Porém por trás de sua luz tão fraca ouvimos estranhos ecos cósmicos, percebemos sombras de mistério.
Voltou-se para ela, rindo gentilmente:
— Bem, estamos ficando filósofos. Voltemos à superfície e às coisas como aparentam ser.
Hesitou:
— Chegou um cabograma de Henri. Pensei no assunto. Você e Annette eram muito chegadas. Gostaria de ficar com ela por algum tempo?
A expressão dela era impenetrável. Ele não podia perceber-lhe a agitação. Ela pensou: "Ele esqueceu. Muito sensato, claro. Como éramos tolos!" Disse:
— Recebi um cabograma de Annette nos convidando. Você vai rir de mim: pensei que ia recusar. Antigamente Henri era muito hostil... embora ele e Annette fossem gentilmente ao nosso casamento, e vocês apertassem as mãos, depois, com toda cordialidade.
Peter achou graça. Enquanto ria, parecia quase bem:
— Isso foi há muito tempo. Agora estamos mais velhos.
Deteve-se, e já não parecia divertido. Olhou-a com sinceridade:
— Vou dizer-lhe a verdade, minha querida. Sabe o que planejo fazer? Logo que possível, voltarei ao trabalho. Outro livro. Talvez vários. Você conhece meus planos. Por isso é que estamos voltando a Windsor. Devo estudar os Bouchards. Estudei os da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da Rússia. Sei o que têm feito. Sei que mãos movem o Departamento de Estado, os diplomatas americanos e estrangeiros. E sei de quem são as mãos mais fortes: de Henri.
— Mas, querido, nossa família não é tão onipotente assim! Sei que é muito poderosa. Porém não passa de uma organização. Não pode manipular o mundo inteiro tão facilmente...
— Você esquece suas ramificações. Esquece que está enredada com todos os homens de poder: na política, na indústria, no governo. Ela simboliza todos os homens de poder, os homens do mal. Ao escrever, deve-se confinar o geral ao particular. Não se pode abarcar toda a humanidade num simples livro: apenas se pode usar alguns caracteres, uns poucos incidentes. Uma sinfonia não contém toda a música. Mas sugere toda ela. Contém elementos de toda a harmonia escrita e ouvida. Henri é o mais poderoso dos Bouchards. É o ‘homem-chave’ dos ‘homens-chave’ do poder. Por isso é que desejo estudá-lo de perto.
Ela olhou o aro cintilante em sua mão esquerda. Balançou a cabeça, sorrindo:
— Isso não será um pouco traiçoeiro? Nós lhe aceitamos a hospitalidade, e você o coloca sob um microscópio! — E riu.
Ele a tomou a sério:
— Acha que seria desonroso? Se pensa assim, não aceitaremos seu convite. Eu não violaria mesmo o mais leve escrúpulo seu, minha querida.
Ela tornou a rir:
— Queridinho! Que falta de humor! Eu estava gracejando. Você tem seu trabalho a fazer. Sabe como sou devotada ao seu trabalho. Quase tanto quanto você. Farei tudo para ajudá-lo. Iremos, então. Telegrafarei imediatamente a Annette. Ela e Henri vieram a Nova York especialmente para encontrar-nos, e acho que foi muita bondade deles. Estão no Ritz-Plaza, informou.
Inclinou-se e beijou-o. O sedativo começara a agir. As pálpebras dele estavam pesadas. Havia em seu rosto exausto uma expressão de paz. Ele a observou deixar o quarto. Os olhos dele a seguiram com apaixonado enternecimento até ela desaparecer...
Capítulo 5
Sozinha, Adelaide estava à sua mesa de leitura, no seu quarto, quando a filha bateu maciamente à porta. Celeste entrou, sorrindo:
— Mamãe? Venho perturbá-la? — Trazia na mão o cabograma enviado a Peter.
— Não, querida — respondeu Adelaide, pondo o livro de lado. Olhou a filha com profundo carinho e tristeza. A moça estava tão pálida, tão contida, tão rígida que o coração de Adelaide doeu. Vivera na maior intimidade com Celeste e Peter durante os últimos cinco anos, porém agora conhecia menos a filha do que há catorze anos atrás, quando Celeste casara com Peter. Nunca havia a menor indicação do que ela pensava, naquele belo rosto de marfim, nenhuma centelha dos seus pensamentos mais profundos naqueles olhos azul-escuros. A tristeza de Adelaide era mais do que podia aguentar. Teria errado ao manobrar em favor desse casamento, julgando-o o melhor para Celeste? Certamente o casamento apenas trouxera dor e ansiedade para a moça, só temores e noites insones. Trouxera um amor profundo? No começo, Adelaide acreditara nisso. Agora, não tinha tanta certeza. Se tivesse havido um filho! Porém ela sabia, com a sutil onisciência de uma mãe, que pelos últimos dez anos, pelo menos, não tinha havido a possibilidade de um filho. Pensou na terna dedicação, nos cuidados pacientes e incessantes que Celeste dispensara ao marido. Certamente, isso devia ser amor! Mas, com Celeste, não se podia garantir. Havia nela um severo puritanismo, uma paixão pelo dever silencioso, pela mais dura autoimolação.
Muitas vezes Adelaide quisera gritar à filha querida, em lágrimas de angústia:
"Diga-me, querida! É feliz? Ama o pobre Peter? Não lamenta o que tem passado? Deve dizer-me, para que eu tenha um pouco de paz!"
Mas nunca pudera! Era uma velha agora, muito velha. Morreria em breve. Estava tão cansada... Porém nunca, mesmo que vivesse para sempre, arranjaria coragem para fazer tais perguntas. Se ouvisse a resposta, poderia expirar em uma convulsão de agonia cheia de remorso. Ora, ela podia ficar em paz. Não ousou correr o risco da primeira e terrível possibilidade.
Por vezes ela se consolava com a lembrança de que Celeste é que tomara a decisão final de desposar Peter, ela é que rompera o compromisso com o primo Henri Bouchard, cruel e friamente violento. Não havia fraqueza em Celeste. Sob aquela delicada atitude e gentileza havia um caráter firme como uma rocha, algo de duro, inflexível e determinado. Nada poderia obrigar Celeste a um casamento que lhe repugnasse. Sim, ela amara Peter. Disso Adelaide estava agora certa. Ainda o amaria? Ela, Adelaide, algum dia saberia?
Talvez Celeste sempre soubesse que essas perguntas atormentavam sua mãe. Talvez fosse a razão para o seu firme alheamento, seu olhar resoluto que desafiava Adelaide a intrometer-se impertinentemente, seu calmo afastamento quando a conversa parecia querer tornar-se íntima. ‘Até aqui você pode ir, não mais adiante’ — era a lei silenciosa de Celeste Bouchard. Adelaide não se sentira ferida por essa dureza. Apenas temia que Celeste não ousasse permitir nenhuma intimidade, pelo bem de sua própria alma, sua própria coragem, sua própria segurança. Ela fizera a coisa: casara com Peter. Tudo isso era irrevogável. Escolhera seu caminho, e o palmilhava brava e calmamente, não se arrependendo, não se desviando, nem ao menos suspirando.
Por vezes, com terror, Adelaide cogitava se Celeste teria amado Henri Bouchard. Oh!, nem ousava pensar nisso! Durante o noivado, ela, Adelaide, não podia pensar senão que Henri, com sua fria depravação, sua arrogância, sua força implacável, destruiria a moça. Violaria a virtude de Celeste. Agora, Adelaide não estava tão certa. Às vezes o terror a esmagava. Recordava sua parte na quebra do compromisso. Seria agora sua punição o observar o sofrimento paciente e sem queixas de sua filha? Não lhe seria dada oportunidade para descansar sua própria mente, oferecer consolação, simpatia e afeição? Para pedir perdão?
A desesperançada pergunta ainda lhe bailava na mente quando Celeste se sentou perto de sua mãe. Sorria seu habitual sorriso calmo e desmaiado. Usava uma fina blusa de renda preta, através da qual sua carnação muito alva brilhava como mármore. Seus lustrosos cabelos pretos estavam deliciosamente penteados, embora ela não tivesse camareira. A boca vermelha seria perfeita em sua face pálida e luminosa não fosse pela dureza nos cantos delicados, dureza provinda de longa paciência. Sacudiu o papel e riu um pouco:
— Sabe que vamos passar o verão em Crissons, Mamãe?
— Sim, querida — replicou Adelaide, com enternecido amor na voz trêmula.
Celeste riu e fitou o espaço. Seus olhos azuis-escuros estavam pensativos e um tanto satíricos:
— Acaba de ocorrer-me que não temos um lar absolutamente! Crissons é propriedade de Christopher, embora ele viva agora na Flórida e raramente pise lá. Deixe-me ver: há uns três anos que ele esteve lá. Muita gentileza dele oferecer-me Crissons.
— Você é irmã dele — disse Adelaide, retraindo-se como sempre que se mencionava o nome de seu filho mais novo. — Por que você não usaria Crissons? Afinal de contas eu contribuí para o mobiliário, embora o ache medonho!
Celeste sorriu:
— Sim, a casa é austera. Jamais gostei dela, por dentro ou por fora. Edith a odeia. Creio que ela se sente satisfeita porque ela e Christopher foram para a Flórida quando se casaram. Nunca os visitamos na Flórida. Poderemos fazê-lo, neste verão. Christopher nos convidou. O clima pode ser bom para Peter. — Calou-se. Ao falar o nome do marido, a tênue sombra de tristeza, como sempre, empanou-lhe as feições, fazendo sua calma oscilar e romper-se por um momento. Continuou, num tom ligeiramente mais firme: — Sim, poderá ser bom para Peter. Mas você sabe do antagonismo entre ele e Christopher. Ainda não lhe perguntei. Talvez seja melhor não falar nada a este respeito.
— Se vocês não quiserem Crissons, poderemos ir para Windsor, e ficar em Endur — falou Adelaide, esperançosa, lembrando-se de seu antigo lar.
Celeste deu de ombros:
— Não creio que Endur me atraia. Jamais gostei daquela casa, também. Além disso, Armand, o novo superintendente, não a alugou? Sim, lembro-me que ele me escreveu a este respeito.
Riu outra vez, sem alegria:
— Realmente não temos um lar! Os primeiros dois anos em que Peter e eu estivemos casados foram passados em Nova York. — Ergueu os dedos da mão esquerda e os contou com a direita:
— Depois, passamos quatro anos na Inglaterra, em Torquay. Voltamos a Nova York por um ano. Foi quando morreu o pobre Etienne. Ocupamos o apartamento dele. Que lugar fantástico! Depois, pensando que as montanhas poderiam ajudar Peter, fomos para a Suíça por dois anos, ou um pouco mais. Depois, Paris, por alguns meses. E então Alemanha, e Itália. Finalmente, Cannes, por cinco anos. Que horríveis expatriados somos!
Ela sorriu pensativamente.
— Por que não ficar em Nova York por algum tempo, e então você e Peter poderão escolher com calma onde preferem viver? — sugeriu Adelaide, apertando as mãos nodosas no gesto crônico de dor.
Celeste, sem responder, ergueu o papel dos joelhos e o estudou ponderadamente. Apareceu uma leve ruga entre seus olhos. Esteve calada por pouco tempo. Depois disse:
— Gosto de Windsor. Sinto que tenho raízes ali. Talvez porque seja praticamente infestada de Bouchards. Todos nós. Nós a possuímos, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. E financeiramente. Sinto-me importante em Windsor. Não inútil, como agora. Peter não disse que a odiava. Acho que, para ele, é perfeitamente indiferente. Também acho que ele poderia vir a amar a cidadezinha, como eu amo.
Estava calada de novo. Estudou o papel atentamente. Havia nele poucas linhas. Adelaide o reconheceu como o cabograma. Depois teve a sensação de que Celeste estava procurando ganhar tempo, de que, por uma vez, estava hesitante — ela, sempre tão resoluta.
— Isso é um cabograma, querida? — perguntou Adelaide, numa tentativa.
Ainda contemplando o papel, Celeste acenou que sim. Ergueu a cabeça e fitou sua mãe, quase desafiadoramente:
— Poderíamos ficar com Armand, ou Emile, ou Jean, ou qualquer um do resto de nossos numerosos parentes durante algum tempo, até nos decidirmos. Todos nos convidaram. Afinal de contas, Francis é irmão de Peter, e já tiveram algo em comum. Naturalmente, George nos convidou para ficar com ele e Marion na sua fazenda em Dutchess County. Eu não gostaria disso, embora ele e Peter sejam grandes amigos. Eu na verdade detesto Marion. Imagino se ela é tão sagaz como sempre... Lembra-se? Papai sempre falava por que ela ia por toda a danada da cidade com toda aquela ‘sagacidade’. Meu Deus! — acrescentou, após um momento — tenho estado longe por tanto tempo que não sei nada da família. Certamente teremos parentes mais jovens!
Com terror súbito e irracional, Adelaide pensou: "Ela está pensando em algo. Pelo menos uma vez, tem medo de falar nisso. Está hesitando!"
Obrigou-se a falar calma e indiferentemente:
— Bem, logo você saberá tudo a respeito de nossos parentes, ao voltarmos. Que decidiu fazer, querida?
Celeste tornou a fitar a mãe, que percebeu uma centelha de crueldade nos belos olhos da jovem mulher.
— Na verdade, entre a multidão de parentes existe apenas um com quem tive certa afinidade: Annette — referia-se à sobrinha, filha de seu irmão mais velho, Armand. — Sim, Annette. Éramos muito chegadas. E quase da mesma idade. Sempre gostei muito de Annette.
Então o terror acabou de cerrar-se sobre Adelaide. Annette, esposa de Henri Bouchard! Pobre pequena Annette, que quase morreu quando Celeste ficou noiva de Henri! Desde o casamento de Annette e Henri, Celeste os havia visto apenas três vezes em catorze anos, mesmo assim por momentos. Verdade que Annette e Celeste se haviam correspondido assiduamente, sempre, com afeição. Porém cartas não são contato pessoal.
Adelaide inspirou profundamente. Encontrou os olhos de Celeste, e seus lábios murchos ficaram secos.
— Está tentando dizer-me que realmente pensa em ficar com Henri e Annette em Robin’s Nest, Celeste? Você e Peter? Recordando ... tudo?...
Celeste ainda tinha os olhos fixos. Sua expressão era imóvel. Uma sobrancelha preta se ergueu de modo crítico:
— Oh! Mamãe! Isto é tão cansativo! Porque fui, há muito tempo, uma garota boba, e noivei com Henri, não quer dizer absolutamente nada. Foi há tanto, tanto tempo... Todos já esquecemos isso. ‘Recordando... tudo’, disse você. Tão melodramático! Que há para recordar, a não ser um pequeno engano? Estou certa de que Henri já esqueceu há muito tempo. Se você se lembra, ele não ficou inconsolável: casou com Annette quase imediatamente.
Adelaide forçou-se a falar em tom tão indiferente quanto o da filha. Mas sua voz estava bem fraca:
— Mas, por que Annette, querida? Afinal, há Emile, seu próprio irmão, e a esposa, Agnes. Emile é meu filho. Eu preferiria ficar com meu filho a ficar com minha neta e o marido.
Celeste a fitou com uma candura que era, no entanto, impenetrável.
— Bem, isso nos traz a um impasse, Mamãe. Não podemos, os três, desabar nas costas de nossos parentes, podemos? Assim, sugiro que você vá para Emile, ou para Armand, enquanto Peter e eu iremos para Annette e Henri até nos estabelecermos.
Adelaide, completamente sem fala, olhou para a filha. Seu rosto enrugado e triste pareceu deprimido. Pensou: ‘Exilei-me com você e seu marido, minha filha. Vagueei por todo o terrível mundo com você. Em sua esteira arrastei meus velhos ossos, querendo apenas estar com você, servi-la e ajudá-la, porque só a você amei, de todos os meus filhos. Porque você, de todos os meus filhos, é que tem integridade de caráter, honestidade, virtude. Eu assim julgava. Será possível que me haja enganado em todos esses anos? E está me recompensando por tanta dedicação com esse frio e cruel repúdio? Que estará por trás disso? Por que está fazendo isso comigo, com você mesma?"
E ela sabia que, uma vez separada de Celeste, nunca mais lhe seria permitido estar com ela. Será que Celeste compreenderia isto? Buscou o rosto da filha com doloroso fervor, com súplica apaixonada. Se Celeste compreendeu que estaria para sempre separada de sua mãe — estaria fazendo isso intencionalmente? E por quê?
Estaria ela amedrontada?
O pálido rosto macio à sua frente, com a firme boca florescente e os olhos quase violeta e polidos como ametistas em sua brilhante dureza, nada lhe disse. Mas Adelaide estava doente de medo, de terror.
Com um supremo e desesperado esforço ela chorou, estendendo-lhe as mãos:
— Minha querida, sejamos francas, por uma vez, em todos esses catorze anos! Você quer livrar-se de mim? Diga-me, honestamente! Eu lhe falhei de algum modo?
As feições de Celeste apenas expressaram uma surpresa impaciente:
— Mamãe! Como pode dizer isto? Você tem a imaginação fértil! Não seria a mais sórdida das criaturas se esquecesse o que tem feito por mim e por Peter? Que teria eu feito neste mundo sem você?
Adelaide se calou. Torcia as mãos. Olhou para elas, tão descoradas e cheias de manchas e de veias grossas, juntas ossudas. Ouviu um movimento macio. Celeste se ajoelhava a seu lado e punha os braços quentes e brancos em torno dos seus ombros, rindo um pouco, sacudindo-a carinhosamente:
— Oh! Mamãe, como pode ser tão tola! Olhe para mim. Não sabe o quanto a amo, minha querida?
Adelaide contemplou o rosto sorridente da filha e os olhos profundos, agora tão temos. Mas pensou: "Nunca foi tão indecifrável como agora..."
Uma horrível impotência se abateu sobre ela e um novo medo, mesmo quando beijava a filha e lhe apertava uma das pequenas mãos. Estamos falando através de uma vidraça, pensou. Isto não tem sentido real.
— Claro que sei que você me ama, querida. Sempre foi minha criança favorita. Dei o que pude. Pensa que esses anos foram fáceis para mim? Sou uma mulher idosa, muito idosa. Ando na casa dos setenta. Não viverei muito mais. Sabe — acrescentou, incoerentemente — tenho tanto medo! Sempre a achei muito vulnerável, querida. Os honestos e os virtuosos são sempre vulneráveis. Sempre tive medo por você.
Tomou o rosto de Celeste nas mãos, sentindo-lhe o calor e a textura aveludada contra suas trêmulas palmas. Segurou esse rosto em trêmulo desespero. Viu como uma fina película branca pareceu deslizar sutilmente sobre ele, ocultando todos os pensamentos, toda expressão.
— Ora, Mamãe, isso é tolice — disse Celeste, ligeiramente. Gentilmente afastou as mãos da mãe, apertou-as, levantou-se e voltou a seu assento. — Sabe, eu sou uma parada dura. Acho que nunca tive medo de ninguém. A não ser de Christopher, uma ou duas vezes. Porém era minha imaginação, já ultrapassei isso. Sabe, estamos fazendo tempestade em copo d’água. Aqui estou eu, sugerindo que aceitemos o convite de Annette, Peter e eu, e que você vá para a casa de Emile ou para a de Armand, seus próprios filhos, por algum tempo, até que nos instalemos. Francamente, pretendo não sair mais de Windsor. Nasci lá. Dúzias de Bouchards nasceram lá. Quero sentir-me novamente enraizada. Peter não poderá continuar a viajar por muito mais tempo. Não estou me iludindo. Provavelmente não estaremos com Annette em Robin’s Nest por mais de uma ou duas semanas. É melhor que um hotel, estou certa.
Aumentou em Adelaide o senso de desesperança, de confusão:
— Mas por que Henri e Annette? — tornou a insistir. — Já imaginou como Peter considerará isto? Você sabe como ele antipatiza com Henri. Sempre antipatizou.
Celeste riu outra vez, aquele riso instável e indiferente:
— Mamãe querida, isso foi há muito tempo! Se é que você se lembra, ele e Henri se escreveram várias vezes desde que estamos no estrangeiro. Cartas muito amigáveis. Acha que algum deles tem tido tempo para relembrar uma tola rixa romântica? Afinal, Henri está com cerca de quarenta anos agora, e Peter ainda é mais velho. Mamãe: você, como tantas outras pessoas mais velhas, vive agudamente no passado. Nós esquecemos tudo. Tudo, a respeito de nossa juventude e nossa adolescência. Era tudo tão idiota... Você esqueceu que Peter teve Henri como seu procurador para cuidar dos negócios dele enquanto estávamos fora, e que não pediu isso a seus próprios irmãos, Francis, Hugo e Jean? E você ainda vem com velhas armadilhas vitorianas, falando como os pais de Romeu e Julieta! Diga-me: isso não é tolice?
Acrescentou, com impaciência crescente:
— Tudo isso é um absurdo. Vou radiografar para Annette e Henri que aceitamos o convite deles.
Levantou-se, alisando as dobras do vestido de renda preta.
Adelaide pensou:
"Serei mesmo estúpida? Estarei fazendo um barulhão à toa? Estarei, como todos os velhos, pensando só no passado? A minha querida ainda é jovem. Esqueceu o passado."
Entretanto seu temor permaneceu. Pensou, com um sofrimento agudo:
"Essa menina está com medo. Mas, de quê?"
Capítulo 6
— Lá está ela, a queridinha! — gritou Annette Bouchard, na ponta dos pés para espiar por cima das cabeças ondulantes no convés do grande navio. Sacudia o lencinho de renda, atirava beijos.
— Celeste! Celeste! — chamou. — Olhe, Henri, lá está Peter ao lado dela, acenando. Ora, ele parece muito bem, Deus o abençoe. Celeste! — tornou a gritar, quase dançando de delícia, depois comportando-se. Mas sua satisfação permanecia, uma radiância em seu pobre rostinho, mais brilhante que o brilhante sol.
— Ela não pode ouvi-la, queridinha — disse Henri, indulgentemente. — Sim, ela viu você. Mas não grite tanto.
Ele se voltou para Rosemarie Bouchard, de pé ao lado dele, e sorriu ligeiramente. Rosemarie devolveu o sorriso com uma curva dos lábios vividamente pintados, e um pestanejar de desdém. Passou por trás de Annette, pequena e agitada, pegou a mão dele, apertou-lhe na palma a unha pontuda do dedo mínimo. Ele fez uma careta de dor fingida. Ela simulou um beijo exagerado.
Segundo as ramificações do clã dos Bouchards, Henri e Rosemarie eram primos distantes. O pai de Henri fora François Bouchard, irmão de Jules Bouchard, ambos primos de Honoré, avô de Rosemarie. Assim, Rosemarie era também vagamente prima de Celeste, como Jules — o pai de Celeste — fora primo do avô dela. (O pai dela, Francis, era primo em segundo grau do falecido Jules.) A avó de Rosemarie, e falecida Ann Richmond Bouchard, fora excelente genealogista, e mantivera gráficos do parentesco da família. Porém agora ninguém se importava. Era por demais complexo. O nome de família, mais do que o parentesco, é que mantinha o clã consolidado. Antigos retratos de família se alinhavam nas paredes das residências de todos os Bouchards, porém era por demais complicado traçar as linhas de descendência e intercasamentos, e da progênie resultante. O nome e o ódio mútuo eram melhores para a unidade que reminiscências de sangue. Mesmo as senhoras que entraram a fazer parte do clã pelo casamento, embora perfeitamente amigáveis e afeiçoadas no começo, invariavelmente cedo absorviam o orgulho e o ódio e superavam os Bouchards. Estelle Carew, mãe de Rosemarie, fora de início uma agradável e sadia criatura, sem odiar ninguém. Agora ela apenas antipatizava com os Bouchards — de modo que era, aparentemente, uma mulher sem caráter sólido.
Phyllis Bouchard, irmão de Rosemarie, casara com o filho do Morse National Bank de Nova York: assim era designado pelos Bouchards, embora seu pai tivesse o nome de Richard Morse. Phyllis tinha agora quatro meninas. Embora a família Bouchard fosse episcopal há muito tempo, Phyllis (casada com um provisor presbiteriano) subitamente se convertera ao antigo catolicismo do clã dos Bouchards, e suas filhas andavam com cruzes recamadas de pedras preciosas, medalhas e escapulários, fizeram a primeira comunhão, e frequentavam colégios religiosos. Tudo isso para divertimento dos Bouchards, que consideravam Phyllis uma idiota afetada, cheia de romantismo. Lembravam-se dela como o ‘pastelzinho’ — apelido posto por Christopher — e a abrupta conversão de Phyllis os divertia continuamente. De uma moça turbulenta e irreverente tornara-se uma matrona empertigada e carrancuda, diligentemente devota, e rancorosamente fanática em sua nova religião. Se alguém mencionasse a Igreja Romana com a mais leve indiferença ou ridículo, ou o mais remoto desdém, ela ficava completamente histérica, sua voz tremia, tornava-se rubra, os olhos negros faiscando com o que Henri chamava ‘a luz do auto-da-fé’. Estava constantemente brigando com os parentes, tentando convencê-los da ‘verdade’, orando por eles com ódio virulento, fazendo novenas por sua conversão, e pagando quantias tremendas de seu próprio dinheiro e do de seu marido por missas pelas almas de seus antepassados, agora penando no Purgatório — esperando remissão via dinheiro dos Bouchards. Embora os Bouchards odiassem todos os demais membros da família, Phyllis os odiava a todos com adequada crueldade e arrebatamento. Eles a engodavam, a arreliavam, quando de bom humor. Ela os aborrecia completamente, quase constantemente.
Rosemarie, embora atraente, era desagradável; muito elegante, muito francesa. Cursava a escola na França. Agora falava com sotaque francês, pura afetação, muito divertida para os Bouchards. Sua voz era áspera, elegantemente rouca — embora em momentos de tensão ela esquecesse, e lhe permitisse voltar a ser estridente. (Certa vez — distraidamente e à moda irlandesa, franca e direta — sua mãe a avisou, durante uma reunião de família, que ela acabaria por arruinar suas cordas vocais por compressão — pelo que a filha jamais a perdoou. Quando sua voz estava mais rouca, a família costumava murmurar algo a respeito de ‘compressão’, palavra calculada para tornar a jovem completamente violenta.)
Era alta e esguia, porém com esbeltez. Usava com classe suas roupas elegantes e simples, de modo que o olho do observador ficava fascinado. Parte desse fascínio se devia a seu magnetismo pessoal, pois era espirituosa, discretamente obscena, cheia de réplicas originais, e de humor. Era, também, excepcionalmente inteligente e dissimulada. E esperta demais para ser cínica, atributo do eterno adolescente, e não confiava em qualquer homem ou mulher, o que não evitava que tivesse muitos admiradores. A humanidade sempre a divertia; ela a desprezava mais do que a odiava, já que a achava constantemente divertida. Raramente admirava alguém, não sentia afeição por ninguém, embora fosse capaz de fogosa e feroz paixão — como Henri Bouchard descobriu havia pelo menos cinco anos. Desleal, traiçoeira, brilhante, maliciosa, até venenosa por vezes, nada sentimental, insensível e gananciosa, e, como todos os Bouchards, intrinsecamente egoísta, ela variava ao infinito, e nunca era monótona.
Aproveitou muito suas características desagradáveis, até que se tornassem fascinação. Os cabelos escorridos, como os de uma índia, eram sempre severamente penteados, escovados para trás, bem lisos num preto-azulado passando por trás das orelhas, e enrolados num coque na nuca. Chegavam-lhe aos joelhos. Sua trisavó, Antoinette, mulher do fundador dos Bouchards, Armand, fora italiana: talvez aí a explicação para sua tez cor de oliva, os maldosos olhos negros pequenos, porém vivazes, e o longo nariz mouro de narinas móveis. Tinha boca ampla e fina, que pintava parecendo uma vívida cutilada, e espessas sobrancelhas negras sob a testa baixa. Estava sempre em atividade constante, mesmo quando aparentemente serena. Sua expressão astuta, cintilante, cautelosa, divertida e desencantada, dava-lhe ao rosto desgracioso, mas atraente, um aspecto alerta e de forte malícia. Fora uma das inúmeras amantes de Henri durante pelo menos quatro anos. Estava agora com vinte e sete, e não encontrara ninguém com quem gostasse de casar, exceto Henri, que parecia firmemente unido a Annette.
Ela sabia que Henri não amava a esposa. Única, talvez, entre os Bouchards, sabia que ele ainda amava Celeste: em consequência, ela odiava Celeste com paixão selvagem. Fora a Nova York a compras, e a inocente Annette a convidara para acompanhá-los ao cais, para receber os expatriados. Não fora capaz de resistir ao convite, desejando ver a reação de Henri à vista de Celeste. Tanto quanto pudera discernir, as maneiras dele foram absolutamente calmas e indiferentes.
A excitação de Annette aumentou. Mal podia conter-se. Chilreava e esvoaçava como um passarinho agitado. Estava agora com cerca de trinta anos, mas nunca perdera sua aparência infantil, sua imaturidade de corpo. De pequena estatura e franzina, sempre com um jeito suave e tímido, caminhava tão gentilmente e de ombros curvados de modo que dava uma impressão de deformidade. Mas não era em absoluto deformada: é que seu corpo era todo delgadeza e fragilidade. Nunca pôde usar roupas sofisticadas: teriam parecido absurdas sobre seus delicados ângulos e busto apenas vagamente formado. Por isso era obrigada a usar estilos infantis, bonitinhos, enfeitados de fitas, fofos, que a faziam parecer ainda mais imatura do que realmente era. Podia-se apostar que mesmo em idade avançada ela conservaria a infantilidade de feições. Quando ria, era como que se desculpando e suplicante, e olhava para os outros com timidez de avezinha e gentilmente amedrontada, pois era uma alminha terna, toda doçura, castidade e bondade. Tinha um rostinho triangular, muito alvo, alquebrado de sofrimento (estivera tuberculosa na adolescência). A boca pequena, o nariz de porcelana, as linhas do queixo, da testa e das faces eram insignificantes, porém possuía os mais extraordinários e imensos olhos azuis-claros, cheios de luz, e angelicais em sua pureza. Tinham a íntima radiância dos puros de coração, sem astúcia ou crueldade. Seu pai a chamava ‘Anjo’ — como o fazia o marido nas raras ocasiões em que ela o tocava fundo, e despertava sua compaixão quase moribunda. Os cabelos cinzentos, com brilhantes ondulações, foram cortados e lhe enquadravam o rostinho em anéis como o de uma criança.
Nenhum dos Bouchards podia odiar essa pequena e doce criatura, que não pensava mal de ninguém. Apiedavam-se dela, alguns até a amavam. Rosemarie apenas a desprezava de modo indolentemente afetuoso. Ela era a queridinha do pai — que não amava a ninguém, só a ela — e era amada até pelo maléfico irmão, Antoine, de quem diziam, rindo, ser a reencarnação do letal e elegante Jules, seu avô.
Ao lado da morena e elegante Rosemarie, em seu fino costume preto de linho, Annette estava mais infantil que nunca em seu franzido vestido branco e amplo chapéu de renda branca. Sua cabeça mal chegava acima dos ombros do marido, que não era nenhum gigante.
Se Antoine, irmão de Annette, era a reencamação de Jules, Henri Bouchard era a reencarnação de Ernest Barbour, seu bisavô, o real fundador, o verdadeiro espírito da grande firma de armamentos agora chamada Bouchard & Sons. Entroncado, largo, ombros fortes, calmo e imponente de movimentos, ele dava uma impressão de força inexorável. Tinha uma cabeça extraordinariamente grande para um homem com a sua altura, e isso, combinado com topete de cabelos claros (não se podia dizer se eram cinzentos, ou meramente descoloridos), lhe dava uma aparência de perenidade. Tanto poderia estar no começo da casa dos trinta como com cinquenta. Na verdade, estava com cerca de quarenta anos. Seu rosto, também largo, era quase quadrado, com vincos fundos em volta dos lábios pesados, quase brutais. Tinha o nariz curto e grosso de Ernest Barbour, com as largas narinas grosseiras, e seu rude queixo quadrado com covinha funda. Os olhos, no entanto, é que eram a característica dominante. Pálidos, fixos, implacáveis, com brilhantes pupilas negras, eles fascinavam o observador e o enchiam de medo. Quando sorria, não passava de uma convulsão de seus lábios. Os olhos nunca sorriam. Possuía um corpo compacto e vital, com toda essa solidez. Suas roupas eram invariavelmente excelentes, bem-talhadas. Seu velho amigo Jay Regan, o mestre financista do mundo, declarou que Henri parecia incongruente em roupas modernas. Precisava do casacão de couro, das pantalonas, da gravata enrolada no pescoço e dos babados de seu bisavô para estar vestido apropriadamente. Sua voz era calma, firme, indomável.
Ele era a força dos Bouchards. Seu sogro, o gordo, corpulento, irresoluto Armand se havia aposentado. Henri era agora presidente de Bouchard & Sons, chefe de suas subsidiárias, maquinador do destino delas e, através delas, maquinador da América e, com outros, manejador do mundo.
Ficou de pé ao lado da esposa e de Rosemarie, e indolentemente observava os viajantes deixarem o navio. Annette era toda gentil impaciência para estar com sua amada Celeste e com Peter. Porém Henri a continha:
— Espere, amor. Eles têm de passar pela alfândega, você sabe.
— Por favor — ela implorou, olhando-o com todo o amor de seu puro coração aparecendo em seus olhos límpidos. E lhe tocou timidamente o braço. Ele pressionou a própria mão sobre sua mãozinha enluvada. Rosemarie fez uma careta:
— Por que a pressa? — perguntou naquela voz áspera. — É só questão de poucos minutos. — Acrescentou, indolentemente: — Vocês vão mesmo voltar amanhã de manhã? Por que essa correria toda?
— É por causa de Peter — disse Annette, com a anelante e preocupada justificativa que sempre usava com os exigentes, os gananciosos e os egoístas, como se assim lhes aplacasse a crueldade. — Ele tem estado bem doente, sabe.
"Doente! — pensou Henri. — São catorze anos! Eu lhe dava cinco, no máximo. Catorze anos! Não quero esperar mais."
Encontraram Celeste, Peter e Adelaide entre suas malas, caixas e outras bagagens. Adelaide parecia muito velha e pálida. Celeste, em sua toalete castanho e dourado, estava calma e eficiente, serena e segura, dando assistência ao funcionário da alfândega, a quem já havia encantado. Sob a aba larga do chapéu castanho seu rosto estava fresco e luminoso, como pedra branca pintalgada de sol. Peter sentou-se numa valise, emaciado e fraco, lábios bem cerrados para guardar sua débil exaustão. Os olhos estavam encovados, sombreados de sofrimento. Tossiu roucamente, e levou um lenço aos lábios enquanto observava a esposa.
Peter, mais que Celeste, é que Henri viu primeiro, e o que viu fê-lo sorrir internamente, com brutal satisfação.
Annette, num esvoaçar de rendas brancas, correu, chorando, para sua jovem tia, os frágeis bracinhos estendidos, toda lágrimas e sorrisos:
— Celeste! Oh, minha querida! Há tanto tempo! — atirou os braços em torno de Celeste, ficando na ponta dos pés para alcançar-lhe os lábios, apertando-a com paixão.
Celeste, rindo amorosamente, devolveu os beijos e abraços. Manteve Annette afastada um momento para estudar, com secreta seriedade, o rostinho triangular sob o chapéu de renda branca. O que viu lhe deu um baque no coração.
— Avozinha querida — disse Annette, virando-se para Adelaide e beijando-a. Nem sabe o quanto é bom tornar a vê-la! — Beijou a face úmida de Peter, com calorosa compaixão. Ele lutara para pôr-se de pé, e olhava para baixo, para sua prima distante com um sorriso tão gentil quanto o dela.
— Parece que fomos esquecidos — comentou Rosemarie, divertida. Mas seus brilhantes olhos negros, quando olhava Celeste, estavam cheios de ódio e ferocidade. Havia esperado que a longa enfermagem de Peter, a longa ausência podiam haver destruído aquela beleza tão perigosa para sua própria paz de espírito.
Celeste, rindo, um leve colorido agora nas faces, desculpou-se, estendeu a Rosemarie as mãos enluvadas e deu-lhe um beijo frio:
— Bonita como sempre — e sorriu. — Ainda não casou, Rosy?
Henri adiantou-se, e Celeste se voltou para ele. Olhou-o firmemente enquanto ele se aproximava. O macio véu branco deslizou sobre suas feições, e seu sorriso era o sorriso de uma estátua. Estendeu-lhe a mão. Ele a apertou fortemente, olhando-a bem nos olhos com gravidade. O coração dela começou a palpitar com a mais estranha sensação e ela sentiu um ardor na carne, uma longa vibração como um tremor passando-lhe para o braço pela mão que ele segurava. Suas narinas se dilataram um pouco, como se lhe fosse difícil respirar.
— Bem-vinda ao lar — falou ele, calmamente. — Demorou muito... Você não mudou nada, Celeste.
Como eram azuis os olhos dela à sombra do chapéu! Como violetas, como lobélias, como ametistas... Sim, neles havia o brilho e a dureza de uma joia, um colorido sem expressão. Agora estava uma mulher, ele pensou. Mais bela que nunca! Ela me pertence, sempre me pertenceu... Está com medo, sempre teve medo de mim. Por quê? Acho que sei: tem realmente medo de si mesma... Pobre tolinha!
Ele sorriu de leve, apertou-lhe a mão, soltou-a, virou-se para Adelaide:
— Como está, Tia Adelaide? — Seus lábios grossos, embora sorrissem, estavam trombudos.
Então ele não havia esquecido que ela fora sua inimiga, que ajudara a derrotá-lo, que, no mundo inteiro, só ela o havia derrotado um dia. Porém ele era muito cortês, e inclinou a cabeça, quase numa reverência, reminiscência de seu treinamento europeu.
Ela o olhou amedrontada. Lembrava-se muito bem de Ernest Barbour. Esse podia haver sido o homem terrível de que se recordava, inexorável, cheio de poder, poderoso como um exército, implacável como a morte. Como poderia ela haver esquecido a semelhança desse homem com o falecido bisavô? Até a voz, silenciosa agora por cerca de meio século, era a mesma. Seu medo aumentou:
— Que bondade a de todos vocês virem receber-nos — ela agradeceu num tom trêmulo. Seus olhos castanhos estavam acesos, com seu terror irracional. Olhou rapidamente para Celeste, o olhar da mãe cujo filho está ameaçado.
Não se deu conta do beijo cuidadoso de Rosemarie, nem do fato de que na face murcha lhe ficou uma mancha de pintura daquele beijo. Todos os seus pensamentos e sensações se centralizavam em Celeste, que se voltara tranquilamente para responder a uma pergunta do funcionário da alfândega.
Nesse ínterim, Peter e Henri apertavam-se as mãos. A voz de Henri se tornara calorosa, cheia de amizade:
— Ótimo! Você está com aparência muito melhor que na última vez em que esteve em casa!
Peter estava sorridente. Em sua face lívida havia um brilho de desalento. Olhou Henri de modo penetrante — os olhos azuis-claros de mártir heroico — mais intenso que nunca.
— Obrigado — disse ele, tentando fazer a voz tão forte quanto a de Henri e, como resultado, tendo de abafar a tosse. — Foi muito bom que viessem ao nosso encontro, que nos convidassem. Espero que não estejamos sendo incômodos, Henri.
— Absolutamente não. Estamos deliciados em tê-los conosco. Deve saber disso.
Nada poderia ser mais caloroso que as maneiras e o sorriso de Henri. Mas os pálidos olhos de basilisco não tinham calor de amizade. Peter sentiu a personalidade dele, com frieza e temor. O homem de poder. O mais terrível homem de poder. O velho ódio, o medo antigo, a repugnância de sempre o dominaram. Receoso de que Henri pudesse perceber-lhe os pensamentos, obrigou-se a ser excessivamente cordial:
— Muito bem, igualmente. Receio que nos ache cansativos. Mas ficaremos por pouco tempo.
Sua mão magra estava doendo devido ao forte aperto de Henri quando se voltou para Rosemarie, que tinha estado observando os dois homens, com um sorriso cínico e odioso. Ela o beijou cordialmente. Ele era seu tio, irmão de seu pai — Francis Bouchard — e relacionado com ela também através de outras ramificações do clã.
— Bem, Peter, em casa outra vez. Pensando em alguma nova peregrinação?
Pessoas como Rosemarie invariavelmente o faziam tremer. Eram tão firmes, tão impiedosas, tão refinadas e desumanas... Gaguejou enquanto tentava replicar-lhe com ligeireza.
— Reservamos uma suíte para vocês passarem a noite, no Ritz — informou Henri. — Melhor descansar antes de começar a viagem para casa.
Celeste estava tendo alguma dificuldade com a alfândega. Imediatamente Henri foi em seu auxílio. Em tempo inacreditavelmente curto havia resolvido tudo. Celeste o observava, um pouco à parte: viu o respeito quase rastejante dos funcionários. Ela sorriu, um tanto tristemente. Todos o olhavam. Ele atraía olhares, e estava completamente inconsciente deles, como se desdenhasse até a existência de outrem.
A limusine de Henri esperava. Estava intenso o calor em Nova York, nesse último dia de maio. Uma poeira amarelada rodopiava de encontro às vidraças do carro. Era demasiado intensa a luz nas grandes torres, doloroso o ruído. Celeste recostou-se nas almofadas e fechou os olhos. Mas podia sentir o olhar de Henri em seu rosto, a pressão do braço dele contra o dela. Suas maneiras haviam sido indiferentes, e casual a atitude. Agora ele conversava com Peter, fazendo-lhe perguntas amigáveis. Porém ela sentia seus pensamentos enlevados nela, como mãos exigentes em seu corpo e a que não podia resistir, e seu corpo respondia com calor e terror. Uma fraqueza circulava nela... seu coração palpitava tão fortemente que não podia ouvir a conversa em torno dela: chegava-lhe abafada e desarticulada. Seus joelhos estavam liquefeitos... os dedos lhe tremiam dentro das luvas...
E pensou:
"Nunca deveríamos ter aceito...", seu espírito lutando com as invisíveis, mas terríveis mãos que a agarravam, a subjugavam, tal como seu corpo teria lutado com mãos carnais. Arquejou no desejo de escapar, e quando estava cônscia desse desejo ele a abandonou, voluptuosamente. Calafrios lhe percorreram rosto, pescoço e seios. Ela o odiava; temia-o; não podia resistir-lhe. Sentiu o movimento do ombro dele de encontro ao seu quando ele respirou, e soube, sem olhá-lo, quando ele a mirava com o canto dos olhos.
Cogitou:
"Teremos de dar alguma desculpa. Amanhã, daremos alguma desculpa. Emile ainda está em Windsor. Podemos mudar de ideia... Sim, é isso. Não posso suportá-lo. Antigamente podia. Cheguei a pensar que o amava. Agora, eu o odeio! Como ousa pensar em mim, como ousa olhar para mim! Amanhã teremos de fazer outros planos. Não me lembro, agora, por que aceitei. Outros planos..."
Ela não fez outros planos. Na noite seguinte, ela e Peter ocupavam um belo apartamento de Robin’s Nest, em Roseville, subúrbio de Windsor, Pensilvânia.
Capítulo 7
Celeste esperava, vagamente, que a paz anelante e sinistramente brilhante que permanecera sobre a Europa nesse verão de 1939 ficaria ausente da América, de seu velho lar em Windsor. Assim não foi. Invadiu a América, também, como um mar de cromo rutilante que podia apartar-se momentaneamente para revelar as pontas de ofuscantes baionetas. A Depressão, "aquele homem na Casa Branca", trabalho, desemprego, o New Deal — eram, contudo, importantes em debates, em jornais, em livros, e no rádio. Porém o tópico principal era Hitler, o Corredor Polonês, as perspectivas de guerra.
Havia na América uma revolta silenciosa, uma inquietação, um olhar para o leste com medo, ódio ou esperança. Através desses mares azuis, tão calmos e suaves neste verão, tão cheios de alegre tráfico, vinham sinistros murmúrios, o sopro de ventos frios, os sons de exércitos invisíveis. E com eles vinham os gritos dos torturados, a sombra de uma multidão de braços erguidos clamando por socorro, as longas formas nebulosas da duplicidade e da traição, ganância e assassínio, terror e condenação, lançando seus reflexos no oceano cromado como presságio espectral do destino.
Celeste obrigava-se a acreditar em paz, contra o que realmente sabia, contra a cansada voz de Peter. Recusava-se a discutir com ele fosse o que fosse:
— Descansemos um pouco, meu querido — suplicava. — Só um pouco.
Sabia agora o quão nostálgica estivera. Mesmo seus numerosos parentes, os Bouchards, que já temera e com quem antipatizara, lhe pareciam adoráveis. Aceitava-lhes a cordialidade e a afeição superficiais. Seus dois irmãos, Armand e Emile — ainda em Windsor — e suas famílias estavam sempre entrando e saindo de Robin’s Nest. Seus outros parentes, Francis, Hugo, e Jean, e suas mulheres e filhos, eram visitantes frequentes, e mesmo Nicholas, aquele ‘homem sujo’. André Bouchard, mulher e filhos também vinham. Só Christopher, seu amado irmão, e a esposa Edith, irmã de Henri, ainda não haviam chegado da Flórida, mas eram esperados a qualquer momento.
Celeste sentiu a cordialidade da família. Estava inteiramente em sua mente, como Adelaide Poderia, triste, haver-lhe dito. Porém Adelaide estava com o filho, Emile, e a família dele. Sempre tivera um fraco por Agnes, a esposa de Emile, que, além de ser cínica, cruel, dissipada, e gananciosa, era também honesta. Por alguma razão, Agnes não ‘era capaz de enfrentar’ visitas frequentes a Robin’s Nest, embora Emile muitas vezes desse uma passadinha por ali quando ia para casa, ao voltar do escritório. Portanto Adelaide via a filha e Peter não mais que uma vez por semana, e até menos. Sentia uma sensação estranha na atmosfera, e por mais que tentasse afastá-la, a impressão permanecia. Sabia que bastava pedir um carro, ou mandar chamar um carro de aluguel, e poderia ir sozinha a Robin’s Nest. Mas a estranha barreira erguida contra ela, que sentia, em que não queria acreditar, evitava que fosse lá. Mas telefonava a Celeste pelo menos uma vez por dia, para ouvir, doloridamente, o tom da voz de Celeste mais do que suas palavras afetuosas.
Havia muitos outros parentes, além dos de nome Bouchard, e muitos amigos que iam visitar Celeste. Ela estava emocionada. Não esquecera que, outrora, não se importavam com ela, mais especialmente depois de seu casamento. Dificilmente era encontrada em casa. Peter, em recuperação da viagem à França, raramente a acompanhava às inúmeras casas onde a recebiam. A princípio ela recusara, porque Peter não podia ir; porém, vendo que de repente e inexplicavelmente ela manifestava uma ânsia de alegria e diversão, e pela presença de sua gente, ele quase implorara que não pensasse nele por uns tempos, e tratasse de distrair-se:
— Você merece isso, querida — dissera, gentilmente, beijando-a na mão. — Estou muito bem. Só preciso descansar. Em uma ou duas semanas estarei em condições de ir com você a qualquer lugar.
Observou que frequentemente ela jantava fora. Ele, Henri e Annette jantavam sós quase todas as noites. Henri não fazia comentários. Annette resplandecia de prazer:
— Nunca vi ninguém tão popular! Isso é bom para a nossa querida também.
Ouvindo isso, Henri inclinava a cabeça e sorria um pouco para si mesmo. Imaginava perfeitamente bem por que tão raramente encontrava Celeste em casa. Ele podia esperar um pouco mais. Compreendia essa fuga. Se Celeste não fugisse com tanta frequência, e tão persistentemente, ele não ficaria tão satisfeito. Sua ausência lhe dizia muito — para sua selvagem satisfação.
As forças de Peter não voltavam. Isso fazia com que o casal não pudesse fazer ainda planos de futuro. Ele não estava em condições de ser perturbado, de mudar-se, de ser agitado — os médicos haviam informado à esposa. Eles concordavam profundamente com Henri, que tivera uma conversa particular com eles. Ele os prevenira para não dar a ele a mais leve pista dessa conversa.
Um competente trio de enfermeiras aparecera em Robin’s Nest. Celeste protestara; Peter protestara.
— Você deseja recobrar a saúde tão rápido quanto possível, não? — perguntara Henri com impaciência, enquanto Annette carinhosamente implorava. — Além disso — Henri dissera privadamente a seu hóspede — se você recusa, Celeste ficará aprisionada aqui. Não acha que ela merece um pouco de liberdade, após todos esses anos?
Assim, infeliz como se sentia, e estranhamente apreensivo, Peter concordou com as enfermeiras, derrotando os protestos de Celeste. Sentiu-se recompensado pela nova juventude, felicidade e alegria que se tornou evidente no rosto de Celeste. Ela recuperou a vivacidade de sua juventude. Por vezes, essa vivacidade parecia febril a seu marido. Certamente, embora risse tão frequentemente e tivesse adquirido muita graça, quando em repouso ela parecia cansada. Estava mais amorosa que nunca; por vezes agarrava-se a Peter com uma espécie de desespero. Nessas vezes, ela dormia no quarto dele na caminha da enfermeira, e obstinadamente recusava ser desalojada.
Quando Peter se tornava agitado, pedia papel e certos livros, parecia prestes a começar sérias discussões com Henri, tudo isso era jeitosamente evitado pelo anfitrião cortês. Mais tarde, o médico visitava o irritável inválido, com recomendações de que "descansasse" um pouco mais, relaxasse, ficasse calmo, que sua saúde estava melhorando e seria loucura destruir os benefícios já adquiridos. Pelo bem de Celeste, Peter se submetia. Porém sua insônia aumentava.
Sentia-se rodeado de inimigos, embora todos fossem extremamente solícitos. Por vezes, em palavras mais febris, sugeria isso a Celeste. Contudo Celeste, que conversara com o médico, lhe implorava que fosse paciente. Peter ficava silencioso. Mas olhava a esposa com olhos apaixonados onde se vislumbrava a confusa luz de um prisioneiro.
Ele estava experimentando a lenta impotência de alguém acorrentado. Estava rodeado de cuidados e amizade, e da afeição de Annette, que era doida por ele. Nada ouvia de significativo nas vozes bondosas dos parentes. Lembrava-se dos rodeios, habilidade e ganância de seus irmãos, suas exigências homicidas. Todavia, agora via apenas rostos suaves, só ouvia expressões de solicitude, e riso fácil. Onde estavam as tendências ocultas de que se recordava, o ódio, as conspirações, a sensação de coisas terríveis acontecendo em silêncio e em segredo? Não estavam presentes em absoluto. Predominavam completa benevolência e calma. Todos apareciam no melhor dos termos, apenas interessados em opiniões sorridentemente desdenhosas sobre o Presidente, golfe, planos para o verão, e afeições de família. Gracejavam, riam, traziam pequenos presentes para o inválido, e muitos convites. A Depressão parecia não os afetar.
— Estamos aguardando — disse Francis, irmão de Peter, frigidamente louro, agora grisalhando.
— Aguardando? — diria Peter, sombriamente. — O quê?
Mas ninguém lhe responderia, exceto com uma leve risada, uma pressão no ombro, a mudança de assunto...
Entretanto, muito lentamente, à medida que os dias passavam, ele começou a sentir novamente tendências ocultas, mais fortes, mais assustadoras, mais significativas e sinistras do que jamais se lembrava. Isso o lançou num frenesi. Era um cego às apalpadelas através de cavernas medonhas cheias de ecos abafados, com o sussurro de inimigos apavorantes, com o bafo de terrores desconhecidos. Não podia falar deles mesmo a Celeste, interessada agora apenas em sua saúde. Nunca via Adelaide mais de uma vez por semana — ela, que fora mais sua confidente do que a própria esposa. Quando a via, ela estava sempre com outros.
Ele estava só, paralisado com a inércia dos que são sozinhos. Estendeu as mãos no escuro, para as formas suspeitas, as vozes sussurrantes... e nada encontrou. Mas seu terror e medo cresceram à proporção que os dias deslizavam como um sonho prateado indo para junho, para julho. Ouvia o apelo urgente a distância, e não podia erguer-se. Orava. Em suas preces havia o terror dos ameaçados, o terror de alguém que sabe não ter poder, não ter palavras para expressar o que sabia.
"Devemos sair daqui — pensou — não fiz bem em vir para cá." Sugeriu a Celeste que deixassem Robin’s Nest; porém, amedrontada pelas palavras do médico, ela resistiu, com doces palavras e toques suaves.
Lentamente chegou a ele a convicção — com medo dominante e supersticioso — de que estava sendo vigiado. De que mesmo quando os muitos parentes conversavam com ele inteiramente à vontade sobre as coisas menos importantes, estava sendo vigiado por eles. Disse a si mesmo que estava adquirindo a introspecção suspeitosa e lamurienta de um inválido. Mas não adiantou. Ele via o súbito brilho de um olho aqui e ali, imediatamente prevenido.
Por que estariam a vigiá-lo, se é que estavam? Absurdo! Estava louco. Não tinha poder entre os Bouchards. É verdade que o seu livro antiguerra, antiarmamentos — The Terrible Swift Sword — fora imensamente popular na América. Ele poderia pensar que teria tido muita influência. (Seu parente, Georges Bouchard, o editor, lhe havia amigavelmente assegurado, no entanto, que a influência de um escritor era romântica e totalmente superestimada, especialmente na América, onde tão poucos eram mentalmente literatos.) Porém o livro já não era mencionado, mesmo casualmente, nos jornais ou nas revistas literárias. Ele julgou isso inevitável: o livro fora publicado há tanto tempo... Não sabia que sua família tivera muito a ver com a supressão em periódicos ou jornais de qualquer menção ao livro. Nem soube que a família havia evitado a sua venda para a indústria cinematográfica, e que uma forte quantia trocara de mãos discretamente.
Por que, então, teria ele a sensação de estar sendo incessantemente vigiado? E isso, que ninguém conversava nada de importância com ele. Perguntavam-lhe, carinhosamente, a respeito das celebridades que conhecera na França, Alemanha, Itália e Inglaterra. Porém no momento em que ele falava, com paixão crescente, do que vira lá e compreendera, mudavam languidamente de assunto, os rostos se tornavam desinteressados, e aborrecidos. De início pensou que percebiam que ele ia ficando alterado — e isso o aborrecia, pois só quando debatia esses assuntos é que se sentia reviver. Contudo, mais tarde começou a prestar atenção.
Lia o Windsor Courier, o jornal de sua gente. Nele tudo era restrito e conservador: protestava contra a iminência de guerra. Ria tolerantemente de qualquer sugestão governamental de terríveis eventos futuros. Achava isso intolerável: assinou vários periódicos liberais, porém só lhe chegavam de longe em longe, e tinham o hábito de desaparecer.
Pelos fins de julho ele estava em efervescência! Seu terror era uma coisa viva.
Por vezes pegava Henri quase à força, pedindo que lhe dissesse o que se passava na companhia, e nas subsidiárias. Henri erguia as sobrancelhas sobre aqueles olhos pálidos e implacáveis, dizendo:
— Vamos indo... Marcando tempo. O que o interessa em nossos negócios? Francamente, não sei o que faremos se não nos livrarmos daquele homem na Casa Branca no próximo ano. Os negócios estão parados.
"Não é verdade — pensou Peter, atemorizado e em desespero. — Sei o que vocês estão fazendo..."
Porém nada podia fazer, a não ser olhar para Henri, com medo impotente, ódio concentrado, e esmagadora confusão.
Tentou levar os parentes a discussões sobre política. Todavia, além do fato de serem entusiasticamente vitriólicos à menção do nome de Roosevelt, nada diziam de significativo, exceto aludir a uma vitória republicana na eleição presidencial do ano próximo.
— Já temos nosso homem — Jean foi indiscreto o bastante para confessar; mas quando Peter pediu esclarecimentos, Jean desconversou, com os outros parentes a dardejar-lhe olhares furiosos
De modo que nada descobriu. Não deveria ter vindo para Robin’s Nest, para ser sufocado por esta sinistra solicitude. Estava prisioneiro. E era mantido incomunicável.
Nesse ínterim, a brilhante atmosfera de paz era constantemente agitada por ventos cheios de presságios e de horror. Poderia ter sido sua imaginação, no que dizia respeito aos Bouchards. Mais ainda em vez de melhorar, ele piorava, sendo sutilmente envenenado pela inércia que lhe era infligida por outros. Jazia acordado à noite, pensando nisso, pensando que estava ficando louco. Sua razão repudiava seus terrores. Mas o instinto o avisava agourentamente.
Absorto em si mesmo, asfixiado em Robin’s Nest, não via a febre no rosto pálido de Celeste, que ia perdendo sua qualidade luminosa. Não lhe via os olhos desesperados, a crescente repressão em sua boca.
Havia outra coisa: em todas as discussões para planos de verão, observou Peter que nenhum dos Bouchards esteve ausente de Windsor por mais de alguns dias. Também eles esperavam, como ele esperava. Sentia-lhes os olhos, fixos e perigosos, virados para o leste, para além do mar. O mundo esperava.
Capítulo 8
Em 26 de julho de 1939 Christopher Bouchard ("o Robô de Cromo") e a esposa, Edith, irmã de Henri, vieram para Robin’s Nest. Christopher vinha da Flórida, ostensivamente para ver a amada e única irmã, Celeste. Fora o tutor dela, substituindo Jules, o pai a quem odiara tão monstruosamente. Ele quase destruíra a moça. Ela nunca soubera disso. No fim, antes da implacabilidade final, enfraquecera. Não pudera completar a destruição. A fé que Celeste tinha nele a havia salvo e, estranhamente, também a ele.
Christopher estava à beira dos cinquenta agora, mas possuía a perenidade daqueles de seu temperamento e sua tez. Parecia-se muito com o pai, exceto pela tez, que era clara, pálida, com aquela sugestão de brilho do cromo polido que lhe havia proporcionado o seu apelido. Descorado, com um pequeno crânio lustroso com cabelo castanho grisalho, lóbulos das orelhas tão delicados e pequenos que eram quase transparentes, leve e esbelto e não excessivamente alto, voz sem tonalidade e sem ênfase, ele a princípio não dava indícios de sua mortal personalidade, crueldade sádica, íntimo terror egoísta, exigências homicidas. Também suas mãos eram delicadas, com veias azuis e unhas pálidas. Movia-se maciamente, como a "serpente prateada" com quem se parecia, no dizer de seu irmão Armand. Suas feições eram apuradas, nada expressando, e havia uma lividez argêntea em seus olhos "egípcios". Ao sorrir, era um sorriso imóvel. Não confiava em ninguém. Odiava a todos. Havia uma qualidade odienta mesmo em seu amor pela esposa e pela irmã. E só sua esposa, sua mãe e sua irmã o amavam. Pela mãe, Adelaide, sentia apenas a mais indiferente malícia e desdém. Habitualmente esquecia sua existência; certa vez, quando lhe lembraram que ela ainda vivia, exclamou, para Edith:
— Quê! Ainda não morreu? Meu Deus, deve estar com quase oitenta, então!
Jamais esqueceu que foi Adelaide quem ajudou a contrariar seu esquema de casar sua irmã com Henri, e assim melhorar suas próprias fortunas, suas próprias conspirações contra o irmão Armand, o herdeiro de seu pai. Ele era agora presidente de Duval-Bonnet, fabricantes de aviões, na Flórida.
Edith Bouchard, irmã de Henri — bisneta do terrível Ernest Barbour — e esposa de Christopher, era uma mulher simples, mas aristocrática, no começo da casa dos quarenta. Morena como os Bouchards "latinos" em oposição aos Bouchards "saxões" louríssimos, de cabeça erguida, tinha uma espécie de fria arrogância. Corpo sólido, mas muito esbelto, ombros largos e finos, era quase da altura do irmão, parecendo mais alta devido ao rosto de extrema mobilidade. Em alguns traços parecia-se com a elegante Rosemarie, pois seu rosto era estreito e de maçãs altas, o nariz um pouco longo e fino, e o queixo quadrado e firme. Usava pouca maquilagem e sua pele naturalmente escura era coberta apenas por uma leve camada de pó-de-arroz escuro não realçado por carmim ou batom. Os olhos eram castanhos, mas sem a característica afetiva desse colorido, eram francos e diretos, e completamente honestos. Porém era dotada de brilho, classe, bom gosto, e certa elegância que a mais ostentosa Rosemarie não possuía. Mesmo seu cabelo, negro, liso e lustroso, e penteado como o de Rosemarie, aumentava-lhe a aparência de inteligência.
Não tinha filhos, nunca os desejara, pois, enquanto tinha profunda e oculta bondade, e integridade, era destituída de sentimentos, e completamente egoísta. Havia ainda outra razão, que ela dificilmente confessava mesmo a si própria: receava gerar mais um Bouchard.
Completamente desiludida a respeito do marido ela, no entanto, o amava com a única paixão de sua vida. Ela e o irmão, Henri, haviam sido muito chegados, muito amigos, porém ela nunca sentira por ele essa completa dedicação de coração e alma. Entretanto, se acontecesse uma real competição entre seu irmão e seu marido — como sabia que se daria algum dia — ela examinaria desapaixonadamente a situação, sua opinião e apoio indo resolutamente para o que considerasse menos perigoso. Christopher sabia disso. Muitas vezes a irritava a respeito do seu "puritanismo", mas respeitava-a por isso.
Por Celeste sentia uma afeição casual, um deleite estranho, piedade, e, por vezes, pena. Detestava a pobre pequena Annette, como detestava tudo que era doentio e impotente. Peter era a única exceção: por ele sentia apenas compaixão e um indiferente senso de indignação por seus sofrimentos.
Muitas vezes refletiu que catorze anos haviam passado desde o casamento de Celeste com Peter, e cada ano era como outro forte na área vulnerável que rodeava Peter. Contudo, agora Celeste e o marido estavam sob o teto do implacável e paciente Henri — e a primeira reação dela ante as notícias fora de desgosto e apreensão. Conhecia Henri muito bem. Certamente, mesmo esses inocentes, Peter e Celeste, deviam conhecê-lo um pouco agora. Certamente poderiam haver lembrado, ainda que vagamente, que ele nunca esquecia, nunca perdoava, e nunca desistia do que havia desejado. Ele desejara Celeste. O cordeiro de olhos azuis fora abrigar-se exatamente na tocaia do lobo...
Christopher e Edith chegaram inesperadamente, num domingo de manhã, de avião. Era ainda muito cedo. Henri os recebeu à porta, na esteira dos criados, que se empenhavam em tirar do carro as bagagens. Edith o beijou carinhosamente, examinando-lhe as feições atentamente, embora soubesse de nada adiantar: Henri nunca revelava nada que desejasse manter oculto. Apertou calorosamente as mãos de Christopher. Ali estava de pé, no terraço, forte, um tanto atarracado, em roupas matinais pois o dia estava bem quente, e a irmã tornou a sentir o impacto de sua força formidável. Mesmo enquanto apertava a mão de Christopher, sua mão esquerda retinha os dedos morenos da irmã, e ele os pressionava com real afeição.
— Estão todos na cama, menos eu — falou. Encaminhou-se para a casa, entre a irmã e Christopher. — Mas já foram avisados. Daqui a pouco estarão todos aqui. Como foi a viagem?
— Excelente. Avião Duval-Bonnet, claro! — respondeu Christopher com seu sorriso metálico, que lhe marcava a pele seca com uma rede de rugas. A respeito dele, refletiu Henri, como já o fizera muitas vezes, existe uma qualidade de cabeça-de-morto, ressecada e quebradiça, sardônica e perigosa.
Os dois homens entraram na mansão, porém Edith se demorou sozinha, na linda manhã, olhando em tomo com um estranho anseio, uma doçura que não lhe era habitual. Sempre amara Robin’s Nest, a casa construída por seus antepassados no subúrbio de Roseville. Havia dois anos não vinha ali. Agora o seu frio coração doía de nostalgia.
Essa era a grande casa georgiana de pedra cinzenta, construída para a trágica Gertrude Barbour por seu marido, Paul. Através dessas janelas gradeadas Gertrude devia, muitas vezes, ter olhado lá embaixo a estrada sinuosa que levava através da propriedade enorme como um parque. Por quem esperaria ela, até sua morte prematura? Por Phillippe, o primo com quem estava para casar, e que fora mandado embora por seu pai? A ampla avenida arborizada lá estava, diante de sua neta Edith, serena, dourada ao sol do verão, sombreada pelo púrpura das árvores, altas e majestosas, rosadas nas ramarias mais altas. Havia uma beleza formal e severa nos gramados. Mas nos fundos, Edith sabia haver imensos roseirais, grutas, pequenos caminhos sinuosos, fontes, e salgueiros chorões cheios de vento e de misteriosos murmúrios.
Pelos padrões americanos, a casa era "velha", e bastante arcaica. Os quartos enormes não tinham "estilo", como Lady Bouchard declarava com frequência. Contudo, Edith recordava seu frescor e encanto, sua calma penumbra no calor do dia, as lareiras imensas em cada peça, sua dignidade e graça clássica, seus tetos imponentes e assoalhos escuros e polidos. Lembrava-se do ar de formalidade mesmo nas festinhas mais íntimas, a restrição das madeiras apaineladas e das paredes adamascadas. Das heroicas proporções do vestíbulo de recepção uma escada em espiral, graciosa e delicada, se enroscava para cima. Por vezes, em noites solitárias quando ela morava aqui, Edith em sua cama imaginava ouvir o farfalhar de tafetá nas escadas, o eco de um triste suspiro jovem vindo de um coração que ia lentamente se rompendo...
Ficou sozinha na vereda que levava à casa, ouvindo a onda de vento quente nas árvores, aspirando o aroma da manhã quente e úmida e a ilusória fragrância dos jardins de rosas e da terra viva. A luz do sol brilhava no severo rosto moreno sob o chapéu elegante e ela sentiu o seu calor nas mãos enluvadas. A brisa agitava o seu fino costume preto e o simples colar branco. Acalmados por sua imobilidade, pássaros corriam pela verde pelúcia do gramado, quase aos seus pés. Ela lhes ouvia o doce trinado nas árvores, via o brilho do sol em suas asas quando se arremessavam para as sombras. O fresco e brilhante silêncio da manhã fluía sobre tudo como água. Às vezes a hera que revestia as pedras cinzentas da mansão se tornavam brancas ao vento.
A longa rampa da entrada para carros, todo aquele verde, as árvores ondulantes eram um brilhante deslumbramento ante seus olhos. Ela e Henri haviam nascido aqui. Este era o seu lar. Ela sentia sua carne uma com a casa — a verdadeira substância viva de sua parte na terra. A casa tinha quase cem anos de construída, mas só duas pessoas haviam nascido ali: ela e o irmão. Fora feita para grandes famílias de crianças felizes, que brincariam nessas móveis sombras cor-de-malva debaixo das árvores, que encheriam os quartos imponentes de risadas e bonitos vestidos e faces rosadas. A sala de música ressoaria com os dedinhos no grande piano de cauda. Agora existe lá uma harpa, refletiu Edith, a harpa de Annette. Sem dúvida a penumbra tilintaria com as notas argênteas evocadas por dedos frágeis. Sentiu-se ultrajada.
Talvez se Christopher e eu morássemos aqui, em vez de Henri e Annette, eu pudesse ter tido filhos — ela pensou. Porém devia haver uma maldição sobre a casa, ela refletiu, com estranho humor. Mesmo sua mãe, Alice, não nascera ali, mas em casa de Ernest Barbour. O nascimento escapava desse recinto majestoso.
Aumentou seu senso de coragem. Como Henri podia ter sido tão obtuso que não visse logo que a frágil Annette nunca lhe daria filhos? De repente Edith, a despeito de sua dureza fundamental, sentiu a profundeza da terra. Pela primeira vez em sua existência, parecia-lhe que a vida era mais importante que poder e riqueza. Estava surpresa! Era uma verdadeira Bouchard, indiferente, falsa, e mesmo astuta, apesar de toda a sua honestidade e franqueza. Nunca pensara nessas coisas: que filhos, lar, serenidade e amor podiam ser mais preciosos que as coisas pelas quais viviam os Bouchards. Haviam tido senso de dinastia, sim. E assim haviam produzido filhos para prosseguir com essa dinastia. Porém filhos como carne, como vida, como saúde e doçura e força de coração e alma — isso nunca lhes ocorrera. Poder e vingança impulsionavam Henri. Não se importara em que isso tornara sua virilidade impotente na estéril Annette. Nunca teria desejado filhos, ao menos pelo bem da dinastia? Ele era seu irmão; seguramente devia, por vezes, ter sentido a agitação que agora criava aquela triste destruição em sua própria carne. Ela estava cheia de ardente compaixão por ele.
Henri casara com Annette num último esforço para recuperar o poder que fora cruelmente roubado do bisneto de Ernest Barbour pelo sobrinho, Jules Bouchard. Agora, para Edith, toda essa desapiedada recuperação de poder parecia louca e trágica, e muito infantil.
"Estou sendo absurda!" — pensou.
E então, sob a sombra do elegante chapéu preto de marinheiro com sua fita branca, seus olhos castanhos se arregalaram. O coração se acelerou apreensivamente: Henri, casado com a estéril e doente Annette; Celeste, casada com o moribundo Peter. Henri... e Celeste! Ela teve misteriosa e assustadora premonição de que o Destino, assim como Henri, podia ser considerado como vaga, porém gigantesca sombra atrás da presença de Celeste nesta casa. Henri, também, deve ter sentido a força instigadora desta casa.
"Não! — pensou. — Estou sendo absurda!"
Contudo, sua apreensão logo se transformou em medo. Inclinou a cabeça e correu para a fresca e sombria imensidão do vestíbulo. Seu pensamento era: "Mas isso é impossível!" Mais cedo, naquela manhã, não pensara nisso. Tivera ideia completamente diferente. Agora, o encantamento e o poder da casa a dominavam, e o forte ar a prevenia.
Celeste sempre impressionara Edith por sua puerilidade e simplicidade de mente e de pensamento. Uma eterna criança, pensara outrora. Contudo agora via que Celeste era uma mulher. Podia ainda haver certa qualidade infantil nos olhos azuis que olhavam direta e calmamente. Podia haver simplicidade em sua maneira digna. Mas era agora uma mulher. Podia não ser falsa como todos os outros Bouchards, mas não cultivava ilusões. Isso, também, Henri devia saber.
Edith e Celeste nunca tinham sido amigas. Edith apenas sentira uma divertida superioridade para com a criança silenciosa que seu irmão tanto desejava. Não julgara Celeste à altura de tal homem. Também ela tivera grande parte no impedimento de Henri, convencida de que ele não encontraria felicidade na pura inocência de Celeste. Ter-se-ia enganado? Fazia a si mesma essa pergunta que Adelaide se perguntara com tanta frequência.
Os cinco — Celeste, Henri, Annette, Christopher e Edith — tomaram o desjejum na saleta cheia de sol, cujas janelas francesas se abriam para o roseiral. Como sempre, Peter não descera para o café da manhã.
Annette estava adoravelmente deliciada com a presença de seus hóspedes. Seu pequeno corpo, tão frágil e esbelto, vestia um roupão matinal de renda branca. Os cachinhos de seu brilhante cabelo claro lhe emolduravam o rostinho triangular, destacando-lhe a palidez. Mas os olhos azuis extraordinariamente belos, tão grandes e ternos, estavam radiantes. Henri sentava-se a seu lado. Com um sorriso ouvia sua alegre conversa infantil, às vezes olhando-a com ternura. Ela já não era jovem demais, porém ainda parecia imatura. Quando relanceava um olhar para o marido, seus olhos tinham uma luz de patética admiração, e ela corava um pouco.
Como podia Henri suportar essa coisinha doente?, pensou Edith, como sempre pensara, mas agora com um desgosto novo e vigilante, pesarosa e ultrajada. Todavia, ele nada revelara a não ser um misto de bondade e solicitude pela esposa. Ele raramente dava um olhar a Celeste, sentada em frente a ele, em seu roupão azul-escuro que combinava com seus olhos.
Havia muitos anos Edith não via a cunhada, que também lhe era aparentada pelo sangue. Era a mesma Celeste, mas com uma severidade não familiar, uma expressão cansada nas narinas e nos lábios. Havia paciência ali, dominada e firme, e segurança. Ela sorria raramente. Mas estava mais bela que nunca, em sua maturidade, Christopher mal podia afastar os olhos de sua amada irmã. Quando ela encontrou o olhar dele, ele sorriu, e havia uma estranha busca de ternura nesse sorriso, apesar de sua qualidade imóvel e metálica.
Polidamente indagara a respeito de Peter, e ouvira com atenção quando Celeste respondeu:
— Está muito melhor. Apenas tosse um pouco durante a noite. Logo iremos procurar um lugar para morar.
Ouvindo isto Henri ergueu a cabeça, e dirigiu um pálido olhar a Celeste. Porém os grossos lábios com vincos brutais em volta não se moveram. Um momento depois ergueu os olhos para Christopher — olhos em branco que nada expressavam. Entretanto, todos os músculos de Christopher estremeceram numa espécie de surpresa alerta, e cálculo.
"Impossível!" — pensou. — "Isso acabou há muito tempo! Mas... nada acaba para sempre, com um homem assim!"
Entretanto, sentiu um divertimento negro e perigoso. Voltou para a irmã seu olhar brilhante, e as rodinhas cromadas de sua mente começaram um rápido e silencioso rodopio. Ela o arruinara, por seu casamento com Peter contra os seus planos. Como Henri, também ele nunca esqueceu, nunca perdoou inteiramente. Contudo, enquanto a estudava, a íntima traição dele mesmo que nunca pôde resistir ao amor que tinha por ela encheu-o de obscura ansiedade. O amorzinho! A louquinha! Ela arruinara a própria vida, a vida de Henri e a dele, Christopher. Ela causara aquela aparência fechada e profunda que havia em seus olhos e em sua boca, e o olhar de paciente sofrimento. Sentiu-lhe o marmóreo coração, e cogitou, pela centésima vez, como nunca se apercebera disso, quando ela fora criança e sob seus cuidados. Sua ansiedade amenizou-se um pouco. Ela fora uma "parada" para todos eles, porque era desprotegida. Era um páreo muito mais difícil agora, porque entendia as coisas e era uma mulher, por fim.
Intensificou-se o exame que fazia. Henri conversava com ela, indolentemente, de coisas sem importância. Ela devolvia o olhar dele indiferentemente. No seu rosto, grave e pálido, não havia o menor sinal de emoção. Sua mãozinha branca descansava perto da xícara de café em atitude indolente — sem qualquer tremor.
A mente de Christopher aumentou a velocidade. Henri controlava os Bouchards, através de seu casamento com Annette, devido à sua própria força de caráter. Annette. Christopher relanceou um olhar à cunhada, que era também sua sobrinha. Frágil e delicada como uma estatueta. Mas nem sempre se pode contar com a extinção prematura de criaturas tão pequenas. São tenazes, e agarram-se à vida até caírem dela como as folhas caem das árvores no outono. No entanto, às vezes morrem quando lhes partem o coração. Ele se lembrava que ela quase morreu quando Celeste ficara noiva de Henri. Agora, se ela morresse...
Se ela morresse. A mente de Christopher se fixou no pensamento assim como mãos ávidas se firmam num fruto maduro, o suco espirrando por entre os dedos no firme aperto. Se Peter devesse morrer... Um olhar de total malevolência brilhou por um instante em seus olhos cruéis. Depois, haverá apenas Henri e Celeste. Uma repentina quentura, quase como uma febre, lhe tocou a face.
Sentiu alguém a olhá-lo: era Henri. E Henri estava sorrindo, as pálpebras estreitadas.
Mas Henri disse, no tom mais casual:
— Gostaria de subir para ver Peter, Chris?
— Esperarei um pouco — disse Edith, que odiava inválidos. — Nós, garotas, temos muito que conversar.
Os dois homens se levantaram e deixaram a mesa do café. Entraram no longo corredor que levava ao vestíbulo. Christopher caminhava atrás de Henri, e não podia despregar os olhos da grande cabeça napoleônica, a posição desses largos ombros. Henri se movia rápida e firmemente. Ao chegar ao pé da escada, virou-se e olhou o cunhado, com aquela expressão vazia.
Nada fora dito, nada sugerido. Mas, enquanto os dois homens se fitavam na penumbra, o ar impalpável estava cheio de presságios. Christopher viu o pálido fulgor dos olhos de Henri, seu sorriso desmaiado. Viu-lhe a mão forte e larga no corrimão. Henri plantara um dos pés no primeiro degrau. Ali ficou, sem se mover: apenas olhava para o cunhado e esperava.
Christopher começou a sorrir. Disse, maciamente:
— Então, ele está aqui. Como está ele?
— Morrendo — falou Henri, calmo, impassível.
Novamente o silêncio.
— Tão aloucado como sempre?
Henri deu de ombros. Olhou a própria mão, ergueu-a distraidamente, e mordeu a unha do dedo indicador. Com um choque, Christopher lembrou-se de sua própria infância, desse gesto inesquecível de Ernest Barbour.
— Acho — disse Henri por fim, examinando a unha que mordera — que ele sabe muito. Sabe demais. Está queimando, por isso. Mas não sabe o bastante... deste lado. Quer a todo custo descobrir. Tem a obsessão de que nós, os sórdidos Bouchards, estamos conspirando, preparando guerra. — E sorriu.
Christopher também sorriu:
— Deve interessar a ele saber que, desta vez, temos outros pensamentos. Mas isso pode ser pior que suas ideias presentes. Muito pior. Na verdade, com a estúpida obsessão que ele tem agora, pode ser de ajuda inestimável. — Tossiu gentilmente.
— Meu pensamento, exatamente — concordou Henri, com amigável calor. Eles se miraram divertidos.
— Ele poderia ser delicadamente encorajado — continuou Christopher.
— Exatamente — repetiu Henri.
— Deve ser manejado jeitosamente...
— Com finesse. Ele pode ser manejado. Teremos uma reunião do clã. Ele nunca foi muito brilhante... — acrescentou Henri.
— Está com algum livro em gestação agora?
— Está incubando, eu diria. Em minha opinião, não poderia ter voltado em melhor ocasião. Mas teremos de trabalhar depressa. Dificilmente terá mais que alguns meses de vida. Vi as chapas de raios X!
Houve um silêncio vibrante, ali no vestíbulo, enquanto os dois homens se fitavam, impassíveis.
Então Christopher tocou os lábios com os dedos esqueléticos:
— E a pequena Celeste? Será mau para ela...
O olhar fixo de Henri não abandonou o cunhado.
— Talvez... —- murmurou. — Quem pode dizer?
Christopher, que odiava Henri mais do que qualquer dos outros Bouchards — por causa da humilhação pública e da ignomínia que Henri outrora lhe infligira — adiantou-se e pressionou o braço do outro com afeição:
— Estaremos à mão, para ajudá-la a suportar o golpe — disse, em tom jocoso.
Porém Henri nada falou. Subiu a escada. Christopher o seguiu, observando-o com os olhos apertados.
Henri bateu a uma porta no vestíbulo de cima, e ele e Christopher entraram nos aposentos de Peter.
Capítulo 9
Peter estava sentado numa poltrona funda perto de uma janela ensolarada, aberta para permitir a entrada do vento. Em uma mesa junto a seu cotovelo direito estava empilhada uma quantidade de papéis, livros e revistas. De algum modo conseguira obter algumas folhas de papel e, aparentemente, estivera tomando rápidas notas durante algum tempo. Uma criada se ocupava na limpeza do quarto.
Sorrindo, Christopher olhou atentamente para o cunhado e não perdeu detalhe desse rosto pálido e exausto, faces encovadas e lábios exangues, olhos cheios de sofrimento. O que viu animou-o excessivamente. Exclamou:
— Muito bem! Então, aqui estamos!
Aproximou-se de Peter, de mão estendida. Peter olhou-o em silêncio, mesmo enquanto mecanicamente lhe apertava a mão. Sentiu uma vibração do antigo asco e desgosto ao toque dessa carne fria e seca e à leve pressão dos dedos ossudos. O "Robô" não melhorara com o casamento. Estava de modos mais soltos, é verdade, e tinha ainda mais do inumano sangue-frio que sempre o distinguira. Mas sua qualidade letal ainda permanecia ali, esperando, como veneno num frasco.
— Você não mudou. Christopher — disse ele.
Christopher riu ligeiramente:
— Ora, deixe disso! Nenhum de nós é mais o mesmo, sabe disso. Mas obrigado, Peter.
Henri sorriu irreprimivelmente. Peter não era conhecido por seu tato... Não tinha rodeios. Henri julgava que ele poderia ter esclarecido o que realmente quis dizer — o que teria sido divertido... Mas Peter, por um esforço, não esclareceu. Retirou a mão febril da de Christopher, e ficou silencioso novamente.
— Todos estamos satisfeitíssimos de que você esteja em casa — disse Christopher, sentando-se perto do outro. — Demorou muito...
— Demais! — observou Peter.
— Também acho isso. Como está passando? A mim você parece perfeitamente bem. — Nada poderia ser mais carinhoso que o sorriso de Christopher, seu ar de solicitude.
— Estou muito melhor — murmurou Peter. Hesitou: — Na verdade, vou insistir para que todos parem de tratar-me como a um inválido.
— Certíssimo! — falou Henri, encaminhando-se para a janela e olhando indolentemente por ela. — Chega de tantos agradinhos. Mas, você conhece as mulheres: galinhas cacarejando em torno dos pintinhos... Celeste o vem mimando muito, Peter. Acha que aguentaria uma festa, um jantar com toda a danada família?
— Gostaria disso — disse Peter, em voz baixa. O perfil de Henri se voltava para ele, brutal, áspero, rudemente esculpido como se talhadeira poderosa o fizesse. — Tenho querido isso.
Não podia despregar de Henri o olhar. O homem parecia fascina-lo. Nesse ínterim, Christopher estudava a pilha de papéis e livros na mesa:
— Outro livro, Peter? Espero que, desta vez, seja algo de mais caridoso.
Peter colocou as mãos, protetoramente, sobre o conteúdo da mesa junto dele. Olhou Christopher com olhos que de súbito eram fogo azul:
— Tenho meus planos — falou, calmamente. Respirou profundamente. Os dois outros homens ouviram o ruído rascante em seu peito, o chiado. — Tenho estado coletando material. — Ergueu um livro fino; Christopher viu-lhe o título: Deutsche Wehr. Peter o segurou e o fitou.
— Uma publicação militar alemã, 13 de junho de 1935 — comentou Christopher. — Deve ser interessante. Mesmo que apenas como estudo psicológico da mentalidade germânica. Sempre odiei os alemães. Um povo odioso e pervertido. Completamente louco. Mas suponho que não concorda comigo, Peter? Nunca acreditou na virulência de povos.
Contudo, Peter falou calmamente:
— Pelo contrário, concordo com você. Desta vez. Não o fazia, a princípio. Um nobre sueco me disse, certa vez, que há um provérbio em seu país: "Louco como um alemão." Sim, é um povo insano. Não é Hitler. É a Alemanha, mesmo. Cada alemão, homem, mulher ou criança. Qualquer alemão, em qualquer lugar. Lá existe uma massa de insanidade. Mas isso não significa que devemos prover a essa insanidade, sabe. Todo homem inteligente compreende que pessoas loucas devem ser isoladas. Porém há homens, por todo o mundo, que pretendem aproveitar a demência da Alemanha para seu próprio uso. Pensam que, mais para diante, podem acorrentar a Alemanha. Mas não se pode facilmente pôr loucos de volta no hospício depois de tê-los usado...
— "Você não pode culpar um povo inteiro" — murmurou Henri. — Não foi você mesmo quem disse isso, em seu próprio livro?
— Não estou culpando os alemães — replicou Peter. Um colorido febril lhe cobriu as faces. — De certa forma, apiedo-me deles. Eles são intrinsecamente loucos. Não se mata um louco. Tem-se pena dele e o encarceramos onde não possa fazer mal à sociedade. Tentamos curá-lo por sugestão, ou drogas, ou tratamento... se podemos.
Deteve-se. O rubor apagou-se de seu rosto. Tornou-se lívido. Ergueu-se a meio na poltrona, e apesar de suas próprias advertências íntimas, não pôde controlar-se:
— Vi tanto na Europa! Ninguém quis ouvir-me... fui a toda parte... Vi tanto, tão terrivelmente! Por isso voltei, para contar o que vi! Talvez alguns me ouçam.
— Meu Deus! — interrompeu Henri, cansadamente, virando-se da janela e olhando para Peter: — Temos tido uma avalancha de livros a respeito da Europa. Profetas têm percorrido a América, gritando advertências. Tem havido Jeremias uivando em cada porta. O povo está cansado disso, acho. Você não pretende juntar-se aos profetas e Jeremias, não é, Peter? Não adianta. Temos tido legiões deles... Eles nos aborrecem de morte.
Peter estava tremendo violentamente. Eles podiam ver isso. Henri e Christopher trocaram um olhar malevolente de diversão. Christopher pensou:
"Ele está sendo impedido. Não lhe permitem falar. Henri está cuidando disso. Agora, deixa-o falar: quer que eu o ouça."
Ele, Christopher, sentiu o antigo fermentar de excitação, a satisfação de que seu implacável cunhado estava conspirando com ele novamente.
Peter gritou, em voz fraca e chocada:
— "Aborrecem vocês de morte!" Meu Deus! Pois não podem ver? — Parou, as mãos apertadas sobre a publicação militar alemã. Seus olhos eram uma chama azul, e a boca rígida. Falou em tom mais baixo: — Sim. Vocês veem, muito bem. Sei disso. Não há nada que lhes possa dizer. Vocês sabem de tudo. Isso é o que eu temia!
Henri deu de ombros e sorriu:
— Por Deus! Você acredita nisso, não é mesmo? Continuará a nos lisonjear falando em onipotência, onipresença e onisciência. Você é nosso melhor propagandista, nosso melhor relações-públicas, Peter. Não se incomode. Acalme-se. Talvez a Alemanha não seja tão louca quanto a julgamos. Isso passará. Você vai ver.
As mãos trementes de Peter abriram o livro:
— Deixem-me ler isto para vocês — falou, em voz tão forçada e agitada que era dificilmente audível: — "Vitória totalitária significa a total destruição da nação vencida e seu completo e final desaparecimento da arena histórica. Na realidade, a guerra totalitária nada mais é que uma gigantesca luta de eliminação cujo desfecho será terrível e irrevogável em sua finalidade." — Fechou o livro, olhou lentamente de um para o outro: — Suponho que já leram isto?
Henri riu, com indulgente fastio:
— Já ouvi isto em algum lugar, sim. Quem dá ouvidos às palavras bombásticas dos alemães? Todos são brigões e covardes e berradores. Deveríamos ter imposto o Tratado de Versalhes. Não o fizemos. Foi nosso sentimentalismo...
— Sua conveniência! — gritou Peter, desperto agora da inércia das últimas semanas.
Christopher estava silencioso, sorrindo de leve. Henri estava "chorando" o idiota, para seus próprios propósitos. De modo que Christopher ouvia atentamente, compreendendo que nessa conversa aparentemente incoerente e tola havia um plano e um modelo que Henri pretendia que ele percebesse.
— Nossa conveniência? — disse Henri, tornando-se mais frio e pesado à medida que crescia a apaixonada agitação de Peter. Ele estava estudando o doente com implacável interesse: — Não seja tolo, Peter. Sim, lembro-me do que disse em seu livro: "Homens perigosos buscam destruir o Tratado de Versalhes, pedem uma moratória sobre as reparações da Alemanha, ajudam-na secretamente a armar-se e soltar sua loucura sobre o mundo novamente, por lucro."
Deteve-se. Sorriu com agradável ferocidade. Estendeu um de seus largos dedos indicadores para Peter e continuou:
— Agora, deixe-me dizer-lhe algo, Peter. Você, e os seus iguais, destruíram o Tratado de Versalhes. Você e os seus iguais influenciaram Hoover em sua perigosa moratória. Em consequência, vocês são a causa do rearmamento da Alemanha e do perigo presente nela implícito para o mundo. Você e os seus escritores pacifistas; você e os seus escritores anti-munições. Você e os seus investigadores de corrupção. Que temos agora, aqui na América? Um povo moroso e obstinado, determinado a não saber mais de complicações europeias, um povo que olha com ódio e suspeita todos os fabricantes de munições e armamentos. Um bando de sociedades pacifistas e anti-guerra, de mulheres guinchadoras e de eunucos. Veja nossa situação militar agora. Que planos reais temos? Que tanques? Que exército, que armada? Que defesa vital?
Deteve-se. Deixou cair o dedo que apontava. O sorriso permaneceu. Os pálidos olhos luziam de divertida malevolência:
— Sim, Peter, vocês nos ajudaram a desarmar a América. Nós, Bouchards, não podemos fazer um movimento sem as estúpidas massas mugindo que estamos "conspirando guerras". Nossos relações-públicas nos dizem que não adianta nada intrigarmos, ou apelarmos, ou trabalharmos. O próprio Roosevelt, na ânsia de rearmamento, está sendo chamado "fomentador de guerras". Se a coisa tivesse sido deixada a nós, Bouchards, com outros como nós, a América poderia não estar agora olhando para a Europa com tamanho terror, a Inglaterra poderia não ter feito um Munique, a França poderia não estar em tais condições de degenerescência e decadência. Dizem que buscamos lucros: confessamos isto. Somos negociantes. O negócio é rearmar a América.
Deteve-se outra vez. Peter recaíra em sua poltrona. Olhava para Henri sem pestanejar. Seus olhos eram buracos azuis e imóveis no rosto exausto. Henri inclinou a cabeça e olhou o homem doente, com aquele seu frio sorriso homicida.
Então Peter falou, quietamente:
— Você simplifica as coisas. Deduz que sou um tolo. Mas não sabe o que eu sei. — Inspirou profunda e audivelmente.
Henri ergueu os sobrolhos:
— Então não sabemos o que você sabe? Garanto-lhe que sabemos muito, meu amigo. Espere, ainda não acabei. Veja a América, outra vez. Olhe para nós, uma gorda nação desarmada, vociferante com tolas vozes berrando contra o rearmamento. Você despertou essa tempestade de vozes, Peter. Você, e outros como você, com seus livros imprudentes e histéricos. Agora, estamos impotentes. E agora você corre de volta para casa, para a América, para apregoar a "verdade"! Se houver uma guerra, que não vai haver, naturalmente, e a América mergulhar nela, indefesa, e for conquistada pela Alemanha, você terá a satisfação de saber que terá ajudado essa realização. Sabe que sociedades pacifistas você ajudou a criar aqui? Em breve terá oportunidade de descobri-lo. Isso deverá dar-lhe uma sensação de poder. Era isso que buscava, não é?
Peter estava calado. Fixava Henri com uma espécie de horror tranquilo, como se algo naquele pálido semblante o fascinasse. Parecia não ter ouvido o que o outro dissera.
— Sim — falou Christopher gentilmente — é tudo verdade, Peter. Você ajudou. Ajudou a criar a situação de que agora veio correndo avisar-nos. Muito, muito contraditório...
Peter os contemplava no silêncio imóvel e glacial que desabara sobre ele. Havia uma espécie de incredulidade horrorizada em seu olhar. As mãos apertavam os braços da poltrona. Esses homens terríveis! Esses macios e diabólicos mentirosos! Sentiu o coração inchando e subindo em seu peito de tal forma que pensou que iria sufocar até à morte — ali, diante deles, para sua satisfação e divertimento. Não fale! — uma vozinha instou com ele. Não deixe que saibam tudo que você conhece. Estão tentando descobrir.
Mas a paixão não o deixaria completamente silencioso!
Ergueu a mão e a dirigiu para Henri.
— Responda-me a uma pergunta, Henri Bouchard — disse, quase num sussurro. — Diga-me o que estava fazendo na Itália em dezembro último, na Alemanha em janeiro, na Espanha em março.
Pela primeira vez, Henri involuntariamente ficou agitado. Christopher olhava, alerta, o corpo descarnado contraído na poltrona. Ele e Henri trocaram um de seus rápidos olhares.
— Sim! — gritou Peter, erguendo-se um pouco. — Sim! Diga-me, "Mr. Britton"! Assim o chamavam, não? Pensava que ninguém sabia. Só alguns sabiam. Eu era um deles.
Pesado e perigoso silêncio encheu o quarto ensolarado. Peter sentou-se aprumado, tremendo violentamente. Henri baixou os olhos sobre ele, e a larga face descorada estava fechada e rígida. Porém ele não se mostrava desconcertado. Disse afinal:
— Creio que não ocorreu a essa cabeça esquentada que eu poderia estar lá em missão secreta para ajudar a manter a paz, pois não? Para, incógnito, vigiar a situação?
Apesar de todo o seu conhecimento dos Bouchards, Peter estava horrorizado, furioso por um novo sentimento de impotência e desespero. Eles estavam tentando reduzi-lo à loucura, ao ridículo. Acima de tudo, ousaram mentir-lhe tão imprudentemente, como se ele fosse um idiota, um mentecapto, um desprezível pardalzinho num ninho de falcões. Por um momento sua própria vaidade foi ultrajada, enraivecida. Isso foi imediatamente substituído por um real e enorme terror.
"Fique calado" — avisava-lhe a vozinha severamente. — "Você está nas mãos deles. Fique calado, em nome de Deus!"
Porém ele não podia calar-se, o que o aterrorizava ainda mais.
— Quando estava na Itália, Henri, teria sido possível que visitasse a Assoziane fra Industriali Metallurgici Mecannici ed Affini? As indústrias de automóveis Fiat? Lega Industriale de Turim? Societá Ansaldo, os construtores de navios? As indústrias de aço de Veneza Giulia? Banca Commerciale de Milão, Banca Italiana di Sconto? E, quando na Espanha, seria possível que tivesse tido uma calma conversa com o Duque de Alba, um dos assassinos donos da Espanha e do fascismo? Viu Juan March, aquele criminoso incrivelmente rico, aquele assassino dos pobres e desamparados? Viu o Cardeal de Llano, o alcoviteiro de Franco, aquele destruidor da liberdade e ilustração da nova Espanha? E, enquanto na Espanha, visitou os funcionários de Rio Tinto, a maior aventura de mineração do mundo de hoje?
Henri nada disse. Apenas observava Peter, com interesse alerta e imóvel. Levou o dedo indicador aos dentes, e distraidamente um sabugo de unha. Christopher cobrira os lábios com os pálidos dedos.
Peter estava aprumado em sua poltrona. Novamente esticou a mão e gritou:
— E quando estava na Alemanha, não é possível que tivesse ido visitar Hitler, Göring, Thyssen, a I. G. Farbenindustrie, o presidente do Reichsbank? E quando Mr. Claude Bowers, o Embaixador americano na Espanha, o chamou, não lhe disse, na presença do Embaixador britânico na Espanha que, com a vitória de Franco sobre o povo espanhol, a Inglaterra encontraria Hitler em Gibraltar, e assim perderia o controle do Mediterrâneo? E você não se divertiu com a resposta do Embaixador britânico de que "na Inglaterra os interesses privados são mais fortes que os nacionais"?
"Cristo!" — pensou Christopher. — "Quem disse isto a este suíno? Por onde vazou a informação?"
Mas Henri estava muito calmo. Disse, com indiferença:
— Tudo isso é possível. Você parece esquecer que temos interesses no mundo inteiro, que os acionistas americanos em nossas companhias e subsidiárias têm de ser protegidos. Era meu dever investigar, no interesse da América, em nosso próprio interesse, e no de nossos acionistas. Assim, por que toda essa agitação?
Peter apertou as mãos juntas, e literalmente as torceu. "Você é um louco" — dizia sua voz íntima, severamente, — "Que fez? Esses homens são mais poderosos que você. Estão a reduzi-lo a uma ridícula impotência."
Henri falou, numa voz subitamente alta e cruel:
— Meu único interesse é proteger a América. Deixe-me dizer-lhe isto, meu amigo, e pode acreditar ou não: não estou interessado em guerra. Farei tudo que possa, todos nós faremos tudo que pudermos, para manter a América fora de qualquer guerra que possa ocorrer na Europa.
A voz soava no quarto, inexorável e potente. Peter a ouvia. Subitamente, uma sensação de desfalecimento o oprimiu. O quarto girou em volta dele em grandes e lentos círculos cheios de faixas luminosas.
Em meio ao caos que o rodeou ele pensou com incrédulo e desesperado horror:
"É verdade! Disse-me a verdade, por fim! Eles não querem guerra, para a América... Há uma hora atrás eu acreditava que estavam conspirando para mergulhar-nos em tal guerra. Agora, creio, sei que não a querem... para a América. Farão tudo para manter-nos fora de qualquer conflito. Nunca descansarão... Por quê?"
Um fraco vislumbre da verdade apavorante começou a aparecer diante dele. Não ousou olhá-lo. Pensou: "Se eu pudesse morrer! Não posso viver, e saber!" Sentia o coração palpitar em grande agonia no peito abafado.
A voz de Henri lhe enchia os ouvidos, muito perto, como um vendaval enorme:
— De modo que, se você teve a ideia de que iria "denunciar-nos", como já nos "denunciou" antes, está perdendo seu tempo. Se pensou que estávamos "incubando guerras" novamente, meu Deus, que estupidez, pode descansar a cabeça. Se pensou mostrar que estivemos intrigando ou manipulando para meter a América em qualquer danada confusão forjada na Europa, posso dizer-lhe com absoluta franqueza que é um completo idiota. A América não tomará parte nela. Cuidaremos disso. Isso deve acalmá-lo consideravelmente.
"É verdade" — pensou Peter. — "Por quê? Oh, Deus! Por quê?"
A voz enorme e esmagadora continuava:
— Eu lhe direi um segredo, Peter. No instante em que a guerra estourar na Europa, teremos sociedades na América, sociedades para a paz, que nosso dinheiro ajudou a organizar. Grandes sociedades, que pisarão, aniquilarão quaisquer tentativas para fomentar bons sentimentos para com a Inglaterra, a França, a Espanha. Seremos neutros, tanto como nunca fomos antes. Você nos encontrará apoiando abertamente qualquer Lei de Neutralidade que o Congresso ache necessário legislar. Vê, você ajudou a incitar um montão de sórdida sujeira contra nós. No interesse da autopreservação, ninguém será mais anti-bélico do que nós.
Então Peter, ultrajado, apavorado, ouviu sua fraca voz dizendo:
— A América deve preparar-se...
Ouviu uma enorme gargalhada... Parecia vir do espaço rodopiante. Não pôde relacioná-la com a boca aberta de Henri, onde os dentes muito grandes reluziam. Nem, para seus sentidos confusos, parecia vir de Christopher.
— Meu Deus! — gritava Henri. — Será possível que você esteja dizendo isto? Você, o pacifista, inimigo dos fabricantes de armas e investigador da corrupção, o amante da fraternidade?
E então Peter soube que havia naquele quarto um poder mais terrível, mais terrível do que jamais vivera entre os Bouchards, ou no mundo. Agarrou-se aos braços da poltrona para evitar desmaiar. Sentiu o impacto de ventos cósmicos em sua carne, em seu rosto. Sentiu o vasto movimento de coisas ignotas e aterrorizantes...
"Por quê?" — uma voz possante gritava nele. — "Por que tudo isso?"
Não ousou tentar responder. Apenas podia sentar ali e olhar para Henri. Não sabia que sua expressão era completamente cadavérica.
Como num sonho de horror, em que tudo se move vagarosa e sonolentamente, viu a porta abrir-se. Celeste ia entrando. Christopher levantou-se para puxar-lhe uma cadeira. Ela sorria, um tanto ansiosamente. Olhou somente para Peter. Foi diretamente a ele. O que viu fez toda expressão abandonar-lhe o rosto. Virou-se para o irmão e Henri:
— O que andaram fazendo a ele? — gritou. — Ele ainda está tão doente... Seu pulso está... está... — Seus dedos se crispavam no pulso do marido, os olhos cheios de uma raiva apaixonada. Muito pálidos, os lábios lhe tremiam.
Henri franziu as sobrancelhas. Deu um passo em direção a ela:
— Pelo amor de Deus, Celeste, não seja tola! Não fizemos nada. Seu marido voltou às velhas acusações... que estamos "fomentando guerra". Estávamos apenas a convencê-lo do contrário. Que há de errado nisso? Deverá dar-lhe alguma paz de espírito.
Ela olhou Henri em agitado silêncio, e o olhar daqueles olhos azuis-escuros fê-lo franzir as sobrancelhas novamente, um colorido embaçado subindo-lhe desagradavelmente às faces. Mas devolveu-lhe o olhar de modo imperativo e com considerável desdém.
Então ela se virou para o irmão e, em voz trêmula, exclamou:
— Christopher, você sempre transtornou Peter desse jeito. Que fez agora?
Christopher a olhou zombeteiramente:
— Ora, minha querida, isso é absurdo! Pensamos, para o bem da saúde de Peter, e sua paz de espírito, que devia ser desiludido. Aparentemente a verdade é demais para ele.
A respiração de Peter enchia o quarto de sons rascantes. Ele estava lutando por controlar-se. Pegou a mão de Celeste, e a sua estava fria e úmida de suor. Mesmo assim falou bem calmamente, olhando-a com um sorriso:
— Sim, minha querida, é isso mesmo. Eles acabaram de dizer-me a verdade. E, como diz o Chris: aparentemente é demais para mim.
Apertou-lhe a mão e ela o olhou espantada, enormemente abalada.
— Não se preocupe, querida. Estou bem. Eu... voltei à vida. Todas estas semanas, apenas sentado aqui... realmente, sinto-me bastante forte. Tenho muito trabalho a fazer, e você deve ajudar-me. — Ergueu-lhe a mão e pressionou os lábios em sua palma, pequena e trêmula.
As sobrancelhas de Henri, claras e espessas, se juntaram enquanto ele apreciava essa pequena cena, e agora seus olhos estavam cheios de maldade. Christopher, observando-o agudamente, viu como seus punhos se apertavam, e com o lábio superior se arregaçava deixando os dentes à mostra.
Celeste falou, suavemente, vendo apenas o marido:
— Sairemos daqui, Peter querido, imediatamente. Iremos para qualquer lugar. Amanhã?
Christopher se levantou, sorrindo para si mesmo:
— Parece que não somos queridos aqui, Henri, meu rapaz. Assim, deixemos a sós esse devotado casal.
Saíram do quarto. Fecharam a porta cuidadosamente, vendo, como última cena, Celeste ajoelhando ao lado de Peter, a cabeça no ombro dele, os braços em volta do marido. Ele lhe alisava ternamente os negros e lustrosos cabelos. Ela chorava.
Os dois homens se afastaram. Henri estava muito calmo. Christopher tocou-lhe o braço, dizendo:
— E então?
Henri voltou-se para o cunhado. Falou, maciamente:
— Ele sabia muito. Agora, sabe demais.
— Então...? — indagou Christopher, gentilmente.
Henri deu de ombros e sorriu:
— Homicídio ou será fratricídio?, não é aprovado pela polícia. Nem pelos Bouchards. Vamos: que sugere?
Christopher ergueu os sobrolhos:
— É evidente que ele não aguenta a verdade. Ora, doses maciças dela poderiam...
— E — refletiu Henri — sempre se pode mantê-lo impotente. Ninguém ousaria publicar o que o imbecil poderia dizer. Ainda há leis contra a difamação, você sabe. Nem mesmo nosso querido parente, Georges, ousaria. A propósito: seus negócios publicitários não estão indo muito bem ultimamente. Existem outros negócios dele, também, que podem não suportar a clara luz do dia. Acho que um de nós deve visitar o querido Georges.
Christopher assobiou de leve:
— Georges? Que conseguiu sobre o velho Georges?
Henri tornou a sorrir:
— Não omiti possibilidades. Georges, que não deve gostar muito de nós, poderia facilmente ser induzido a publicar alguma insanidade. De modo que fiz algumas investigações. Não se preocupe. Pode ser que eu nunca use o que sei. A propósito: ele não publicou recentemente um panfleto a respeito de "negociar com Hitler"? Chamava-se, creio: "O Louco e o Industrial". Tudo a respeito da impossibilidade de ter um normal relacionamento comercial com o forrador de paredes? Teve grande saída, acho. Embora fosse demasiado técnico para a rude mente americana média. Foi lido quase exclusivamente por nossos competidores mais cristãos, porém menores. Nenhum prejuízo. Mas a insanidade de Peter pode ser importante. Não se incomode. Posso deter tudo isso antes que se torne perigoso.
No quarto de que eles haviam saído, Peter estava dizendo a Celeste:
— Eles não querem guerra! Tentarão manter-nos de fora... Por quê? Celeste, pode dizer-me por quê? Meu Deus, por quê?
Continuou, sufocadamente:
— Secretamente, ajudaram a Alemanha a rearmar-se. Forneceram o dinheiro através de bancos americanos, franceses e ingleses. Mas não nos querem na guerra. Por quê? Por quê?
Capítulo 10
Henri foi ver sua mulher, Annette.
Ela se vestia para o jantar, tendo acabado de banhar-se e repousar. Sua saúde frágil necessitava de longos períodos de descanso e sono. Durante o primeiro ano de sua vida de casada, instintivamente compreendendo que sua doença e fraqueza física repugnavam ao marido, tentara dispensar esses períodos, e pateticamente assumira uma vivacidade e atividade que mais tarde a prostraram e a confinaram ao leito por perto de três meses. Daí por diante, não houve mais questão de compromissos para a tarde. Ela se recolhia quase invariavelmente às dez da noite, não se levantando até quase às nove horas da manhã seguinte. Não que fosse uma inválida, porém uma enfermidade congênita e a fragilidade física a compeliam a uma vida calma e de semi-convalescente.
Sua maior agonia mental era que o médico a prevenira de que qualquer tentativa para ter filhos provavelmente lhe causaria a morte, e que, de qualquer forma, não viveria muito após o nascimento de um filho. Na melhor das hipóteses, ficaria inválida. Havia querido tentar essa desesperada possibilidade, mas Henri não permitira. Ele fora muito "nobre" a respeito da situação — ela confiaria a Celeste, em lágrimas. Ninguém teria sido mais cheio de consideração, mais compreensivo, mais gentil. Ele não lhe permitia sequer voltar a falar do assunto com ele.
— Não, minha querida — dissera — não podemos discutir isso. Para mim, sua vida é mais preciosa que a possibilidade de ter filhos. Não posso suportar perdê-la, sabe disso.
Ele sorrira um pouco ao dizer isso, não de modo jocoso, mas severamente. Annette não compreendera absolutamente esse sorriso. Seu coração chegara a doer de apaixonada gratidão, e de alegria. Os anos seguintes do casamento tinham sido iluminados de felicidade. Havia amado Henri com êxtase irresistível antes de casar com ele. Discernira que ele não tivera por ela tal paixão e absorção, mas apenas uma afeição indiferente... se tivesse. Por que casara com ela em tais circunstâncias, não sabia. Para ela fora suficiente que casasse. Durante o noivado, algumas vezes ela o pegara a olhá-la fixamente, o que a aterrorizara. Sua ingenuidade e inocência, a falta de familiaridade com as emoções e reações humanas a haviam protegido, não lhe haviam deixado entrever o completo significado desse olhar — que implicava repugnância, repulsa, e desdenhosa piedade. Apenas o vago palpitar de seu coração, mais do que a razão, lhe causara terror. E então, vendo-lhe o medo, o terror, ele de súbito se tornava solícito, cheio de consideração, e mesmo terno. Revelava um cuidado quase extravagante por ela, o que, em lugar de lhe despertar suspeitas, as atenuava.
Nunca lhe ocorreu que ele casara com ela porque era a filha única e muito amada de Armand Bouchard, o presidente de Bouchard & Sons. Pois não era ele dono poderoso dos bônus Bouchard? Que mais poderia ele desejar? Ela não conhecia Henri Bouchard. Viria um tempo em que isso se daria, mas não agora. Até aquele momento, ela não compreendera seu ódio inquieto porque Jules Bouchard, seu avô, havia manipulado de tal forma os negócios da mãe de Henri que o filho, bisneto de Ernest Barbour, fora reduzido à impotência. Henri dissipara essa impotência. Era ele agora o poder entre os Bouchards e o presidente da companhia da mãe desde a aposentadoria do diabético Armand. Mas o ódio permaneceu. Era parte da sua personalidade. Não lhe era possível esquecer uma ofensa, uma injúria. Por vezes ele a olhava de maneira mais estranha, lembrando-se de que ela era neta do sutil e maquiavélico Jules.
Annette tornara objetivo o poder que ele mantinha por trás da cena. Ela fora uma coisinha demasiado frágil e gentil para conhecer ou compreender o que ele fizera imediatamente antes de seu casamento com ele. Ela ouvira fracos ecos do trovão, o sombrio tremor da terra sob todos os Bouchards. Porém seu casamento a tornara inconsciente de tudo mais. Sabia haver uma espécie de terribilidade a respeito dos Bouchards, mas acreditava ser porque era tão frágil e fraca e eles tão fortes. Não odiava ninguém; nem sequer antipatizava com o mais repelente dos Bouchards. Apenas ansiava por afeição, bondade, por mãos e vozes e olhos gentis. Agora que era esposa de Henri, tinha tudo isso à vontade. Sua gratidão era tocante, mesmo para o mais empedernido coração. Regozijava-se de que sua família agora a aceitasse como um ser humano completo, que muitos a ouvissem respeitosamente, e que fossem solícitos para com ela. Não fazia perguntas. Era muito doce, muito humilde, muito tímida.
Essas qualidades é que a protegiam contra as fúrias glaciais e a brutalidade sem remorsos de Henri Bouchard. Quando ele vira a prima pela primeira vez em 1925 (o pai dele e a avó dela tinham sido irmãos) imediatamente se deu conta de que ali estava uma pobre criatura instintivamente dominada por um conhecimento subconsciente do caráter de sua família. Soube que eles a desprezavam, quando ela, raramente, lhes chamava a atenção. Somente a antiga posição do pai como executivo dominante dos negócios dos Bouchards a defendera de abusos encobertos ou às claras. Sua juventude gentil, sua timidez, sua fraqueza física, seu aspecto de deformidade (que na realidade não existia) lhes lembrava uma antiga, lendária figura da família: Jacques Bouchard, filho do co-fundador da dinastia, o velho Armand, avô do avô dela. A lenda persistira na família, um conto furtivo que ainda despertava risos silenciosos entre os de mentalidade mais sórdida. Diziam que Jacques estivera "apaixonado" por Martin Barbour, irmão do terrível Ernest, e se matara quando Martin casou com Amy Drumhill, prima da esposa de Ernest. Emile, irmão de Annette, possuía uma velha e apagada miniatura de Jacques e, na verdade, o pobre deformado era estranhamente parecido com a pequena Annette. Os mesmos imensos olhos azuis, claros e radiantes, as mesmas feições delicadas, idêntico rosto triangular, pálido e indeciso, igual massa de cabelos claros e flutuantes. Até a expressão, gentil, trágica e atraente, era espantosamente parecida.
A primeira emoção de Henri ao ver Annette fora de indiferente compaixão. Mais tarde, ficou ligeiramente interessado por sua inteligência, doçura e inocência. Porém nunca se recobrou de uma sensação de forte aversão por ela. Por vezes a odiava, como se o houvesse ofendido só pelo fato de existir, embora ela lhe houvesse economizado anos de trabalho ao dar-lhe o controle de Bouchard & Sons. Sua razão se aborrecia ante essa reação emocional contra uma gentil criatura que nenhum mal lhe fizera, e que o amava tão apaixonadamente. Seu aborrecimento consigo mesmo causava esses intervalos de frieza para com ela que tanto a espantavam e amedrontavam, e que a enchiam de um sentimento de culpa. Esses intervalos aconteciam raramente. Ela era agora apenas a dona-de-casa, a anfitrioa, sua terna amiguinha sempre que ele lhe permitia isso, sua idólatra. E existem poucos homens capazes de resistir à idolatria... Ele apenas tinha de ser bom e cortês para satisfazê-la, para transformá-la numa alegria radiante.
A família estava completamente cônscia do motivo que o levara a casar com Annette, e o admirava por isso — mesmo quando riam à socapa ante o espetáculo do implacável Henri acasalado com esse esvoaçante passarinho. Conheciam-lhe as muitas ligações, mas pelo medo dele não eram levados ao conhecimento de Annette os saborosos fatos. E especialmente desde o advento de Rosemarie na vida amorosa dele. Também tinham Francis Bouchard, pai dela, com quem contar na eventualidade de um escândalo. Francis saberia? Acreditavam que sim. Com perspicácia conjeturavam que Francis até encorajava o "caso", na esperança da morte prematura de Annette e que Henri casasse com Rosemarie.
Desse modo, um muro de afeiçoado silêncio rodeava Annette. Ocasionalmente, no entanto, ela percebia as formas obscuras da realidade passando atrás do espelho, ouvia os apagados ecos ásperos de vozes cruéis, mas tensa como estava, com medo, não discernia nada de bastante definido para despedaçar o espelho e ficar desolada e tremendo. Talvez isso fosse porque não ousava olhar mais de perto. Forçava-se a satisfazer-se com as coisas como apareciam à superfície. Sempre fora demasiado introspectiva e sensível, muita medrosa. Mesmo no Paraíso ela procuraria a serpente, observaria o eterno sol buscando sinais de tormenta, acreditaria que os ventos sussurrantes do céu continham as vozes ardilosas dos inimigos. Assim disse a si mesma.
Pois Annette não era tola. Anos de vida calma e reclusa lhe haviam inclinado a mente para livros e música, longos pensamentos e silêncios meditativos. Isso lhe dera clareza de percepção — coisa perigosa para os desamparados. Sua consciência tinha sido como um emaranhado de antenas trêmulas a cada vento sutil emanado de outras personalidades. Fora capaz de sentir os pensamentos de outrem, suas reações, não apenas para com ela, mas para com as circunstâncias, o ambiente, as vozes, até mesmo para o sol e o tempo. Ela lhes percebera o passado e a reação deles a esse passado. Isso frequentemente lhe dava tal senso de desorientação e confusão que ela muitas vezes sentia sua própria personalidade a desintegrar-se na massa geral de reações a seu respeito — e não podia dizer se estava pensando assim ou assado, ou se outros é que pensavam de tal maneira.
Agora sabia que, se devia manter sua personalidade, se tinha de viver, de suportar tudo, deveria proteger-se contra esse exaustivo render-se a impressões alheias, e desamparadas identificações com suas personalidades. Devia adquirir uma crosta; melhor: devia encerrar-se em concreto. Se — como por vezes pensou — esse concreto tinha a qualidade de um sarcófago, pelo menos ela estaria comparativamente segura contra uma perceptibilidade que ameaçava sua própria existência, física e mental.
Pois, como seu parente Peter, sabia que certamente morreria se compreendesse demais sobre o mundo dos homens. Sua vida era agora uma luta sem fim para não ver mais do que o necessário para sua sobrevivência, não ler o verdadeiro sentido sob palavras casuais, aceitar as declarações dos outros com uma fé simples, acreditar que seus gestos significavam apenas o que pretendiam transmitir, que seus rostos expressavam o que eles aparentemente desejavam que expressassem.
De modo que tinha uma espécie de paz, feliz embora estática, em seu torturado coração. Se se pilhava ouvindo o severo e sinistro eco por trás de vozes casuais e amigáveis, se se via buscando um trejeito maldoso e um olhar cruel atrás de sorrisos afetuosos, ela austeramente cobria os ouvidos espirituais com as mãos e fechava os claros e desesperados olhos. Quem poderia conhecer a verdade a respeito da humanidade, e continuar a viver?, ela sussurrava para si mesma.
Quando Henri entrava em seus aposentos durante os primeiros meses, ou mesmo anos, de seu casamento, o olhar dela instintiva e medrosamente se cravava nele, seu coração palpitava mais rapidamente, atemorizada, o sangue lhe esfriava, de modo que ela tremia como se esperando um choque mortal. Já havia superado isso. Aceitava-o como ele desejava ser aceito por ela. Se ele sorrisse afetuosamente — como fazia nesta tarde — ela aceitava essa afeição. Porém ainda não podia controlar o instintivo desamparo de um coração que pedia a verdade, mesmo que morresse por isso.
Sua camareira lhe colocou nos ombros magros um roupão de rendas e discretamente saiu do quarto. Annette sorriu alegremente para o marido, estendendo-lhe a mãozinha. Ele a tomou: como sempre, ela tremia um pouco. Seus grandes olhos claros se fixaram nele com uma súplica desamparada a que ele já se acostumara e que nunca deixava de excitar-lhe a compaixão. De modo que se inclinou e beijou-lhe a testa, depois lhe tocou nos cabelos com mão terna.
— Estou interrompendo algo de importante, querida? — perguntou.
Ela suspirou, e sorriu: passara o perigo iminente. Sempre passava. Contudo, ela sempre esperava por ele, num terror incompreensível. Ela sentou numa cadeira estofada de cetim, como se estivesse fraca. Ele se sentou perto dela.
— Não, meu querido. Nada mais é importante, quando você aparece — disse ela. Suas mãos esvoaçavam, como se ela desejasse desesperadamente apoderar-se dele e sentir sua força.
— Muito bem: gostaria de oferecer uma grande reunião de família em homenagem a Celeste e Peter? — perguntou o marido, olhando-a com indulgente ternura. Seus pálidos olhos inexpressivos tinham até um leve sorriso.
— Oh!, querido! — ela exclamou. Juntou as mãos, suavemente. Agora era toda alegria, e delícia. Depois o rostinho se ensombreceu: — E Peter? Ele aguentará? E gostará disso?
— Acho que ele está bastante bem, doçurinha. Francamente, penso que o temos mimado demais. É como você faz, Annette: está sempre tão solícita e o mimando, como uma danadinha de uma carriça.
A isso ela riu, feliz, e adorou:
— Oh! Henri, isso é injusto! Não foi você mesmo que me avisou que o pobre Peter não devia ser perturbado, que precisava ser tratado cuidadosamente? Não foi você mesmo quem sugeriu as enfermeiras? Foi tanta bondade sua, tanta bondade! Mas foi você quem insistiu nisso tudo. Se realmente pensa que Peter pode suportar uma festa, então ficarei feliz em oferecer-lhe uma, bem como a Celeste. Quando acha que deve ser?
Porém ele ficou silencioso por um momento, olhando-a em penetração. Imediatamente ela se sentiu apreensiva. Ele disse:
— Você é louca por Celeste, não é verdade, doçura?
Logo ela ficou radiante:
— Oh, sim! — falou vivamente. — Sempre fomos muito boas amigas. Você nem imagina. Celeste foi minha única amiga. Somos quase da mesma idade, embora ela seja minha tia. Estávamos juntas sempre que tio Christopher o permitia. Acho que também fui a única amiga que a pobre querida teve. Tio Christopher a mantinha como uma freirinha. Eu faria qualquer coisa por Celeste — acrescentou, com a vivacidade do sofrimento e do amor. — Sei que ela é muito infeliz agora, por causa do Peter.
Ele não moveu um músculo; mesmo assim ela teve a estranha sensação de que se aproximara dela, como se para não perder a mais simples expressão, ou solitária entonação de sua voz.
— Por que pensa que ela é tão infeliz, Annette?
Ela sentiu a pressão poderosa de sua personalidade, sua presteza. Isso a confundiu, de modo que só pôde gaguejar:
— Ora, não é óbvio, querido? Peter esteve tão doente, ainda está. Parece não haver muita esperança de recuperação para ele. E Celeste lhe é tão dedicada, ama-o tanto! É terrivelmente tocante: por vezes não posso aguentar isso... — Sua voz se apagou; havia lágrimas em seus olhos.
Henri deu de ombros:
— Ela casou com ele, não foi? Sabendo que era um homem doente? Que poderia esperar?
Ela falou aflitamente, como se implorando sua compaixão para Celeste e Peter:
— Sim, ela sabia. Mas era tão jovem... Acreditava que ele se curaria. Afinal de contas, os médicos eram otimistas. O dano em seus pulmões era profundo, mas não irreparável, diziam. Porém ele não se curou. Até piorou. — Ela hesitou, novamente implorando piedade com aqueles olhos iluminados: — Certa vez Celeste me confiou que havia algo mais que tornava Peter tão doente. Disse que... pensava ser devido a não poder suportar as coisas que soubera a respeito... a respeito... — Sua voz silenciou, e agora os olhos estavam cheios de terror, como se ouvisse em si mesma o eco de coisas que não ousava ouvir.
Henri ergueu as sobrancelhas, numa expressão divertida. Riu:
— Ora, não vamos ficar metafísicos. Não consigo entendê-la quando fala esses absurdos, ratinho. É minha opinião, e a do doutor também, que Peter é por demais introspectivo, demasiadamente absorto em si mesmo e no que acredita. O egoísta supremo. Olhe, não estou querendo ser maldoso, assim não me olhe desse jeito. Estou dando minha opinião, após longo estudo de nosso sensível inválido. Por isso é que estou sugerindo uma festa. Pode ajudá-lo. Arrancá-lo de si mesmo. Além disso, Celeste também necessita distrair-se. Já observei que ela se sente infeliz. Por vezes cogitei se não estará arrependida de se haver casado com Peter.
— Oh, não! — gritou Annette, num tom singularmente alto e desesperado. — Está enganado, Henri! Ela o ama demais, sei disso!
— Como pode saber disso? — ele perguntou, obviamente aborrecido, e levantando-se. — Ela deve estar cheia de bancar a enfermeira. Não tem tido uma vida normal. Eu não a censuraria se estivesse farta disso.
Ela o olhou, alargando e estreitando os olhos até que todo o rostinho parecia cheio de uma angustiada tonalidade azul.
— Henri, você não compreende. Celeste é tão... tão austera! Não se permitiria pensar tais coisas. Conheço Celeste. Sei que prefere sua vida com Peter, embora ansiosa e infeliz como tem sido por vezes, a uma vida mais normal e serena com algum outro. Por favor, acredite-me. Eu sei.
— Celeste lhe disse isto?
Ela tornou a sentir que ele se aproximara dela demais. Havia em sua garganta uma sensação de sufocação. Ergueu as mãos como para afastá-lo, e ele pensou:
"Ele também fez isso, esta manhã... São parecidos, esses patéticos coitados!"
— Não, não, ela não me disse! — ela gritou. — Apenas, eu sei! — Agora apertava as mãos na almofada a seu lado como se prestes a saltar e fugir.
Ele viu sua angústia, mas não tinha remorsos. Estudou-a atentamente. Pensou:
"Ela está apavorada. Receia olhar a verdade. Ela conhece a verdade."
Relaxou e sorriu. Tomou-lhe o rostinho nas mãos: estava frio e úmido ao toque. Inclinou-se e tornou a beijá-la. Ela estava vibrando como um diapasão tocado muito violentamente. Mas sob seu toque forte, seu sorriso, sob seus olhos deliberadamente amorosos, ela se apaziguou, sentindo apenas uma profunda fraqueza.
— Agora, estamos ficando muito excitados sem motivo nenhum — ele disse, de maneira calmante. — Por que se agita assim, sua tolinha? — Afagou-lhe as faces novamente, depois endireitou-se. Tirou do bolso a cigarreira de ouro que ela lhe havia presenteado no último aniversário, e indiferentemente acendeu um cigarro. Ela observava todos os seus movimentos, deliberados, pesados, calmos, e não podia desviar dele os olhos. Ele lançou algumas baforadas, franzindo as sobrancelhas pensativamente ante a fumaça espiralante.
— Tenho a impressão de que você talvez tenha razão — ele reconheceu. — Esta manhã mesmo Celeste disse algo, diante de Peter, quanto a deixar-nos em breve.
Ela deu um leve grito de protesto. A fraqueza ainda se abatia fortemente sobre ela, mas esqueceu-lhe a causa diante do que agora se apresentava.
— Oh, não posso ouvir isto! Esperei que Celeste e Peter ficassem conosco indefinidamente... Não posso suportar perdê-la agora, Henri!
Ele sorriu com satisfação oculta.
— Bem, não podemos acorrentá-los, você sabe. Entretanto, você deveria mencionar seus sentimentos a Celeste o mais breve possível. Diga-lhe que precisa dela, ou algo assim. Ela adora saber-se necessária.
Havia alguma coisa em seu tom, alguma coisa de cruel ou sardônico, que fez a pobre criaturinha tremer. Porém ela se obrigou a pensar: "Ele é tão bom! O meu querido é muito bom! Sempre pensa em mim!" E disse:
— Farei isso, meu querido. Talvez esta noite.
E se levantou quando ele se dirigiu à porta, seguindo-o como uma frágil sombra branca. No limiar ele se deteve, para tocar-lhe o rosto de leve. Abriu a porta e saiu. Ela a fechou lentamente.
As palmas de suas mãos adejaram de encontro à madeira polida. Seus lábios quase a tocaram. Depois, bem devagar, eles entraram em contato com a porta. Ela ficou ali, encostada à porta, como se crucificada de encontro a ela, como se desmaiada contra ela, incapaz de afastar-se por medo de cair na escuridão total, para sempre...
Capítulo 11
Imediatamente antes do jantar Annette foi aos aposentos de Celeste e Peter.
Sua fingida vivacidade tornara-se involuntariamente um hábito, e ela se movia rapidamente em suas perninhas finas e pezinhos minúsculos, mal parecendo tocar o chão em seu andar. Seu vestido primaveril azul e branco enfatizava a infantilidade de seu todo, e os cachinhos que lhe emolduravam o pálido rostinho destacavam sua aparente imaturidade. Nada poderia ser mais doce que o seu sorriso quando, após uma leve batida à porta, entrou na sala de estar de seus hóspedes.
Encontrou Celeste sentada perto de Peter, enquanto aguardavam a sineta para o jantar. Celeste, de vestido branco, parecia toda frialdade e frescura, embora o dia tivesse sido extremamente quente e abafado. Como de costume, Peter estava exausto. O olhar rápido e perceptivo de Annette ficou preocupado: seria imaginação sua ou Celeste estava anormalmente pálida e de olhos e lábios tensos? Certamente o olhar dela era mais austero que de hábito, e seu queixo arredondado mostrava uma severa obstinação. Teriam os queridinhos estado brigando? Como sempre, ao menor sinal de uma atmosfera perturbada e violenta, o coração de Annette se enchia de inquietação e de medo. Seu sorriso se tornou ainda mais terno e ansioso, e suas mãos se ergueram a meio, como se para implorar, para suavizar.
— Não esteve horrivelmente quente? — falou infantilmente. — Não, não, querido Peter, por favor, não .se levante. Ficarei apenas um minuto, até o jantar: já está na hora.
Adiantou-se e pegou na mão de Celeste, enquanto se sentava, e a olhou com seriedade muda e implorativa. Estariam cansados dela? Será que os aborrecia com sua tola impotência? Estaria a incomodá-los?
Celeste, que sempre conhecera tanto a respeito da sobrinha, sentiu uma aflição sem nome. Teria a pobre criaturinha "sentido" as palavras de protesto, frias e amargas ali trocadas antes de sua chegada? Teriam tais palavras deixado um som de discórdia no ar? Forçou-se a sorrir afetuosamente:
— Esteve bem quente, porém mal o sentimos aqui em Robin’s Nest.
— Não sairemos neste verão, como de costume — disse Annette, pateticamente grata ao sorriso de Celeste e à pressão em sua mão. — Henri achou que não devíamos fazê-lo, com as coisas como estão na Europa. Quer estar em casa, caso haja "evolução" dessas coisas... Porém eu não acho que isso poderá piorar, não acham? Seria tão estúpido, tão terrível... Nem se deve pensar nisso!
Peter olhou rapidamente para a esposa. Porém ela não o olhou. Era toda atenção para com Annette.
— Bem, estou certa de que não poderíamos encontrar local mais agradável do que Robin’s Nest, querida — disse Celeste. — Foi tanta bondade de vocês nos convidarem... Estamos muito gratos. — Deteve-se. Seus lábios se apertaram numa linha fina. — Mas deve ser muito cansativo para você, ter-nos no seu caminho todo o tempo. Por isso já falei com Peter que devemos procurar onde morar.
Annette ficou imediatamente alarmada e angustiada. Com ambas as mãos apertou estreitamente a de Celeste, e se inclinou para ela:
— Henri pensou que vocês teriam isso em mente — falou, a voz quebrada. — Não pude, realmente, acreditar nisso. Você nem sabe o quão feliz me fez, querida, só por estar na mesma casa que eu. Estabeleceu uma grande diferença. Por vezes sinto-me tão solitária... Eu... eu pensei que vocês ficariam indefinidamente. Se vocês se forem quebrarão meu coração.
Celeste ficou silenciosa. Seus lábios ficaram mais rígidos que nunca. Desviou os olhos. Porém Peter soergueu-se um pouco em sua poltrona. Disse:
— Isso é o que eu estava dizendo a Celeste, Annette. Deveríamos ficar um pouco mais. — Ele parecia um tanto confuso, e um leve rosado lhe chegou às descarnadas maçãs do rosto. — Estive delineando meu trabalho. Não gostaria de interrupções logo agora. Mas Celeste acha que estamos atrapalhando vocês.
— Continuo achando — falou Celeste, em tom áspero. Olhou para o marido diretamente. — É demais para Annette. Devia dar-se conta disto, Peter. — Mas seus olhos continuavam sua zangada discussão com ele.
Ele havia declarado, imediatamente antes da entrada de Annette, que devia ficar, que precisava ficar, que uma vez fora dessa casa nada saberia de Henri. Aprendera tão terrivelmente muito naquela manhã... Tinha de saber mais. Ele — dissera — simplesmente não podia compreender Celeste. Ela se tornara mórbida, supersensível, histérica mesmo. Por que, Senhor! Insistia em sair dali? Ela não respondera. Porém o olhara estranhamente, com uma espécie de medo desesperado e sem palavras. Ninguém diz ao marido:
"Devemos deixar a casa desse homem para nossa própria salvação. Você não compreende que eu nunca o esqueci, que por todos estes anos ele tem estado em minha mente, como uma praga, ou uma obsessão, ou uma moléstia? Acreditei odiá-lo; pensei que nunca esquecemos aqueles a quem odiamos. Não sei. Será que o odeio? Ele me repelirá? Eu o detesto? Não sei! Só sei que não posso parar de pensar nele, que lhe ouço a voz em todo lugar, que quando o vejo mal posso respirar, e que quando fico insone à noite vejo seu rosto diante de mim no escuro. Que, quando ele me toca, mesmo se apenas ao passar, ou por acidente, fico em fogo! Sempre foi assim, desde o começo, quando o vi pela primeira vez. Ainda não compreendo. Só sei que estou em perigo, talvez mais por mim mesma do que por ele. Por sua salvação, meu querido, devemos sair daqui."
Não, nunca ninguém disse isso: apenas se levanta e foge. Olhou para Peter, e o perigo parecia adejar em torno dele, para destruí-lo, e todo esse perigo provinha dela mesma, e não de Henri.
Em seu desespero ela tomou a falar, bem alto, para fugir à voz implorativa de Annette:
— Devemos sair, Annette. Não podemos impor-nos a vocês por mais tempo. Todas essas enfermeiras, essa inconveniência, essa perturbação de sua rotina. Vocês têm de pensar em nós antes de fazer seus próprios planos. Têm de adaptar suas vidas à nossa. Não é justo para vocês.
Podemos dizer a uma querida anfitrioa, a quem amamos:
"Tenho de ir embora, antes que a destrua? Não pode compreender que me parece terrível vê-la como esposa de Henri, que por vezes a odeio, minha querida, e que receio que algum dia tenha esperança que você morra? Não pode ajudar-me a salvar-me dessa coisa horrível? Cada vez que vejo Henri... há em mim pensamentos terríveis: Ajude-me a salvá-la e salvar-me..."
Pensando essas coisas, cheia de terror, olhou de Peter para Annette. Pela primeira vez percebia a misteriosa semelhança entre eles. Ambos eram puros de coração, ambos ternos e vulneráveis, ambos gentis e castos e demasiado honrados para compreender as coisas vergonhosas que podem invadir os corações de outros. Ela se sentia de espírito tenebroso e violento, de mente retorcida e atavista diante de sua pureza de coração, sua verdade e sua fé. Ela se sentia impura, degradada, corrupta, toda calor e trevas úmidas, toda tempestade. Não ficou prostrada por isso. Antes, sentia-se forte e mais consciente, vital e de peito quente e pernas trêmulas. O perigo, nela, era todo volúpia, cheio de quente langor e de um desejo a que não ousava dar nome... E eles apenas olhavam para ela com seus diáfanos olhos azuis-claros, perturbados e angustiados, como para uma criança voluntariosa e egoísta.
Então Annette levantou-se, inclinou-se sobre sua jovem tia e a beijou ternamente. Havia doçura em sua voz:
— Oh, querida, como pode dizer tais coisas? Como pode ser tão cruel? Eu a amo, Celeste. Se você se for, não lhe posso dizer a falta medonha que me vai fazer...
Lágrimas ardentes pesavam nos olhos de Celeste, embora ela as desviasse. Disse:
— Mas não vamos para longe!! Ficaremos em Windsor.
— Mas onde, querida? — instou Annette. — Vocês têm de construir. Pensei que ficara entendido que vocês permaneceriam conosco até construir sua própria casa...
Celeste estava silenciosa.
— Já andamos estudando planos e plantas — falou Peter, friamente. — Havíamos quase decidido sobre o tipo de casa que queremos. E agora Celeste quer ir-se, antes que as coisas estejam estabelecidas. Seria só por um pouco mais.
Annette olhou para a tia, para aquele branco e severo perfil. Dificilmente podia conter as lágrimas. Curvou a cabeça de modo a poder ver claramente o rosto de Celeste, e a massa de seus cabelos claros e fofos lhe caiu sobre o rosto da maneira mais tocante.
— Querida, olhe para mim. Não gosta mais de mim? Está cansada de mim? Realmente quer deixar-me? Aborreço-a tanto assim?
Celeste ergueu rapidamente a cabeça, entreabrindo os lábios. Mas quando seus olhos deram com a líquida pureza azul dos de Annette, e viu seus rogos, sua dor, sua patética inocência, apenas pôde permanecer silenciosa. Beijou a frágil face tão junto da sua, e tentou sorrir. Finalmente falou:
— Como pode ser tão tolinha! É que eu julgava que os estávamos incomodando. Já estão aqui Christopher e Edith. Pensei em sua saúde...
— Oh, eu estou muito, muito vigorosa! — gritou Annette, tão depressa como sempre que se mencionava seu estado físico. — Sou muito enganadora. Diz o doutor que gente como eu vive para sempre. "Nanicos têm muita vitalidade", disse-me. Posso ser pequenina, mas sou forte como aço. Você nem faz ideia. Muitas vezes Henri me diz que o deixo exausto. Disse que não ficaria surpreso se eu o enterrasse meio século antes de minha morte, e que acabaria meus dias como uma velhinha a um canto da chaminé. Por vezes chego a acreditar nele, embora ele seja tão extravagante. A cada ano fico mais forte. De verdade. — Sorriu radiante e pôs o bracinho magro em volta dos ombros de Celeste, convidando Peter a rir com ela.
"Contudo — pensou Celeste — seu coração se romperia, e então você morrerá. E seguramente nós partiremos o seu coração e também o de Peter, Henri e eu, a menos que me deixe ir. Não tenho a força de vocês, meus queridos. Não tenho sua bondade e confiança. Vocês não sabem o que sou! Até ultimamente, eu mesma não me conhecia..."
Depois pensou:
"Não poderei confiar em mim por mais algum tempo, por amor deles? Não terei decência nem autocontrole? Certamente não sou tão fraca, tão depravada assim!"
E disse:
— Vejo que vocês dois me venceram, de modo que suponho não haver nada que eu possa dizer. Peter — e se voltou para o marido com a antiga gentileza — você realmente se decidirá amanhã a respeito dos planos? Você foi tão indeciso...
Agora que havia dominado, Peter estava ansioso por acalmá-la:
— Claro! E também consultaremos Annette: haverá aposentos para Annette, quando nos visitar. — Sorriu para Annette, que lhe retribuiu alegremente o sorriso. Ela batia palmas e quase dançou de delícia.
— Mas que ótimo! E, claro, darei um grande jantar para homenagear vocês dois! Henri falou nisso. Ele é sempre tão cheio de consideração... Não será perfeito?
Capítulo 12
Enquanto Annette estava ocupada em sua amorosa persuasão de Celeste para permanecer em Robin’s Nest, Armand Bouchard — pai de Annette, irmão de Celeste — chegou para jantar, com o filho, Antoine, "a reencamação de Jules Bouchard."
Armand era viúvo. Morava com o filho solteiro em seu castelo enorme e quase ridiculamente palaciano, sobre o rio Allegheny. Tinha quase duzentos quartos e, como declarara um espirituoso, abrigava criados em número suficiente para formar o núcleo de uma florescente aldeia. Sua esposa tentara sobrepujar os castelos e palácios dos demais Bouchards pelo tamanho e a majestade das proporções — e conseguira produzir uma vasta monstruosidade pseudo-medieval de ostentação. Não tivera bom gosto. Armand, embora lhe permitisse satisfazer seus gostos em questão de castelo e de mobiliário, tivera a prudência de chamar os melhores jardineiros paisagistas da América para suas terras. Em consequência, o ridículo do castelo foi em grande parte modificado, amenizado, pela beleza, magnificência, e luxuriante esplendor do meio ambiente. Para minimizar as tremendas proporções do edifício, os jardineiros instalaram terraços que gradualmente desciam até o rio, haviam transplantado elmos e carvalhos gigantes para sombrear esses terraços, fizeram longas rampas que levavam às muralhas de pedra cinzenta, onde uma casa-de-guarda vigiava os altos portões de ferro.
Em meio a tudo isso vivia o diabético e obeso Armand. Henri o fizera Presidente do Conselho de Bouchard & Sons, o que pouco exigia de Armand, exceto um ocasional e pomposo aparecimento e maneiras sérias e judiciosas durante as reuniões. Nessas ocasiões, sentava-se em sua grande cadeira forrada de pelúcia, estendendo o grosso lábio inferior, a olhar com perspicácia de rosto em rosto, com aqueles olhinhos feito contas, emitindo profundos resmungos sob a respiração e, nesse ínterim, fazendo retinir um punhado de pequenas moedas de prata no bolso sujo. Sempre que ouvia o retinido, sorria com patético prazer, e cantarolava de boca fechada. Por vezes passava a mão na grande cabeça redonda de cabelo grisalho à escovinha, ou esfregava as costas da mão vigorosamente no nariz acharparrado. E novamente, por vezes, "aliviava-se" de uma opinião sem a menor importância. Todos o tratavam com a máxima cortesia, inclinando a cabeça respeitosamente sempre que ele falava; e muitas vezes, disfarçando um sorriso, algo brilhava friamente nos pálidos olhos de Henri. Assim, permitiam a Armand acreditar que ainda era uma força entre os terríveis Bouchards. Era um velho agora. Já era suficiente que Henri o houvesse admitido, embora os Bouchards com frequência expressassem ligeira surpresa por que ele tivesse feito mesmo isso, pois Henri não era dado a ações caritativas. Poucos chegaram a notar o fato de que as mãos do gordo velho, em repouso, tinham um movimento trêmulo crônico, impotente e trágico, como as mãos de um cego. Estavam mais interessados em contemplar as ruínas de quem fora outrora todo-poderoso, e depois tão completamente anulado pelo genro. Cogitavam quais seriam seus pensamentos, se teria noites de raiva frenética e fútil, ou de grande tristeza.
Por vezes até se apiedavam dele, desdenhosamente. Ele nunca fora um favorito, fora escarnecido mesmo em seus dias de grandeza. Pois era desasseado, grosseiro, não era limpo de hábitos nem com a sua pessoa, apesar de uma quantidade de criados. Calças acabadas de passar logo se enrugavam em suas coxas grossas; coletes imaculados, imediatamente, ficavam manchados; e as camisas, amarrotadas e sujas.
Só seu irmão, o vitriólico "Trapista rabelesiano" Christopher, tinha perspicácia para adivinhar os pensamentos que ocasionalmente acudiam ao velho irmão. Sabia Christopher que, durante toda a vida, Armand tinha sido atormentado por uma espantosa consciência de classes que, em última instância, não lhe deixava fazer certas coisas. Não eram muitas, essas coisas, porém eram o bastante para despertar a hilaridade dos Bouchards, e seu divertido desprezo. Por conseguinte, Armand, mesmo quando mais atarracado, tinha sempre um ar de perplexidade, medo e hesitação.
Entretanto, Christopher tinha a ideia perspicaz de que Armand desfrutava de alguma paz desde que fora removido do poder. Por vezes, quando as discussões se tornavam muito secretas e cheias de intriga, um vago olhar de medo e inquietação lhe encobria a expressão fofa e florida, e, após alguns momentos — tendo primeiro pigarreado, sacudido a cabeça, esfregado o nariz, fungado e piscado. — Armand se levantava com dignidade e alegava indisposição, ou um compromisso. Depois saía gingando da sala da Diretoria, naquelas pernas curtas e inchadas, apressando o passo ao chegar à porta. Parecia fugir, e os outros o olhavam, rindo à socapa. Por vezes, tratava-se de um truque deles, para fazê-lo sair antes de debates realmente sérios. Não queriam testemunhas para esses procedimentos — especialmente não uma testemunha como Armand.
Christopher também achava que Armand, agora, tinha realmente apenas dois interesses na vida: a amada filha Annette, e sua diabete. Devido à sua "largueza" em matéria de alimentação, a moléstia foi uma catástrofe. Sempre fora um comilão. Durante anos, quando tinha de enfrentar a necessidade de uma decisão iníqua — que deveria tomar pela sorte da Companhia, ou repudiar pelo bem de sua consciência — ele repentinamente abandonava a iminência de decisão por uma sessão à mesa. Seus cozinheiros tinham ordens de produzir os pratos mais ricos e deliciosos, e Armand sentava-se diante deles em desesperada concentração e comia, literalmente, durante horas. Havia algo de orgiástico nessas ocasiões. Armand não falava; muitas vezes ficava só, nos espaços vastos como os de uma catedral da sua sala de jantar. Prendia sob o queixo um guardanapo que era um verdadeiro "lençol", erguia os ombros, empunhava garfo, faca, colher, e enchia o silêncio da sala com o som de um mastigar alto e frenético, e um engolir, e um remoer glutão. Seu grande rosto fofo ficaria mais rubicundo, congesto, coberto por uma camada de suor gorduroso, as orelhas ficando arroxeadas nas bordas. Mais tarde, ele "baixaria" em seus aposentos na semi-coma de uma torturada digestão, e, envolto em aflições físicas, esqueceria as agonias mentais. Um camareiro lhe traria vários sedativos para os intestinos, lhe aplicaria saco quente no ventre inchado, e mais tarde chamaria um médico. Quando, finalmente, chegasse a dormir, uma aparência de paz semelhante à morte estaria em suas feições.
Agora tinha sua diabete, que lhe ameaçava a vida se descuidada ou ignorada. Tinha sua agulha de insulina — que se tornara de interesse absorvente para ele. Na ocasião, tinha pouco que o perturbasse, e só ocasionalmente recorria aos prazeres da mesa para suavizar seus conflitos psíquicos. Nunca se sentava para uma refeição sem a lista de sua dieta diante de si — documento que era agora mais importante para ele do que qualquer outro outrora ligado à Companhia. Levava com ele a sua lista para todo lugar onde fosse convidado a jantar com os parentes; e, quando a conversa ameaçava tocar nos negócios da Companhia e suas várias subsidiárias, ele a interromperia com avisos a respeito de determinados pratos:
— Este — dizia, apontando com o garfo ou a faca — é praticamente veneno. Cheio de açúcar. Cheio de albumina. Proteína demais. Vocês não fazem a menor ideia, estou vendo, sobre o que pode fazer ao pâncreas de vocês. Meu médico me dizia, no outro dia mesmo...
Por isso, Armand era raramente chamado pelo nome entre seus alegres parentes. Era designado como "A Lista". Causava grande alacridade entre eles devido a suas discussões a respeito da necessidade de "refeições simples, completas, cheias de minerais, simples e substanciais, bem fortificadas com vitaminas". Muitas vezes, gravemente visitava os cozinheiros de sua família em suas próprias cozinhas, e os exortava a respeito de manteiga demais, molhos demais, muito vinho, temperos em excesso. Ele enchia o prato de saladas sem sabor, uma fatia de carne magra, algum vegetal cru, e dizia aos outros (cujos pratos estavam cheios de "veneno") que estavam cavando suas sepulturas com os dentes. Então os observava a devorar o "veneno" com gosto, seu próprio rosto expressando avidez. Certa vez, com ingenuidade patética, chegara a convidar alguns dos parentes para observar a aplicação da injeção de insulina, o que não fora aceito.
Além de sua saúde e de sua injeção, tinha só uma paixão: a filha. Pelo filho, Antoine, agora secretário de Bouchard & Sons, sentia apenas medo e um ódio secreto, e uma aversão aterrorizada. Por vezes Antoine o fascinava, pela semelhança com seu próprio pai, Jules. Certas ocasiões, tinha sonhos em que via o velho Jules, sutil, sorrindo, sardônico, cheio da antiga gargalhada maquiavélica. E então via que não era Jules absolutamente, mas Antoine: acordava tremendo e banhado em suor, e durante dias evitava Antoine.
No entanto, Antoine era todo respeito pelo pai, ouvia-o com cortês gravidade quando Armand discursava sobre dieta, pedia-lhe conselho sobre matérias de menor importância da Companhia, e chegava a diverti-lo com comentários picantes sobre outros membros da família. Pois Antoine era espirituoso, um fazedor de epigramas, boa palestra, pessoalmente elegante e afável — o retrato perfeito do cavalheiro francês do tempo antigo. Havia um retrato de Jules na biblioteca apainelada de Armand cheia de ecos desolados, e muitas vezes Armand parava diante dele a mirá-lo com a tristeza, o temor instintivo, a inquietação e aversão que sentira pelo pai nos últimos anos da vida dele. Depois, com terror crescente se bem que obscuro, observava as feições de Antoine naquela expressão dos sutis olhos negros, a boca satírica e cheia de mobilidade com o canto esquerdo erguido, o nariz longo de narinas estreitas. Todas as qualidades intelectuais, a astúcia refinada, a delicadeza cruel, a vivida perversidade, a vigilância vivaz daquele rosto, se haviam reproduzido em Antoine, mesmo as sobrancelhas oblíquas com seu olhar inquisitivo. Era a fisionomia de Mefisto, fascinante, rutilante de sadística diversão, perceptiva e letal.
Havia respirado num alívio sem nome quando Antoine, alguns anos antes, declarara não estar absolutamente interessado nos Bouchards ou suas preciosas velhacarias ou sua rede de subsidiárias. Ele era um poeta — dissera, com um sorriso que zombava de si mesmo tanto quanto dos outros. ("Céus! Iremos ter outro François na família?" — perguntara Christopher, lembrando-se do trágico pai de Henri, que se matara em face deste áspero mundo.) De modo que Antoine, após uma brilhante carreira em Harvard, estudara na Inglaterra, na França e na Alemanha, viajara quase constantemente, gastara bem, porém discretamente, e parecia haver decidido que a carreira de um diletante consumado e aperfeiçoado lhe convinha admiravelmente. Publicara um volumezinho de poemas excepcionalmente irreverentes, mas intelectuais, aclamados deliciadamente no mundo inteiro. Era um conhecedor das várias artes, mas apenas pela fama, para sua própria distração, e seu gosto era impecável. Ora considerava candidamente o palco, ora se interessava pela pintura futurista, ora só dava atenção a miniaturas. Era soberbo o seu conhecimento de música, e era um fino pianista. Mesmo seus vícios se distinguiam pelo refinamento e uma elegância nativa, suas amantes sendo de tão alta linhagem quanto ele próprio. Ainda não estava casado, embora já na casa dos trinta.
Essa flor da família Bouchard era muito popular, mesmo entre a sua própria gente — o que não é dizer pouco a respeito de suas graças de temperamento e personalidade. As senhoras da família rivalizavam por sua presença à sua mesa, pois nenhuma festa seria enfadonha com Antoine Bouchard. E elas todas estavam mais ou menos apaixonadas por ele; até os parentes masculinos faziam questão de sua presença. Ele era um imprestável, diriam, provavelmente um louco, porém era decorativo, e acrescentava distinção à família.
Então, cinco anos antes, esse gracioso, esse completo, esse vivaz e arguto jovem calmamente anunciara à família que pretendia identificar-se com ela, isto é: com a sorte da família.
— Não se apressem! — disse, com um sorriso, e estendendo as mãos naquele sempre lembrado gesto de Jules. — Não sou impaciente. Repousarei placidamente em casa enquanto vocês, rapazes, rivalizam por meus serviços. Quando tiverem algo de sólido para me oferecer, tragam-no em bandeja de prata. O mais alto licitante obtém os incomparáveis serviços de Antoine Bouchard, garantidos para acrescentar colorido e vida ao mais insípido dos escritórios.
A princípio não o levaram a sério. Porém Christopher aparentemente o fez. Dentro de uma semana escreveu a Antoine, oferecendo-lhe a posição de Secretário em sua própria companhia, a Duval-Bonnet, fabricantes de aviões na Flórida. Com a posição vinha um excelente salário. Mas Antoine prontamente recusou:
— Não suporto o clima — disse, numa nota amigável ao tio.
Depois, garantindo uns aos outros que eram uns idiotas em dar atenção ao brilhante e inútil Antoine, todos lhe fizeram ofertas. Francis, Jean, Alexander, Emile, até Nicholas se apresentaram, discretamente, com sugestões. Hugo, o Senador pela Pensilvânia, sugeriu política. Antoine fingiu investigar cada uma dessas amigáveis proposições, porém afinal pesarosamente declinou.
— Ele não está realmente interessado... — disse Francis. — Que é que vocês esperavam?
Então Georges, o editor em Nova York, fez ao jovem uma oferta que todos tinham certeza que ele aceitaria, considerando seus poemas e sua familiaridade com os negócios de publicidade. Para surpresa geral, também isso foi recusado.
— Está cheio de disparates — foi o veredicto da família. — Gosta de brincar com ideias.
Contudo havia alguém que não estava certo disso, e esse alguém era Henri Bouchard, seu cunhado e primo. E só Henri não fez qualquer oferta. E Henri é quem escutava, e observava, com um impenetrável sorriso íntimo, e silêncio.
Pois fora Henri quem, em sua vingança, sua ganância e implacabilidade, despojara Armand, pai de Antoine, de seu poder; quem, saído da obscuridade e da impotência, se apoderara do trono dos Bouchards. Na ocasião Antoine era muito menino, um garoto de escola e, portanto, indiferente e inconsciente da geleira que se movera inexoravelmente sobre a família, uma geleira a erguer-se de uma base oculta, reunindo força e terror em silêncio, irresistível em sua força e implacabilidade. Antoine chegara à idade viril, viajara por todo o mundo buscando seus prazeres, sorrindo, cheio de savoir faire, gracioso e indiferente, gastando de sua própria e enorme fortuna, não demonstrando interesse por coisa alguma. Depois, de repente, languidamente, a sorrir, dando de ombros, espalmando as mãos, anunciara seu interesse casual nos negócios dos Bouchards.
Isso foi o que Henri observou, divertido, de lábios cerrados. De modo que não ficou absolutamente surpreso quando Armand, acanhado e confuso, acompanhou o filho ao escritório de Henri e anunciou que Antoine finalmente decidira que gostaria de entrar para o "negócio".
— Ele pensou bem em todas as propostas — falou Armand, como vaga desculpa. — Nada atrai o rapaz. Então... então sugeri você, Henri. Ele está disposto a aceitar o que você oferecer.
Haviam-se sentado à escrivaninha de Henri, o pai e o filho, enfrentando o homem formidável de olhos pálidos e brutais lábios grossos. Henri usava a escrivaninha antiga de Armand: sentou-se ali, diante da vasta extensão de mogno, a mão quadrada de grandes unhas descoloridas agarrando uma caneta. E Armand sentou-se do outro lado da mesa, a mesma mesa onde outrora ele fizera todos os planos para Bouchard & Sons — quase um suplicante agora, um homem velho e impotente, completamente despojado por essa reencarnação mais jovem e mais terrível de Ernest Barbour.
E então Henri lentamente voltou os olhos para Antoine, ali sentado tão graciosamente e com um sorriso tão brilhante, ao lado do pai, e completamente à vontade, cheio de elegância e compostura, aparentemente apenas divertido, aparentemente apenas casual e amigavelmente interessado na súplica de seu pai. Calmamente encontrou os olhos de Henri, os seus próprios reluzindo e cheios de leve júbilo, um cigarro numa longa piteira de ouro pendurado nos seus finos dedos morenos.
"Então é assim!" — pensou Henri, brincando com a caneta em suas mãos, bem devagar.
Ampliou-se o sorriso de Antoine. Era um sorriso muito atraente, que as mulheres achavam irresistível.
— Nada de exaustivo, compreende, Henri? — disse ele, e tinha a voz melíflua de Jules, cheia de subtons musicais que ameaçavam romper numa risada. — Nada de muita clausura. Tenho apólices e ações em Bouchard e nas subsidiárias, e só Deus sabe o que mais. Muito confuso!
A boca de Henri se apertara até parecer um fino talho no rosto pálido.
— Conhece alguma coisa a respeito da casa Bouchard? — perguntou, a voz poderosa em granítico contraste com a de Antoine.
— Afinal de contas, você tem sido uma espécie de playboy, não é verdade? Que garantias posso ter de que isso não é apenas um novo e temporário interesse que se esgotará em poucas semanas? Isto aqui não é um circo, sabe; nem um carnaval, com um carrossel, uma banda e dançarinos. Tenho de saber um pouco mais.
Ante seu tom sardônico, desdenhoso e condescendente, Armand foi subitamente despertado de sua indolência doentia, sua inércia comatosa. Ergueu o vulto poderoso da cadeira onde outros suplicantes se haviam sentado durante sua própria gestão. Por um momento ou dois houve nele um selvagem e raivoso clamor, uma confusão, uma fúria! Aquela era a sua cadeira, na qual esse assustador intruso sentava-se agora! Era a seu filho que o intruso dirigia essas palavras condescendentes e escarnecedoras! Seu filho, que deveria sentar-se agora ali, o poder dos Bouchards! Seu filho, que fora espoliado tão espantosamente de seus direitos de nascimento!
Seu gordo rosto ficou arroxeado. Os olhinhos cor de azeviche faiscaram. Um longo tremor lhe passou pelo corpo, pelo ventre, como uma ondulação visível. Falou, com a voz sufocada:
— Henri, estou certo de que Antoine... se dá conta. Ele... ele não é um louco!
Deteve-se. O sangue lhe subiu à cabeça. Gritou:
— Este é meu filho! Meu filho!
Suas palavras expressavam todo o seu ultraje, a súbita compreensão, o completo ódio e desespero.
Henri virou a cabeça maciça e o olhou com a face formidável de Ernest Barbour. Nada disse: apenas o fitou, sem expressão. Armand sentiu o impacto desse olhar, como um soco mortal de um punho pétreo.
Então Antoine riu de leve. Dera uma olhada em seu pai, surpreso. O velhote devia, pois, ter-lhe alguma amizade, sob o medo instintivo, o ódio e a aversão. Armand captou esse olhar. Seu pai também o olhara com essa jovial surpresa em seu leito de morte, quando o filho — incoerentemente, mas com dolorosa sinceridade — protestou: não queria que Jules morresse. Armand estava completamente arrasado. Sentia uma enorme necessidade de chorar. Todos aqueles anos, anos loucos, infrutíferos, impotentes, arruinados! — pensou, confusamente. E agora estava de volta à estaca zero, face a face com Jules, com Ernest Barbour... e se sentia fatigado e doente, muito doente...
— Olhe! — disse Antoine — não sejamos sentimentais. Isso compete a Henri, meu pai. Ele tem direito a fazer perguntas. Se não me quiser, e Deus sabe que não há muito em minha vida para fazer com que alguém me queira, isso é lá com ele.
Jules e Ernest! Armand passou nos olhos a mão gorda e trêmula, esfregou o nariz freneticamente. Ele os olhou, encarando a um e a outro, e o passado era uno com o presente. Queria levantar-se, fugir para a escuridão e o olvido... Que terrível família aquela! Que assassinos, ladrões, e mentirosos, que bandidos e monstros! Agora ele via isso. E não podia suportá-lo!
— Sou um homem doente. Não sei de nada... — resmungou.
Eles o ignoraram. Estava ali sentado, prostrado em sua poltrona, as mãos agarrando-lhe os braços, os olhos enevoados fitando cegamente o vácuo. Nada soube do que se falou: apenas ouvia os ecos da voz calma de Henri, os tons claros e leves de Antoine. Mais tarde Antoine lhe disse que Henri lhe fizera uma oferta: ele entraria para Bouchard & Sons como um chefe de escritório, um secretário, a fim de familiarizar-se com os negócios da Companhia. Henri lhe prometera um secretariado assistente, se provasse ser bom no trabalho.
Três anos mais tarde Antoine era Secretário de Bouchard & Sons.
Desde o início os Bouchards ficaram assombrados e incrédulos.
"Isso não vai durar — diziam. — Logo ele sairá."
Porém durou, e Antoine ainda não saíra. Mais ainda: para espanto de todos eles, provou ser excepcionalmente brilhante, audacioso e perspicaz. Henri expressou sua aprovação ao novo Secretário. Lentamente, no decorrer dos anos, uma aparentemente grande confiança se desenvolveu entre eles. Antoine nunca ousava: cedia diante de todas as decisões de Henri. Sugeria, porém jamais insistia. Sob esse exterior gracioso e elegante havia uma mente de aço flamejante, ao oposto da clava de ferro da mente de Henri.
"O homem de Neandertal e o espadachim dançarino — dizia Christopher, observando atentamente através dos anos. — O homem em pele de urso e o de casaco bordado."
Muito discretamente, os Bouchards procuraram seduzir Antoine para uma discussão sobre o seu inexorável parente. Mas Antoine era todo lealdade, todo admiração entusiasta, todo deferência. O que ele pensava não conseguiram saber. Mas Henri sabia. Ele não era audacioso ou demasiado imaginativo por natureza. Era o homem de força, e sabia que homens de força são os mais poderosos.
Mas compreendia o que se passava sob o estreito e escuto crânio de Antoine com o cabelo liso como um selo úmido. Sabia que tinha, em seu escritório, o inimigo mais implacável que já conhecera. Por vezes se sentia alta e sombriamente divertido, divertimento tingido de um desdém brutal. Sabia quem era o mais forte. Nesse ínterim, isso o divertia.
Havia entre os dois homens uma sutil compreensão, uma admiração mútua. Não precisavam "escrever livros" para se tornar claros um para o outro. A tal ponto que Henri fez de Antoine seu confidente. Podia confiar — teria dito a si mesmo — no irmão de sua mulher. Sabia que durante sua própria vida Antoine não ousaria nada ameaçador ou surpreendente; pelo menos, acreditava saber que o jovem estava completamente consciente da desesperança de qualquer ação assim. Mas, depois de sua morte, que aconteceria? Antoine era muito mais moço que ele. Provavelmente se casaria, e haveria filhos. Quanto a ele, não tinha filhos, e de Annette jamais poderia esperar tê-los. O senso de dinastia era muito poderoso em Henri Bouchard. Desejava filhos, que manteriam seu poder quando estivesse no túmulo. Sua virilidade era como um rio enorme e tumultuoso contido por uma represa. Ele compreendeu que Antoine nunca esqueceu que devia estar ocupando o trono de Armand. Compreendeu que em Antoine ardia um incessante espírito de vingança, lascívia e determinação. Eram inimigos. Porém também eram amigos que se admiravam. Odiavam-se mutuamente. Mas se dedicavam também uma afeição profunda e traiçoeira.
Antoine era visitante frequente em Robin’s Nest. Henri apreciava muitíssimo a sua companhia. Antoine nunca deixava de distraí-lo. Ele até se descobria tornando-se sutil na presença de Antoine, e compartilhavam piadas secretas. Surpreendia-o que Antoine tivesse uma ternura especial pela irmã, Annette, um curioso senso de proteção, e que aquela fisionomia jesuítica insensivelmente se adoçasse à vista dela. Isso era tanto mais estranho porquanto Annette, embora aparentemente louca pelo irmão, demonstrava certa inquietação na presença dele, um alarme crônico.
Henri chegou a buscar uma esposa apropriada para Antoine. Uma da família, se possível. Talvez Dolores, a filhinha de Jean, jovenzinha aparentemente inofensiva de rostinho angelical e uma nuvem de cabelos claros. Exatamente o tipo capaz de atrair o moreno e divergente Antoine. Fez com que Annette convidasse Dolores com frequência.
Agradava muito a Annette que Henri invariavelmente demonstrasse satisfação quando sabia que Antoine jantaria com eles. Sua pesada equanimidade se aligeirava consideravelmente, e aquela sua qualidade granítica se tornava mais alegre.
Foi o primeiro no fresco terraço, nessa noite, a receber Armand e Antoine. Annette, Celeste, Peter, Christopher e Edith ainda não haviam descido. No entanto, logo Christopher apareceu, e os quatro homens tomaram um drinque extra enquanto esperavam. Henri, que herdara do bisavô a aversão pelo álcool, apenas provou um cálice de xerez, sem nenhuma satisfação, enquanto Christopher e Antoine bebiam uísque e soda. A olhá-los ansiosamente, Armand tomou o seu suco de frutas, sacudindo a cabeça negativamente para o uísque.
Entre Christopher e Antoine havia um ódio profundo, embora se entendessem perfeitamente. Christopher estava melancólico, como sempre, fascinado pela espantosa semelhança entre Antoine e seu próprio pai, Jules. Por vezes ficava a contemplá-lo por longos minutos, ainda ouvindo a voz que se calara desde o Dia do Armistício, vendo em cada gesto, cada movimento da pequena cabeça lustrosa, cada sorriso, cada erguer das "diabólicas" sobrancelhas, o fantasma de alguém a quem odiara e temera. Quando falavam ao mesmo tempo, era como a leve dança dos floretes.
— Como está Peter? — perguntou Antoine, com seu sorriso moreno e resplandecente. — Há semanas não o vejo. Melhoras?
— Consideráveis — disse Henri. — Está ficando impaciente.
— Ainda intransigente?
Henri deu de ombros, olhando calmamente para Christopher.
— Nosso cavalheiro branco de armadura de prata está afiando a sua lança — falou Christopher. — Há sons de trombetas no ar. O torneio está prestes a começar...
— E Celeste? — indagou Antoine. — Está amarrando o laço de fita azul em seu braço outra vez, como de costume?
— Que esperava você? — observou Christopher cuidadosamente. Ele podia ridicularizar a irmã, mas não gostava que outrem o fizesse. Amara a irmãzinha com amor profundo: fora seu tutor após a morte do pai. Por vezes lhe parecia estranho que Antoine fizesse tiradas peçonhentas contra Celeste, ele, a viva imagem do avô, Jules, pai de Celeste, e cuja única adoração fora a filha.
— Houve uma transformação em Celeste nestes últimos anos — comentou Antoine, acendendo um de seus intermináveis cigarros que tinham monograma. — Eu tinha cerca de dezesseis anos quando ela casou com Peter, mas lembro-me dela claramente. Havia nela uma espécie de "virtude", uma inocência. Se quisesse ser afetado, eu diria que uma espécie de "pureza". Mais da mente do que qualquer outra coisa. Tudo isso se foi. Ela agora é "um osso duro de roer"! É uma Bouchard, afinal. Mas não pensem que estou insultando a minha tiazinha. De certa forma, eu a estou cumprimentando. Porém algo fugiu dela, provavelmente para sempre.
— Diria que ela está mais amarga — comentou Armand, procurando no bolso do casaco pela sua lista de dieta, e contraindo as feições gordas e congestas na apreensão momentânea de havê-la esquecido. Sua expressão relaxou: a lista estava ali. — Amargurada. A palavra é esta. Ela era sempre tão doce...
Christopher girou a haste do copo de coquetel em seus dedos delicados. Nada disse. Henri era todo brandura:
— Talvez apenas tenha crescido. Era quase uma criança quando casou com Peter. Que esperavam vocês? Afinal de contas, está com mais de trinta. Já não é tão jovem...
— Que diabo de vida ela teve! — comentou Antoine, com humor impiedoso e um riso leve, como se o pensamento lhe desse um prazer perverso. — Era de esperar, por tudo que tenho ouvido... Por que alguém não a impediu de casar com ele? Que houve com você, Henri? Você estava noivo dela. Por que a deixou ir tão facilmente? Você não é desse tipo.
Henri apenas sorriu. Aceitou um dos cigarros de Antoine, embora não gostasse de tabaco. Mas descobrira que fumar, o aceitar a cortesia de alguém, por vezes estendia uma ponte para desfazer um momento embaraçoso. Permitiu que seu Secretário o acendesse para ele. Por um instante, enquanto o isqueiro lhe iluminava o rosto granítico, os olhos dos dois homens se encontraram — os de Antoine sutil e cruelmente divertidos, os de Henri tão sem expressão como uma pedra polida.
"Então, bem... — pensou Antoine. — Ele não esqueceu... A esfinge não é tão invulnerável, afinal..."
— Por que trazer à baila um assunto tão indelicado? — perguntou Christopher. Permitiu que o mordomo lhe enchesse o copo novamente. — Temos coisas mais interessantes para tratar, estou certo.
— Especialmente quando sua própria irmã é agora esposa de Henri — falou Armand, reprovadoramente. Virou sua redonda cabeça à escovinha, de cabelos quase brancos, de um para o outro: — Não é um bonito tópico de conversa.
— De todo jeito, vamos conversar a respeito de dietas —• falou Christopher, com um olhar que era veneno puro em direção de seu irmão. — Como vai o pâncreas, Armand?
Seu ridículo se perdeu no enfatuado Armand, que pareceu grato.
— Meu médico me disse que posso reduzir a insulina a uma injeção por dia. É algo novo. Concentrado, creio. Muito conveniente. Nada mais de rebuliços quanto a pedir água fervente, quando vou jantar fora. Às vezes as pessoas ficam pasmas...
Sorriu para eles, como se acabasse de realizar um ato meritório que devessem aplaudir. Henri observava as volutas da fumaça de seu cigarro; Christopher bebeu rapidamente; Antoine sorriu para todos eles.
Abriu-se a porta francesa e Celeste apareceu. Eles se levantaram para recebê-la.
— Bem, tiazinha, está tão radiosa como sempre! — disse Antoine, pegando-lhe a mão e beijando-lhe a face com afetação. Adorava mulheres bonitas, mesmo quando eram suas parentas. Estudou-a astutamente divertido. Uma mulher que valia a pena! Ela se sentou e aceitou um dos cigarros de Antoine, que o acendeu para ela. "Pétrea — ele pensou. — Mas a pedra racha sob golpes repetidos..." Fechou o isqueiro com movimentos lentos e pensativos.
— Peter descerá diretamente — ela informou. Nos olhos de um azul profundo havia uma espécie de véu quando os olhou. — Já não precisa da enfermeira do dia, é o que acha — acrescentou, embora ninguém lhe houvesse perguntado nada a respeito do marido.
— Acha que isso é tolo, e eu também acho. A Srta. Tompkins pode ir no fim da semana. Ele dorme bem à noite e raramente tosse. Amanhã quer sair para um passeio.
Recostou-se na poltrona, e suas mãos brancas apenas tremiam um pouco. Sorriu. Olhou para Christopher:
— Você foi muito mau, Christopher. Agitou-o terrivelmente esta manhã. Deveria ter sido mais bondoso, considerando o que tem acontecido.
— Por Deus! Ele será uma criança? — perguntou Christopher.
— Você sabe muito bem que ele é inclinado a discussões. Sempre foi beligerante e acusador. Depois, jamais gostou de mim. Que lhe fiz eu? Fez-me algumas perguntas, e eu as respondi. Celeste, sabe que não é sua mamãe...
— Você esquece o quão doente ele esteve — ela replicou. — Bem, esqueça. Vocês dois nunca estiveram de acordo.
Apesar de toda a sua calma aparente, havia nela uma agitação contida. Vendo-a de perto, Antoine atentou em que ela nunca olhava diretamente para Henri, que parecia aborrecido. Ele virara a cabeça: estava olhando o vasto gramado que, ao crepúsculo, se ia tomando misterioso... O céu estava heliotrópico, os topos das grandes árvores brilhavam às luzes do enfraquecido sol poente. A penetrante doçura do roseiral chegava até eles trazida pelo vento morno da tarde. Os pássaros trinavam com melancolia nos ramos altos. Em torno deles havia uma grande paz, porém Antoine, com sua aguda percepção, sabia não haver paz naquele calmo terraço.
— Ele vai escrever outra vez? — perguntou.
Mas Celeste apenas moveu de leve a cabeça.
— Outra denúncia sobre os Bouchards — resmungou Antoine. — Os Fomentadores de Guerra. Que pensa ele que estamos fazendo agora? Ficaria surpreso.
Ao ouvir isso, Henri se voltou para ele, e algo naquela fisionomia imóvel e implacável fez com que Antoine se calasse. Havia ocasiões em que esquecia o poder de Henri Bouchard, em que podia pilheriar com o cunhado e impudentemente desafiá-lo. Mas tinha a impressão enraivecedora de que essas ocasiões só apareciam com o consentimento de Henri. Um macaco ágil pode atormentar um leão, quando o último se sente indiferente ou indulgente. De outras vezes isso pode ser extremamente perigoso. Esta era uma dessas vezes. Antoine se acalmou. Mas enterrou as unhas nas palmas das mãos.
— Nada a respeito da família surpreenderia Peter — observou Celeste, amargamente. Deteve-se, abruptamente: Peter e Annette vinham entrando no terraço, Annette rindo docemente, Peter caminhando devagar e com deliberada firmeza. Por trás deles apareceu o rosto moreno de Edith e seu elegante vestido.
Cadeiras foram oferecidas às senhoras, e Antoine, com muita gesticulação, ofereceu uma a Peter, cujo rosto descarnado corou ante essa ostentosa cortesia. Graciosamente Antoine lhe perguntou por sua saúde. A silenciosa Edith aceitou um coquetel. Annette começou sua parolagem infantil, em sua doce voz.
— Não é ótimo, Henri? Celeste e Peter decidiram ficar conosco mais um pouco, até construírem sua própria casa. Levei um tempão para convencê-los — acrescentou, com um olhar cheio de amor para a jovem tia. — Ela acreditava estar nos importunando. Ora veja que absurdo! — E olhou para eles, radiante.
"Então — pensou Antoine — Celeste queria fugir! Muito interessante ..." Ao nítido dossiê de sua mente anexou outro fato.
Anunciaram o jantar, e todos se levantaram. Antoine sentiu que havia reunido informações muito divertidas e úteis nos últimos cinco minutos, informações que ele acreditava poderem um dia destruir Henri Bouchard.
Capítulo 13
Armand colocou sua lista perto do prato e ansiosamente a consultava sempre que o mordomo lhe apresentava um prato. Ajustava os óculos, espiava a lista, após um olhar reprovador para as velas que iluminavam mal, então ou aceitava ou recusava o que lhe era oferecido. As janelas permaneciam abertas: uma brisa fresca e perfumada invadia a sala encantadora. Em algum lugar um tordo cantava à aproximação da noite. Acima dos muros do jardim subia a lua crescente, deslizando como uma foice de prata contra o azul profundo do céu noturno.
Annette era toda felicidade. Para ela, era lindo ter os parentes em sua casa. Demorava o olhar em cada um deles, ternamente, de seu lugar ao fundo da mesa. Nunca sentira tamanha paz, tanto contentamento. Aquele momento encostada à porta do seu quarto estava esquecida. Em algum lugar lá fora, no espaço, o inferno esperava, mas aqui tudo eram luzes, flores, o brilho das pratas, o cintilar da água nos copos de cristal, os rostos daqueles a quem amava. Às vezes se inclinava para estudar com o pai a sua lista: ele se sentava à sua direita. Enquanto os seus cabelos macios e brilhantes captavam as luzes dos candelabros, e sua gentil boquinha rosada se franzia em profunda concentração, Armand esquecia a dieta para esquadrinhar o doce e suave perfil com uma dor estranha e desesperada no coração aterrorizado.
— Papai — falou ela, reprovadoramente — diz aqui: você pode comer salada de frutas. Você a recusou. E eram frutas deliciosas.
— Mas não gosto de melão...
— E peixe. Também pode comê-lo. Mas você não quis.
— Não quando há carne. Proteínas demais.
Peter estava absorto em alguma das suas sombrias meditações. Sentava-se junto de Edith, que o observava com muita tristeza. "Quanto ele tem sofrido toda a vida!" — ela pensou. Porém ele era um dos que nascem na dor, vivem em tristeza, e morrem em angústia. Seria melhor para eles morrer depressa; e ainda melhor se não tivesse nascido. "Morra logo, pobre Peter!" — pensou. — "Isso seria a coisa mais misericordiosa para você..."
Viu-lhe as mãos cansadas, apaticamente segurando os talheres. O rosto fino tinha um colorido febril. Ele lutava para reprimir a vontade de tossir. Celeste o observava, como sempre, e enquanto o fazia aumentava a expressão fatigada de seus olhos, e os cantos de sua boca baixavam, abatidos. Ela foi quem lhe encheu o prato silenciosamente, embora ele abanasse a cabeça automaticamente. E então, ante seu olhar ansioso, ele lhe sorriu breve e ternamente, e obedeceu a seus pedidos silenciosos.
Antoine e Christopher é que viram como Henri vigiava aqueles dois, sem parecer fazê-lo, e como a brutal opressividade aumentava em seu rosto. Christopher observou isso com íntima satisfação, e Antoine sorriu internamente.
Celeste receara certo constrangimento após o acontecido pela manhã, mas Christopher era a própria amabilidade, especialmente para com Peter, que respondia com relutante laconismo. Edith estava distraída: observava o marido, com uma curiosa prega entre os olhos castanhos, e depois seu olhar tocou no irmão, rapidamente. Annette conversava docemente; Armand estudava sua lista, e advertiu a filha a respeito da provável quantidade de albumina em seu farfait (sobremesa preparada com ovos e creme batido. (N. da T.)).
— Mas estou certa de que não há ovos nisso, querido!
Ele provou cautelosamente a deliciosa mistura, balançou a cabeça, depositou a colher com resoluta decisão:
— Certamente que há ovos — falou. Annette perdeu o apetite.
Nesse ínterim, Christopher se empenhara numa conversa a respeito de gasolina com Henri:
— Estamos experimentando com o motor de um novo avião lá em Duval-Bonnet, o que promete ser excitante, animador. Porém isso exige uma gasolina de alto teor, além de tudo que já se criou ou desenvolveu. Naturalmente, temos estado empregando o princípio da catálise. Contudo, um de nossos químicos pensa ter descoberto um fluido catalítico de fracionamento que, como você deve saber, é realmente um pó muito fino, e pode ser canalizado e bombeado e tratado exatamente como um líquido. Você pode não achar isso muito dramático, ou importante, mas garanto-lhe que é uma das descobertas mais espetaculares deste século.
— Já o usou na gasolina que você emprega em seus aviões? — perguntou Henri, com interesse aparentemente fora de proporção com o assunto.
Porém Peter subitamente levantou a cabeça, alerta, e ouviu com intensa avidez.
— Sim. — Christopher se calou, e olhou para Henri de modo significativo. — Construímos quarenta desses fragmentadores, tamanho normal. Foi um experimento dispendioso. Deu resultado.
— E o projeto do motor? — perguntou Henri casualmente.
— Para usar a nova gasolina?
— Temos uma oferta. Uma oferta excepcionalmente esplêndida. Provavelmente a aceitaremos. A oferta inclui o novo processo.
Peter depositou o garfo. Olhou para Henri e Christopher.
— Essa famosa oferta terá vindo da Alemanha? — perguntou.
Voltaram-se para ele, Christopher com astuta surpresa, Henri com o costumeiro olhar imóvel.
— Por Deus! Mas que imaginação você tem! — exclamou Christopher com um riso leve. — Não, a oferta não veio da Alemanha. Poderia, você sabe, ter vindo de nosso próprio abençoado Governo. É tudo que posso dizer-lhe.
Henri sorriu um pouco. Pegou a cigarreira, bateu um cigarro em sua tampa, acendeu-o. Através da fumaça seus olhos fulguravam como frias ágatas.
"Você mente!" — pensou Peter, com desespero.
Depois de um longo sorriso para Peter, Christopher tornou a voltar-se para Henri.
— Como sabe, estivemos fazendo experiências com butadieno... acrescentando estirênio e várias outras coisas. Temos esperanças nisso. Eventualmente nos libertará da borracha das Índias Orientais. Há muito trabalho a ser feito. Você deveria ver nossa nova fábrica e os laboratórios. Há uma história química em formação, ali.
— Por que — perguntou Peter — lhe é necessário experimentar com esse... esse butadieno? Não estão esperando agressão do Japão nas Índias, estão?
Christopher tornou a rir. Porém os olhos de Peter coruscavam, um músculo tremeu em sua face.
— Cristo! — falou Christopher maciamente. — Você é um monomaníaco, Peter! Não esperamos nada, nem mesmo uma guerra na Europa. Não estamos interessados. — Repetiu, ainda mais maciamente: — Não estamos interessados. No presente momento, nosso único interesse é tornar a América autossuficiente.
Por um momento Peter nada disse, depois falou com muita calma.
— Ouvi dizer que a Alemanha já aperfeiçoou um processo de borracha sintética. Não seria o seu processo, seria, Christopher?
Christopher estava completamente espantado, e irresistivelmente divertido.
— Como posso saber? Afinal de contas, os "crânios" não estão confinados na América. É possível que os químicos alemães também andem fazendo experiências.
A expressão de Peter era severa, fria como gelo:
— Ouvi dizer que é chamado "processo americano". Dois de seus homens estiveram na Alemanha há oito meses atrás, Chris, e passaram seis semanas com os químicos germânicos.
Por um instante a brilhante máscara metálica sobre as delicadas feições de Christopher se obscureceu. Ele encontrou os olhos de Peter, porém Peter estava inabalável. Devolveu o olhar de Christopher, com amargura e desdém, e grande desolação.
— Está mal informado, Peter — falou Christopher por fim, gentilmente. — Sempre o tem sido. Ninguém de Duval-Bonnet esteve na Alemanha. Quem lhe disse isso?
— Seus nomes — continuou Peter, como se não o tivesse ouvido — eram Carl Brouser e Frederick Schultzmann. Esses nomes lhe são familiares?
Christopher sorriu. Mas seus dedos agarraram o garfo como se fosse uma arma. Henri baixou a mão que segurava o cigarro, e lentamente olhou de Peter para Christopher. A fumaça se lhe espiralava por entre os dedos fortes. Por alguma razão, Antoine achou Henri mais interessante nesses tensos momentos do que Christopher. Edith, erguendo, alerta, a cabeça escura, fitou o marido, de lábios franzidos; e Celeste apenas pôde sentar-se ali em silêncio, os olhos violeta brilhando. Esquecido, Armand estudava sua lista com auxílio da filha ansiosa: suas cabeças estavam juntas.
— Brouser e Schultzmann nunca estiveram afastados de Duval-Bonnet senão por poucos dias, no decorrer dos últimos quatro anos — falou Christopher. — Alguém andou lhe impingindo contos de fadas... — Então Henri falou, e olhava só para Christopher:
— É mesmo? — perguntou, com profunda calma.
Era medo o que se revelava nos olhos claros de Christopher, pensou Antoine, e ódio defensivo? Por um momento, ficou sem fala.
— É mesmo? — repetiu Henri, em voz mais alta, mas ainda calmamente. No entanto, em seu tom havia algo de terrível e violento.
— Bom Deus! Mas o que é isso?! Certamente, é mentira. Carl e Fred são nossos químicos de maior confiança. Têm família na Flórida, também. São cidadãos americanos. Como a maioria dos químicos talentosos, estão sempre absorvidos em seu trabalho. Por vezes passam vinte horas por dia nos laboratórios. Boas praças. Devotados. Geniais.
— Muito interessante — comentou Henri, interrompendo rudemente o ‘discurso’ de Christopher. — Entretanto, não estou absolutamente interessado nas famílias deles ou em sua poética devoção a Duval-Bonnet. Só quero saber se estiveram na Alemanha como disse Peter.
Não se moveu; a fumaça do seu cigarro se elevava, tranquila, por entre seus dedos. Contudo, dava a impressão de fria e colossal violência mesmo sentado, imóvel, em sua poltrona.
Aparentemente Christopher estava espantado, e apenas podia fitar o cunhado. Ainda olhando para ele, Henri disse a Peter:
— Peter, onde conseguiu a informação?
Peter se voltou para ele, e o estudou, perplexo. Viu aquele perfil grande e pétreo, com sua mortal falta de expressão. Seria possível que Henri estivesse representando, para livrar-se dele, Peter? Mas quando olhou para Christopher, e viu o tremor espectral de sua boca, os olhos indecisos e coruscantes, já não estava tão certo. Disse, vagarosamente:
— Tenho meios para descobrir. Não lhe direi, Henri. Isso poria em perigo os homens que me contaram. Os Socialdemocratas Germânicos que formam o Underground na Alemanha. Dois deles são empregados numa empresa química no Ruhr. É tudo que posso dizer. Provavelmente já ouviu falar da Gestapo, não?
— Digo-lhe — afirmou Christopher, emocionado — que isso é mentira! Brouser e Schultzmann nunca estiveram afastados de seus postos por mais de um dia ou dois. — Deteve-se. Suas delicadas narinas fremiam. — Sou positivo a respeito da lealdade deles. Entretanto, é possível que haja espiões, mesmo em Duval-Bonnet, mas custo a acreditar nisso.
— Brouser e Schultzmann estiveram na Alemanha. Mostraram-me fotografias — falou Peter.
— Tem essas fotografias? — perguntou Henri, ainda observando Christopher.
— Não. Claro que não. Mas posso identificar os homens, se os vir.
Uma escura veia roxa inchou nas têmporas lívidas de Christopher, palpitando visivelmente. Edith ficara extremamente pálida. Fitava o marido, olhos dilatados.
— É fácil tirar fotografias de qualquer pessoa — disse Christopher. — Falsificar fotografias, também. É muito possível que seu ridículo espião obtivesse tais fotografias diretamente da Flórida, e as passasse dramaticamente para você como sendo tomadas na Alemanha.
— Göring aparece ao fundo: sua mão está no ombro de Schultzmann — informou Peter, calmamente.
Christopher explodiu numa risada:
— Cristo! Pensa, caso isso fosse verdade, que ousariam bater tais fotografias, ousariam distribuí-las, ousariam torná-las acessíveis a qualquer um?
— Era uma fotografia secreta, tomada por um dos alemães do Underground. Conseguiu fazer uma câmara tão pequena que cabe em um anel. Devo acrescentar não haver necessidade de procurar essa câmara: está destruída agora, ou muito bem escondida. A fotografia me foi mostrada, e mais uma ou duas outras, para determinado propósito: o espião desejava que esta informação fosse exposta perante as autoridades americanas.
Christopher, embora ainda sorrindo, bateu o punho fechado, de leve, na mesa. Mas seus olhos eram malignos, enquanto olhava Peter:
— Era uma fraude, uma fotografia falsificada. Insisto nisso. Qualquer amador poderia fazê-la.
— O espião — afirmou Peter — falou livremente com Schultzmann e Brouser. Mas não mande seus amigos procurá-lo: não o encontrariam.
Em torno da mesa houve um silêncio sinistro. Sentindo algo de prodigioso na atmosfera, Armand esqueceu sua lista. Lentamente olhou-os a todos, apreensivamente silencioso. Não ouvira a conversa: apenas sabia que estava acontecendo alguma coisa de terrível. Umedeceu os grossos lábios ressecados.
Então Henri se moveu um pouco, e sorriu. Era como um basilisco sorrindo...
— Tudo não passa de um absurdo, claro! — disse, serenamente. — Desculpe-me, Peter, mas o drama não foi convincente. Se Brouser e Schultzmann estivessem lá realmente, Chris deveria saber.
Christopher puxou uma respiração inaudível de pulmões que tinham estado completamente comprimidos:
— Mas claro que eu teria sabido! Entretanto, questionarei os rapazes rigorosamente, quando voltar.
Peter pensou:
"Será possível que Henri não soubesse, que esteja zangado, que faça alguma coisa para descobrir? E se. não sabia, por que se importa? É associado da I.G. Farbenindustrie: para ele, seria a coisa mais natural do mundo arranjar para dar aos alemães o processo de fracionamento e o projeto para os novos aviões... por uma bela quantia. Seria natural que Christopher tivesse sua aprovação. Em tais circunstâncias, por que isso o enraiveceu e o fez olhar para Christopher desse modo homicida? Sempre fizeram coisas assim durante um século, os Bouchards."
Ele estava totalmente perplexo. Não era natural que Henri não soubesse, que sua aprovação não fosse obtida de início nessa espantosa transação. Desde o princípio fora convicção de Peter que o poder da família Bouchard arranjaria a questão. Quem ousaria fazer fosse o que fosse na família sem o consentimento de Henri?
Contudo Henri estava olhando Christopher, com aquela fria e aterradora firmeza, mesmo enquanto dizia:
— Concordo em que é um absurdo. — Espichou-se na poltrona, como para levantar-se.
Christopher estava calado. Mas sob as pálpebras abaixadas os olhos pareciam os de uma serpente.
"Por que o implacável, o monstruoso Henri se importaria, desde que estivessem garantidos grandes lucros? — pensou Peter.
— A menos que tenha outros planos?..."
Então Henri se voltou para Edith e falou, tranquilamente:
— Como está Galloway se comportando com esse seu braço? Afinal é mesmo artrite?
Edith se sobressaltou. Fitou o irmão, estupidificada. Seus lábios finos estavam lívidos. Passou-se um bom momento antes que pudesse responder:
— Não. Não é artrite, graças a Deus! Uma entorse. No tênis, há alguns meses.
De repente seus olhos escuros ficaram nublados de lágrimas. Levantou-se, relanceou um olhar para Celeste e Annette, que também se levantaram:
— Meninas, vamos empoar o nariz —•disse.
Peter também se ergueu. Tremia tanto que se sentia extremamente doente:
— Têm de desculpar-me — murmurou. E saiu da sala.
Depois que as mulheres se foram, Henri ficou silencioso enquanto era servido o porto e acesos os cigarros.
Depois olhou para Christopher e disse:
— Você é um mentiroso acabado. Eu sempre soube disso. Ainda não sei se está mentindo. Você pode decepcionar até a mim.
— Sua mão se fechou sobre um pequeno saleiro. Os olhos descoloridos estudavam Christopher à luz dos candelabros, e havia algo de amedrontador em sua expressão parada. — Espero que não esteja mentindo. Seria muito mal para você se estivesse. Sabe disso.
Christopher corou, e sua fisionomia se tornou diabólica de raiva e impotência. E de medo, pensou Antoine. Contudo, mais que qualquer outra coisa, sua humilhação pelo modo de falar de Henri e suas maneiras o envenenavam.
— Duval-Bonnet é minha — disse, num tom neutro. — Quero que se lembre disso, Henri. Eu a fiz; eu a construí; eu a possuo.
— Interessante! — sublinhou Henri, com um sorriso. — Esqueceu que possuo trinta e cinco por cento do estoque? — Chupou o cigarro um momento, tirou-o da boca, olhou-o com profundo desgosto. — Fora disso, posso arruiná-lo, você sabe. Posso fazer bom trabalho em arruinar alguém. Qualquer pessoa. Em poucos meses seria muito perigoso que o Governo soubesse a respeito dos aviões e do processo de fracionamento. Ouvi dizer que Leavenworth é um lugar muito desagradável... Mais tarde, se estivermos em guerra, não posso imaginar se esquadrões de fuzilamento não serão usados.
A impotente humilhação de Christopher fez com que inchassem todas as veias em suas têmporas:
— Por Deus! Será você idiota o bastante para dar ouvidos aos disparates daquele imbecil? Aceita a palavra dele contra a minha? — Afastou da mesa a sua cadeira. Agora estava fora de si. — Você sabe o que ele é. Mesmo assim, tem a audácia de ouvi-lo, a estupidez! Conhece as tolices que ele escreve. E sabe o que ele anda procurando. Sabe tirar proveito de tudo, mentiras e meias verdades e outras idiotices. Ele não dirá nada, não fará nada. Olhe, mande um investigador a Duval-Bonnet. Que ele faça todas as verificações a respeito de Brouser e Schultzmann. — Deteve-se, quase chocado em sua cólera reprimida: — Tenho recursos pessoais. Se esse idiota publicar alguma calúnia, eu o processarei. Arrancarei dele até o último níquel.
Henri estava silencioso. Por trás da ampla fronte ele pensava rapidamente. De repente começou a sorrir. Mas Antoine lhe viu os olhos, e fez uma careta para si mesmo...
— Por que toda essa agitação? — perguntou Henri. Empurrou a cadeira de junto da mesa. — Esqueçamos tudo isso, está bem?
Ergueu-se. Christopher e Antoine também. Haviam esquecido Armand, que estivera a observá-los, fascinado e horrorizado. Seu rosto papudo era cor de toucinho. Não se levantou: não podia. Apenas podia estar sentado em sua cadeira, as mãos apertando a bendita lista.
— Esquecer? — perguntou Christopher, glacialmente. — Fácil dizer. Acha que posso esquecer tão facilmente as suas ameaças? Suas desprezíveis ameaças?
Henri estava imperturbável:
— Não ameacei levianamente. Não sou um tirano, espero. Apenas quero as coisas se processando de modo correto. Apenas desejo saber o que está acontecendo. E existem certas coisas que não me agradam. Espero que essas "mentiras" não sejam uma delas.
Pôs a mão no ombro de Christopher:
— Sempre que tiver um plano em mente, faça-me saber, está bem? Assim ficaremos todos satisfeitos. Mas os planos, tenho certeza, não incluirão deixar que os nazistas tenham os projetos dos aviões, os processos de fracionamento, e a borracha sintética. É tudo. Vamos ao encontro das senhoras, para ver se têm algo de mais interessante para conversar?
Afastou-se deles. Christopher e Antoine se olharam. Nem sequer relancearam um olhar ao paralisado Armand, sentado ali como uma massa informe. Antoine ergueu as sobrancelhas jocosamente para Christopher que, derrotado e furioso, lhe devolveu o olhar.
Christopher não falou. Porém lenta, lentamente começou a sorrir. Tocou no braço de Antoine, e os dois seguiram Henri até o terraço. Antoine principiou a sussurrar musicalmente, boca fechada.
Christopher pensou:
"Tenho de escapar imediatamente. Preciso ver se consigo pegá-los numa ligação interurbana..."
Capítulo 14
Celeste gastou uma exaustiva meia hora com Peter, antes de conseguir convencê-lo a ir para a cama. Ele estava muito excitado, confuso e veemente.
— Digo-lhe que existe algo por aqui que não compreendo! — gritou ele. — Foi esta manhã... e agora à noite. Há alguns anos atrás, eles eram perfeitamente óbvios. Mas, e agora? Dizem não querer guerra. Acredito. As coisas vêm seguindo um padrão. Hugo trabalhou para invocar a Lei da Neutralidade contra a Espanha, quando foi Secretário Assistente de Estado. Pode-se pensar que ele se oporia a que... Sei que, por natureza, os Bouchards seriam fascistas. Porém nunca desdenharam lucros, e oportunidades para estimular guerras. Têm sido muito ardentes a respeito de nacionalismo, com um propósito. Mas aqui há coisa... — Calou-se, e uma total expressão de horror se fixou em seus olhos, ao olhar para a esposa. — Estou pensando na França... — sussurrou, em voz chocada.
Celeste lhe deu uma dose forte de sedativo:
— Nesse andar, em breve não estará mais pensando em nada, magoando-se com especulações desse tipo — falou a moça. — Espere até se haver recuperado de todo, querido.
— O que anda Henri perseguindo? — ele continuou, infatigável, sem sequer a ouvir. — Posso perceber que eles têm medo dele. Ele os governa como um ditador. Que será que estão tentando esconder dele?
— Estou certa de que você está imaginando coisas — comentou Celeste, maciamente, abanando-se com o lenço.
A noite estava opressiva, quase insuportável. Ela ergueu um pouco os braços, como para ajudar-se a respirar. De repente, sentiu-se sufocada por sua tristeza, sua prisão, sua desesperança. Peter ameaçava ter uma noite má. Ela não podia ir a parte alguma, não podia escapar ao menos por algumas horas, quando uma fuga se tornara a mais exigente necessidade de sua vida. Se Peter ao menos dormisse uma ou duas horas lhe seria possível vaguear pelos gramados, sentar-se quietamente sob alguma grande árvore, ficar só. Relanceou o olhar para o relógio: quase dez. Havia estado quase uma hora tentando acalmar Peter — que insistia em falar, em confusão e desespero. Annette já devia ter-se recolhido. Armand se fora às nove e meia, Christopher e Edith aceitaram um convite para a noite, e Antoine se lhes juntara. Sem dúvida Henri teria saído também. O casarão estava cheio de calor e sussurrante calma. Deveria estar lindo no jardim, com a curva prateada da lua acima das árvores.
Porém Peter, com suas terríveis preocupações, não lhe via o rosto cansado e o brilho fixo de seus olhos. Discutiu com ela quando insistiu em ajudá-lo a ir para a cama. Por uma ou duas vezes até lhe empurrou as mãos pacientes. Ela, porém, apertou os lábios firmemente e recusou ser posta de lado, recusou ouvir. Quando ele já estava na cama, ela não lhe trouxe o bloco de escrever e a caneta. Ao tocar nele, sentira seu calor febril. Por fim, foi obrigada a chamar a enfermeira Tompkins, que chegou com um sorriso profissional e, após rápida olhadela em Celeste, seu rosto fundo e cansado, pô-la para fora do quarto.
— Eu lerei para o Sr. Bouchard — prometeu. — dormir logo. Inválidos em recuperação são, muitas vezes, irascíveis. — Afofou os travesseiros de Peter: ele a olhou furiosa e desesperançadamente.
— Que deverei ler para o senhor?
— Nada. Apenas vá embora — ele respondeu, com fatigada rudeza. — Tenho coisas a dizer à Sra. Bouchard.
A enfermeira sacudiu o dedo para ele, brejeiramente:
— Ora, estamos sendo muito mauzinhos... — Ele a olhou com desgosto. — A Sra. Bouchard está muito cansada. Está uma noite desagradável, muito quente. Não devemos sobrecarregar a mocinha, devemos?
Pela primeira vez Peter olhou para Celeste e a viu.
Ela hesitou, e tornou a aproximar-se da cama:
— Talvez fosse melhor que eu lesse -para o Sr. Bouchard. Não tenho nada mais para fazer, e ele prefere que seja eu quem leia para ele.
Peter estava silencioso. Via o quão esgotada ela estava. Via que se tornara muito magra, e que sua palidez luminosa se reduzira a branca exaustão. Havia escuros entalhes em seus olhos. Ele se encheu de medo por causa dela, e de remorso. Obrigou-se a sorrir.
— Não, minha querida. Vá, e descanse. Estarei perfeitamente bem.
Estendeu para ela a mão quente e trêmula, e ela a pegou. Ele a beijou demoradamente. E pensou:
"Eu a estou matando! Sou teimoso e egoísta. Espero demais dela. Fiz dela minha criada, minha audiência, minha escrava, minha confidente. É demasiado! Porém, quem mais eu tenho?"
Ele estava esmagado por sua solidão, por sua desolação. Agora se sentia muito doente outra vez: recostou-se nos travesseiros e fechou os olhos.
Celeste deslizou pelo silêncio da casa, até o terraço. Estranho como seu coração palpitava com uma dor tão sufocante e tamanho desalento... Ficou de pé no terraço por um momento, contemplando os escuros e murmurantes gramados. Soprava um vento através dos topos das árvores indistintas, porém nenhuma brisa na terra, que deslizava com uma luz pálida e espectral que não podia provir da fina orla da lua. Tinha o céu um curioso palor, contra o qual os pontudos cimos de choupos distantes oscilavam em negros contornos. As estrelas estavam turvas, embora não houvesse nuvens a tocar a curva brilhante da lua... e o aroma da grama, das rosas e das folhas — como marés, avançando e recuando em direção de Celeste e para longe dela — pressagiava tempestade. Por vezes, contra o escuro e fantasmagórico céu, as plumas dos salgueiros se sacudiam e se acalmavam como as saias gigantes de uma bailarina, e às vezes o silencioso lampejo de um relâmpago iluminava algum inquieto pano de fundo de folhagens.
Celeste sabia que no roseiral havia bancos de ferro pintados de branco, onde se podia sentar sob as árvores. Começou a caminhar pelo gramado. Subitamente os grilos principiaram um coro vociferante, e do lago dos lírios — mais longe, à sua esquerda — veio a resposta abaritonada dos sapos-bois. Pirilampos se arremessavam a seus pés, e havia o roçar espectral de asas minúsculas junto dela. O vento vinha chegando mais perto da terra: ela lhe sentiu o hálito quente em suas faces úmidas. Erguia mechas de cabelo de sua nuca, enrolava-lhe nas pernas as saias finas. Mas não esfriava ou refrescava.
As rosas estavam em plena e luxuriante floração, e ela viu a mancha confusa de sua brancura ao crepúsculo, e lhes aspirou a poderosa fragrância. Descobriu um assento debaixo de uma árvore e se recostou, dominada pela fraqueza. Porém era belo não ouvir vozes, e saber que ali não havia ninguém a não ser ela mesma. A noite, o silêncio, o coro dos grilos, o profundo murmúrio misterioso das árvores, o súbito lampejo do relâmpago silencioso, o isolamento e a paz, o ar dá noite solene e mística, lhe proporcionavam calma e proteção.
Ela ousava pensar tão raramente... Mantinha seus pensamentos severamente controlados, rechaçando-os como se rechaçam cães raivosos a chicote. Quase sempre receava ficar só, por causa desses pensamentos. Mesmo quando pensava, apenas permitia a seus pensamentos que se tornassem meras sombras de emoção, recusava-se a enfrentá-los.
Ao sentar-se ali, no escuro, disse a si mesma:
"Estou velha. E, de certa forma, não me importo. Não me interessa se vivo ou morro. Não existe nada para mim, absolutamente nada no mundo. Devo compreender, por fim, que Peter não viverá por muito tempo. Tenho de enfrentar isso. Como o aceitarei? O que será de mim depois? Terei uma vida vazia e inútil. Estou esgotada. Não existe mais nada em mim. Nada para consolar e preencher as horas e dias e noites sem fim... Nada que importe, nada.
Agora via tudo claramente. Perdera a capacidade de sentir agudamente. Uma inércia entorpecedora a penetrava. Ergueu as mãos e as contemplou à luz crepuscular. Estavam vazias e inúteis. Não tinha desejos de enchê-las. De repente o vazio dessas mãos lhe parecia parte de sua própria alma. Essa total falta de desejar era semelhante à morte. Não podia sentir no coração ou na mente nada que pudesse inspirar vida ou alegria, prazer ou utilidade. Ela era formada de uma névoa sem consistência. E nessa névoa havia um núcleo de dor e de tristeza. Ela se afastou de si mesma como nos afastamos de uma pesada exaustão, doente e cheia de aversão.
Todos esses anos havia ajudado e mimado Peter, e vagueado pelo mundo com ele. Até recentemente fora una com ele em seu terror, indignação e desespero. Fora seu eco. Agora não era sequer um eco. Simplesmente não se importava mais. Desejava deitar-se, apertar-se de encontro à terra, morrer, esquecer! Pois sabia que ainda não ousava pensar, que, se realmente se permitisse pensar, seria destruída — e outros com ela. O núcleo de dor e tristeza nela começou a arder, a tornar-se incandescente como uma ameaça de fogo resplandecente e destruidor.
Sentiu lágrimas involuntárias nas faces, mas não as enxugou. Anos atrás, sentara-se assim, solitária na noite, e tudo fora para ela o distante trovão da promessa, a promessa de sua vida. Era então jovem, ardente, apaixonada... E inocente e estúpida. Estupidamente ávida de viver. Podia relembrar como se sentira, como a memória de um sonho. Esse vento, a obscura riqueza da noite, embora sinistra, essa onda de perfume de rosas e a fragrância da grama, eram antes recordações do que acontecimentos presentes.
"Vejo, mas não sinto, como é belo!" citou para si mesma. Sentou-se, não no presente, mas em uma recordação do passado. Nela mesma havia apenas um caos sem som, o nada informe.
Como poderia alguém suportar os infindáveis anos futuros de uma vida, sentindo apenas a lembrança da emoção, sentindo somente o perfume das lembranças de uma esperança morta, nada experimentando a não ser recordações de acontecimentos passados? Fosse o que fosse que acontecesse no mundo de amanhã não tinha significação para ela, nem dor, ou sequer terror. Ela seria um fantasma neste mundo, apenas desejando a morte, impassível ante qualquer catástrofe. Já estava morta.
A dor tornou-se imensa!
"Mas não sou velha!" — ela gritou para si mesma, silenciosamente, nos últimos frenéticos movimentos de desespero ante a ameaça de dissolução. Devia haver uma promessa de alegria no futuro ou, pelo menos, a promessa de uma vida ativa, de apaixonada insegurança. Contudo, mesmo quando pensava isso, não se importava.
O vento nas árvores aumentou como uma multidão de vozes roucas e sinistras. Ela ouvia. Ouvira vozes assim com Peter, outrora, também num jardim escuro e uma noite escura, e elas a haviam excitado. Havia-se agarrado a ele e virado o rosto, corajosamente, para as vozes, desafiando-as. Agora, elas apenas vagamente a aterrorizavam. O relampejar ficara mais forte, e misturado ao vento havia o eco surdo do trovão que se aproximava. Porém o brilho da lua não diminuira. Agora o aroma da grama e das flores estava asfixiante, enquanto as folhas e as pétalas eram agitadas com crescente agitação.
Ela olhou para a casa. Escondia-se entre as árvores, menos uma janela distante, que brilhava com uma luz amarelada. Seria a janela de Peter? Levantou-se a meio do banco, levada pelo velho hábito de correr para ele quando não podia dormir. Mas enquanto se levantava, apagou-se a luz. A enorme mansão, agora, não era sequer uma sombra na noite.
Ela permaneceu ali, sob as árvores, as mãos caídas aos lados do corpo, fisionomia imóvel. Não se moveu. Não tinha desejo de dar nem um passo.
Houve um ruído perto dela. Virou a cabeça nessa direção. Talvez um esquilo insone, ou uma serpente, ou um sapo saltador. O ruído chegou mais perto e ela teve a sensação súbita e inexplicável de que alguém se aproximava dela, embora nada visse. Algum instinto fora das primordiais fontes de instinto fez com que ficasse perfeitamente imóvel, aguçando os ouvidos, os olhos tentando varar a escuridão. O ruído cessou. Porém a sensação de haver alguém perto dela era mais aguda que nunca.
Sabia, também, que aquele que ali estivesse sentira a presença dela e estava precavidamente silencioso, "sentindo-a" na atmosfera. Seu coração disparou, como com medo. Mas isso era absurdo! Algum criado, talvez, incapaz de dormir na noite quente. Ou talvez um assaltante. Mas Robin’s Nest era rodeada de altos muros, e patrulhada por dois vigilantes com cães.
Ela estremeceu violentamente quando uma voz abafada disse:
— Há alguém aí?
Era a voz de Henri, calma e baixa como sempre, embora vivamente interessada.
Celeste não se moveu. Mas de repente uma labareda a envolveu, de modo que se sentiu incandescente, ardendo na escuridão, tão visível como uma coluna de chamas. Seu coração começou a pulsar tumultuosamente. Súbito, a inanimada confusão da noite, todos os sons sem sentido, toda a pesada inércia e espantosa deformidade, tomam um significado selvagem e universal, tornam-se tão próximos e estrondosos como ressacas tempestuosas. Ela se tornara o núcleo da voragem, e todos os seus sentidos eram presas de tumulto. Experimentava uma consciência de si mesma como jamais lhe acontecera, bem como consciência de tudo a respeito dela própria.
Não poderia haver falado mesmo que o quisesse. Só podia permanecer ali, vergastada por ventos poderosos. Um lampejo de luz iluminou o céu e revelou a sua presença ali, no côncavo da árvore, imóvel, tão imóvel como o tronco da árvore atrás dela.
— Celeste! — exclamou Henri, com genuína surpresa. Agora estava escuro novamente. De súbito o vento cessou, embora ainda houvesse turbulência nos ramos mais altos das árvores. Como um sopro quente percorreu o gramado. O trovão murmurou bem longe, no espaço. Celeste mais sentiu do que viu Henri se aproximando. Agora, via-lhe a silhueta escura na obscuridade.
Forçou-se a falar, e era fraca sua voz:
— Está quente! Saí para refrescar-me.
Ela se moveu, então, sem se dar conta de que dera um passo em direção a ele. Foi um passo involuntário, e suas mãos se ergueram como conchas numa onda, depois caíram. Todo o seu corpo era também como uma concha, frágil como um sopro. Parecia-lhe estar sonhando. Se Henri percebeu isso ou não, não deu a menor indicação. Apenas ficou ali a olhá-la, contemplando o branco oval de seu rosto.
— Sim — falou, calmamente. — Está quente. Também saí para ver se posso respirar um pouco de ar fresco.
Chegou mais perto dela:
— Não vai entrar agora? Vamos sentar-nos um pouco. Acho que vem aí uma tempestade. É possível que refresque. A casa está como uma fornalha.
Ela se viu sentada no banco novamente, com ele ao lado. A doçura de um sonho, misturada com um terror inominável, aumentava dentro dela. Estava ficando languidamente entorpecida, e sem resistência. Viu um pequeno raio de luz na escuridão. Henri abria a cigarreira e a estendia para ela. Com dedos quase insensíveis ela tirou um cigarro. Quando ele o acendeu para ela, a chama a cegou de modo que fechou os olhos momentaneamente. Ele lhe viu a brancura das pálpebras, a palidez, o vago colorido dos lábios. Acendeu o seu cigarro, recostou-se no banco, e fitou a escuridão.
— Já quis instalar ar condicionado aqui, mas parecia tolice já que sempre vamos para fora veranear — comentou ele, no tom de voz mais casual e indiferente. — Mas acho que farei isso.
Ela ouvia a voz, porém não as palavras. Agora, tudo nela era forte quentura e pungência, um langor e uma estranha palpitação que pareciam provir do próprio ar. Ela tremia. Ela nada se perguntava, não pensava em nada, estava apenas sentindo. Respirou profundamente.
— Sim — murmurou. As pontas acesas de seus cigarros pareciam vaga-lumes na quente escuridão. Seus lábios formaram palavras, e ela as ouviu vagamente, como se ditas por uma estranha: — Annette já foi dormir?
— Sim, há muito tempo. E Peter?
— Estava inquieto, e o deixei com a enfermeira Tompkins. Vi que sua luz já se apagou.
Ele lhe ouviu a voz, e percebeu seu tom sonhador. Não respondeu. Ficaram ali em silêncio. A respiração de Celeste se tornava cada vez mais difícil. Transpirava muito. Estava cheia de emoção, o sangue lhe cantava nas veias e havia um prolongado rugido em seus ouvidos. Porém não desejava mover-se. Apenas queria sentir-se assim, para sempre, nunca mais se mover, apenas sentir...
— Acho que ele está muito melhor — comentou Henri por fim, quietamente. — O descanso lhe tem feito bem.
Aumentou a confusão de Celeste. Obrigou-se a compreender as palavras de Henri. De quem falavam? Peter! Ela ali se sentava, rigidamente, sentindo-se mal, com uma espécie de choque. Agora estava totalmente cônscia de si mesma, de Henri, e cheia de um terror mortal. Fez um movimento, como para levantar-se, e ele lhe pegou o braço — embora parecesse não ter feito qualquer movimento. Ela sentiu o forte aperto de seus dedos, que desceram lentamente e lhe pegaram a mão. Sua própria mão tremia e queimava!
— Não! — ele disse. — Fique comigo por alguns minutos. De que tem medo?
Ela estava sem fala, coração intumescido:
"Se fico — ela pensou — cairei. Certamente fraquejarei!"
— Não tenho tido um minuto a sós com você — falou ele, ainda lhe agarrando a mão firmemente. — Afinal de contas, somos parentes, sabe disso. Você é minha hóspede, porém mal a vejo, indo ou vindo. Como um fantasma.
Ela não pôde falar. Podia sentir o doce e pesado langor a percorrê-la e tentou resistir:
— Há tantas pessoas a visitar... Estive longe por muito tempo.
— Tempo demais — disse ele, gentilmente.
Soltou-lhe a mão. Imediatamente uma tremenda desolação caiu sobre ela, uma sensação de perda, aguda e dolorosa. Ele se estava inclinando para diante, mas distante dela, cotovelos nos joelhos, a mão calma levando o cigarro aos lábios.
— Lembra-se do dia, há muito tempo, quando você veio aqui pela primeira vez, e todos passeamos no roseiral? — ele perguntou. — Isso foi quando Edith e eu viemos para casa. O velho Thomas estava conosco, então: morreu na Flórida, quando estava com Edith e Christopher. Era uma tarde quente quando a vi pela primeira vez. Você chegou com sua mãe e Christopher, e não passava de uma garotinha. Foi em julho de 1925?
— Creio que sim — ela murmurou. Sua mão ainda sentia o aperto que já não estava nela. Seu coração estava devorado por uma fome estranha.
Ele riu maciamente:
— Uma menininha! Com um chapéu enorme e de vestido branco. Você até usava fitas azuis! Que romântico era o Chris, naquele tempo... Eu nem podia acreditar que você existia, quando a vi. Ele devia guardá-la sob uma redoma. Você era, também, inacreditavelmente linda! — Deteve-se. — Você mudou, Celeste. Não é só por estar mais velha. É algo mais.
"Devo ir-me daqui! Imediatamente!" — ela pensou. Mas não se mexeu. Sentia a força e o poder dele, embora estivesse tão quieto, e isso a mantinha imóvel. As emanações de seu corpo e sua personalidade eram como pesadas cadeias nos braços e pernas dela, que não podia lutar contra elas.
Então ela sentiu, mais do que viu, que ele se estava voltando para ela:
— O que foi, Celeste? Que lhe aconteceu?
Ela juntou e apertou os dedos e falou quase incoerentemente:
— Fiquei mais velha, foi isso. Já não sou uma criança. Não sou, mesmo, muito jovem. Deve-se permanecer a mesma?
Ele ficou silencioso por alguns minutos. Ela lhe sentia os olhos nas sombras de seu rosto.
— É alguma outra coisa — ele repetia, por fim, e ela estremeceu ao som daquela voz na escuridão. — Você possuía uma qualidade de frescor e simplicidade, de fé e de força. Isso se foi. Lamento muito.
Ela não respondeu. Havia em torno deles um silêncio pesado, a não ser pelo vento. Até os grilos se haviam calado. Um longo ribombar à distância. Um cheiro sulfuroso passou pela grama invisível.
— Devia ter casado comigo — disse ele, e seu tom era casual, bem leve.
Agora ela pôde mover-se. Gritou:
— Não deve dizer isto! Não deve repetir isto, nunca...
E nada mais pôde dizer. Mas sua garganta se apertou, lágrimas lhe saltaram, correndo-lhe pelas faces. O coração estava estrangulado em seu peito.
— Por que não? — perguntou ele, sensatamente. — Afinal de contas, agora já não importa. — Deteve-se. Tornou a pegar-lhe a mão, apertando-a. — Agora não importa mais, importa?
Ela tentou puxar a mão, depois rendeu-se:
— Não... — sussurrou.
— Conseguimos o que queríamos — falou Henri, em tom divertido. — Você, Peter. Eu, Annette. Somos muito felizes agora. E satisfeitos. Deveríamos parabenizar um ao outro.
— Não! — ela tornou a gritar, como se numa dor insuportável.
— Por que não? É verdade, não é?
Arrancou a mão da mão dele. Por um momento cobriu o rosto com as mãos, apertando-as contra os olhos. Estava doente de pura angústia.
— Lembra-se do dia em que me mandou embora? — perguntou o homem, gentilmente. — Cheguei, e você me entregou meu anel. — Ficou silencioso por um momento. — Então, fui embora. Mas você ficou me espiando, pela janela. Vi seu pobre rostinho lá, enquanto me encaminhava para o portão. Por que ficou me olhando, Celeste?
Ela retorceu as mãos, torceu o lenço:
— Como vou saber? Foi há tanto tempo... Talvez eu estivesse triste... triste por tê-lo magoado.
Porém ele replicou impiedosamente:
— Eu sei por quê. Era porque você realmente me amava, Celeste. Soube disso, por fim, não é? Não era o Peter que você queria, na verdade. Talvez se tivesse convencido de que o queria; era o que ele dizia, tão novo e único, que fascinava sua pobre ingenuidade. Ele era um herói. Combatia os dragões Bouchards. Você não gostava da sua família. Todos a aterrorizavam, a faziam sentir tola, pequena e inferior. Peter os combateu: era um herói! E tão romântico! Eu não era romântico, receio bem.
A voz dela tremia, mas agora estava dura como ferro:
— Não deve falar assim. É estúpido. Muito estúpido. Você é injusto. Sempre foi injusto, Henri. De qualquer modo, que importa isso agora? Foi tudo há muito tempo. Eu era apenas uma criança. Nada mais importa agora. Palmilhamos um longo caminho. Já não somos jovens.
Contudo, ele disse, como se ela não tivesse falado:
— Você era boa e doce e tinha um peculiar tipo de "virtude". Então Peter a atraiu. De certo modo, talvez você tenha realmente se importado com ele. Porém era a mim que amava. Sempre amou. — Após um momento, acrescentou: — Sempre amou. Mesmo agora. Por isso é que tem medo de mim, Celeste?
O terror a dominou. Pôs-se de pé. Ele também, porém muito mais vagarosamente. Ela o encarou e gritou:
— Não tenho medo de você, Henri Bouchard! Sabe o que penso de você? Penso que é um covarde. Um trapaceiro! Se não fosse, não me falaria assim! Não tem vergonha? Não pensa em...
—- Annette? Em Peter? — Ela estava trêmula e aterrorizada ante a súbita mudança na voz dele, que se tornara rouca e brutal: — Posso dizer-lhe algo a seu próprio respeito, Celeste? É uma idiota. Está agora com mais de trinta, mas ainda é uma mocinha romântica, cheia de sonhos idiotas. Quando ouve a verdade, se intimida e encolhe-se, delicadamente. Não gosta da verdade, gosta? Deixe-me dizer-lhe algo mais: eu a desprezo.
A voz dele e suas palavras a chocaram tão profundamente que ela não podia mover-se, nem falar: podia apenas fitar o contorno do rosto dele acima do dela, na escuridão que se tornava mais espessa.
— Sim — disse ele — eu a desprezo. Você não é o que eu pensava. Nunca pensei que fosse uma mentirosa, especialmente que mentisse a si mesma. Pensa ser nobre e honrada quando mente assim, não é? Toda lealdade, e orgulho, dedicação e dever. Você pensa: "Que seria do mundo se renunciássemos ao dever, ou fôssemos desleais, ou encarássemos a verdade?" Pois deixe-me dizer-lhe que princípios como os seus tornaram o mundo doente. Isso foi que fez do mundo o que ele é. A loucura sentimentalista de pessoas como você fez mais para emperrar o progresso que qualquer outra coisa que possa nomear. Digo-lhe que tem de encarar a verdade e viver de acordo com isso. Se o mundo tem de sobreviver, terá de encarar a verdade.
O choque ainda lhe fazia vibrar a came. Gritou desdenhosamente:
— E você, Henri Bouchard, pensa que encarou a verdade?! Não sabe que eu sei o que você é? Realmente pensou que eu era tão cega, e idiota, e estúpida, que não soubesse? Disse que me despreza. Bem, deixe-me dizer-lhe que sei que você é um mentiroso, um charlatão, um malfeitor, um embusteiro em escala colossal. Você é um canalha, Henri. Um animal. Quando o mundo se livrar de pessoas como você, será um lugar melhor, um lugar mais limpo e mais seguro... — Deteve-se, sufocada pela raiva e impotência.
Porém mesmo nessa impotência e nessa raiva tornou-se cônscia de que ele a ouvia atentamente e chegara mais perto dela:
— Sim? Quem lhe disse todas essas coisas? Peter?
— Você pensa que estivemos cegos todos esses anos na Europa? — ela gritou, amargamente. — Não sabe que Peter tem estudado, entrevistado pessoas, lido, pesquisado?
E então ouviu-o a rir incontrolavelmente. Ela parou de súbito.
— Oh, Deus! — ele exclamou. — Se isso não é a mais maldita podridão! E você o tem arrastado pelo mundo, ouvindo isso, fielmente gravando as idiotices dele! Eu tinha ideia de algo assim. Mas não imaginava toda a extensão da coisa...
Agarrou-lhe a mão e puxou-a de encontro a ele violentamente:
— Você é uma tola, Celeste.
Ela ainda tentou lutar, porém ele segurou-lhe o rosto e beijou-lhe brutalmente os lábios. Tomou-a nos braços e a beijou repetidamente até deixá-la atordoada e cega, sem nenhuma resistência.
Com as mãos ela lhe empurrava o peito:
— Solte-me! — gritou, por entre os dentes cerrados. Seus joelhos, porém, estavam fracos demais. Se ele a tivesse soltado ela cairia. Seus lábios ardiam como fogo.
— Não! — disse ele suavemente, beijando-a mais uma vez.
— Não a soltarei nunca mais! Você nunca desejou que eu fosse embora. É uma impudente, não é, querida? Eu a tenho observado nestas últimas semanas: sabia que bastaria ir ao seu encontro... e você cederia. Você também sabia disto. Eu a toquei e logo cedeu. Bastante simples, não é?
Ela lhe agarrara os braços, para empurrá-lo, mas suas mãos perderam a força. Explodiu em lágrimas, quando ele a segurou. Ele inclinou a cabeça e juntou sua face à dela, embora ela tentasse afastar o rosto.
— Deixe disso, querida! — falou ele, com grande ternura.
— Desculpe-me ter-lhe dito essas coisas. Mas precisavam ser ditas. Eu soube de tudo a esse respeito. Não sabe o quanto a amo, Celeste? Não sabe que nada importa a não ser você? Há coisas que eu gostaria de fazer, mas iriam magoá-la. Assim, teremos de esperar. Não, não esperar pelo amor. E não esperar demais, por outras coisas. Já esperamos muito tempo. Tenho muita paciência, caríssima. Mas não demais.
Alisou-lhe os cabelos, murmurando ao seu ouvido. Apertou o rosto contra o dela. Ela era toda angústia, toda desdita, vergonha e resistência. Mas subitamente foi dominada por uma alegria delirante. Sem ser por sua vontade, agarrou-se a ele, devorada pela ânsia e pelo primeiro desejo que jamais sentira. Seus lábios floriram e amaciaram sob os dele, e os olhos se arregalaram fitando as estrelas, que se encolheram e faiscaram em pontos de luz. Vento, árvores, o trovão e o distante rumor da tempestade em formação cantavam, exultantes, com paixão atávica e êxtase! Ela sentiu o giro da terra sob seus pés, e sua selvagem rotação lhe invadiu o corpo quando ele a ergueu nos braços e a carregou para a escuridão que estava quente, clamorosa e impenetrável... e cheia de vozes harmoniosas ...
Christopher e Edith estavam sentados no calor sufocante do enorme salão, todas as lâmpadas acesas. Ouviram a tempestade em formação que, embora a chuva ainda não houvesse chegado, sacudia as janelas com um som subterrâneo.
Silenciosa e triste, Edith enxugava os olhos. Christopher se mantinha imóvel. De tempos a tempos, olhava o relógio.
— Não compreendo! — comentou, em sua voz neutra. — Disseram que ela não saiu. Pelo menos, não mandou vir o carro. O mordomo a viu no terraço, há mais de uma hora, sem chapéu. Teve a impressão que ela ia dar um passeio. E ninguém sabe onde está Henri. Também ele não saiu agora à noite.
Edith suspirou. Depois disse, cansadamente:
— Está uma noite quente. Talvez estejam aí fora, nos gramados, juntos, tentando tomar um pouco de ar fresco.
— Sem dúvida — respondeu Christopher.
De repente, ele se pôs de pé e se dirigiu a uma das janelas, que refletia cada uma das luzes. Um relâmpago lhe iluminou o rosto, que parecia uma máscara de gesso, descarnado e mau, encovado e abatido sob as faces ossudas. Estava de costas para Edith: ela apenas via o contorno de seus ombros, porém sentia nele algo de violento e reprimido.
— Acha que deveríamos sair e procurá-los? — perguntou Edith, agitada. — Afinal de contas...
Christopher ficou calado por um momento. Depois falou, sem se voltar:
— Não. Estarão aqui logo. Onde poderiam ter ido?
— Receio... por Celeste — comentou Edith, levando novamente o lenço aos olhos. — Seria terrível para ela, Christopher. Ela e Adelaide são tão unidas... Ela nunca se perdoará.
Christopher se virou e então ela lhe viu o rosto: num medo súbito, levantou-se a meio da cadeira. "Seria possível — pensou — que ele tivesse uma secreta afeição por sua mãe, que isso fosse assustador para ele? Aquela palidez de gesso, o brilho apagado dos olhos, eram alarmantes para ela. Ou (e esta seria a explicação mais lógica), se preocupava por Celeste, temeroso de sua grande tristeza..."
Contudo, havia algo no olhar dele que era incongruente com a sua suspeita de sentimentos mais brandos — algo que aumentava seu temor instintivo e sua confusão.
— Christopher, o que é? — gritou involuntariamente.
Ele não a ouviu. Estava à escuta. Ela virou a cabeça e também se pôs a escutar. Ouviu abrir-se a porta do terraço, mas não ouviu vozes. Agora, havia apenas silêncio. Edith permaneceu no centro da sala, perto do marido, e o coração começou a palpitar-lhe exageradamente. Christopher lhe agarrou o pulso, e tão inesperado e desagradável foi esse aperto que ela quase gritou. Ele não a olhava: fitava a grande arcada vazia da sala. Depois empurrou-a para trás, de modo que ela quase caiu na poltrona, e ele se encaminhou para a arcada tão silenciosamente como uma pena flutuando. Ela o via ir, como na névoa de um pesadelo.
Viu-o parar rigidamente no limiar, ao chegar ali. Porém ela não via o que ele viu: Henri e Celeste apertados um contra o outro no silencioso abandono da paixão, à sombra da escada. Edith queria ir até o marido, enquanto ali estava vendo o que ela não podia ver, mas algo no rígido contorno dos ombros dele, a esculpida imobilidade da cabeça descarnada, a segurou em sua cadeira.
Christopher pensou, com brilhante claridade: "Cadela!"
Não poderia obrigar-se a mover-se ou a falar. Apenas podia observar e sentir dentro de si uma seca desintegração, um vento pulverulento de ódio, acompanhado de traiçoeiras punhaladas de amargura e de dor. Misturada a isso, uma horrível espécie de humilhação e aviltamento pessoal.
Em toda a sua vida ele amara apenas uma criatura com ternura e completa pureza, com absoluta doçura e gentileza. E fora a irmã, Celeste, que desde o nascimento fora de seu exclusivo encargo. Mesmo quando ela casara contra a sua vontade, e fora para longe por tantos anos, nunca a esquecera por um momento sequer, e desejara a sua volta com uma espécie de desespero frio. Sempre a considerara diferente e acima das outras mulheres, algo de puro e intocável, vestida de castidade, integridade e nobreza que nada poderia destruir. Esse foi seu sentimentalismo, sua ingenuidade e, agora, sua vergonha, sua degradação.
Há muito tempo sabia que Henri Bouchard nunca desistiria de Celeste, não importando o quanto tivesse de esperar. Porém Christopher, com uma curiosa simplicidade, acreditara que Celeste é que resolveria o período de espera e lhe imporia os limites. Esses limites seriam a morte do marido e o divórcio de Annette e Henri.
Durante esses últimos meses ele, Christopher, vivera numa espécie de vácuo abafado de indecisão, dúvida, e obscura ansiedade. Tudo dependia do que transpirasse entre Henri e Celeste, do que fosse decidido por sua irmã. Agora, enquanto ficava ali, devorado pelo ódio mais terrível, a raiva e a humilhação própria, tomou sua decisão. Sua degradação não diminuiu, apenas aumentou pela confirmação de que fora um ingênuo e um tolo sentimental, um sentimental vitoriano. Só lhe restava a vingança. Pensou:
"Ela não é melhor que qualquer outra. É suja e corrupta, torpe e nojenta. Rendeu-se facilmente, sem sequer lutar."
Em outro homem, esses pensamentos o divertiriam, e lhe forneceriam comentários jocosos sobre a simplicidade e o absurdo da natureza humana. Não achou nada de engraçado em si mesmo.
Pensou:
"Agora, sei o que fazer! Devo ir a ele e matá-lo! Gostaria de mostrar-lhe o que sei!"
Mas não ousou fazê-lo. Não ousou deixar que Henri Bouchard sequer soubesse o que ele havia visto.
Então, não fora suficiente para Henri Bouchard tê-lo humilhado, a ele, Christopher, catorze anos antes, tê-lo despojado e degradado diante de toda a família, tê-lo traído publicamente e o destruído, e tê-lo enviado para um virtual exílio. (E depois, triunfante, Henri se apoderara do poder dos Bouchards, que Christopher cobiçara tão maligna e incessantemente: como Napoleão, pusera a coroa na cabeça com as próprias mãos...). Não, isso não fora o bastante para ele. Não fora o bastante até apossar-se de Celeste e a desgraçar, sob este teto que abrigava o irmão e o marido dela! E o irmão ali estava, sofrendo a humilhação final, a mortal impotência.
Bem fundo no redemoinho, Christopher estava cônscio do quente núcleo de dor, que não podia analisar, apenas sentir.
A concentração de seus olhos, a violência das emoções que estavam quase a destruí-lo, devem ter chegado à consciência de Henri Bouchard, pois ele ergueu a cabeça e a virou na direção de Christopher.
Por alguns instantes os dois homens se fitaram num silêncio intenso. Então Henri, gentilmente, afastou Celeste.
— Sim? — falou ele, quietamente, com aquela forma direta, brutal que sempre intimidava os outros. Celeste, agora, permanecia ao lado dele, nos olhos uma expressão remota e agreste. Os cabelos estavam desgrenhados, uma massa de cachos negros a rodear-lhe as faces e o pescoço.
"Cristo!" — pensou Christopher, olhando-a. Sentiu um impulso de correr para ela e esbofeteá-la até que ela caísse.
Edith apareceu na arcada. Adiantou-se um ou dois passos, primeiro relanceando os olhos para o irmão e depois para Celeste. Então seu rosto comprido ficou vermelho.
Mas disse à perturbada Celeste:
— Celeste, temos más notícias. Voltamos... há poucos momentos. E havia um recado. Sua mãe sofreu um derrame cerebral, em casa de Emile. Você deve ir para lá, imediatamente. — Deteve-se, e as lágrimas começaram a correr, com raiva obscura. — Esperamos por você. Celeste você deve ir imediatamente!
Capítulo 15
Henri relanceou os olhos para o relógio: três horas. Recomeçou o inquieto caminhar acima e abaixo na sala clara e vazia, estranhamente brilhante e silenciosa nessa manhã. Os grilos já não trilavam no gramado quente; a lua crescente deslizara para trás das grandes árvores. Fora breve a tempestade: passara com a mesma rápida violência com que viera, deixando apenas o fresco e apaixonado aroma da terra e da folhagem embebidas de água.
À uma hora, Christopher telefonara brevemente, da casa de Emile, para avisar que Adelaide Bouchard, sua mãe, acabara de falecer, após um ou dois momentos, apenas, de consciência. Henri pretendia informar Annette, neta de Adelaide, imediatamente? Não, replicara Henri. Não havia necessidade de incomodá-la. Isso iria apenas chocá-la e perturbá-la. Melhor deixar que ela soubesse pela manhã, depois de uma boa noite de descanso. Nesse ínterim ele, Henri, esperaria a volta de Christopher, Edith e Celeste. Não estava cansado em absoluto — replicou impacientemente, ante a sugestão de Christopher de que fosse para a cama. Ele próprio teria ido para a casa de Emile, não fosse o receio de que Annette acordasse e notasse a sua falta, ficando alarmada. A todo momento ia até a porta do quarto verificar se ela ainda dormia. Ouvindo isso, Christopher sorriu enigmaticamente para si mesmo e desligou, depois que Henri tardiamente lhe apresentou seus pêsames pela morte da avó de sua mulher, e que era sua tia.
Henri, que raramente fumava, só o fazendo em companhia de outros — e que era conhecido por seus hábitos de precisão e de higiene — enchera vários cinzeiros com pontas de cigarros nas últimas horas. Ele as olharia com nojo ao encontrá-las, como se feitas por um estranho não dotado de boas maneiras, mas acenderia outro cigarro, que fumaria inquietamente. Sentava-se, às vezes, passando os dedos pelos cabelos que ainda não estavam grisalhos, mas de aparência descorada, e ficava olhando fixo diante de si. Pensava em Celeste, mas também pensava em muitas outras coisas.
Há muito descobrira que os pensamentos podem ser anormalmente agudos nas primeiras horas antes da aurora. As sobrancelhas retas se juntaram em grande concentração.
Não era seu costume ficar remoendo ideias, saborear em retrospecto frutos já comidos, nem vinho já bebido o embriagava. "Deixe-o pegar o que for capaz; deixe-o segurar o que puder" — sempre fora a sua filosofia de vida, e continuava sendo. Amanhã devia visitar Jay Regan, o envelhecido, mas ainda poderoso financista. Agora isso era impossível. Mesmo ele não poderia omitir as amenidades necessárias após um passamento. Estava aborrecido. Adelaide não poderia haver morrido em ocasião mais inoportuna. Não era hábito do Sr. Regan enviar convocações secretas a qualquer de seus amigos, a menos que pressagiasse algo de grave, algo iminente e da mais profunda importância. Por uma vez, Henri estava perplexo. Especulou sobre a comunicação de Regan, e amaldiçoou a pouca sorte da morte de Adelaide. Uma pobre velha apagada, insignificante, que devia ter morrido anos atrás! Ela havia distorcido, praticamente arruinado várias vidas com sua maldita nobreza. Quanto mal o bem pode fazer!
Henri refletiu que há em todos os homens uma sede de poder, porém nos "bons" a ânsia é maior que nos "iníquos". Mais ainda: o iníquo pode por vezes deter-se a instâncias da razão, mas os bons são sem razão. Portanto, são os mais destrutivos, os mais perigosos. Ao homem mais iníquo falta uma completa convicção; os bons são impudentes devido a isso. O que acontecera naquela noite foi o resultado, a longo prazo, da "bondade" e nobreza de caráter de Adelaide. Tornou a franzir os sobrolhos. Esperava que Celeste não reagisse de maneira ridícula à morte da mãe. Se o fizesse, tornaria a coisa um pouco mais difícil para ele. Mas era só. Ele gostava que os acontecimentos se dessem de modo ordenado e progressivo, e consequentemente fossem arquivados para futura referência. Tê-los regurgitando desordenadamente dos arquivos e todos espalhados era desagradável e irritante para ele. Durante os catorze anos do casamento de Celeste, nos quais a vira muito de longe em longe, não fizera qualquer tentativa para chegar a ela. Aguardara a hora apropriada, quando o ato pudesse realizar-se, e ficasse como alicerce para acontecimentos futuros. Nesses anos tivera de consolidar sua posição. Nem mesmo por Celeste teria arriscado essa posição. Agora, quando tudo estava a salvo e seguro, movimentara-se para apoderar-se dela. Seria muito aborrecido se ela outra vez se tornasse temporariamente inacessível. Isso tomaria tempo, e tempo, agora, era muito importante para ele, e não devia ser desperdiçado com uma mulher tola que teria de ser novamente seduzida. Por um momento pensou em deixar de persegui-la. Por que não a deixar ir em sua loucura e simplicidade? Ele tinha coisas mais importantes para absorver sua atenção.
Sempre lhe fora absolutamente inacreditável que homens poderosos fossem frequentemente destruídos por sua ânsia por uma simples mulher, ou, por vezes, apenas mulheres. Isso o espantava. Não podia pensar em qualquer ocasião em que sua paixão por Celeste fosse irresistível a ponto de fazê-lo desviar-se de questões mais importantes e cometer disparates por causa dela e perder a cabeça.
"Como um cão libidinoso" — pensou, enojado. As mulheres eram as recompensas do poder, as recompensas finais. Apenas isso. Mas na América adolescente (que, em meio à sua própria adolescência já estava podre) a recompensa era considerada a única coisa de valor. Essa era a influência das mulheres, que acreditavam que os traseiros que se empoleiravam nos joelhos daquele que se sentava no trono eram mais importantes do que o trono. Por Deus! O mundo estava cheio de traseiros vorazes, e realmente havia homens que se apoderavam de um deles e se deixavam arrumar durante sua preocupação! Seu nojo aumentou.
Se seu interesse por Celeste a qualquer momento ameaçasse pô-lo em perigo, então a deixaria ir-se. Sempre soubera disso. Embora, a tal pensamento, fosse dominado por um desânimo assustador. Tornou a levantar-se e recomeçou o inquieto caminhar abaixo e acima. Não havia razão para deixar Celeste. Apenas era irritante que pudesse ter de começar tudo de novo exatamente quando era mais importante que sua mente se ocupasse em coisas mais relevantes. Devia levar as coisas de sua vida particular a um clímax muito em breve. Tinha confiança em si mesmo, em que poderia manobrar sua vida privada sem pôr em perigo o que era principal em sua vida: o poder.
Estava tão preocupado que ficou completamente espantado ao ver que Edith, Christopher e Celeste haviam voltado. Foi ao encontro deles. Celeste não chorara — ele notou, após o olhar penetrante que lhe lançou. Seu rosto parecia de mármore branco, e os olhos estavam arregalados e brilhantes. Estava muito quieta. Olhou para ele cegamente, como o faria uma estátua, e parecia não saber o que fazer. Edith tinha um braço em volta dos ombros da jovem mulher. Ela, mais do que Celeste, dava sinais de tristeza, pois tinha as pálpebras inchadas. Christopher, muito pálido, era impenetrável como sempre.
— Bem? — falou. Olhava Henri, sem a menor expressão.
— Sinto muito — disse Henri, olhando apenas para Celeste. — Porém ela já estava muito velha. Temos de lembrar-nos disso.
Por que Celeste olhou para ele daquele jeito? Ele franziu a testa.
— Acho — disse Christopher à esposa — que será melhor que você leve Celeste para a cama.
— Venha, querida — falou Edith para Celeste. — Você está tão cansada...
Então Celeste abriu muito a boca, e ainda olhando para Henri falou como uma sonâmbula, numa voz alta e sem vibrações:
— Não posso esquecer o que ela disse. Disse que devo ir-me, imediatamente. Foi exatamente antes de morrer. Falou: "Afaste-se daquele homem mau, vá para onde ele não possa alcançá-la, e matá-la. Em nome de Deus, vá embora e nunca mais torne a vê-lo!"
Depois de dizer isso, ela ficou ali, rígida como uma estátua, fitando-o com o cego azul brilhante de seus olhos.
Um rubor passou pelo rosto carrancudo de Henri. Christopher sorriu disfarçadamente, e tocou os lábios com os dedos ossudos e delicados. Edith se sentia muitíssimo embaraçada.
Henri olhou lentamente de um para outro, percebeu o sorriso de Christopher e a fria raiva de Edith quando ela encontrou os olhos dele. Ele apertou os punhos. Abaixou a cabeça como um touro e as narinas se lhe dilataram. Isto era ridículo, humilhante. Virou-se para a irmã, dizendo secamente:
— Leve-a para a cama.
— Sim. Não se deve recordar o que diz um moribundo — comentou Christopher, acenando de cabeça para Edith. — Ela não sabe o que está dizendo.
— Devo ir embora... — falou Celeste arrancando-se do aperto de Edith e afastando-se deles, um súbito desespero estampado no rosto. — Devo ir-me imediatamente! Vocês podem ver isso, não podem? — Agora sua voz já se transformara em grito, e ela torcia as mãos ruidosamente.
— Está histérica — disse Christopher, friamente. Segurou o braço da irmã e falou alta e claramente: — Vá para a cama, Celeste. Quer que eu chame o médico para que a faça dormir como qualquer outra mulher idiota? Comporte-se. Você já não é uma criança.
Ela o encarou, branca e trêmula, e tentou retirar o braço do seu forte aperto. Porém ele a agarrava firme.
— Você não compreende... — falou Celeste num tom de mágoa tão agoniado que os olhos desumanos de Christopher estranhamente se adoçaram. Ela ergueu a mão para o irmão num gesto patético: — Nunca o esqueci. Não podia esquecer. Fiquei fora, fugi, durante anos e anos. Era terrível! Não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser ficar longe. E então voltei... e então houve ontem à noite... — Ela se deteve e gritou, numa voz cheia de dor: — Você não sabe a respeito de ontem à noite! Foi quando eu soube que fora inútil toda aquela fuga, que eu não poderia ficar afastada dele! Que devo fazer? Christopher, diga-me o que fazer!
Apesar de sua tristeza, Edith estava nauseada:
— Que cena! A família sempre foi conhecida por suas suculentas cenas de família, porém esta é a mais revoltante! Celeste, não se envergonha? Não sabe o que está dizendo? Por favor, Chris, ajude-me a pô-la na cama imediatamente, antes que os criados ouçam e venham bisbilhotar!
Voltou-se para o irmão e disse:
— Bem, diga alguma coisa! Não fique aí como a imagem de um touro prestes a atacar! Que fez a ela? Oh! Deus, mas é uma desgraça!
— Concordo com você — disse Henri, calmamente. Ainda estava vermelho. Foi até Celeste e falou, em voz dura e penetrante: — Não aconteceu nada. Você está histérica, minha cara. Vá para a cama. Teve uma noite difícil e não é responsável pelo que diz, mas, pelo amor de Deus, tente controlar-se!
Ao som de sua voz ela tremeu violentamente. Ficou rígida, mas tremendo, ainda segura pelo irmão. Relanceou os olhos para Henri, numa espécie de horror de pesadelo. Depois, de repente começou a chorar, as lágrimas correndo como um rio.
— Henri — disse, alquebrada, e deu um passo em sua direção. Christopher a soltou. Ela ergueu as mãos para Henri e ele as pegou bem gentilmente, tentando controlá-la com o poder de seus olhos.
— Sim, querida — falou, suavemente — eu sei. Vá para a cama. Descanse. Falaremos a este respeito em outra hora.
Mas Celeste murmurou, lábios trêmulos:
— Ela disse que devo afastar-me de você, Henri. Você sabe que não posso fazer isso. Nunca mais. Henri, por que não morro? Por que voltei? Mas você queria que eu voltasse, não queria?
Henri estava silencioso. Edith recuou alguns passos com uma expressão de desdenhosa aversão e um embaraço ainda maior. Porém Christopher observava atentamente. Via que Henri e sua irmã, o haviam esquecido bem como a Edith. Então Henri concordou:
— Sim, Celeste, eu queria que você voltasse.
Puxou-a para si, e ela descansou a cabeça em seu ombro. Ele lhe acariciou a cabeça gentil e ternamente. A violência do choro dela começou a diminuir quando se agarrou a ele, com mãos desesperadas. Quando ele a beijou, ela se achegou a ele mais e mais, os cachos negros a cobrir-lhe os dedos fortes.
Edith olhou para o marido, que parecia muito calmo, e falou:
— Bem, eis uma coisa bem vergonhosa, devo dizer. Uma linda cena. Chega-se a esquecer, claro, que Annette e Peter estão lá em cima dormindo como cordeirinhos. Isto não é nada bonito, sabe. Elegante, fino e romântico! Acho que é apenas sujo, sórdido e repugnante. Lavo as minhas mãos quanto a toda essa coisa!
Ergueu a cabeça escura, endireitou os ombros, e caminhou para fora do quarto. Christopher sorriu, e depois ficou em silêncio, observando a irmã e Henri. Agora a moça estava mais calma, soluçando baixinho, enquanto Henri lhe murmurava ao ouvido palavras inaudíveis para Christopher, embora este se esforçasse para captá-las.
Outrora ele usara a irmã para enlear e prender Henri para seus próprios desígnios. Agora — refletia exultante — podia usá-la para destruir Henri. O basilisco de pedra tinha sua mancha de carne vulnerável, através da qual poderia ser ferido no coração. Christopher esperara por muito, mas não tanto assim. Sua exultação cresceu até o delírio. Sobre suas feições secas e descoradas passou um relâmpago de luz assassina.
Henri estava aos poucos se liberando do abraço de Celeste. Dizia-lhe gentil e lentamente:
— E agora, deve ir para a cama e descansar. Sabe disso, não é?
Ele olhou em torno, buscando a irmã. Ela se havia metido no vestíbulo, ao lado da sala, e esperava ao pé da escada, pálida e carrancuda. Ele levou Celeste como uma criança até Edith, que esperava e observava, boca cerrada, olhos cheios de desdém.
— Ela irá agora. Ponha-a na cama — ele disse e, ante seu olhar implacável e sem expressão, ela sentiu o velho medo dele, e tornou a pôr o braço nos ombros de Celeste. Henri observou as duas mulheres a subir lentamente a escada; depois voltou para a grande sala iluminada onde Christopher ainda esperava.
Christopher abriu a cigarreira e ofereceu, casualmente:
— Cigarro?
Henri o fitou como se em dúvida sobre o que era isso, depois aceitou. Christopher o acendeu para ele, acendeu um para si mesmo. Falou:
— O enterro é quinta-feira. Uma pena que minha mãe não tivesse morrido antes de chegarmos lá. Viveu o tempo exato para ver Celeste. Deve ter esperado por ela. A pobre menina passou o diabo!
Henri sentou-se e olhou diretamente para Christopher com aqueles olhos descorados, que haviam recuperado seu antigo fulgor:
— Quem mais ouviu? — perguntou abruptamente.
— Só Celeste, Edith e eu. Só éramos admitidos em grupos de dois ou três para ver a velha senhora. Isso foi bom. Não que alguém mais houvesse entendido. Provavelmente pensariam tratar-se de Peter. — Riu silenciosamente.
Henri olhou o cigarro, atirou-o fora:
— Sente-se — comandou.
Sob os altos malares de Christopher houve um leve colorido. Em todos esses anos nunca se acostumara — como acontecera com os demais parentes — às ordens ditatoriais de Henri. Seu ódio venenoso lhe trouxe à boca um gosto metálico. No entanto, sentou-se. Podia esperar, aturar, um pouco mais
Fora, os pássaros haviam dado início ao seu coro matutino. O vento começava a soprar. A leste, o céu ia vagarosamente ficando acinzentado. Henri acomodou-se em sua poltrona, as mãos descansando nos braços dela, e olhou o cunhado em longo e meditativo silêncio.
Havia em seus olhos um desprezo divertido, compreensão? Nunca se podia dizer, com esse formidável bastardo. Intimamente contorcido em sua impotência, Christopher dificilmente podia conter-se. Havia em seu desamparo uma voluptuosa qualidade, de modo que de súbito se sentiu fraco e desgraçado. Porém seu ódio era mais maligno que nunca.
Esperou. Seguramente, o suíno deve dizer algo, fazer algo!
Mas Henri apenas disse, com um sorriso peculiar:
— Posso oferecer-lhe minhas condolências pela morte de sua mãe?
Christopher estava silencioso. Henri é que esperava. Estudava a máscara da face de Christopher, agora enigmática e fechada. Tornou a sorrir. Levantou-se com a habitual facilidade e calmamente saiu da sala.
Capítulo 16
Jay Regan sentou-se na vasta e sagrada obscuridade de seu escritório, como uma catedral, e observou Henri Bouchard caminhar firmemente pelo soalho escuro e polido em sua direção. A grande secretária de mogno era como um espelho escuro diante do velho gordo, tão poderoso e tão sombrio, e lhe punha reflexos bruxuleantes no grande rosto cansado de bigode aparado, quase branco. Atrás dessa secretária, nessa obscuridade, ele era quase invisível, porém mesmo Henri ficou impressionado. Esse poderoso bucaneiro das finanças parecia, em sua idade, não bravo, não aventureiro, mas um poder que, ao erguer a mão, poderia fazer impérios em pedaços, ao mero som de cuja voz profunda e calma os cabeças de parlamentos mundiais se voltariam para ele, como hipnotizados. Aí estava o verdadeiro imperador do mundo, o real ditador. Hitlers e Mussolinis, com todas as suas trombetas e estilo bombástico, devem, no fim, ouvi-lo e agachar-se diante dele.
Porém ele estava velho, agora, aproximando-se da morte. Durante todos os anos em que Henri o conhecera, nunca sentira nele uma ânsia de poder, ou exultação por possuí-lo. Era uma força simples e natural, sem prazer aparente pelo conhecimento de que o terror e a ruína podiam ser invocados por ele. Nem jamais fora uma força espetacular, uma força teatral e dramática, amando publicidade e um cortejo de servidores. Sempre que se movimentava, era em abissal silêncio e obscuridade, e só a longa reverberação de um terremoto, afastando-se do silencioso centro dele, dava provas de que o Titã se havia mexido ou falado. Haveria lampejos de significativos relâmpagos na imprensa; haveria Comitês Congressionais, ou reuniões em escritórios semelhantes a este, em Wall Street, ou uma reunião dos milhares de membros da Associação Americana de Industriais, ou presidentes conferenciariam e políticos procurariam acordos. E, longe, na Europa, na Ásia, na América do Sul os ventos começariam a mover-se inquietamente ao sopro do terremoto, e brancos palácios de Governo zumbiriam como colmeias, e as portas de bronze da Bolsa, do Reichsbank, do Banco da Inglaterra, dos bancos da Itália, Romênia, Hungria, Escandinávia captariam fagulhas amarelas de luz solar quando abrissem e fechassem numa atividade febril. Mas sempre ele se movia por trás de um muro de sombras, em silêncio aveludado, e nem mesmo o ouvido mais aguçado ouviria o eco maciço de seu passo através das colunatas do mundo.
Esse o homem que puxara os cordões do títere Mussolini, e insuflara em seu peito de madeira o verdadeiro sopro da vida. Em 1927 esse miserável contorcionista e impostor, esse pequeno charlatão, esse desprezível ator de terceira classe, esse paranoico com ilusões de grandeza chegara ao ponto de colapso, ridicularizado e escarnecido por seus próprios realísticos compatriotas, que, amando a verdadeira arte e adorando um ator de verdade, achavam seus gestos e sua voz absurdos e ridículos, sem o menor traço de arte. Os italianos perdoam qualquer coisa enquanto se tratar de arte, e um homicida com graça e destreza, boa voz e maneiras, pode inspirar-lhes admiração e aplausos. Aplaudiriam um Bórgia, se envenenasse com classe e tivesse uma cortina apropriada para sua manga quando levantasse uma dramática mão para deitar veneno numa taça recamada de pedrarias, e mostrasse certa grandeza heroica de perfil. Eles amavam a ênfase sobre a graça, a ressonância de um período bem burilado, num mundo que sabiam ser insensível e frequentemente sem beleza. Porém esse charlatão perverso não tinha esplendor, nem beleza. Sequer sabia representar. Se um homem não fosse dotado da verdadeira apreciação do gesto elegante, não tivesse consciência de que uma frase deve ser completada com certas ricas entonações, nenhuma sutileza de atitudes, então era sem valor, e muito provavelmente um idiota.
Sua "marcha sobre Roma" interessara os vivos e inteligentes italianos, com sua adoração pela arte apropriada. Isso reviveu lembranças das entradas de César, com pajens, trombetas, bandeiras vermelhas contra o ardente céu azul, a marcha pesada de cavalos brancos e o brilho de capacetes ao sol, a luminosidade captada na ponta das lanças daquela imortal claridade da luz italiana, o trovão dos vitoriosos pés blindados. Por algum tempo, o interesse deles permaneceu. Mas logo reconheceram que esse César era fictício, ridículo, um louco sifilítico, e que mesmo sua perseguição a mulheres não tinha classe, era apenas o bamboleio de um Pan velhusco correndo atrás de costureirinhas. Ele os punha doentes. Os que o apoiavam, os grandes industriais e financistas da Itália, estavam consternados. Exibiam seu César cada vez mais à populaça irreverente e escarninha, pondo-lhe à cabeça um absurdo fez com borlas, inventando para ele uniformes aparatosos, ensaiando-o em seus discursos, descobrindo para ele mais e mais beldades com que coabitar publicamente, ataviando suas coortes com púrpura e ouro e armando-as de espadas cinzeladas. Aumentou o divertimento dos italianos. O Affaire Mussolini se tornou, para os civilizados romanos, a invasão dos sonhos de grandeza de um camponês — e sentiam-se insultados.
"Má ópera", diziam, balançando a cabeça. Para um italiano, "má ópera" era o crime supremo, sem perdão.
Jay Regan compreendeu tudo isso. Onde a arte não podia engodar, disse, o dinheiro poderia ser usado como uma clava. Foi naquele portentoso março de 1927 que ele emprestou cem milhões de dólares aos fascistas emboscados por trás de Mussolini, e os espantados italianos descobriram que, "má ópera" ou não, esse maligno ator de terceira categoria estava sobre eles com uma adaga equilibrada, e os constrangia não só a observar seus nojentos desempenhos como a aplaudi-los, também. Eles o viram pavonear-se no cenário da História, e ficaram nauseados por sua voz roufenha, sua falta de técnica, sua ignorância mesmo das mais elementares atitudes da verdadeira arte. Deram de ombros fatalisticamente e foram cuidar da sua vida, esperando que o desprezo universal em breve aquietasse esse portador de lança para sempre.
Mas o portador de lança, que deveria ter mergulhado no olvido a mando do povo italiano, tinha amigos não tão amantes da arte quanto esse povo. Tinha Mr. Regan, na América. Tinha o Banco da Inglaterra, e o silencioso movimento de mãos de ouro voltadas para ele. Tinha os banqueiros da França, que odiavam o seu país. Mas não tinha a Alemanha. A República Germânica o observava com alarma e tristeza, e seus confusos protestos se perderam nos gritos violentos dele, no sapatear dos seus pés chatos. Os alemães não tinham muita certeza a respeito do que protestavam, exceto que seu instinto, sempre tão elementar e primitivo, cheirava perigo. Alguns condescendiam em explicar que, para eles, Mussolini era realmente valioso. "Ele fez os trens italianos correrem no horário" — disseram, com solenes acenos de cabeça.
"Porém — indagou um grande liberal alemão, a quem Mussolini nunca perdoou, e mais tarde foi torturado até à morte num campo de concentração nazista, a mando do charlatão — o que têm a ver os trens no horário com o espírito humano, com o esclarecimento humano, com a liberdade humana?"
Tamanha ignorância, estupidez tão ingênua, foi devidamente ignorada. Os alemães continuaram a perguntar, e ninguém respondeu. Nesse ínterim, o heroico fundo da História carregou a atitude e a sombra arrogante de um lunático criado e mantido por uma centena de mãos secretas que o manipulavam. E essa sombra aumentou, e aumentou, e as espadas que a seguiam não eram espectrais, porém feitas de aço forjado na América, na Inglaterra, na França.
Por fim, mesmo aqueles alemães que, sob certas circunstâncias, tinham um olhar apropriado para a pontualidade de trens tiveram seu próprio problema, e temporariamente esqueceram Mussolini, pois outro charlatão, que nem sequer usava um fez com borlas, nem tinha o esplendor de uniformes para recomendá-lo, erguera a voz roufenha em seu próprio meio. Havia, na Alemanha, um amor pelo que fosse de estatura heroica, por capacetes, pelo clangor de espadas, pelos Nibelungen, por pés alados e blindados, por vozes wagnerianas. Porém esse miserável homúnculo, esse empregadinho de expressão desagradável, esse sapo saltador nada tinha que o recomendasse, nem sequer o conhecimento da "má ópera". Mas possuía uma Voz, e essa Voz ecoou no silêncio de catedral do escritório de Jay Regan, nas austeras paredes do Banco da Inglaterra, na Bolsa febricitante. O povo germânico ouviu, exausto pelo langor de anos infelizes, e se desviou com hesitante fadiga. Só os seus inimigos ouviram em seu próprio país, os loucos, os lunáticos, os perversos, os gananciosos, os depravados, e os danados. Porém outros ouviram e puseram ouvidos atentos através dos oceanos, através das montanhas, através das estraçalhadas fronteiras. E depois de ouvir um pouco, movimentaram-se — e a vasta maquinaria da destruição começou a ronronar, a elevar um rugido secreto.
Pois o Sapo prometera que mataria o Homem da Barba Vermelha que jazia como um gigante deitado além dos Montes Urais, sempre observando o mundo dos homens e, em silêncio, afagando sua barba. Ninguém sabia o que o gigante estava pensando, ou o que estava ponderando. O mundo dos homens podia aturar tudo menos silêncio, e podia ser levado à loucura por ele. Apenas sentiam os ferozes olhos azuis indo lentamente de nação a nação em meditação profunda, e ficaram histéricos ante a ameaça que acreditavam existir nele. Deixem-no sair de sua contemplativa imobilidade atrás de suas montanhas — diziam — deixem-no pôr-se ereto como um colosso, e fortalezas ruiriam ao som de sua voz, e governos se desfariam ao eco de seus passos. Deixem-no andar, e à sua sombra contra o sol os povos escravizados do mundo se erguerão como uma maré negra e inundarão seus senhores.
Até o momento o Monstrengo era apenas uma voz. Mas logo teve dinheiro. Com as espadas douradas veio um exército de assassinos, mentirosos e ladrões, vieram longos e mortais sussurros de cada canto do mundo. E o Monstrengo cedo eclipsou um mau ator, embora não possuísse sequer uma arte própria, mesmo má. O Sapo, com sua voz coaxante, o italiano ensaiador de atitudes que mal podia inabilmente manejar seu disfarce, se ergueu diante das turbas estupefatas, armadas com espadas forjadas em segredo em outros países. Olharam para o Homem da Barba Vermelha, guincharam sua desconfiança a respeito dele, e agitaram as espadas em sua direção. E então a Igreja ouviu, a Igreja que odiava a nova libertação dos homens. Na fresca penumbra das catedrais, na umidade mofada dos pequenos tabernáculos, ergueu-se uma tempestade de vozes, guinchando, gritando, cheias de veneno, medo e ódio — e ressoaram e ecoaram em todas as nações do mundo. O Homem da Barba Vermelha era o Inimigo Supremo de governos ordeiros, da lei, da moralidade, do casamento, da autoridade estabelecida, de Deus, da Bíblia, da virtude feminina, da obediência infantil, do comércio, do pequeno prédio escolar vermelho, e da mercearia da esquina. O Sapo e o Mau Ator eram Messias gêmeos que protegiam os leitos das boas mulheres, as pequenas contas de Banco, o trabalho, o governo, a Bíblia de dólar, e a igreja modesta com campanário de madeira.
Começara a sedução do Homem Comum.
A sedução — como os Mestres bem sabiam — não foi difícil. Só se tinha de inscrever a Igreja. Ano a ano, o próprio Homem Comum se apegara às picuinhas do preconceito, da estupidez, ignorância e medo e ódio e se sentava sobre esse material facilmente inflamável esperando pela centelha que incendiaria o refugo. A Igreja tinha essa centelha, já preparada e guardada para a hora própria. Sempre, através dos séculos, tinha ela tal centelha, abrigada por suas mãos sinistras. Acenderam as fogueiras. Por sua luz desvairada, os homens se convenceram de estar vendo a sombra agachada do Homem da Barba Vermelha, equilibrado para saltar sobre os limites do mundo.
O trabalho estava pronto. O fogo se espalhava. O mundo penetrava em um universo de nuvens carmesins.
Nesse ínterim, o Homem da Barba Vermelha mantinha seu silêncio. Contudo, ele sabia. Começou a mover-se por trás de suas montanhas.
O Povo Comum, enamorado de lendas e de contos de fadas, sempre acreditou que o homem do destino arderia como um cometa a explodir contra os céus do mundo. Gracejavam, sempre na implicação de que homens do destino se sentavam atrás de secretárias reluzentes em vastos e calmos escritórios, e falavam juntos em palavras do vernáculo. Quem, entre os distantes italianos, os distantes e aterrorizados alemães, sabia que seus Césares eram controlados por homens de ternos amarrotados, calças desmazeladas e sem vinco, em Nova York, em Berlim, em Londres, em Roma, em Paris? Quem sabia que os fogos da destruição ardiam na ponta de bons charutos em mesas de mogno com pilhas de documentos? Quem sabia que a voz da destruição não vinha dos espaços ressoantes do tempo, mas sussurravam quietamente em Wall Street, na Bolsa, no Reichsbank, e que com frequência essa voz tinha sotaque inglês ou francês ou americano? Fora-se o tempo dos heróis. O terror usava paletó e empanturrava uma pança inchada, e usava tônico na cabeça calva.
Nem mesmo a angustiada Espanha pôde despertar o Homem Comum, ou puderam seus gritos atravessar as paredes de sua casa, ou pôde a claridade de suas cidades incendiadas atingir-lhe as pálpebras entorpecidas.
Assim, quando Henri Bouchard se aproximou do seu velho e poderoso amigo, viu nele todo o enorme e subterrâneo poder que agora ondeava com força crescente através do mundo. Mas, sentado ali estava apenas um homem idoso e doente, olhos como que emboscados, bigode branco aparado, mãos quietas, e um sorriso peculiarmente encantador.
Tinha grande predileção pelo homem mais jovem, bem como indulgente admiração. Diante dele, na secretária, espalhava-se uma enorme folha de papel na qual aparecia algo como uma árvore genealógica. O Sr. Regan estivera estudando esse papel durante horas, mudando-o de lugar vez por outra. Era na verdade uma espécie de árvore genealógica. No topo aparecia: Bouchard & Sons, e daí se estendiam as múltiplas subsidiárias controladas por aquela companhia, os nomes dos presidentes e outros funcionários.
Estendeu a mão a Henri, apertando a dele calorosamente:
— Senti muito ouvir a respeito da morte de sua tia. Pretendia assistir ao sepultamento, mas apareceu algo. Recebeu meu telegrama?
— Ela era muito velha — respondeu Henri, sentando-se. — Completamente sem importância. Além disso, essa morte fez com que eu não pudesse vir vê-lo, conforme havia sugerido.
Sorriram um para o outro. O Sr. Regan esfregou o queixo. Disse, como invariavelmente o fazia ao ver Henri:
— Não posso deixar de espantar-me pela sua semelhança com seu bisavô. Posso vê-lo agora, sentado exatamente onde você está. A última vez em que veio a este escritório foi quando estava com setenta e cinco anos. Mas ainda potente. Você lhe herdou os olhos.
— E suas outras virtudes, espero — falou Henri.
Sempre se divertia com essas preliminares. Sabia que o Sr. Regan estava sutilmente tentando gravar nele que devia agir como faria seu bisavô, que devia considerar o que Ernest Barbour teria feito em face de certas circunstâncias iminentes.
O Sr. Regan girou em sua cadeira e abriu uma gaveta, de onde tirou uma garrafa de prata e dois copinhos. Essa era uma cerimônia habitual. Beberam juntos. O Sr. Regan acendeu um charuto para Henri, que não gostava de charutos. Por trás das pesadas portas entalhadas havia uma atividade constante, mas nenhum som chegava até ali. As janelas eram tão pesadamente encortinadas que pouquíssima claridade as atravessava. Portanto surpreendeu Henri quando o grande velho pesadamente se ergueu e foi até uma das imensas janelas, olhando distraidamente para fora. Espiou, inclinou a cabeça, pareceu muito interessado, depois desinteressou-se. Seu vasto e atarracado perfil aparecia indistintamente contra a nova luminosidade que invadiu o escritório.
— Ontem — disse por fim — um homem honesto passou pela Street.
— E isso é raro — comentou Henri.
— Muito raro — concordou Regan, com um sorriso. Novamente esfregou o queixo, e continuou a espiar.
— Espera-o agora? — perguntou Henri.
— Infelizmente, não. Mas espero vê-lo com frequência. Na Casa Branca.
Henri ergueu as sobrancelhas, surpreso:
— Não sabia que — mencionou o nome de certo cavalheiro que, fora combinado, seria o próximo Presidente — estava em Nova York! Está? Gostaria de dar-lhe uma palavrinha nesta viagem.
— Ele não está aqui — informou o Sr. Regan, calmamente. Voltou à secretária, tornou a sentar-se na poltrona de madeira entalhada e veludo. — Além disso, não é a ele que me refiro. Você o conhece ligeiramente: Wendell Wilkie.
Henri o fitou, genuinamente espantado:
— Commonwealth & Southern! Está brincando, Sr. Regan! — E explodiu numa gargalhada.
O Sr. Regan sorriu. A claridade da janela estava por trás dele, mas Henri teve a impressão esquisita de que havia algo de estranho na face de gigante.
Capítulo 17
— Não estou brincando — afirmou o Sr. Regan.
— Mas, por Deus! O homem não tem a mais leve noção de política! Ninguém jamais ouviu falar dele, exceto a Street. Não pode estar falando sério!
— Estou — falou Regan, quietamente. Cruzou as mãos sobre a enorme barriga e se recostou na poltrona. — Sabe, Henri, estou sofrendo do estômago. Ulceras na barriga espiritual. Por isso o chamei aqui.
Henri mal o ouvia. Estava de olhar fixo, os olhos desbotados a luzir na meia luz. Sua expressão era carrancuda:
— Não Wilkie — falou maciamente. — Um joão-ninguém, no que se refere ao povo. Quem o quereria? Não é homem para nós. Nunca foi nosso homem.
— Por isso o quero para Presidente — sorriu Regan.
— Não compreendo, Sr. Regan. O homem que escolhemos é o nosso homem. Outro Coolidge; um segundo Harding. Mesmo um eco de Hoover. Seguro. Temos de consegui-lo. Para o próximo ano. A máquina já foi posta em movimento. — Seu espanto cresceu. Inclinou-se para o velho amigo: — Ainda não acredito que esteja falando a sério. "Um homem honesto." Sabe qual a mais recente cotação de Commonwealth & Southern?
— Sei. Não é culpa de Wilkie, sabe. Ele não criou a TVA.
Henri estava calado. Sentava-se ali, imóvel, a não ser pelo tamborilar de seus dedos fortes nos braços da poltrona. Então disse:
— Minha ignorância é terrível. Poderia esclarecer-me por que está tão apaixonado por Wilkie assim de repente?
Os olhinhos do Sr. Regan começaram a cintilar, mas a expressão era sombria. Tocou a montanha de papelada sobre a secretária:
— Henri, sabe o que é isto? — Com um ágil movimento da mão atarracada empurrou os papéis em direção ao mais jovem, que os olhou atentamente.
Henri sorriu:
— Sim. Sei. O que isto tem a ver com Wilkie, seu "homem honesto"? E, se é tão danadamente "honesto", que quer o senhor com ele? Não temos tido honestidade bastante na Casa Branca desde 1933? Pensei que se havia fartado...
Regan falou tranquilamente:
— Jamais gostei de Franklin, mesmo quando ele era jovem. Por muitas razões. Além disso, ele não é o homem... para os anos vindouros. Precisamos de mocidade, força e virilidade. Assim... Wilkie é o meu homem.
— O homem para o seu dinheiro? — perguntou Henri.
Regan ficou silencioso por um momento. Olhou o espaço:
— Não — respondeu brandamente — não o homem para o meu dinheiro.
— O Partido não o quererá. Mesmo o senhor não pode fazer isso, contra os desejos de todos. Já decidiram sobre nosso homem, para a nomeação em junho próximo.
— Está querendo dizer — disse Regan, saindo de uma preocupação na qual caíra momentaneamente — é que desta vez você e os outros não querem apoiar o meu homem.
— Estou querendo dizer é que já lhe demos ouvido, Sr. Regan — falou Henri maciamente. — O outro era seu homem. Temos estado a robustecê-lo por suas ordens mesmo de há menos de um ano atrás. Não podemos mudar. Por um capricho súbito e inexplicável.
Regan bateu as mãos na barriga e contemplou Henri por um longo momento:
— Primeiro, falaremos a respeito de uma porção de outras coisas, filho. Depois voltaremos a Wilkie. Que idade tem, Henri? Quarenta e um? Quarenta e dois? Boa idade. Está no clímax de seu vigor mental e físico. Congratulo-me com você. Henri, você e eu estivemos de acordo no ano passado... a respeito de certo assunto. Continua de acordo?
Henri não respondeu. Mordeu levemente o indicador, sem afastar do velho amigo os olhos implacáveis.
— Mudamos nossa opinião, acho — continuou Regan — a respeito de algumas coisas. Henri, qual é a sua posição hoje?
— Sabe qual é. Hitler nos deu um pontapé no traseiro. Descobri isso, eu mesmo. Por isso fui à Europa este ano.
— E...?
— Francamente, e simplesmente... fomos logrados. Somos tolos, Sr. Regan. É uma ideia humilhante. Isso não se ajusta em absoluto à concepção que tenho de mim mesmo. — E Henri sorriu ligeiramente. — Sabe, em nossas discussões com Hitler, esquecemos a geopolítica alemã. Esquecemos a geopolítica alemã que por mais de cem anos tem declarado mais ou menos abertamente que a Alemanha pode, e deve conquistar o mundo. Hitler foi o sonho dos professores do Messias militar, mas um Messias que realizaria a conquista sem guerra ou derramamento de sangue. Esses professores, e os outros mais brandos, os intelectuais germânicos, acreditavam que a conquista moderna era através da economia, e pela "superior mentalidade" germânica. Não pode vê-los, em suas bibliotecas bolorentas e laboratórios, em suas universidades em desintegração, ficando líricos a respeito da robusta ideia de "Força através da Alegria?" Não há nada de que um emaciado e brando intelectual goste tanto quanto de um flexionar de músculos... em outro homem. Já os vi acariciando tais músculos; um fato. E com olhares de adoração. Para o casual olho masculino americano, isso seria indecente, vergonhoso; para alguém com conhecimentos elementares de psicologia, era significativo e nem ao menos homossexual.
— Continue — animou Regan, quando Henri se deteve. O velho grande e gordo inclinou-se para diante, cotovelos na escrivaninha, mãos sob o queixo.
— Sim, esquecemos a geopolítica alemã, a ideia do Pangermanismo que tem mais de um século de existência. Acredito que os American Gounding Fathers estavam cônscios disso. Agora, acho isto muito significativo, também. Por que não foi dada publicidade à ideia, exceto para os alemães? Isso me parece, hoje, a coisa mais importante... essa ideia de Pangermanismo. Negligenciamos a coisa. Pensamos poder fazer negócios com Hitler. Ou melhor: com os economistas alemães, que sabiam que a guerra significa ruína tanto para o vitorioso quanto para o vencido, e preferem lucros e mercados a expansão territorial. De modo que os economistas, o Reichsbank, os intelectuais, estavam todos em um campo entusiástico: conquista sem guerra. Estavam bem a caminho disso, também.
Intelectualismo e economia... eram capazes de dominar a intrínseca psicologia de guerra do povo germânico, nos que eram inteligentes. Porém havia muitos que não eram inteligentes: a massa germânica, o povo que se esgoelava, cujo protótipo, cujo herói, cujo deus era Hitler. E Hitler, descobri, não ligava a mínima para a economia intelectual geopolítica.
Regan franziu a testa:
— Receio não estar acompanhando o seu raciocínio, Henri.
Henri deu uma risada:
— Espere um pouco. Não acabei. Como sabe, durante o período 1933-38, houve uma luta interminável entre Hitler e os economistas germânicos. Hitler organizou cada fase da vida germânica, inclusive indústria e economia. Todos sabemos que a Alemanha não tinha ouro com que comprar matérias-primas; o pessoal encarregado da estrutura econômica pôs-se em campo para criar o crédito germânico em todo o mundo. Hjalmar Schacht, o líder e organizador, inaugurou o sistema de trocas. Chegava ao mercado, fosse onde fosse, em que houvesse excedentes, e comerciava quaisquer matérias-primas que pudesse comprar... fosse café, aço, cobre, etc. Pagava por elas com produtos acabados, tais como máquinas de escrever, e bugigangas e dispositivos baratos de toda espécie, e inundava outros países com eles, especialmente a América. Em seguimento a seu comércio, criou e controlou as maiores linhas aéreas da América do Sul, como sabe. Incidentalmente: Duval-Bonnet, preocupação de Christopher, forneceu a maior parte dos aviões.
"Assim a Alemanha foi capaz de competir em grande escala conosco e a Inglaterra na Europa, e na América do Sul, até que encontramos vários mercados fechados para nós. Estão ficando muito maus, como sabe. Nós e os britânicos vimos que as coisas estavam ficando péssimas. Schacht e seus amigos planejaram uma conquista econômica lenta e gradual, primeiro por infiltração e comércio, e segundo, por verdadeiro controle de finanças. Instaram com Hitler para que tivesse paciência. Acreditavam que gradualmente, através de competição e pela utilização de trabalhadores alemães e dos países satélites, nos reduziriam a nada. Conquista completa, pois controlariam finanças, comércio e indústria. Lamuriavam-se de ser um ‘povo sem nada’, para que os idiotas na América e na Inglaterra não ficassem desconfiados, e chegaram a angariar ampla simpatia entre imbecis e sentimentalistas. Porém durante esses anos nunca ficaram sem matérias-primas... pelo que devem agradecer a Bouchard e subsidiárias, receio bem. Esperavam tornar-se tão potentes econômica e financeiramente que dentro de quinze anos a Alemanha não precisaria ir à guerra pela conquista de mercados.
— Ah! — fez Regan, maciamente. — E isso nos deixa... onde?
— Há dois anos — continuou Henri — percebi isso claramente. Ainda não havia dado muita atenção à geopolítica alemã e aos militaristas. Assim, comecei a reduzir os embarques, para a Alemanha, ou através da América do Sul, para evitar o Tratado de Versalhes, ou diretamente, por meio de cartéis. A Alemanha poderia, sim, ter certa quantidade de material. Contudo, não a supríamos mais com coisas que poderiam pôr-nos em perigo, como os mais recentes planos para aviões, processos novos, e uma dúzia de outras coisas. Meu plano era integrar toda a produção americana, no referente a armamentos; tê-la preparada, aumentar os embarques de armas e materiais para a Inglaterra e a França através da América do Sul. Um lento e firme desvio do fluxo da Alemanha. Fizemos com que nossos políticos aumentassem na América a mentalidade para um plano pague-e-leve, que redundaria em vantagem para a França e a Inglaterra. Fizemos planos a longo prazo, quietamente. Pois víamos o que estava por vir: a Alemanha se apoderaria de todos os mercados e, percebendo a fraqueza militar de outras nações, as desafiaria a retomá-los dela.
— Continue — insistiu Regan, pois Henri parara por um momento para examinar as mãos, e franzira a testa ao olhá-las.
O homem mais jovem ergueu a cabeça e fixou os olhos inexoráveis no rosto do grande financista:
— Mas o senhor sabe de tudo isso. Já o discutimos antes.
— Mas gosto de uma sinopse — Regan sorria.
— Cooperamos com a Alemanha, nós industriais e economistas da Inglaterra e da América. Porque fomos fraudados por um supercanalha: Hitler, que não só nos desiludiu como também a Schacht e a todos os demais financistas e economistas da Alemanha. Hitler prometera proteger o capitalismo germânico, no qual todos estávamos interessados, contra o comunismo e os sindicatos organizados. Ele viria a ser nosso estado-tampão entre a Rússia e a Europa, o que era muito satisfatório, considerando-se nossas subsidiárias e outros investimentos, na Europa. Ele protegeria nossos compromissos e investimentos europeus, e nosso controle financeiro lá. De modo que cooperávamos com ele, agradavelmente. Então, de repente, descobri a verdade!
"Eu achava que um forte controle econômico e financeiro na Alemanha asseguraria a toda a Europa liberdade contra o comunismo, e à América também. E então li Mein Kampf, e empreendi um sério estudo da geopolítica germânica. Originalmente, como sabe, os antigos geopolíticos germânicos pretendiam a conquista militar do mundo pela Alemanha. Os modernos geopolíticos a pretendiam pela conquista do mercado, e a economia. Pensei que a velha ideia estivesse morta. Descobri que estava muito viva.
"Pois subitamente descobri que Hitler desprezava a geopolítica moderna, e Schacht, e todos os professores e intelectuais que odiavam sangue. Que ele era um anacronismo, um geopolítico militar. Acreditava em cortar caminhos... pela espada. Estava começando a mostrar grande desprezo pelos mestres financistas e industriais, e agora que conseguira iludi-los, levando-os a ajudá-lo, na Alemanha, na América, na Inglaterra e na França, era uma força, uma poderosa força militar. A respaldá-lo tinha os Junkers. E tinha a massa do povo alemão, que nunca poderia entender as sutilezas da nova geopolítica, e queria excitação, assassinatos, força e sangue. Os insignificantes amam a violência. Hitler era o imperador de todos os insignificantes de todo o mundo, e não apenas na Alemanha.
— Em resumo... — murmurou Regan.
— Em resumo: ele queria guerra. Por sua própria causa. A moderna geopolítica era mais lenta e segura, e tinha como objetivo a completa subjugação dos mercados e das finanças mundiais. Isso não é bastante para o insignificante. Ele deseja arcos triunfais, percorrer estados escravizados, trombetas, bandeiras, tronos e coroas... toda a parafernália da lírica conquista militar. Almeja os sinais visíveis da conquista. Não é bastante para os conquistadores sentarem-se polidamente em Bancos internacionais. Aspira a marchar nas capitais através de um mar de sangue. Quer ser Deus, não o protetor de banqueiros e industriais e de toda a maquinaria cromo-prateada do grosseiro comércio e dos lucros. Não haveria exultação entre a massa de insignificantes germânicos se seus próprios banqueiros e industriais pudessem explicar liricamente que tinham posto a América e a Inglaterra para fora das máquinas de escrever, dos aviões, das fábricas e dos mercados financeiros do mundo. O que adiantaria isso ao alemão médio em seu miserável escritório, e em sua fazendola? Ele queria outros funcionários e outros fazendeiros para beijar-lhe os pés, saudá-lo como um super-homem, agachar-se diante dele, servi-lo, enquanto ele os esmagava. Esta é a verdadeira psicologia germânica, que negligenciamos enquanto perdíamos tempo com Schacht. Este é o animalesco, o irracional espírito germânico: o ódio por todos os outros homens, o desejo de esmagá-los fisicamente, pisoteá-los, chicoteá-los, torturá-los, matá-los. E isso é o que enfrentamos agora: o espírito germânico.
— E agora lhe deixaram nas mãos um fino maquinismo econômico ... mais Hitler e o povo alemão.
— Sim. Por isso é que agora me levanto e deixo que alguém me dê um pontapé no traseiro. E imagino que centenas de outros como eu, por todo o mundo, estão fazendo a mesma coisa. Pois não se pode fazer negócios com Hitler.
— Então, que pretende fazer?
Henri se levantou e vagarosamente palmilhou abaixo e acima a vasta sala. Em seu largo rosto, ora havia luz, ora havia sombras. Seu passo era pesado. Então parou diante da mesa de Regan, nela pousou as mãos, e falou quietamente:
— Teremos de deixar que a Europa se vá. Hitler atacará em breve. Sabemos disso. Teremos de deixar que a Europa se vá... para ele. Nada mais podemos fazer. Motivamos isso, todos nós. Mas podemos cortar nossas perdas, e salvar o que pudermos. Na América. Na América do Sul. Um mau negócio. Mas não temos escolha.
— E como espera realizar isso, meu caro Henri? — Regan sorria tristemente.
— Fazendo-nos fortes demais para atacar. Hitler não nos atacará, quando vir que a luta será demasiado custosa. Mas... não podemos ter uma guerra. Isso nos arruinará a todos. Será o fim do capitalismo e da indústria como os conhecemos hoje. Será uma revolução econômica interna na América, bem como um banho de sangue e a bancarrota, se formos à guerra. Nesse ínterim, enquanto recuperamos nossa própria força, que perdemos através das ideias americanas idiotamente sentimentais de desarmamento, temos de aguentar a Inglaterra e a França, torná-las fortes o bastante para resistir a Hitler, pelo menos por um pouco de tempo. Não podemos negociar com Hitler. Tampouco podemos ter uma guerra. Temos de nos tomar bastante fortes para resistir à ideia de fazer negócios com Hitler e aos provocadores de guerras.
Sorriu subitamente, e ergueu as mãos da secretária de Regan.
— Assim — continuou — dei ordens a todas as nossas subsidiárias para que cortassem todos os embarques de materiais para Hitler, e aos nossos Bancos para que negassem crédito aos alemães. Temos de apressar-nos. Agora, o tempo é essencial.
Regan esfregou o queixo:
— Naturalmente, patriotismo nada tem a ver com isso?...
Henri ignorou isso como uma piada absurda entre eles.
— Fomos enganados — repetiu. — Nosso nobre defensor contra o comunismo, contra o trabalho organizado em todo o mundo, nos chutou solidamente e está se voltando contra nós. Devíamos ter tido mais inteligência antes de nos meter, e à América, a Inglaterra e a França nesta maldita confusão. Não tivemos inteligência. Agora, devemos salvar o que pudermos. Fizemos Hitler. Agora ele está a caçar-nos com as mesmas armas que lhe demos para defender-nos.
Deteve-se.
— Como sabe, durante muito tempo tivemos outro plano, que aparentemente não vai lá muito bem desde Munique. Pensamos em virar contra a Rússia o militarismo de Hitler. Afinal de contas, pensamos razoavelmente: isso é o que ele realmente odeia, não é? A Rússia? A Rússia era inimiga dele e nossa. A Rússia, com sua odiosa revolução proletária. Outra forma de insignificância. O despontar do Homem Comum. Temos de evitar isso. Agora, perdi a esperança de que Hitler deixe a Europa em paz, e ataque a Rússia. Todos estamos nisto.
Houve um longo silêncio na sala, enquanto os dois homens se fitavam sombriamente. Então Regan falou:
— Sabe, acho que isso não vai dar certo, Henri. E que entraremos também na guerra.
Henri bateu com o punho solidamente na mesa:
— Não! — disse, carrancudo. — Não vamos. Não permitiremos isto. Já traçamos planos. Seria a ruína final... para nós. A economia americana de guerra seria tão colossal que seríamos destruídos. Isso daria a Roosevelt sua mais forte oportunidade de destruir-nos e provocar uma forma de socialismo na América, na qual nosso atual sistema de lucros, capitalismo e indústria não poderia sobreviver. Nós, "realistas econômicos", como ele tão lindamente nos designou, seríamos comandados, controlados, regulados, e postos fora dos negócios. Por isso é que não podemos ter guerra... para a América. Nossos senhores seriam as massas americanas dos insignificantes, o homem comum, o caixeirinho e o fazendeiro miseráveis e o camponês das fábricas, bem como os sindicatos vociferantes.
Regan pôs a mão na boca, e falou num tom abafado por trás dos dedos:
— E sua grande família, Henri: qual a sua atitude?
— Eles também não querem guerra. Todos concordamos nisso. Não o permitiremos, nenhum de nós. Contudo... discordam de mim quanto à ideia de que não podemos negociar com Hitler. Acham que podemos. Tiveram uma ideia inteligente que, confesso, a princípio me atraiu. Acreditavam há muito tempo que os Grandes Negócios poderiam sair do controle da indústria e das finanças para o atual poder sobre o destino do povo. Como autocratas benevolentes, estão dispostos a conceder certos privilégios e benefícios às massas, contanto que o poder supremo seja para eles mesmos na política, para ganhar não só a esfera de influência na América, como o controle internacional da matéria-prima em todo o mundo: sua manufatura, distribuição e partilha. Em outras palavras, a revolução dos gerentes de negócios. Como eu disse, isso outrora também me atraiu. Eu não fazia objeção — e sorriu largamente — a ser o ditador econômico de todo o danado mundo.
"Eles, os Bouchards, acreditavam que, acontecesse o que acontecesse na Europa, poderiam fazer um acordo com Hitler. Diziam que ele simplesmente ‘não se arranjaria sem eles’. Julgam que podemos comprar uma dúzia de Görings. Assim, queriam continuar a suprir Hitler com tudo que ele quisesse, através de cartéis na América do Sul, e têm vindo formando um sentimento pró-Alemanha, encorajando fascistas nativos e conciliadores, e andam ocupados com planos para a criação de várias sociedades pacifistas por todo o país. Ficaram incrédulos quando lhes falei a respeito da antiga geopolítica germânica. Estão obcecados com a ideia de que uma Europa controlada por Hitler é nossa melhor garantia contra o comunismo na América, ou radicalismo, ou o New Deal, ou sindicalismo. Riram de mim quando lhes disse que Hitler deseja a conquista militar e física do mundo. Mesmo que o fizesse, argumentam eles, seus inteligentes economistas, financistas e industriais o controlariam. Assim sendo, desejam manter seu apoio material e financeiro a ele. Ele só quer a Europa, dizem eles. Deixem-no tê-la, com nossas bênçãos.
"Mas eu afirmo que ele quer o mundo! E vou detê-lo. Porém não pela guerra. Pus freios em nossas companhias. Não estamos vendendo a Hitler nada que nós mesmos possamos precisar. Estamos guardando nossas patentes e nossos novos e inumeráveis processos... em casa.
— Então, Henri, você e sua família estão resolvidos a ter paz. Mas está determinado a fazer a América forte, de modo que Hitler não nos possa atacar fisicamente. Não está interessado em desenvolver a América. Acha isso desnecessário?
— Penso que isso está subentendido, Sr. Regan.
Regan ficou muito quieto por um ou dois minutos. Depois disse, de forma quase inaudível, mas com estranha penetração:
— Henri, já lhe ocorreu que sua família realmente deseja que Hitler conquiste o mundo, literalmente, bem como de outras maneiras?
Henri o fitou. Seus olhos claros pestanejaram, atônitos. Não se moveu, porém, suas mãos lentamente se apertaram. Então disse, com o maior desprezo:
— Ridículo!
— Não tão ridículo, Henri. Vejamos os fatos. Suponha que Hitler não só conquiste a Europa como a nós também. Precisará de fortes homens nativos da América, homens poderosos, para manter a indústria americana trabalhando e aumentando, suprindo-o do que precisar. Sob tal sistema, esses homens terão mais poder, sob Hitler, sobre os destinos dos povos americanos do que teriam sob nosso presente Governo independente. Sim, eles poderiam então negociar com Hitler! Poderiam reduzir o trabalho americano à servidão, produzir uma economia de senhores e escravos. Senhores não só da finança e da indústria, mas senhores de homens. Sob o domínio de Hitler, claro! Mas isso não importa muito.
Henri estava silencioso. Então, inclinou-se para a frente e disse, maciamente:
—O senhor não fala sem razão. Sr. Regan. E tem provas, não?
— Tenho, Henri — replicou Regan, em voz lenta e grave.
Ergueu-se pesadamente e foi até um cofre disfarçado na parede apainelada. Retirou um grosso rolo de papéis, que pôs diante de Henri. O homem mais jovem pegou-os e começou a lê-los rapidamente. Houve um silêncio prolongado na grande sala, quebrado apenas pelo ruído dos papéis. Regan observava Henri enquanto este lia. O rosto pálido e maciço não mostrava emoção, nem raiva. Estava rígido como uma pedra. Era a face de Ernest Barbour, toda glacial selvageria e calma sobre-humana.
— Proprietários de jornais, famosos heróis "militares" da última guerra, sacerdotes, mulheres de sociedades pacifistas, escritores que pesquisam e denunciam casos de corrupção, traidores, mentirosos, idiotas, senadores, políticos, quase-lunáticos, conspiradores, espias; estão todos aí, não estão, Henri? — disse o velho, por fim, quando Henri lentamente abaixou os papéis. — Conseguiram juntá-los todos aparentemente organizados, não é mesmo? E não para o bem da "paz". Não apenas por causa de "negociar com Hitler", como você acreditava. E você viu a ligação aí, não viu, com nazistas estrangeiros e fascistas? Não é um quadro muito bonito, hein, Henri?
Henri não respondeu. Mas sua expressão era terrível, tanto mais quanto não expressava absolutamente nada.
— Eles não veem, como você vê, Henri, que o domínio de Hitler sobre a América significa o verdadeiro fim do capitalismo, da empresa privada, da indústria. Esquecem Thyssen, por exemplo. É o egoísmo deles, Henri — e agora ele bateu as mãos gentilmente na secretária. — Descobri algo. Somente numa democracia o capitalismo pode florescer, servir a si mesmo, servir ao povo.
Mas Henri apenas disse:
— Então, contra as minhas ordens, estão continuando a suprir Hitler com o que é o nosso próprio sangue! Desafiaram-me.
Levantou-se.
— Estão dispostos a arruiná-lo, Henri — disse Regan, no mais gentil dos tons. — Porque você não joga no time deles. Querem seu escalpo, Henri. Não há nada que não façam para isso. Estão se preparando para entregar a América a Hitler numa bandeja. E entregarão você também, provavelmente.
— Mês passado — comentou Henri, relanceando um olhar para os papéis na mesa — embarcaram uma tremenda quantidade de níquel canadense para Hitler. Quando precisamos de níquel tão desesperadamente... — Ele parou, e sua respiração era rouca.
— E na última semana — falou Regan, pensativamente — seu cunhado Christopher teve um almoço agradável com certos cavalheiros, entre os quais estava seu cunhado Emile, seus parentes Jean e Nicholas Bouchard, o senhor Doutor Meissner, do Reichsbank, o Cônsul Geral alemão, o presidente de sua própria organização, a American Association of Industries, o filho do Sr. Hiram Mitchell, piedoso pequeno fabricante de automóveis para milhões de insignificantes, o Sr. Joseph Stoessel da Nazareth Steel Company, rival da sua própria companhia de aço, Sessions, os presidentes de quatro de suas maiores subsidiárias americanas de várias partes do pais, dois senadores de nomeada conhecidos por odiar a Inglaterra e amar os fascistas, seu parente Hugo Bouchard, assistente do Secretário de Estado, o Bispo Halliday, esse harmonioso antissemita, antitrabalhista, anti-Roosevelt, antibritânico, e antiliberal bastardo do rádio General-Brigadeiro Gordon MacDouglas, proprietário de uma das mais influentes cadeias de jornais da América, o Conde Luigi Pallistrino, chargé d’affaires italiano, o Sr. Horace Edmund, vice-presidente de sua companhia britânica associada e subordinada de armamentos, Robsons-Strong, o Sr. John Byran, meu estimado competidor na Street, e outros de maior ou menor importância. Sim, também estava aquele cavalheiro que havíamos escolhido para a nomeação para a lista de candidatos republicanos no próximo ano, e certo infame cavalheiro a quem não nomearemos agora, mas que também já foi nosso homem. A propósito: um dos mais íntimos associados do Sr. Roosevelt estava lá, também, fato que surpreenderia excessivamente o Presidente, e faria com que esquadrinhasse o seu Gabinete um pouco mais apuradamente do que parece fazê-lo.
— E? — indagou Henri, calmamente.
Regan se maravilhou ante sua tranquilidade. E disse:
— Discutiram o que já lhe contei. Também discutiram você. Parece que o Sr. Hitler não gosta de você, Henri. Não gosta absolutamente. O Cônsul Geral entregou algumas acerbas citações. Chegaram, afinal, à decisão de que deviam livrar-se de você, e logo, logo: você é um "obstrucionista". Essas foram as ordens de Hitler. — Ele sorriu austeramente: — Já teve um ataque de coração, Henri?
— Não sejamos melodramáticos — replicou Henri, sentando-se com imensa calma. Então ficou silencioso, lábios comprimidos, olhos fixos com uma expressão terrível, as mãos apertando os braços da poltrona.
— Garanto-lhe não estar sendo melodramático em absoluto, meu caro rapaz. Pensa que se deterão ante qualquer coisa para livrar-se de você? Você é um dos homens mais poderosos da América, e seu obstrucionismo pode ser fatal para eles. Estamos enfrentando os adversários mais perigosos que o mundo já viu. Maquiavel, Mettemich, Napoleão, Torquemada, Richelieu, etc., eram meros diletantes de intrigas de boudoir comparados com esses. Eles jogam, não só por territórios e mercados, Henri, mas por todos os povos do mundo. E... estão muito dispostos a ter o que querem. Você se atravessa em seu caminho? Bem, um ataque de coração, ou um assassinato por um "bolchevista" intransigente são meios rápidos para morrer.
Com mais agilidade do que habitualmente mostrava, Henri tornou a levantar-se e começou a caminhar abaixo e acima, cabeça abaixada, os braços rigidamente dobrados no peito. Então, essa imperturbalidade pétrea podia ser abalada, e abalada até a base... O rosto largo se tornara terrível de paixão, e perigosamente carregado. A testa ampla estava visivelmente úmida.
Parou abruptamente e olhou para Regan:
— E assim, devido a seus empréstimos a Mussolini e seus arranjos de empréstimos para Hitler, e os embarques Bouchard de materiais, os cartéis e designações chegamos a isto!
— Todos somos culpados, confesso, Henri. Porém... você e eu tivemos a mesma ideia: fazer de Hitler um "tampão" entre a América e o comunismo, entre a Europa e o comunismo. A ideia não foi má... na ocasião. De fato, sob outras circunstâncias, ainda seria uma boa ideia. E lá estava nosso Departamento de Estado. Sob nossa instigação, fez um bom trabalho para a França. De certa forma, ainda é nosso Departamento, embora seu parente, Hugo, ande ocupadíssimo em solapá-lo.
Henri ficou de pé diante dele, a olhá-lo fixamente sem realmente vê-lo. Regan balançou a cabeça:
— Não adianta, Henri. Agora, já não pode mantê-los na linha. Os prêmios são grandes demais. Não pode fazer isso sozinho.
Aí Henri ficou roxo com a raiva mais violenta que jamais sentira. Sua egolatria fora mortalmente golpeada. Ante essa mortificação, essa fúria, deu-se conta de toda a extensão de sua degradação e impotência.
Regan levantou-se e se aproximou dele. Pôs-lhe a mão no ombro e, de sua tremenda altura, olhou-o, os olhinhos brilhantes a trespassá-lo:
— Quer deter tudo isso, não quer? Por você mesmo. Eu também o desejo. Por causa da moléstia que está a comer-me vivo.
— E quanto à publicidade? — perguntou Henri, mais para si mesmo que para Regan. — E se expuséssemos os fatos ao Presidente?
Regan balançou a cabeça lenta e pesadamente:
— Não adianta. Imagino que o Presidente tenha alguma suspeita. Isso não pode ser exposto. Seria uma revolução. Talvez o que querem os demônios. Na confusão, no tumulto, tomariam conta do poder. Mais ainda: devem ter seus homens espalhados pelo Congresso, também, e em cada Ministério. É um escândalo que não pode ser denunciado, por medo das consequências, mesmo que pudesse ser provado. E, Henri, não podemos expor coisa alguma, você e eu, sem que fatalmente nos envolvamos. Gostaria de Leavenworth, Henri?
— Então — disse Henri, sombriamente — estamos indefesos diante da chantagem?
— Estaria disposto — prosseguiu Regan — a sacrificar-se por seu país?
Quando Henri não respondeu, o velho continuou:
— Mesmo sob as melhores circunstâncias, meu rapaz, você estaria arruinado. Você, um "realista econômico". O Sr. Roosevelt poderia encontrar em sua confissão a grande oportunidade de sua carreira: destruir os verdadeiros senhores da América.
— Poderíamos tentar um acordo com ele — murmurou Henri, mordendo o lábio.
Regan riu melancolicamente, apertando a mão no ombro do outro:
— Não se deve tentar nenhum acordo com Franklin. Lembra-se de como o tentamos, há alguns anos? Não, Henri, estamos entre a cruz e a caldeirinha.
Olharam um para o outro.
— Henri — falou Regan — creio que posso confiar em você. Acho que sei de um meio de escapar. Existem alguns como você, que também não querem o que os Bouchards querem: a Amalgamated Carbide Company, por exemplo, seu competidor no fabrico de vários produtos sintéticos. A American Motors Company. Várias outras que posso nomear. E eu mesmo. Além disso, temos ao nosso lado alguns congressistas, você sabe. — Parou um pouco. — Quer jantar comigo na próxima semana, Henri? Um jantarzinho calmo, com alguns convidados?
Henri ficou silencioso. Juntara as sobrancelhas, em funda concentração. Disse, finalmente:
— E, nesse ínterim, farei o que tenho de fazer.
Regan estava alarmado:
— Henri, eles não devem saber ao que você se propõe, compreende? Se tiverem a menor pista, estaremos perdidos.
O peso total da catástrofe subitamente se impôs a Henri Bouchard. Incharam as veias de sua testa.
— Deus! — exclamou, maciamente. — Os desgraçados ousaram desafiar-me! Ousaram fazer-me isso!
Regan o olhou, em completa surpresa:
— Então, você é um ególatra infantil, também! Esperava algo melhor que isso, Henri. Deixe para lá... Ainda tenho fé em seu poder, em sua força pessoal. Se Deus quiser nos safaremos desta.
Voltou à secretária e caiu na cadeira, como se estivesse exausto. A poderosa cabeça lhe descaiu para o peito. Fitou a secretária às cegas, e suspirou repetidas vezes.
— Veja, Henri, como é a coisa. Aqui é que entra Wendell Wilkie. Mesmo sob Roosevelt, tivemos oportunidade de romper tudo isso. Porém, com Wilkie, que conhece muito mais a respeito das intrigas dos senhores, teremos ainda melhores oportunidades. Mais ainda: teremos conosco as pessoas melhores e mais inteligentes, com Wilkie. Os negociantes menores, de comparativa integridade, por exemplo, além da população. A sólida classe média. Roosevelt não deve tê-los. Wilkie é um realista. Podemos expor-lhe a coisa toda, e ele não pulará em nosso pescoço em gritos de alegria, como Roosevelt faria. Com Wilkie, a América vem em primeiro lugar. Quando eu disse que ele era um homem honesto, quis dizer muitas coisas. E todas elas elogiosas para um grande realista, um grande americano, um grande homem de negócios.
Ergueu a cabeça e estendeu a mão a Henri:
— Bem, Henri? Estamos nisto juntos. Continuamos juntos?
Henri tomou-lhe a mão. Sorriu, e esse sorriso, no rosto congesto, era horrível de ver.
— Continuamos juntos — confirmou.
Sentaram-se em silêncio, por algum tempo, enquanto Regan tornava a encher de brandy os copinhos. Não estava surpreso, e sorriu apenas um pouco, enigmaticamente, quando Henri bebeu com rápida brusquidão e devolveu o copo para ser cheio novamente.
Então, enquanto a sala ia ficando mais escura à medida que o dia descambava para o ocaso, Regan começou a falar com macia e grave lentidão:
— Henri Bouchard, eu sou um velho, e em breve morrerei,
Henri, que havia estado pensando numa porção de coisas, ficou momentaneamente espantado com a mudança de conversa. Mas disse, polidamente:
— Claro que não. Não está doente, não é, Sr. Regan?
Contudo, Regan apenas o olhou num silêncio estranho e imperturbável por algum tempo:
— Não — disse, lentamente — não adiantaria. Não adiantaria mesmo.
Henri estava evidentemente embaraçado. Depois sorriu, um sorriso desagradável, e levantou-se.
Depois que ele se fora, Regan pensou:
"Sim, você continuará comigo, filho de uma cadela! Sim, continuará, bisneto de um cão colossal! Mas não pelas razões que eu sentimentalmente esperava. De fato, a ideia de seus preciosos parentes deveria ter tido considerável atração para você, sob outras •circunstâncias. Talvez, se a tivessem respeitosamente discutido com você. Sim, estou certo disto.
"Mais continuará comigo porque ousaram desafiar sua soberania, mesmo se foi um desafio totalmente expresso em particular. Continuará porque eles estão tentando destruí-lo, desalojá-lo, atirá-lo fora. E isso você jamais lhes perdoará; é uma coisa que sua monstruosa egolatria não consegue engolir: que ousassem pensar que poderiam fazer isso a você. Por isso, não se deterá diante de coisa alguma.
Capítulo 18
Henri Bouchard permaneceu em Nova York por vários dias, trancado em sua suíte no Savoy-Plaza. Durante esse tempo teve o "calmo jantarzinho" com Jay Regan e certas pessoas. Fosse ele um verdadeiro aventureiro e poderia ter apreciado o que foi dito naquele jantar, que planos foram traçados em face da precária enormidade da situação. Poderia haver sentido muita excitação e contentamento ante a perspectiva, e ao pensamento de confundir e arruinar seus inimigos.
Porém ele não era um verdadeiro aventureiro. Era um conspirador em escala gigantesca. No entanto não era dotado de audácia, tal como o bisavô. Acreditava na força, na obtenção do poder que lhe permitisse usar força e coerção como um bastão nodoso.
Ele estudou muitos documentos. Deu atenção especial ao estudo de seu cunhado, Christopher Bouchard. Durante longas horas roeu a unha do indicador, e pensou. Depois, careteando de desgosto e raiva fria, fez uma ligação para Christopher, que ainda estava em Robin’s Nest.
— Surgiu algo — disse, em tom confidencial. — Gostaria de falar com você, privadamente. Aqui mesmo. Qual é o mais cedo que pode vir? Praticamente, deve ser já, já. Incidentalmente devo dizer que será de tremenda importância para você.
Christopher estava espantado, e cauteloso. Seu perfil parecia mais agudo quando pensava. Seria possível que o ameaçador e inflexível demônio soubesse de alguma coisa? Mas isso era incrível. Quis tornar a ouvir a voz de Henri, julgar pelo seu tom de voz, pegar uma pista, de modo que disse, amigavelmente:
— Certamente, irei de imediato! De avião. Estarei aí antes da meia-noite. Será tarde demais para vê-lo?
— Absolutamente! — tranquilizou-o Henri, fazendo sua voz soar agradável e amiga. — Quanto mais cedo, melhor. Como eu disse, isto é muito importante. — Com esforço, deixou a voz cair mais, tornar-se incrivelmente amigável: — A propósito, como estão as coisas em casa?
Christopher riu um pouco. Conhecia Henri muito bem. O suíno não sabia disfarçar: a voz sempre o traía.
— Bem, você não vai gostar disto, acho, mas Celeste empacotou Peter e a bagagem abruptamente hoje e se mandou.
Os olhos de Henri se estreitaram e ele sorriu sombriamente. Porém disse, fazendo eco à risada de Christopher:
— Realmente, não é muito bom. Bem, para onde foram, nessa fuga de Herodes?
— Deixei-os em Endur, que Celeste afirmou detestar. Tiveram uma conversa com Annette, que se banhou em lágrimas, com Edith consolando. Celeste explicou que, como Peter começou a escrever sua denúncia de corrupção, precisa da mais completa calma. Peter pareceu meio espantado ouvindo isso, mas está claro que a rapozinha o havia chamado à ordem previamente a respeito de irem embora, pois não fez nenhum comentário. Foram-se rapidamente. Claro, para estar fora de lá antes da sua volta. Celeste cuidou de tudo com presteza e arrogância. Nunca pensei que tivesse tais qualidades. Quando tentei, um discreto protesto, virou-se para mim como um demoninho e disse-me que tratasse da minha vida. — Tossiu, gentilmente: — A propósito: ela está com uma aparência terrível! Acossada por fantasmas, é a melhor descrição. Refugiada de um campo de concentração. Parece estar sofrendo muito com a morte de minha mãe.
— Hein? — falou Henri, apanhado desprevenido: havia esquecido tudo a respeito de Adelaide. — Oh, sim, claro! Foi péssimo para ela...
Acrescentou, depois de um momento:
— Então o verei, antes da meia-noite?
Depois de acabar sua conversa com Christopher, recapitulou o estudo dos documentos. Por vezes olhava fixo o espaço, imóvel como uma pedra. Devia ser hábil, agora. Devia enredar e observar, jogar delicadamente: tudo coisas que desprezava. Às vezes ficava branco de raiva contra a família que ousara conspirar contra ele. Não era sadista, como Christopher, que amava a vingança pelo seu próprio sabor. Devia vingar-se, devia esmagar. Subjugar, destruir, mas só por sua própria proteção e pelo ensinamento, de uma vez por todas, de que ele era o supremo, nunca deviam conspirar contra ele, ou opor-se a ele de maneira alguma. Seu ultraje era o ultraje de um Napoleão: tinha de ensinar que seus medíocres e traiçoeiros irmãozinhos tinham ousado sonhar que poderiam derrubá-lo.
Quando Christopher chegou — muito antes da meia-noite — Henri estava tão calmo e contido como sempre. Christopher lhe dardejou um olhar agudo, mas nada achou naquele rosto largo que lhe causasse algum mal-estar. Henri estava perfeitamente à vontade, mandou vir uísque e soda para seu hóspede, e riu enquanto dizia:
— Suponho que é algo de iníquo chamá-lo aqui a esta hora da noite. Mas acontece que terei de tomar certa decisão amanhã, e... preciso de suas sugestões, e de sua própria decisão.
Imediatamente, Christopher ficou alerta e intrigado. Sentou-se perto de Henri, numa espécie de cômoda intimidade, e ninguém que observasse esse "voraz lobo cromado", como o chamavam os irmãos, suspeitaria da secreta malignidade por trás do sorriso amigável que dirigia ao cunhado.
— Terei prazer em ajudar — afirmou, com grande cordialidade, passando a mão sobre o crânio estreito e delicado.
Henri se recostou na poltrona e o observou com humor melancólico:
— Importa-se se eu passar em revista sua história, por um momento? É muito interessante. Não tenciono ofendê-lo, claro, mas é necessária uma refrescada na memória.
Christopher sorriu e deu de ombros, dizendo:
— Vá em frente.
Henri juntou os dedos e os contemplou meditativamente:
— Estou certo de que todos concordam que lhe foi distribuída uma suja missão por seu colorido pai, Jules, quando deixou o controle de Bouchard & Sons a Armand e fez de você um insignificante funcionário inferior. Sua fortuna pessoal, quando se pensa nas fortunas Bouchards, era comparativamente escassa. Penso que ele fez isso deliberadamente. Bem, não importa. Mas você trabalhou bem por si próprio. E conseguiu Duval-Bonnet, sua própria criação. Alguém já o parabenizou por isso? — E ele sorria zombeteiramente
Christopher riu. Permitiu que Henri tornasse a encher-lhe o copo.
— Sim — continuou Henri com franqueza — você fez bastante por si mesmo. Com ajuda. Minha ajuda — acrescentou, franzindo os lábios comicamente. — E acho que sabe que nunca apoio ninguém sem razão. Você se tem mostrado à altura das expectativas. Há muitos anos que o observo, Chris, e você jamais cometeu um erro.
— Obrigado — falou Christopher, secamente.
Estudou Henri com olhos brilhantes como os de uma serpente, e igualmente cautelosos. Uma fraca pulsação de medo começou a latejar nele, medo desse homem formidável que ainda podia esmagá-lo e pisoteá-lo. E seu ódio aumentou junto com o medo. Misturada a isso, uma raiva gelada ante a condescendência que sentia na voz de Henri, embora amigável e cheia de afeição.
Henri ficou silencioso por um momento, enquanto ele lhe estudava as mãos grandes e poderosas. Depois ergueu os olhos descoloridos e inexoráveis e os fixou em Christopher.
— Você me permitirá ser um pouco sentimental, não? Bem, nós, Bouchards, sempre fomos grandes procriadores, até à dinastia que chegou à nossa geração. Agora já não vamos tão bem. Um ou dois filhos, no máximo. Isso é mau. Vejamos Bouchard & Sons, por exemplo. Armand, que está de fora, e não importa muito, só tem o filho, Antoine, para contribuir com alguma carne para a Companhia. E, de todo jeito, não tenho muito prazer ao pensamento de que os filhos de Antoine podem vir a herdar Bouchard & Sons. Na verdade, já cuidei dessa parte. Compreende que isso lhe é dito estritamente em confidência?
Christopher sentiu uma súbita e bravia excitação. Pousou o copo cuidadosamente e prestou a máxima atenção ao cunhado. A pulsação de medo fora substituída por essa nova emoção. Sorriu:
— Antoine não gostará disso — comentou maciamente. — Ele tem... ambições.
Henri lhe devolveu o sorriso, com uma inclinação de cabeça:
— Sei disso. E gosto de bloquear ambições, quando não se encaixam nos meus planos. Assim, Armand não tem senão Annette, sua filha e minha esposa. Não preciso dizer-lhe que Annette nunca terá filhos, e o que isso tem significado para mim. Quando você casou com minha irmã, tive algumas esperanças. Mas você e Edith parecem tão estéreis como outros na família. Vocês não produziram sequer uma menina!
Mas Christopher estava tão rígido como metal:
— Quer dizer que se tivéssemos filhos, poderiam ser seus herdeiros?
Henri abanou a mão negligentemente:
— Por que não? Edith é minha irmã. Sou louco pela Edith, como você já deve ter descoberto. Contudo, o tempo de ter filhos já passou para Edith. Inconveniências da natureza.
Christopher relaxou subitamente na cadeira, e agora seu ódio volátil se virou contra a esposa a quem ele, de fato, amava profundamente. Lembrou-se do que ela dissera quando de seu casamento, havia catorze anos: "Não, Chris, nada de filhos. Não quero ser responsável por trazer mais nenhum Bouchard a este mundo!" Na ocasião, ele não se importara particularmente. Apenas rira. Para ele era o bastante ter Duval-Bonnet e Edith. Na verdade, detestava crianças. O senso de dinastia não era absolutamente forte nele.
Henri viu-lhe o olhar e sorriu internamente. Abriu as mãos e deu de ombros:
— De modo que aqui estamos: eu, com Bouchard & Sons e sem herdeiros; você, com Duval-Bonnet e sem herdeiros. Gosta da ideia de Bouchard & Sons, embora você já não esteja ativamente ligado à Companhia, indo para o filho de seu amado irmão Emile, Robert?
Christopher teve uma rápida visão íntima de Robert, secretário pessoal de Emile, Robert, o baixote, o escuro, carrancudo e depravado, sempre silencioso e cronicamente ressentido. Dificilmente se prestava atenção a esse rapaz, de voz fanhosa e negros olhos salientes, tão parecido com o pai — só que Robert nada tinha da falsa genialidade de Emile e sua gorda vivacidade. Porém agora Christopher via Robert claramente, e seus lábios finos se apertaram.
Henri inclinou a cabeça e disse:
— A coisa é assim. Quem mais temos? — Acrescentou, quando Christopher não respondeu: — Não admiro Robert. Contudo seu pai já tem isso planejado.
"Então — pensou Christopher — este é o jogo! Nunca deixou escapar nada... Enquanto ia conspirando conosco, tinha em mente o danado do filho, todo o tempo!" Contemplou a visão íntima do sobrinho, com aversão e fúria. Contudo, nada transpareceu na máscara de seu rosto emaciado. Apenas balançou a cabeça, vagarosamente.
— Claro, isso parece lógico — concedeu Henri. — Posso compreender. Emile tem direito a planejar. Afinal de contas, é vice-presidente de Bouchard & Sons. Natural que tivesse ambições pelo filho. Além disso, a mulherzinha de Robert, Isabel, parece que em breve irá presentear Bouchard & Sons com um principezinho. Uma grande procriadora, ao que parece. Há quanto tempo estão casados? Menos de nove meses, mas o ovo está praticamente pronto para abrir-se, não é? E ela é católica, sendo que os católicos não limitam a natalidade. Sim, tudo parece funcionar de acordo com um plano. Emile está se fortificando. Sua fortuna pessoal é enorme. Possui um grande bloco de ações da Bouchard, e grandes porções das subsidiárias. Sua mulher, Agnes, também é muito rica. Depois, a pequena Isabel, neta de nosso louco fabricante de automóveis, Mitchell, herdará muita prata por direito próprio, pois seu avô era realmente um "Ku-Kluxer" e adorador da Bíblia, e não aprovou que o filho, Edmund, casasse com uma católica romana. Entendo que nossa Isabel é seu "bichinho de estimação". — Fitou Christopher com afeiçoada imobilidade: — Não se importa de dizer-me, Chris, se já havia pensado em tudo isto antes?
Christopher estava silencioso. Os dedos descarnados se torciam num movimento letal. Ele odiara o irmão, Armand, mas agora meramente o desprezava desde que descera do poder nas complexidades da Lista. Pelo irmão Emile ele tinha um ódio natural enorme, congênito e incompreensível. Agora, quando via a "conspiração natural", estava dominado por uma sensação de sufocação impotente, como se estivesse a afogar-se.
Henri mexeu-se na poltrona, suspirou, e ergueu as sobrancelhas. Ao leve som que Henri fez, Christopher estremeceu visivelmente, lentamente fixou os olhos no rosto de Henri. Disse, quietamente:
— Você. Você pensou em algo, não pensou? Você não vai deixar que Bouchard se vá tão facilmente, vai?
— Não! — disse Henri, francamente, após um momento. — Não vou. Por isso você está aqui.
Ouvindo isso Christopher sentiu um tal alívio que ficou realmente fraco. Nunca depreciara o poder de Henri Bouchard. Em outro homem ele chamaria a isso ingenuidade, essa crença na onisciência de seu cunhado. Sua voz estava rouca ao dizer:
— Sim. Continue.
Mal podia conter-se. Levantou-se, rápido, caminhou abaixo e acima por um ou dois minutos, passando as mãos no crânio pequeno e ossudo. Depois tornou a sentar-se, alerta como um lobo magro. Seus olhos começaram a cintilar de maldade sorridente.
— Adiante, adiante! — repetiu.
— Pensei longamente num meio de sair dessa — continuou Henri, genialmente. — Planejei um meio desde o início: Celeste.
À menção do nome da irmã, Christopher se endireitou na poltrona, com um movimento de quase violenta energia. Fitou Henri com ferocidade fria, porém furtiva.
— Sim, Celeste! — murmurou. Respirou fundo: — Mas ali também não há esperança de filhos. Sabe disso. — Seus olhos começaram a pular em suas cavidades alongadas.
— Talvez não agora — falou Henri, maciamente — não com Peter. Não. Mas comigo... sim.
Christopher mal podia respirar, depois dessa espantosa declaração. Inclinou-se para diante, apertando os braços da poltrona. Suas feições estavam vivas, fluidas, brilhantes:
— Você quer dizer?...
— Quero dizer — falou Henri com equanimidade — que pretendo em breve divorciar-me de Annette. E casar com Celeste. Depois que aquele coelho tossidor, Peter, morrer. E morrerá logo, é o que lhe garanto.
Christopher recostou-se na poltrona. Depois, subitamente foi sacudido por uma repugnante e terrível alegria. Sua pequena Celeste! Então estava tudo ótimo! Tudo ótimo! Esqueceu tudo, ao pensamento de Celeste. E então lembrou-se de Emile e o filho, Robert, e de repente pôs-se a rir alto, um som agudo e desagradável.
Embora Henri estivesse bem cônscio da paixão de Christopher pela irmãzinha, ainda assim ficou espantado. E uma compaixão rara nele o agitou um pouco. Sempre acreditara haver algo mais que um pouquinho incestuoso no amor de Christopher, com muito de paternal. Mas nunca se havia dado conta da extensão de tudo isso. Sabia que Celeste amava o irmão mais moço, mas também o temia e tinha certa aversão por ele, especialmente desde o casamento com Peter. Daí a compaixão de Henri. Parecia-lhe deplorável que tanto amor, tanta feroz proteção, tanta sinceridade e devoção inexorável pudessem haver brotado de um homem tão implacável e tortuoso para uma irmã cujo amor, nesses últimos anos, fora apenas indiferente. Todo homem tem o seu ponto fraco. O de Christopher era Celeste. Novamente Henri sentiu piedade.
Tinha outro pensamento: talvez agora não fosse necessário prosseguir com seus planos. Talvez Celeste fosse o bastante. Olhava para Christopher fixamente. Não, não faria mal nenhum apelar também para sua rapacidade. Amor e rapacidade: uma combinação invencível.
Disse, em tom bondoso:
— Por que tão surpreso? Certamente sabe que nunca desisto? Deve saber que eu sempre quis Celeste, e pretendia tê-la algum dia. — Sorriu fracamente: — E minhas intenções sempre foram honradas, garanto-lhe. Outrora, ela pensou que me odiava. Na verdade, nunca o fez. Voltou completamente condescendente. Quando Peter morrer, não haverá dificuldade. Mas, naturalmente, tudo isso é absolutamente confidencial, como sabe. Celeste e eu tivemos uma conversa, naquela noite em que sua mãe morreu. Está tudo arranjado.
Henri continuava a observar Christopher firmemente, olhos apertados. Fora tão fácil... Novamente sua piedade se agitou. Ele não tinha a menor intenção de divorciar-se de Annette e sua fortuna enquanto Armand vivesse.
Mudou para uma posição mais confortável na poltrona, tornou a encher o copo de Christopher que, ainda exultante, pegou-o automaticamente e bebeu.
— E agora — disse Henri, com deliberada mudança de tom — acabamos com os sentimentalismos. Naturalmente, não havia necessidade de toda essa explanação. Você deve ter sabido disso sempre. Não o chamei para discutir uma coisa tão óbvia. Era para algo totalmente diferente, algo imediatamente importante.
Christopher acordou de seu sonho de triunfo e alegria com um estremecimento, e uma nova cautela. Como podia haver esquecido! Com dedos trêmulos buscou sua cigarreira de platina, acendeu um cigarro. Porém o cigarro ficou secamente pendurado em seus lábios, enquanto ele pensava. Podia erguer uma mão assassina contra o irmão de sua mulher; poderia regozijar-se, num regozijo mortal e virulento, com a queda de Henri Bouchard. Porém o marido de Celeste era outra questão. Todo o triunfo e a alegria que dele fluíam se congelaram. De repente, sentiu-se muito doente.
Henri viu tudo isso. "Sim — pensou — tinha toda a razão. O amor não era tão invencível quanto a rapacidade." Via agora, pela constante vibração das pálpebras de Christopher, que ele estava subitamente conspirando outra vez. Estava além das suas forças tentar separar Celeste de Henri, como proteção a seus próprios planos. O pensamento estava causando a Christopher uma verdadeira agonia mental. Mas por trás disso estava a sua rapacidade. Henri soube o exato momento em que o amor de Christopher perdeu a luta para a sua avidez todo-poderosa. Foi então que Henri tornou a mexer-se, e sua piedade se fora inteiramente, substituída pela maldade implacável.
— Voltemos aos negócios, Chris. Passa de uma hora da manhã e ainda não chegamos ao que importa.
Porém Christopher estava mergulhado profundamente em seu caos particular. Henri teve de altear a voz para trazê-lo de volta. Ele estremeceu. Os olhos cor-de-cromo haviam perdido todo o brilho: estavam desvairados. Perturbado, mal entendeu as palavras iniciais de Henri:
— Vamos reduzir a coisa ao essencial. Sabemos que Hitler ocupará a Polônia em poucos meses, talvez mais cedo. Haverá guerra. A Inglaterra e a França atacarão Hitler. Terão de fazê-lo: desta vez estarão apavoradas. É agora ou nunca. Mas você conhece tudo isso...
Christopher nada disse. Mas agora estava completamente alerta. Tivera um choque. Obrigava-se a se recuperar.
— Tem sido firme crença minha, pelo menos tornou-se minha crença recentemente, que não podemos negociar com Hitler — resumiu -Henri. — Você, Chris, e alguns dos outros não concordavam comigo. Presumo que ainda discorde?
Agora Christopher esqueceu tudo só para ouvir intensamente. Voltou-lhe a vaga pulsação do medo, porém mais forte agora, latejando pesadamente em seu peito e suas têmporas. Olhou Henri fixamente em silêncio por alguns momentos, antes de sorrir facilmente, e erguer a mão num gesto de imploração.
— Ainda penso que podemos negociar com Hitler — falou.
Henri balançou lentamente a cabeça:
— E eu sei que não podemos. Mas isso é história antiga. Já voltamos a isso uma dúzia de vezes. Não quero discutir com você. A única coisa em que concordamos é em que a América não vai entrar em nenhuma guerra maquinada na Europa.
Christopher acenou de cabeça:
— Cuidaremos disso.
— Como todos concordamos antes, uma guerra nos arruinaria. Roosevelt se inclina para um governo dominador, ou pelo menos uma forte forma de socialismo. A guerra, se entrarmos nela, será para ele uma dádiva divina. A América se tornará o paraíso do Homem Comum. Nesse curral, a civilização será pisoteada sob cascos. Não que não apreciemos os bons serviços que o Homem Comum nos prestou e continuará a prestar no futuro! Você pode sempre contar com as Massas para ir grunhindo, em tropel, e mastigando para onde você as dirija. Suínos!
— Sim — disse Christopher sorrindo e recordando. — Cada vez que nosso santo reverendo Halliday envia seu veneno sonoro pelo rádio, há a ameaça de um massacre organizado, os poloneses de Detroit se preparam para puxar barbas de judeus, os aristocráticos Oakies do Sul acariciam cordas e sonham linchar negros, e Mitchell, anjo da guarda de Halliday, massacra outro sindicato em suas fábricas de automóveis baratos. A populaça nunca aprende, graças a Deus.
— Graças a Deus! — Henri lhe fez eco. — E assim, se tivermos guerra, a populaça seguirá Roosevelt no socialismo, e mugirá por nossos escalpos. No passado, fizemos bom trabalho com as massas. Não posso confiar em que continuaremos um trabalho igualmente bom se entrarmos na guerra. Quando a coisa se torna uma escolha: os camponeses se empanturrando ou odiando outros, preferem o empanturramento. Roosevelt lhes enche a barriga; nós lhe damos ódio. Eles preferem seus ventres.
— Entretanto — disse Christopher — as massas instintivamente amam o fascismo. Podemos contar com isso. Amam a bota e o chicote. Isso lhes proporciona uma espécie de orgasmo... uma volúpia. Não são os alemães os únicos perversos. As massas amam matar e torturar. Deem-lhes a oportunidade, e elas a aproveitarão, gritando de alegria. Por isso o fascismo é tão popular. Porque seria popular também aqui.
Henri o contemplou por um momento:
— No entanto o fascismo, embora pessoalmente me atraia, não vingaria na América. Não quererei servir a nenhum amo. E, acredito, concorda comigo?
— Certamente! — falou Christopher, maciamente.
Agora o medo estava forte, um gosto metálico em seus lábios, Henri parecia crescer diante dele. Tornar-se gigantesco e terrível e ameaçador. Mas Henri estava rindo, levemente:
— Não que haja perigo de real fascismo na América. Conhecemos os limites. Para nossa própria sobrevivência. Mas receio que isso seja mau para os negócios. Quando chegar a guerra, teremos a nossa maior oportunidade. Na América do Sul. Quando a Alemanha estiver envolvida na guerra, será incapaz de controlar suas linhas aéreas na América do Sul: aí teremos a oportunidade de assumir o controle.
Christopher moveu-se imperceptivelmente na poltrona, mas deu a impressão de inclinar-se para a frente, observando Henri, de olhos semicerrados.
— Tenho agora a oportunidade de obter o controle da Eagle Aviation Company — explicou Henri, impassível: — Foi-me oferecido. A ação está abaixo de cinco dólares a quota. Porém eles têm planos e patentes já prontos para grandes aviões de passageiros que podem facilmente ser transformados em bombardeiros.
Christopher nada disse. Estava mais branco do que nunca.
— Agora — comentou Henri, com um gesto casual — sua companhia, a Duval-Bonnet, só fabrica aviões de combate. A Eagle Aviation também fabrica aviões de combate, e possui patentes para aviões de caça. Enquanto você, você mesmo, aperfeiçoou aviões quanto à velocidade, não tem facilidades para fabricar grandes naves, nem os motores para eles. Nossa própria subsidiária, Giant Motors, está fabricando o tal motor para os aviões planejados pela Eagle Aviation.
Christopher sentia-se asfixiar. Pôs a mão, momentaneamente, na garganta. Mas não denunciou de outra maneira nada do que estava pensando. Através de um nevoeiro brilhante viu que Henri sorria brandamente.
— Se eu adquirisse a Eagle Aviation poderia pôr Duval-Bonnet fora dos negócios. Mas — disse ele — algo de pouco fraternal seria isso, naturalmente. E, claro, isso não passa de um pensamento, como você pode imaginar. Mas tive um pensamento muito agradável, que vai interessar-lhe.
"E é este: vou adquirir a Eagle Aviation. Você pode promover a fusão da Duval-Bonnet com ela, sob o nome de Eagle Aviation, com você, naturalmente, como presidente com um excelente salário. Isso deve atraí-lo. Sua fortuna pessoal, da maneira em que estão as fortunas Bouchard, não é muito grande... graças a seu delicioso pai. E, como presidente das companhias incorporadas, você estará no controle do mais poderoso monopólio de fabricação de aviões do país.
Confuso, entorpecido, Christopher — ouvidos zunindo, coração em tumulto — apenas podia fitá-lo. Súbito, não pôde conter-se. Literalmente pulou. Começou a caminhar abaixo e acima na sala, rosto cor-de-cinza, olhos faiscantes. E Henri o observava, sorrindo horrivelmente consigo mesmo. Christopher parou diante dele, abruptamente.
— O que deseja? — perguntou, em voz baixa e trêmula.
— Sente-se, Chris. Nunca o vi tão agitado. — Henri sorria calmamente. — Por Deus!, terá que ser sempre uma questão de barganha entre nós dois?...
— Sim — afirmou Christopher, num tom de voz que informou Henri que ele estava a ponto de estourar. — É sempre uma questão de acordo. Que quer você?
— Sente-se, já disse. Assim é melhor. Agora, podemos falar razoavelmente. Que quero? Quero a Eagle Aviation. Quero você como presidente. Afinal, você é marido de minha irmã. A propósito, você sabe que eu ainda controlo os bônus e quotas de Edith em Bouchard. Achou que isso não era generoso de minha parte, não achou? Gostaria de controlá-los, como marido dela. Infelizmente, penso de modo diferente. Nada de ressentimentos, espero?
Christopher não respondeu. Sentou na beira da poltrona, as mãos ossudas agarrando os joelhos. Não podia despregar os olhos de Henri.
— Claro, isso ainda é passível de discussão — continuou Henri. — Posso mudar de ideia... amanhã. Apenas queria conhecer sua reação à minha sugestão.
— Você apenas queria... — repetiu Christopher, com um sorriso fraco. E não pôde dizer mais nada.
— Na eventualidade de que se consume o acordo, e você esteja disposto a fundir a Duval-Bonnet com a Eagle Aviation, tornando-se seu presidente com, digamos, quatro vezes o seu salário atual, reterei cinquenta e um por cento das ações preferenciais das duas companhias, o que me dará o seu controle. Naturalmente, você se dá conta de que eu lhe fornecerei os Giant Motors e os instrumentos Spark.
— Então isso lhe dará também o controle — falou Christopher numa voz sufocada — sobre Duval-Bonnet, a minha própria companhia.
— Apenas — interveio Henri suavemente — figurativamente. Não estou interessado em aviação. Tenho Bouchard & Sons, e em breve estaremos ocupadíssimos fabricando armamentos. A propósito, já lhe disse que na próxima segunda-feira também comprarei a Concord Ars? Ótima companhiazinha! Pretendo fundi-la com a Kinsolving Arms, depois de uma conversa com Francis.
Christopher estava sem fala. Só uma vez em sua vida ele já fora tão abalado. Sua rapacidade clamava, nele, exultante! Mal podia conter-se. Mas forçou-se à imobilidade, obrigou seus olhos a sustentar os descorados olhos do terrível Henri Bouchard.
— Você quer alguma coisa! — sussurrou.
Houve na sala um breve silêncio. Henri recostou-se na poltrona e vigiou o cunhado com calma atenção.
— Sim — falou, quietamente — quero algo: quero você!
Christopher ouviu tais palavras com terror imediato. Pensou:
"Será que ele sabe? Será possível que saiba? Como poderia? Inacreditável que esse formidável suíno possa ter ouvido o mais leve murmúrio! Mas, se sabe, então vai se mexer. Ainda há tempo!" Ainda havia tempo para esmagar os conspiradores, e Christopher não tinha ilusões de que seria poupado...
Naquele silêncio, os dois homens se fitaram. Havia um som cantante no cérebro de Christopher, uma dor em seu coração. Saboreou o amargor do completo terror. Tentou penetrar a larga máscara inexpressiva que era o rosto de Henri. Mas nada pôde ler.
Mesclada ao terror havia a crescente onda de sua rapacidade exultante. Estava com mais de cinquenta, mas, comparado aos outros Bouchards (que, ele sabia, riam dele pelas costas), era um ninguém. A enorme fortuna da esposa ainda era controlada pelo irmão: o marido não podia tocá-la. A mãe de Edith dera a Henri esse controle, por maldade, devido ao ódio pela filha. Christopher, exilado na Flórida, era um nada aos olhos dos parentes, até mesmo uma figura burlesca, graças a Henri Bouchard. Agora chegara a oportunidade de dar-lhe poder igual ao de qualquer outro membro da família — exceto Henri. Era o preenchimento de um sonho sonhado durante centenas de noites de ódio, insones e corrosivas.
Gritou subitamente, acima das suspeitas e do terror:
— Que quer você?
— Por Deus! — disse Henri brandamente: — Já lhe disse. Talvez tenha havido uma mudança em meu coração, também. Afinal de contas. Edith é minha irmã. Gostaria de vê-la com maior frequência. Depois, como já lhe disse, você me impressionou com sua habilidade. Há anos que o venho observando. Quem mais escolheria eu naturalmente para a Eagle Aviation, a não ser você? Quem mais, aqui, é tão familiarizado com as coisas da aviação? Pode apontar-me alguém mais na família?
Christopher estava quieto. Mas seus olhos estavam pregados nos de Henri, com renovado medo e confusão.
— Outra coisa! — disse Henri, no tom mais gentil. — É uma questão de precaução. Não que eu não confie implicitamente em você, claro. Porém, para proteger meus interesses, terei meus próprios homens na companhia... para assisti-lo. Só para assisti-lo, naturalmente.
"Ele sabe!" — pensou Christopher. E imediatamente ficou confuso de susto.
— Quero que esteja comigo — disse Henri, ainda mais gentilmente. — Mas quero confiar em você. Sabe, não gostei da história de Peter a respeito de Brouser e Schultzmann. Apesar de, estou certo, não ser verdade. Entretanto, isso me perturbou. Não gosto de... mentiras.
Christopher se levantou outra vez, andou pra cá e pra lá, passando as mãos na cabeça — velho gesto seu, parecido com o do pai. E Henri o observava, sem expressão.
Aceitar tudo isso significava o abandono da conspiração, da associação com os outros, seu sonho de poder e vingança. Porém — ele pensou, em sua febre — já não havia necessidade de vingança, devido ao que Henri se propunha fazer com Celeste. E conspirações podem ser descobertas, conspiradores procurados e destruídos. Embora os conspiradores fossem poderosos, a conspiração ainda era precária, cheia de perigos mortais. O que Henri oferecia era seguro e certo. Contudo, aceitar faria dele um dos homens de Henri. Nada poderia fazer contra Henri sem destruir a si mesmo.
"Ele sabe" — ele se repetia, selvagemente.
Aqui estava o meio de escapar de uma conspiração sobre a qual sempre tivera suas dúvidas. E essa fuga lhe traria riqueza, poder, triunfo! Isso o forçaria a trair, porém trair seus parentes não o aborrecia nada, nada! Seria seu triunfo pessoal sobre eles, depois de anos de ridículo e de risos não muito secretos.
Parou abruptamente diante de Henri, e Henri viu todo o mal que havia nesse homem, sua exultação cruel, sua decisão selvagem e mortal.
Contudo, Henri disse:
— Repito: devo confiar em você. E — acrescentou com um sorriso — você não ousará fazer com que eu não confie.
Olhou para o cunhado e esperou, impassível.
Christopher respirou fundo:
— Posso oferecer-lhe uma sugestão? — perguntou, numa voz esquisita. — Livre-se de Antoine, meu brilhante sobrinho. Imediatamente.
"Então — pensou Henri — está feito!"
— Sim? — falou, quietamente. — Antoine? Alguém mais? Christopher tornou a sentar-se. Sua respiração ainda vinha em rápidos haustos.
— Acho que devemos ter uma conversinha.
Capítulo 19
Peter escreveu, febril e rapidamente:
"Esta é uma história contada à classe média da América, do mundo. Os poderosos não precisam dela: conhecem a história muito bem. As massas são incapazes de esclarecimento, devido a uma imaturidade biológica da mente que só séculos de evolução podem erradicar. Embora sofram nos dias que correm, sofrem como sofrem os animais, cegamente, estupidamente, sem questionar, sem sequer desejar mudar. As forças da reação, o vigor do status quo não residem nos poderosos, como se acredita popularmente, nem na cautelosa classe média, como eles próprios julgam, mas nas massas. Por conseguinte, a tentativa para esclarecer as massas é um fracasso. O velho aforismo de César, de que a populaça só deseja pão e circo, ainda é válido. Se César puder fazer com que esses circos sejam sangrentos, ressoando com os gritos dos moribundos, as massas ficarão felizes, contentes, satisfeitas, e voltarão a seu tugúrios e sarjetas sem o menor desejo de melhorar a própria sorte. Daí a finalidade dos circos.
"Portanto, este livro não é dedicado às massas iletradas — realmente os maiores sofredores nas mãos de seus senhores. Pois não são as massas que reformam governos, que destroem tiranos, que derrubam os opressores. Os homens que lideram as massas, homens de boa vontade, de compaixão, piedade, justiça e indignação, vêm, na maioria dos casos, da esclarecida e inteligente classe média. Nem eu desejo o apoio e a ira dos intelectuais, esses eunucos suaves impotentes que pouco sabem de governanças, muito de livros, e absolutamente nada de homens. Suas ácidas indignações são impotentes. Seus gritos são gritos de crianças zangadas. São ignorados pelos tiranos e contemplados com desprezo pelos homens sadios e vigorosos.
"Assim, este livro é dedicado àquela classe ainda pouco corrompida: a classe média do mundo. Pois essa é a classe que tem dado a cada república, cada democracia, os soldados mais sóbrios, a melhor arte, os governos mais fortes e decentes, os maiores melhoramentos sociais, a estabilidade mais firme, a mais limpa moral espiritual, a mais judiciosa indignação, as reformas mais sólidas, a ciência mais avançada. Destruída essa classe, toda a nação perece — seja destruída pelos poderosos (permanentemente conspirando contra ela), seja pelas massas (que permanentemente a invejam e odeiam). Ela permanece só, forte, sadia, por vezes desnorteada, quase sempre saudável, e sobre isso e seu esclarecimento depende toda a estrutura da civilização, toda a progressiva evolução do homem, toda a esperança do futuro.
"As massas são facilmente mantidas em sujeição pelos opressores. Na verdade, preferem a sujeição, governo fortemente paternalista e orientação autocrática, pois lhes faltam os órgãos com que pensar, pesar, julgar e planejar.
"Na América, hoje em dia, a conspiração contra a classe média já foi tramada, pronunciada sua sentença, sua destruição planejada. Isso foi feito na Alemanha, por Hitler. Se tais coisas fossem permitidas na América, veríamos o fim da civilização, o reduzir-se a Terra à habitação de escravos e príncipes, cuja condição, embora amada pela Igreja e procurada pelos senhores, é tão horrível, tão repugnante, tão espantosa que o último dos homens de boa vontade deveria pôr um nó corrediço em torno do pescoço e morrer de desespero.
"A você, pois, a grande, sólida, saudável e esclarecida classe média a minha saudação, todas as minhas esperanças, todas as minhas preces sabendo que só você pode salvar o mundo dos homens, sabendo que só você pode mudar a América de uma República realista para uma Democracia, sabendo que só por sua própria vontade você pode perecer, e todos nós com você.
"Esta, América, é a história de seus inimigos.
"Você acredita ter muitos inimigos. É esse obtuso e estúpido político, ou aquele outro. O ‘Comunismo’, talvez. É este homem que deseja mantê-la isolada do mundo dos homens, ou o homem que você amargamente denuncia como ‘provocador de guerra’. É este Presidente, ou este ex-Presidente, é Hitler ou Winston Churchill ou Stalin. É esta religião, ou aquela raça. Você não gosta deste homem de nariz comprido? Não gosta do inglês, ou do francês? Talvez os judeus a aborreçam? Talvez os italianos a irritem com sua ferocidade, ou sua alegria, ou suas risadas? Seus sacerdotes e professores lhe disseram que todos os homens são irmãos, e que Deus é seu pai. Mas alguém lhe disse, não foi, que isso é absurdo, perigoso, fantástico, o sonho de loucos que a levaria à guerra e à morte e à ruína econômica?
"Sim, você tem muitos inimigos. Mas os que lhe foram apresentados não existem: apareceram conjurados pelos seus verdadeiros adversários, por seus senhores na América que não conhecem raça nem nacionalidade, mas conspiram com seus camaradas secretos em cada país do mundo — não apenas contra você, mas contra todos os seus irmãos sob todos os sóis, e contra o próprio povo deles.
"Você pensa que seus senhores e inimigos americanos odeiam, temem e desprezam seus companheiros conspiradores na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, no Japão, na América do Sul, na Rússia? Se o faz, você é ingênuo e estúpido. Você é perigoso em sua ignorância. E em seu perigo, a América pode morrer.
"Se houvesse guerra — e haverá, que Deus se apiede de nós! — pensa que seus inimigos americanos recusarão firmemente negociar com seus inimigos de além-mar? Pensa que os senhores, os Bancos, as indústrias, automaticamente erguerão muralhas uns contra os outros? Novamente você é ingênuo e estúpido. Enquanto você morre, enquanto você se arrebenta de fome, enquanto você luta, reza, espera e se sacrifica, seus senhores americanos estarão alegremente reunidos com seus co-conspiradores na Suíça, talvez, ou qualquer outro local "neutro", e trocas financeiras e de utilidades e de materiais de guerra serão facilmente arranjadas, passados dinheiro e créditos — tudo num espírito da mais afetuosa camaradagem, e seu destino decisivo decidido numa atmosfera que transcendeu nacionalidade, raça e fronteiras. Você provavelmente estará em luta mortal com a Alemanha. Mas quando bretões e americanos estiverem lutando, metidos até os joelhos na lama e no sangue, contra alemães e italianos, e outros, os banqueiros americanos, os banqueiros britânicos, e os banqueiros alemães estarão calma e afetuosamente reunidos para debater trocas de créditos — em algum lugarzinho anônimo. Pensa que seus jornais lhe contarão isso? Outra vez, você é pateticamente ingênuo. Nenhuma reportagem chegará a seus ouvidos.
A cortina negra será puxada sobre os conspiradores e você nunca saberá...
"Enquanto a América estiver, febrilmente, a armar-se e a seus aliados futuros, seus senhores americanos estarão cuidando de embarques de utilidades vitais de guerra para os alegados "inimigos" através de cartéis internacionais. E essas necessidades de guerra, traduzidas em armas, balas e bombardeiros, serão dirigidas contra as vidas de seus filhos e de seus amigos.
"Foi Hitler quem inventou o fascismo, ou Mussolini? Olhe mais de perto, irmão, nesses imponentes escritórios por trás da fumaça dos moinhos e das fábricas, naquele boudoir, naquele suave salão de jantar onde as resplandecentes damas e seus benfeitores se sentam e devoram os ricos do mundo, naquele poderoso Banco de portas de bronze, nas salas da bolsa internacional de valores, e por trás daquelas catedrais altaneiras em meio de cidades famintas. Nesses lugares a conspiração contra a humanidade foi inventada, planejada, executada em ação de âmbito mundial.
"Quando a Manchúria foi invadida, quem orientou para que a matéria fosse tratada obscuramente, que seu antagonismo fosse sutilmente despertado contra os chineses? Quando a Etiópia foi torturada, quem inspirou os jornais com comentários entusiásticos de que Mussolini ‘fizera os trens da Itália correr no horário?’ Quando a República Espanhola foi atacada pelos mercenários da reação, escravatura e exploração e ignorância, quem foi que lhe disse que a República era ‘comunista’, criminosa, assassina de inocentes e de padres? Quem o ensurdeceu contra os gritos dos atormentados e dos desamparados, e lhe embotou a consciência quando seu irmão estava morrendo? Quem distorceu as notícias vindas da Rússia, quem inspirou sua desconfiança e ódio, quem ameaçou com vagas calamidades a menos que a Rússia fosse completamente derrotada e dominada, e negou embarques para a Rússia a não ser que fossem pagos imediatamente em ouro — enquanto outros embarques eram enviados à Alemanha através de cartéis internacionais sem ouro? Quem chamou a Rússia de ‘descrente, ímpia, conspiradora contra o mundo, contra a ordem, contra Deus, contra a moral’? Quem, quando o mundo de homens sãos, civilizados e decentes era traído em Munique, saudava o senil Chamberlain como um grande homem, um herói?
"Não é tarde demais. Você só tem de olhar, de compreender, de aprender. Só tem de afastar as ricas cortinas e ver seus desprezíveis inimigos cochichando em segredo — os homens de todas as nações, que inventaram Hitler, Mussolini, Franco, e suas abomináveis conspirações contra a espécie humana.
"Entre esses homens, seus inimigos americanos são os mais poderosos. Esses homens decidiram que forma de governo cada país deve ter e manter, eles os traíram com seus eternos inimigos, roubaram os recursos naturais de suas terras natais, elevaram loucos ao poder e autoridade sobre povos subjugados, atraíram sacerdotes e príncipes da Igreja para seu secreto exército de destruição, estenderam as mãos rapaces aos cantos mais distantes do mundo, decretaram como você deve viver, o que deve ler, comer, usar e pensar, que políticos deve apoiar, que bons homens deve matar, que vítimas você- deve torturar ou ignorar, que exército deve manter ou não manter, se deve viver, ou morrer em agonia e ódio.
"Pois esses homens têm tal controle sinistro e indisputado sobre os destinos do povo americano, e o destino do mundo, que podem decretar o que vender, quanto vender, quanto produzir, e a que preço, em qualquer lugar da Terra. Podem decretar a quem eleger como Presidente dos Estados Unidos, qual deve ser nossa política externa, que modificações ocorrerão em nosso governo, ou mesmo decidir sua derrubada! Quem deve sentar nos tronos da Europa, quem deve controlar as chancelarias, quem deve marchar, quem deve aposentar-se, quem deve morrer? Essas decisões estão nas mãos de tais homens.
"Seus mercenários e lacaios no Congresso, suas organizações de caráter fascista, de combate aos sindicatos trabalhistas, seus clérigos assalariados, seus partidários homens de negócios e industriais, seus jornais subornados e editores traidores, sua máquina política, têm, como meta final, a substituição do poder político do povo americano, e o estabelecimento deles mesmos como ditadores supremos sobre todas as fases da vida do mundo.
"Povo da América! Que agonias tem você suportado nas mãos desses homens, em guerras, em fomes, em desespero, em desesperança e em pobreza, em exploração e perda de liberdade! Que agonias ainda terá de sofrer — a menos que olhe atrás das paredes dos jornais, dos políticos, dos clérigos e do silêncio, paredes que eles construíram em torno de si mesmos, para esconder-se...
"Pois decidiram que você perca sua liberdade, seus privilégios, suas liberdades civis, sua dignidade, sua honra e sua virilidade. Criaram Hitler como uma defesa contra o comunismo. Se a defesa está agora ameaçando tombar sobre nossas próprias cabeças, seus inimigos olharão além das ruínas para o futuro. Eles não quiseram guerra com sua criatura, Hitler. Esperaram que ele pudesse ajudá-los a subjugar e escravizar você. Se ele não o fizesse — se nós, o povo americano, devêssemos erguer-nos e destruir o monstro que eles criaram — então mudariam rapidamente de planos, conspirariam para que o fascismo não seja totalmente destruído na Europa, e se assegurariam de que o futuro bicho-papão seja a Rússia, de que nenhum homem de boa vontade entre na Casa Branca, de que uma forma odiosa e perigosa de nazismo seja instituída na América. Trabalharão incansavelmente para essa finalidade, haja guerra ou não.
"Este livro é escrito para contar-lhe o que deve saber. É planejado para fazer com que você deixe de olhar os seus circos, suas bugigangas e seus brinquedos baratos — e fixe os olhos em seus reais inimigos."
Lentamente a pena escorregou dos dedos de Peter num gesto de completa exaustão. Inclinou a cabeça na mão magra e fechou os olhos. Com frequência sentia essas ondas de fraqueza, que provinham mais da alma que do corpo devastado. Por trás das pálpebras viu círculos e bolas de fogo, girando numa nebulosa de azuis e carmesins e amarelos. Apertou as mãos contra eles. Agora, uma familiar debilidade o dominou, durante a qual seus pensamentos turbilhonavam numa espiral de névoa, formada de dor, e flutuava afastando-se dele.
Em meio a essa desintegração, ele só tinha um pensamento claro: como era possível abranger, entre as estreitas páginas de um livro, toda a incrível e gigantesca história? Apenas podia aflorar aqui e ali, como relâmpagos brilhando nos mais altos picos de montanhas, mas deixando as profundas fendas dos valores, os oceanos e os rios tumultuosos em completa escuridão. Ele só podia tornar audíveis algumas vozes trovejantes, vindas de distâncias várias. Seu quadro, portanto, devia ser desconjuntado, incoerente, e, por isso, cada vez mais fantástico e inacreditável. As pessoas só acreditavam em pequenas histórias comuns. Consideravam os ecos de gigantes, o estremecer de seus passos, suas silhuetas esfumadas, como fantasia, a pavorosa quimera criada por escritores de histórias de fadas ou de lendas épicas. Podiam até achar que imagens tão imensas teriam uma qualidade heroica ou semidivina, que suas almas mesquinhas deviam admirar. O povo sempre anseia por heróis, por super-homens, por deuses olímpicos. Ele, Peter, devia ser extremamente cuidadoso em não apresentar tais imagens à mente do público, por sua adulação infantil. As imagens deviam ser terríveis, mas também odiosas. Deveria ser mostrado que, afinal de contas, eles não passavam de homúnculos, porém mais dotados que a maioria de avidez pelo poder, de impiedade, de crueldade e rapacidade e traição. Mas como fazer isso, quando apenas os picos mais elevados poderiam ser mostrados pelos relâmpagos, quando apenas as mais estupendas alturas podiam ser reveladas... no limite de um livro?
Abriu os olhos e mirou em torno de si. Sua mesa estava empilhada de dados, centenas de páginas deles, e cartas, e livros. Devia escrever uma verdadeira livraria se devia produzir mesmo uma história bidimensional. Mais ainda: não podia citar nomes, por medo de processos. Apenas podia dar "pistas", dotar seus verdadeiros caracteres com apelações estranhas, desfigurar mais do que um pouco, realçar fora de proporções, reduzir outros fatos a um escuro pano de fundo. Ele devia fazer tudo isso, apenas para ter o livro publicado.
Sua cunhada, Estelle, mulher de Francis, instara com ele para que escrevesse "algo que atraísse a atenção de Hollywood, Peter, se você realmente deseja passar uma ‘mensagem’ ".
Como, então, poderia alguém despertar essa imensa multidão americana, essa multidão cantante, amante dos esportes, egoísta, estúpida e generosa que amava apenas pequenos prazeres? Ao pensar isto, Peter era dominado por uma angústia de amor, raiva e sofrimento. Como a América poderia ser grande, quão nobre e forte se apenas ouvisse, compreendesse e pulasse de pé com um grito de indignação e de fúria?!
Sua impotência o oprimia. Tanto a dizer, tanto a contar e revelar, e tudo isso devia passar através do fino rangido de sua pena e das gotas de uma tinta desenxabida! A história, terrível e total, devia ser reduzida a rabiscos que provavelmente apenas atrairia os olhos de uma pequena minoria... E hora a hora a destruição se aproximava mais rapidamente, despercebida entre os clarões das Main Streets, não ouvida entre as obscuras delicias dos cinemas.
A Noite de Valpúrgia se vinha fechando sobre a humanidade, mas o profeta gesticulava sozinho nos bazares desertos, e o eco de sua voz lhe voltava das praças vazias! Os vendedores e os compradores haviam afluído para ouvir a voz insegura de alguma prostituta na cidade...
Da pilha de cartas junto à sua mão Peter tirou uma e a releu. Era de seu parente Georges Bouchard, o editor:
"Há de lembrar-se, Peter, que seu livro The Terrible Swift Sword não foi bem recebido pelo público. As pessoas não estão interessadas em não-ficção -— pelo menos, ainda não. (Pessoalmente, creio estar chegando o dia em que estarão.) Ainda não estão receptivas para livros como os seus. Ficam apenas perturbadas por eles, e finalmente incrédulas. Não querem ser incomodadas.
Você me dirá que se eu lhe houvesse permitido usar seu próprio nome, em vez de um pseudônimo, o livro teria despertado mais atenção de críticas e de público igualmente. Porém, como lhe disse, havia nisso muitas desvantagens. Mau gosto em primeiro lugar, embora você não concordasse comigo, como de costume. O público não gosta de homens que atraiçoam suas famílias, mesmo quando por uma "boa causa". Depois, havia o ângulo do libelo. Ainda não simpatizo com a ideia de minha família a cair em cima de mim, en masse, nem você o quereria, se pensasse nisso ao menos um pouquinho.
Isso nos traz ao novo livro que me propôs, The Fateful Lightning. Olhei o seu resumo, e pensei seriamente no assunto. E, francamente isso me aterroriza completamente. Que espera conseguir com ele? Realmente pensa que o público americano se importaria com ele, o tomaria em consideração, iria pesá-lo, seria despertado por ele? Como editor de certo gabarito e há alguns anos, discordo de você. Seria apodado de melodramático, insano, bombástico e inacreditável. Além disso, já houve uma verdadeira inundação de livros escritos sobre o mesmo assunto, e não levantaram a mais leve brisa. Então, sua cândida ideia de usar nele seu próprio nome me apavora.
E também estou em posição delicada. Sou um Bouchard: simplesmente não posso ver-me publicando tal livro."
Ele acrescentou (e isso Peter não poderia perdoar):
"É péssimo que já não tenhamos conexões de publicações na Alemanha. Estou certo de que Goebbels apreciaria The Fateful Lightning. Seu livro The Terrible Swift Sword foi recebido muito cordialmente por ele."
Peter comprimiu os lábios pálidos. Continuou a ler a carta: "Entretanto, se você está realmente resolvido a publicar o livro sob seu próprio nome, recomendo-lhe que procure Cornell T. Hawkins, de Thomas Ingham’s Sons. É uma firma antiga de grande prestígio, forte e conservadora, e altamente respeitada. Antigamente só publicava a literatura mais decorosa e textos eclesiásticos, mas parece que um novo espírito vem animando a casa, recentemente. Acho que é influência de Hawkins. Você deve ter ouvido falar nele, pelo menos, embora nunca houvesse mencionado tê-lo conhecido, um grande homem; um grande editor. Posso até afirmar, um grande democrata e aristocrata — embora isso pareça paradoxal. Embora seu ambiente apropriado devessem ser as austeras e brancas paredes de alguma mansão da Nova Inglaterra, ele tem um espírito moderno, frio embora apaixonado, e um intelecto notável. Mesmo que não faça nada mais, ele o ouvirá simpaticamente, e lhe dará algum bom conselho. Pode confiar nele. E quando digo isto, quero assegurar-lhe que raramente o disse de outro ser humano."
Peter atirou a carta para o lado e cobriu com as mãos a dolorida cabeça. Sua exaustão se tornou insuportável. Se fosse mulher, explodiria em lágrimas terríveis. Após longo tempo, deixou cair as mãos e fitou através da janela.
Estremeceu, como sempre, ante o que viu. A partir das paredes da casa, a Endur de Christopher se estendia, uma campina feito um lençol de verdes gramados até os muros distantes e os portões lustrosos. Tudo era completamente rígido e luzia brilhantemente ao vento quente e estéril e sob um sol que parecia uma bola de vidro em chamas. Não havia árvores a refrescar esses vastos relvados, exceto onde, a cada lado da imensa área, duas filas idênticas de álamos pontudos e rígidos, parecendo de madeira pintada de encontro a um descolorido céu de verão, as agudas sombras arroxeadas tão imóveis como eles mesmos. Vazio o cenário radiante, insuportável no calor intenso, pois Christopher tinha aversão a flores. O panorama combinava com o interior do casarão quadrado, com seu espelhante mobiliário de cromo, colocado em seus próprios reflexos contra paredes de vidro ou madeira branca.
Nenhuma curva graciosa da asa de um pássaro amaciava tal cenário de vazio e de ardente radiância. Só os ventos desimpedidos sem obstáculo à frente, secos como o ar que sai das fornalhas, faziam algum som audível na casa ou nos gramados. Esse vento era quase constante. Exacerbava os nervos de Peter. As janelas eram amplas e claras como as de um laboratório, e as cortinas estreitas eram colocadas ao longo das paredes e não das vidraças, de modo que não se podia escapar à ardente austeridade do panorama.
"Estéril como a morte, desapaixonado como o próprio dono" — pensou Peter. Detestava Endur. Sua desolação, sua falta de sombra misericordiosa, seu desabrigo, que parecia o cauteloso desabrigo diante de uma fortaleza onde nenhum inimigo poderia esconder-se, dizia bem do caráter de Christopher. Contudo deveria permanecer aí até que estivesse pronto seu próprio lar, em Placid Heights.
Enquanto contemplava tão amargamente através da janela, a carta de Georges na mão, Peter pensou subitamente no pai, Honoré Bouchard. Muito estranho que pensasse tão frequentemente no pai, agora, e a cada vez a visão era mais nítida, aguda, urgente, mais bondosa. Em todos os anos desde a morte de Honoré no Lusitânia, sua lembrança permanecia com o filho mais jovem, seu favorito, como a gentil melancolia de um horizonte outonal. Foi em 1932 que Peter começou a ter essas cálidas visões, cheias de substância e claridade, como se Honoré, ao vivo, estivesse diante dele, falando. Ele não passava de um colegial quando seu pai soçobrara nos abismos do Atlântico e, com o passar dos anos, a fisionomia e o aspecto de Honoré se haviam tornado apagados, incertos, a voz cava. De modo que era muito estranho que Peter o visse agora tão claramente, e lhe ouvisse a voz tão fortemente.
Capítulo 20
Parecia a Peter — enquanto recordava o pai agora — que Honoré sempre fora atacado por uma espécie de melancolia desesperada, era silencioso, paciente, gentilmente sorridente, e distraído. Nunca se queixara, nunca fora rabugento ou irritável ou desatento, embora por vezes dado a gestos inexplicáveis de silenciosa violência bem no meio de alguma observação casual. Seus três filhos mais velhos — Francis, Hugo e Jean — achavam isso um tanto divertido; a esposa, Ann Richmond, achava aborrecido. Porém Peter, quando viu tais gestos, viu como o sorriso bondoso do pai subitamente se tornava fixo, quase uma careta, e sentiu-lhe o coração ao desamparo com um medo obscuro e muita compaixão. O Honoré que falava, que mantinha uma aparência firme, que ouvia atentamente e com simpatia, não era o Honoré que vivia sob a superfície da carne, atormentado, desesperado, desanimado e sem esperança. Isso Peter sabia, mesmo quando ainda muito jovem.
Não era pequena a parte do presente êxito de Bouchard & Sons que se devia a Honoré Bouchard. Peter, apesar de buscas ansiosas, nada pôde descobrir que justificasse sua esperança de que o pai fora menos inescrupuloso, menos inexorável, menos venal e rapace do que Jules Bouchard, seu primo e amigo. Verdade que fora bom e compadecido, que suas caridades tinham sido amplas e praticamente secretas, que fora simpático e gentil para todos, mesmo em relação à esposa, viciosa e ávida, que deve tê-lo enojado muitas vezes; e que, de um modo estranho, tivera integridade e caráter. Entretanto seguira todos os conselhos de Jules —tanto quanto Peter podia ver — ouvira Jules, reconhecera sua perspicácia e talento. A pesquisa de Peter nada revelou de objetivo que lhe esclarecesse e aligeirasse o coração e o consolasse. O registro de Honoré Bouchard foi aberto a seus olhos, e não havia exemplo de caso em que Honoré houvesse posto o bem-estar da América acima dos lucros, ou a segurança da espécie humana acima do poder em ascensão da dinastia Bouchard.
Mas Peter não se podia livrar da recordação dos profundos olhos castanhos do pai com sua expressão de melancolia desesperada e abstrata meditação. Lembrava-se daquela cabeça redonda com seu topete de cabelo grisalho, a figura vigorosa, os ombros largos e sólidos, o nariz um tanto curvo, e o sorriso bondoso e pensativo. Havia em Honoré um estranho silêncio, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais ouvia.
Por vezes Peter até havia esperado que seu pai tivesse sido um fraco, demasiado fraco para resistir à pressão do primo, Jules, e dos outros, que fosse bom demais para opor-se a eles, ou que tivesse havido nele uma indiferença espiritual ou física que não o deixasse lutar com os outros Bouchards. Mas não tinha havido fraqueza, nem indiferença, naquele rosto forte e simples, Peter tivera de admitir mais tarde, com tristeza. Ele podia ter aversão pelo ávido e o exigente, o egoísta e o cruel (e demonstrara isso bem vigorosamente muitas vezes na presença de Peter), mas, quando se tratava da fortuna, do poder e dos lucros dos Bouchards, ele era tão inexorável como o primo Jules.
Que distorção de alma acontecera nele que fazia esse homem habitualmente reservado tornar-se gárrulo, volúvel, quando descobria alguma malignidade pessoal, rapacidade ou crueldade em um membro de sua família imediata — a ponto de infligir punição física aos filhos — mas o mantinha silencioso, aquiescente ou cooperativo quando se tratava da riqueza dos Bouchards, dos lucros dos Bouchards, ou do engrandecimento dos Bouchards? Não importava, então, se multidões sofressem, se a honra nacional fosse traída, se houvesse conspirações em andamento contra a paz e o bem-estar de uma nação inteira ou do mundo todo! Às vezes Peter via um brilho de prazer em seus parentes ante o êxito de algum esquema abominável, uma satisfação maligna, rindo à socapa. Nunca viu isso em seu pai. Ao invés, observara que a melancolia se aprofundava nos olhos de Honoré; ele se tornava mais silencioso e mais solitário que de costume.
Peter se atormentou eternamente pelo enigma que seu pai representava. As lembranças mais nítidas que tinha eram da voz profunda e cheia de bondade de Honoré, sua mão gentil e afetuosa, o sorriso doce e pensativo, a filosofia meditativa e a estranha e amargurada sabedoria. De todos os Bouchards, só Honoré era um estudioso. Possuía uma biblioteca imensa, e gastava noites sem fim lendo ao pé do abajur. Entre todos os parentes, estranhamente, ele parecia preferir Jules Bouchard, seu primo: na presença alegre e cortês de Jules ele ficava quase alegre, risada invulgarmente fácil, fisionomia iluminada de real prazer.
Haveria algo de fundamentalmente semelhante nesses dois? — pensava Peter, sentindo-se miserável. De certo, tudo de bom e íntegro e decente em Honoré devia ter sido violado pelo suave Jules. Embora, se foi violado, não havia sinais disso.
Então Honoré, enviado por Jules em alguma missão secreta e perigosa na Europa, subitamente mergulhou no caos: morreu no Lusitania.
Peter recordava bem aquela noite. Agora, enquanto lembrava, tirou a mão dos olhos e ergueu a cabeça dolorida. Os olhos azuis se estreitaram, tornaram-se atentos, enquanto ele olhava sem ver através da janela resplandecente do quarto. Algo parecia estar se formando ante seus olhos, algo significativo, algo que iria explicar-lhe o enigma de seu pai. Suas mãos se apertaram lentamente no papel à sua frente, enquanto com calma desesperada ele tentava concentrar-se. Agora via as feições do pai, via claramente, graves, bondosas, cautelosas e sem esperança. Viu os lábios do pai moverem-se em silenciosa, porém urgente explanação.
A notícia — ele se lembrava — chegara primeiro a Jules, por alguma rota misteriosa. E Jules foi ferido, no mesmo instante, pelo primeiro de seus terríveis ataques de coração. Peter se lembrava que Leon, irmão de Jules, fora à casa de Honoré naquela noite para comunicar à recente viúva a morte do marido. Leon, carrancudo, volumoso, de voz sombria, entrara na casa, completamente aniquilado, fisionomia cinzenta e abalada. Deu a notícia incoerentemente, e Peter recordou que a maior preocupação dele era pelo irmão, Jules, e que muitas e muitas vezes exclamara, em meio às lágrimas da viúva, que "isto matará Jules!"
Peter, então muito jovem, escutara Leon, ouvira-o através de uma ondulante névoa de sofrimento. Sentira uma raiva dolorosa de Leon, por ousar tais exclamações a respeito de Jules. Não se espantara de que esses olhos fundos e carrancudos se enchessem de curiosas lágrimas, de que as fortes mãos quadradas literalmente se torcessem numa espécie de distração. Sabia que Leon tinha por Jules uma afeição relutante, porém profunda. Porém era certamente estranho que sua única preocupação não tivesse sido pela trágica morte de Honoré, mas pelo estado de Jules, pelo sofrimento de Jules, e que, por fim, se tivesse levantado distraído, e declarado que devia voltar imediatamente para junto do irmão.
Peter aceitara isso como dor, como todos o fizeram. Mas agora, enquanto estava ali sentado em tão dolorosa concentração, pôs-se a cogitar. Jules, é verdade, devia ter sentido a mais profunda tristeza de sua vida com a morte do primo bem-amado. Porém — pensou Peter — tinha havido um esquisito significado nas palavras de Leon, em suas maneiras.
— Meu Deus! — resmungou, esfregando a testa com os nós dos dedos.
Algo ali estava diante dele, cheio de explicações: era só olhar e compreender. Forçou-se a manter-se calmo. Viu outra vez o rosto do pai bem claramente, e tentou ler as palavras silenciosas nos lábios que se moviam.
Depois recordou algo mais, algo que veio das sombrias profundezas de sua memória como uma névoa que lentamente tomou forma.
Tinha havido uma testemunha da morte de Honoré. Os barcos salva-vidas se haviam enchido rapidamente até à capacidade máxima após a explosão do torpedo germânico. Havia um lugar vazio, e um oficial do navio, mesmo em meio a tal catástrofe, ainda plenamente consciente do poder dos Bouchards, instara com Honoré para que tomasse esse lugar. Porém ele recusou. Disse a testemunha que Honoré ficara de pé no convés inclinado, e balançara a cabeça lenta e quietamente. E que sorrira do modo mais estranho. Tinha um olhar misterioso de paz e contentamento, de recolhimento e desinteresse. Olhara em redor as centenas de pessoas frenéticas e aterrorizadas que não seriam salvas, que deviam morrer. E apertara as mãos na balaustrada, erguendo a cabeça. Morrera com elas, recusando viver.
O que causara aquele terrível ataque de coração de Jules? Apenas sofrimento? Apenas o pensamento de que fora ele que enviara o primo para a morte? Peter agora acreditava, com apaixonada convicção, de que não fora isso.
Aos poucos, a verdade foi surgindo, coração agitado, Peter teve consciência de que Jules sabia que Honoré morrera porque já não suportava viver.
Fora isso, então, que derrubara Jules.
As pálpebras de Peter queimavam! Mas seu espírito ficou súbita e dolorosamente aliviado. Seu coração doía com renovado sofrimento por seu pai, mas também com exaltação: estava solucionado o enigma! A morte autodecretada de Honoré fora o repúdio final de sua vida, de todas as coisas que fizera, de todas as coisas que fora persuadido a fazer. Fora uma expiação deliberada.
Então, ele devia ter odiado sua vida...
As coisas começaram a encaixar-se. Peter lembrava-se de uma estranha conversa que tivera com o pai na véspera de sua primeira partida para a escola. Tinha apenas catorze anos. Honoré o chamara para a biblioteca e, desajeitadamente, tomara a sua mão. Não era dado a demonstrações de afeição, e o jovem Peter ficara muito comovido — tão faminto de coração estivera, tão solitário e temeroso em meio a seus terríveis irmãos. Sabia, claro, que fora o favorito do pai, porém Honoré nunca o tocara tão gentilmente, ou lhe sorrira com tão grave afeição.
"Você vai para a escola, meu filho, e ficará sozinho" — dissera Honoré, com aquele sotaque francês que sempre espantara Peter. Filho de Eugene Bouchard, francês, Honoré nascera na América, mas havia adquirido o sotaque de seu pai. O que emprestava à sua voz uma espécie de calor e dignidade.
"Sim — repetira Honoré — você estará sozinho. Mas isso não lhe importa, não é, Peter? Você sempre esteve sozinho. Exatamente como eu era, outrora."
E depois mirou o filho bem nos olhos, com profunda e melancólica concentração:
"Sempre nos entendemos bem, não é verdade, filho? E assim, algum dia, você se lembrará que se um homem tem de permanecer como Deus quer que ele seja, ele deverá sempre esforçar-se para estar sozinho em seu coração. Desde que esse coração se abra para coisas do mundo, sejam essas coisas poder, ou ambição, ou ganância, ou mesmo um grande amor, estará perdido para sempre. O vaso está quebrado. Nunca mais poderá conter água."
Depois acrescentou, olhando para além de seu filho, embora lhe segurasse a mão ainda mais estreitamente:
"Não há remendo para vidro. Nunca se inventou um cimento capaz de colá-lo ou de dissimular as rachaduras. Nunca mais poderá conter água."
Tudo isso, pois, Honoré tentava explicar a Peter mesmo nessa hora tardia. E essa explicação era a resposta ao enigma. Diminuiu a sensibilidade dolorosa no coração de Peter. Agora só sentia pelo pai uma apaixonada compreensão, e um profundo amor sem nada de impuro.
De imediato sentiu-se forte e integrado novamente, quase exultante. Desapareceu sua exaustão. O rosto de Honoré se desvaneceu ante seu olhar íntimo. Porém podia sentir-lhe o sorriso, terno, em paz.
Peter pegou a caneta. As palavras vinham mais facilmente agora. Já não havia nele qualquer conflito, nenhuma dor. Podia trabalhar. Podia ter fé. Nada mais importava além de seu trabalho, nem mesmo Celeste. Sentia-se invulnerável como nunca fora antes!
Capítulo 21
—- Que tocarei? — perguntou Annette, afastando da testa uma mecha dos finos cabelos claros e sorrindo para a jovem tia. Sentava diante da harpa, os finos dedinhos a tocar as cordas brilhantes, maciamente, os braços brancos lançando uma sombra na escultura dourada do instrumento.
— Alguma composição sua, querida — replicou Celeste.
Estava sentada na fresca penumbra do grande salão, o colo cheio de rosas magníficas dos jardins de Robin’s Nest. Todo o rosto permanecia na penumbra, porém tomara emprestada sua qualidade luminosa de modo que suas feições tinham a aparência pálida e polida de uma máscara de mármore, austera e rígida. No contorno de sua testa havia uma quietude petrificada, e certa rigidez nos lábios.
Os dedos de Annette feriram as cordas com muda gentileza: as notas se ergueram como borboletas douradas a expandir-se à luz do sol. Celeste podia ver essas borboletas, absorvendo nas asas a luz pura, mergulhando, circulando, movendo-se rapidamente como folhas brilhantes, dançando numa súbita lufada de ar, em movimentos murmurantes com a mais suave harmonia, dificilmente ouvida, porém doce como uma melodia imaginada. Era música ouvida em sonho, pura e alegre, descendo a um sussurro, subindo até uma fina e deliciosa nota única, subitamente dispersa numa explosão de som pungente, frágil e esvoaçante, para novamente mergulhar num incoerente capricho de movimento radiante, quase inaudível...
Celeste estava extasiada! As mãos tensas que jaziam sobre as rosas relaxaram. Seus olhos se fixavam na visão iluminada e inocente evocada pela harpa. Sob a harmonia inócua e brilhante havia a doçura de melancolias, de delicadas tristezas. Então ela ouviu, sob o murmúrio das asas das borboletas, um vento a erguer-se, indistintamente agourento, carregado de sombrios presságios. A claridade nas asas dançantes se tornou severa e rígida, como a súbita luz perfurando através de nuvens escuras. Mais depressa, mais depressa moviam-se as borboletas, agora num frenesi francamente discordante, lutando contra a voz da ventania —•que se tornara rouca e ameaçadora. Agora as borboletas eram pálidas formas fantasmagóricas, sem dourados, sem brilhos, e o vento tinha uma forma, ondulante, cinzenta, espiralada como fumaça, a subir numa forma ampla como uma parede de escuridão. E em meio ao redemoinho adejavam as penas frias e descoloridas de pequeninas asas a cair, frenéticas...
Agora as notas se tornavam mais altas, desoladas e dissonantes, como se vindas de longas faixas de gelo negro de regiões de morte trovejante. A última pena caiu e se desintegrou. Caos no mundo! Celeste discerniu gritos selvagens em meio ao vórtice, perdidos gritos de almas perdidas. Um derradeiro rodopio de som discordante, um súbito estalar de cordas, e então houve apenas silêncio.
Pesada inércia caiu sobre Celeste. Mexeu-se, morosamente, olhando para Annette — que ficara muito pálida e olhava para diante, olhos arregalados e vazios. Celeste começou a falar, depois cerrou os lábios. Mirou Annette por muito tempo. As mãos de Annette ainda pousavam nas cordas, porém molemente, mãos mortas e sem sangue. O rostinho estava extremamente quieto, de expressão trágica em sua imobilidade.
A esbraseante luz solar batia nos largos peitoris das janelas em dolorosa radiância. A sombra verde das árvores lançava reflexos ondulantes na sala tranquila. Em algum lugar pássaros piavam sonolentamente ao calor, a brisa de verão recendia ao perfume de trevo ceifado, cálido e doce, e a rosas.
Então Annette subitamente sorriu. Um sorriso gentil, alegre como sempre. Porém os grandes olhos azuis-claros, tão lindos, permaneceram vazios. Olhou para Celeste:
— Não tenho nome para isso, ainda — disse, deixando cair as mãos nos joelhos. — Gostou, querida?
Celeste hesitou. Depois disse, em voz tensa:
— É... é terrível! Sim, terrível. Como pode pensar tais coisas, Annette?
Os dedos de Annette se entrelaçaram, num movimento convulsivo. Porém ela ainda sorria, embora o sorriso fosse fixo:
— Acho terrível? Mas verdadeiro, não? Tudo que era inocente e adorável, gentil e puro, está finalmente destruído. Isto é o que quero expressar.
Celeste levantou-se abruptamente. As rosas se espalharam a seus pés. Ficou de pé por trás delas, como se fossem uma barricada.
— Não diga isso, Annette — falou em voz baixa. — Não é verdade. Não pode ser.
Porém Annette olhava as rosas caídas, e não se moveu nem falou. Celeste curvou-se e remexeu nas rosas. Espinhos lhe espetaram os dedos. Os olhos estavam opacos, e o coração palpitava de tristeza e temor.
Ergueu-se, por fim, as rosas nos braços. Viu que Annette a fixava agora, gentilmente, tragicamente, e com terna quietude.
— É tão bela, Celeste! — disse, em sua doce vozinha.
Mais se aguçou o medo em Celeste, e o sofrimento.
— Algum dia escreverei uma serenata para você — prometeu Annette. Sorria um pouco.
Celeste olhou as rosas. Pensou:
"Eu não devia ter vindo hoje..." Mas os pedidos de Annette lhe haviam finalmente quebrado a decisão de ficar longe de Robin’s Nest para sempre. Viera para almoçar com a sobrinha. Nessa mesma sala ouvira falar da doença de sua mãe, e aí, mais tarde, ocorrera aquela cena que não podia recordar sem vergonha e angústia. No momento, como tornou a lembrar, o próprio ar quente estava impregnado com a personalidade de Henri. Celeste ergueu a cabeça com um sofrimento súbito e insuportável, e viu que Annette a contemplava com um sorriso triste. Seria possível que Annette soubesse? Não podia ser! Ela, Celeste, não poderia suportar isso!
Celeste gaguejou.
— Não se incomode escrevendo nada para mim, querida. Não estou interessada absolutamente. — As palavras fúteis, sem sentido, lhe chocaram os próprios ouvidos, como uma imbecilidade.
Entrou uma criada com o chá. Celeste a olhou e explicou:
— Não. Devo mesmo ir agora. São quase quatro horas. Peter há de estar cogitando...
Annette se levantou com os movimentos leves e sem esforço de uma criança. Fora-se o olhar estranho e triste. Estava ansiosa outra vez, e procurando agradar:
— Por favor! Há tanto tempo não a vejo... Sempre recusa nossos convites para jantar. Agora não vou deixá-la ir tão cedo.
Sentou-se num sofá, diante do qual a criada colocou a bandeja com o aparelho de chá. Toda a sua aparência estava novamente leve e alegre, cheia de inocente felicidade. As mãozinhas se moviam rapidamente por entre o tilintar das porcelanas e das pratas. Encheu uma xícara e, sorridente, a estendeu para Celeste, que estava de pé desajeitadamente ali por perto, as rosas ainda nos braços.
— Oh! Venha! — disse Annette. Os olhos estavam brilhantes.
Nas últimas três horas Celeste só sentira a inércia pesada e apática que caíra sobre ela desde a morte da mãe. Tinha a vaga sensação de que essa inércia era provocada, uma proteção contra pensamentos que seriam intoleráveis. Forçara-se a mover-se lenta e cuidadosamente, como um homem drogado, pois qualquer gesto rápido, qualquer palavra apressada teriam aberto as grossas cicatrizes que lhe cobriam as feridas com uma crosta quebradiça. Cuidado, cuidado! — sussurrara sua mente. Não pense. Não se recorde.
Todavia, agora a crosta fora quebrada. Sua mente e seu corpo palpitavam em dolorosa união. Ela estava doente de tristeza, desespero e medo. E ainda havia uma doentia e dominadora vergonha. Tudo que queria era fugir desta sala, fugir à visão do rosto lindo e frágil de Annette com os grandes olhos inteligentes que sabiam tanto, e nunca haviam estado cheios de ódio, e eram sempre tão compreensivamente gentis.
Aceitou a xícara que Annette lhe passou, e ficou a olhá-la estupidamente. Annette estivera falando. Vários minutos se passaram antes que Celeste se desse conta, com um vago sobressalto, de que havia silêncio na sala já há algum tempo. Ergueu os olhos. Annette a contemplava com uma expressão singular, cheia de profunda compaixão.
— Creio que não sou lá muito boa companhia... — balbuciou Celeste.
— Sei — falou Annette, suavemente. Pôs a mão na de Celeste: — Mamãe e eu não éramos tão chegadas como você e a vovó, querida. Mesmo assim, foi terrível para mim, quando ela morreu.
Celeste estava quieta. O azul profundo dos olhos de Annette estava muito perto dela, de modo que não via nada mais. Sentia o coração cheio de sofrimento.
Para evitar o olhar de Annette, virou o rosto em outra direção, e seus olhos deram com o retrato de Ernest Barbour acima da lareira. De imediato, uma tal agonia de avidez, desejo e paixão a invadiu que chegou a tremer. Pôs a mão no rosto e pressionou os dedos fundamente na carne, num espasmo de angústia. Esqueceu tudo: apenas via o rosto retratado, que tomara o aspecto, a terceira dimensão, a cor da carne viva.
Voltou-se para Annette e depositou sua xícara:
— Devo ir-me — falou, abruptamente, em voz bastante rouca.
Agora estava tomada de terror. A qualquer momento Henri podia voltar, Henri a quem não havia visto havia quase um mês. Annette não se moveu. Apenas ergueu os olhos, em silêncio, e seu rosto, imóvel, era indecifrável. A xícara estava em seus joelhos, seu conteúdo ambarino captando um raio de sol, de modo que parecia ouro líquido.
Celeste se voltou e mais uma vez juntou suas rosas. O forte perfume a nauseava.
— Peter ficará tão grato... — murmurou. — Não há flores em Endur.
— Eu sei — falou Annette. — Deve ser muito triste.
Ouviram-se passos no terraço, leves e rápidos. Com renovado terror Celeste virou a cabeça, alerta, na direção dos passos. Seu coração, subitamente trovejante, mandou-lhe o sangue para o rosto, de modo que sua palidez foi inundada por uma onda carmesim. Então relanceou os olhos para Annette, ali sentada rígida e imóvel, e que a observava com a mais estranha intensidade.
Mas não foi Henri quem entrou. Foi Antoine, Antoine do sorriso resplandecente, crânio pequeno e lustroso, presença elegante e graciosa. Trouxe com ele aquele ar que Christopher declarara pertencer à Internationale des Salonards. Seus sutis olhos negros reluziram sardonicamente à vista da irmã e da tia, e fez-lhes uma exagerada reverência.
— Senhoras! — exclamou. Atirou-lhes um beijinho. — Bem a tempo para o chá, estou vendo. Mas poderia eu ter uísque e soda, bichinha? — acrescentou, curvando-se para beijar Annette, que passou a mãozinha frágil no rosto dele, num gesto de afeição.
— Claro! Toque a campainha. Não sabia que você viria aqui hoje. Nunca se sabe quando se vai vê-lo novamente... Como vai Papai?
— Papai? — repetiu Antoine, dando à palavra um jeitinho de sutil ridículo. — Oh! Papai, como sempre, está interessado na Lista. Noite passada comeu pâncreas de vitela, e está observando a reação. Você sabe: a velha superstição de que "saliva de leão cura feridas de leão". A pedra mágica na cabeça do sapo cura pedras nos rins — continuou ele, ante o olhar interrogativo de Annette. — Cérebros de cães curam febre cerebral, ou tumores no cérebro. Comer fígado é bom para quem tem mau fígado. E assim, o querido Papai acredita que o pâncreas de um inocente animal normalizará seu próprio pâncreas. Nós observamos e esperamos.
— Você é repelente! — falou Annette, com um sorriso afetuoso. Suspirou: — Pobre Papai! Quando não posso vigiá-lo, tem as ideias mais exóticas e perigosas. Pâncreas de vitela estão na Lista?
— Nunca estudei esse interessante documento — replicou o irmão.
Voltou-se galantemente para Celeste, que continuava de pé, silenciosa. Ele pensou: "Está ficando mais magra e mais pálida... Está descarnada, a linda cadelinha Desejo, sem dúvida. Que olhar devorador tem ela..."
Disse:
— Então, Celeste, como vai o nosso gênio?
Ela se sobressaltou um pouco, e o olhou com dureza, odiando-o, repudiando-o.
— Suponho que se refere a Peter? — respondeu a moça, com o mais completo desprezo. — Peter está bem. Muito ocupado.
A criada entrou, com o uísque-soda. Antoine se inclinou sobre a bandeja e encheu um copo. Aspirou-o delicadamente. Sacudiu a -cabeça com tristeza:
— Seu estimado marido, minha bichinha, tem um gosto execrável para uísque! Um dia desses eu lhe darei uns conselhos. Este cheira a bebida fermentada de banheira, do tempo da Proibição.
— Você é muito grosseiro — falou Annette. — Sabe que Henri bebe muito raramente, ou não bebe de todo.
Antoine sacudiu a cabeça várias vezes, vagarosa e sabiamente:
— Mas deveria, minha querida. Deveria, realmente. Creio que esta é a dificuldade com ele. Um homem que não bebe é perigoso. E, por vezes, também é vulnerável.
Bebeu e fez uma careta:
— Um homem que não foge ocasionalmente à realidade, eventualmente enlouquecerá — observou, erguendo o copo e virando-o nos dedos morenos e finos. — Hitler não bebe. Ergo, é louco. Henri não bebe. Ergo...
Annette riu. O doce e musical trinado de sua risada era como a nota de um passarinho...
— Ergo? — repetiu.
— Ergo, ele é seu marido — disse Antoine, ligeiramente.
Tornou a voltar-se para Celeste. Seus olhos negros, postos nela, faiscavam diabolicamente:
— Estou certo, Celeste?
Ela o olhou:
— Você diz absurdos! — Hesitou, e acrescentou: — Querida, na verdade, tenho de ir embora.
Porém Annette estendeu a mão e apertou a dela calorosa e carinhosamente:
— Oh! Não se vá ainda, querida! Antoine acabou de chegar!
— Enchendo o ar de brilho e de alegria! — observou Antoine.
— Sou um demônio fascinante, não é mesmo, Celeste? Não como nosso pesado vilão, Henri? É verdade que as mulheres preferem os demônios? Ou preferem geleiras como o nosso Homem de Ferro?
— Antoine! — protestou Annette, com uma risada. — Não chame Henri assim!
— Bem, então que tal velho "Cara de Pedra"? — ele perguntou, desmanchando os leves e brilhantes cabelos dela. Sua mão estava extremamente terna. Ela ergueu os olhos para ele, enternecida:
— Você é tão malvado! Tem um nome para todo mundo, não tem? Como me chama, seu miserável?
Ele fez uma pausa. Contemplou-a com uma estranha mudança em suas elegantes feições morenas, e disse:
— Talvez a "Dama de Shalott". Lembra-se? Ela se sentava em frente de um espelho e fiava grandes teias de tecido prateado. Não ousava afastar-se do espelho e olhar o mundo real que ele refletia.
Calou-se por um momento. Virou-se para Celeste tão rapidamente que ela recuou, como para evitá-lo. — Você se lembra, não, Celeste?
— Não — ela falou friamente, os braços apertando as rosas.
— Nem eu — disse Annette. Recostou-se no sofá e sorriu.
— Continue, Antoine.
Ele tornou a encher o copo, mas não bebeu. Fitou seu conteúdo, sorrindo de modo peculiar:
— Havia uma maldição sobre a Dama de Shalott. Estava condenada a nunca olhar o mundo diretamente, mas apenas seu reflexo no espelho. Ela viu o rio verde através dele, perto de seu castelo, e as ladeiras arborizadas, e o tráfego sobre a água, e as torres da cidade distante. Viu Lancelot no espelho, e apaixonou-se por ele. E então... afastou-se do espelho para vê-lo claramente.
Ergueu aqueles chispantes olhos negros e olhou para Celeste, mas falava à sua irmã:
— E quando ela viu Lancelot, sem ser no espelho, morreu. E o espelho rachou de alto abaixo e caiu sobre ela em milhares de estilhaços prateados.
Annette estava muito pálida, mas sorridente:
— Era bonita, essa Dama de Shalott? — perguntou.
— Tão linda que chegava a ser uma lenda — replicou o irmão, tornando a voltar-se para ela. — Sou um demônio caprichoso, não é, bichinha? Sempre poeta... Não se incomode. Nunca olhe fora do espelho. Ele rachará. Sempre racha. — Subitamente, acrescentou para Celeste: — Seu espelho já rachou?
Porém ela contrapôs, com um sorriso forçado:
— Como me chama, Antoine?
Ele a fitou, meditativo, e fingiu concentrar-se nela:
— Outrora eu a teria alcunhado "Inocente no Estrangeiro". Mas, de certa forma, isso já não lhe assenta. — Estendeu a mão e lhe deu uma palmadinha no ombro, alegremente: — Encontrarei um nome para você, não se preocupe. Alguém já lhe disse que seus olhos são como delphiniums (Delphinium = esporinha dos jardins. (N. da T.)) Celeste? Não, estou enganado. São pedras azuis. Punhais azuis. Isso é melhor.
Disse Celeste, olhando-o fixamente:
— Sabe seu próprio nome? Chamam-no "Substituto". — Parou e o olhou de cima abaixo com deliberado desdém: — Mas... não sei. Você sabe: meu pai, seu avô, era um cavalheiro.
Os olhos negros de Antoine se estreitaram até ficarem como fendas brilhantes no rosto escuro e diabólico. Era desagradável o sorriso de Celeste. Ela virou-se para Annette, cuja aflição era evidente:
— Adeus, querida — falou, beijando a sobrinha com súbita gentileza. — Vou telefonar-lhe em breve. Virá almoçar comigo.
Saiu da sala, andando rápida e ereta. Antoine a via afastar-se, com um sorriso virulento. Annette gritou:
— Oh! Antoine! Como pôde ser tão cruel? Agora você a magoou, e eu a amo tanto! Gastei um tempão para convencê-la a vir aqui hoje, e agora ela não voltará...
Ele se sentou ao lado dela, passando o braço por seus ombros infantis. Apertou-a de encontro a si. E estava agora muito grave:
— Queridinha, posso dar-lhe um conselho? Mantenha-se longe de Celeste. Deixe-a em paz. Será melhor para vocês duas.
Caminhando com pés entorpecidos e desajeitados, Celeste entrou em seu pequeno carro, depositando as rosas a seu lado. Saiu da ampla e sinuosa avenida de Robin’s Nest e se encaminhou para a estrada quente e solitária. Então fez alto sob uma grande árvore, parou o carro, descansou os braços no volante. Ficou a olhar para diante de olhos enxutos, durante muito tempo, antes de dar partida ao carro novamente e voltar a casa.
Encontrou Peter descansando após seu dia de trabalho. Ele a recebeu ansiosamente. Porém, antes de beijá-lo, ela pôs a mão em sua testa e no rosto quente. Sua mão era gentil e cheia de ternura. Sentou-se perto dele, depois de colocar num jarro de água as rosas de Annette.
Ele lhe perguntou como fora o seu dia, porém ela sabia que estava apenas sendo polido e afetuosamente solícito. Ele queria que ela lhe perguntasse a respeito de seu trabalho. Ela assim o fez, e ele se inclinou sobre a mesa e pegou um maço de papéis. Agora os olhos exaustos eram patéticos em sua incerta exultação.
— É muito difícil condensar coisas. É uma questão de classificar e eliminar, escolher os pontos culminantes, descartar e encurtar. Quando escrevi meu primeiro livro, tinha um tema só: a formação de guerras pelos fabricantes de armamentos e os políticos venais. O campo de suas atividades era necessariamente estreito e bem definido. A separação entre as nações era bem definida. Mas agora não há limites, não existem fronteiras. Mesmo no campo da indústria, uma coisa se estende dentro de outra num intrincado sistema de subsidiárias. Os industriais são agora os verdadeiros governantes do mundo. Não posso resumir nada. Quando comecei com os Bouchards, descobri esse sistema de raízes alastrado na Bolsa, no Reichsbank, no Banco da Inglaterra, e depois na I.G. Farbenindustrie, e numa quantidade de outros interesses industriais por toda a Europa, no mundo inteiro. É uma rede sinistra. Puxo uma ponta, e toda a estrutura se movimenta. Eu precisaria escrever uma dúzia de livros, e isso seria apenas o começo.
Celeste pegou o maço de papéis. Sentia-se esgotada e doente. Num momento ele se daria conta. Disse, em voz alta e clara:
— Posso ler isto, querido? Agora?
— Claro! — ele replicou, ansioso, e tocantemente lisonjeado. Ficou a observá-la enquanto ela lia os papéis com toda a aparência de concentração. Depois de muito tempo, ela baixou a papelada e o fitou vagamente:
— A história é tão horrível, tão fantástica, que não será acreditada, Peter. Esta é a salvação deles: a enormidade da verdade é inacreditável. Sim, eu tinha uma ideia de tudo isso, pelo que tenho ouvido e pelo que você me disse. Contudo, mesmo eu acho isto inacreditável. Como, então, será aceito pelo povo?
Ele se inclinou para ela com súbita paixão:
— Nos dias que correm, Celeste, a moderação é omitida, a prudência aborrece. Tudo é de tamanho desproporcionado, gigantesco, clamoroso. Se eu escrevesse de modo contido, negligenciasse ou depreciasse fatos, sussurrasse de modo conservador, o livro não teria valor, nem público. Como já disse, realcei os pontos críticos, exibi apenas os crimes mais importantes, só revelei os maiores criminosos. Talvez você ache isso sensacional. Mas só o sensacional atrai a atenção do povo americano. Isto não é um manual de criminologia, Celeste. É uma revelação. Ninguém se lembra dos revolucionários princípios de Lutero. Lembra, sim, que ele atirou um tinteiro no demônio.
Celeste pousou na mesa o maço de papéis:
— Georges publicará isto, Peter?
Ele hesitou, entristeceu:
— Receio que não. Mas deu-me um conselho: sugeriu que eu fale com o editor de Thomas Ingham’s Sons, em Nova York, Cornell Hawkins. Sabe, de repente Georges ficou muito suscetível a respeito da Família. Além disso, está ficando velho. E cauteloso. — Acrescentou: — Irei a Nova York segunda-feira, para ver Hawkins. Francamente, não tenho muitas esperanças. Vai dizer-me, naturalmente, que os leitores americanos não estão interessados. Ou melhor: que as mulheres americanas não estão interessadas. E, neste país, as mulheres formam a maioria dos leitores. Elas preferem "simples histórias de amor" e outras bobagens, especialmente se houver uma "heroína" adorável.
Sua voz se tornara amarga. Empurrou os papéis de súbito com mão desesperada, depois cobriu os olhos por um momento.
— Eu estaria interessada — disse Celeste. — Certamente as mulheres americanas, cujos maridos e filhos vão morrer, também se interessarão. As mulheres, agora, é que ouvem a voz que chora no deserto. Os homens estão ocupados demais ganhando dinheiro. Aprovam qualquer coisa, desde que sejam deixados em paz o tempo suficiente para acumular uma conta no Banco, ou comprar bugigangas. Parece-me que essas bugigangas substituíram o interesse político na América. Se os colonizadores americanos tivessem estado interessados num fluxo diário de bugigangas nunca teríamos tido uma Revolução. O progresso tecnológico matou o desejo do homem comum de participar do Governo.
— Porque isto serve ao amor infantil do homem comum pelos brinquedos — afirmou Peter, com insistência. — E brincar com essas coisinhas destrói a idade da razão, a capacidade de pensar. Sabe, deve haver um desígnio profundo e sinistro em tudo isso.
Celeste estava silenciosa. Mirava através das amplas janelas. Só ao pôr-do-sol Endur era suportável. Então os terrenos vazios, despidos de folhagens e outras obstruções naturais, ofereciam um panorama imenso, amplo e solene, do céu ocidental. Esse céu era agora um lago de chama palpitante, onde flutuava o sol vermelho e incandescente. O gramado liso e vazio tinha um sombreado róseo, como o reflexo dos céus. Naquele lado da mansão, a cavalgada de pontudos álamos estava de pé contra o céu escarlate e imóvel. Imenso era o silêncio, como se toda vida estivesse em suspenso.
Celeste falou apressadamente, numa voz ligeira e sem tonalidade cheia de dor contida:
— Amanhã vamos até Placid Hills, Peter, para ver em que pé está a construção da nossa casa. Odeio Endur! É como um deserto... Além disso, você mesmo notou que Edith e Christopher não têm pressa alguma de voltar à Flórida. Edith sugeriu, esta manhã, que eles poderiam querer voltar a Endur. Claro, ficariam muito satisfeitos de ter-nos como hóspedes permanentes, ela disse: — A boca de Celeste se torceu com amargura. — Nunca pude suportar este lugar!
Peter hesitou. Estava quase a dizer que no dia seguinte desejava trabalhar, e que não estava particularmente interessado na casa em construção em Placid Heights. Mas algo na voz de Celeste o fez ficar silencioso. Pela primeira vez ele a via claramente. Durante semanas havia estado tão engolfado em seus pensamentos, nos planos para o livro, que na realidade nem enxergava a esposa. Agora ficou alarmado. Ergueu-se a meio da poltrona, e olhou penetrantemente seu perfil. Seria apenas a sinistra luz do ocaso que a fazia parecer tão magra, tão doente, tão perturbada e contida? Suas feições estavam afiladas, havia um sombreado escuro sob os ossos da face, e os lábios, habitualmente florescentes e cheios, estavam ressecados e pálidos. As narinas, sempre delicadamente arfantes, agora estavam tão distendidas que pareciam perpetuamente em luta para respirar. Viu que os dedos dela estavam apertados numa atitude de autocontrole.
— Celeste! — falou, alarmado. — Minha querida, você parece doente! Que se passa?
Adiantou-se e cobriu com as mãos as mãos dela, tensas. Sentiu-lhes a firmeza e a frialdade. Mas seu sorriso, quando se voltou para ele, era completamente calmo, cheio de ternura. No entanto, havia uma opacidade em seus olhos, e ela não o olhou diretamente:
— Nada de errado, querido! Talvez eu esteja um pouco cansada. Tem estado muito quente, você sabe. Nem sei dizer-lhe o quão ansiosa estou para que tenhamos a nossa casa.
Pôs-se de pé, subitamente, empurrando-lhe as mãos gentilmente. Riu um pouco, tensa.
— Sabe de uma coisa, Peter? Acho que não posso suportar ver mais os Bouchards. Eles... me asfixiam! Coisa horrível para dizer a respeito da própria família, não é? Antoine chegou hoje, exatamente quando eu estava deixando Annette. Ele é uma criatura horrível, é cheio de insinuações e de malícia. Jamais gostou de mim, e receio, agora, que eu o odeie!
— Insinuações? — repetiu Peter, lentamente, olhando-a atentamente. — Que insinuações, Celeste?
Ela estava apavorada! Os olhos de Peter, fixos nela, eram tão claros e firmes, tão perceptivos... Em seu medo ela não podia mover-se ou falar, e o olhar de Peter a esquadrinhava, a examinava. Ela contemplou seu rosto emaciado e intelectual, suas têmporas com veias altas, e os finos cabelos claros. Estava indefeso, esse homem bom e honrado, que a amava, e a quem ela traíra... Quem podia comparar-se a Peter? Peter, que nunca pensava em si mesmo, cuja única paixão e preocupação era por toda a humanidade, seu sofrimento, seu desespero? Ela se sentiu impura, degradada, imprópria para ser vista por ele. O remorso era uma quentura metálica em sua boca, uma dor ardente em seu coração, que ela não podia suportar. Encarou-o sem palavras, olhos arregalados de tormento.
— Você quer dizer "insinuações" a meu respeito? — ele continuou. Sorriu, tristemente: — E isso importa, querida? Eu nunca me importei, você bem sabe. Não gosto de Antoine. De certo modo, ele me lembra seu pai, e Jules e eu andávamos sempre às turras.
E agora a ofendi — acrescentou, vendo o tormento aumentar nos olhos de Celeste.
— Não! — ela murmurou. — Oh, não, Peter! Você nunca poderia ofender-me.
Caiu de joelhos ao lado dele, mas não o tocou. O olhar dela implorava, apaixonadamente, desesperadamente. Ele estava alarmado e espantado. Então sorriu com infinito amor, e gentilmente lhe tocou os cabelos. Ela deixou cair a cabeça em seus joelhos, e ficou imóvel.
Capítulo 22
— Não, não me compreendeu — falou Peter, com a urgência febril que ia aumentando nele. — Tentei mostrar que toda essa vilania, toda essa conspiração implacável e rapace, todo esse império industrial inter-relacionado que não conhece limites nacionais, nem lealdades, nem idealismo, não operam em separado do resto da humanidade. Tentei mostrar que a indiferença do mundo, a ganância particular e a estupidez, a falta de valores humanitários é que permitiram, e estão permitindo, o crescimento desse império industrial internacional que se inclina a escravizar todos os outros homens. Se esses monstros e vilões, esses conspiradores, foram finalmente bem-sucedidos, e receio bem que o sejam, a culpa recairá sobre todos os homens em todos os lugares... não sobre apenas uns poucos.
"Você só tem de olhar a América. Em certo tempo, nos primeiros dias da República, era a política a preocupação principal do jovem povo americano. Por isso elegemos um Washington, um Adam, um Jefferson, um Jackson, um Lincoln. Cada candidato era examinado minuciosamente por seus eleitores. Tivemos um ilustre desfile de Presidentes. Mas agora abandonamos a política aos políticos. A política opera acima e além do povo, que não quer ser perturbado, mas deseja que o deixem gozar seus esportes e prazeres infantis, e seus múltiplos brinquedinhos... que lhe foram dados para distrair-lhe a atenção. Desde Lincoln, que Presidente tivemos que fosse nobre, um homem de Estado, preocupado com o bem-estar de seu povo e o bem-estar do mundo? Poderá citar Wilson, Sr. Hawkins. Mas os políticos americanos é que o mataram. Tivesse o povo estado desperto, cônscio, e não fosse estúpido e insensível e fascinado pelo movimento da Bolsa e por lucros fáceis e brinquedinhos, Wilson teria sido bem-sucedido em seus planos para regenerar o mundo, despertá-lo para responsabilidades morais e espirituais para com seus vizinhos. Como pode ter êxito um herói se seu povo é ignorante, egoísta, cego e surdo? E o plano de seus novos senhores é mantê-lo assim. De modo que o que vai acontecer à humanidade em futuro próximo é culpa do povo americano, do povo britânico, do povo francês, e não apenas do povo alemão.
— O senhor quer dizer — falou o Sr. Hawkins — que o povo cria seus próprios destruidores e opressores?
— Sim — replicou Peter. Ficou silencioso um momento, apertando as mãos na pasta que continha parte de seu manuscrito. Sua expressão tornou-se sombria. — Depois, há outra questão, em que pensei. Nos primeiros tempos da República, o povo americano era uma raça homogênea. Havia herdado a consciência política e o interesse de seus ancestrais britânicos. E isso, combinado com o "pensamento elevado e o modo simples de viver" dos Puritanos, deu a esse povo um senso de responsabilidade nacional e uma universalidade de percepção. Era o melhor dos povos: eram homens simples, mas inteligentes, com idealismo e racionalidade. Compreenderam que o mundo não podia viver meio-escravo e meio-livre. Por isso é que entusiasticamente apoiaram e ajudaram a Revolução Francesa. Por exemplo: se ainda houvesse a escravidão negra no Sul, duvido muito que o povo americano pudesse ser levado, naquele tempo, à indignação, a uma cruzada contra essa escravidão.
"Por quê? Porque já não somos espiritualmente homogêneos. Grande parte de nossa população se compõe de imigrantes de nações-escravas, que legaram a seus filhos sua filosofia escrava, sua ignorância espiritual e sua preguiça. A instrução em nossas escolas públicas não os esclareceu, ou lhes aumentou a paixão pela liberdade, pelos ideais americanos. Os filhos dos insensíveis alemães escravos, dos camponeses eslavos, dos italianos famintos não podem possuir a alegria ardente da liberdade. Não podem, e jamais poderão sentir esse brilhante entusiasmo pelos direitos do homem que os primeiros americanos acharam a coisa mais preciosa da vida. Não vieram para a América, como os Colonizadores e os Puritanos, por não poder mais aturar o antagonismo da Europa para com seu ódio à opressão, seu desejo de liberdade. Vieram para comer, para devorar, para violar, para destruir. E para trair.
Acrescentou, sombriamente:
— Quando chegar para a América a hora final de prova, como pode essa multidão-escrava ser despertada para defender nosso país, morrer por ele, se necessário? No momento de nosso perigo, não é possível que essa multidão, através da influência de seus sacerdotes, seus senhores, seus exploradores, deserte, traia, e nos destrua?
— Sombria perspectiva... — observou o Sr. Hawkins, pensativamente. — Acredita que isso possa acontecer, Sr. Bouchard?
— Certamente. Você só tem de olhar nossas várias organizações estrangeiras inventadas. A Bund teuto-americana. As várias organizações ítalo-fascistas. Os ucranianos "Brancos". As organizações que deram ajuda e conforto a Franco. Que farão essas na hora final? Como poderá o povo americano sobreviver a elas? Subornaram membros de nosso Departamento de Estado. São financiadas por nossos grandes financistas e industriais. À medida que o ritmo se eleve, depois que a guerra for declarada na Europa, elas se tornarão mais ativas, e mais perigosas. E enquanto agem assim, o povo se tornará mais apático, mais isolacionista, mais desunido. Nisso reside o nosso perigo.
Cornell Hawkins estava silencioso. Reclinou-se em sua antiga cadeira giratória e fitou Peter com seus gelados olhos azuis. Esse descendente dos Puritanos da Nova Inglaterra, de discípulos de Thoreau, de Emerson, era enxuto e esbelto nos seus cinquenta anos, grisalho, ríspido e pensativo. Sua fisionomia calma e reflexiva expressava a força de intelecto que já adquirira fama entre sábios e artistas. O seu não era a ostentação e o brilho de homens inferiores e mais explosivos. Seu intelecto tinha a dispersão, aquela totalidade e fria austeridade de uma paisagem da Nova Inglaterra vista sob os claros céus hibernais. Nada de vago, de confuso, de duvidoso, no seu quieto e penetrante olhar. Possuía aquela tranquilidade e consciência, aquela indiferença patrícia que é a marca do aristocrata. Seu sorriso era lento e de esguelha, porém gentil; seu modo de falar, baixo e hesitante, mas incisivo. Só ria silenciosamente, e bem raramente, e então sua jovialidade desiludida aparecia apenas em seus olhos — com brilho maior e mais azul.
Era sincero e bondoso, pensativo e cauteloso, cortês, mas firme. Possuía a indiferença aristocrática pela elegância de alfaiate — que assinala o plebeu. Raramente estava sem o chapéu um pouco usado, e não fazia poses. Eternamente segurando um cigarro aceso, sua mão era magra e bem-formada. Quando ouvia uma frase que lhe interessava, suas feições adquiriam vida, tocadas de uma luz fria, brilhando com um real prazer.
Peter, sentado à desordenada secretária desse grande e afamado editor, sentia paz. Sua insistência já não era quente e confusa. Era compreendido. Suas incoerências se tornaram coerentes sob essa espécie de olhar glacial. Acreditou que suas palavras desajeitadas não eram levadas em consideração, mas seu pensamento era entendido. As empoeiradas janelas do escritório amplo e desguarnecido deixavam entrar a jorros o sol do verão, fazendo brilhar as partículas de pó em suspenso. Aqui não havia pretensão, nada de grossos tapetes e mobiliário fino para impressionar. Pilhas de manuscritos se mostravam na secretária lascada, cinzeiros transbordantes, desordenadas pilhas de cartas, canetas e lápis espalhados. O assoalho era encardido e desbotado. Cadeiras de pernas rinchadoras encostavam-se às paredes mofadas. Porém, do meio dessa desordem, desse desleixo e indiferença pela elegância, havia saído alguma da mais fina e nobre literatura do mundo. Esse homem tinha classe, nessa sala cheia de rigorosa e quente luz solar, de grandeza e simplicidade. Sabia-se instintivamente que a um aterrorizado autor novato seria dada a mesma cortesia e consideração que ao mais vistoso e popular escritor que se podia gabar de dez ou vinte "grandes tiragens."
Peter sabia que o Sr. Hawkins não estava impressionado pela presença de um Bouchard em seu escritório. Era visto como um homem, como um autor apaixonado, apenas. Se o Sr. Hawkins julgasse que seu trabalho tinha valor, integridade, e colorido, então podia estar certo de merecer uma audição, e talvez publicação. Se o Sr. Hawkins acreditasse que era um estúpido, amador, sem valor e inutilmente violento, não haveria considerações que pesassem a seu respeito.
Algo compacto, indefeso, e medroso em Peter relaxou. Pensou:
"Gostaria que esse homem fosse meu amigo. Não tem rodeios, nem crueldade, nem astúcia. Existe nele uma qualidade mística, uma dúvida e uma busca filosóficas. Nunca tive um amigo! Se ele gostar de mim, então estarei livre. Se considerar meu trabalho, saberei que tem valor."
Por sua vez, o Sr. Hawkins simples e abertamente estudava Peter, sopesando-o. Peter lhe enviara a primeira quarta parte de seu manuscrito uns dias antes. Ele encontrara tempo para lê-lo, entre grande quantidade de manuscritos. Ficara impressionado com a paixão e a sinceridade de Peter. Agora descansava a mão na pilha que havia lido, e pensativamente a desfolhava.
— Diz que seu primo, Georges Bouchard, não quer considerar a publicação disto? — perguntou.
— Não — replicou Peter, brevemente, corando um pouco. — Considerações de família, sabe como é...
O Sr. Hawkins sorriu tristemente;
— É caso de difamação, claro!
— Mas tenho as provas, os documentos! — gritou Peter, com novo desespero.
— Entretanto, verdade não é garantia contra um processo por difamação — disse Hawkins, estranhamente. — Se Jesus fosse vivo hoje, e fazendo suas observações a respeito de certos fariseus, Ele seria processado por meio milhão de dólares. Naquele tempo, apenas puderam crucificá-lo. Naturalmente, processos por difamação são uma forma de crucificação. Temos de ser cautelosos, bem sabe.
Esfregou os lábios finos com a mão, pensativamente, e fixou Peter com o fio azul de seus olhos:
— Não pensou em publicar isto o senhor mesmo, Sr. Bouchard?
A cor de Peter se alterou. Respondeu, rispidamente:
— Não! Pensei que seria péssimo! Há um estigma em publicar o próprio trabalho. Como se ninguém o achasse digno do risco. Meus parentes se divertiriam enormemente, e se sentiriam gratificados, se eu não achasse um editor.
— Mas Georges Bouchard publicou seu primeiro livro, The Terrible Swift Sword?
— Sim, anonimamente — disse Peter, penosamente. — Além disso, a família não o processaria. Isso seria lavar a roupa suja em público. Especialmente porque assim meu anonimato teria sido exposto.
— E apenas considerações de família fazem com que ele não publique este? Por que, então, publicou o seu primeiro?
Peter ficou silencioso por alguns momentos. Mordeu o lábio. Então falou, hesitante:
— Francamente, não compreendo. Pensei que alguma pressão forçara o velho Georges: é só o que poderia explicar isso
A cadeira de Hawkins rinchou quando gentilmente se balançou nela. Acendeu outro cigarro, de onde puxou algumas fumaças meditativamente. Peter o observava com profunda ansiedade.
— Olhe, tem de dizer-me uma coisa, Sr. Hawkins: fora suas revelações, meu livro tem algo que o recomende? É amadorístico, mal escrito?
— Não, não é amadorístico — falou Hawkins, pausadamente. — Tem drama, e fogo, e cores fortes! O que é raro em escritos informativos. Sou um antigo jornalista, e querem que exerçamos contenção em nosso trabalho. Temos de adquirir aversão a adjetivos. — Falou incisivamente, em sua voz calma e hesitante. Depois sorriu: — Entretanto, gosto de adjetivos. Não gosto do moderno modo rígido de escrever, que substitui por pontos de exclamação e obscenidades a boa perícia profissional. Não há exuberância ou paixão entre os escritores modernos. Acham isso vulgar, ou coisa assim. Riqueza de frase e opulência de adjetivos... são "vitorianos". Muito luxuriante, acreditam. Pessoalmente, lamento isso. A rigidez pode ser decadente, o senhor sabe, especialmente a moderna rigidez autoconsciente. Só quando pura e sincera a rigidez é sadia e cheia de beleza.
Peter ouvia, e aumentava seu senso de bem-estar e liberdade:
— Então, pode considerar a publicação disto?
Mais uma vez, Hawkins sorriu estranhamente:
— Serei franco, Sr. Bouchard. Seu nome tem de ser tomado em consideração, claro. Num livro, seu nome aumentará a possibilidade de grandes vendas. Quero que compreenda isso, para que não pense que tomamos seu livro, se o fizermos, sob falsos pretextos. Os editores são negociantes, também. Vendemos livros. Devemos ter lucro, ou deixar os negócios. Isto é que é tão difícil de compreender, para o autor comum. Ele roseamente acredita que um livro deveria ser publicado por seus méritos... e o seu próprio livro, claro, sempre tem uma porção de qualidades, a maioria "artísticas"... Arrogantemente desdenha o fato de que seu livro provavelmente não venderá. Se mencionar isto, ele o favorecerá com um olhar de soberbo desprezo. Que importa isso?, pergunta. O público precisa que livros de mérito lhe sejam empurrados garganta abaixo, para seu próprio bem. Acha que os editores deveriam ser os cruzados de uma nobre causa. Superóleo-de-fígado para um público que gosta de pirulitos. Felizmente para seus acionistas, os editores discordam dessa opinião. Publicamos livros que pensamos, ou esperamos, que venderão: aí todo mundo, do impressor ao autor, ficará feliz.
Deteve-se. As faces emaciadas de Peter coraram de mortificação. Hawkins o observava atentamente. Sorriu um pouco, embora estivesse comovido pela expressão de Peter:
— Não estou falando pessoalmente, claro. Dinheiro não é consideração em nosso caso. O senhor é um cruzado. Mas escreveu de modo interessante, e com força. O que tem a dizer é grave e significativo; melhor ainda, é bem escrito. Acho que pode ser popular. Não posso garantir. Mas penso que pode. E seu nome despertará interesse preliminar entre os críticos, e o público. Penso que é chegado o dia em que o público estará mais interessado em não-ficção do que em ficção. Meus competidores não concordam comigo nisso. Pensam que a história de amor é a coisa mais importante para escrever. Chamam a isso: "interesse humano". Como se não houvesse interesse humano em nada que não seja um par de adolescentes e seus sentimentos mútuos.
Ficou silencioso um momento, depois continuou mais fortemente:
— Acho que há interesse humano no que escreveu. O mais terrível e pressago interesse humano. Também acredito que os leitores americanos estão "crescendo". Acredito que se deve dizer agora aos americanos quem são seus inimigos, e por que devem defender-se. Sabe, sou americano.
Tornou a sorrir, um tanto tristemente. Mas a frieza de seus olhos se desfez em bondade. Levantou-se:
— Vamos almoçar. Falaremos mais a este respeito. Tenho de discutir seu livro com o Sr. Ingham, primeiro, claro. Em poucos dias lhe darei uma resposta.
Enquanto Peter acompanhava o editor no elevador rangente, mais uma vez experimentou aquela sensação de libertação, de conforto, de paz, porque tantos haviam passado na presença desse homem grande e simples que tinha apenas bondade para o sincero, e simpatia para o honesto, porém o máximo desprezo para com o afetado e o néscio.
Livro Dois - O Começo das Dores
"Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em diversos lugares... Tudo isso é o começo das dores."
Mateus XXIV: 7,8
Capítulo 23
Armand estava só em sua grande casa cheia de ecos. Estava sempre muito só. Vagueava pelos imensos quartos, fracamente iluminados, os cantos cheios de sombras como teias, os pés hesitantes sem lazer som devido aos grossos tapetes. Era um homem anulado por uma integridade que nunca fora o bastante. Em algum lugar, nos vagos recessos do seu íntimo, sabia disso, mas estava apenas confuso, espantado. Tinha ido longe, e praticado muito mal. Sofismara petulantemente apenas nas pequenas coisas, mas aí com aguda veemência, sentira então um suavizante de sua consciência, um afrouxamento de tensão. Assim, por muitos anos se iludira achando-se melhor que sua família, e que era um homem intrinsecamente bom. "No coração — diria a si mesmo — sou realmente um homem bom."
Mas agora a fórmula de encantamento já não agia. Ele a repetia vezes sem conta, agora que estava velho, mas não lhe trazia conforto. Estava face a face consigo mesmo, mas ainda não podia mirar-se no desapiedado espelho mantido diante de si.
Certa vez gritara para si mesmo:
"Se ao menos eu fosse completo!" Queria significar que desejava nunca ter tido aquela pequena integridade que tanto o atormentara toda a sua vida e nada lhe trouxera, nem ao menos um pouco de paz.
"Ninguém vem visitar-me..." — teria pensado, enquanto ia, inquieto, de sala em sala. — Embora eu ainda possua cinquenta e um por cento das ações de Bouchard." Ainda não chegara ao ponto de poder sorrir disso, ou explodir em riso. Ainda era uma questão, para ele, de queixosa e solitária cogitação. Repetia vezes sem conta; "Cinquenta e um por cento!" E depois sacudia as moedas que trazia no bolso e, com satisfação infantil, ouvia o seu tilintar.
"Cinquenta e um por cento...", murmurava, depois que o tinido das moedas o acalmava um pouco. E sorria. Enquadrava os ombros gordos e curvados e olhava desafiadoramente em torno de si, embora nada a não ser paredes silenciosas seus olhos encontrassem. Então, ainda era poderoso! Os cinquenta e um por cento se interpunham entre ele e a horripilante realidade. Nesses momentos mais otimistas podia iludir-se de que o ciúme e a inveja é que o mantinham tão solitário em sua vasta e vazia mansão. Os parentes o odiavam por seu poder financeiro. Davam vazão a seus ressentimentos evitando-o.
Por vezes ele espiava através das janelas escuras, que refletiam as lâmpadas espalhadas, e olhava lá embaixo a estrada silenciosa que lhe atravessava o parque. Às vezes prestava ouvidos ao som de algum carro, ou de pneus cantando no asfalto... mas não havia som: apenas o vento. Ia para outra sala, olhava através de outras janelas que revelavam o rio escuro e faiscante e o distante cintilar de luzes do outro lado. Um vapor apitava; as árvores perto da janela chocalhavam asperamente. Muitas vezes ele ouvia o apito de um desolado trem, o eco de sua passagem se o vento estivesse em sua direção. A mais fria e solitária das luas batia nos peitoris das janelas ou tocava com sua luz prateada suas bochechas gordas e desanimadas. Era o rosto de um fantasma que espiava esperançosamente através das vidraças polidas.
Movendo-se sem barulho pelos grandes vestíbulos acarpetados, os criados tinham rápidas visões desse velho gordo indo de sala em sala. Ele relanceava o olhar sobre eles sem vê-los, lambia os lábios, franzia a testa, e caminhava. Eles o viam andar, viam como se sobressaltava — como se pensasse ouvir o tilintar de um telefone, ou passos nas calçadas, fora. Porém ninguém, a não ser a filha, lhe telefonava, e isso habitualmente de manhã. Por vezes ele abria a porta do seu quarto e vinha para o vestíbulo, julgando ter ouvido uma voz. E depois a porta voltava a fechar-se, e o silêncio o rodeava...
Não tinha amigos. Nos primeiros anos, fora muitas vezes convidado a jantar nas casas dos parentes, ou conhecidos. Mas isso, quando era presidente de Bouchard & Sons. Sua conversa nunca fora brilhante. Era tímido e desconfiado, obtuso e sem imaginação. Como a maioria dos homens com temperamento igual ao seu, dava impressão de medo, até mesmo de covardia. Ninguém jamais se preocupara com ele o bastante para descobrir por que estava atemorizado, ou o que tanto o aterrorizava. Ele mesmo não o sabia. Quando lhe pediam uma opinião, pesquisava o rosto amável do perguntador com seus olhinhos negros salientes, como se conjeturando que ardilosa vilania, que desejo de apanhá-lo numa armadilha, que motivo dúplice havia inspirado ainda a mais inocente e polida das indagações. Depois respondia cautelosamente, observando cada expressão no rosto do interlocutor que lhe pudesse revelar que se havia tornado vulnerável ou ridículo. Em consequência, suas palavras eram sempre sem conteúdo, pesadas, sem cor ou vitalidade. Se por vezes esquecia de si mesmo, e replicava espontaneamente, movido por alguma emoção, depois gastava longas horas ansiosamente examinando sua resposta, a ver se teria dito algo que pudesse ser usado contra ele. Mesmo nos primeiros tempos, raramente discutiu política, acreditando — em seu patético egotismo — que suas palavras eram sopesadas e gravemente anotadas, e mais tarde citadas em conferências como chave para uma "tendência". Não havia alívio ou consolo para ele em livros, pois sua única absorção na juventude fora sua Companhia. Não compreendia música, nunca dera importância a isso: era coisa de efeminados, própria apenas para aqueles europeus decadentes que não tinham "Companhia" para interessá-los. Não gostava sequer de golfe, esse último recurso dos ignorantes homens de negócios americanos.
Só lia o jornal de propriedade da família, o Windsor News, e o Times de Nova York. Pelo Times conseguiu alguns conhecimentos do mundo; fora a tremenda biblioteca de notícias, ele pôde obter alguma consciência do mundo dos homens, de política, de História. Mas nunca lia nada além dos relatórios das cotações das ações na Bolsa, notícias financeiras, obituários, e um ou dois dos editoriais mais conservadores que os mais esclarecidos evitavam. Agora que fora afastado de sua própria Companhia, dificilmente lia alguma coisa a não ser as seções financeiras e comerciais, e então apenas para observar a Bolsa de Valores e regozijar-se com a alta das ações Bouchard, ou desesperar-se com seu declínio.
Por algum tempo ficara muito animado a respeito da Europa, antes do fiasco de Munique. Sem ser convidado, fora à casa dos parentes e lá se agarrara aos homens — que entendiam de negócios. — E exortara, discutira e se encolerizara por horas. Porém eles logo descobriram que seu conhecimento era escasso, seus preconceitos ignorantes, embora veementes, e infantil sua excitação. Mesmo os jovens e as mulheres não puderam deixar de rir-lhe no rosto. Desde então não sabia praticamente de nada. Encerrara-se em sua solidão e infelicidade, e olhava pelas janelas. Nada mais tinha para dar a ninguém. Já não possuía poder com que subornar ou coagir. Não era dotado de dons pessoais que o fizessem desejado por si mesmo. Não tinha amor ou temperamento cálido, nenhuma preocupação pelos outros homens, que pudesse torná-lo benquisto. Tinha apenas duas moedas tilintantes, seus "cinquenta e um por cento", seu diabetes para fazer-lhe companhia nos longos dias e nas noites infindáveis.
O seu "médico da corte", apesar de seu enorme adiantamento em dinheiro, achou-o insuportável naqueles dias. Pois Armand chegara à última extremidade: chamava o médico ao telefone pelo menos quatro noites por semana, para discutir com ele gravemente algum novo sintoma suspeito em sua moléstia. As conversações demoravam pelo menos meia hora de cada vez. Nessas ocasiões o velho rosto balofo, intumescido, ficava vivo e iluminado, os olhos brilhavam. Sentava-se na beira de uma cadeira, agarrando o telefone, a voz tremendo de ânsia absorta, e até mesmo fanatismo. Que achava daquela nova insulina concentrada sobre a qual havia lido na mais recente edição da revista da Associação Médica Americana? Havia algo a tal respeito? Afirmava a revista que se vaticinava que seria necessária apenas uma injeção por semana. Que há de errado com vocês, moços? Que há de errado com as pesquisas? Estão deixando morrer toda a coisa?
O médico — homem realmente brilhante interessado em pesquisas — na verdade pudera obter, mediante lisonja, muitos milhares de dólares do apertado bolso de Armand para certa pesquisa de laboratório na qual jovens médicos, talentosos e devotados, sem meios particulares, trabalhavam dia e noite para descobrir novas curas e novos remédios para aliviar as agonias de homens como Armand Bouchard. Entretanto, o dinheiro não fora suficiente, pois o médico informara a Armand, nos primeiros meses de esperança, que o laboratório precisava de milhões. Armand não podia entender isso. Queixou-se lamentosamente a respeito da "ganância" desses jovens pesquisadores. Por que não se contentavam em trabalhar abnegadamente pela salvação da humanidade? Por que não compreendiam que eram realmente "consagrados"? Por que se importavam com "gordos" salários? Não era bastante servir à humanidade? Quando o médico explicou que os jovens tinham famílias, obrigações, Armand sentiu-se ultrajado. Famílias e obrigações, na verdade! Como ousavam os bem-dotados sacerdotes da ciência médica ter tais coisas? Eram traidores, exploradores! A ciência médica deveria ser uma fraternidade monacal, onde homens dedicados ao céu deveriam gastar suas vidas em devoção, em nada pensando a não ser no serviço. Serviço! — Armand repetia, de má vontade fazendo outro pequeno cheque e atirando-o ao seu médico. Quando este mencionou a Fundação Rockefeller, Armand sorriu acidamente e disse que, graças a Deus, ele não tinha nada na consciência. Então o médico o olhou sombriamente e perguntou silenciosamente: "Não?"
O médico era corrupto e voluptuoso, não era nenhum santo abnegado. Mas às vezes fitava Armand por longo tempo e cogitava se as vidas de homens assim valiam o trabalho dos jovens pesquisadores de olhos brilhantes naquele laboratório pobre e quente. Pensou na exaustão deles, nas suas mãos magras e ansiosas, sua paixão pela análise, sua alegria na descoberta. Tudo isso seria primacialmente destinado a prolongar a existência inútil e miserável de velhos gordos com moléstias causadas por mentes fatalmente afetadas? "Quem pode atender a uma mente doente?", citava para si mesmo. Pois estava chegando a acreditar, relutantemente, com muitas iradas rejeições, que as moléstias da carne eram apenas manifestações externas e visíveis de doenças da alma. Descobrira — com demasiada frequência para sua própria paz de espírito — que o sofredor de doenças do coração, de diabetes, de câncer estava enojado do mundo, e da vida, e de si próprio. Seriam essas moléstias apenas um desejo subconsciente de morrer, de obliteração de uma mente que incessantemente o acusa, uma ânsia pela tranquilidade eterna de um insone desespero? A carne luta por sobreviver. Mas, nos olhos do sofredor, muitas vezes o médico percebe a agonia de uma alma que nada mais deseja... a não ser a escuridão e o nirvana, e fugir à consciência... As doenças que mutilam, também: não serão essas o sinal de uma alma que mudamente implora ser aliviada de participação ativa em um mundo que febrilmente trabalha para nada?
Era consciência, ou desespero, ou sofrimento que adoeciam a alma, e adoeciam a carne. Isso, o médico estava começando a acreditar. Estava revoltado, zombava de si mesmo por tornar-se um crente da Ciência Cristã, ou outras "superstições". Mas a evidência ia crescendo. Achou-se, completamente contra a sua vontade, hesitante com uma nova Bíblia que comprara recentemente, e iradamente lendo os testemunhos do Novo Testamento das curas dos doentes, feitas por Jesus. "Toma a tua cama e anda" (Novo Testamento, S. Joâo V-3-8. (N. da T.)) Jesus advertiu o paralítico. "Toma tua cama, tem coragem, tem virilidade, enfrenta o mundo da realidade e o combate com fé e bravura", Ele deve realmente ter querido dizer.
Para o médico, o mundo se estava tornando cheio — apesar de sua "esclarecida" resistência — de milhões de almas angustiadas e desesperadas que não podiam suportar a existência em lugar tão horrível. Também observou que, à medida que aumentava a tensão entre as nações, e o ódio florescia como uma flor sangrenta em todos os habitantes do homem, e o medo explodia como um gás envenenado através das cidades, as moléstias aumentavam. Morte e o desejo de morrer estavam golpeando as almas dos homens como a ferrugem ataca as árvores frutíferas, enegrecendo-as, murchando- as, matando os ramos floridos.
Outrora estivera a ponto de dizer a Armand:
"Dê milhões, não milhares, para meu laboratório de pesquisas, compreendendo que ajudará a ciência a descobrir novos métodos de curar doenças — não apenas para você, mas para milhões de outros homens. Então talvez se cure." Mas sabia que suas palavras seriam recebidas com a maior indignação, ou consideradas com total incompreensão. Queria arrancar-se a tais especulações com uma palavra irada, ou um gesto de desdém. Ia para seu laboratório de pesquisas, e cautelosamente e com circunlóquios, daria sugestões a suas especulações. Descobriu, com grande surpresa, que os jovens médicos sabiam tudo a tal respeito, e por sua vez também especulavam muito.
De modo que, com maior gentileza que a habitual, ouviu as ansiosas perguntas de Armand, suas sugestões, as longas e tortuosas discussões sobre sua doença. Sob esse fluxo de palavras, procurava uma pista sobre a causa real do sofrimento desse homem idoso, a causa real da recusa de suas glândulas para trabalhar. Finalmente, conseguiu a pista: Armand vivia num medo crônico. De quê? De si mesmo? De outrem?
A Lista era agora o evangelho de Armand, a mágica que lhe prolongava a existência. Mas não a estava prolongando, o médico sabia. Dia a dia ficava mais fraco. Morrer, o desejo de sua alma, em breve daria fim à vida de seu corpo. Por que isso?
O médico podia haver recebido uma pista certa noite em que Armand, em seus solitários aposentos, ouvia rádio.
Armand detestava rádios. Alguns anos antes nunca se poria a ouvir o fluxo que se movia pesadamente pelo éter. Mas agora, em seu solitário final, ele ouvia. Da Europa, das capitais do mundo vinham vozes ansiosas, vozes exultantes, aterrorizadas, estimulantes, todas preocupadas com uma só coisa: a decadência da civilização, a guerra próxima e inevitável, as torturas e agonias da humanidade face a face com a sua dissolução autoconstruída. Algumas das vozes censuravam Hitler, instavam para que o mundo se levantasse contra esse louco criado pelos poderosos, pelos concupiscentes, pelos que odiavam a raça humana. Declaravam algumas das vozes que os "provocadores de guerra britânicos, americanos ou franceses é que estavam trazendo essa condenação sobre todos. Outras denegriam os interesseiros, os exploradores, os velhacos, os conspiradores, os ambiciosos. Eram censurados os pacifistas que haviam mantido a América desarmada; os "fabricantes de armamentos", declaravam outras, haviam conspirado o horror que estava chegando — por amor a seus lucros. Nenhuma proclamava que todos os homens em todos os lugares é que tinham concebido, tolerado ou consentido na catástrofe em ascensão. Nenhuma afirmou que nas almas dos homens é que a culpa jazia, sangrenta. A loucura germânica ali estivera para que qualquer pessoa pudesse vê-la, mas ninguém a revelara ao mundo. Alguns a haviam visto, mas calaram-se, esperando tirar proveito do mal.
Agora, só tumulto, desordem vinha do ar, e através de milhões de rádios em lares indefesos. Mas nenhuma voz gritou: "Vocês, que ouvem, são culpados disto!"
Armand ouvia, encolhido em suas salas escuras, inclinando os ouvidos para o instrumento, a claridade difusa que vinha dele sendo a única luz a iluminá-lo. E, enquanto ouvia, seu rosto se contraía, e franzia as sobrancelhas grisalhas muito juntas. Seria uma súbita fraqueza e desintegração, uma febre entorpecedora, uma angústia sem nome.
Ele sofria como sofre um animal, com uma surpresa embotada ante sua própria dor silenciosa, com incompreensão. E com isso havia um horror doentio e uma culpa informe. Por vezes considerava a si mesmo na obscuridade difusa, e se dizia:
"Onde estive durante todo esse tempo? Que aconteceu?"
Não tinha imaginação, nem a capacidade de analisar-se ou a outros. Apesar disso, dentro dele crescia um enorme senso de culpa, de tal modo que sentia o sangue circular mais rápido com uma espécie de terror. Onde estava sua culpa? Não sabia. Mas o mal-estar crescia nele. Começou a ver o rosto de Jules Bouchard no dial iluminado do rádio. Era uma face sorridente, enigmaticamente exultante, sutil e irônica.
Quando algum comentarista histericamente gritou contra os "fabricantes de armamentos", Armand se pôs de pé e berrou: "Isto é um absurdo! Como se um punhado de homens como eu tivesse algo a ver com tudo isso!" Sentia a veracidade de suas próprias palavras e ficou momentaneamente confortado. Que insensatez acreditar que, alguns homens realmente tratavam de criar guerras para obter lucros! Como ousavam os cretinos enfatizar tais idiotices! O pior é que os ignorantes e os estúpidos podiam acreditar nisso...
Sentou-se de novo, tremendo com a primeira raiva forte que sentira em muitos anos. Desligou a furiosa irrupção de palavras, e sentou-se arquejante na obscuridade, apertando os punhos e batendo com eles nos gordos joelhos. Onde estavam Henri, Christopher, Antoine, Francis, Emile, Nicholas — toda a maldita família? Por que permitiam todo esse infernal absurdo? E, então, viu-lhes os rostos, a passar lentamente diante dele, e ficou silencioso.
Começou a falar em voz alta, lentamente, pesadamente, incredulamente:
"Sim, naturalmente! São culpados. Todos somos culpados. Não apenas nós — não os Bouchards apenas. Mas gente como nós, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Pessoas como nós, que fizemos Hitler, que o armamos, que embarcamos para ele material de guerra, que lhe emprestamos dinheiro, que conspiramos com ele, contra nossos próprios países, nosso próprio povo! E por que o fizemos?"
Franziu as sobrancelhas, e mordeu os lábios na escuridão. Havia nele um tremor tão profundo que vagamente chegou a pensar que a casa toda oscilava numa vasta agitação. Apertou os punhos sob o queixo e se encolheu na cadeira, figura grotesca com uma grande cabeça parcialmente coberta por cabelos grisalhos. Nessa obscuridade, podia parecer um gordo gnomo, a concentrar-se como não o havia feito por muitos anos, a mente doendo e palpitando, coração agitado.
Recordava todos aqueles anos em que fora Presidente do Conselho de Bouchard & Sons, após haver cedido a presidência a Henri. Mesmo agora, em retrospecto, sentia o estremecimento profundo, a súbita saudação, o impulso de lutar, que sentira durante o comparecimento às reuniões do Conselho. Lembrava-se como seus ouvidos de súbito retiniam, ficavam surdos, de modo que as palavras e declarações dos outros eram indistintas, e sem sentido. Porém ele ouvira, a despeito de si mesmo, e o que ouvira lhe voltava agora tão vividamente que parecia escrito em letras de fogo nas paredes escuras da sala. Sua mente subconsciente ouvira e recordava — e agora era como uma mão a abrir livros inexoráveis para que lesse.
Rostos, rodeados de uma luz sinistra, flutuavam diante dele. Viu-lhes os sorrisos, as sobrancelhas erguidas, ouviu suas vozes abafadas. Lábios se moviam sem som, depois subitamente trovejavam, de modo que ele captava cada palavra, cada distinta e sinistra palavra, antes que se desfizesse de novo no silêncio.
As vozes falavam de dinheiro, alimentos, petróleo, algodão, chegando à Espanha de Franco depois do colapso e ruína da República, um fluxo constante que fora recusado ao valente e faminto povo que sacudiu o poder esmagador da Igreja e a exploração do Estado. Ouviu a voz de seu parente, Hugo Bouchard, Assistente do Secretário de Estado, instando para que metais preciosos e material de guerra fossem enviados a Franco, pedido concedido pelos Bouchards e os presidentes de suas subsidiárias. "Naturalmente — disse a voz de Hugo, soando aguda e clara na quente obscuridade da sala da Armand — existe a questão de certos radicais: por causa deles Franco necessita de tão enormes quantidades. Pode-se até indagar se muito desse material não está se encaminhando para Mussolini e Hitler. Agora nós, rapazes, empregamos homens de relações públicas e de publicidade muito dispendiosos, e depende deles aquietar a coisa. Podem fazê-lo. Já realizaram trabalhos maiores e mais importantes que isso. Serão loucos, ou pior, se jamais transpirar as reais quantidades que enviamos a Franco. Que diabo! Estamos ajudando Franco desde 1936 — vocês, rapazes, em posições ativas, e eu e alguns amigos no Departamento de Estado. Não vamos parar agora. Hitler precisa..." e a voz desceu a um murmúrio, perdeu-se, pois foi nesse momento, anos atrás, que Armand murmurara algo de incoerente e fugira da sala, seguido pelos olhos zombeteiros dos outros.
Agora a voz de Christopher, vitriólica e incisiva, ergueu-se na escuridão:
"Espero que não estejamos a iludir-nos a respeito da imensidão da luta que está por vir na América, haja ou não guerra na Europa. O trabalho está rapidamente escapando ao controle, sob esta Administração. Com todos os diabos! Temos de trabalhar, e sem demora! Francis, o que está fazendo com os sindicatos?"
A voz de Emile:
"Hitler pode ganhar a próxima guerra. Digam-me, rapazes, o que têm sido seus embarques para Hitler, através da Holanda e da América do Sul? Tenho aqui os meus algarismos, de Bouchard & Sons, mas não estou muito familiarizado com o trabalho de vocês. Henri, o que há com esses cartéis? Que há em números de produção?"
A voz de Jean:
"Digo-lhes que o fascismo é a única proteção que temos contra o trabalho. Alguns de vocês cogitaram a respeito da reação das massas americanas a tal regime. Mas digo-lhes que agora o povo não quer pensar. Quer ser conduzido, governado, que se pense por ele, e até ser dirigido, dirigido firme e fortemente ‘para seu próprio bem’. Pensam que a multidão americana é mais inteligente que a germânica ou a italiana? Se pensam isso, são uns idiotas."
A pomposa voz de pároco de Alexandre:
"Temos de ter na América um Governo de Gerentes. Gerentes de Negócios. Ora, tenho a aprovação bíblica para isso...!"
A voz do Presidente da Associação Americana de Industriais: "Digo-lhes que isto não vai ser fácil. Interessante dizer que destruímos a democracia na América. Mas vocês devem lembrar que existe um barulhento grupo minoritário todo a favor da democracia jeffersoniana, e se forem bastante eloquentes haverá perturbações por aqui. Especialmente se houver guerra. Somos fortes, admito. Mas o que faremos, na prática?
"Vejam os fatos: idealistas tipo ‘filhinhos-da-mamãe’; professores marxistas; políticos do New Deal; jornalistas vociferantes e bêbados já estão mugindo e arruinando a confiança pública em nossa estrutura de negócios. Somos ‘fascistas, conservadores, reacionários e Tories’. Conseguiram adeptos, e isso pode crescer entre as massas estúpidas. Veja os benefícios trabalhistas, desde que aquele tratante está na Casa Branca! Acham que o trabalhismo vai renunciar facilmente a seus direitos, e quietamente deixar que destruamos sua danada e preciosa democracia? Se pensam assim, são uns malditos asnos!"
Novamente a voz macia e risonha de Jean:
"Podemos dar-lhes algo mais colorido. Já organizamos fortes minorias, reacionárias e seguras. Qual é essa sua nova organização, Chris, para quando a guerra estalar na Europa? America Only Committee? Teremos cinco milhões de membros de um dia para o outro, e todos odiarão qualquer coisa que lhe mandemos odiar: ‘provocadores de guerras’, judeus, homens de Estado radicais, idealistas de nariz sujo. Qualquer coisa. Enquanto estão odiando tão vigorosamente, podemos dar a conhecer nossos próprios Guardiães da América, legais e conciliadores sucessores da Ku Klux Klan. Não esqueçam, também, que temos a Legião Americana com seu ódio pelos comunistas. Tudo que precisamos agora é de alguns bons slogans, e nosso pessoal da publicidade deve ter capacidade de encontrá-los. Temos comitês suficientes, acho, para entontecer e desorganizar as massas malcheirosas o tempo suficiente para deixar Hitler vencer na Europa e manter a América fora do barulho. Depois, quando Hitler tiver posto em ordem o equilíbrio da Europa lhe pediremos que nos dê assistência aqui. É o mínimo que ele pode fazer, depois de tudo que fizemos por ele."
E então a voz de Antoine, acompanhada por seu sorriso moreno e resplandecente:
"Vi o bastante na França, entre meus elegantes parceiros, para saber que a França, com todo o seu fervente patriotismo e sua ‘devoção’ a liberté, égaliíé, fraternité, cairá facilmente durante os primeiros meses do assalto germânico. Está tudo decidido lá. Um fraco show de resistência, para afastar as suspeitas públicas, depois uma situação ‘insuportável’ que terminará na capitulação imediata. Os líderes franceses fizeram seu trabalho excelentemente, mesmo em país tão homogêneo onde as massas professam adorar a França. Será ainda mais fácil na América. Quem ama a América? Descendentes de alemães, de italianos, de poloneses, e só Deus sabe que outra escória humana? Também, o povo americano é o mais estúpido e ignorante do mundo! Permitirá que o fascismo ganhe ascendência aqui muito mais depressa do que o francês o faria. Concordo com Jean. Uns poucos comitês e organizações ativos, todos odiando alguém ou alguma coisa com a sincera delícia que anima o homem americano de Neandertal, alguns linchamentos provocados, extorsões, processos, e um bom esparrame de rico e vulgar ridículo — e está feito o trabalho. Trabalhismo? O trabalhismo é por demais iletrado, ganancioso demais, demasiado grosseiro e animalesco para erguer uma mão. Quando assumirmos o Governo sob o novo nacionalismo, o trabalhismo simplesmente adorará trabalhar doze horas por dia apenas para manter cheia a barriga."
"Além disso, não temos a Igreja, na América, com seu evangelho de trabalho, procriação, família, obediência e ignorância para as massas? Deus sabe que subsidiamos isso bastante! Depois, temos nossos jornais, nossas cadeias. Creio que justificarão nossa fé."
As vozes chegavam rapidamente agora aos ouvidos de Armand, malévolas, exultantes, rindo, conspirando. E agora a voz de Douglas Flannery, editor do Clarion de Detroit, que se gabava de ter quatro milhões de leitores não só na área de Detroit como muito além disso:
"Meu jornal ganhou mais de um milhão de leitores durante os últimos seis meses. Isso não lhes significa nada, senhores? Vergastei tudo: do New Deal à Inglaterra, França e Espanha, dos líderes trabalhistas aos comunistas, e orgulho-me do recorde. Enfatizei que precisamos em Washington de homens de negócios, sólidos e conservadores, que coloquem as necessidades da América antes das necessidades marxistas dos radicais europeus. Não tenho receio!" — continuou triunfantemente a voz pomposa e retumbante. — "Sou o único jornal da América que ousa atacar os judeus e os negros; e no caso de alguma insatisfação ou confusão na América — que possa interferir com seus planos, cavalheiros — um pogrom, uma epidemia de linchamentos pode facilmente ser arranjada. Isso distrairá a mente do público. Vejam meus colunistas! Posso dizer que esses rapazes estão fazendo maravilhosamente o seu trabalho. Se Roosevelt tiver a audácia de apresentar-se para um terceiro mandato — o que ele não fará, claro! — nós o demoliremos abertamente.
Na escuridão, Armand subitamente pôs as mãos nos ouvidos, e balançou-se desoladamente em sua cadeira. A testa enrugada estava úmida e fria como gelo.
Agora as vozes se tornaram uma confusão no quente silêncio da sala, vozes de conspiração contra a América, contra o mundo, contra toda a humanidade. Vozes de ganância, crueldade, rapacidade e imensa astúcia. Vozes que falavam do rearmamento da Alemanha, dos camaradas conspiradores na Inglaterra e na França, dos conservadores, dos Tories, dos conspiradores nas classes rurais inglesas e na Riviera francesa, de enormes empréstimos a Hitler, do intrincado labirinto de cartéis internacionais que restringiam o armamento da América, e da conversão de sua economia em eficaz produção de guerra, da divisão — sob esses cartéis — da América do Sul entre companhias alemães e americanas, da supressão de competição — sob esses mesmos cartéis — e do monopólio dos mercados da América, da troca de patentes vitais com Hitler, de propaganda através do mundo que serve como apologia para o nazismo e louva as vitórias em países fascistas sobre o trabalhismo e a 'decadência’, de arranjos para embarques de vital material de guerra para Hitler em caso de guerra — através da América do Sul e outros países neutros. As vozes se erguiam como uma tempestade, como um furacão, de modo que o homem doente ouvindo-as, enquanto se balançava desoladamente em sua cadeira, pensou que a própria abóbada celeste ecoava com elas, e as devolvia aos ecos terrestres.
E depois elas desapareceram numa derradeira nota aguda. Mas o ar do mundo vibrou com elas, tremeu como cordas sendo tangidas, que embora silenciosas agora, ainda tremiam com reverberações não ouvidas...
Armand ergueu a cabeça do peito e olhou cegamente à sua volta. Tinha a boca aberta, e arquejava. Sua doença estava a devorá-lo como um tigre.
Os anos de sua vida passavam diante dele, aqueles anos confusos, medrosos e informes, cheios de hesitação e de temor. Tivera tão pequena integridade, que nunca fora suficiente para coisa alguma a não ser provocar nele essa moléstia mortal. Todos aqueles anos, quando poderia ter feito alguma coisa! Ao invés, sua fraca consciência o roera, devorando as células de sua carne, petrificando nele as forças vitais, entregando-o por fim a essa desolação e a esse desespero, essa solidão e desesperança, espanto e tortura...
Não lamentava: apenas sofria. "Que poderia eu haver feito? — murmurava para si mesmo. — "Na realidade, nunca me importa. Por que, então, me sentia atormentado? Por que fugira?"
Levantou-se, e uma lamúria fugiu-lhe dos lábios: "Eu era bom! Odiava tudo isso! Eu era melhor que eles! Eu realmente tinha a capacidade..."
Agora o terror o inundava e ele apertava convulsivamente as mãos gordas e olhava em volta, apavorado.
Nunca soubera o que é patriotismo. Sua única lealdade fora para consigo mesmo, para com sua família. Não podia compreender. Mesmo agora, conscientemente, não sentia temor pela América, nenhuma preocupação pelo mundo. Só estava cônscio do terrível e subjugante temor.
"Eu era realmente um homem bom!" — tornou a gritar, para a sombria escuridão.
E então soube que toda a sua vida desejara ser bom, e simples. Mas fora um covarde. Mesmo esse desejo fora parte de sua covardia. Nunca fora capaz de sobrepujar sua rapacidade e avareza nativas. Viu que fora criminoso ainda maior que Henri, e Christopher, que todo o resto de sua sinistra família.
Nunca tivera fé em coisa alguma. Murmurou: "Deus!" Mas a palavra não lhe significava absolutamente nada. Era um encantamento sem magia. Seu coração palpitava em fortes pancadas, como se estivesse se afogando.
Sentira agora que as salas de sua casa se estavam amontoando em torno dele, as paredes inclinando-se sobre ele como os paredões de um penhasco, que estava a ponto de ser esmagado. Abriu a boca e soluçou. Disse em voz alta, com espanto:
"Minha consciência só tinha medo por mim mesmo, medo de quaisquer possíveis consequências que poderiam desabar sobre mim devido às minhas conspirações e...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades