



Biblio VT




Um ataque terrorista explode o Voo 002 sem deixar pista que conduza aos autores do crime. Mas um cadáver encontrado junto aos destroços do avião tem o cartão de visita de um assassino implacável e esquivo: três marcas de balas no rosto. Michael Osbourne, agente da CIA especialista em terrorismo, conhece essa marca. Bem demais. Impelido por uma obsessão que ameaça consumir a carreira, a família e a própria vida, Osbourne segue agora febrilmente o rastro do assassino. Mas num mundo de sombras e mentiras, intriga e disfarce, o homem com uma missão expõe-se ao assassino mais brutal e diabólico da face da Terra.
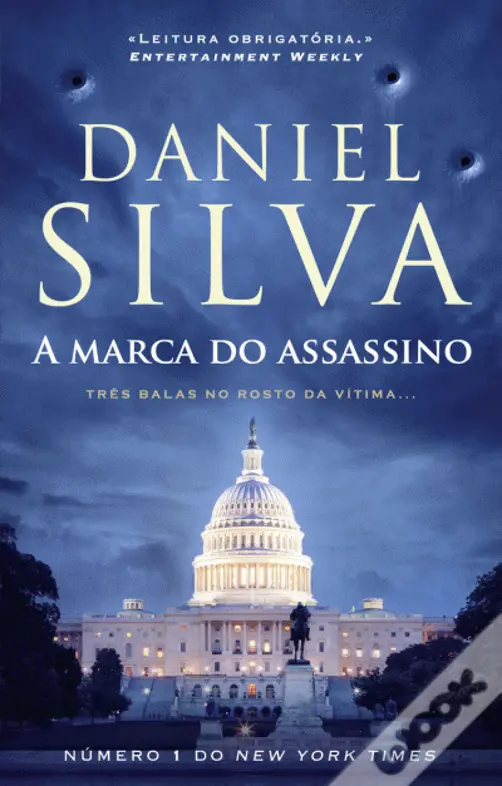
FRONTEIRA AUSTRO-TCHECA
AGOSTO DE 1968
O holofote percorreu o campo aberto. Estavam numa vala no lado checo da fronteira: um homem, uma mulher e um adolescente. Nas noites anteriores outros tinham passado por ali - dissidentes, reformistas, anarquistas - na esperança de fugir aos russos que tinham invadido a Tchecoslováquia e esmagado a experiência de liberdade levada a cabo por Alexander Dubcek, já conhecida como "Primavera de Praga". Alguns tinham conseguido. A maior parte fora detida. O próprio Dubcek fora sequestrado e levado para a União Soviética. Segundo os boatos que corriam, havia quem tivesse sido levado para um batatal próximo e fuzilado.
As três pessoas na vala não estavam preocupadas com o fato de conseguirem ou não fugir. Tinha-lhes sido ordenado que fossem àquela hora, e garantido que a passagem para o Ocidente correria sem problemas. Não tinham motivos para duvidar do que lhes fora dito, pois os três eram agentes do Comité Soviético para a Segurança do Estado, mais conhecido como KGB.
O homem e a mulher serviam no Primeiro Direktorado do KGB. As suas ordens eram infiltrarem-se nas comunidades de checos e russos dissidentes no Ocidente. O rapaz estava ligado ao Departamento V, os assassinos.
O homem rastejou até o alto da vala e perscrutou a noite. Deitou o rosto na erva fresca e úmida quando a luz lhe passou por cima. Com o regresso da escuridão, voltou a erguer-se e observou.
A lua em quarto pairava no horizonte, o que garantia luz suficiente para se ver com clareza: a torre de vigia, a silhueta do guarda fronteiriço, um segundo policial a caminhar ao longo do caminho de cascalho que dava acesso à vedação. O homem olhou para o mostrador luminoso do relógio. Virou-se e murmurou em checo.
- Fiquem aqui. Vou ver se estão prontos para nós. Rastejou sobre o topo da vala e desapareceu.
A mulher olhou para o rapaz. O jovem não tinha mais do que dezesseis anos e ela passara as noites acordada com fantasias sexuais com ele desde a sua chegada à Checoslováquia, havia três semanas. Era demasiado bonito para rapaz: cabelo preto, olhos azuis profundos, como um lago siberiano. A tez era pálida, quase branca. Até àquela noite nunca estivera em campo, mas não mostrava sinais de medo. Apercebeu-se de que ela o fitava. Respondeu-lhe ao olhar com uma franqueza animal que a fez arrepiar-se. O homem regressou dali a cinco minutos.
- Depressa - indicou. - Venham depressa e não digam nada. Estendeu a mão e puxou a mulher para fora da vala. Ofereceu ajuda ao rapaz, que a recusou e saiu pelos seus meios. O guarda fronteiriço juntou-se a eles na vedação. Caminharam cinquenta metros, até o local onde o arame fora cortado. O guarda puxou a rede e, um a um, os três agentes da KGB entraram na Áustria.
Os agentes de controle do Centro de Moscou tinham-lhes definido os movimentos. Teriam de andar até a aldeia mais próxima e encontrar um polícia austríaco. Pela experiência sabiam que os agentes seriam levados para um centro de detenção com outros refugiados de Leste. O interrogatório por parte dos agentes de segurança austríacos seria inevitável, para garantir que não eram espiões. As identidades checas tinham demorado meses a serem construídas. Não tinham falhas. Se tudo corresse de acordo com o plano, dali a semanas seriam libertados para o Ocidente e dariam início à missão que lhes fora atribuída pelo KGB. O Departamento V tinha outros planos para o rapaz.
Não havia segurança do lado austríaco da fronteira. Cruzaram um campo aberto. O ar estava denso com o fedor de estrume e com o estrépito dos grilos. A paisagem escureceu quando a Lua se ocultou por trás das nuvens. A vereda encontrava-se exatamente onde os agentes de controle tinham indicado. Quando chegarem à estrada, dirijam-se para sul, tinham-lhes dito. A aldeia fica nessa direção, a três quilômetros de distância.
O caminho era irregular e estreito, quase nem tendo largura suficiente para uma carroça, e ondulava ao acompanhar a paisagem suave. Caminharam rapidamente, o homem e a mulher à frente, o rapaz alguns passos mais atrás. Meia hora depois, o horizonte tremeluzia com o brilho de postes. Em seguida, o campanário de uma igreja deixou-se ver acima de uma colina baixa. Foi então que o rapaz levou a mão ao casaco, retirou uma pistola com silênciador e alvejou o homem na nuca. A mulher virou-se rapidamente, os olhos arregalados de terror.
O braço do rapaz ergueu-se e disparou três vezes no rosto.
OUTUBRO
AO LARGO DE LONG ISLAND, NOVA YORK
Tentaram na terceira noite. A primeira não fora adequada: céu carregado, chuva intermitente, rajadas de vento. A segunda noite esteve limpa, com uma boa Lua no céu, mas um vento frio de noroeste encrespou demasiado o mar. Até mesmo o iate de mar alto foi agitado. Seria infernal a bordo do pequeno barco a motor. Precisavam de um mar calmo para levar a cabo o que tinham a fazer a partir do barco, por isso afastaram-se mais da costa e passaram uma noite de enjoo à espera. Nessa manhã, a terceira alvorada, a previsão do estado do tempo para a costa foi prometedora: vento fraco, mar calmo, uma frente lenta com bom tempo na sua esteira.
A previsão mostrou-se acertada. A terceira noite estava perfeita.
O seu nome verdadeiro era Hassan Mahmoud, mas sempre o considerara inócuo para um guerreiro da liberdade islâmico, por isso oferecera a si próprio um nom de guerre mais audaz, Abu Jihad. Nascera na Faixa de Gaza e fora criado por um tio na cidade de Gaza. A sua política fora moldada pelas pedras e pelo fogo da Intifada. Aderiu ao Hamas, lutou contra israelenses nas ruas, sobreviveu a dois irmãos e perdeu a conta a quantos amigos. Ele próprio foi ferido uma vez, ficando com o ombro direito destroçado por uma bala do exército israelense. Os médicos disseram que nunca recuperaria o uso total do braço. Hassan Mahmoud, também conhecido por Abu Jihad, aprendeu a atirar pedras com o braço esquerdo. 16
O iate tinha trinta e três metros de comprimento, com seis cabines privadas, um salão amplo e um convés de popa grande o suficiente para albergar uma festa de sessenta pessoas. A ponte era topo de gama, com sistemas de navegação e de comunicação por satélite. Fora concebida para uma tripulação de três elementos, mas dois homens capazes poderiam dar conta do assunto com facilidade.
Tinham zarpado oito dias antes do minúsculo porto de Gustavia, na ilha caribenha de Saint-Barthélemy, e navegado sem pressas ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Mantiveram-se bem ao largo das suas águas territoriais, mas não deixaram de sentir o leve toque da vigilância americana durante a viagem: o avião P-3 Orion que os sobrevoava todos os dias, os barcos da Guarda Costeira dos EUA que cortavam as ondas no mar aberto à distância. Tinham uma história preparada, para o caso de serem abordados. O navio estava registrado em nome de um abastado investidor francês, e deslocavam-se das Caraíbas para a Nova Escócia. Aí, o francês subiria a bordo do iate, acompanhado por um grupo de doze pessoas, para um cruzeiro de um mês nas Caraíbas. Não havia qualquer francês - fora criado por um oficial de um serviço secreto amigo - e, seguramente, não havia nenhum grupo de doze elementos.
Quanto ao Canadá, não faziam sequer tenção de se aproximarem.
Nessa noite, limpa e bastante fria, agiram em condições de extinção de luzes.
A brilhante Lua em quarto garantia luz suficiente para que se deslocassem com facilidade nos conveses. O motor estava desligado, para o caso de um avião ou um satélite equipado com infravermelho passar por cima do barco. O iate ondulava suavemente no mar calmo.
No salão escurecido, Hassan Mahmoud fumava nervoso. Vestia jeans, tênis Nike e um pulôver de lã da L. L. Bean. Ergueu o olhar para o outro homem. Estavam juntos havia dez dias, mas o companheiro falava apenas quando necessário. Certa noite quente, ao largo da costa do estado da Geórgia, Mahmoud tentara meter conversa. O homem limitara-se a resmungar e dirigira-se à sua cabine. Nas raras ocasiões em que comunicava verbalmente, falava com o árabe correto e átono de quem estudara a língua com afinco sem, no entanto, ter dominado as subtilezas. Quando Mahmoud lhe perguntou o nome, o homem passou a mão pelo cabelo negro curto, esfregou o nariz e respondeu que se fossem necessários nomes, poderia chamar-lhe Yassim.
Não era, de todo, um Yassim. Mahmoud era bastante viajado para um rapaz dos campos de Gaza. O ofício do terror a isso o obrigava. Estivera em Roma e em Londres. Passara muitos meses em Atenas e escondera-se em Madrid com uma célula palestina durante todo um Inverno. O homem que desejava ser chamado de Yassim e que falava com uma pronúncia estranha não era árabe. Enquanto o observava, Mahmoud tentou atribuir uma posição geográfica e uma etnia à mistura de feições estranhas do cúmplice silencioso. Olhou para o cabelo: quase preto, com laivos grisalhos nas fontes. Os olhos eram de um azul penetrante, a tez tão pálida que era quase branca. O nariz era comprido e estreito - o nariz de uma mulher, pensou - os lábios cheios e sensuais, as maçãs do rosto largas. Talvez grego, pensou, talvez italiano, ou espanhol. Talvez turco, ou curdo. Durante um momento insano, chegou a pensar que fosse israelense. Mahmoud observou o homem, que desejava ser chamado Yassim, a desaparecer pela escada para o convés inferior. Regressou dois minutos depois, com um objeto comprido e esguio.
Mahmoud apenas tinha um nome para ele: Stinger.
Quando falou, Yassim tratou Mahmoud como se este não percebesse nada de Stingers. No entanto, Mahmoud conhecia-os bastante bem. Sabia que a versão do míssil lançada ao ombro tinha um metro e meio e pesava exatamente dezessete quilos, duzentos e cinquenta gramas. Sabia que possuía sistemas de orientação de busca de calor, de infravermelhos e ultravioletas passivos. Sabia que o alcance efetivo era de cerca de cinco quilômetros. Nunca disparara uma dessas armas, eram demasiado preciosas e caras para se desperdiçarem com um teste, mas treinara dezenas de horas e sabia exatamente o que esperar.
- Já foi programado para procurar um avião grande de quatro motores - dizia Yassim. - A ogiva foi preparada para penetrar no alvo antes de explodir.
Mahmoud aquiesceu e não disse nada.
- Aponta o míssil ao alvo - explicou Yassim pacientemente, no seu árabe monocórdico. - Quando o sistema de orientação encontrar o alvo e se fixar, vais ouvir um som no ouvido. Quando ouvires o sinal, dispara.
Mahmoud tirou outro Marlboro e ofereceu o tabaco a Yassim, que recusou com um gesto da mão e prosseguiu com a palestra.
- Depois de o míssil ser disparado, deixa o tubo de lançamento vazio no barco e volte para o iate.
- Disseram para jogar o tubo na água - replicou Mahmoud.
- E eu estou dizendo para trazer para cá. Quando o avião cair, os americanos vão varrer o leito do oceano com sonar. É bem provável que o encontrem. Por isso, traga-o. Livramo-nos dele mais ao largo.
Mahmoud aquiesceu. Recebera ordens diferentes, mas a explicação para a mudança de planos era razoável. Não disseram nada durante vinte minutos. Mahmoud brincou com o punho do tubo de lançamento do Stinger. Yassim serviu-se de café e bebeu-o no convés de popa, ao ar frio da noite.
Depois Yassim subiu até a ponte e escutou o rádio. Mahmoud, ainda instalado no salão, podia ouvir as indicações dos controladores aéreos do Aeroporto Internacional JFK.
Dois barcos mais pequenos estavam amarrados à ré do iate, um barco de borracha, Zodiac, e um navio-baleeiro de Boston, Dauntless, com seis metros. Mahmoud desceu até junto à água, puxou o navio-
- baleeiro mais para o iate e passou por cima da amurada para os bancos da frente. Yassim seguiu-o pelas escadas e entregou-lhe o Stinger. O navio-baleeiro tinha uma consola dupla, dividida por uma passagem que ligava os bancos da frente dos posteriores. Mahmoud pousou o Stinger no convés de ré, sentou-se aos comandos e ligou o motor. Yassim soltou o navio-baleeiro, atirou a corda para o convés e empurrou o barco mais pequeno com um movimento rápido do pé.
Mahmoud acelerou e o navio-baleeiro cruzou a água em direção à costa de Long Island.
O Voo 002 da TransAtlantic Airlines parte todas as noites do Aeroporto
Internacional JFK às 7:00 e chega a Londres na manhã seguinte às 6h55. O capitão Frank Hollings já perdera a conta às vezes que fizera a viagem, muitas delas no mesmo Boeing 747 que pilotaria nessa noite, o N75639. A aeronave foi a centésima quinquagésima a sair da linha de montagem dos Boeing 747, em Renton, Washington, e tivera poucos problemas durante as suas três décadas no ar. A previsão meteorológica indicava bom tempo durante a maior parte do percurso e uma aproximação chuvosa a Heathrow. Hollings esperava um voo calmo. Às 6:55, a chefe de cabine informou o capitão Hollings de que todos os passageiros se encontravam a bordo. Exatamente às 7:00, o Capitão ordenou que se fechassem as portas da aeronave e o Voo 002 da TransAtlantic afastou-se do portão de embarque.
Mary North dava aulas de Inglês na Bay Shore High School de Long Island e era conselheira do Clube de Drama. Na altura, acompanhar os membros do clube a Londres, para cinco dias de teatro e de turismo, parecera uma boa ideia. O projeto exigira mais esforço do que ela imaginara: inúmeras vendas de bolos, lavagens de carros e rifas. Mary pagara as suas próprias despesas, mas isso significara ter de deixar o marido e os dois filhos nos Estados Unidos. John ensinava Química na Bay Shore, e o orçamento não permitia uma viagem a Londres para alguns dias de teatro.
Os alunos pareciam animais. Tivera início na van a caminho do aeroporto: os gritos, a música rap e Nirvana aos berros nos receptores. Os filhos tinham quatro e seis anos, e todas as noites ela rezava para que não chegassem à puberdade. Agora os alunos estavam a atirar pipocas uns aos outros e faziam comentários sugestivos sobre as assistentes de bordo. Mary North fechou os olhos. Talvez se cansassem rapidamente, pensou. Talvez dormissem.
Uma pipoca foi bater-lhe no nariz.
Se calhar perdeste a cabeça de vez Mary, pensou.
Enquanto o Voo 002 se dirigia para o fim da pista, Hassan Mahmoud estava a bordo do Dauntless, a cruzar as águas para o extremo ocidental da Fire Island, a ilha esguia na costa sul de Long Island.
A viagem desde o iate decorrera sem percalços. A Lua baixa brilhava no céu oriental, o que lhe permitia navegar sem luzes. Do distrito de Queens, à sua frente, emanava uma pálida luz amarela.
As condições atmosféricas eram perfeitas: céu limpo, mar calmo, quase sem vento. Mahmoud confirmou o indicador de profundidade e desligou o motor. O Dauntless deslizou sobre as águas até parar. À distância podia ouvir o ronco de um navio de carga a sair do porto de Nova York. Ligou o rádio e sintonizou a frequência adequada.
Cinco minutos depois, Mahmoud ouviu o controlador aéreo a dar ao Voo 002 da TransAtlantic a autorização final para a descolagem. Pegou no Stinger e ligou os sistemas de disparo e de orientação. Depois colocou-o ao ombro e olhou para o céu noturno através do mecanismo de pontaria.
Mahmoud ouviu o avião antes mesmo de o conseguir ver. Dez segundos depois, avistou as luzes de navegação do 747 e seguiu-as pelo firmamento negro. Depois ouviu o sinal sonoro que o avisava de que o Stinger se fixara no alvo. O navio-baleeiro agitou-se com violência quando o combustível sólido do Stinger se inflamou e o míssil deixou o tubo de lançamento com um rugido. "Os americanos gostam de chamar ao seu precioso Stinger uma arma de disparar e esquecer", dissera-lhe o instrutor durante uma das sessões de treino. O instrutor era um afegão que perdera um olho e uma mão a matar russos. Disparar e esquecer, pensou Mahmoud. Disparar e esquecer. Tão simples quanto isso. Agora vazio, o tubo de lançamento era bastante mais leve. Largou-o para o convés, tal como Yassim lhe dissera para fazer. Depois ligou o motor do navio-baleeiro e afastou-se velozmente da costa, olhando brevemente sobre o ombro para ver o Stinger a rasgar o manto negro da noite a uma velocidade supersônica.
O capitão Frank Hollings pilotara bombardeiros B-52 sobre o Vietname do Norte e já vira mísseis terra-ar. Durante um breve instante, permitiu-se acreditar que poderia ser outra coisa, um avião pequeno em chamas, um meteoro, fogo-de-artifício desgarrado. Depois, à medida que o míssil se aproximava deles como um raio, apercebeu-se de que não podia ser mais nada. O cenário de pesadelo tornara-se realidade. - Santa Mãe de Deus - murmurou. Virou-se para o copiloto e fez menção de falar. O avião estremeceu com violência. No instante seguinte, foi rasgado por uma potente explosão e sobre o mar choveu fogo.
Quando ouviu o Dauntless a aproximar-se, o homem chamado Yassim acendeu rapidamente uma poderosa lanterna de sinalização três vezes. O barco mais pequeno deixou-se ver. Mahmoud reduziu a potência e o Dauntless deslizou até a popa do iate.
Mesmo no luar fraco, podia ver a expressão no rosto do rapaz: o entusiasmo febril, o medo, a excitação. Era visível nos brilhantes olhos palestinos de um castanho profundo, nas mãos agitadas que percorriam os controles do Dauntless. Por sua conta, Mahmoud passaria a noite em claro, e o dia seguinte também, a reviver o momento, a recontar cada pormenor, a explicar vezes sem conta como se sentira no instante em que o avião irrompera em chamas. Yassim detestava ideólogos, abominava a forma como envergavam o sofrimento como uma armadura e disfarçavam o medo com uma máscara de valor. Desconfiava de todos os indivíduos que se dispunham a ter uma vida assim. Apenas confiava em profissionais.
O Dauntless bateu ao de leve na popa do iate. O vento aumentara de intensidade nos últimos minutos e ondas suaves chapinhavam no casco dos barcos. Yassim desceu a escada enquanto Hassan Mahmoud desligava o motor e se deslocava para a zona dos bancos. Estendeu a mão para que Yassim o ajudasse a sair do barco, mas o homem limitou-se a sacar da cintura uma pistola Glock 9mm com silenciador e alvejou rapidamente o jovem palestino três vezes no rosto.
Nessa noite, estabeleceu a rota do iate para oriente e ligou o sistema de navegação automática. Ficou acordado na sua cabine, deitado na cama. Mesmo agora, depois de mortes incontáveis, não conseguia dormir na primeira noite após um assassinato. Quando fugia, ou quando ainda estava em público, conseguia sempre manter-se concentrado e frio. Mas à noite chegavam os demônios. À noite via os rostos, um a um, como fotografias num álbum. Primeiro vivos e vibrantes, depois contorcidos com o véu da morte, ou desfeitos pelo seu método preferido de matar, três balas no rosto. Então chegava a culpa, e dizia a si mesmo que não escolhera aquela vida. Fora escolhida para si. De madrugada, com o primeiro raio de luz da alvorada a espreitar pela janela, acabou finalmente por adormecer. Levantou-se ao meio-dia e deu início à rotina dos preparativos para a partida. Barbeou-se e tomou duche, depois vestiu-se e guardou o resto da roupa numa pequena mala de pele. Fez café e bebeu-o enquanto via a CNN no magnífico sistema de televisão via satélite do iate. Era uma pena: a dor dos familiares no Kennedy e em Heathrow, a vigília numa escola secundária algures em Long Island, os jornalistas a especularem quanto à causa do acidente.
Percorreu uma última vez cada cabine do iate, para confirmar que não deixara vestígios da sua presença. Verificou as cargas explosivas.
À hora exata que lhe tinha sido indicada, às seis da tarde, pegou um pequeno objeto preto de um armário na cozinha da embarcação. Não era maior do que uma caixa de charutos e assemelhava-se vagamente a um rádio. Levou-o para o exterior, para o convés de popa, e pressionou um único botão. Não se ouviu qualquer som, mas sabia que a mensagem fora enviada através de uma microrrajada codificada. Mesmo que a NSA americana a interceptasse, não passaria de uma algaraviada incompreensível.
O iate rumou a oriente durante mais duas horas. Eram oito da noite. Programou as cargas e vestiu um colete de lona com um mosquetão pesado de metal à frente. A noite estava mais ventosa, o ar mais frio e havia nuvens altas. O Zodiac, amarrado em cunho na popa, subia e descia ao ritmo das ondas de um metro. Entrou para o barco de borracha, soltou-o e puxou a corda de arranque do motor, que ganhou vida à terceira tentativa. Afastou-se do iate e acelerou. Ouviu o helicóptero vinte minutos mais tarde. Desligou o motor do Zodiac e apontou uma lanterna de sinalização para o céu. O helicóptero pairou por cima dele, enchendo a noite com as batidas dos rotores. Um cabo caiu-lhe do ventre. O homem prendeu-o ao colete e puxou duas vezes com força para indicar que estava pronto. No instante seguinte, foi içado com suavidade do Zodiac.
Ouviu explosões à distância. Virou a cabeça a tempo de ver o grande iate a ser erguido da água pela força dos rebentamentos e depois começar a lenta descida até o fundo do Atlântico.
SÃO FRANCISCO
O presidente James Beckwith foi informado da tragédia enquanto passava férias na sua casa em São Francisco. Esperara alguns dias de descanso: uma tarde calma no gabinete sobranceiro à Golden Gate Bridge, um jantar descontraído com velhos amigos e apoiantes políticos em Marin. Acima de tudo, um dia a velejar, a bordo da sua adorada galeota de dez metros Democracy, mesmo que isso significasse ser perseguido por um bando de repórteres e de operadores de câmara da Casa Branca através das águas da baía de São Francisco. Os passeios diurnos na Democracy representavam sempre o tipo de imagens que os seus conselheiros políticos mais gostavam: o presidente, em forma e jovial apesar dos sessenta e nove anos de idade, ainda capaz de manobrar o barco apenas com Anne a bordo. O rosto bronzeado, o corpo esguio a deslocar-se com leveza pelo convés, os óculos de sol elegantes de estilo europeu por baixo da pala do boné do Air Fone
O escritório particular na grande casa de Beckwith, no Marina District, refletia na perfeição o seu gosto e a sua imagem: elegante, confortável, tradicional, mas com suficientes toques modernos que transmitissem a noção de que se encontrava ligado ao mundo atual. A secretária era de vidro com um leve tom de cinzento, o computador preto. Orgulhava-se em saber tanto de computadores como a maior parte dos seus quadros mais jovens, se não mais.
Levantou o receptor do telefone preto e pressionou uma única tecla. Uma telefonista da Casa Branca ficou em linha.
- Sim, Senhor Presidente?
- A menos que o chefe de gabinete telefone, não me passe chamadas por agora, Grace. Gostaria de ter alguns momentos a sós.
- com certeza, Senhor Presidente.
Ouviu a linha a ficar muda. Pousou o receptor e dirigiu-se à janela. Pesasse embora o vidro à prova de bala imposto pelos Serviços Secretos, a vista era espantosa. O Sol encontrava-se baixo no horizonte e banhava a cidade com tons suaves de púrpura e laranja. A neblina do fim de tarde cobria a Golden Gate. Lá em baixo, papagaios de papel coloridos flutuavam sobre a margem da baía. A panorâmica exerceu a sua magia. O presidente perdera a noção de quanto tempo ali estivera de pé, a observar a cidade silenciosa, as águas encrespadas da baía, as colinas castanhas de Marin à distância. A última luz do entardecer desapareceu e, após alguns minutos, Beckwith era fitado pelo seu próprio reflexo no vidro.
Beckwith não gostava do termo "patrício", mas até mesmo ele tinha de admitir que era uma boa descrição da sua aparência e do seu porte. Os conselheiros gracejavam, dizendo que se Deus tivesse criado o candidato político perfeito, seria ele, James Beckwith. Destacava-se onde quer que entrasse. Tinha mais de um metro e oitenta e a cabeça ainda coberta de cabelo cintilante que se tornara grisalho aos quarenta anos. Tinha uma aura de força, uma agilidade física que o acompanhava desde os dias de estrelato como jogador de futebol e de basebol em Stanford. Os olhos eram de um azul-claro e descaídos nos cantos, as feições estreitas e contidas, o sorriso ponderado, mas confiante. A pele exibia um bronzeado permanente, fruto das horas que passava a bordo da Democracy.
Quando Beckwith assumira a presidência, havia quatro anos, fizera uma promessa a si próprio: Não deixaria que o cargo o consumisse, tal como acontecera com tantos dos seus antecessores. Corria trinta minutos por dia na passadeira e passava outros trinta a levantar pesos no ginásio da Casa Branca. Outros homens tinham-se tornado desleixados durante o mandato. James Beckwith perdera peso e acrescentara dois centímetros de músculo ao peito.
Beckwith não procurara a política. Fora esta que o encontrara. Era o principal promotor de justiça do gabinete do Ministério Público de São Francisco quando chamou a atenção da elite republicana do estado. Com Anne e os três filhos a seu lado, Beckwith venceu com facilidade todas as corridas em que entrou. A ascensão parecera simples, como se estivesse destinado à grandeza. A Califórnia elegeu-o procurador-geral, e depois vice-governador. Sentou-o no Senado durante dois mandatos e depois trouxe-o de volta a Sacramento, para um mandato como governador, a preparação final para a entrada na Casa Branca. Ao longo da sua carreira política, os profissionais que o rodeavam construíram uma imagem cuidadosa. James Beckwith era um conservador de bom senso. James Beckwith era um homem em quem o país podia confiar. James Beckwith conseguia fazer coisas. Era exatamente o tipo de homem de que o Partido Republicano estava à procura, um moderado com feições agradáveis, uma alternativa decente aos conservadores de linha dura do Congresso. Depois de oito anos de controle democrático da Casa Branca, o país estava disposto a mudar. O país escolheu Beckwith.
Agora, quatro anos depois, o país já não tinha a certeza de ainda o querer. Afastou-se da janela, dirigiu-se à secretária e serviu-se de uma chávena de café de um jarro térmico cromado. Beckwith acreditava que todos os males vinham sempre por bem. Abater um avião comercial americano ao largo de Long Island era um ato flagrante de terrorismo internacional, uma ação covarde e selvagem que não podia ficar sem resposta. Em breve o eleitorado teria conhecimento daquilo que Beckwith já sabia: o Voo 002 da TransAtlantic fora abatido por um míssil Stinger, ao que parecia lançado de uma pequena embarcação ao largo da costa. O povo americano ficaria assustado e, a julgar pelo passado, procuraria nele conforto e garantias.
James Beckwith detestava os jogos políticos, mas era suficientemente esclarecido para perceber que os terroristas lhe tinham dado uma oportunidade de ouro. Ao longo do ano anterior, os níveis de contentamento tinham descido abaixo dos cinquenta por cento, o que representava a morte de um presidente eleito. O discurso de tomada de posse na Convenção Nacional Republicana fora monótono e sem vida. A imprensa de Washington considerara a expectativa de Beckwith para o segundo mandato um "primeiro mandato requentado". Certos membros da elite jornalística começaram a redigir o seu obituário político. Apenas a um mês das eleições, estava atrás do opositor, o senador democrata Andrew Sterling, do Nebraska, entre três a cinco pontos na maior parte das sondagens nacionais.
No entanto, o mapa eleitoral parecia ter um aspeto diferente. Beckwith cedera a Sterling Nova York, a Nova Inglaterra e o Midwest industrial. O seu apoio permanecia sólido no Sul, nos estados cruciais da Florida e do Texas, e na Califórnia e no Ocidente montanhoso. Se Beckwith os conquistasse a todos, seria o vencedor. Se algum deles caísse nas mãos de Sterling, a eleição estaria perdida.
Sabia que a queda do Voo 002 mudaria tudo. A campanha seria interrompida.
Beckwith iria cancelar uma digressão pelo Tennessee e pelo Kentucky, e regressaria a Washington para lidar com a crise. Se a gerisse bem, a satisfação dos eleitores subiria e Beckwith anularia a desvantagem. E tudo no conforto e segurança da Casa Branca, sem andar a correr pelo país a bordo do Air Force One, ou de um qualquer ônibus de campanha, a apertar as mãos de velhos e a repetir o mesmo discurso vezes sem conta.
Os homens grandiosos não nascem grandes, pensava. Os homens grandiosos alcançam a grandeza porque aproveitam as oportunidades. Regressou com o café à janela e pensou: Mas será que quero mesmo um segundo mandato? Ao contrário da maior parte dos antecessores, pensara bastante nessa questão. Interrogava-se se teria a energia necessária para uma derradeira campanha nacional: a interminável angariação de fundos, o escrutínio microscópico do seu currículo, as viagens constantes. Ele e Anne acabaram por detestar viver em Washington. Beckwith nunca fora aceite pela elite que dominava a cidade, jornalistas, advogados e lobistas ricos, e a residência oficial viera a tornar-se mais uma prisão do que um lar. Mas deixar a cadeira presidencial após um único mandato era inaceitável. Perder a reeleição para um senador do Nebraska que cumpria ainda o segundo mandato e deixar Washington derrotado...?
Beckwith tremia só de pensar nisso.
Em breve iriam buscá-lo. Ao lado do gabinete havia uma casa de banho privada, onde um adido deixara as suas roupas penduradas no cabide por trás da porta.
O presidente entrou e deu uma vista de olhos à roupa. Sabia que fora escolhida pessoalmente pelo chefe de gabinete e amigo de longa data Paul Vandenberg. Paul tratava dos pormenores. Paul tratava de tudo. Sem ele, Beckwith estaria perdido.
Por vezes, até mesmo Beckwith se sentia embaraçado pelo extremo a que Paul Vandenberg chegava no domínio da vida do Presidente. A comunicação social costumava referir-se a ele como o "primeiro-ministro", ou o "poder por trás do trono". Sempre consciente da imagem que deixaria para a posteridade, Beckwith receava ser considerado um peão de Paul Vandenberg. Este, contudo, dera a sua palavra a Beckwith: nunca se assumiria como tal. O Presidente confiava nele. Paul Vandenberg sabia guardar segredos. Acreditava no exercício subtil do poder. Tinha uma personalidade intensamente privada, era discreto e tecia comentários aos jornalistas apenas quando tal era absolutamente necessário. Surgia com relutância nos talk shows televisivos de domingo de manhã, mas só quando o secretário de imprensa da Casa Branca lhe implorava. Beckwith considerava-o um péssimo convidado: a confiança e a genialidade revelada nas reuniões e nos encontros políticos privados evaporavam-se assim que a luz vermelha da câmara se acendia.
Despiu os jeans e o pulôver de algodão e vestiu a roupa que Paul lhe escolhera: calças de lã azuis, camisa azul, uma blusa leve, um blazer azul. Digno, mas ao mesmo tempo confortável. A equipe de segurança nacional ia reunir-se dali a dez minutos, na sala de jantar do rés-do-chão. Não seriam permitidas câmaras de televisão, apenas um fotógrafo da Casa Branca que registraria o momento para a imprensa e para a posteridade. James Beckwith, a lidar com a mais importante crise do seu mandato. James Beckwith, a desprezar a campanha de reeleição para se ocupar com as responsabilidades do cargo. James Beckwith, líder.
Olhou uma última vez para o seu reflexo no espelho.
Os homens grandiosos não nascem grandes. Os homens grandiosos alcançam a grandeza porque aproveitam as oportunidades.
WASHINGTON, D. C.
Elizabeth Osbourne passara a semana com receio daquele momento. Entrou com o Mercedes prateado no estacionamento do Georgetown University Medical Center e encontrou um lugar perto da entrada. Olhou para o relógio do painel. Quatro e meia. Estava quinze minutos adiantada. Desligou o motor. Uma tempestade tropical deslocara-se do Golfo do México e instalara-se sobre a cidade. Chuvadas fortes marcaram a tarde. Rajadas de vento arrancaram árvores por todo o noroeste de Washington, levaram ao encerramento do National Airport e afastaram os turistas dos monumentos e dos museus.
A chuva martelava no tejadilho e corria em rios pelo para-brisa. No instante seguinte, o resto do mundo desapareceu atrás de uma cortina de água. Elizabeth apreciava a sensação de não conseguir ver mais nada à sua volta. Fechou os olhos. Gostava de imaginar poder mudar de vida, abrandar o ritmo, deixar Washington e instalar-se com Michael em algum sítio calmo e tranquilo. Sabia que era um sonho tolo e nada realista. Elizabeth Osbourne era uma das mais respeitadas advogadas de Washington. O marido, que dizia ser consultor comercial internacional, era um dos oficiais mais graduados da Central Intelligence Agency.
O celular tocou baixinho. Ainda de olhos fechados, pegou no aparelho e atendeu: - Sim, Max.
Max Lewis era o seu secretário executivo de vinte e seis anos. Na noite anterior, sozinha no quarto com um copo de vinho e uma pilha de relatórios, Elizabeth apercebera-se de que era com Max que mais falava.
O fato deixara-a bastante deprimida.
- Como sabias que era eu? - perguntou Max.
- Tu e o meu marido são as únicas pessoas que conhecem este número, e sabia que não podia ser ele. - Pareces desapontada.
- Não, apenas um pouco cansada. O que foi?
- O David Carpenter está a ligar de Miami.
- Diz ao senhor Carpenter que lhe telefono assim que chegar a casa. A experiência diz-me que as conversas com o David Carpenter não devem ser mantidas ao celular. - Ele diz que é urgente. - Normalmente é o caso.
- A que horas lhe digo que telefonas?
- Por volta das sete, mas talvez me atrase um pouco, dependendo de como as coisas corram por aqui.
- O secretário do Braxton telefonou.
Samuel Braxton era o sócio-gerente da Braxton, Auworth & Kettlemen, e o maior angariador de negócios da firma. Servira duas administrações republicanas, uma delas como chefe de gabinete adjunto da Casa Branca e outra como secretário adjunto do Tesouro, e era um dos nomes prováveis para Secretário de Estado, caso Beckwith fosse eleito para um segundo mandato. Via Elizabeth com desconfiança, pois não gostava das suas cores políticas. O pai dela era Douglas Cannon, um democrata liberal de Nova York que cumprira dois mandatos no Senado, e Elizabeth saíra por duas vezes da firma para trabalhar com senadores democratas. Braxton referia-se habitualmente a ela como "a esquerdista cá da casa". Quando durante as reuniões questionava os vários elementos presentes, regra geral conseguia arrancar gargalhadas virando-se para Elizabeth e dizendo: "E agora Elizabeth Cannon-Osbourne, com o ponto de vista da ACLU*."
*ACLU é sigla de American Civil Liberties Union, União Americana das Liberdades Civis.
O conflito com Samuel Braxton tinha ainda um lado mais sério. Braxton batera-se para impedir que Elizabeth fosse aceita como sócia, cedendo apenas quando os demais sócios o convenceram de que a empresa se veria a braços com um processo por discriminação sexual. Agora, três anos depois, a relação entre os dois assumira os contornos de trégua periclitante. Em geral, Braxton tratava-a com respeito e esforçava-se verdadeiramente por consultá-la em todas as principais decisões sobre o futuro da firma. Convidava-a com regularidade para acontecimentos sociais e, no ano anterior, na festa de Natal da Casa Branca, referira-se a ela como "uma das nossas estrelas", ao apresentá-la ao Chefe de Gabinete Paul Vandenberg.
- O que deseja Lorde Braxton, Max?
Max riu. Elizabeth confiava-lhe a vida, e o sentimento era mútuo. Seis meses antes, Max contara-lhe algo que não dissera a mais ninguém: era soropositivo. - Sua Senhoria deseja que estejas presente num jantar, quinta-feira à noite. - Vai realizar-se no solar?
- Não, vai ser organizado por um dos clientes importantes dele. O secretário de sua Senhoria deu a entender que a tua presença não era opcional.
- Quem é o cliente?
- Mitchell Elliott.
- O Mitchell Elliott da Alatron Defense Systems?
- O próprio.
- Onde vai ser o jantar?
- Na casa de Elliott, em Kalorama. Mais exatamente na Califórnia Street. Tens uma caneta à mão?
Elizabeth procurou uma caneta e a agenda na pasta e anotou o endereço ditado por Max.
- A que horas?
- Sete e meia.
- Posso levar acompanhante?
Os cônjuges são permitidos. Elizabeth, vais chegar atrasada à consulta. Elizabeth olhou para o relógio.
- Oh, merda! Mais alguma coisa?
- Nada que não possa esperar até amanhã.
- Para onde vou amanhã?
- Chicago. Coloquei os bilhetes na aba da tua pasta. Elizabeth levantou a aba e viu o envelope da passagem de primeira classe da American Airlines. - Sem você estaria perdida, Max.
- Eu sei.
- Teve notícia de Michael?
- Nem um pio.
- Amanhã de manhã telefono do avião.
- Ótimo - replicou. - E boa sorte, Elizabeth. Estou torcendo por você.
Elizabeth desligou e marcou o número do telefone do carro de Michael. O telefone chamou cinco vezes antes de uma voz gravada anunciar que o cliente não estava disponível naquele momento. Elizabeth desligou, furiosa. Deixou-se ficar imóvel por alguns segundos, a ouvir o tamborilar da chuva.
Murmurou: - Michael Osbourne, se não entrar neste estacionamento nos próximos cinco minutos, juro por Deus que eu...
Esperou cinco minutos. Depois debateu-se para vestir a gabardina e saiu para a tempestade, deixando para trás o calor do carro. Abriu o chapéu-de-chuva e começou a percorrer o estacionamento, mas uma rajada de vento arrancou-o das suas mãos. Observou-o aos saltos por um momento, em direção à Reservoir Road. A imagem fê-la soltar uma gargalhada. Aconchegou o colarinho da gabardina e correu à chuva o restante percurso.
- O doutor está alguns minutos atrasado.
A recepcionista sorriu, como se tivesse acabado de dizer as palavras mais interessantes do dia. Elizabeth entrou, despiu a gabardina e sentou-se. Era a última doente do dia e deu graças a Deus por estar sozinha. A última coisa que queria era manter conversa de ocasião com outra mulher que sofresse do mesmo problema. A chuva fustigava a janela sobranceira ao estacionamento. Elizabeth virou-se e olhou para a rua. Uma fileira de árvores soltava folhas ante a investida do vento. Procurou o Jaguar de Michael, mas não avistou qualquer sinal do carro.
Procurou na mala, tirou um dos dois celulares que sempre usava para garantir a possibilidade de ter duas conversas ao mesmo tempo e teclou o número de Michael. Mais uma vez ninguém atendeu. Queria ligar para o escritório do marido mas, se ainda estivesse em Langley, nunca conseguiria chegar a tempo. Levantou-se e percorreu lentamente a sala. Era naquelas alturas que Elizabeth odiava ser casada com um espião. Michael detestava que ela o chamasse de espião. Explicava-lhe com paciência que era agente de casos, não um espião. Elizabeth considerava que era um termo idiota para aquilo que Michael fazia. - Até parece que és uma espécie de conselheiro, ou de assistente social - dissera Elizabeth no dia em que Michael lhe tentara descrever o seu trabalho pela primeira vez. Ostentara o seu sorriso cuidadoso e replicara: "Bem, isso não anda muito longe da verdade."
Apaixonara-se por Michael antes de saber que ele trabalhava para a CIA. Um amigo convidara-a para velejar na baía Chesapeake, e Michael também fora convidado. Era um dia abafado de finais de Julho, com muito pouco vento. Enquanto o barco se arrastava pela água calma, Elizabeth e Michael permaneceram à sombra das velas indolentes, a beber cerveja gelada e a falar. Ao contrário da maior parte dos homens de Washington, Michael pouco falou sobre o trabalho. Disse que era consultor internacional, que morara vários anos em Londres e que acabara de ser transferido para o escritório de Washington da empresa. Nessa noite, comeram omelete de caranguejo e beberam vinho branco fresco num pequeno restaurante em Annapolis com vista para a água. Elizabeth fitou-o durante toda a refeição. Era o homem mais bonito que já vira. O dia passado a velejar tinha-o mudado. O sol bronzeara sua pele e deixara madeixas douradas no cabelo escuro. Os olhos eram de um verde profundo, salpicados de amarelo, como a erva silvestre do Verão. Tinha um nariz comprido e direito, e em várias ocasiões Elizabeth viu-se obrigada a conter-se para não lhe tocar nos lábios perfeitos. Considerava-o exótico, como se fosse italiano, turco, ou espanhol.
Nessa noite, Michael seguiu-a de volta à cidade pela Route 50, e ela levou-o para a cama. Tinha trinta e quatro anos e quase desistira da ideia de se casar. Mas nessa noite, ao recebê-lo no seu corpo pela primeira vez, apaixonou-se perdida e desesperadamente por um homem que conhecera oito horas antes, e sobre o qual não sabia quase nada.
Michael contou-lhe dois meses depois, durante um fim-de-semana prolongado na casa de Verão do pai de Elizabeth, em Shelter Island. Estava-se nos finais de Setembro. Os dias eram quentes mas, quando à noite o vento se levantava, podia sentir-se a pontada agreste do Outono. Depois de jantar vestiam blusas e calças, e bebiam café na praia.
- Tenho de falar com você sobre o meu trabalho - disse Michael sem aviso e, mesmo no crepúsculo, Elizabeth pôde ver que a expressão do companheiro se tornara inesperadamente séria. O trabalho dele incomodava-a desde há semanas. Considerava estranho que nunca o abordasse, a menos que ela o questionasse. Também a perturbava o fato de ele não lhe telefonar durante o dia e de nunca a ter convidado para almoçar. Quando lhe ligava para o gabinete, uma mulher atendia o telefone e registrava a mensagem, mas era sempre uma mulher diferente. Por vezes passavam-se horas até que ele telefonasse de volta. Quando o fazia, nunca podia falar mais do que um minuto ou dois.
- Não sou, nem nunca fui, consultor internacional - começou por dizer. - Trabalho para a CIA. Fui obrigado a te enganar até ter a certeza de que podia confiar em você. Elizabeth, você tem que compreender que nunca quis magoar você...
Elizabeth esbofeteou-o.
- Seu filho da mãe! - gritou, tão alto que um bando de gaivotas que estava na praia alçou voo sobre a água. - Mentiroso de merda! De manhã te levo ao ferry-boat. Pode apanhar o ônibus para a cidade. Nunca mais quero ver você. Maldito seja, Michael Osbourne!
Ficou na praia até que o frio a forçou a entrar. O quarto estava às escuras. Entrou sem bater e encontrou-o deitado na cama. Despiu-se em silêncio e encostou o corpo no dele. Michael tentou falar, mas ela cobriu os lábios dele com a boca e disse: - Agora não. É proibido falar. Mais tarde, murmurou: - Não me interessa quem você é, nem o que faz para ganhar a vida. - Acariciou-lhe o peito com os lábios. - Amo a pessoa que está aqui dentro, e não quero te perder.
- Desculpe não ter contado antes. Não podia.
- Seu nome é mesmo Michael Osbourne?
- Sim.
- Já matou alguém?
- Não. Só nos filmes é que matamos pessoas.
-Já viu alguém ser morto?
- Sim.
- Pode falar sobre isso?
- Não, ainda não.
- Nunca mais vai me mentir, não é, Michael?
- Nunca vou mentir, mas há coisas que não poderei contar. Pode viver com isso?
- Ainda não sei, mas prometa que nunca vai me mentir.
- Nunca vou mentir.
Elizabeth beijou-lhe os lábios. - Por que você virou espião?
- Não nos tratamos por espiões. Somos agentes.
- Certo. Por que virou agente?
Michael soltou uma das suas habituais gargalhadas controladas.
- Não faço ideia.
O pai achou que era uma loucura casar-se com um agente da CIA. Servira no Senate Selet Intelligence Committee e, embora detestasse generalizações por princípio, acreditava que os espiões da nação eram um bando de malucos e de alucinados. Abriu uma exceção com Michael. Os dois homens passaram um dia a velejar em Gardiners Bay e o senador abençoou com fervor a união. Havia muita coisa que Elizabeth odiava no trabalho de Michael: as horas extraordinárias, as viagens para locais perigosos, o fato de não saber ao certo o que ele fazia. Tinha noção de que a maior parte das mulheres consideraria inaceitável o casamento que ela tinha. Gostava de pensar que era mais forte do que a maior parte das mulheres, mais Sra. de si, mais independente. Contudo, era naquelas alturas que desejava que o marido tivesse um emprego normal.
A sala estava em silêncio, salvo pelo televisor que apresentava continuamente um programa de vendas apresentado por uma mulher que Elizabeth detestava. Queria alguma coisa para ler, mas o tema das revistas era a educação de crianças, um assunto desagradável para uma mulher de quarenta anos sem filhos. Tentou mudar de canal para ver as notícias, mas o televisor não o permitia. Procurou baixar o som, mas o volume estava bloqueado. Acabaram de abater um avião de passageiros e estou encurralada com esta loura sonsa a tentar vender-me creme para bebês, pensou. Voltou à janela e procurou uma última vez o carro de Michael. Era uma tolice ainda esperar que Michael chegasse. Uma das poucas coisas que sabia acerca do trabalho do marido era que tinha a ver com contraterrorismo. Teria sorte se ele voltasse a casa nessa noite.
A enfermeira apareceu no corredor.
- O doutor vai recebê-la agora, Sra. Osbourne. Por aqui.
Elizabeth agarrou na pasta e na gabardina e seguiu a enfermeira pelo corredor estreito.
Quarenta minutos depois, Elizabeth desceu de elevador até o hall e saiu para o passeio coberto. Ergueu o colarinho e aventurou-se na chuva torrencial. O vento empurrava-lhe o cabelo para o rosto e fustigava-lhe a capa.
Elizabeth parecia nem notar. Sentia-se dormente.
As palavras do médico ecoavam em sua mente como uma melodia irritante que não conseguia esquecer. “Não pode ter filhos naturalmente... Há um problema com suas trompas... A fertilização artificial pode ajudar... Só podemos ter certeza se tentarmos... Sinto muito, Elizabeth...”
Quase foi atropelada no lusco-fusco. Elizabeth pareceu nem reparar quando o condutor buzinou e voltou a arrancar. Tinha vontade de chorar. Apetecia-lhe vomitar. Pensou em fazer amor com Michael. O casamento tinha as suas falhas, demasiado tempo afastados, demasiadas distrações causadas pelo trabalho, mas na cama eram perfeitos. O ato do amor era familiar, mas excitante. Conheciam bem o corpo um do outro, e sabiam como se dar prazer mutuamente. Elizabeth sempre imaginara que quando estivesse pronta para ter um filho, isso aconteceria de forma tão natural e agradável como fazer amor. Sentia-se traída pelo corpo. O Mercedes estava sozinho a um canto do estacionamento. Procurou as chaves no bolso. Apontou o controle remoto e pressionou o botão. As portas destrancaram-se e as luzes acenderam-se. Entrou rapidamente, fechou a porta e voltou a trancá-la. Tentou enfiar a chave na ignição, mas as mãos tremiam-lhe e as chaves caíram ao chão. Ao tentar agarrá-las, bateu com a cabeça no painel. Elizabeth Osbourne acreditava na compostura: na sala de audiências, no escritório, com Michael. Nunca deixava que as emoções a dominassem, nem mesmo quando Sam Braxton dizia uma das suas piadas. Mas, naquele momento, sozinha no carro, com o cabelo colado à face, a compostura abandonou-a. O corpo tombou lentamente até a cabeça ficar apoiada no volante. Foi então que as lágrimas chegaram e começou a chorar.
WASHINGTON, D. C.
Vinte minutos depois, na zona da cidade conhecida como Kalorama, um sedan preto da Casa Branca parou junto ao passeio. Os carros e as limusinas pretas do governo eram habituais naquele bairro. Aninhada nas colinas arborizadas no extremo de Rock Creek Park, a norte da Massachusetts Avenue, Kalorama albergava alguns dos mais poderosos e influentes habitantes da cidade.
Por norma, Mitchell Elliott detestava as cidades da Costa Leste. Passava a maior parte do tempo em Colorado Springs, ou na sua casa na encosta, em Los Angeles, perto da sede da Alatron Defense Systems. No entanto, a mansão de três milhões de dólares em Kalorama ajudava-o a tolerar as viagens frequentes a Washington. Chegara a pensar em adquirir uma propriedade na terra dos cavalos, no estado de Virgínia, mas o percurso até a cidade através da Interstate 66 era um pesadelo, e Mitchell Elliott não tinha tempo a perder. Kalorama ficava a dez minutos do National Airport e de Capitol Hill, e a cinco minutos da Casa Branca.
Faltavam cinco minutos para as sete. Elliott descontraía-se na biblioteca do primeiro andar, sobranceira ao jardim. O vento lançava a chuva contra o vidro. Estava frio para Outubro, e um dos empregados acendera a grande lareira. Elliott caminhava devagar pela sala, enquanto beberricava malte de trinta anos de um copo de vidro lapidado. Era um homem de baixa estatura, com pouco mais de um metro e sessenta e cinco, que há muito aprendera a manter uma pose imponente. Nunca permitia que um oponente se agigantasse. Quando alguém entrava no seu gabinete, Elliott permanecia sempre sentado, as pernas cruzadas, as mãos nos braços da cadeira, como se o espaço não chegasse para lhe albergar o corpo.
Elliott era versado na arte da guerra e, acima de tudo, na arte do engano. Acreditava na ilusão, nos engodos. Dirigia a empresa como se se tratasse de uma agência de espionagem, funcionando no princípio da "necessidade de saber". A informação era rigidamente segmentada. O chefe de uma divisão pouco sabia acerca do que se passava nas outras divisões, tendo conhecimento apenas do que precisava de saber. Raras eram as vezes em que Elliott fazia reuniões com a presença de todos os diretores. As ordens eram dadas cara a cara em reuniões privadas e nunca através de memorandos escritos. Todas as reuniões com Elliott eram encaradas como confidenciais e os executivos estavam proibidos de as discutir com outros executivos. Os boatos eram castigados com o despedimento e se um dos funcionários começasse com mexericos, em breve Elliott teria conhecimento do fato. Os telefones estavam sob escuta, o correio eletrônico era lido e as câmaras e os microfones de vigilância cobriam cada centímetro quadrado da zona de escritórios.
Mitchell Elliott não via nada de mal nisso. Acreditava que Deus lhe concedera o direito, mais do que isso, a responsabilidade, de fazer o que fosse preciso para proteger a sua empresa e o seu país. A crença de Elliott em Deus impregnava tudo o que fazia. Acreditava que os Estados Unidos eram a terra escolhida por Deus e os Americanos o povo eleito. Acreditava que Cristo lhe dissera para estudar aeronáutica e engenharia elétrica, e que fora Cristo quem lhe dissera para entrar para a Força Aérea e combater os ímpios comunistas chineses na Coreia.
Depois da guerra instalou-se no Sul da Califórnia, casou-se com Sally, a namorada do liceu, e começou a trabalhar para a McDonnell-Douglas. Mas Elliott sempre se sentiu insatisfeito. Rezava ao Todo-poderoso por orientação. Três anos depois criou a sua própria empresa, a Alatron Defense Systems. Elliott não pretendia de todo construir aviões. Sabia que seriam sempre essenciais à defesa da nação, mas acreditava que Deus lhe concedera um vislumbre do futuro, e este pertencia ao míssil balístico, as flechas de Deus, como chamava. Elliott não construía os próprios mísseis. Desenvolvia e fabricava, isso sim, os sofisticados sistemas de orientação que lhes diziam onde cair. Dez anos depois de ter criado a Alatron, Mitchell Elliott era um dos homens mais ricos da América, bem como um dos mais influentes. Fora confidente de Richard Nixon e de Ronald Reagan. Desde Robert McNamara que era tratado pelo nome por todos os secretários da defesa. Podia entrar em contato telefônico com metade dos membros do Senado numa questão de minutos. Mitchell Elliott era um dos homens mais poderosos de Washington e, ainda assim, operava constantemente na sombra. Poucos compatriotas sabiam o que ele fazia, ou sequer conheciam o seu nome.
Sally morrera de cancro da mama há dez anos e os tempos de grandes investimentos na defesa já pertenciam ao passado. A indústria fora devastada, milhares de trabalhadores estavam no desemprego e a economia da Califórnia era um caos. Acima de tudo, Elliott acreditava que a América estava mais fraca na atualidade do que nos últimos anos. O mundo era um lugar perigoso, algo que Saddam Hussein provara. O mesmo fizera um terrorista armado com um único míssil Stinger. Elliott queria proteger a sua pátria. Se um terrorista era capaz de abater um avião comercial e matar duas centenas de pessoas, o que impedia um Estado pária como a Coreia do Norte, a Líbia, ou o Irã de matar dois milhões de pessoas com um míssil nuclear disparado contra Nova York, ou Los Angeles? O mundo civilizado depositara a confiança em tratados e no controle dos mísseis balísticos. A confiança de Mitchell Elliott estava reservada ao Todo-poderoso e não acreditava em promessas redigidas em papel. Acreditava nas máquinas. Acreditava que a única forma de defender a nação de armas exóticas era com armas ainda mais exóticas. Nessa noite, teria de defender o seu ponto de vista com o Presidente.
A relação de Elliott com James Beckwith fortalecera-se graças a anos de apoio financeiro constante e de conselhos sábios. Elliott nunca pedira um único favor, nem mesmo quando Beckwith se tornara uma força poderosa no Armed Services Committee, durante o segundo mandato no Senado. Isso estava prestes a mudar.
Um dos assistentes bateu ao de leve à porta. O seu corpo de assistentes era recrutado nas fileiras das Forças Especiais. Mark Calahan era como todos os outros. Tinha um metro e oitenta, sendo alto quanto bastasse para ser imponente, mas não a ponto de se agigantar sobre Elliott. Tinha cabelo escuro curto, olhos escuros, o rosto bem escanhoado, e usava terno e gravata sóbrios. Todos andavam sempre com uma pistola automática .45, pois Elliott acumulara inimigos a par dos seus milhões, e nunca surgia em público sem proteção.
- O carro chegou, senhor Elliott.
- Desço daqui a pouco.
O assistente aquiesceu e retirou-se em silêncio. Elliott aproximou-se mais do lume e terminou o uísque. Não gostava da ideia de ser convocado. Sairia quando estivesse pronto e não quando Paul Vandenberg lhe dissesse. Se não fosse por Elliott, Vandenberg estaria ainda a vender seguros de vida. Quanto a Beckwith, seria um advogado desconhecido de São Francisco, a viver em Redwood City e não na Casa Branca. Ambos podiam esperar.
Elliott acercou-se do bar com lentidão e serviu-se de mais um dedo de uísque. Regressou à lareira e ajoelhou-se à frente do lume, a cabeça baixa, os olhos fechados. Rezou por perdão, tanto pelo que fizera, como pelo que estava prestes a fazer.
- Somos o teu povo escolhido - murmurou. - Sou o teu instrumento. Dá-me forças para cumprir a tua vontade e a grandeza será tua.
Susanna Dayton sentia-se uma idiota. Só nos filmes é que os jornalistas ficavam sentados em carros estacionados, a beber café de um copo de plástico, enquanto faziam vigilância como um qualquer investigador privado. Ao sair da redação, uma hora antes, não dissera ao editor onde ia. Tratava-se apenas de um palpite, e podia não dar em nada. Não queria que os colegas soubessem que estava a perseguir Mitchell Elliott, como um detective de um filme policial de segunda categoria.
A chuva toldava-lhe a visão. Acionou uma alavanca na coluna de direção e os limpadores de para-brisas afastaram a água. Limpou o vidro embaciado com um guardanapo da loja da baixa onde tinha comprado o café. O carro preto continuava no mesmo sítio, com o motor a trabalhar e os faróis desligados. No primeiro andar da casa enorme via-se uma única luz acesa. Deu mais um gole no café e aguardou. Era quase intragável, mas pelo menos estava quente.
Susanna Dayton fora correspondente do Washington Post na Casa Branca, o auge do poder e do prestígio no mundo do jornalismo americano, mas detestara o cargo. Odiava ter de enviar todos os dias para a redação basicamente o mesmo artigo que outras duas centenas de repórteres. Abominava ser conduzida como gado pelo pessoal do gabinete de imprensa da Casa Branca, gritar perguntas ao Presidente Beckwith atrás de linhas divisórias, em acontecimentos encenados e coreografados. Os trabalhos assumiram um tom mordaz, o que levou Vandenberg a queixar-se com regularidade às altas instâncias do Post. Por fim, o editor sugeriu-lhe uma nova abordagem, dinheiro e política. Susanna aceitou sem hesitar.
O novo cargo foi a sua salvação. Teria de descobrir que indivíduos, organizações e empresas davam dinheiro a que candidatos e a que partidos. Teriam essas contribuições um efeito indesejado sobre a política ou sobre a legislação? Estariam os políticos e os doadores a seguir as regras? O dinheiro era gasto devidamente? Estaria alguém a transgredir a lei? Susanna sentia-se realizada com o trabalho, pois adorava estabelecer as ligações. Sendo uma advogada formada em Harvard, tornara-se uma jornalista meticulosa e cuidadosa. Aplicava a regra das provas a quase todas as informações que descobria. Seria admissível em tribunal? É um testemunho direto ou um boato? Existem nomes, datas e locais que possam ser confirmados? Existem testemunhos que o corroborem? Preferia documentos a fugas de fontes anônimas, pois os documentos não podem mudar a sua versão da história.
Susanna Dayton concluíra que o sistema de financiamento político da nação se baseava em subornos e pressões organizadas, sancionadas pelo governo federal. A linha que separava a atividade legal da ilegal era muito tênue. Tomou nas mãos a tarefa de identificar e denunciar os transgressores. A sua personalidade era adequada ao trabalho. Odiava os vigaristas que conseguiam levar a sua avante. Desprezava as pessoas que passavam à frente nas filas do supermercado.
Ficava furiosa quando um condutor agressivo se atravessava à sua frente na autoestrada. Abominava os indivíduos que procuravam subir à custa dos outros. O seu trabalho era garantir que eles não seriam bem sucedidos.
Dois meses antes, o editor de Susanna entregara-lhe uma tarefa complicada: Estabelecer a cronologia da longa relação, financeira e pessoal, entre o
Presidente James Beckwith e Mitchell Elliott, presidente da administração da Alatron Defense Systems. Os jornalistas utilizam um chavão quando um indivíduo ou um grupo é esquivo e difícil de investigar: sombrio. Mitchell Elliott merecera o epíteto "sombrio".
Ao longo dos anos dera milhões de dólares ao Partido Republicano, e um grupo de proteção dos direitos do cidadão contara-lhe que ele canalizara para o partido vários outros milhões através de meios questionáveis, ou mesmo totalmente ilegais. O principal beneficiário da generosidade de Elliott era James Beckwith. Elliott contribuíra com milhares de dólares para as campanhas e para os comités de ação política de Beckwith, e servira como conselheiro confidencial bastante próximo. Um dos antigos executivos de Elliott, Paul Vandenberg, era chefe de gabinete da Casa Branca. Beckwith era hóspede frequente das casas de férias de Elliott em Maui e em Vale. Susanna tinha duas questões principais: Teria Mitchell Elliott feito contribuições ilegais a James Beckwith e ao Partido Republicano ao longo dos anos? E exerceria uma influência excessiva sobre o Presidente?
Naquele momento, Susanna não tinha respostas para qualquer das questões. O editor queria publicar o artigo dali a duas semanas, integrado numa seção especial sobre o Presidente Beckwith e o seu primeiro mandato. Tinha muito trabalho pela frente, até que estivesse pronto. Mesmo então, Susanna sabia que pouco mais faria, para além de levantar questões sobre Elliott e sobre a sua relação com a Casa Branca. Mitchell Elliott fizera um bom trabalho a ocultar o seu rastro. Era completamente inacessível. O arquivo fotográfico do Post tinha apenas uma fotografia já com dez anos, e a Alatron Defense Systems nem sequer dispunha de porta-voz. Quando Susanna pedira para marcar uma entrevista, o homem do outro lado da linha soltou uma gargalhada abafada e replicou: "O senhor Elliott não tem por hábito falar com jornalistas."
Uma fonte do National Airport dissera-lhe que Elliott chegara a Washington nesse dia, a bordo do seu avião privado. O Congresso encerrara as atividades e a maior parte dos membros regressara a casa para a campanha. O Presidente cancelara uma digressão de campanha para tratar do caso da queda do Voo 002. Susanna interrogava-se sobre o motivo que levara Elliott à cidade naquele momento.
Isso explicava o fato de ela estar à porta da mansão de Kalorama, à chuva. A porta da mansão abriu e surgiram duas figuras, um homem alto com um guarda-chuva e outro mais baixo, de cabelo grisalho: Mitchell Elliott. O homem mais alto ajudou Elliott a entrar para a parte de trás do carro, depois contornou o veículo e sentou-se do outro lado. Os faróis acenderam-se e iluminaram a estrada. O carro afastou-se do passeio e dirigiu-se à Massachusetts Avenue.
Susanna Dayton ligou o motor do seu pequeno Toyota e seguiu o outro automóvel, mantendo uma distância segura. O grande carro preto avançou com rapidez para leste pela Massachusetts, ao longo de Embassy Row. Em Dupont Circle juntou-se ao trânsito da faixa exterior e virou para sul, na Connecticut Avenue.
Ainda era cedo, mas a Connecticut estava quase deserta. Susanna reparara que uma calma estranha se abatera sobre a cidade nas quarenta e oito horas desde a queda do avião comercial. Os passeios estavam vazios, com apenas alguns bêbados a saírem de uma taberna mais a sul e um grupo de empregados de escritório a correr à chuva para a estação de metropolitano de Farragut North. Susanna seguiu o carro ao longo da K Street quando a Connecticut passou a 17th Street. Atravessou a Pennsylvania Avenue e passou pela fachada iluminada do Old Executive Office Building. Imaginava onde Elliott jantaria naquela noite.
O carro cortou várias vezes à esquerda e, dois minutos depois, parou junto ao Portão Sul do terreno da Casa Branca. Um agente fardado dos Serviços Secretos avançou, olhou para a parte de trás do sedan e ordenou ao condutor que avançasse.
Susanna Dayton não parou. Precisava de um lugar onde esperar. Nos tempos que corriam, ficar sentada dentro de um carro estacionado nas redondezas da Casa Branca não era boa ideia. Após uma série de ataques à mansão, os Serviços Secretos tinham apertado a segurança. Podia ser abordada e interrogada, após o que talvez se seguisse um relatório.
Estacionou na 17th Street. Havia um pequeno café do outro lado do Old que ficava aberto até tarde. Pegou na mala, atafulhada com jornais, revistas e o computador portátil, e saiu. Correu pela rua à chuva e entrou no café, que estava vazio. Pediu uma sanduíche de atum e uma caneca de café e acomodou-se a uma mesa à janela enquanto esperava.
Tirou o computador portátil da mala, ajustou a tela e ligou-o. Depois inseriu um disquete no drive e abriu um arquivo. Ao surgir na tela, o arquivo apareceu como uma série de letras e de caracteres sem sentido. Susanna era cuidadosa por natureza, preferindo muitos dos colegas o termo "paranoica", e utilizava software de codificação para proteger os arquivos mais importantes. Inseriu um código de sete letras e o arquivo ganhou vida. A sanduíche e o café foram servidos. Susanna percorreu o arquivo: nomes, datas, locais, quantias. Tudo o que sabia acerca do esquivo Mitchell Elliott e das suas ligações ao Presidente Beckwith. Acrescentou aos arquivos os acontecimentos daquela noite.
Depois desligou o computador e preparou-se para uma longa espera.
LONDRES
O fax chegou à redação do Times pouco depois da meia-noite, tendo permanecido na máquina durante quase vinte minutos, até que um jovem assistente se deu ao trabalho de o ir buscar. O assistente deu-lhe uma vista de olhos rápida e levou-o ao editor noturno, Niles Ferguson. Sendo um veterano com uma experiência de trinta anos, Ferguson já vira inúmeros faxes como aquele, do IRA, da OLP, da Jihad Islâmica e dos malucos que se limitavam a reivindicar a responsabilidade sempre que alguém morria de forma violenta. Aquele não parecia obra de um lunático.
Ferguson tinha um número de telefone especial para situações como aquela. Marcou-o e aguardou. Respondeu-lhe uma voz de mulher, agradável, vagamente erótica.
- Fala Niles Ferguson, do The Times. Acabou de chegar um fax bastante interessante à nossa redação. Não sou perito, mas parece-me autêntico. Talvez lhe devessem dar uma vista de olhos.
Ferguson fez uma cópia do fax e guardou o original. Levou-o em mão até o hall e esperou. Cinco minutos depois chegou o carro. Um jovem com marcas de bexigas e um cigarro entre os lábios entrou no hall e recebeu o fax. Niles Ferguson voltou à redação.
O homem com marcas de bexigas trabalhava para o Serviço de Segurança britânico, mais conhecido por MI5, responsável pela contraespionagem, pela subversão interna e pelo contraterrorismo nas ilhas britânicas. Levou a cópia do fax até a sede de vidro e aço do MI5 sobranceira ao Tamisa e apresentou-o ao oficial de serviço responsável.
Este fez rapidamente dois telefonemas. O primeiro foi realizado sem grande vontade para o seu homólogo do Serviço Secreto de Espionagem, mais conhecido por MI6, responsável pela recolha de informação no estrangeiro, considerando-se, por isso mesmo, a mais importante das duas agências. O segundo telefonema foi efetuado para o oficial de ligação do M15 na generosamente equipe da Estação de Londres da CIA, situada no interior do complexo da embaixada americana, em Grosvenor Square.
No espaço de dois minutos, uma cópia da carta era enviada para Grosvenor Square através de um fax seguro. Dez minutos depois, um datilógrafo introduzira-a no sistema informático e enviara-a para a sede da CIA, em Langley, na Virgínia. O sistema informático da agência distribui automaticamente cabogramas baseados em palavras-chave e em classificações. O cabograma de Londres seguiu para os gabinetes do diretor, dos diretores adjuntos de informação e operações, do diretor executivo e do oficial de dia do departamento do Oriente Médio. Também foi enviado diretamente para o Centro de Contraterrorismo da Agência.
Segundos depois, surgiu na telado computador do agente responsável pelo grupo extremista islâmico chamado Espada de Gaza. O nome do agente era Michael Osbourne.
SEDE DA CIA, LANGLEY, VIRGÍNIA
O pai de Michael Osbourne sempre dissera que a sede era o local para onde os bons agentes de campo iam definhar e morrer. O pai fora agente de caso no Departamento Soviético e recrutara e comandara agentes desde Moscou a Roma, passando pelas Filipinas. James Angleton, o afamado agente de contraespionagem da CIA que se dedicara durante vinte anos a uma destrutiva caça a agentes infiltrados, arruinara-lhe a carreira, do mesmo modo que arruinara a carreira de centenas de outros agentes leais. O pai de Michael passou os últimos anos a redigir avaliações inúteis e a remexer em papéis, tendo deixado a Agência como um homem amargo e desiludido. Morrera de cancro três anos depois de se ter reformado.
O regresso de Michael à sede foi tão relutante como o do pai, mas devera-se a circunstâncias diferentes. A oposição sabia qual o seu nome e ocupação verdadeiros e já não era seguro fazer trabalho de campo sob disfarce. Aceitara o seu destino como um prisioneiro modelo aceita uma sentença de prisão perpétua. Mesmo assim, nunca se esquecera do aviso do pai quanto aos perigos da vida em Langley.
Trabalhavam juntos numa sala única, conhecida afetuosamente como o curral, no Corredor F do quinto piso. Fazia lembrar mais a redação de um diário metropolitano em decadência do que o centro nevrálgico da operação contraterrorista da CIA. Havia Alan, um contabilista livresco da CIA que seguia o fluxo secreto de dinheiro ilícito através dos bancos mais discretos e sórdidos do mundo. Havia
Cynthia, um anjo louro de ascendência britânica que sabia mais sobre o IRA do que qualquer outra pessoa no mundo. O seu cubículo apinhado estava repleto de fotografias de guerrilheiros irlandeses, incluindo a do rapaz que rebentara com a mão do irmão dela. Fitava-os durante todo o dia, tal como uma moça olharia para o pôster do mais recente arrasa-corações de adolescentes. Havia Stephen, vulgo Eurotrash, cuja tarefa era acompanhar os vários movimentos terroristas e nacionalistas da Europa Ocidental. E havia Blaze, um gringo de um metro e noventa do Novo México, que falava espanhol, português e pelo menos dez dialetos índios. Blaze concentrava-se nos guerrilheiros e nos terroristas da América Central e do Sul. Vestia-se como os seus alvos, com sandálias e vestes índias largas, apesar dos repetidos avisos escritos do Departamento de Pessoal. Considerava-se o equivalente moderno de um samurai, um verdadeiro guerreiro poeta, e praticava artes marciais com Cynthia quando o trabalho não abundava.
Michael estava sentado a um canto ao lado de Gigabyte, um rapaz cheio de borbulhas de vinte e dois anos, que passeava o dia inteiro na Internet, vagueando no éter em busca de comunicações terroristas. Rock alternativo saía-lhe aos berros dos receptores, e no seu ecrã Michael vira coisas que o acordavam a meio da noite. Erguera uma barreira de pastas antigas para bloquear a visão, mas sempre que Gigabyte soltava risadinhas, ou quando a música que ouvia aumentava subitamente de volume, Michael sabia que era melhor fechar os olhos e pousar a cabeça na secretária.
O relógio de parede estava pendurado ao lado de uma silhueta de noventa centímetros em cartão de um pistoleiro, carimbado com o símbolo redondo vermelho internacional da proibição. Eram quase oito da noite e Michael trabalhava desde as cinco da manhã. O curral estava longe de estar deserto. O Sendero Luminoso do Peru raptara um ministro do governo e Blaze andava de um lado para o outro ao telefone. A Ação Direta de França fizera rebentar uma bomba numa estação de metro de Paris. Eurotrash estava curvado sobre o teclado, a ler o tráfego de mensagens. O IRA assassinara um empreiteiro protestante à frente da mulher e dos filhos. Cynthia estava ao telefone com Londres numa linha segura, a transmitir informações ao MI5 britânico. Felizmente, Gigabyte fora a um clube noturno com um grupo de amigos que julgava que ele criava páginas de Internet.
Michael tinha quinze minutos antes de informar o diretor executivo sobre os desenvolvimentos do caso. A reivindicação do atentado ao avião fora reencaminhada para Langley há uma hora. Michael leu-a pela quinta vez. Reviu as análises forenses realizadas pelo laboratório do FBI ao navio-baleeiro encontrado nessa manhã à deriva, ao largo de Long Island. Estudou as fotografias do cadáver descoberto a bordo da embarcação.
Passaram-se dez minutos. Podia descer ao fosso da lavagem e comer alguma coisa, ou podia telefonar a Elizabeth. Faltara à consulta em Georgetown e sabia que provavelmente teriam uma discussão. Não queria ter essa conversa a um telefone da Agência. Desligou o computador e saiu do curral.
O corredor estava mal iluminado e deserto. A Comissão de Belas Artes da Agência tentara alegrar o corredor com arte folclórica indonésia, mas continuava tão frio e estéril como uma unidade de cuidados intensivos. Seguiu o corredor até uma série de elevadores grandes, apanhou um deles até a cave e depois percorreu mais um corredor anônimo até o fosso da lavagem. Era tarde e a seleção de comida pior do que o habitual. Pediu uma sanduíche de peixe e batatas fritas à mulher de olhos exaustos atrás do balcão. A empregada agrediu a caixa registradora como se lhe desejasse mal, sacou o dinheiro de Michael e entregou o troco.
Michael comeu enquanto andava. O que comprara tinha um sabor horrível, pois estava frio e fora cozinhado há horas, mas era melhor do que mais um pacote de fritos. Comeu meio sanduíche e algumas batatas e deitou o resto para dentro de um balde do lixo. Viu as horas: cinco minutos. Tempo suficiente para um cigarro. Subiu de elevador um piso e depois saiu por uma porta de vidro para um grande pátio interior. William Webster proibira o tabaco no interior do edifício. Os que ainda sofriam do vício eram obrigados a encolher-se como refugiados no pátio, ou à volta das saídas. Depois de anos de trabalho secreto na Europa e no Oriente Médio, os cigarros e o ato de fumar tinham passado a fazer parte do mister. Michael não conseguia, nem queria, deixar de fumar só por agora estar na sede.
Folhas mortas rodopiavam por toda a extensão do pátio. Michael virou-se de costas contra o vento e acendeu um cigarro. A noite estava fria e muito escura. A única luz era a do brilho das janelas dos gabinetes lá em cima, tingida de verde pelos vidros à prova de som. Antigamente, fazia das vielas de Berlim, de Atenas, ou de Roma o seu gabinete. Ainda se sentia mais à vontade num café do Cairo do que num Starbucks de Georgetown. Olhou rapidamente para o relógio. Mais um jantar agradável. Enfiou o cigarro num cinzeiro cheio de areia e voltou a entrar.
A sala de briefing ficava do outro lado do corredor do curral e era pequena, atravancada, e em grande parte ocupada por uma grande mesa retangular de madeira. Numa das paredes estavam pendurados os emblemas de todas as agências governamentais que desempenhavam algum papel no Centro. Na parede em frente à porta encontrava-se uma tela de projeção. Michael chegou exatamente às 23:45. Estava a endireitar a gravata quando dois homens entraram na sala. O primeiro era Adrian Carter, diretor do Centro de Contraterrorismo e um veterano com vinte anos nas operações. Era baixo e de tez pálida, com cabelo grisalho escasso e papos por baixo dos olhos que lhe concediam um ar de enfado constante. Michael e Carter tinham uma relação profissional e pessoal de quinze anos. O segundo era Eric McManus, o diretor-adjunto do Centro. McManus era grande e franco, com um sorriso agradável, uma juba de cabelo ruivo e grisalho e um leve toque do sul de Boston na voz. Pertencia ao FBI e tinha todo o aspeto disso: terno marinho, camisa branca engomada, gravata vermelha. Quando o pai de Michael trabalhava na Agência, um agente do FBI com um cargo tão elevado na CIA seria considerado uma heresia. Os oficiais da CIA da velha guarda acreditavam que tudo o que os agentes do FBI sabiam acerca de espionagem cabia na parte de trás dos distintivos de ouro. Não era esse o caso de McManus, um advogado formado em Harvard que trabalhara durante vinte anos na contraespionagem do FBI antes de ser destacado para o Centro.
Tal como era seu hábito, Monica Tyler foi a última a entrar na sala, exatamente cinco minutos atrasada. Considerava o seu tempo inestimável, nunca devendo ser desperdiçado com os outros. Um par de factótuns idênticos seguiu-a em silêncio, cada um deles agarrando com fervor um caderno de reunião encadernado a pele. Exceto o Departamento de Pessoal, ninguém na Agência sabia quem eram, ou de onde tinham aparecido. As más-línguas diziam que tinham sido despachados com Monica da sua firma de investimentos de Wall Street, juntamente com a casa de banho privada e com a mobília de escritório em mogno. Eram esguios e ativos, de olhos escuros atentos, e silenciosos como agentes funerários. Pareciam mover-se num uníssono lento, como executantes de um bailado subaquático. Uma vez que ninguém sabia os seus nomes verdadeiros, tinham sido batizados como Tweedledee e Tweedledum. Os detratores de Monica referiam-se aos dois como os eunucos de Tyler.
McManus e Carter levantaram-se sem entusiasmo quando Monica entrou na sala. Passou pela figura volumosa de McManus e assumiu o lugar habitual à cabeceira da mesa, onde podia ver a tela e o apresentador com um movimento breve da sua cabeça real. Tweedledee depositou um caderno com capa de pele na mesa à frente dela, como se se tratasse de um documento vetusto, e sentou-se junto à parede, ao lado de Tweedledum.
- Monica, este é Michael Osbourne - apresentou Carter. Michael passou a maior parte da carreira a lidar com contraterrorismo e tem vindo a dedicar-se à Espada de Gaza desde o surgimento do grupo.
Tyler olhou para Michael e aquiesceu, como se tivesse sido informada de algo que não sabia. Michael tinha noção de que não era o caso. Monica era afamada por ler os arquivos de qualquer agente com quem estivesse em contato. Dizia-se que nem sequer se cruzava com um agente junto à máquina de água sem antes ter lido os atestados de robustez física.
Desviou a atenção de Michael para a tela vazia. O cabelo louro curto tinha um corte perfeito e a maquilhagem acabara de ser retocada. Vestia um casaco preto sobre uma blusa branca de colarinho alto. Uma das mãos repousava em cima da mesa, enquanto a outra segurava uma caneta de ouro, cuja ponta ia mordiscando. Monica Tyler não tinha vida fora do trabalho, sendo a única caraterística pessoal que não tentava ocultar dos colegas. O diretor levara-a para a Agência por ela o ter acompanhado em todos os cargos governamentais que assumira. Não sabia nada sobre espionagem, mas era brilhante e aprendia com extrema facilidade. Regra geral podia ser encontrada à noite, no gabinete do sexto andar, a ler relatórios e arquivos antigos. Possuía o dom de saber qual a pergunta exata a colocar. Michael já a vira reduzir a pó apresentadores mal preparados. Carter fez sinal a Osbourne, que baixou as luzes e deu início à sessão de briefing. Premiu um botão num painel ao fundo da sala e na tela surgiu uma fotografia.
- Este é Hassan Mahmoud. Nasceu em Gaza, cresceu num campo de refugiados e juntou-se ao Hamas durante a Intifada. É um revolucionário islâmico dedicado e opõe-se à paz com Israel. Foi treinado nos campos do Líbano e do Irã. É um especialista em bombas exímio e um pistoleiro mortífero. Saiu do Hamas depois da assinatura dos tratados de paz e juntou-se à Espada de Gaza. É suspeito do assassinato de um empresário israelense em Madrid e da tentativa falhada de assassinato do primeiro-ministro jordano em Paris, no ano passado.
Michael fez uma pausa.
- A fotografia seguinte é um pouco violenta. - Mudou de imagem. Tanto Carter como McManus semicerraram os olhos. O rosto de Monica Tyler não deixou transparecer qualquer emoção.
- Acreditamos que este seja Hassan Mahmoud agora. O corpo foi encontrado a bordo de um navio-baleeiro, vinte milhas ao largo de Long Island. Foi alvejado três vezes no rosto. Ao seu lado estava o tubo de lançamento de um míssil Stinger. As primeiras análises confirmam que o míssil foi disparado do navio. A popa da embarcação estava escurecida e o laboratório encontrou resíduos do tipo de combustível sólido utilizado pelos Stingers.
- Quem o matou e por quê? - indagou Monica. - Como conseguiu fugir?
- Ainda não temos respostas para essas perguntas. Mas temos uma teoria.
Monica ergueu uma sobrancelha e desviou a atenção da tela para Osbourne. Tinha o olhar fixo e sem expressão de um terapeuta. Michael podia sentir que os olhos procuravam fraquezas.
- Então vamos ouvi-la - indicou.
Michael mudou de imagem para uma fotografia aérea de um grande iate de alto-mar rebocando um barco.
- Esta fotografia foi tirada ao largo da costa da Flórida quatro dias antes da queda do avião. O iate está registrado em nome de um cidadão francês. Pesquisamos e temos quase certeza de que o francês em questão não existe. Sabemos, contudo, que a embarcação deixou a ilha caribenha de Saint-Barthélemy oito dias antes do atentado. O barco atrás é uma baleeira de Boston de seis metros, o mesmo modelo onde o corpo foi encontrado.
- Onde está o navio neste momento?
- No laboratório do FBI - respondeu McManus.
- E o iate?
- Não há sinal dele - explicou Michael. - A Marinha e a Guarda Costeira continuam à procura. Estão analisando imagens de satélite dessa parte do Atlântico.
- Portanto, na noite do atentado - resumiu Tyler - a embarcação pequena aproxima-se de Long Island, enquanto o iate permanece ao largo, em segurança, fora das águas territoriais americanas.
- Assim parece.
- E quando o indivíduo que disparou o míssil voltam ao iate, os colegas o matam?
- Assim parece.
- Mas por quê? Por que deixar o corpo? Por que deixar o tubo de lançamento?
- São questões pertinentes, para as quais de momento não temos resposta.
- Continue, Michael.
- No início desta noite foi enviada por fax ao Times de Londres uma reivindicação do atentado, em nome da Espada de Gaza.
- No entanto, um atentado desta natureza não se enquadra no perfil deles.
- Não, não se enquadra. - Michael premiu o botão e a imagem seguinte surgiu na tela, uma breve cronologia da Espada de Gaza.
- O grupo formou-se em 1996, depois da eleição de Benjamin Netanyahu em Israel. Seu único objetivo é destruir o acordo de paz, assassinando todos que o apoiam, quer sejam árabes ou judeus. Nunca agiu em Israel, nem nos territórios ocupados. Em vez disso, opera acima de tudo na Europa e no mundo árabe. O grupo é pequeno, extremamente compartimentado e muito profissional. Acreditamos que tenha menos de trinta agentes operacionais ativos e uma equipe de apoio de uma centena de elementos. Não possui uma sede permanente, e raras são as vezes em que sabemos onde se encontram os membros de uma semana para a outra. Recebe praticamente todos os fundos de Teerã, mas também mantém instalações de treino na Líbia e na Síria.
Michael mudou a imagem.
- Eis alguns atentados atribuídos ao grupo. A morte do empresário israelense em Madrid, levada a cabo por Hassan Mahmoud. - A imagem voltou a mudar, passando para um cenário de carnificina numa rua de Paris. - O atentado fracassado contra o primeiro-ministro jordano. Ele sobreviveu, mas seis elementos da comitiva não tiveram a mesma sorte. - Outra imagem, dessa vez de sangue e de corpos numa capital árabe. - Um atentado bombista em Tunes, que matou o ministro dos negócios estrangeiros adjunto do Egito, a par de vinte e cinco transeuntes inocentes. E a lista continua. Um diplomata israelense em Roma. Outro em Viena. Um adido de Yasser Arafat no Cairo. Um empresário palestino em Chipre.
- Mas nunca um atentado contra um avião de passageiros - confirmou Tyler, quando a última imagem desapareceu da tela.
- Pelo menos de que tenhamos conhecimento. Na verdade, achamos que nunca tenham visado um alvo americano.
Michael acendeu as luzes e Monica Tyler adiantou:
- O Diretor vai atualizar o Presidente amanhã de manhã, às oito. Durante a reunião, o Presidente vai decidir quanto ao bombardeio dessas instalações de treino. O Presidente quer respostas. Cavalheiros, é sua opinião que a Espada de Gaza é responsável pela queda do avião?
Michael olhou primeiro para Carter e depois para McManus. Devido à posição mais elevada, Carter assumiu a responsabilidade de prestar esclarecimentos. Antes de falar, pigarreou de leve.
- Monica, segundo as informações de que dispomos neste momento, tanto pode ter sido a Espada de Gaza como os Washington Redskins.
- Aquela última resposta foi um golpe de gênio - comentou Michael ao saírem do edifício para o ar da noite. Ergueu o colarinho para se proteger do frio e acendeu um cigarro.
Carter caminhava a seu lado, uma mão a agarrar uma pasta, a outra enfiada no bolso. Carter tinha a capacidade de parecer sempre um pouco perdido e vagamente irritado. Quem não o conhecia tinha a tendência de o subestimar, uma mais-valia quer em trabalho de campo, quer no mundo burocrático de Langley. Falava seis idiomas e era capaz de se adaptar às ruelas de Varsóvia, de Atenas, ou de Beirute com igual facilidade.
Possivelmente alguém ter-lhe-ia dito que aprimorasse o guarda-roupa para a sede, pois surgia sempre imaculado, com dispendiosos ternos ingleses e italianos. A roupa de qualidade não assentava bem na sua estrutura baixa e curvada: um Armani de mil dólares acabava por parecer uma cópia reles comprada nas lojas dúbias da Wisconsin Avenue, em Georgetown. Michael sempre o considerara um pouco ridículo, à semelhança de um empregado de uma loja de roupa masculina exclusiva que veste ternos que não pode comprar. Mas Carter era um obcecado que nunca deixava nada em mãos alheias, quer se tratasse do ofício, da esposa e da família, ou do seu jazz. A paixão mais recente era o golfe, que treinava sem parar com bolas de plástico no diminuto gabinete de paredes de vidro. Certo dia, Michael juntara uma bola verdadeira às réplicas. Carter lançara-a através de uma das paredes, durante uma chamada em conferência com Monica Tyler e com o Diretor. No dia seguinte, Carter recebeu a conta dos estragos e uma reprimenda do Departamento de Pessoal.
Ela às vezes dá comigo em doido - resmungou Carter em voz baixa. Fora agente de controle de Michael, quando este trabalhava sem cobertura oficial e não se podia dirigir às embaixadas. Mesmo naquele momento, em que se encaminhavam para o estacionamento oeste da sede, agiam como se levassem a cabo uma troca de informações em ambiente hostil. - Ela julga que recolher informações é tão simples como elaborar um relatório de contas.
- O Diretor confia totalmente nela, por isso tem de ser tratada com cuidado. - Ouçam só o que ele está a dizer. De repente passaste a ser o típico agente da sede.
Michael jogou o cigarro para a escuridão.
- Há qualquer coisa neste atentado que cheira muito mal.
- Para além do fato de duzentas e cinquenta pessoas terem ido parar ao fundo do Atlântico?
- Aquele corpo no barco não faz sentido.
- Nada disto faz sentido.
- E não é só isso.
- Ai, meu Deus. Estava à espera dessa.
- A forma como o Mahmoud levou três tiros na cara. Pararam de andar. Carter virou-se e olhou para Osbourne.
- Michael, deixa-me dar-te um conselho. Esta não é uma boa altura para voltares a perseguir o teu Chacal.
Caminharam em silêncio até o carro de Michael.
- Porque é que andas com um Jaguar prateado e moras em Georgetown, e eu tenho um Accord e moro em Reston?
- Porque tenho uma reserva melhor e porque sou casado com uma advogada rica. - Tu nem sabes a sorte que tens, Osbourne. Se fosse a ti, tinha cuidado para não deitar tudo a perder. - E o que queres dizer com isso?
Quero dizer que águas passadas não movem moinhos. Vai para casa dormir. O pai de Michael acabou por vir a odiar a Agência mas, algures na sua vida, quer fosse sua intenção ou não, incutiu no filho a base do agente de espionagem perfeito. Michael chamou a atenção da Agência durante o primeiro ano em Dartmouth. O caçador de talentos era um professor de Literatura Americana que trabalhara para a Agência em Berlim durante a Segunda Guerra Mundial, e que viu no estudante universitário desalinhado e de barba a essência de um agente de campo perfeito: inteligência, capacidade de liderança, carisma, atitude e o conhecimento de várias línguas.
O que o professor não sabia era que o pai de Michael trabalhara no serviço clandestino e que Michael e a mãe o tinham seguido de destacamento em destacamento. Aos dezesseis anos já falava cinco línguas. Quando a Agência o abordou pela primeira vez, Michael rejeitou a proposta. Vira o que o trabalho fizera ao pai e sabia bem o preço que a mãe pagara por isso.
Mas a Agência queria-o e não desistiu. Michael veio a ceder depois de se formar, pois não tinha perspectivas de trabalho, nem qualquer ideia melhor. Foi enviado para Camp Perry, o campo de treinos da CIA nos arredores de Williamsburg, no estado de Virgínia, mais conhecido como a Quinta. Aí aprendeu a recrutar e a dirigir agentes. Aprendeu a arte da comunicação clandestina. Aprendeu a reconhecer a vigilância inimiga. Aprendeu artes marciais e condução defensiva. Depois de um ano de formação, recebeu uma identidade falsa, um pseudônimo da Agência e uma missão simples: Penetrar nas mais violentas organizações terroristas do mundo.
Michael seguiu ao longo da Route 123, virou na George Washington Parkway e dirigiu-se à cidade. O caminho estava deserto. As árvores imponentes que flanqueavam a estrada contorciam-se com as rajadas de vento e uma Lua brilhante deixava-se ver por entre as nuvens. Por instinto, olhou várias vezes para o espelho retrovisor, com o intuito de garantir que não era seguido. Pisou o acelerador e o velocímetro marcou cento e dez. O Jaguar acompanhou a suave ondulação da paisagem. As árvores abriram-se à sua esquerda e o Potomac cintilou ao luar. Minutos depois surgiram os pináculos de Georgetown. Saiu em Key Bridge e cruzou o rio para Washington.
A M Street estava deserta, com apenas alguns sem-abrigo a beber em Key Park e um grupo de alunos de Georgetown a falar no passeio à frente da reprografia Kinko local. Virou à esquerda para a 33rd Street. A iluminação e as lojas brilhantes da M Street desapareceram. A casa tinha um estacionamento privado nos fundos, ao qual se acedia por um beco estreito, mas Michael preferia deixar o carro na rua, bem à vista. Virou à esquerda para a N Street e encontrou um lugar. Depois, tal como era seu hábito, observou a frente da casa por um instante, antes de desligar o motor. Michael gostava de ser agente de campo, da sedução de um bom recrutamento, da satisfação de uma informação atempada, mas esta era a parte do trabalho de que não gostava, da ansiedade que sentia de cada vez que entrava na sua própria casa, do receio de os inimigos conseguirem finalmente vingar-se.
Michael sempre vivera com um certo elemento de risco pessoal devido ao modo como desempenhava o seu trabalho. Segundo o léxico da CIA, era um NOC, o acrônimo da Agência que significava que não tinha cobertura oficial. Isso significava que em vez de trabalhar a partir de uma embaixada, com uma cobertura providenciada pelo Departamento de Estado, tal como a maior parte dos agentes, Michael estava por sua conta. Formara-se em gestão, em Dartmouth, por isso, regra geral, o seu disfarce envolvia consultoria ou vendas internacionais. Michael preferia que assim fosse. A maior parte dos agentes da CIA que trabalhava com a embaixada era conhecida pelo outro lado. Isso fazia com que a tarefa de espionagem fosse ainda mais difícil, especialmente quando o alvo era de uma organização terrorista. Michael não tinha o estigma da embaixada às costas, mas também não podia contar com ela para sua proteção. Se um agente com uma cobertura oficial se deparasse com problemas, podia sempre fugir para a embaixada e alegar imunidade diplomática. Se Michael ficasse em apuros, caso um recrutamento corresse mal, ou se o serviço de espionagem adversário tomasse conhecimento da verdadeira natureza do seu trabalho, podia ser preso, ou pior. Depois de tantos anos na sede, a ansiedade perdera alguma da sua força, mas nunca desaparecera por completo. O medo que mais o afligia era que os inimigos procurassem aquilo que ele mais amava. Já antes o tinham feito.
Saiu do carro, trancou-o e ligou o alarme. Dirigiu-se para oeste, para a 34th Street, sempre a observar os automóveis, a confirmar qualquer indício. Lá chegado, atravessou a estrada e fez o mesmo do outro lado.
Degraus curvos de tijolo subiam do passeio até a porta de entrada da ampla casa de estilo federal. Em tempos, Michael fora sensível ao tema da casa de dois milhões de dólares em Georgetown, pois a maior parte dos colegas vivia nos subúrbios menos dispendiosos de Virgínia, à volta de Langley.
Implicavam constantemente com a casa luxuosa e o carro, questionando em voz alta se Michael teria seguido o exemplo de Rick Ames e começado a vender segredos por bom preço. A verdade era bastante menos interessante: Elizabeth ganhava quinhentos mil dólares na Braxton, Allworth & Kettlemen, e Michael herdara um milhão de dólares quando a mãe morrera.
Destrancou a porta de entrada, primeiro o ferrolho, depois a tranca. O alarme soou baixinho quando entrou. Fechou a porta com suavidade, voltou a trancá-la e desligou o alarme. Ouviu Elizabeth a virar-se na cama, no piso de cima. Deixou a pasta em cima do balcão central da cozinha, tirou uma cerveja do frigorífico e bebeu meia garrafa na primeira golada. O ar cheirava vagamente a tabaco. Era mau sinal, pois Elizabeth deixara de fumar. Largara o tabaco havia dez anos, mas fumava quando estava zangada, ou nervosa. A consulta em Georgetown não devia ter corrido bem. Michael sentia-se mal por ter faltado. Tinha uma desculpa plausível - o trabalho, a queda de um avião comercial - mas o trabalho de Elizabeth também exigia bastante dela, que alterara os compromissos para ir à consulta do médico.
Olhou à sua volta, para a cozinha, que era maior do que o primeiro apartamento que tivera. Deixou a mente vaguear até a tarde, cinco anos antes, em que tinham assinado a escritura daquela casa. Lembrava-se de percorrer as grandes divisões vazias, com Elizabeth a falar com entusiasmo, a dizer o que colocaria onde, como iriam decorar os quartos, de que cor os pintariam. Queria filhos, muitos filhos, a correr pela casa, a fazer barulho, a partir coisas. Michael também queria. Tivera uma infância maravilhosa, em paragens exóticas um pouco por todo o mundo, mas não tivera irmãos e sentia que faltava alguma coisa na sua vida. A incapacidade de terem filhos custara um preço bem alto. Por vezes, a casa parecia vazia e triste, demasiado grande apenas para eles os dois, fazendo lembrar um museu e não um lar. Em certas ocasiões, parecia a Michael que em tempos ali tinha havido crianças, mas estas tinham sido levadas. Sentia-se como se tivessem sido condenados a morar ali juntos, os dois sozinhos, magoados, eternamente.
Apagou as luzes e levou o resto da cerveja para o quarto, no andar de cima. Elizabeth estava sentada na cama, o queixo apoiado nos joelhos, os braços a envolver as pernas. No teto abobadado brilhava uma luz suave. Na lareira cintilava o resto das brasas. O cabelo louro claro estava desalinhado e os olhos mostravam que não dormira. A expressão era ausente. Três cigarros meio fumados estavam no cinzeiro em cima da mesa-de-cabeceira e uma pilha de dossiês encontrava-se espalhada no lado da cama de Michael. Estava zangada e lidara com a situação da sua forma habitual, mergulhando no trabalho. Michael despiu-se em silêncio.
- Que horas são? - perguntou Elizabeth, sem olhar para o marido.
- É tarde.
- Por que não telefonou? Por que não me disse que ia chegar tão tarde?
- Houve desenvolvimentos no caso. Pensei que estivesse dormindo.
- Não tenho problema em ser acordada, Michael. Precisava ouvir tua voz.
- Sinto muito, Elizabeth. As coisas estavam um caos, não podia vir embora.
- Por que não foi à consulta?
Michael desabotoava a camisa e parou para olhar para ela. Elizabeth tinha o rosto corado, os olhos molhados.
- Elizabeth, sou o agente destacado para o grupo terrorista que pode ter abatido aquele avião comercial. Não posso sair no meio do dia para ir a Washington a uma consulta.
- Por quê?
- Porque não posso, só por isso. O Presidente dos Estados Unidos está tomando decisões com base naquilo que nós lhe dizemos. Numa situação destas, é impossível conseguir sair do escritório, nem por duas horas.
- Eu também trabalho, Michael. Pode não ser tão importante como trabalhar para a CIA, mas para mim representa muito. Neste momento estou tratando de três casos, tenho o Braxton nos calcanhares e estou desesperada tentando...
Elizabeth cedeu por um momento.
- Sinto muito, Elizabeth. Eu queria ir, mas não pude. Foi um dia terrível. Sinto-me muito mal por ter faltado à consulta. O que disse o médico?
Elizabeth fez menção de falar, mas as palavras não saíram. Michael percorreu o quarto, sentou-se na cama ao lado da mulher, e puxou-a para si. Elizabeth apoiou a cabeça no ombro do marido e chorou em silêncio.
- Ele não sabe ao certo qual é o problema. Não consigo engravidar. As minhas trompas podem ter algum problema. Ele não tem a certeza. Quer experimentar mais uma coisa: fertilização in vitro. Diz que a Cornell, em Nova York, é a melhor clínica. Podem nos receber no mês que vem.
Elizabeth olhou para o marido, o rosto molhado pelas lágrimas.
- Não quero ficar com grandes esperanças, Michael, mas nunca me vou perdoar se não tentarmos tudo.
- Concordo.
- Isso significa passarmos algum tempo em Nova York. Vou preparar tudo para trabalhar na filial de Manhattan. Papai vai ficar na ilha, para podermos usar o apartamento.
- Vou falar com Carter sobre a possibilidade de trabalhar a partir da Estação de Nova York. Posso ter de ir e vir algumas vezes, mas creio que não vai haver problema.
- Obrigada, Michael. Desculpa ter brigado com você. Estava tão zangada.
- Não peças desculpa. A culpa foi minha.
- Eu sabia no que estava me metendo quando me casei com você. Sei que não posso mudar aquilo que fazes, mas às vezes preciso que estejas mais tempo comigo. Até parece que nos encontramos por acaso de manhã, e depois outra vez só à noite.
- Podemos mudar de emprego.
- Não podemos mudar de emprego. - Beijou-lhe os lábios. Tire a roupa e venha para a cama. Já é tarde.
Michael levantou-se e dirigiu-se à casa de banho principal. Acabou de se despir, escovou os dentes e lavou o rosto sem olhar para o espelho. O quarto estava às escuras quando regressou, mas Elizabeth continuava sentada na cama, os braços novamente a abraçar as pernas.
- Consigo vê-lo no seu rosto, sabia?
- De que está falando?
- Aquela expressão.
- Qual expressão?
- A expressão com que fica sempre que alguém é morto em algum lugar no mundo.
Michael deitou-se e apoiou-se sobre o cotovelo para a encarar.
- Vejo essa expressão e me pergunto se voltou a pensar nela - comentou Elizabeth.
- Não estou pensando nela, Elizabeth.
- Como se chamava? Nunca me disse.
- Sarah.
- Sarah - repetiu Elizabeth. - É um nome muito bonito. Você a amava?
- Sim, amava.
- Ainda a ama?
- Amo você.
- E não me respondeu.
- Não, não a amo mais.
- Mente tão mal. Pensei que os espiões tinham de ser bons enganando.
- Não estou mentindo. Nunca te menti. Só oculto o que não posso contar.
- Costuma pensar nela?
- Penso no que aconteceu a ela, mas não penso nela.
Elizabeth deitou-se, virando-lhe as costas. Na escuridão, Michael pôde ver que os ombros dela tremiam. Quando a tocou, ela disse: - Desculpe, Michael. Sinto muito.
- Por que está chorando, Elizabeth?
- Porque estou zangada com você, e porque te amo muito. Porque quero ter um filho com você e tenho muito medo do que possa nos acontecer se não conseguir.
- Não vai nos acontecer nada. Amo você mais do que tudo no mundo.
- Já não a ama, não é, Michael?
- Amo você, Elizabeth, e só você.
Elizabeth virou-se na escuridão e puxou o rosto do marido para junto do seu. Michael beijou-a na testa e limpou-lhe as lágrimas dos olhos. Abraçou-a durante algum tempo, escutando o vento nas árvores perto da janela do quarto, até que a respiração dela assumiu o ritmo do sono.
CASA BRANCA
Anne Beckwith tinha uma regra ao jantar: Falar sobre política era estritamente proibido. A política dominara as suas vidas nos vinte e cinco anos desde que o marido fora sugado para a máquina do Partido Republicano na Califórnia, e Anne estava determinada a ter uma hora por dia em que a política não se intrometesse. Jantaram nos aposentos da família na mansão oficial: o Presidente, a Primeira-Dama e Mitchell Elliott. Anne adorava a cozinha italiana e acreditava em segredo que o país seria melhor se "fôssemos um pouco mais como os Italianos e menos como os Americanos". A bem da sua carreira política, Beckwith pedira a Anne que guardasse esse tipo de opinião para si. Todos os verões resistia ao desejo de Anne de passar férias na Europa, escolhendo locais "mais americanos". No último Verão tinham ficado em Jackson Hole, ao qual Anne, no quarto dia, apelidara de "Fossa".
Fazia-lhe a vontade no que dizia respeito à comida. Nessa noite, à luz suave das velas, ela escolhera fettuccini com pesto, natas e ervilhas, seguido de medalhões de vitela, uma salada e queijo, tudo regado por uma dispendiosa garrafa de quinze anos de vinho tinto toscano.
Ao longo da refeição, à medida que os funcionários da Casa Branca iam entrando e saindo em silêncio com cada prato, Anne Beckwith orientou com cuidado a conversa, de um tópico seguro para o seguinte: filmes novos que ela queria ver, livros novos que lera, velhos amigos, os filhos, a pequena vivenda na zona do Norte de Itália de Piedmont, onde tencionava passar o primeiro Verão "depois de termos cumprido as nossas penas e de termos voltado a ser livres".
O Presidente tinha um ar exausto. Os olhos, normalmente de um azul-pálido, estavam vermelhos e cansados. O dia fora extenuante, passara a manhã com os diretores das agências que investigavam o atentado ao avião: o FBI e a National Transportation Safety Board. À tarde viajara até Nova York, para se encontrar com os familiares das vítimas. Percorreu a zona da queda ao largo de Fire Island a bordo de um escaler da guarda-costeira e seguiu de helicóptero até a vila de Bay Shore, onde assistira a um serviço religioso em honra de um grupo de estudantes do liceu local que morrera na tragédia. Teve um encontro comovente com John North, um professor de química cuja esposa Mary acompanhava os jovens na viagem a Londres.
Vandenberg encenara os acontecimentos na perfeição. Na telada televisão, o Presidente deixara transparecer uma expressão de liderança, calmamente em pleno domínio da situação. Regressou a Washington e reuniu-se com o gabinete de segurança nacional: os secretários da Defesa e de Estado, o conselheiro para a segurança nacional, o diretor da CIA. Exatamente às 18:20, Vandenberg informou os jornalistas da Casa Branca. O Presidente estava a avaliar a possibilidade de uma retaliação militar contra os terroristas que se acreditava serem responsáveis pelo atentado. Navios de guerra da Marinha americana estavam a deslocar-se para o Mediterrâneo oriental e para o golfo Pérsico. Às 18:30, os correspondentes na Casa Branca da ABC, da CBS e da NBC alinharam-se lado a lado no Relvado Norte e informaram o povo americano de que o Presidente poderia levar a cabo uma ação decisiva para vingar o ataque. Mitchell Elliott sabia que na manhã seguinte as intenções de voto seriam bastante favoráveis. Mas, naquele momento, sentado à mesa à frente de James Beckwith, Elliott ficou abismado com a fadiga patente no rosto do Presidente. Questionou-se se o velho amigo teria ainda energia para lutar.
- Não fosse por coisas, Anne, e diria que está pronta a partir já, e não daqui a quatro anos - aventou Elliott.
O comentário raiava o tema da política. Em vez de mudar de assunto, como era seu hábito, Anne Beckwith cruzou o olhar com o de Elliott e semicerrou os olhos azuis numa rara exibição de fúria.
- Francamente, Mitchell, não me interessa se parto daqui a quatro anos ou daqui a quatro meses - contrapôs. - Ao longo dos últimos quatro anos, o Presidente deu tudo o que tem a esta nação. A nossa família fez sacrifícios terríveis. Se o povo quer eleger um senador desconhecido do Nebraska para ser o seu líder, pois que assim seja.
O comentário era típico de Anne Beckwith, que gostava de fingir que se encontrava acima da política, que a vida no poder era um fardo e não uma recompensa. Elliott sabia a verdade. Por trás da fachada plácida, Anne Beckwith era um animal político implacável por direito próprio, que exercia um poder enorme nos bastidores.
Entrou um criado que levantou os pratos e serviu café. O Presidente acendeu um cigarro. Anne obrigara-o a deixar de fumar há vinte anos, mas acedia a que fumasse um por noite, com o café. Numa exibição surpreendente de autodisciplina, Beckwith fumava o seu único cigarro todas as noites. Quando o empregado saiu, Elliott disse:
- Ainda falta um mês para as eleições, Anne. Podemos dar a volta na situação. - Mitchell Elliott, até parece um daqueles representantes que aparecem nos programas de televisão mais idiotas e que vomitam lugares-comuns sobre como o povo americano ainda não está concentrado nas eleições. Sabe tão bem quanto eu que os resultados das sondagens não vão mudar até o dia da eleição. - Admito que, de fato, normalmente é esse o caso. Mas, há duas noites, um terrorista árabe mandou pelos ares um avião comercial americano. O Presidente ficou com o palco todo só para ele. Sterling saiu de cena. O Presidente tem agora uma oportunidade maravilhosa para exibir a sua experiência na gestão de crises.
- Meu Deus, Mitchell, morreram duzentas e cinquenta pessoas e você está todo entusiasmado porque acha que isso vai nos ajudar a alterar a intenção de voto!
- Mitchell não disse isso, Anne - interveio Beckwith. - Preste atenção à comunicação social. Tudo o que acontece em ano de eleições é visto através do prisma da política. Seria ingênuo fingir que não é o caso.
Anne Beckwith levantou-se de repente. - Pois bem, esta velha ingênua já teve o bastante para uma noite.
O Presidente e Elliott se levantaram. Anne beijou a face do marido e ofereceu a mão ao convidado. - Ele está cansado, Mitchell. Não tem dormido muito desde que lhe surgiu esta sua maravilhosa oportunidade política. Não o deixe muito tempo acordado.
Quando Anne saiu, os dois homens desceram ao rés-de-chão e percorreram o acesso exterior coberto até a Sala Oval. A lareira estava acesa e a intensidade das luzes tinha sido reduzida. Paul Vandenberg aguardava. Beckwith sentou-se numa poltrona junto ao lume e Vandenberg acomodou-se a seu lado, o que deixou um dos baixos sofás brancos para Elliott. Quando este se sentou, afundou-se na almofada macia. Sentia-se mais baixo do que os outros dois homens, algo que não era do seu agrado. Apercebendo-se do desconforto de Elliott, Vandenberg permitiu que um sorriso lhe dançasse nos lábios.
Beckwith fitou o chefe de gabinete e depois Elliott.
- Muito bem, cavalheiros - disse. - E se me contassem o que há?
- Senhor Presidente, quero ajudá-lo a ser reeleito, para bem deste nosso maravilhoso país e para bem do povo americano. E acredito saber como consegui-lo - declarou Elliott.
O Presidente ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado.
- Vamos ouvir o que tem a dizer, Mitchell.
- Daqui a nada, Senhor Presidente - garantiu Elliott. - Primeiro, julgo que é apropriado que oremos ao Todo-Poderoso.
Mitchell Elliott ergueu-se do seu lugar, ajoelhou-se na Sala Oval e começou a rezar.
- Acha que ele vai fazê-lo, Paul?
- É difícil dizer. Quer dormir sobre o assunto. É bom sinal.
Durante a curta viagem desde a Casa Branca tinham trocado algumas palavras rápidas, ou ficado em silêncio. Nenhum deles gostava de falar em espaços fechados, o que incluía carros do governo em andamento. Caminhavam agora lado a lado, subindo a leve inclinação de Califórnia Street, ao longo das grandiosas mansões iluminadas de Kalorama. Um vento úmido percorria as árvores. Folhas de tons vermelho e dourado agitavam-se suavemente à pálida luz amarelada dos postes. Era uma noite calma, salvo pelo vento e pelo murmúrio do trânsito na Massachusetts Avenue. O carro avançou e estacionou à frente da casa de Elliott, onde o motor foi desligado e os faróis apagados. O guarda-costas de Elliott seguia alguns passos atrás deles, onde não podia ouvi-los.
- Nunca o tinha visto de tão mau humor - comentou Elliott.
- Está cansado.
- Mesmo que decida avançar, espero que tenha energia e paixão para apresentar o caso aos eleitores e ao Congresso.
- É o melhor ator que já ocupou aquele cargo desde Ronald Reagan. Se lhe dermos um bom guia, ele vai descontar as falas e acertar nas deixas todas.
- Então veja se o guia que seja mesmo bom.
- Já encomendei o discurso.
- Santo Cristo! Se é assim, com certeza que amanhã vou ler sobre o assunto no Post.
- Tenho minha melhor redatora de discursos trabalhando na primeira versão. Está trabalhando em casa. Não há nada no sistema de informática da Casa Branca, onde poderia cair nas mãos de alguém.
- Muito bem, Paul. Fico aliviado por saber que continua astuto como sempre.
Vandenberg não respondeu. Um carro passou por eles, um pequeno Toyota que virou à esquerda na 23rd Street. As luzes traseiras desapareceram na escuridão. Fez-se sentir uma rajada de vento. Vandenberg ergueu o colarinho da gabardina. - Foi uma bela apresentação, Mitchell. O Presidente estava visivelmente sentido. De certeza que de manhã vai acordar e perceber a sabedoria contida na sua abordagem. Vou entrar em contato com as estações de televisão para que façam a transmissão em direto de um comunicado presidencial a partir da Sala Oval.
- Será que as estações vão na conversa?
É claro. Já reclamaram no passado, quando julgam que utilizamos o privilégio de um discurso na Sala Oval por motivos claramente políticos, mas neste momento ninguém pode apresentar um argumento desses. Além disso, a sua própria iniciativa vai ser o segundo assunto da ordem de trabalhos. O primeiro é a declaração de que as forças armadas americanas levaram a cabo um ataque devastador contra a Espada de Gaza e os seus financiadores. Duvido que até mesmo os presidentes das estações tenham a arrogância de negar ao Beckwith uma cobertura ao vivo num momento destes.
- Seria de esperar que alguém com o teu percurso se recusasse a subestimar a arrogância dos media, Paul.
- Dizem que sou o poder por trás do trono. Levo com as culpas quando as coisas correm mal, mas fico com os louros quando elas correm bem.
- Sugiro que faças por que isto corra bem.
- Não se preocupe, assim farei.
- Há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar?
- Pode sair da cidade tão rápida e discretamente quanto possível.
- Receio que tal não seja possível.
- Céus, pedi-lhe que se mantivesse discreto.
- É só um pequeno jantar, amanhã à noite. O Braxton, alguns dos sócios maioritários e um senador cujas botas tenho de lamber.
- Junte-me à lista de convidados.
- Pensei que estivesses ocupado, Paul.
- O discurso vai ser apresentado entre nove e nove e quinze. Saio logo em seguida. Guarde um lugar na mesa.
Vandenberg entrou no banco de trás do carro da Casa Branca. A ignição do motor quebrou o silêncio da Califórnia Street. O carro afastou-se, virou à esquerda na Massachusetts e desapareceu. Segundos depois, um Toyota passou em frente à casa, o mesmo que tinham visto minutos antes.
Mitchell Elliott esperou que Mark Calahan o acompanhasse até a entrada da casa.
- Viu a placa daquele carro?
- É claro, senhor Elliott.
- Investigue. Quero saber quem é o dono.
- Imediatamente.
Quando o assistente regressou, vinte minutos depois, Elliott estava lendo na biblioteca.
- O carro está registrado em nome de Susanna Dayton. Vive em Georgetown.
- Susanna Dayton é a repórter do Washington Post que está fazendo matéria sobre minha ligação com Beckwith.
- Talvez seja uma coincidência, senhor Elliott, mas desconfio que ela esteja vigiando a casa.
- Quero-a sob vigilância. Traga os homens que julgar necessários para um trabalho bem feito. Quero saber o que está fazendo e com quem se encontra. Entre na casa dela o mais depressa possível. Coloque a casa e os telefones sob escuta. Não descuidem de nada.
O assistente fechou a porta quando saiu. Mitchell Elliott pegou no telefone e marcou o número da Casa Branca. Trinta segundos depois, a chamada estava a ser reencaminhada para o carro de Paul Vandenberg.
- Alô, Paul? Receio que tenhamos um pequeno problema em mãos.
WASHINGTON, D. C.
Pomander Walk é um toque da França oculto no coração de Georgetown, dez pequenas casas perto de Volta Place, acedidas por um beco demasiado estreito para carros. Susanna Dayton apaixonou-se pela pequena rua à primeira vista: os exteriores em tijolo caiado, as armações das janelas pintadas com cores garridas, as flores em vasos nos degraus de entrada. Volta Park ficava do outro lado da rua, sendo o lugar perfeito para levar o seu golden retriever a passear. Quando finalmente uma das dez casas foi posta à venda há dois anos, vendeu o apartamento de Connecticut Avenue e mudou-se.
Estacionou em Volta Place, pegou na mala e saiu. A chuva parara e a rua estava coberta por um tapete de folhas molhadas. Susanna fechou a porta e atravessou a rua. Pomander Walk estava silenciosa, como era habitual. O brilho suave de um televisor tremeluzia pela janela da sala de estar da casa em frente à sua. Carson ladrou quando Susanna subiu os degraus e enfiou a chave na fechadura.
O animal correu até a cozinha e regressou com a trela na boca.
- Daqui a pouco, querido. Deixa-me trabalhar um bocado e mudar de roupa. A casa era pequena mas confortável para uma pessoa: dois quartos no andar de cima, cozinha e sala de estar no rés-do-chão. Ainda casada, vivera com o marido numa casa maior a dois quarteirões dali, na 34th Street. Foi vendida aquando do divórcio e a soma obtida dividida entre os dois. Jack e a nova esposa, uma instrutora de aeróbica no ginásio dele, compraram uma casa com vista para Rock Creek, em Bethesda. Susanna ficou satisfeita por ele se ter mudado. Queria ficar em Georgetown sem se preocupar em esbarrar com Jack e com a esposa troféu dia sim, dia não. Usava o quarto adicional como escritório. O chão estava coberto de papéis e de pastas de arquivo, e as estantes embutidas estavam atafulhadas de livros. Instalou o computador portátil em cima da secretária e ligou-o. Escreveu rapidamente durante cinco minutos. Carson ficou sentado à porta, de trela na boca, os olhos fitos na dona. Foi uma noite espantosa. Mitchell Elliott passara três horas na Casa Branca, para todos os efeitos com o Presidente. Depois vira-o a caminhar à porta da sua casa de Califórnia Street com Paul Vandenberg, o chefe de gabinete do Presidente. Por si só, esta informação não era condenatória mas, se a conseguisse encaixar no resto do enigma, talvez fosse capaz de elaborar uma história verdadeira. Nada mais podia fazer nessa noite. Falaria com o editor pela manhã, contar-lhe-ia o que descobrira e decidiria onde procurar de seguida.
Protegeu o arquivo e gravou-o no disco rígido e em dois disquetes. Retirou o segundo disquete e levou para o quarto. Era tarde, já passava das onze, mas estava agitada por ter passado a noite no carro e no café. Despiu a blusa e a saia, e tirou as meias e a roupa interior. Da gaveta da cômoda escolheu um par de calças de lycra azuis e um pulôver de algodão, que vestiu rapidamente. Na casa de banho tinha um blusão de nylon que também vestiu, após o que se debruçou sobre o lavatório e retirou a maquilhagem que tinha quinze horas.
Secou o rosto e olhou para o reflexo no espelho. Aos quarenta anos, Susanna Dayton ainda se considerava uma mulher relativamente atraente: cabelo escuro encaracolado que lhe dava pelos ombros, olhos de um castanho profundo, pele cor de azeitona. No entanto, o esforço começava a evidenciar-se no rosto. Desde que se divorciara de Jack que mergulhara no trabalho. Dezesseis horas por dia eram a regra, não a exceção. Saíra com alguns homens, chegara mesmo a dormir com dois, mas agora o trabalho estava sempre em primeiro lugar. Canon andava pelo corredor do primeiro andar.
- Anda, vamos embora.
Susanna pegou o disquete e seguiu o animal até o térreo. Enquanto fazia o aquecimento, teclou no telefone sem fio o número do vizinho, um lobista ambiental chamado Harry Scanlon.
- Vou levar Carson para passear - indicou. - Se não voltar daqui a meia hora, peça ajuda.
- Aonde vai?
- Não sei. Talvez até Dupont Circle.
- Onde esteve até esta hora?
- Trabalhando, como de costume. Quando sair deixo mais uma na sua caixa do correio.
- Certo.
- Boa noite, querido.
- Boa noite, meu amor.
Desligou. Guardou o pager e o celular numa bolsa, prendeu-a à cintura e saiu de casa. Sabia que era uma tolice ir correr àquela hora da noite, ouvia com frequência os sermões dos amigos, mas levava sempre um celular e tinha Carson para a proteger.
Subiu os degraus da casa de Harry e enfiou o disquete na caixa do correio. Susanna gostava de ter cópias das cópias de segurança e, se a sua casa ardesse, ou fosse assaltada, pelo menos Harry teria uma reserva dos seus apontamentos. Harry pensava que era doida, mas fazia-lhe a vontade. Tinham um sistema: Quando Susanna deixava umo disquete nova na caixa de correio de Harry, este devolvia a antiga, regra geral na manhã seguinte.
Saiu de Pomander Walk. Carson fez as necessidades contra uma árvore. Depois Susanna fechou o blusão para se proteger do frio e começou a correr para leste, atravessando Georgetown na escuridão, com Carson a seu lado.
O homem no carro estacionado em Volta Place observou a mulher a sair. Sabia que não ia dispor de muito tempo. Era tarde e provavelmente ela não iria correr para muito longe. Teria de trabalhar rapidamente.
Saiu do carro, fechou a porta com cuidado e atravessou a rua. Vestia calças pretas, uma camisa escura e um blusão de couro preto, e levava uma pequena pasta de couro na mão direita. Mark Calahan não ia perder tempo. Pertencera às Forças Especiais, aos Navy Seals, mais exatamente, e sabia como entrar com discrição em prédios. Sabia como sair sem deixar vestígios.
Pomander Walk estava em silêncio e apenas uma das pequenas casas mostrava sinais de vida. Trinta segundos depois de chegar à rua tinha aberto a fechadura de Susanna e estava dentro de casa.
Permaneceu no seu interior quinze minutos e saiu tão discreta- mente como entrara.
Michael acordou às quatro da madrugada, com a chuva. Tentou voltar a adormecer, mas não conseguiu. Sempre que fechava os olhos via o avião a despenhar-se no mar e o rosto de Hassan Mahmoud, desfeito por três balas. Saiu da cama em silêncio, atravessou o corredor até o escritório, ligou o computador e sentou-se.
Os arquivos passaram à frente dos seus olhos: fotografias, relatórios da polícia, memorandos da Agência, relatórios de serviços de espionagem aliados. Reviu-os mais uma vez. O assassinato de um agente do governo em Espanha, reivindicado pelo movimento separatista basco ETA, mas posteriormente negado. A morte de um agente da polícia de Paris, reivindicada pela Ação Direta, mais tarde negada. O assassinato de um diretor da BMW em Francoforte, reivindicado pela Fação do Exército Vermelho, mais tarde negado. O assassinato de um comandante da OLP em Tunes, reivindicado por uma fação palestina rival, mais tarde negado. A morte de um empresário israelense em Londres, reivindicada pela OLP, mais tarde negada. Todos os atentados tinham ocorrido em momentos críticos e vieram piorar a situação. Todos tinham algo em comum: as vítimas foram alvejadas três vezes no rosto.
Michael abriu outro arquivo. A vítima era Sarah Randolph. Era uma estudante de arte abastada e bela, com tendências esquerdistas. Osbourne, ignorando o bom senso, apaixonara-se perdidamente por ela enquanto trabalhava em Londres. Sabia que a Segurança de Pessoal ficaria nervosa quanto às convicções políticas da jovem, por isso Michael quebrou as regras da Agência e não declarou a relação. Quando foi assassinada na Represa de Chelsea, a Agência partiu do princípio de que o disfarce de Michael tinha sido revelado e que já não podia fazer trabalho de campo enquanto NOC.
Abriu a fotografia. Era a mais bela mulher que alguma vez vira, mas um assassino roubara-lhe a beleza e a vida: três balas no rosto, munições de 9 mm, tal como os outros. Michael vira de relance o assassino. Acreditava que era o mesmo homem que abatera as outras pessoas, o mesmo indivíduo que matara Hassan Mahmoud.
Quem seria ele? Trabalharia para um governo, ou agiria por conta própria? Porque matava sempre da mesma forma? Michael acendeu um cigarro e colocou a si próprio outra questão: Será que ele existe mesmo, ou estará apenas na minha imaginação, um fantasma nos arquivos? Carter julgava que Michael estava a ver coisas. Carter ia tratar-lhe da saúde, caso Michael voltasse a sugerir a sua teoria. O mesmo faria Monica Tyler. Desligou o computador e voltou para a cama.
WASHINGTON, D. C.
Na manhã seguinte, Paul Vandenberg folheou uma pilha de jornais enquanto o sedan preto com motorista percorria rapidamente a George Washington Parkway, em direção à Casa Branca. A maior parte dos elementos da administração preferia passar os olhos por um resumo das notícias, preparado todas as manhãs pelo gabinete de imprensa da Casa Branca, mas Vandenberg, um leitor rápido e prodigioso, queria o material verdadeiro. Gostava de ver o tratamento que era dado a um artigo. Encontrava-se na metade superior ou inferior da página do jornal? Estava na primeira página, ou escondida no interior? Além disso, não confiava em resumos. Gostava de informação pura, de dados não adulterados. A sua mente conseguia armazenar e processar doses enormes de informação, ao contrário do patrão, que necessitava de porções mínimas. Vandenberg gostou do que viu. O atentado ao Voo 002 dominava as primeiras páginas dos mais importantes jornais do país. A campanha presidencial parecia ter deixado de existir. O Los Angeles Times tinha o grande furo da manhã: agentes da segurança interna americana tinham atribuído a responsabilidade à Espada de Gaza. O jornal expunha o caso em pormenor, acompanhado de uma representação gráfica exata do atentado e de um esboço biográfico do terrorista envolvido, Hassan Mahmoud. Vandenberg sorriu. A ideia de transmitir uma fuga de informação ao Los Angeles Times fora sua. Era o jornal mais importante da Califórnia e a administração precisaria de um empurrãozinho ou dois na reta final antes do dia das eleições.
O restante material também era bom. A viagem de Beckwith a Long Island fora alvo de uma grande cobertura. O New York Times e o Washington Post publicaram a transcrição integral dos seus comentários no serviço fúnebre. Todos os jornais exibiam a mesma fotografia, da Associated Press, de Beckwith a consolar a mãe de uma das jovens vítimas. Beckwith como figura paternal. Beckwith como principal figura de luto. Beckwith como anjo vingador. Sterling fora ofuscado. A digressão de campanha pela Califórnia não recebeu praticamente qualquer atenção. Era perfeito.
O carro chegou à Casa Branca. Vandenberg apeou-se e entrou na Ala Oeste. O seu gabinete era amplo e fora mobilado com bom gosto, tendo portas de correr que permitiam o acesso a um pequeno pátio em laje que dava para o Relvado Sul. Instalou-se à secretária e folheou uma pilha de mensagens telefônicas. Deu uma vista de olhos à agenda do Presidente. Vandenberg cancelara tudo o que não tivesse a ver com o Voo 002. Queria Beckwith repousado e descontraído quando surgisse à frente das câmaras, nessa noite. Não havia dúvidas de que seria o momento mais importante do seu mandato, com efeito, até mesmo da sua carreira.
Uma das três secretárias de Vandenberg espreitou à porta do gabinete.
- Café, Senhor Vandenberg?
- Obrigado, Margaret.
As sete e meia, os principais elementos da administração entraram-lhe no gabinete: o secretário de imprensa, o diretor de orçamento, o diretor das comunicações, o conselheiro para a política interna, o adido de ligação com o Congresso e o conselheiro adjunto para a segurança nacional. Vandenberg gostava de reuniões céleres e informais. Cada membro trazia um bloco de notas, uma caneca de café e um donut, ou um bolo seco. Vandenberg presidiu à reunião. Percorreu rapidamente a assistência, de quem obteve atualizações e a quem deu ordens, e ignorou problemas. A reunião terminou exatamente às sete e quarenta e cinco. Tinha quinze minutos antes de se encontrar com Beckwith.
- Margaret, não quero visitas, nem telefonemas, por favor.
- Com certeza, Senhor Vandenberg.
Paul Vandenberg estava ao lado de James Beckwith há vinte anos, desde Capitol Hill e Sacramento, mas aquele seria o mais importante de todos os seus encontros. Abriu as portas e saiu para o pátio banhado pelo sol, onde inspirou o ar fresco de Outubro. Os órgãos de comunicação social comentavam eternamente o seu poder, mas até mesmo a imprensa experiente de Washington ficaria chocada com a verdadeira influência de Vandenberg. A maior parte dos seus antecessores acreditava que tinha como dever ajudar o Presidente a tomar decisões, através de encontros com as pessoas certas e do conhecimento da informação correta. Vandenberg encarava o seu trabalho de outra forma: Era ele quem tomava as decisões, que depois vendia ao Presidente. As suas reuniões nunca se afastavam muito do guia. Beckwith escutava com atenção, pestanejava, aquiescia e fazia alguns apontamentos. Por fim, diria: "O que achas que devemos fazer, Paul?" E Vandenberg dizia-lhe.
Esperava que naquela manhã as coisas corressem da mesma forma. Vandenberg iria escrever o argumento e encenar os diálogos. O Presidente debitaria as falas. Se tivessem sorte, e se Beckwith não estragasse tudo, talvez conseguissem um segundo mandato.
Elizabeth Osbourne estava na esquina da 34th Street com a M Street, com um agasalho colorido e tênis de corrida. Ainda era cedo, mas o trânsito que atravessava Key Bridge para Georgetown já era intenso. Inclinou-se para a frente e fez alongamentos com as pernas. Um homem de carro buzinou e apertou os lábios de modo sugestivo. Elizabeth ignorou-o e resistiu à tentação de fazer o seu próprio gesto obsceno. Carson foi o primeiro a chegar, descendo a pequena colina de Prospect Street. Susanna chegou pouco depois.
Esperaram que o semáforo abrisse, e dirigiram-se ao C&O Canal. Atravessaram o canal por uma estreita ponte pedonal de madeira e começaram a correr ao longo do caminho de sirga ladeado por árvores. Carson corria à frente delas, a ladrar aos pássaros e perseguindo um par de esquilos aterrorizados.
- Onde anda o Michael, esta manhã?
Teve de ir cedo para o trabalho - respondeu Elizabeth. Detestava ter de mentir a Susanna acerca do trabalho de Michael.
Tinham-se conhecido na Faculdade de Direito de Harvard e, ao longo dos anos, mantiveram-se amigas chegadas. Moravam a poucos quarteirões uma da outra, corriam as duas e jantavam juntas com regularidade. Tinham-se aproximado ainda mais depois de Susanna se ter divorciado de Jack. Este era sócio da Braxton, Allworth & Kettlemen, e Elizabeth vira-se na posição nada invejável de mediadora oficiosa enquanto os dois resolviam a vida.
- E como está Jack? - indagou Susanna. A conversa entre elas acabava sempre por chegar a Jack. Susanna amara-o loucamente e Elizabeth imaginava que ainda assim fosse.
- O Jack está bem.
- Não me digas que ele está bem. Diz-me que está péssimo. - Muito bem, é um advogado terrível e um palerma. Que tal?
- Está muito melhor. Como está o docinho dele?
- Na semana passada levou-a a uma festa no escritório. Devia ter visto o vestido dela. Mas tenho muita inveja daquele corpo. Braxton mal conseguia manter a língua dentro da boca.
- Tinha um aspecto vulgar? Diga que tinha um aspeto vulgar.
- Muito vulgar.
- O Jack está sendo fiel?
- Por acaso, diz-se à boca cheia que tem um romance com uma das advogadas novas. - Não me admirava nada. Acho que o Jack é fisicamente incapaz de ser fiel. Não dou mais do que três anos ao casamento dele com o docinho.
A correnteza de árvores terminou e as duas amigas foram banhadas pela luz do Sol. Elizabeth tirou as luvas e a fita da cabeça e guardou-as no bolso do blusão. Uma bicicleta de montanha passou por elas como um raio. À sua esquerda, uma equipe de canoagem de Georgetown subia com graciosidade o rio, esforçando-se contra a corrente suave.
- O que aconteceu ontem no médico? - perguntou Susanna, abordando o tema com cautela.
Elizabeth contou-lhe tudo. Salvo Michael e o seu trabalho, não havia segredos entre as duas.
- Ele acha que a fertilização in vitro vai dar certo? 80
- Não faz ideia. É como jogar barro na parede. Quanto mais vamos aprendendo sobre os tratamentos de infertilidade, mais descobrimos o pouco que eles sabem.
- Como você se sente?
- Estou bem. Só quero encerrar o assunto. Se não pudermos ter filhos, quero deixar isso para trás e continuar com a nossa vida.
Correram em silêncio durante alguns minutos. Carson regressou, com um ramo de um metro na boca, que trouxera das árvores.
- Quero quebrar uma regra implícita da nossa amizade - indicou Susanna.
- Queres fazer-me uma pergunta sobre um caso da nossa firma?
- Não é bem um caso. É um cliente. Mitchell Elliott.
- É cliente do Braxton. Por acaso esta noite vou jantar com ele. - A sério?
- Sim, ele veio à cidade. O Braxton ordenou-me que comparecesse. - Sei que ele está na cidade porque ontem jantou na Casa Branca. Depois do jantar, o Paul Vandenberg levou-o a casa e os dois andaram a passear na
Califórnia Street.
- Como sabes isso? - Estive a segui-los.
- Susanna!
Contou a Elizabeth da história que lhe fora atribuída pelo editor, e tudo o que descobrira até então sobre Mitchell Elliott e as contribuições duvidosas a Beckwith e ao Partido Republicano.
- Preciso da sua ajuda, Elizabeth. Tenho de saber mais sobre a relação entre Braxton e Elliott. Preciso de saber se o Braxton está a ajudá-lo de alguma forma, ou se tem algum papel na circulação do dinheiro.
- Sabe que não posso fazer isso. Não posso trair a confiança de um dos nossos clientes. Seria despedida. Meu Deus, seria impedida de exercer!
- O Elliott é sujo e se o Braxton estiver a ajudá-lo, também é sujo.
Mesmo assim, não te posso ajudar. Não seria ético.
- Sinto muito por estar a utilizar a nossa amizade, mas o meu editor não me larga por causa do artigo. Além disso, as pessoas como o Mitchell Elliott enojam-me.
- Estás só a fazer o teu trabalho, a meter o nariz onde não és chamada. Estás perdoada.
- Posso telefonar-te logo à noite para saber o que se passou no jantar?
- Quanto a isso não há problema.
Chegaram à Fletcher's Boat House. Pararam, fizeram alguns alongamentos e regressaram a Georgetown. Um homem alto de roupa de treino azul-escuro cruzou-se com elas. Usava óculos escuros e um boné de basebol.
O homem no caminho de cascalho não era um corredor normal. Na mão direita tinha um sensível microfone direcional. Preso ao abdômen trazia um gravador sofisticado. Seguia Susanna desde que esta saíra de casa. Era uma tarefa agradável: uma manhã fria de Outono, uma paisagem muito bonita, e as mulheres corriam suficientemente depressa para lhe proporcionar um treino decente. Correu cerca de cem metros para lá da ponte em Fletcher's Boat House. Depois deu meia volta de repente e acelerou, os passos longos encurtando rapidamente a distância que o separava das duas mulheres. Abrandou e manteve-se a cerca de trinta metros atrás delas, com o microfone na mão direita apontado diretamente às duas figuras mais à frente.
Paul Vandenberg sentia sempre um leve arrepio quando entrava na Sala Oval. O Presidente chegou ao gabinete às oito horas em ponto, sendo seguido por cinco homens numa sucessão rápida. O antecessor de James Beckwith procurava a diversidade na sua administração, mas Beckwith queria que os conselheiros mais próximos fossem como ele, fato que assumia sem reservas. Os homens instalaram-se: o Vice-Presidente Ellis Creighton, o Conselheiro para a Segurança Nacional William Bristol, o Secretário de Estado Martin Claridge, o Secretário da Defesa Allen Payne e o Diretor da CIA Ronald Clark.
Tecnicamente, o Presidente dirigia as reuniões importantes como aquela, mas Vandenberg servia de mestre-de-cerimônias. Mantinha a ordem de trabalhos, dirigia o rumo das conversas e garantia que a discussão não se perdia.
- O primeiro ponto da ordem de trabalhos é o ataque proposto à Espada de Gaza - indicou. - Ron, importa-se de começar?
O Diretor da CIA trouxe mapas e fotografias de satélite ampliadas. - A Espada de Gaza possui três instalações de treino principais - começou. - No deserto líbio, a cento e cinquenta quilômetros de Tripoli. Nos arredores da povoação de Shahr Kord, no oeste do Irã. E aqui - bateu com o dedo no mapa pela última vez -, em Al Burei, na Síria. Se atacarmos estes três locais infligimos um golpe psicológico bem forte.
Beckwith franziu o sobrolho.
- Por que apenas psicológico, Ron? Quero que seja um golpe definitivo.
- Senhor Presidente, se me permite a franqueza, não creio que esse seja um objetivo realista. A Espada de Gaza é um grupo pequeno, esquivo e extremamente móvel. Bombardear os campos de treino vai fazer com que nos sintamos bem, e vai proporcionar uma certa dose de vingança, mas posso dizer com bastante certeza que não a vai tirar do mapa.
- Qual é a sua recomendação, Ron? - perguntou Vandenberg.
- Sugiro que ataquemos os sacanas com tudo o que temos. Mas o ataque terá de ser cirúrgico. Não queremos rebentar com um prédio de apartamentos e dar mais algumas centenas de mártires ao islamismo radical.
Vandenberg olhou para o Secretário da Defesa Allen Payne. - É a sua área, Allen. Podemos fazê-lo? Payne levantou-se.
- É claro, Senhor Presidente. Neste momento temos o cruzador Aegis Ticonderoga a patrulhar a zona norte do Golfo Pérsico. Os mísseis de cruzeiro do Ticonderoga podem eliminar esses campos de treino com uma precisão devastadora. Temos imagens de satélite dos campos e os mísseis já foram programados com essa informação. Não vão falhar.
E quanto aos campos da Síria e da Líbia? - indagou o Presidente.
- John F. Kennedy e o seu grupo de combate assumiram posições no Mediterrâneo. Vamos utilizar mísseis de cruzeiro contra a base na Síria. A Líbia é a principal base de operações do grupo. Esse campo é o maior e o mais complexo. Para o eliminar vai ser preciso um ataque mais intenso. Assim sendo, vamos utilizar caças furtivos com base em Itália.
O presidente virou-se para o Secretário de Estado Martin Claridge.
- Martin, qual o impacto de um ataque sobre a nossa política no Oriente Médio? - Não é fácil de avaliar, Senhor Presidente. Com toda a certeza irá inflamar os radicais islâmicos, e vai agitar ainda mais a situação em Gaza e na Cisjordânia. Quanto à Síria, fará com que seja ainda mais difícil sentar Assad à mesa de negociações, mas ele também não tem demonstrado grande pressa em alcançar a paz. Servirá, no entanto, para enviar uma mensagem poderosa aos estados que continuam a apoiar o terrorismo. Assim sendo, tem o meu apoio, Senhor Presidente.
- Quais são os riscos, cavalheiros? - indagou Vandenberg. William Bristol, o Conselheiro para a Segurança Nacional, pigarreou.
- Temos de aceitar o fato de haver o risco de o Irã, a Síria, ou a Líbia poderem decidir ripostar.
- Se assim for - interveio o Secretário da Defesa Payne -, irão pagar muito caro. Temos forças mais do que suficientes no Mediterrâneo e no Golfo para infligir um golpe bastante forte a qualquer uma dessas nações. - Existe outra ameaça - acrescentou Clark, o Diretor da CIA.
- Uma retaliação na forma de um aumento do terrorismo. Teremos de colocar as nossas embaixadas e o nosso pessoal num estado de alerta máximo, um pouco por todo o mundo.
- Já foi feito - garantiu o Secretário de Estado Claridge. Ontem à noite emitimos uma comunicação secreta.
Por fim, Beckwith dirigiu-se a Vandenberg.
- Qual a tua opinião, Paul?
Acho que temos de ser bastante duros, Senhor Presidente. É uma reação ponderada, é decisiva e mostra determinação. Prova que o governo dos Estados Unidos está disposto a proteger o seu povo.
E, a nível político, será o equivalente a uma volta no resultado nos últimos segundos de jogo. O Sterling vai ver-se obrigado a apoiá-lo. Qualquer outro tipo de ação será visto como pouco patriota. Vai ficar encurralado. O silêncio abateu-se sobre a sala enquanto todos aguardavam que o Presidente falasse.
- Considero a Espada de Gaza uma ameaça real aos cidadãos e aos interesses dos Estados Unidos - acabou por dizer. - Foi levado a cabo um ato covarde e bárbaro contra esta nação, que tem de ser castigado. Quando poderemos atacá-los?
- Quando der a ordem, Senhor Presidente.
- Esta noite - indicou. - Façam-no esta noite, meus senhores. Vandenberg olhou para os seus apontamentos. Tudo fora bem orquestrado e o Presidente tomara a decisão pretendida e sentia-se bem com a posição assumida. Vandenberg fizera um bom trabalho.
- Antes de darmos a reunião por encerrada, temos ainda mais um ponto na ordem de trabalhos - declarou Vandenberg. - Quer dizer-lhes, Senhor Presidente, ou prefere que eu o faça?
Calahan reproduziu a gravação para Mitchell Elliott na biblioteca da mansão de Kalorama. Elliott ouviu com atenção, o indicador apoiado no nariz, os olhos fitos nas árvores do jardim. A qualidade era boa, embora algumas interferências ocasionais tornassem inaudíveis certas partes da conversa. Quando a gravação chegou ao fim, Elliott permaneceu imóvel. Planeara as coisas com o máximo de cuidado, mas uma jornalista demasiado curiosa poderia deitar tudo a perder. - Ela é um problema, senhor Elliott - admitiu Calahan, ao tirar a cassete da sofisticada aparelhagem de Elliott.
- Infelizmente, neste momento não podemos fazer grande coisa, a não ser observar e aguardar. Que tipo de vigilância estão a levar a cabo?
- Escutas na casa e no telefone.
- Não chega. Também quero o carro sob escuta.
- Não vai haver problema. Ela deixa-o na rua, à noite.
E o computador. Quero que entrem sempre que possível e que copiem a informação no disco rígido.
Calahan aquiesceu.
- Temos de a vigiar com mais atenção enquanto estiver a trabalhar. O Rodriguez que se meta imediatamente num avião. Vai trabalhar no Post.
- O que sabe o Rodriguez de jornalismo?
- Nada. Não é esse tipo de trabalho que tenho em mente. Calahan parecia estupefato.
- O Rodriguez cresceu no bairro mais duro de Bakersfield explicou Elliott. - Fala espanhol como um rapaz do barria. Se lhe tirarmos os ternos elegantes de seiscentos dólares e o penteado aprumado, vai parecer um agricultor de Salvador. Arranja-lhe documentos de imigração falsos e um trabalho na firma de limpeza do Post. Quero-o lá dentro amanhã à noite, o mais tardar.
- Boa ideia.
- Quero saber tudo sobre ela: finanças, o divórcio, tudo. Se pensa que vai armar-se em esperta, meteu-se com a pessoa errada.
Calahan ergueu a fita. - O que devo fazer com isso?
- Destrua.
WASHINGTON, D. C.
Se há coisa pior do que um jantar formal em Washington, é ir sozinha a um jantar formal em Washington, pensou Elizabeth Osbourne. Chegou quinze minutos atrasada à mansão de Kalorama de Mitchell Elliott. Deixou o Mercedes com o arrumador de serviço, um rapaz que mal parecia ter idade para conduzir, e dirigiu-se à entrada. Michael telefonara ao fim da tarde a dizer que não podia sair, pois ia acontecer algo importante. Elizabeth tentara encontrar um acompanhante, mas não conseguiu descobrir ninguém tão em cima da hora. Até mesmo Jack Dawson, o ex-marido de Susanna, recusara o convite.
Elizabeth premiu o botão e ouviu-se o dobrar solene de um sino algures no interior da casa imponente. Um homem elegante de smoking veio abrir a porta. Aceitou-lhe o casaco e olhou para a rua, em busca do acompanhante. - Estou sozinha - indicou Elizabeth, arrependendo-se de imediato. Não tenho de dar explicações a um mordomo, pensou.
O mordomo informou-a de que as bebidas estavam a ser servidas no jardim. Elizabeth percorreu o hall central para o interior da casa. Portas de correr davam acesso a um magnífico jardim de dois níveis. Aquecedores a gás afugentavam o frio da noite de Outono. Elizabeth saiu e um empregado ofereceu-lhe um copo de Chardonnay fresco. Bebeu metade rapidamente. Olhou à sua volta para os outros convidados e sentiu-se ainda mais embaraçada.
Estava cercada pela elite republicana de Washington: o líder da maioria do Senado, o líder da minoria da Câmara de Representantes, um bando de elementos menos importantes, e a primeira liga dos advogados, lobistas e jornalistas da cidade. Um famoso comentador televisivo conservador discursava nas margens da piscina. Elizabeth aproximou-se da sua órbita, empunhando o vinho como um escudo. Beckwith estava em apuros, declarava o comentador, pois traíra os princípios conservadores do Partido. A audiência aquiesceu com lentidão. Assim falara o Oráculo.
Elizabeth olhou para o relógio: oito horas. Interrogou-se se seria capaz de aguentar o serão. Tentou imaginar quem seria o primeiro a comentar o fato de estar sozinha. Alguém lhe gritou o nome. Virou-se para o som e viu Samuel Braxton a vir na sua direção. Era um advogado brilhante e impiedoso, encurralado dentro do corpo de um jogador de futebol amolecido pela idade e pela prosperidade. Pendurada no braço carnudo estava a sua última aquisição, uma loura de grandes seios chamada Ashley. Era a esposa número três, ou número quatro, Elizabeth não tinha a certeza. Tinham ficado ao lado uma da outra durante um jantar, numa altura em que ainda era Ashley DuPree, à espera da conclusão do divórcio para que finalmente pudesse "fazer do Samuel um homem honesto". Era rica. A família conseguira a fortuna com cavalos e algodão, algum do qual estava dentro da sua cabeça, fazendo-se passar por cérebro. Adequava-se na perfeição às necessidades de Braxton: boa linhagem, dinheiro próprio e o corpo de uma coelhinha da Playboy, apesar dos respeitáveis trinta e oito anos de idade.
- Onde está seu marido? - perguntou Braxton com um tom de voz bem alto. - Queria exibir a Ashley.
O Oráculo parou de falar e a audiência virou-se para ouvir a resposta. - Teve de se ausentar da cidade em trabalho - respondeu Elizabeth. Sentiu-se corar, apesar do esforço da advogada para manter a compostura exibida em tribunal. O pior era ter de mentir. Seria muito mais simples se por uma vez pudesse dizer a verdade: O Presidente está prestes a ordenar um ataque aéreo à Espada de Gaza, o meu marido trabalha para a CIA e neste momento não pode deixar o trabalho para comparecer a este jantar ridículo.
Braxton olhou com exuberância para os outros convidados espalhados pelo jardim.
- Bem, Elizabeth, hoje parece que está em minoria. Se não me engano, é o único membro do Partido Democrata aqui presente.
Elizabeth conseguiu ostentar um sorriso cauteloso.
- Pode não acreditar, Samuel, mas sou uma das poucas pessoas que por acaso gosta de republicanos.
Mas Braxton não ouviu o comentário, pois já olhava para Mitchell Elliott, que acabara de entrar no jardim. Abandonou Ashley e voou por entre os convidados na direção do seu cliente mais lucrativo. Durante a meia hora que se seguiu, Ashley e Elizabeth discutiram cavalos e os benefícios de um treinador pessoal. Elizabeth ouviu educadamente enquanto terminava o primeiro copo de vinho e bebia rapidamente um segundo.
Pouco antes das nove, Elliott pediu a atenção de todos.
- Senhoras e senhores, o Presidente vai dirigir-se à nação. Por que não ouvimos o que nos tem a dizer antes do jantar?
Elizabeth seguiu a multidão para a espaçosa sala de estar. Dois televisores de ecrã gigante tinham sido instalados nesse espaço. Os convidados aglomeraram-se em seu redor. tom Brokaw falava num deles e Peter Jennings no outro. Por fim, os grandes-planos dissolveram-se e um James Beckwith de expressão sombria fitou a câmara.
Paul Vandenberg não acreditava em exibições públicas de stresse, mas nessa noite estava nervoso e esse fato era evidente. Tudo tinha de ser perfeito. Acompanhou Beckwith à sala de maquilhagem e reviram o discurso uma última vez. Observou os monitores de televisão, para garantir que o enquadramento estava perfeito. Ordenou que se confirmasse o bom funcionamento do teleponto. Não queria que o aparelho falhasse, deixando James Beckwith a fitar a câmara como um veado imobilizado pelos faróis de um carro.
O discurso estava marcado para ter início exatamente às 21:30, hora oriental. Isso concedia às estações de televisão noventa segundos para darem uma vista de olhos ao discurso com os seus correspondentes na Casa Branca. Vandenberg agitara cuidadosamente as águas. Dissera aos jornalistas, nos bastidores, claro está, que o Presidente iria comentar uma resposta militar ao atentado ao Voo 002, e uma nova iniciativa de defesa importante. Não entrou em pormenores.
Como resultado, havia uma sensação de premência a pairar sobre Washington quando o Presidente entrou na Sala Oval.
Faltavam dois minutos para o início da transmissão, mas Beckwith cumprimentou com vagar todos os elementos da equipe de reportagem, desde o produtor executivo à assistente de realização. Sentou-se por fim à secretária. Um assistente de produção prendeu o microfone à gravata carmesim.
- Trinta segundos! - bradou a assistente de realização.
Beckwith aprumou o casaco e cruzou as mãos em cima da secretária. As feições dignas assumiram uma expressão determinada. Vandenberg permitiu-se esboçar um sorriso. O velhote ia sair-se bem.
- Cinco segundos! - gritou a assistente de realização. Apontou em silêncio para James Beckwith e o presidente começou a falar.
Michael Osbourne tencionava assistir ao discurso do Presidente na sua secretária mas, pouco antes das nove horas, Adrian Carter entrou no curral e fez-lhe sinal para que o seguisse. Cinco minutos depois, entravam no Centro de Operações.
O DCI Ronald Clark estava recostado numa cadeira de executivo, a fumar um cigarro. Monica estava a seu lado. Tweedledee e Tweedledum pairavam numa órbita incerta.
O rosto de Beckwith surgiu de repente numa parede de monitores de televisão: a CNN, as estações públicas, a BBC. Imagens fantasmagóricas captadas por câmaras de infravermelhos tremeluziam em três tela maiores: imagens de satélite ao vivo dos campos de treino da Espada de Gaza na Líbia, na Síria e no Irã.
- Bem-vindo ao melhor lugar da cidade, Michael - declarou Carter.
Boa noite, meus compatriotas americanos - começou Beckwith, após o que fez uma breve pausa para causar um efeito dramático. - Há duas noites, o Voo 002 da TransAtlantic Airlines foi abatido ao largo de Long Island por um terrorista armado com um míssil Stinger roubado, matando todos os que se encontravam a bordo. Foi um ato covarde e bárbaro, sem justificação possível. Ao que parece, os animais responsáveis julgavam que essa ação não lhes traria consequências. Enganaram-se.
O Presidente fez uma nova pausa, permitindo que as palavras surtissem o seu efeito. Vandenberg fora para o seu gabinete assistir ao discurso pela televisão. Sentiu um arrepio na espinha quando Beckwith apresentou a sua deixa na perfeição.
- As agências da lei e de espionagem desta nação concluíram que o grupo terrorista palestino conhecido por Espada de Gaza foi o responsável pelo atentado. Agora irão pagar pelo que fizeram. Neste momento, os homens e as mulheres das forças armadas dos Estados Unidos estão a iniciar um ataque cuidadoso e estudado aos campos de treino da Espada de Gaza, localizados em vários países do Oriente Médio. Não se trata de vingança. Trata-se de justiça. Beckwith voltou a fazer uma pausa, interrompendo a continuidade do guia. O operador do teleponto acompanhou-o.
- Que fique bem claro: Não se trata de vingança. Trata-se de justiça. Estamos a enviar uma mensagem aos terroristas de todo o mundo. Os Estados Unidos não podem, nem vão, ficar parados a ver os seus habitantes a serem chacinados. Não fazer nada seria imoral. Não fazer nada seria um ato de covardia. "Tenho algo a dizer à Espada de Gaza e aos governos que lhe fornecem as ferramentas para a prática do terror. - Beckwith semicerrou os olhos. - Não façam mais nada, e tudo termina por aqui. Matem mais um americano, um que seja, e terão de pagar um preço muito caro. Dou-lhes a minha palavra de honra. "Peço-lhes que rezem pelo regresso em segurança de todos os que estão a participar na ação desta noite. Peço-lhes também que se juntem a mim e que orem pelas vítimas deste ato bárbaro e pelas suas famílias. São esses os verdadeiros heróis.
Beckwith fez uma pausa e trocou as folhas com o discurso, sinal de que ia mudar de assunto.
Vou ser brutalmente direto convosco por um instante. Existem medidas que podem ser tomadas para garantir que um atentado desta natureza nunca mais se repetirá. Podemos vigiar as nossas costas com mais cuidado. As nossas agências de espionagem podem aumentar o nível de vigilância. Mas nunca teremos cem por cento de certeza de que algo do gênero não voltará a repetir-se. Se esta noite vos dissesse que era esse o caso, estaria a mentir, e eu nunca vos menti. Mas há algo que este governo pode fazer para proteger os seus cidadãos dos terroristas e das nações terroristas, e é sobre isso que vos quero falar. "Os Estados Unidos possuem a tecnologia e a capacidade de construir um escudo defensivo sobre este país, um escudo que o protegeria de um ataque com mísseis acidental, ou intencional. Algumas das nações que apoiam os grupos de selvagens como a Espada de Gaza tentam, ao mesmo tempo, adquirir a tecnologia dos mísseis balísticos. Em resumo, querem mísseis que possam atacar o solo americano. De forma lenta, mas inexorável, estão a consegui-lo. Se um único míssil, equipe do com uma ogiva nuclear, caísse sobre uma cidade como Nova York, Washington, Chicago, ou Los Angeles, o número de baixas poderia ascender aos dois milhões, em vez de duas centenas.
"Em conjunto com os nossos aliados, estamos a tentar evitar que nações como a Síria, o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte consigam a tecnologia para a construção de mísseis balísticos. Infelizmente, demasiadas nações e demasiadas empresas estão dispostas a ajudar essas nações, tendo como único motivo a ganância pura e simples. Se forem bem sucedidas e nós não estivermos preparados, a nossa nação, a nossa política estrangeira, poderá ser posta em causa. Não podemos permitir que tal aconteça.
"Assim sendo, rogo ao Congresso que aprove rapidamente os fundos necessários para dar início à construção de uma defesa nacional contra mísseis. Desafio o Congresso e o Departamento de Defesa a terem o sistema operacional no fim do meu segundo mandato, caso receba de vossa parte a permissão para vos continuar a servir. Não será fácil. Não será barato. Vai exigir disciplina. Vai exigir sacrifícios de todos nós. Mas não fazer nada, conceder uma vitória a esses terroristas, seria imperdoável. Que Deus vos abençoe a todos, e que Deus abençoe a América.
A câmara fez um fade out e James Beckwith desapareceu das telas.
O Senador Andrew Sterling acompanhava o discurso de Beckwith numa Ramada Inn, em Fresno, no estado da Califórnia. Estava sozinho, salvo pelo amigo de longa data e gestor de campanha Bill Rogers. A janela de correr estava aberta e recebia o agradável ar fresco da noite, a par do barulho do trânsito na Highway 99. Quando Beckwith surgiu no ecrã, Sterling disse:
- Importa-se de fechar a janela, Bill? Não consigo ouvir o sacana.
Sterling era um liberal confesso, um liberal sensível que acreditava nos impostos para financiar as despesas do Estado. Defendia que o governo federal gastava demasiado em armas de que não precisava, e muito pouco com os pobres e com as crianças. Queria abolir os cortes na segurança social e na assistência médica. Queria subir os impostos aos ricos e às grandes empresas. Opunha-se ao comércio livre. O partido concordava e, após um combate cerrado nas primárias, designaram Sterling como seu candidato. Para surpresa da classe política dominante, Sterling saíra da Convenção Democrata Nacional com cinco pontos de vantagem, e aí se mantivera.
Sabia que a vantagem era frágil. Sabia que tudo dependia da manutenção da Califórnia, onde Beckwith tinha a vantagem de jogar em casa, o que explicava por que passar a noite num Ramada Inn, em Fresno.
À medida que Beckwith falava, o rosto de Sterling foi ficando vermelho, após o que assumiu um tom próximo do roxo. Sempre votara contra o programa nacional de defesa contra mísseis. Beckwith encerrara-o numa caixa e pregara a tampa. Se Sterling apoiasse Beckwith, pareceria um ato de um vira-casaca. Caso se opusesse, a máquina republicana iria atacar com o argumento de que ele não acreditava na defesa. Havia ainda um outro fator mais importante: se o sistema de defesa contra mísseis fosse construído, a indústria da defesa da Califórnia seria rejuvenescida. Se Sterling fosse contra, Beckwith não o largaria. A Califórnia voltaria a pertencer aos republicanos e a eleição estava perdida. - Ora mas que bela surpresa de Outubro - comentou Sterling quando Beckwith acabou de falar.
Rogers levantou-se e desligou a televisão.
- Temos de apresentar uma declaração, Senador.
- Canalha do Vandenberg. É um sacana esperto. Podemos apoiar Beckwith nos ataques à Espada de Gaza. A política tem limites e todos sabem disso. Mas somos obrigados a nos opor ao sistema de defesa contra mísseis. Não temos escolha.
- Temos sim, Bill - contrapôs Sterling, que ainda fitava a tela agora escura do televisor. - Por que não vai lá embaixo buscar cerveja? Acabamos de perder a merda das eleições.
Michael Osbourne viu os primeiros mísseis de cruzeiro atingirem os alvos quando o Presidente ainda estava falando. No Irã, em Shahr Kord, deviam estar a ouvir o discurso com um rádio de ondas curtas, pois uma dúzia de homens saiu a correr do maior edifício do complexo quando Beckwith anunciou um ataque iminente. "Tarde demais, meninos e meninas", murmurou Clark. Segundos depois, dez mísseis de cruzeiro, disparados do cruzador Aegis Ticonderoga, estacionado no golfo Pérsico, atingiam em simultâneo o campo, dando origem a uma bola de fogo espetacular.
Uma cena semelhante teve lugar na Síria, em Al Burei, com os mesmos resultados. O campo líbio era o maior e o mais importante. Para esse alvo, o Pentágono escolheu caças furtivos armados com bombas guiadas por laser, conhecidas por bombas SMART. Os aviões penetraram no espaço aéreo líbio antes mesmo do início do discurso do Presidente. Estavam sobre os alvos quando Beckwith apresentou o ponto-chave do discurso. Segundos depois, o deserto líbio irrompia em chamas. Ronald Clark levantou-se e saiu em silêncio da sala, com Tyler e respectivos acólitos atrás dele. Carter olhou para Osbourne, que fitava os monitores.
- Bem - disse Carter -, lá se vai a paz no Oriente Médio.
O homem de cabelo grisalho curto sentado no último andar de um moderno edifício de escritórios de Telaviv pensava o mesmo. O prédio servia de quartel-general do Instituto Central de Espionagem e Tarefas Especiais, mais conhecido como Mossad ou, simplesmente, o Instituto. O homem de cabelo grisalho era Ari Shamron, o diretor-adjunto das operações da Mossad. Quando Beckwith acabou de falar, Shamron desligou a televisão. Um adido bateu à porta e entrou no gabinete.
- Temos relatórios da rádio síria. Al Burei foi atacado. O campo está em chamas. Shamron aquiesceu em silêncio e o adido saiu. Shamron esfregou a cana do nariz com o polegar e com o indicador e tentou afastar a fadiga. Eram 4 e 15 da manhã e estava à secretária há quase vinte e quatro horas. Tendo em conta o desenrolar dos acontecimentos, provavelmente continuaria aí por mais vinte e quatro.
Acendeu um cigarro, serviu-se de chá preto de um termo e dirigiu-se à janela. A chuva fustigava o vidro espesso. Lá em baixo, Telaviv dormia tranquilamente. Em parte, isso se devia a Shamron. Passara a vida inteira nos serviços secretos, a eliminar aqueles que desejavam destruir Israel.
Tendo crescido na Galileia, Ari Shamron entrara para a Força de Defesa
israelense com dezoito anos, sendo transferido de imediato para a Sayeret, as forças especiais de elite. Após três anos de serviço ativo, mudara-se para a Mossad. Em 1972, o seu francês fluente e a sua habilidade para matar granjearam-lhe uma nova missão. Foi enviado para a Europa para assassinar os membros do grupo terrorista palestino Setembro Negro, que participara no rapto e morte dos atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique. A missão era simples. Nada de detenções, apenas sangue. Vingança, pura e simples. Aterrorizar os terroristas. Sob o comando de Mike Harari, a equipe da Mossad assassinara doze terroristas palestinos, alguns com armas com silenciador, outros com bombas detonadas à distância. Shamron, letal com uma pistola, matara quatro. Depois, em abril de 1973, liderara uma equipe de tropas israelenses em Beirute e assassinara outros dois membros do Setembro Negro e um porta-voz da OLP.
Shamron não tinha escrúpulos em relação ao trabalho que fazia. Em 1964, guerrilheiros palestinos tinham entrado na casa da sua família e assassinado os seus pais enquanto dormiam. O ódio que nutria pelos palestinos e seus líderes não conhecia limites. Mas agora esse ódio virara-se contra os israelenses que desejavam criar um acordo de paz com assassinos como Arafat e Assad.
Passara a vida a defender Israel. Sonhava com um Israel grandioso, que se estendesse do Sinai à Cisjordânia. Agora os pacifistas queriam abdicar de tudo.
O primeiro-ministro falava da possibilidade de entregar o Golan, para atrair Assad para a mesa de negociações. Shamron recordava-se dos dias negros antes de 1967, quando granadas sírias caíam sobre o Norte da Galileia. Arafat dirigia Gaza e a Cisjordânia. Queria um estado palestino independente, com Jerusalém como capital. Jerusalém! Shamron nunca o permitiria.
Jurara utilizar todos os meios ao seu alcance para deter o suposto processo de paz. Se tudo continuasse de acordo com o planeado, talvez visse esse desejo concretizado. Agora Assad nunca se sentaria à mesa das negociações. Os árabes de Gaza e da Cisjordânia ferveriam de raiva quando acordassem e tivessem conhecimento dos ataques americanos. O exército teria de intervir. Haveria mais uma jornada de terror e de vingança. O processo de paz seria interrompido.
Ari Shamron terminou o chá e apagou o cigarro. Fora o melhor milhão de dólares que já gastara.
Cinco mil quilômetros a norte, em Moscou, decorria uma vigília semelhante na sede do Serviço de Espionagem Exterior, o sucessor do KGB. O homem à janela era o general Constantin Kalnikov. Amanhecera e o dia estava desagradável para Outubro, mesmo segundo os padrões de Moscou. A neve, soprada por ventos siberianos, rodopiava na praça lá em baixo. Dali a poucas semanas iria em trabalho para a ilha das Caraíbas de St. Marteen. Uma pausa do frio interminável seria bem-vinda.
Kalnikov arrepiou-se e fechou os cortinados pesados. Sentou-se à secretária e começou a tratar de uma pilha de papéis. Constantin Kalnikov, um comunista empenhado, fora recrutado pelo KGB em 8. Chegou à liderança do Segundo Diretorado Principal, a seção do KGB responsável pela contraespionagem e por eliminar a subversão interna. Quando a União Soviética ruiu, e com ela o KGB, Kalnikov manteve um cargo elevado no novo serviço, o SVR. Kalnikov dirigia agora as operações de espionagem russas na América Latina e nas Caraíbas. O trabalho era uma anedota. Tinha um orçamento tão pequeno que não dispunha de dinheiro para pagar a agentes, ou a informantes. Era impotente, tal como o resto da Rússia.
Kalnikov observara Boris Yeltsin e o seu sucessor a arrasarem a economia russa.
Vira o antigamente orgulhoso Exército Vermelho ser humilhado na Chechênia, os tanques enferrujando por falta de peças sobressalentes e combustível, as tropas passando fome. Assistira ao vaidoso KGB a transformar-se no alvo da chacota do mundo da espionagem. Sabia que nada podia fazer para inverter o rumo que a Rússia tomara. Era como um navio imenso a agitar-se no mar revolto. Demoraria muito tempo a mudar de rota, muito tempo a parar. Kalnikov desistira da sua Rússia, mas não de si próprio. Afinal de contas, tinha família: uma mulher, Katya, e três belos filhos. As suas fotografias eram o único toque pessoal no gabinete frio e estéril.
Kalnikov decidira utilizar a sua posição para enriquecer. Era o líder de um grupo de homens, oficiais do exército e da espionagem, membros da mafiya, que vendia o material militar russo em mercado aberto à melhor oferta. Kalnikov e os seus homens tinham vendido tecnologia nuclear, urânio para armas e tecnologia de mísseis ao Irã, à Síria, à Líbia, à Coreia do Norte e ao Paquistão. Com isso tinham arrecadado dezenas de milhões de dólares. Sintonizou a CNN e escutou um painel de peritos que discutia a apresentação do Presidente Beckwith. Este queria construir um sistema de defesa contra mísseis, um escudo que protegesse os Estados Unidos dos loucos internacionais. Em breve esses loucos iriam bater à porta de Kalnikov. Pretenderiam apoderar-se de tanto material quanto possível, e depressa. O Presidente Beckwith dera início a uma corrida internacional ao armamento, uma corrida que deixaria Kalnikov e os seus comparsas ainda mais ricos. Constantin Kalnikov sorriu consigo mesmo.
Fora o melhor milhão de dólares que gastara.
Elizabeth Osbourne dirigia na chuva ao longo da Massachusetts Avenue, em direção a Georgetown. Fora uma noite muito longa e sentia-se exausta. Rock Creek passou lá em baixo. Procurou no porta-luvas, encontrou um maço antigo de cigarros e acendeu um. Estava seco e bolorento mas, mesmo assim, o fumo sabia-lhe bem. Fumava apenas alguns cigarros por dia e dizia para com os seus botões que poderia largar o vício quando quisesse. Se engravidasse, deixaria de fumar de certeza. Meu Deus, pensou, dava tudo só para poder engravidar. 97
Afastou o pensamento. Cruzou Sheridan Circle e desceu para a Q Street. Pensou no jantar. Na mente recordava excertos de conversas disparatadas. À frente dos olhos passavam-lhe imagens da mansão de Mitchell Elliott, como se fossem filmes antigos. Muito depois de chegar a casa, já deitada na cama à espera de Michael, uma dessas imagens insistia em permanecer-lhe no pensamento. Era a imagem de Mitchell Elliott e de Samuel Braxton, chegados um ao outro no jardim escurecido como um par de adolescentes, a brindarem com champanhe.
NOVEMBRO
SHELTER ISLAND, NOVA YORK
Foi The New Yorker quem primeiro batizou o Senador Douglas Cannon de “Péricles da atualidade" e, ao longo dos anos, Cannon não fez nada para desencorajar a comparação. Cannon era um estudioso e um historiador, um liberal impassível e um reformista democrata. Utilizava os milhões da sua fortuna herdada para promover as artes. O espaçoso apartamento da Quinta Avenida servia de local de encontro dos mais famosos escritores, artistas e músicos de Nova York. Esforçava-se por preservar a herança arquitetônica da cidade. Ao contrário de Péricles, Douglas Cannon nunca comandara homens em combate. Com efeito, detestava armas e armamento por princípio, exceto arco e flecha. Em jovem fora um dos melhores arqueiros do mundo, uma destreza que passara à sua filha única, Elizabeth. Apesar da desconfiança inata pelas armas e pelos generais, Cannon considerava-se apto a gerir a política militar e externa da nação. Já esquecera mais história do que a maior parte dos homens de Washington alguma vez viria a saber. Ao longo dos seus quatro mandatos no Senado, Cannon servira como presidente do Armed Services Committee, do Foreign Relations Committee, e do Selet Committee on Intelligence.
Quando a esposa Eileen ainda estava viva, passavam os dias da semana em Manhattan e os fins-de-semana em Shelter Island, na luxuriante mansão da família, com vista para Dering Harbor. Depois da morte dela, a cidade passou a ter cada vez menos significado, por isso foi alongando as permanências na ilha, sozinho com o barco à vela e com os retrievers, e com Charlie, o caseiro.
Pensar no pai sozinho naquela enorme casa perturbava Elizabeth. Sempre que possível, ia com Michael passar alguns dias à ilha. Elizabeth pouco vira o pai durante a infância, pois ele morava em Washington, e Elizabeth e a mãe em Manhattan. Ia a casa na maior parte dos fins-de-semana, mas o tempo que passavam juntos era breve e faltava-lhe espontaneidade. Além disso, tinha de se encontrar com eleitores e participar em ações de angariação de fundos, e havia sempre pessoal de olhos exaustos a disputarem a sua atenção. Agora os papéis invertiam-se. Elizabeth queria compensar o tempo perdido. A mãe morrera e, pela primeira vez na vida, o pai precisava mesmo dela. Seria fácil assumir uma posição amarga, mas ele era um homem notável, que tivera uma vida notável, e Elizabeth não queria que os últimos anos fossem desperdiçados. A reunião de Michael com Carter e McManus atrasou-se e Elizabeth ficou retida ao telefone com um cliente. Apressaram-se a chegar ao National Airport em carros separados, Elizabeth no Mercedes a partir da baixa de Washington, Michael no Jaguar, tendo saído da sede em Langley. Perderam o voo das sete horas por alguns minutos e beberam cerveja até as oito num bar deprimente do aeroporto. Chegaram a La Guardiã pouco antes das nove e apanharam o ônibus da Hertz para irem buscar o carro alugado. Os ferries estavam a funcionar com o horário de Inverno, o que dava a Michael noventa minutos para percorrer cento e cinquenta quilômetros em estradas congestionadas. Voou para leste, ao longo da Long Island Expressway, ziguezagueando com perícia por entre o trânsito, a cento e trinta quilômetros por hora.
- Pelo visto, as aulas de direção defensiva que te obrigaram a fazer em Camp Perry têm aplicação prática - comentou Elizabeth, com as unhas cravadas no apoio para o braço.
- Se quiser, posso mostrar como se salta de um carro andando sem que ninguém perceba.
- Para isso não precisamos da pasta especial que tem no gabinete? Como é que se chama? Uma dança?
- Lança - corrigiu-a Michael. - É uma lança, Elizabeth.
- Desculpe. Como é que funciona?
- Como aquelas caixas que têm dentro um boneco com uma mola. Acionamos o dispositivo e sai o boneco de tamanho natural. Quando estamos sendo seguidos, parece que há duas pessoas no carro.
- Santo caracol! - comentou Elizabeth, com um certo sarcasmo.
- São muito úteis para o governo...
- Não brinque.
- Não, Carter anda sempre com uma no carro. Quando está atrasado para o trabalho, aperta o botão e abracadabra. Uma carona instantânea.
- Ai, meu Deus, é tão bom ser casada com um espião.
- Não sou um espião, Elizabeth. Sou...
- Já sei, já sei. Um agente. Não passe dos cento e cinquenta, está bem, Michael? O que acontece se a polícia te manda parar?
- Também aprendemos algumas coisas para essas situações.
- Por exemplo?
Michael sorriu.
- Posso disparar nele um dardo tranquilizante com a minha caneta.
O rosto de Elizabeth foi dominado por uma expressão de incredulidade.
- Acha que estou brincando?
- Às vezes você tão bobo, Michael.
- Já me disseram isso algumas vezes.
Às dez horas, ligou o rádio para ouvir o noticiário da WCBS.
- O Presidente James Beckwith diz que já escolheu quem vai ocupar o Departamento de Estado durante o segundo mandato. Trata-se do amigo de longa data e aliad político Samuel Braxton, advogado poderoso e destacado de Washington. Braxton se disse honrado e surpreso com a nomeação.
Elizabeth gemeu ao mesmo tempo em que a voz gravada de Sam Braxton se fazia ouvir no rádio. Michael passara os últimos dias de campanha embrenhado no caso mas, tal como grande parte de Washington, encarava a espetacular vitória de Beckwith com prudência. A corrida à Casa Branca alterara-se no momento em que o Voo 002 foi abatido, com Andrew Sterling a ser virtualmente eliminado. Nada do que ele dizia ou fazia captava a atenção dos media, saturados da campanha interminável e sedentos por uma história mais excitante. O discurso da Sala Oval selara o desuno de Sterling. Beckwith castigara com celeridade a Espada de Gaza pelo atentado, fazendo-o de modo decisivo e habilidoso. A iniciativa do sistema de defesa antimíssil condenara Sterling na Califórnia. Na manhã após o discurso, os principais jornais californianos publicaram artigos que descreviam o impacto positivo do programa na economia do estado. O avanço de Sterling na Califórnia dissolveu-se quase que da noite para o dia. Na noite das eleições, Beckwith arrecadou o seu estado natal com uma vantagem de sete pontos percentuais. Michael desligou o rádio.
- Está nas nuvens - disse Elizabeth.
- Quem?
- Braxton.
- E tem razão para isso. O candidato dele ganhou e agora foi nomeado Secretário de Estado.
- A firma organizou uma festa para ele quando voltou da conferência de imprensa na Casa Branca. Só dizia que tinha sido a decisão mais difícil de toda a vida. Disse que começou por recusar o convite do Presidente porque não queria abandonar a empresa. Mas o Presidente insistiu e ele não podia recusar uma segunda vez. Só mentira! Todos sabem que há semanas ele fazia campanha pelo cargo. Talvez devesse ter sido litigante e não promotor de acordos.
- Vai dar um bom Secretário de Estado.
- Lembro-me de um presidente que disse: "Minha cadela Millie sabe mais de política externa do que o meu oponente." Isso se aplica a Braxton.
- É inteligente, aprende depressa e sai-se muito bem na televisão. Os profissionais podem tratar dos pormenores políticos. Braxton só precisa tomar decisões difíceis e vendê-las aos americanos e ao resto do mundo. Se fizer isso, vai ter sucesso.
Elizabeth contou a conversa com Susanna Dayton.
- Ela me pediu ajuda. Disse a ela que não podia, que não seria ético e que podia me levar a ser banida. Não insistiu.
- Fez bem. Por que ela não continuou com o artigo?
- Não tinha material.
- Isso nunca deteve Susanna.
- Michael!
- Elizabeth, do meu ponto de vista a imprensa é um pouco diferente.
- Ela disse que tinha material, mas os editores não concordaram. Rejeitaram o artigo e disseram para continuar a investigar. Ficou furiosa. Se a história tivesse aparecido antes das eleições, seria uma bomba.
- Ela continua a trabalhar no caso?
- Diz que sim. Até disse que está fazendo grande progresso. - Elizabeth riu. - Sabe, os dois maiores vencedores em tudo isso são Sam Braxton e o cliente dele, Mitchell Elliott. Braxton vira Secretário de Estado e Elliott vai ganhar dez bilhões de dólares para construir KKVs para o programa antimíssil.
- Acha que existe alguma ligação?
- Nem sei o que pensar. Devia tê-los visto no jantar, quando Beckwith fez a declaração. Até pensei que fossem se beijar.
A autoestrada terminou e atravessaram a vila de Riverhead. Michael dirigiu-se para norte, ao longo de uma estrada de campo ladeada por campos imensos de batatas e de pasto. A lua cheia pairava no céu oriental. Viraram para a Route 25 e viajaram a grande velocidade para leste, através de North Fork. De vez em quando as árvores interrompiam-se e o vulto de Long Island Sound brilhava ao luar.
Elizabeth acendeu um cigarro e baixou um pouco o vidro da janela. Era sinal de que estava nervosa, zangada, ou infeliz. Elizabeth gastava as energias a disfarçar no trabalho. Em casa, ou quando cercada por amigos, era patologicamente incapaz de ocultar as emoções. Quando estava feliz, os olhos cintilavam e a boca curvava-se num sorriso permanente. Quando se encontrava perturbada, assumia um porte diferente, respondia mal e franzia o sobrolho. Elizabeth nunca fumava quando se sentia feliz.
- Diz-me o que se passa. - Sabes bem o que se passa.
- Pois sei. Julguei que pudesses querer dizê-lo.
- Está bem. Estou cheia de nervos, com medo que isto possa não resultar, e que possa não conseguir dar-nos um bebê. Pronto, já disse. E sabes que mais? Ainda me sinto mal.
- Quem me dera poder fazer alguma coisa.
Elizabeth estendeu o braço e apertou a mão do marido.
- Basta que esteja a meu lado, Michael. É a única coisa que pode fazer por mim. Preciso que você esteja lá, se não der certo. Preciso que me diga que está tudo bem, e que vai continuar a me amar.
Sua voz fraquejou. Michael apertou-lhe a mão.
- Vou te amar sempre, Elizabeth - garantiu.
Sentia-se impotente. Era uma sensação estranha, de que não gostava. Por natureza e por treino estava capacitado para identificar e resolver os problemas. Naquele caso, havia muito pouco que pudesse fazer. A sua contribuição física teria lugar num pequeno quarto escuro, numa questão de minutos. Depois disso poderia dar apoio e carinho, mas seria Elizabeth e o seu corpo a tratar do resto. Queria poder fazer mais. Pedira autorização a Carter para trabalhar a partir da Estação de Nova York, e uma redução de horário. Carter acedera. O Departamento de Pessoal andava a pressionar todos os chefes e supervisores, para que estes elevassem o moral da Agência. Carter resmungava que a Agência devia mudar seu credo "conhecei a verdade e a verdade vos libertará" para "pessoas que se preocupam".
- Vou dizer mais uma coisa, Michael. Não vou perder a cabeça por isso. Vou tentar uma vez. Se não conseguir, desisto e continuamos com nossa vida. Posso contar com seu apoio?
- Cem por cento.
- Susanna e Jack tentaram quatro vezes. Custou cinquenta mil dólares e ela ficou doida. - Elizabeth hesitou. - Ficou convencida de que Jack a deixou porque ela não conseguia dar-lhe filhos. Ele só pensa nisso. Quer um filho que perpetue o nome da família. Acha que é um rei antigo.
- Ainda bem que ela não teve um filho. Jack ia deixá-la do mesmo jeito, e ela seria uma mãe solteira trabalhando.
- O que você sabe que eu não sei?
- Sei que ele nunca foi feliz e que já queria acabar com o casamento há muito tempo.
- Não sabia que eram assim tão chegados.
- Não suporto o cara. Mas ele bebe e fala. E eu sou um bom ouvinte. Fui treinado para ser um bom ouvinte. Por conta disso, no meu tempo fui vítima de alguns embaraços.
- Adoro Susana. Ela merece ser feliz. Espero que encontre alguém depressa.
- E vai encontrar.
- Não é tão simples como parece. Olha quanto tempo demorei para te encontrar. Conhece algum homem solteiro decente?
- Todos os solteiros que eu conheço são espiões.
- Agentes, Michael. Agentes.
- Desculpe, Elizabeth.
- Tens razão. A última coisa que eu quero que a Susanna faça é casar com um maldito espião.
Michael entrou no ferry com cinco minutos de avanço. Soprava um vento gelado. O barco fez-se às águas agitadas de Gardiners Bay. As ondas rebentavam contra a proa, molhando o para-brisa do carro alugado. Michael saiu para a noite gélida de Novembro e apoiou-se à amurada. Do outro lado da água, na margem da ilha, podia ver a mansão branca dos Cannon, toda iluminada. O senador adorava deixar as luzes acesas quando eles o iam visitar. Michael imaginou-se a levar crianças no ferry. Imaginou passar os Verões com elas na ilha. Também queria filhos, tanto quanto Elizabeth, se não mesmo mais. Guardava esses sentimentos para si. Definitivamente, não queria contribuir para aumentar a pressão sobre ela.
Chegaram à ilha e atravessaram as ruas escuras da aldeia de Shelter Island Heights. As lojas estavam encerradas. O Outono chegava ao fim e a ilha regressara ao estado normal de calma. A propriedade dos Cannon ficava a pouco mais de um quilômetro da aldeia, numa língua de areia com vista para o porto de um lado, e para Gardiners Bay do outro. Quando entraram no caminho de acesso, Charlie saiu da sua casa, de lanterna na mão e retrievers atrás. - O senador recolheu-se cedo - indicou. - Ele pediu-me que vos ajudasse a instalarem-se.
- Está tudo bem, Charlie - respondeu Elizabeth. O casal mantinha roupas na casa, para que pudesse ir de fim-de-semana sem se preocupar com bagagem. - É melhor entrar antes que morra de frio.
- Está bem - replicou. - Boa noite aos dois.
Entraram em silêncio na casa e subiram até os grandes quartos sobranceiros ao porto. Elizabeth abriu as portadas. Gostava de acordar com a visão da água e com o tom alaranjado das madrugadas de Inverno.
Um aguaceiro passageiro acordou-os pouco depois da meia-noite. Elizabeth voltou-se na escuridão e beijou a nuca de Michael. Ele mexeu-se e Elizabeth reagiu pegando sua mão e puxando-o para cima dela. Despiu a camisola de flanela floral. O corpo quente do marido pressionou-lhe os seios. - Oh, Michael, quem me dera fazer um filho com você assim.
Michael entrou no corpo da esposa, que se ergueu ao seu encontro. Elizabeth ficou surpresa com a rapidez com que sentiu o corpo se soltar. O orgasmo percorreu-a, onda após onda maravilhosa. Abraçou-o com força e começou a rir.
- Não faça barulho, se não vai acordar seu pai.
- Aposto que dizes o mesmo a todas as moças. Voltou a rir.
- Qual é a graça?
- Nada, Michael. Nada. Sou eu que te amo muito.
Douglas Cannon adorava velejar, mas detestava sair com o barco no Verão. Nessa altura, as águas de Gardiners Bay encontram-se repletas de chalupas, barcos à vela, barcos a motor e, o que era pior, motas de água, as quais, para Cannon, eram um sinal claro do fim do mundo que se aproximava. Tentara proibi-las nas águas em redor da ilha, mas sem sucesso, mesmo depois de uma menina de dez anos ter sido abalroada e morta ao largo de Upper Beach. Michael esperara uma tarde descontraída à lareira, com uma pilha de jornais, um livro e um bom vinho da vasta adega de Cannon. No entanto, ao meio-dia a chuva parou e um sol tímido mostrou-se por entre as nuvens. Cannon apareceu com uma blusa grossa de lã e um casaco de oleado.
- Vamos embora, Michael.
- Deve estar a brincar. Estão cinco graus lá fora.
- Perfeito. Anda. Precisas de exercício.
Michael olhou para Elizabeth, em busca de ajuda. Ela estava deitada no sofá, a trabalhar numa série de casos.
- Vai com ele, Michael. Não o quero lá fora sozinho.
- Elizabeth!
- Não sejas tão piegas. Além disso, o papá tem razão. Estás a ficar um bocado mole. Vamos, eu levo-os.
Assim, vinte minutos depois Michael estava a bordo da Athena, a chalupa de dez metros de Cannon, enrolado num pulôver de malha e num casaco de lã, a puxar um cabo da bujarrona gelado, como se fosse um lendário pescador de Gloucester. Cannon bradava ordens a partir da roda do leme, enquanto Michael corria pelo convés de proa escorregadio, a esticar as velas e a travar os cabos, fustigado por um vento de trinta quilômetros por hora. Tropeçou num cunho e quase caiu. Interrogou-se quanto tempo sobreviveria nas águas gélidas, se caísse borda fora, e se Cannon, de setenta anos, teria reflexos suficientes para lhe salvar a vida.
Lançou um derradeiro olhar à casa. O vento enfunava as velas da Athena. O casco ergueu-se da água e inclinou-se ligeiramente para estibordo. Conseguia ver Elizabeth no relvado, de arco e flecha em riste, a cinquenta metros do alvo, a acertar no centro repetidas vezes.
Cannon estabeleceu uma rota ampla pela baía. O barco ergueu a proa e quase voou pela superfície da água de um tom verde acinzentado, em direção a Gardiners Island. Michael estava sentado a barlavento, na esperança de aquecer ao sol. Esforçou-se por acender um cigarro, o que conseguiu após dois minutos a contorcer o corpo contra o vento.
- Cristo, Douglas, pelo menos podia bolinar, para não sentirmos tanto o vento.
- Gosto quando ele aderna! - replicou Cannon, que gritava para se fazer ouvir por cima do vento.
Michael percorreu o barco com o olhar e viu água a galgar a proa. - Não seria melhor adernarmos um pouco menos?
- Não, isto é perfeito. Neste momento o barco está a navegar com a máxima eficiência.
- Certo, mas se houver uma rajada de vento, vamos virar-nos e acabamos dentro de água.
- É impossível virar este barco.
- Foi o que disseram do Titanic. - Mas neste caso é verdade.
- Então como explica o seu pequeno desastre marítimo, no ano passado? Em Outubro, o Athena virara-se devido a uma rajada de vento inesperada, ao largo de Montauk Light. Cannon foi salvo pela Guarda Costeira, mas recuperar o barco custou-lhe dez mil dólares. A partir dessa ocasião, Elizabeth implorou-lhe que não voltasse a velejar sozinho.
- Foi por causa de uma previsão marítima deficiente - justificou Cannon. - Falei com o chefe do instituto meteorológico e disse-lhe umas quantas verdades.
Michael soprou as mãos geladas.
- Deus do céu, com o vento até parece que estão vinte graus negativos.
- Por acaso são quinze. Já confirmei.
- Você é completamente louco. Se os eleitores soubessem que tem tendências suicidas, nunca o tinham colocado no Senado.
- Para com as lamúrias, Michael. Lá em baixo há café dentro de um termo. Se queres ser útil, vai servir-nos uma caneca.
Michael desceu com dificuldade a escada da coberta. O senador estivera a bordo de praticamente todos os navios da marinha, e a cozinha ostentava uma coleção de canecas pesadas, gravadas com a insígnia de várias embarcações diferentes. Michael escolheu um par do West Virgínia, um submarino nuclear, e encheu-as com café fumegante.
Quando Michael voltou a subir, Cannon fumava um dos seus cigarros. - Não digas à Elizabeth - pediu, ao aceitar o café. - Se ela souber que de vez em quando fumo às escondidas, vai dizer a todas as lojas da ilha para não me venderem cigarros.
Cannon bebeu um gole profundo de café e corrigiu o rumo.
- Qual a tua opinião sobre as eleições? - O Beckwith deu uma grande reviravolta.
- Cá para mim, foi tudo uma grande treta. Serviu-se do que se passou com o Voo 002 e os Americanos nem repararam, de tão enfadados e perturbados. Dei-lhe o meu apoio quanto à retaliação mas, no que diz respeito ao sistema de defesa antimíssil, acho que não passa de uma compensação a uma série de amigos que o têm financiado ao longo dos anos. - Não pode negar a existência da ameaça.
- Imagino que exista mas, na minha opinião, é de pouca relevância. Os apoiantes da defesa antimíssil dizem que a instabilidade política na Rússia, ou na China, pode levar a um ataque acidental contra os Estados Unidos. Mas os chineses tiveram a Revolução Cultural, e os soviéticos perderam o império, e ninguém disparou nada contra nós por acidente. E preocupo-me ainda menos com aquilo a que eles chamam de Estados-pária. Os norte-coreanos nem sequer conseguem alimentar o povo, quanto mais construir um míssil balístico capaz de chegar aos Estados Unidos. As tiranias regionais como Irã e Iraque querem ameaçar os vizinhos, não os Estados Unidos, por isso investem em armas de curto alcance. E não nos podemos esquecer de outra coisa: Continuamos a ter o maior arsenal nuclear do mundo. A dissuasão funcionou durante a Guerra Fria, e acredito que vá continuar a funcionar. Será que acreditamos que os líderes dessas nações estão mesmo dispostos a cometer suicídio nacional? Não me parece, Michael.
- Por que acha que é uma compensação?
- Porque uma empresa chamada Alatron Defense Systems vai ganhar bilhões de dólares se um sistema desse tipo for desenvolvido e fabricado. O dono da Alatron Defense Systems é...
- ... Mitchell Elliott - terminou Michael.
- Exatamente. E Mitchell Elliott já injetou mais dinheiro em Washington do que qualquer outro americano. Dá tudo o que pode legalmente e, se quer dar mais, descobre forma de fazer por baixo da mesa. O maior beneficiário da generosidade de Elliott tem sido James Beckwith. Que diabo, foi ele que praticamente financiou a carreira política do Beckwith.
Michael pensou em Susanna Dayton e no artigo que estava escrevendo para o Post. - E não esqueça de outra coisa - prosseguiu Cannon. - Paul Vandenberg, o chefe de gabinete da Casa Branca, já trabalhou para Elliott na Alatron. Foi Elliott que o mandou trabalhar com Beckwith, quando este era procurador-geral na Califórnia. Tinha olho para o talento, e sabia que Beckwith tinha potencial para chegar ao topo. Elliott queria ter um homem de confiança lá dentro, e conseguiu. - Cannon puxou uma baforada do cigarro. O vento levou a fumaça de sua boca. - Vandenberg também trabalhou para a seu pessoal.
Michael ficou espantado. - Quando?
- No Vietnã.
- Pensei que ele fosse do exército.
Cannon abanou a cabeça. - Não, na Agência. Na verdade, pertencia àquele programa maravilhoso conhecido por Operação Fênix. Imagino que se lembre do programa Fênix, Michael. Não foi um dos momentos mais iluminados de seus homens.
O objetivo do programa Fênix era identificar e eliminar a influência comunista no Vietnã do Sul. A Operação Fênix tinha a fama de ter aprisionado 28 mil comunistas suspeitos e eliminado outros 20 mil.
- É como dizem, não é, Michael? Uma vez na agência, sempre da agência. Por que não faz uma pesquisa nos computadores de Langley com o nome de Vandenberg, para ver o que aparece?
- Acha que o contrato para o sistema de defesa antimíssil foi comprado?
- Vi os dados de teste. Os aparelhos produzidos pela Alatron eram bem superiores aos das outras empresas de defesa. Elliott ganhou o contrato com toda a justiça. Mas o programa pouco apoio tinha dos republicanos e foi rejeitado pelos democratas. Não ia ser desenvolvido. Foi preciso um apelo dramático, com um cenário dramático por trás, para conquistar o apoio do Congresso.
Michael hesitou antes de pronunciar as palavras seguintes.
- E se lhe dissesse que não acredito que a Espada de Gaza abateu o avião? - acabou por perguntar.
- Eu responderia que imaginava que você andasse desconfiado de alguma coisa. Mas se eu fosse você não falaria muito alto, Michael. Se as pessoas erradas ouvirem, você teria problemas.
O sol desapareceu atrás de uma nuvem e o ar ficou subitamente mais frio. Cannon olhou para o céu e franziu o sobrolho.
- Parece que vai chover - indicou. - Muito bem, Michael, ganhou. Preparar para regressar.
ST. MAARTEN, CARAÍBAS
Ao subir a encosta, a caravana de Range Rovers levantou poeira avermelhada do estreito caminho esburacado. Os veículos eram idênticos: pretos, com vidros fumados espelhados para ocultar a identidade dos passageiros. Cada homem chegara à ilha a partir de um ponto de embarque distinto: América Latina, Estados Unidos, Oriente Médio, Europa. Todos partiriam na manhã seguinte, após o final da conferência. Estava-se no início da época alta e a ilha estava apinhada de americanos e de europeus ricos. Os indivíduos nos Range Rovers preferiam assim. Gostavam de multidões, de anonimato. A caravana atravessou com estrépito uma aldeia miserável. Crianças descalças na beira da estrada acenaram com entusiasmo aos veículos. Ninguém lhes respondeu.
A mansão era extravagante, mesmo segundo os padrões de St. Maarten: doze quartos principais, duas salas de estar amplas, uma sala de multimídia, uma sala de bilhar, uma piscina grande, duas quadras de tênis e um heliponto. Fora encomendada seis meses antes por um europeu anônimo, que pagara uma exorbitância para que o trabalho estivesse pronto a tempo.
A construção fora um pesadelo, pois a mansão ficava no meio da ilha, no alto de uma montanha, com vistas para o mar de cortar a respiração por todos os lados. Exceto a cerca eletrificada, os vinte hectares de terreno tinham sido deixados no seu estado natural, cobertos de vegetação rasteira densa e de árvores.
Uma equipe de segurança chegou com uma semana de avanço e instalou câmaras de vídeo, sensores laser e aparelhos de interferência de comunicações. O centro de comando foi montado na sala de bilhar.
A Sociedade para o Desenvolvimento e Cooperação Internacionais era uma organização totalmente privada que não aceitava donativos externos, nem membros novos, à exceção dos que ela selecionava. A sede oficial era em Genebra, num pequeno gabinete com uma placa de ouro de muito bom gosto sobre a porta austera, embora um visitante fosse encontrar o gabinete vazio, e um telefonema para o número não identificado não fosse atendido.
Aqueles que sabiam da existência do grupo conheciam-no apenas como a Sociedade. Apesar do nome, a Sociedade não pretendia fazer do mundo um lugar mais pacífico. Os membros incluíam oficiais de espionagem apóstatas, políticos, traficantes de armas, barões da droga, organizações criminosas internacionais e magnatas poderosos.
O diretor executivo era um antigo oficial do serviço de espionagem britânico, o MI6. Era conhecido simplesmente como "o Diretor", e nunca era tratado pelo nome verdadeiro. Dirigia a administração e as operações da Sociedade, mas não possuía qualquer poder de decisão adicional. Este encontrava-se nas mãos do conselho executivo do grupo, onde cada membro tinha direito a um voto. A nível interno, a Sociedade praticava a democracia, embora a maior parte dos seus membros acreditasse que se tratava de um conceito deveras incômodo no mundo real.
O credo base da Sociedade declarava que a paz era perigosa. Os membros defendiam que uma constante tensão global controlada servia os interesses de todos. Evitava a complacência. Estimulava a vigilância. Desenvolvia a identidade nacional. E, acima de tudo, dava-lhes dinheiro, muito dinheiro.
Alguns chegaram sozinhos, outros aos pares. Havia quem não trouxesse proteção e quem viesse com um guarda-costas. Ari Shamron chegou a meio da tarde e jogou três sets de tênis com o líder de um cartel de cocaína colombiano. Os seguranças do barão da droga, vestidos de preto e fortemente armados, correram atrás das bolas 116 perdidas ao sol escaldante das Caraíbas. Constantin Kalnikov chegou uma hora depois. Ficou duas horas junto à piscina, até que a pálida tez eslava assumiu um tom vermelho brilhante, e depois foi para o quarto, para uma tarde de sexo com uma das moças. O Diretor trouxera-as do Brasil. Todas tinham sido cuidadosamente investigadas. Todas eram bem versadas na arte do prazer físico. Todas tinham sido submetidas a análises ao sangue, para garantir que não possuíam doenças sexualmente transmissíveis.
Mitchell Elliott não tinha tempo, nem apetência, por tais atividades. Detestava os membros da Sociedade. Lidaria com eles a nível profissional para alcançar os seus objetivos, mas não se divertiria com tais elementos numa ilha caribenha.
A conferência estava marcada para as nove horas. O Gulfstream de Elliott aterrou no aeroporto às 20:30. Um helicóptero aguardava-o. Embarcou de imediato com Mark Calahan e outros dois seguranças, e voou até a mansão. Durante a primeira hora, o conselho executivo tratou de assuntos internos rotineiros. Por fim, o Diretor avançou para o primeiro verdadeiro ponto de interesse na ordem de trabalhos. Olhou para Mitchell Elliott por cima dos óculos de leitura com lentes em meia-lua.
- Tem a palavra.
Elliott permaneceu sentado.
- Em primeiro lugar, cavalheiros, desejo agradecer-lhes pela vossa colaboração. A operação correu muito bem e os resultados foram os esperados. O Presidente Beckwith foi reeleito e os Estados Unidos vão desenvolver o projeto de defesa antimíssil, um empreendimento que virá a provar ser vantajoso para todos os presentes.
Elliott fez uma pausa, até que os aplausos da audiência esmorecessem. - Escusado será dizer que, na eventualidade da ocorrência de uma fuga de informação, e do envolvimento da Sociedade neste caso, os resultados serão desastrosos. Assim sendo, preciso que me concedam autorização para eliminar qualquer elemento que não se encontre nesta sala, e que saiba da verdade. O Diretor ergueu o olhar, no rosto uma expressão vagamente irritada, como se desapontado com um prato de solha de Dover.
- Pelas minhas contas, são quatro homens.
- Exatamente.
- E como sugere que se proceda?
- Proponho que se utilize o elemento que tomou parte na operação ao largo de Nova York.
- Imagino que se refira ao que ainda está vivo? Elliott permitiu-se esboçar um sorriso raro. - Sim, Diretor.
- Obviamente, este homem tem conhecimento, pelo menos, de parte da verdade... que a Espada de Gaza não é responsável pelo atentado.
- Concordo, mas ele é um dos melhores assassinos do mundo, e uma missão deste gênero exige alguém com os seus talentos. - E quando o trabalho estiver concluído? - Será liquidado, tal como os outros.
O Diretor aquiesceu. Acima de tudo, gostava de clareza e de decisão. - Como propõe que seja realizado o financiamento? Uma operação como a que descreveu será dispendiosa. Acabou de receber dividendos substanciais. Talvez a despesa deva ficar por sua conta.
- Concordo, Diretor. Não peço o apoio financeiro da Sociedade, apenas a sua bênção.
O Diretor espreitou sobre os óculos para os outros homens reunidos à volta da mesa.
- Alguma objeção? Silêncio.
- Muito bem, tem o apoio do conselho executivo na concretização deste trabalho. - O Diretor olhou para os papéis, como se estivesse um pouco confuso. - bom, cavalheiros, ponto número dois. O senhor Hussein, do Iraque, está interessado na aquisição de algumas propriedades e, mais uma vez, gostaria de contar com a nossa assistência.
A conferência terminou às quatro da madrugada. Mitchell Elliott deixou de imediato a mansão, desceu a montanha no helicóptero e embarcou no Gulfstream que o esperava no aeroporto. Os restantes membros do comité executivo permaneceram na mansão e dormiram algumas horas. Constantin Kalnikov, desesperado por apanhar algumas horas de sol antes do seu regresso à sombria Moscou, dormitou numa espreguiçadeira junto à piscina. Shamron e o barão da droga voltaram ao corte de tênis para um jogo de desforra, pois Shamron derrotara-o da primeira vez e o barão da droga, como era seu hábito, queria vingança. Quando chegou a hora de partir, desceram a montanha nos Range Rovers. O Diretor saiu com a equipe de segurança ao meio-dia. Ao embarcar no avião privado, meia hora depois, uma série de explosões tiveram lugar no edifício, e a grandiosa mansão na encosta da montanha de St. Maarten foi rapidamente consumida pelas chamas.
BRÉLÉS, FRANÇA
Adoptara o nome Jean-Paul Delaroche, mas na aldeia o chamavam Le Solitaire. Ninguém se lembrava ao certo da altura em que chegara e se instalara no anexo de pedra de um chalé que se erguia no extremo de um penedo escarpado com vista para o Canal da Mancha. Monsieur Didier, o dono de rosto vermelho da principal loja da aldeia, acreditava que o estranho enlouquecera com o vento. No promontório isolado, o vento era poderoso e incessante. Fazia estremecer dia e noite as janelas pesadas do chalé e arrancava telhas sistematicamente. No rescaldo das grandes tempestades, os transeuntes podiam ver Le Solitaire a contemplar os estragos com impaciência.
- Até parece o Rommel a inspecionar a sua preciosa Muralha do Atlântico - sussurrava Didier com um esgar desdenhoso, enquanto tomavam cognac no café. Seria um escritor? Um revolucionário? Um ladrão de arte ou um padre caído em desgraça? Mademoiselle Plauché, da charcuterie, acreditava que fosse o último descendente do povo megalítico, que vivera na Bretanha milênios antes dos Celtas. Por que outro motivo passaria os dias em comunhão com as pedras vetustas? Por que razão passaria horas sentado, a contemplar o mar a fustigar as rochas? Chamar-se-ia Delaroche se assim não fosse? Já lá estivera, concluía por fim, a faca a pairar sobre uma roda de Camembert. Está a recordar como as coisas eram.
Os homens tinham inveja dele. Os mais velhos invejavam as belas mulheres que chegavam ao chalé uma a uma, permaneciam durante algum tempo e depois partiam discretamente. Os rapazes cobiçavam a bicicleta de corrida italiana feita por encomenda, com que ele, qual demônio, percorria todos os dias as estreitas estradas secundárias da Finistère. As mulheres, até as moças e as idosas, achavam-no belo: o cabelo bastante curto salpicado de grisalho, a pele branca, os olhos de um azul cristalino, o nariz aquilino que poderia ter sido esculpido por Michelangelo.
Não era alto, tinha bem menos de um metro e oitenta, mas, ao deslocar-se pela aldeia todas as tardes, quando fazia as suas compras, ostentava uma pose imponente. Na boulangerie, Mademoiselle Trevaunce procurava em vão meter conversa sempre que ele entrava na loja, mas Delaroche limitava-se a sorrir e a escolher educadamente o pão e os croissants. Na garrafeira, era reconhecido como um cliente refinado, mas frugal. Quando Monsieur Rodin sugeria uma garrafa mais cara, Delaroche erguia as sobrancelhas para mostrar que se encontrava além do seu alcance, e devolvia-a com cuidado.
No mercado de rua, escolhia os legumes, a carne e o marisco com a preocupação dos chefs dos restaurantes e das estâncias. Por vezes, levava a mulher com quem estivesse na altura, sempre uma forasteira, nunca uma bretã, outras vezes ia sozinho. Ocasionalmente os homens que passavam as tardes com vinho tinto, queijo de cabra e cartas convidavam-no para se juntar a eles. Mas o solitário apontava sempre para o relógio, como se tivesse assuntos prementes algures, e empilhava as compras na velha furgoneta Mercedes, para a viagem de regresso ao seu refúgio junto ao mar.
Como se o tempo importasse, em Brélés, comentaria Didier, os lábios revirados para baixo no seu desdém habitual. É o vento, acrescentava. O vento deu com ele em doido.
A manhã de Novembro estava limpa e luminosa, com o vento a soprar vindo do mar enquanto Delaroche pedalava ao longo do estreito percurso costeiro. Dirigia-se para oeste vindo de Brest, a caminho do Pointe-de-Saint-Mathieu. Vestia calças de algodão sobre os calções de ciclismo e uma blusa de gola alta por baixo de um anoraque verde fluorescente, apertado o suficiente para evitar adejar com o vento, mas solto quanto bastasse para ocultar a volumosa pistola 121 automática Glock de 9 mm que trazia debaixo da axila esquerda. Apesar das várias camadas de roupa, o ar salgado cortava como uma faca. Delaroche baixou a cabeça e pedalou com mais força até o promontório. Quando passou pelas ruínas batidas pelo vento de um mosteiro beneditino do século vi, a estrada ficou nivelada durante algum tempo. Depois rumou para norte durante vários quilômetros, sempre com um vento marítimo gelado a acompanhá-lo, a estrada a subir e a descer de um modo ritmado por baixo das rodas. A leve bicicleta italiana aguentava-se bem naquele terreno agreste. Uma subida íngreme apareceu à sua frente. Engrenou outra mudança e pedalou mais depressa. Ao conquistar a elevação entrou na aldeia piscatória de Lanildut.
Comprou dois croissants num café e reabasteceu as garrafas, uma com suco de laranja e a segunda com café au lait fumegante. Delaroche devorou o croissant enquanto pedalava. Passou pelo Presqu'elle de Sainte-Marguerite, um dedo rochoso que rasgava o mar, abençoado com algumas das mais belas paisagens marítimas de toda a Europa. Depois vinha a Côte des Abers, a costa dos estuários, uma vasta extensão plana que abrangia uma série de rios que desciam das terras altas do Finistère até o mar.
Quando entrou na aldeia de Brignogan-Plage sentiu os primeiros sinais de cansaço. Além da povoação, ao fundo de um caminho estreito, ficava uma praia de areia tão branca que lembrava neve. Uma antiga pedra erguida, conhecida na Bretanha como menir, servia de sentinela à entrada. Delaroche desmontou-se e empurrou a bicicleta ao longo do caminho, bebendo os restos do café au lait enquanto andava. Já na praia, encostou a bicicleta a uma pedra grande e caminhou pela linha de água, a fumar um cigarro.
O ponto da sinalização era uma grande excrescência de pedra a cerca de duzentos metros do local onde deixara a bicicleta. Andou com lentidão, sem rumo, sempre a olhar o mar que lambia a areia. Uma onda grande rebentou na praia. Delaroche afastou-se rapidamente para evitar a água gélida. Terminou o cigarro, atirou a beata para a sua frente e enterrou-a na areia branca com a ponta do sapato de ciclismo.
Parou de andar e acocorou-se junto à base da pedra. Lá estava a marca, duas tiras de adesivo cirúrgico brancas como a cal, dispostas num X grosseiro. Qualquer profissional imaginaria que quem deixara a marca fora treinado na arte do KGB, o que era o caso.
Delaroche arrancou o adesivo da pedra, formou uma bola com ele e atirou-a para a carqueja que acompanhava a praia. Regressou à bicicleta e pedalou de volta a Brélés debaixo do sol luminoso.
Ao meio-dia o tempo continuava bom, por isso Delaroche decidiu pintar. Vestiu calças de ganga e uma grossa blusa de pescador e carregou o material na caixa da Mercedes: o cavalete, uma máquina fotográfica Polaroid, a caixa de tintas e pincéis. Regressou à casa e fez café, que despejou para dentro de uma garrafa térmica de metal brilhante. Da geladeira tirou duas garrafas grandes de Beck's e voltou a sair. Conduziu até a aldeia e estacionou à frente da charcuterie. Aí comprou presunto, queijo e um pedaço do patê bretão local, com Mademoiselle Plauché sempre a namoriscar visivelmente com ele. Saiu da loja, acompanhado pelo tilintar do pequeno sino preso à porta, e dirigiu-se à boulangerie, de onde trouxe uma baguette.
Dirigiu-se para o interior, onde o agreste terreno rochoso da costa dava lugar a colinas arborizadas mais amenas, à medida que penetrava na Finistère. Entrou numa estrada secundária sem sinalização, a qual percorreu durante três quilômetros, até que se transformou num caminho esburacado. A Mercedes agitava-se freneticamente mas, minutos depois, chegou ao seu destino, uma antiga casa de quinta de pedra, imaginava que do século XVII, enquadrada perante um conjunto de árvores esplêndidas, com folhas de tons rubi e dourado. Delaroche fazia quase tudo de forma lenta e cuidadosa, e preparar-se para pintar não era exceção. Retirou metodicamente os apetrechos da caixa da Mercedes, ao mesmo tempo que abarcava a vista da casa. A luz outonal evidenciava os contrastes no trabalho de alvenaria da casa e nas árvores mais atrás.
Capturar no papel a qualidade da luz seria um desafio.
Delaroche comeu uma sanduíche e bebeu um pouco da cerveja enquanto estudava a cena a partir de várias perspectivas diferentes. Encontrou um ângulo que mais lhe agradou e tirou meia dúzia de fotografias, três a cores, outras tantas a preto e branco. O dono da casa apareceu, uma figura atarracada, com um cão preto e branco a saltitar-lhe aos pés. Delaroche gritou-lhe que era um artista e o homem acenou-lhe com entusiasmo. Cinco minutos depois voltou com um copo de vinho e uma travessa repleta de queijo e de fatias grossas de enchido picante. Vestia um casaco remendado que parecia ter sido comprado antes da guerra. O cão, que tinha apenas três pernas, pediu comida a Delaroche.
Quando se retiraram, Delaroche instalou-se à frente do cavalete. Observou as fotografias, primeiro as tiradas a preto e branco, para ver a forma e os traços essenciais da imagem, e depois as coloridas. Passou vinte minutos a traçar esboços com um lápis de carvão, até que a composição do trabalho lhe pareceu correta. Trabalhou com uma palete simples, vermelho-windsor, azul-windsor, verde-hooker, amarelo-windsor e terra-de-siena natural, sobre papel pesado, esticado em cima de um apoio de aglomerado.
Passou quase uma hora antes que a mensagem na praia de Brignogan-Plage se intrometesse nos seus pensamentos. Era uma convocatória, que lhe dizia para se encontrar com Arbatov no paredão em Roscoff, na tarde do dia seguinte. Arbatov fora o oficial responsável por Delaroche quando este servira no KGB. Durante vinte anos, Delaroche trabalhara com Arbatov e com mais ninguém. Certa vez, quando Arbatov começara a perder sagacidade, o Centro de Moscou tentou substituí-lo por um homem mais jovem chamado Karpov. Delaroche recusou-se a trabalhar com Karpov e ameaçou enviá-lo de volta a Moscou dentro de um caixão, caso Arbatov não voltasse a ser o intermediário. Uma semana depois, Arbatov e Delaroche voltaram a reunir-se em Salzburg. Para castigar os imbecis do Centro de Moscou, realizaram um festim de celebração com vitela austríaca, regada por três garrafas bem dispendiosas de Bordeaux. Delaroche não defendera Arbatov por amor, nem por lealdade. Não amava, nem era leal a ninguém, exceto à sua arte e à sua profissão. Queria Arbatov de volta ao seu cargo, pois não havia outra pessoa em quem confiasse. Sobrevivera vinte anos sem ser preso ou morto, por Arbatov ter desempenhado bem o seu trabalho.
Enquanto pintava a cena idílica, pensou seriamente em ignorar a mensagem de Arbatov. Já não trabalhavam para o KGB, pois não existia KGB, e os agentes da sua área de trabalho não foram absorvidos pelo sucessor mais apresentável, o Serviço de Espionagem Externa. Após o colapso da União Soviética e a extinção do KGB, Delaroche e Arbatov foram deixados ao abandono. Permaneceram no Ocidente, Arbatov em Paris e Delaroche em Brélés, e juntos deram início à prática privada. Arbatov servia de agente a Delaroche. Se alguém precisava de um trabalho feito, dirigia-se a Arbatov. Se este o aprovasse, sugeria-o a Delaroche. Arbatov recebia pelos seus serviços uma percentagem da quantia avultada cobrada no mercado por Delaroche. O que Delaroche ganhara até então levara-o a considerar seriamente a hipótese de abandonar a sua linha de trabalho. Passara mais de um mês desde a última missão e, pela primeira vez, não se sentia enfadado nem agitado com a inatividade. O último trabalho rendera-lhe um milhão de dólares, o suficiente para viver em Brélés com conforto durante muitos anos, mas também lhe custara algo no seu íntimo. Durante a longa carreira como assassino, primeiro para o KGB, depois como profissional freelance, Delaroche tivera apenas uma regra: Não matava pessoas inocentes. O atentado ao avião ao largo de Long Island levara-o a quebrar essa regra.
Não fora ele a disparar o míssil, mas desempenhara um papel essencial na operação. A sua missão era posicionar o palestino, matá-lo depois do trabalho feito e afundar o iate antes de ser retirado do mar por helicóptero. Realizara o seu trabalho na perfeição e por ele recebera um milhão de dólares. Mas à noite, quando se encontrava sozinho na casa, sem mais nada para além do barulho do mar, via o avião em chamas a cair para o Atlântico. Imaginava os gritos dos passageiros, enquanto esperavam pela morte. Conhecera intimamente todos os alvos dos trabalhos anteriores. Eram pessoas más, envolvidas em assuntos maléficos, que sabiam bem os riscos envolvidos. E matara-os a todos cara a cara. Rebentar com um avião de passageiros civil fora uma violação da sua regra.
Manteria o encontro com Arbatov e escutaria a proposta. Se fosse boa e lucrativa, talvez a aceitasse. Caso contrário, iria reformar-se, pintar o interior bretão e beber vinho no seu chalé de pedra, não voltando a falar com mais ninguém.
Uma hora depois terminou a pintura. Era boa, pensou, mas podia fazer melhor.
O Sol estava a pôr-se e um lusco-fusco violeta dominara a fazenda. Sem o Sol, o ar tornou-se subitamente frio, carregado com o aroma a fumo de madeira e a alho frito. Espalhou patê sobre um naco de pão e bebeu cerveja enquanto guardava os materiais. Colocou as fotografias e os esboços no bolso. Voltaria a utilizá-los para criar uma versão melhor do trabalho, no estúdio. Deixou o copo de vinho, a travessa meio vazia e a aguarela ainda úmida à porta da casa, e regressou em silêncio à Mercedes. O cão de três pernas ladrou-lhe quando Delaroche se afastou com o carro, após o que devorou o resto do enchido.
Na manhã seguinte, quando Delaroche conduziu de Brélés para Roscoff, a chuva caía forte. Chegou ao paredão exatamente às dez horas e encontrou Arbatov, qual imagem de infelicidade, às voltas no dilúvio. Delaroche estacionou o carro e observou-o por um instante, antes de se aproximar.
Mikhail Arbatov mais parecia um professor envelhecido do que um mestre espião do KGB e, como sempre, Delaroche teve dificuldade em imaginar que dirigira incontáveis assassinatos. Era óbvio que a vida em Paris o estava a tratar bem, pois Delaroche não se recordava dele tão gordo, e as faces debitavam um brilho saudável ilusório, fruto de demasiado vinho e cognac. Trajava a sua habitual blusa preta de gola alta e o casaco impermeável ao estilo do exército, que parecia ter como dono um homem mais alto e magro. Na cabeça trazia um chapéu de abas à prova de água, típico dos reformados de todo o mundo. Os óculos de armações metálicas, que pareciam sempre mais prejudiciais do que úteis, estavam embaciados e escorregavam na encosta íngreme que era o seu nariz de pugilista.
Delaroche saiu do carro e aproximou-se dele pelas costas. Arbatov, sempre um profissional, nem se mexeu quando Delaroche surgiu a seu lado. Caminharam em silêncio durante algum tempo, com Delaroche a esforçar-se por acompanhar o passo cambaleante de Arbatov. Este parecia eternamente à beira de tombar, e por mais do que uma vez Delaroche resistiu à tentação de estender a mão para o equilibrar.
Arbatov parou de andar e virou-se para encarar Delaroche. Avaliou-o com um olhar fixo e levemente divertido, os olhos cinzentos ampliados pelos óculos imensos.
- Minha nossa Sra., estou muito velho para esta treta de rua
- lamentou-se, no seu francês correto e sem sotaque. - Muito velho e muito cansado. Leva-me para um sítio quente com boa comida.
Delaroche levou-o de carro a um bom restaurante com vista para o mar. Arbatov passou a viagem a queixar-se da sujidade deixada no Mercedes pelo equipamento de pintura. Cinco minutos depois, já lhes tinham servido omeletes de Gruyère e cogumelos e canecas de café au lait. Arbatov devorou a comida e acendeu um Gauloise terrível antes de Delaroche ter dado uma segunda garfada. Reclamando do frio, Arbatov pediu um cognac. Bebeu-o em duas goladas e acendeu outro cigarro, soprando estreitas baforadas de fumo para as vigas manchadas do teto. Os dois homens ficaram em silêncio. Um estranho poderia tê-los confundido com pai e filho que tomavam diariamente o pequeno-almoço juntos, algo que não desagradava a Delaroche.
- Querem-te outra vez - informou Arbatov, quando Delaroche acabou de comer. Não foi preciso indagar de quem se tratava. Eram os homens que o tinham contratado para a missão com o avião comercial.
- Qual é o trabalho?
- Só disseram que era extremamente importante e que queriam o melhor.
Delaroche não precisava de lisonja.
- E o pagamento?
- Não adiantaram pormenores. Só comentaram que era mais do que o pagamento anterior. - Arbatov apagou o Gauloise com a unha rachada do polegar grosso. - "Substancialmente mais" foi o termo que utilizaram.
Delaroche fez sinal ao empregado para que levantasse o prato. Pediu outro café e acendeu ele próprio um cigarro.
- Não entraram em pormenores quanto à natureza do trabalho?
- Só um. É uma missão múltipla e os alvos são todos profissionais. O interesse de Delaroche despertou subitamente. Em geral, o seu trabalho aborrecia-o. A maior parte das missões exigia menos capacidades do que as possuídas por Delaroche, pouca preparação e ainda menos criatividade.
Matar profissionais era outro caso.
Querem encontrar-se com você amanhã - indicou Arbatov. Em Paris.
- No terreno de quem?
- Deles, é claro. - Levou a mão ao casaco e retirou do bolso um pedaço de papel empapado. A tinta escorrera, mas a morada continuava legível. - Querem um encontro cara a cara.
- Não aceito esse tipo de encontros, Mikhail. Tu, mais do que qualquer outra pessoa, devias saber disso.
Delaroche protegia a identidade com um cuidado que raiava a paranoia. A maior parte dos homens no seu ramo resolvia o problema com visitas regulares a cirurgiões plásticos, que lhes davam rostos novos. Delaroche agia de outra forma. Raramente permitia que alguém que soubesse o que ele fazia lhe visse o rosto. Nunca deixara que ninguém lhe tirasse uma fotografia e trabalhava sempre sozinho. Abrira somente uma exceção, o palestino na operação do voo comercial, mas recebera uma quantia exorbitante e abatera-o depois de concluído o trabalho. A equipe de resgate não lhe vira o rosto, pois envergara uma máscara preta de lã.
- Sê razoável, meu rapaz - dizia Arbatov. - Estamos num admirável mundo novo. - Continuo vivo por ser cuidadoso.
- Tenho noção disso. E quero que fiques vivo para que eu possa continuar a receber dinheiro. Acredita, Jean-Paul, não te colocaria numa situação que julgasse arriscada. Pagas-me para averiguar ofertas e para te dar bons conselhos. Aconselho-te a ouvir o que estas pessoas têm para dizer, nos termos deles.
Delaroche olhou-o. Estaria a perder qualidades? A perspectiva de um pagamento enorme estaria a toldar-lhe o raciocínio?
- Quantas pessoas vão lá estar? - Disseram-me que apenas uma.
- Armas?
Arbatov abanou a cabeça.
- Vais ser revistado quando entrares no apartamento.
- As armas podem ter todos os tamanhos e feitios, Mikhail.
- Então vais aceitar?
- Vou pensar no caso.
Delaroche gesticulou para o empregado.
C'est tout.
SEDE DA CIA, LANGLEY, VIRGÍNIA
Michael saiu de casa bastante cedo e seguiu pela estrada deserta até a sede à meia-luz cinzenta da alvorada. Foi buscar café e um bolo duro ao fosso da lavagem e subiu as escadas até o Centro. Os últimos elementos do turno da noite ainda lá estavam, de olhos exaustos, agachados sobre ecrãs de computador e documentos antigos em papel, como se fossem monges medievais encurralados na época errada. Eurotrash lia os cabogramas da manhã. Blaze mostrava a Cynthia como matar com uma folha de papel. Michael sentou-se à secretária e ligou o computador.
Segundo a polícia belga, dois supostos agentes operativos da Espada de Gaza tinham sido avistados a bordo de um comboio, a entrar na Holanda. O serviço de segurança britânico, o MI5, interceptara um telefonema de um inteletual islâmico residente em Londres, que sugeria a iminência de um ataque de retaliação algures na Europa. Imagens de satélite do campo de treino em ruínas no Irã mostravam uma reconstrução rápida. A informação mais importante dessa noite foi a última a chegar. Oficiais da espionagem síria tinham viajado para Teerã na semana anterior, para se encontrarem com os homólogos iranianos. Michael já antes vira movimentações do gênero. A Espada de Gaza estava a planear um atentado a um alvo americano na Europa, provavelmente para breve. Pegou no telefone interno e marcou o número do gabinete de Carter, mas ninguém atendeu.
Desligou e fitou o terminal de computador.
Porque não fazes uma pesquisa nos vossos computadores de Langley com o nome do Vandenberg para veres o que te aparece?
Michael digitou o nome de Vandenberg e ordenou ao computador que pesquisasse a base de dados.
Dez segundos depois recebeu uma mensagem em resposta.
ARQUIVOS com ACESSO RESTRITO.
ACESSO NEGADO
- Em que diabo estava pensando para fazer aquilo?
Michael nunca vira Carter tão zangado. Estava sentado à mesa, a bater com a ponta de uma caneta grossa no mata-borrão de pele, a tez normalmente pálida vermelha com o esforço. McManus estava atrás dele, em silêncio, como se esperasse a vez para confrontar um suspeito pouco cooperante. - Foi só um palpite que tive - adiantou Michael debilmente, arrependendo-se de imediato. Pela expressão de Carter, percebeu que apenas tinha piorado a situação.
- Um palpite? Tiveste um palpite e resolveste pesquisar o nome do chefe de gabinete da Casa Branca nos arquivos do Departamento de Pessoal? Osbourne, você é um agente de contraterrorismo. O que achava que o Vandenberg ia fazer, explodir a Casa Branca? Matar o patrão? Desviar o Air Force One?
- Não.
- Estou à espera.
Michael interrogou-se sobre o motivo por que ele estava ali. Os fanáticos da sala de informática deviam tê-lo denunciado. Ou alguém estava a vigiar a atividade do seu computador, ou ativara um alarme no arquivo de Vandenberg, que soara através do sistema quando Michael tentara ler. Parecia obra de Monica Tyler. Michael só tinha uma hipótese: contar parte da verdade e esperar que a relação que mantinha com Carter evitasse mais discussão.
- Uma pessoa de confiança disse-me que ele tinha um passado na Agência e quis confirmá-lo. Foi um erro, Adrian, sinto muito.
Podes crer que foi um erro. Deixa-me explicar-te uma coisa. Os arquivos da Agência não estão aqui para teu deleite. Não são para serem pesquisados. Estou a ser claro, Michael?
- Perfeitamente.
- Já não trabalhas no campo, onde ages segundo os teus próprios métodos.
Trabalhas na sede e obedeces às regras.
- Entendido.
Carter olhou para McManus, que foi fechar a porta.
- Agora, aqui entre nós, eu sei que és um agente dos diabos, e que não ias tentar ler aquele arquivo a menos que fosse importante. Tens alguma coisa que nos queiras contar neste momento?
- Ainda não, Adrian.
Muito bem. Põe-te a andar.
PARIS
Delaroche conduziu até Brest e apanhou o comboio para Paris. Viajava com duas malas, um saco pequeno com uma muda de roupa e uma pasta rectangular grande, que continha uma dúzia de aguarelas. O seu trabalho era vendido numa galeria parisiense discreta, o que lhe garantia um rendimento suficiente para justificar o estilo de vida despretensioso que levava em Brélés.
A partir da estação dos caminhos-de-ferro, seguiu de táxi até um hotel modesto na rue de Rivoli, onde se registrou como um holandês de nome Karel van der Stadt. O neerlandês era uma das suas línguas e possuía três passaportes holandeses excelentes. O quarto tinha uma pequena varanda com vista para o Jardin des Tuileries e o Louvre. A noite estava fria e muito limpa e, à sua direita, podia ver a Torre Eiffel, brilhante com a sua iluminação. À esquerda ficava Notre Dame, de guarda ao tremeluzir negro do Sena. Era tarde, mas tinha trabalho a fazer. Vestiu uma blusa, um blusão de couro e saiu. O recepcionista perguntou a Delaroche se gostaria de lhe deixar a chave. Este abanou a cabeça e respondeu, com um francês carregado de pronúncia holandesa, que preferia levá-la.
O encontro estava marcado para um apartamento no Quinto Arrondissement, na rue de Tournefort. Descobrir vigilância profissional era difícil, na melhor das hipóteses, mas tornava-se quase impossível à noite, numa cidade como Paris. Delaroche caminhou durante algum tempo, cruzou o Sena e passeou ao longo do Quai de Montebello. Fez várias paragens repentinas. Viu os livros nos quiosques. Comprou os jornais vespertinos numa banca. Fez um telefonema falso a partir de um telefone público. Confirmava sempre se estava a ser perseguido, mas não viu qualquer sinal nesse sentido.
Delaroche percorreu as ruelas estreitas do Bairro Latino durante os quinze minutos seguintes. No ar frio da noite podia sentir-se o aroma a especiarias e a tabaco. Delaroche entrou num bar e bebeu cerveja enquanto folheava um jornal. Mais uma vez, não avistou qualquer tipo de vigilância. Terminou a bebida e saiu.
O apartamento batia com a descrição de Arbatov, situando-se no segundo andar de um prédio antigo na rue de Tournefort, perto da Place de la Contrescarpe. Da calçada Delaroche pôde ver que as janelas da frente estavam às escuras. Reparou também numa pequena câmara à porta, para que os inquilinos soubessem quem os visitava.
Na esquina ficava um pequeno restaurante, com uma boa vista do apartamento e da entrada. Delaroche sentou-se a uma mesa junto à montra e pediu frango assado e uma garrafa pequena de Côtes-du-Rhône. Era um bom restaurante de bairro, acolhedor e barulhento, com uma clientela composta na sua maior parte por moradores da zona e por alunos da Sorbonne.
Enquanto comia, Delaroche leu um artigo do correspondente em Washington do Le Maneie, que dizia que os ataques aéreos contra alvos da Espada de Gaza na Síria e na Líbia tinham infligido um rude golpe nas negociações de paz no Oriente Médio. Esses países estavam se equipando com armas novas e perigosas, algumas delas de fabricação francesa. As negociações entre palestinos e israelenses estavam num impasse, depois de semanas de tensão em Gaza e na Cisjordânia. Os peritos em espionagem alertavam para uma nova vaga de terror internacional. Os diplomatas da Europa Ocidental queixavam-se, dizendo que os Americanos se tinham vingado sem pensar nas consequências. Delaroche pousou o jornal na mesa e comeu. Ficava sempre espantado com o pouco que os jornalistas sabiam acerca do mundo secreto.
O homem a entrar no prédio chamou-lhe a atenção.
Delaroche observou-o com atenção: baixo, cabelo louro ralo, um corpo de lutador amolecido pelo deboche. O corte ofensivo do sobretudo mostrava que era americano. Seguia de braço dado com uma bonita prostituta francesa, mais alta do que ele, com cabelo escuro pelos ombros e lábios de um vermelho garrido. O americano abriu a porta e o casal desapareceu pelo hall escurecido. Momentos depois, a luz brilhava no apartamento do segundo andar.
Delaroche animou-se. Receara poder vir a cair numa armadilha. Sozinho num apartamento estranho, sem qualquer rota de fuga, seria presa fácil, caso tivesse sido um dos seus inimigos a organizar o encontro. Mas um agente operacional corrupto a ponto de levar uma prostituta para uma casa de segurança não deveria representar grande ameaça. Só um amador, ou um profissional indisciplinado, se arriscaria dessa forma.
Nesse momento, Delaroche decidiu comparecer ao encontro.
Na manhã seguinte, Delaroche levantou-se cedo e foi correr pelas Tuileries. Vestiu um anorak azul-escuro para se proteger da chuva leve que molhava os jardins. Correu a bom ritmo durante quarenta e cinco minutos, com a cascalho dos caminhos pedestres a ressoar ao ser esmagada debaixo dos seus pés. No último quilômetro esforçou-se ainda mais. Quando terminou, estava na rue de Rivoli, ofegante, com os parisienses a passarem por ele, apressados, a caminho do trabalho.
Chegado ao quarto, tomou uma ducha e mudou de roupa. A Glock de 9 mm esteve sempre ao alcance da mão. Não se sentia bem a deixá-la ficar, mas iria cumprir as regras do encontro. Vestiu a blusa, guardou a arma no cofre do pequeno quarto e desceu.
Tomou o pequeno-almoço no restaurante do hotel, uma sala agradável com vista para a rue de Rivoli, e deu uma vista de olhos aos jornais da manhã. Foi o último hóspede a deixar a sala.
Da recepção trouxe um mapa das ruas de Paris e um guia turístico. O recepcionista de serviço perguntou-lhe se desejaria entregar-lhe a chave do quarto. Delaroche abanou a cabeça e saiu para a rua.
Apanhou um táxi para a rue de Tournefort e saiu no restaurante de esquina onde jantara na véspera. A chuva parara, por isso sentou-se na esplanada. Apesar das nuvens, usava óculos de sol Ray-Ban com hastes grossas.
Eram 9h45. Delaroche pediu café e um brioche e observou a janela do apartamento de segundo andar do outro lado da rua. O homem de corpo de lutador apareceu por duas vezes na janela da frente. Da primeira vez vestia um roupão de banho e segurava uma caneca de café, como se estivesse de ressaca. Da segunda vez, às 9h55, vestia um terno azul completo e o cabelo louro ralo estava imaculadamente penteado.
Delaroche perscrutou a rua. O passeio estava apinhado de parisienses que corriam para os seus empregos e de estudantes que se dirigiam à Sorbonne. Na rue de Tournefort, um par de trabalhadores preparava-se para descer ao esgoto. Outro varria dejetos de cão. À volta de Delaroche, as mesas foram sendo ocupadas. Poderia estar cercado de vigilância, sem que nunca se apercebesse. Às dez horas deixou dinheiro em cima da mesa e atravessou a rua. Tocou com descontração à campainha e virou as costas à câmara sobre a porta. O trinco eletrônico abriu e Delaroche entrou para o hall.
Não havia elevador, apenas uma escadaria ampla, que Delaroche subiu rapidamente. O prédio estava em silêncio, sem outros inquilinos por ali. Delaroche chegou ao segundo andar sem ser visto. Arbatov indicara-lhe que não deveria tocar à campainha. A porta abriu de imediato e o lutador fez-lhe sinal para entrar com um aceno da mão enorme.
Delaroche olhou à sua volta enquanto o outro homem o revistava lenta e metodicamente, primeiro com as mãos, depois com um magnetômetro. A mobília tinha um ar masculino e confortável: cadeiras e sofás pretos e informais dispostos à volta de uma mesa de centro com tampo de vidro, estantes de teca repletas de volumes de história, biografias e thrillers de autores americanos e ingleses. A restante porção visível de parede estava vazia, com marcas esbatidas de quadros em tempos pendurados. Os livros eram os únicos artigos pessoais. Não se via fotografias de familiares ou de amigos, nem correspondência, nem bloco para recados ao lado do telefone.
- Café? - ofereceu o lutador quando terminou.
Tinha razão. Era americano, e do Sul, a julgar pelo sotaque.
Delaroche aceitou. Tirou os óculos de sol e o americano dirigiu-se à moderna cozinha toda em tons de preto, onde se atarefou a preparar o café. Delaroche sentou-se e perscrutou o resto do apartamento. Ao lado da cozinha ficava uma pequena área de jantar e, mais adiante, um breve corredor de acesso a um quarto. Em cima da mesa estava um computador portátil escuro.
O americano regressou com duas canecas. Entregou uma a Delaroche e ficou com a outra.
- O trabalho consta de quatro alvos - começou a explicar, sem preâmbulos - e deverá ser levado a cabo antes do fim de Janeiro. Receberá um milhão de dólares de adiantamento. Será pago de imediato mais um milhão por cada alvo eliminado. Se não estou em erro, o total será de cinco milhões de dólares.
- Para quem trabalha?
O americano abanou a cabeça.
- Recebi ordens para lhe dizer que trabalho para o mesmo grupo que o contratou para a operação do voo comercial. Já sabe que se trata de uma organização profissional e que trabalha bem. Delaroche acendeu um cigarro. - Tem os arquivos sobre os alvos?
O americano apresentou um disco compacto.
- Está tudo aqui, mas apenas verá os arquivos caso aceite o trabalho. Questões de segurança, senhor Delaroche. Imagino que um homem da sua reputação o compreenda.
Delaroche estendeu a mão para aceitar o disco. O americano sorriu. - Imaginávamos que estivesse de acordo. O primeiro milhão já foi transferido para o seu banco em Zurique. Pode confirmar. Tem ali o telefone. Delaroche manteve a troca de palavras num alemão rápido. Herr Becker, o solícito gerente do banco de Zurique confirmou-lhe que sim, durante a noite fora transferido um milhão de dólares para a sua conta. Delaroche indicou que voltaria a ligar mais tarde com outras instruções e desligou.
- O conteúdo está protegido - explicou o americano, ao entregar o disco a Delaroche. - O seu nome de código do KGB vai permitir o acesso aos arquivos.
Delaroche estava espantado. Desde que entrara no mercado por conta própria nunca divulgara as credenciais do KGB, e nunca utilizara o antigo nome de código, conhecido apenas por Arbatov e por um punhado de oficiais do Centro de Moscou. Era óbvio que os homens que o tinham acabado de contratar possuíam muito bons contatos. Prova disso era o fato de terem conhecimento do seu nome de código do KGB.
- Imagino que saiba mexer neste aparelho - comentou o americano, enquanto apontava para o computador portátil. - Vai desculpar-me, mas não estou autorizado a ver o conteúdo dos arquivos. Está por sua conta.
Delaroche levou o disco até a mesa da sala de jantar e sentou-se. Inseriu o disco na drive interna do portátil e digitou sete letras.
A tela do computador ganhou vida.
Os arquivos eram os melhores que Delaroche já vira: antecedentes profissionais e pessoais, hábitos sexuais, rotinas diárias, moradas, números de telefone, gravações digitais de voz, fotografias de vigilância, até mesmo imagens de vídeo digitalizadas.
Demorada e sistematicamente, passou duas horas a analisar a informação contida no disco. Não tirou notas. Delaroche possuía uma mente capaz de armazenar, organizar e recordar quantidades enormes de informação.
O americano estava deitado no sofá, a desfrutar o sistema de televisão por satélite de 500 canais. Primeiro viu um jogo de futebol americano, depois um concurso idiota. Acabara por se deter em pornografia sueca. Enquanto trabalhava, Delaroche foi presenteado com sons de sexo lésbico.
Os alvos seriam os mais difíceis da sua carreira. Eram todos profissionais e um encontrava-se sob proteção periódica do governo. O trabalho iria também exigir que levasse a cabo um assassinato nos Estados Unidos, onde Delaroche nunca estivera e muito menos trabalhara. Caso fosse bem sucedido, essas seriam as últimas mortes durante algum tempo. O assassino encarregue dessa missão teria de se esconder durante um período considerável. Os contratadores tinham bem noção disso, razão pela qual o pagamento representava uma vida de rendimentos.
Delaroche abriu a última pasta.
Continha apenas um arquivo, a fotografia do homem que via televisão na sala ao lado. Delaroche fechou o arquivo e saiu do programa. Na tela podia ler:
SE NOS TRAIR, VAMOS ENTREGÁ-LO AO FBI, OU SERÁ MORTO.
Delaroche retirou o disco e levantou-se.
O americano estava embrenhado na pornografia. Delaroche dirigiu-se à sala de estar e agarrou no casaco, que estava dobrado sobre as costas de uma cadeira. O americano levantou-se, o que agradou a Delaroche. Tornaria o passo seguinte mais simples.
- Uma última questão profissional. Como entraremos em contato com você quando der início à missão?
- Não entram. Acabaram-se os encontros pessoais e os contatos com Arbatov.
- Ainda tem a mesma morada na Internet?
Delaroche anuiu e tirou os óculos de sol do bolso do casaco.
- Quaisquer instruções adicionais serão enviadas para lá... codificadas, logicamente. A chave será a mesma palavra de código.
- Não é preciso dizer-lhe que a Internet é vasta, mas bastante insegura. Apenas deverá ser utilizada em caso de emergência.
- Compreendido.
Delaroche apresentou o disco. Quando o americano estendeu a mão para o aceitar, Delaroche deixou-o cair. Os olhos do americano deslocaram-se de Delaroche para o disco por um breve momento, mas apercebeu-se de que cometera um erro fatal. A mão esquerda de Delaroche fechou-se sobre a boca do americano com um aperto férreo e virou ligeiramente a cabeça do homem para aumentar as probabilidades de o matar com um único golpe.
Depois enfiou a haste dos óculos de sol no olho direito do indivíduo. Fora revistado meticulosamente, mas o lutador não se apercebera de que a haste direita dos óculos de Delaroche era aguçada, o que permitia que o golpe atravessasse a cobertura protetora do cérebro e lacerasse a artéria, carótida atrás do olho. A hemorragia foi rápida e catastrófica. Em breve o homem perdia a consciência. Morreria em poucos segundos. Delaroche instalou-o à frente da televisão com a sua pornografia. Retirou os óculos de sol do olho perfurado e lavou-os com cuidado no lava-loiça. Foi buscar o disco que ficara em cima da mesa de centro e guardou-o no bolso do casaco. Depois colocou os óculos e saiu para a manhã parisiense.
Delaroche estava sentado no Musée de L'Orangerie des Tuileries, cercado pelas Ninfas de Monet, quando decidiu matar Arbatov. Na verdade, não foi uma decisão penosa. Assim que terminasse a missão, Delaroche seria um dos homens mais procurados do mundo. Seria procurado pelas mais poderosas agências de lei e de espionagem do planeta. A pessoa que mais o poderia prejudicar seria Arbatov. Caso fosse descoberto, e pressionado o suficiente, Arbatov poderia trair Delaroche para salvar a pele. Era um risco que Delaroche já não estava disposto a correr.
Contemplou os azuis, os verdes e os amarelos suaves do trabalho de Monet e pensou na ação que acabara de desempenhar. Delaroche não retirava prazer da morte, mas nem mesmo assim sentia remorsos. Fora treinado para cometer assassinatos com uma celeridade brutal e mecânica. A rapidez com que matava protegia-o de qualquer culpa, ou remorso. Era como se tivesse sido outra pessoa a cometer o ato. Não era ele o culpado. Os verdadeiros assassinos eram os homens que tinham ordenado a morte. Delaroche não passava da arma: a faca, a pistola, o objeto rombo. Se não fosse ele o contratado, seria outro no seu lugar.
Passou o resto do dia a descontrair-se. Almoçou no restaurante do hotel, onde voltou a transformar-se em Karel van der Stadt, turista holandês, e dormiu uma hora no quarto. À tarde, visitou a sua galeria e deixou os quadros. O dono considerou-os espetaculares e entregou-lhe um cheque de duzentos mil francos, a parte de Delaroche na venda dos últimos trabalhos.
Ao final da tarde, telefonou para Zurique. Herr Becker, o minucioso gerente do banco suíço confirmou-lhe que sim, um segundo depósito de um milhão de dólares fora efetuado na conta do cavalheiro. Isso significava que o corpo do agente americano fora encontrado. Ou, o que seria mais provável, os contratadores de Delaroche teriam assistido a tudo através de câmaras e microfones de vigilância.
Delaroche pediu o saldo e, após um instante de cálculo, Becker anunciou com gravidade que a conta apresentava um saldo de pouco mais de três milhões e meio de dólares.
Delaroche indicou-lhe que preparasse um levantamento de meio milhão de dólares, em notas de vários valores, que seriam recolhidas em quarenta e oito horas. Depois ordenou a Becker que transferisse três milhões de dólares para três contas separadas nas Baamas.
- Um milhão de dólares para cada conta, Monsieur Delaroche?
- Sim.
- Os números das contas, por favor? Delaroche citou-os de cor.
A reforma deixara Arbatov menos alerta. Tal como grande parte dos idosos que vivem sozinhos, acomodara-se numa rotina diária cuidadosamente planejada, da qual poucas vezes se afastava. Nela incluía-se o passeio do cão, todas as noites antes do jantar. A única coisa mais previsível do que Arbatov era o cão. Todas as noites urinava na mesma árvore e defecava na mesma área de grama no parque junto à casa de Arbatov.
Delaroche esperou ali, oculto na escuridão.
Arbatov aproximou-se à hora certa. Estava frio e voltara a cair uma chuva leve. O parque encontrava-se deserto. Mesmo que houvesse pessoas por perto, Delaroche sabia que levaria a cabo a ação de modo tão rápido e silencioso que nunca seria detectado.
Arbatov passou. Delaroche seguiu-o em silêncio.
O cão parou para urinar, na mesma árvore, cumprindo o horário.
Delaroche fez uma pausa e voltou a andar quando o animal terminou. Olhou à sua volta para confirmar que se encontrava sozinho. Satisfeito, reduziu a distância que o separava de Arbatov com alguns passos rápidos. Alarmado pelo ruído, Arbatov virou-se a tempo de ver Delaroche de braço erguido. O golpe foi de uma precisão brutal e acertou em Arbatov de um dos lados do pescoço, o que lhe despedaçou a coluna de imediato.
O velhote tombou. O cão ladrou furiosamente, debatendo-se na trela, que Arbatov segurava ainda. Delaroche procurou no interior do casaco de Arbatov e retirou-lhe a carteira. Os ladrões de rua não matam com um único golpe no pescoço, disse a si mesmo. Apenas os profissionais o fazem. Os ladrões batem e maltratam. Deu vários pontapés no rosto de Arbatov e afastou-se. A chuva caiu com mais intensidade. Os latidos do cão perderam-se na noite úmida. Delaroche caminhou com um passo normal. Tirou o dinheiro e os cartões de crédito da carteira de Arbatov e deixou-a num canteiro ao lado do caminho. Reparou no sangue no sapato direito à luz amarela e pálida da rua. Limpou-o com um jornal velho e voltou de táxi ao hotel. Ainda tinha tempo para apanhar o comboio. Fez a mala rapidamente e saiu.
Enquanto aguardava pelo comboio, na plataforma de embarque, deitou os cartões de crédito de Arbatov para o balde do lixo. A carruagem estava apinhada. Encontrou um lugar e pediu uma sanduíche e uma cerveja ao empregado. Depois fez uma almofada com o blusão e dormiu até que o comboio chegou a Brest.











