



Biblio VT




O presente período de violência na Irlanda do Norte, conhecido como "The Troubles", irrompeu em Agosto de 1969. Falando de uma maneira geral, é um conflito entre republicanos, que são predominantemente católicos e que querem que o Norte se una à República da Irlanda, e unionistas, ou lealistas, que são predominantemente protestantes e querem manter a união entre o Ulster e o Reino Unido. Cada lado produziu uma verdadeira sopa de letras de grupos paramilitares e de organizações terroristas. O mais famoso, claro, é o Exército Republicano Irlandês Provisório, o IRA. Levou a cabo centenas de assassínios e milhares de atentados à bomba na Irlanda do Norte e na Grã-Bretanha. Em 1984, quase conseguiu fazer explodir Margaret Thatcher e o seu governo num hotel em Brighton. Em 1991, lançou um morteiro sobre Downing Street.
Os lealistas têm também os seus homens armados e os seus bombistas — a UVF, a UDA e o UFF[1], para citar apenas alguns — e também eles levaram a cabo actos de terrorismo aterradores. De facto, das 3500 pessoas que foram mortas desde que começaram os Troubles, a maioria é católica.
Mas a violência não começou em 1969. Católicos e protestantes têm andado a matar-se uns aos outros no Norte da Irlanda há séculos, não há décadas. Pode ser difícil fixar marcos históricos, mas os protestantes vêem 1690 como o começo da sua ascendência no Norte.
Foi aí que Guilherme de Orange derrotou o rei Jaime II, um católico romano, na Batalha de Boyne. Ainda hoje, os protestantes celebram a vitória de Guilherme sobre os católicos com uma série de desfiles barulhentos, levando por vezes a confrontações. Na Irlanda do Norte, essa época é conhecida como "a temporada das marchas".
A 22 de Maio de 1998, o povo da Irlanda do Norte votou a favor do acordo de paz conhecido como acordo de Sexta-Feira Santa, que exorta à partilha de poder entre católicos e protestantes. Mas a memória é longa no Ulster e nenhum dos lados tem estado disposto a afirmar que a guerra civil terminou verdadeiramente. De facto, o período pós-eleições tem sido caracterizado por vários actos de abominável terrorismo, incluindo o atentado de Omagh, que matou vinte e oito pessoas — o mais sangrento acto de terror da história dos Troubles —, e o fogo posto em Ballymoney, no qual três crianças católicas morreram queimadas. Manifestamente, há homens violentos em ambos os lados da divisão sectária da Irlanda do Norte — católicos e protestantes, republicanos e unionistas — que não são capazes de esquecer e não se acham preparados para perdoar. Alguns desses homens estão a conspirar activamente para destruir o acordo de paz.
Podia acontecer qualquer coisa como isto...
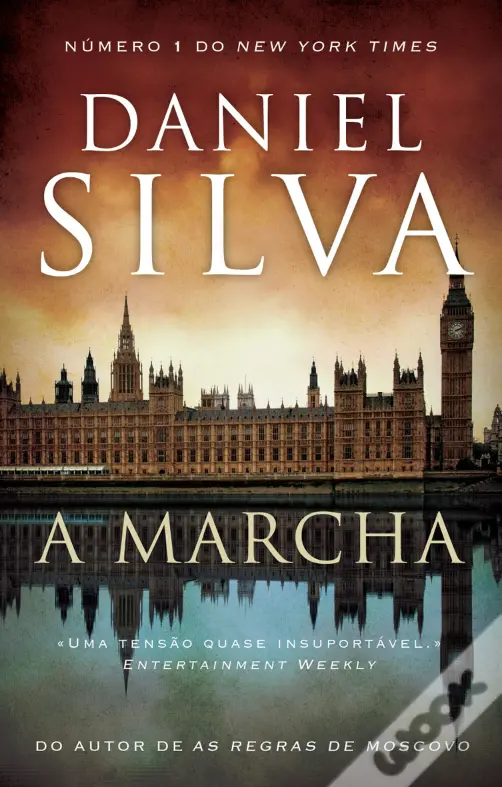
JANEIRO
Capítulo 1
BELFAST, DUBLIN, LONDRES
Eamonn Dillon, do Sinn Fein, foi o primeiro a morrer, e morreu porque tinha planeado parar para beber uma caneca de cerveja no Celtic Bar antes de subir a Falis Road a caminho de uma reunião em Andersontown. Vinte minutos antes da morte de Dillon, a uma pequena distância para leste, o seu assassino apressava-se pelas ruas do centro da cidade de Belfast debaixo de uma chuva fria. Vestia um oleado verde-escuro com uma gola de bombazina castanha. O seu nome de código era Ovelha Negra.
O ar cheirava ao sal do mar e ligeiramente aos estaleiros de navios enferrujados de Belfast Lough. Pouco passava das quatro da tarde, mas já estava escuro. A noite cai cedo no Inverno em Belfast; a manhã acorda lentamente. O centro da cidade estava banhado numa luz amarela de sódio, mas a Ovelha Negra sabia que Belfast Ocidental, o seu destino, se pareceria com o blackout em tempo de guerra.
Continuou para norte, pela Great Victoria Street acima, passando pela curiosa fusão de velho e novo que compõe a face do centro de Belfast — as constantes lembranças de que estes poucos quarteirões têm sido atacados à bomba e reconstruídos vezes sem conta. Passou a fachada reluzente do Europa, tristemente célebre por ser o hotel com mais ataques à bomba do planeta. Passou pela nova ópera e perguntou-se por que razão haveria alguém de querer ouvir em Belfast a música das tragédias dos outros. Passou por uma hedionda loja de donuts americana, cheia de risonhos miúdos da escola protestantes envergando casacos com emblemas.
Faço isto por vocês, disse para si próprio. Faço isto para que não tenham de viver num Ulster dominado pelos cabrões dos católicos.
Os prédios maiores da cidade foram ficando para trás e as ruas esvaziaram-se lentamente de outros peões até ele ficar completamente sozinho. Andou cerca de quatrocentos metros e passou por cima da auto-estrada Ml, perto dos imponentes Divis Flats. A passagem aérea estava toda rabiscada de grafitos: vota sinn fein; tropas britânicas FORA DA IRLANDA DO NORTE; LIBERTEM TODOS OS PRISIONEIROS DE GUERRA.
Mesmo que a Ovelha Negra não conhecesse nada da complexa geografia sectária da cidade, o que não era certamente o caso, era impossível não reparar nos sinais. Tinha acabado de atravessar a fronteira para o território inimigo — a católica Belfast Ocidental.
A Falis Road estendia-se para oeste como um leque, estreita na sua boca perto do centro da cidade, larga para oeste, sob a sombra da Black Mountain. Falis Road — simplesmente "a estrada", no léxico da Belfast Ocidental católica — atravessa a zona como um rio, com afluentes que vão dar aos matagais de casas contíguas onde soldados britânicos e católicos romanos travam uma guerrilha urbana desde há três décadas. O centro comercial da Falis é a intersecção da Springfield Road com a Grosvenor Road. Há mercados, lojas de roupas, lojas de ferragens epubs. Táxis ocupados deslocam-se pela rua para cima e para baixo. Parece-se bastante com qualquer outro bairro da classe operária de uma cidade britânica, excepto nas portas de entrada, enjauladas em gaiolas de aço preto, e nos táxis que nunca se desviam da Falis Road por causa dos esquadrões da morte protestantes. Os delapidados terraços brancos da urbanização de Ballymurphy dominam a extremidade ocidental da Falis Road.
Ballymurphy é o coração ideológico de Belfast Ocidental e, ao longo dos anos, tem fornecido um caudal constante de recrutas ao IRA. Murais belicosos olham por cima da Whiterock Road, em direcção às onduladas colinas verdejantes do cemitério da cidade, onde muitos dos homens de Ballymurphy estão enterrados debaixo de simples pedras tumulares. Para norte, atravessando a Springfield Road, um gigantesco aquartelamento militar e esquadra de polícia surge como uma fortaleza sitiada em território inimigo, o que de facto é.
Os estrangeiros não são bem-vindos no "Murph", nem mesmo os estrangeiros católicos. Os soldados britânicos não põem lá o pé sem as suas gigantescas viaturas blindadas de transporte de tropas, chamadas sarracenos —porcos, para o povo de Ballymurphy.
A Ovelha Negra não fazia tenção de se aproximar minimamente de Ballymurphy. O seu destino era mais para leste — a sede do Sinn Fein, o braço político do Exército Republicano Irlandês, localizado nos números 51-55 da Falis Road. Os pináculos da St. Peter's Cathedral erguiam-se à sua esquerda enquanto se ia internando mais na Falis. Um trio de soldados britânicos deslocava-se na feia praça asfaltada em frente à catedral, num momento parando para espreitar pela mira de infravermelhos das suas espingardas, no outro girando nos calcanhares para ver se alguém os estava a seguir. Não fales com eles, tinham-lhe dito os agentes responsáveis pelo seu treino. Não olhes sequer para eles. Se olhares para eles, vão perceber que és um estranho. A Ovelha Negra manteve as mãos nos bolsos e o olhar fixo no chão à sua frente.
Virou para o Dunville Park e sentou-se num banco. Apesar da chuva, miúdos da escola jogavam futebol à fraca luz dos candeeiros de rua. Um grupo de mulheres — mães e, pelo aspecto delas, irmãs mais velhas — observava cuidadosamente das linhas laterais imaginárias. Um par de soldados britânicos atravessou pelo meio do jogo, mas os miúdos jogaram à volta deles como se fossem invisíveis. A Ovelha Negra enfiou a mão no bolso do casaco e tirou os seus cigarros, um maço com dez Benson & Hedges, perfeito para o permanente orçamento apertado da classe trabalhadora de Belfast Ocidental. Acendeu um e voltou a guardar os cigarros no bolso. A sua mão roçou pela coronha de uma pistola automática Walther.
Do seu ponto privilegiado no banco, o homem podia ver a Falis Road perfeitamente: a sede do Sinn Fein, onde o alvo trabalhava todos os dias; o Celtic Bar, onde tomava uma bebida ao fim da tarde.
O Dillon vai falar numa reunião comunitária às cinco horas da tarde, em Andersontown, tinham-lhe dito os agentes responsáveis pelo seu treino. Isso quer dizer que ele tem um horário apertado. Irá deixar a sede às quatro e meia e dar um salto ao Celtic Bar para beber uma rapidinha.
A porta da sede do Sinn Fein entreabriu-se. Por uns instantes, as luzes interiores espalharam-se pelo pavimento molhado pela chuva. A Ovelha Negra avistou o seu alvo, Eamonn Dillon, o terceiro oficial mais graduado do Sinn Fein, apenas atrás de Gerry Adams e Martin McGuinness, e membro da equipa de negociações para as conversações de paz. E também um dedicado homem de família, com mulher e dois filhos, pensou a Ovelha Negra. Afastou essa imagem da mente. Não havia tempo para isso agora. Um guarda-costas acompanhava Dillon. A porta fechou-se de novo e os dois homens deslocaram-se para oeste ao longo da Falis Road.
A Ovelha Negra atirou o cigarro para o chão, levantou-se e atravessou o parque. Subiu um pequeno lanço de escadas e deteve-se na intersecção da Falis Road com a Grosvenor Road. Carregou no botão para atravessar a rua e esperou calmamente que o semáforo mudasse de vermelho para verde. Dillon e o seu guarda-costas estavam ainda a cerca de cem metros do Celtic Bar. O sinal mudou. Não havia soldados britânicos na Falis Road, apenas o par próximo do jogo de futebol no parque. Quando chegou ao outro lado da rua, a Ovelha Negra virou-se e rumou a leste, colocando-se numa rota de colisão com Dillon e o guarda-costas.
Moveu-se rapidamente, de cabeça baixa, com a mão direita envolvendo a coronha da Walther. Deu uma olhadela para cima, verificou a posição de Dillon e olhou de novo para baixo. Vinte e cinco metros, trinta no máximo. Destravou a Walther. Pensou nas crianças protestantes a comer donuts na Great Victoria Street.
Faço isto por vocês. Faço isto por Deus e pelo Ulster.
Sacou da Walther e apontou-a ao guarda-costas, puxando o gatilho duas vezes antes que o homem pudesse retirar a sua própria arma do coldre de ombro por debaixo da gabardina. Os tiros atingiram-no na parte de cima do peito e ele tombou no pavimento molhado.
A Ovelha Negra virou o braço e apontou a arma à cara de Eamonn Dillon. Hesitou, um instante apenas. Não podia fazê-lo, não na cara. Baixou a arma e puxou o gatilho duas vezes.
Os disparos perfuraram o coração de Dillon.
Ele caiu para trás, no chão, com um braço estendido por cima do peito ensanguentado do guarda-costas. A Ovelha Negra encostou o cano da Walther à cabeça de Dillon, de lado, e disparou um último tiro.
O segundo acto estava a desenrolar-se precisamente no mesmo momento, cento e sessenta quilómetros a sul, em Dublin, onde um homem pequeno coxeava por um caminho para peões em St. Stephen's Green, debaixo de uma chuva constante. O seu nome de código era Mestre. Poderiam tê-lo confundido com um estudante do Trinity College, que ficava ali perto, o que era a sua intenção. Vestia um casaco de tweed, gola levantada, e calças de bombazina brilhantes do uso. Tinha os olhos escuros e a barba desgrenhada de um muçulmano devoto, coisa que não era. Na mão direita, levava uma pasta em forma de caixa, tão velha que cheirava a mofo em vez de couro.
Entrou na Kildare Street e atravessou a entrada do Hotel Shelbourne, adornada com estátuas de princesas núbias e dos seus escravos. Baixou a cabeça enquanto se esgueirava pelo meio de um grupo de turistas a dirigirem-se para o chá no Lord Mayor's Lounge.
Quando chegou à Molesworth Street, era quase impossível fingir que a pasta pendurada no seu braço direito não era anormalmente pesada. Os músculos do ombro ardiam-lhe e conseguia sentir a humidade debaixo dos braços. A National Library erguia-se à sua frente. Apressou-se a entrar e atravessou o átrio, passando por um expositor com manuscritos de George Bernard Shaw. Mudou a pasta da mão direita para a esquerda e dirigiu-se ao assistente.
— Queria um passe para a sala de leitura — disse, substituindo cuidadosamente o seu sotaque muito carregado de Belfast Ocidental pelo mais suave e cantado do Sul.
O assistente estendeu-lhe um passe sem levantar os olhos.
O Mestre subiu as escadas para o terceiro andar, entrou na famosa sala de leitura e encontrou um lugar vazio ao lado de um homem de ar atarefado que cheirava a naftalina e óleo de linhaça. Abriu uma aba lateral da pasta, retirou um livro fino de poesia gaélica e colocou-o suavemente na secretária com tampo de couro. Ligou o candeeiro de tons verdes. O homem de ar atarefado olhou para cima, fez uma carranca e voltou ao seu trabalho.
Por vários minutos, o Mestre fingiu estar absorvido na sua poesia; no entanto, durante todo o tempo as instruções zumbiam-lhe na mente como os irritantes anúncios gravados de um terminal ferroviário. O cronómetro está marcado para cinco minutos, tinha-lhe dito o agente responsável pelo seu treino no hriefing final. O tempo suficiente para saíres da biblioteca, mas não o tempo suficiente para a segurança fazer alguma coisa se a pasta for descoberta.
Manteve a cabeça baixa e o olhar fixado no texto. De tantos em tantos minutos, levantava a mão e rabiscava algumas notas num pequeno bloco de notas. Ouviu passadas suaves à sua volta, páginas a virarem, lápis a arranharem, fungadelas e tossidelas discretas, efeitos secundários da eterna humidade do Inverno de Dublin. Resistiu ao impulso de olhar para eles. Queria que continuassem anónimos, sem rosto. Não tinha qualquer problema com o povo irlandês, só com o governo irlandês. Não tirava qualquer prazer em pensar em derramar sangue de inocentes.
Deu uma espreitadela ao relógio de pulso — 16h45. Esticou o braço por baixo das pernas, fingindo que ia retirar um segundo volume de poesia, mas, quando a mão se encontrou dentro da cediça pasta velha, demorou-se um segundo ou dois a mais, à procura do pequeno gatilho de plástico que armaria o detonador. Suavemente, accionou o interruptor, segurando-o cuidadosamente entre o indicador e polegar para abafar o clique. Tirou a mão e colocou o segundo volume, fechado, ao lado do primeiro.
Espreitou o relógio, um modelo analógico de aço inoxidável com um grande ponteiro dos segundos, e anotou cuidadosamente a hora para que tinha programado o detonador.
Virou-se e olhou para o homem de ar atarefado na secretária seguinte, que olhava fixamente para ele como se tivesse estado a fazer exercícios de relaxamento.
— Pode dizer-me onde é a casa de banho? — sussurrou o Mestre.
— O quê? — respondeu o homem de ar atarefado, dobrando a sua orelha vermelha com a ponta roída de um lápis amarelo.
— A casa de banho — repetiu o homem, ligeiramente mais alto desta vez, embora ainda murmurando.
O homem tirou o lápis do ouvido, franziu a cara outra vez e apontou a ponta na direcção da porta na extremidade mais distante da sala.
O Mestre espreitou para o relógio enquanto atravessava a sala. Tinham passado quarenta segundos. Apressou o passo, dirigindo-se para a porta, mas cinco segundos depois ouviu um som ensurdecedor, como um trovão, e sentiu um golpe de ar quente que o levantou pelos pés e o lançou violentamente através da sala como uma folha morta apanhada numa ventania de Outono.
Em Londres, uma rapariga alta de calças de ganga azuis, botas de caminhada e casaco de cabedal preto ia avançando cuidadosamente pelos passeios apinhados da Brompton Road. Puxava uma mala de rodas de nylon preto com uma pega retráctil. O seu nome de código era Dama.
As chuvas que caíam sobre Belfast e a Escócia ainda não tinham chegado ao Sul e o céu do final da tarde estava claro e turbulento: cor-de-rosa e laranja a oeste, na direcção de Notting Hill e Kensington, azul-escuro para leste, sobre a City. O ar estava quente e pesado, pouco comum para a estação. A Dama passou rapidamente pelas montras brilhantes do Harrods e esperou com um cacho de outros peões em Hans Crescent.
Atravessou a pequena rua quando o sinal mudou, atalhando caminho através de uma horda de turistas japoneses que se dirigia ao Harrods, e chegou à entrada do metropolitano de Knightsbridge. Hesitou por um instante, espreitando pela pequena fila de degraus ladrilhados que conduziam ao átrio dos bilhetes. Começou a descer os degraus puxando a mala atrás de si até ela rolar para fora do primeiro degrau e bater no segundo com um baque pesado.
Tinha conseguido ultrapassar mais dois degraus dessa maneira quando um jovem de cabelo louro e escasso a abordou. Sorriu de forma galanteadora e disse:
— Por favor, deixe-me ajudá-la com isso.
O sotaque era da Europa Central ou escandinavo: alemão ou holandês, ou talvez dinamarquês. Ela hesitou. Deveria aceitar ajuda de um desconhecido? Seria mais suspeito se recusasse?
— Muito obrigada — disse ela, finalmente.
O sotaque era americano, monótono e inexpressivo. Tinha vivido vários meses em Nova Iorque e podia livrar-se do seu sotaque irlandês quando queria.
— Isso seria óptimo.
Ele agarrou na mala pela pega e levantou-a.
— Meu Deus, o que é que tem aqui dentro, pedras?
— Barras de ouro roubadas, na verdade — respondeu ela, e riram-se os dois.
Ele levou a mala pelos degraus abaixo e colocou-a no chão. Ela agarrou na mala pela pega de puxar, disse "Mais uma vez, obrigada" e vírou-se, começando a andar.
Podia sentir a sua presença mesmo atrás dela. Aumentou a passada, olhando ostensivamente para o relógio de pulso para indicar que estava atrasada. Alcançou o átrio dos bilhetes e encontrou uma máquina automática desocupada. Introduziu 3,30 libras na ranhura e carregou no botão correspondente. O ajudante europeu apareceu ao seu lado e fez deslizar algumas moedas na máquina dele sem olhar para ela. Comprou um bilhete por 1,10 libras, o que queria dizer que ia fazer uma viagem pequena, provavelmente algures no interior do centro de Londres. Recolheu o bilhete e fundiu-se na multidão da hora de ponta.
Ela passou pelos torniquetes e desceu para o cais pelas compridas escadas rolantes. Um momento depois, sentiu um bafo de ar e ouviu a agitação do comboio que se aproximava. Miraculosamente, havia alguns lugares vazios. Deixou a mala perto da porta e sentou-se. Quando o comboio chegou a EarFs Court, a carruagem tinha-se enchido de passageiros e a Dama tinha perdido a mala de vista. O comboio veio à superfície e acelerou pelos subúrbios ocidentais de Londres. Fatigados passageiros habituais pingavam do comboio para as plataformas varridas pelo vento de Boston Manor, Osterley e Hounslow East.
Quando o comboio se aproximou da primeira paragem em Heathrow — a linha que passava pelo Terminal Quatro —, a Dama olhou para os passageiros sentados à volta dela.
Um par de jovens homens de negócios ingleses a tresandar a prosperidade, um cacho de carrancudos turistas alemães, um quarteto de americanos discutindo ruidosamente se a encenação londrina de Miss Saigon era superior à da Broadway. A Dama desviou a vista.
O plano era simples. Tinha recebido instruções para sair no Terminal Quatro e deixar a mala para trás. Antes de pôr os pés fora do comboio, deveria premir o botão de um pequeno transmissor escondido no bolso do casaco. O transmissor, disfarçado como um controlo remoto de um carro japonês de luxo, armaria o detonador. Se o comboio continuasse a respeitar o horário previsto, a bomba explodiria uns segundos depois da chegada ao cais destinado aos terminais Um, Dois e Três. Os danos daí resultantes causariam transtorno aos passageiros durante meses e custariam centenas de milhões de libras para reparar.
O comboio abrandou ao aproximar-se da paragem do Terminal Quatro. A mulher levantou-se e deslocou-se para as portas enquanto o escuro do túnel dava lugar à luz severa do cais. Quando as portas se abriram, carregou no botão do transmissor, armando a bomba. Passou para a plataforma, com as portas a fecharem-se atrás de si. Começou a andar depressa em direcção à saída. Foi nessa altura que ouviu bater na janela do comboio. Voltou-se e viu um dos jovens homens de negócios ingleses batendo com o punho no vidro. Não conseguia ouvir o que ele estava a dizer, mas podia ler-lhe os lábios. A. mala!, gritava ele. Deixou ficar aqui a mala!
A Dama não se moveu. A expressão da cara do inglês passou abruptamente de ligeira inquietação para completo terror quando este percebeu que a mulher tinha deixado a mala intencionalmente. Investiu contra as portas e tentou forçá-las com as mãos. Mesmo que o homem tivesse conseguido chamar a atenção e parar o comboio, nada poderia ser feito num minuto e quinze segundos para impedir que a bomba explodisse.
A Dama ficou a olhar enquanto o comboio deslizava em frente. Alguns segundos depois, estava a virar-se quando o túnel estremeceu com uma enorme explosão. O comboio levantou-se dos carris e uma onda de ar ressequido arremeteu-se sobre ela. A Dama levou instintivamente as mãos à cara. Por cima dela, o tecto começou a desfazer-se.
O choque provocado pela explosão fê-la levantar os pés do chão. Viu tudo de uma forma terrivelmente clara por um instante — o fogo, o cimento a desfazer-se, os seres humanos, como ela, apanhados no turbilhão escaldante da explosão.
Acabou muito rapidamente. Não estava certa de como tinha caído; tinha perdido toda a noção do que era para cima e para baixo, de uma forma bastante parecida com um mergulhador que esteve muito tempo debaixo de água. Só sabia que estava sepultada em destroços e que não conseguia respirar ou sentir nenhuma parte do corpo.
Tentou falar, mas não conseguiu proferir nenhum som. A boca começou a encher-se com o seu próprio sangue.
Os seus pensamentos mantiveram-se claros. Perguntou-se como poderiam os fabricantes da bomba ter cometido um erro daqueles, e a seguir, nos momentos finais antes da sua morte, interrogou-se se de facto teria sido sequer um erro.
Capítulo 2
Menos de uma hora depois dos ataques, os governos de Londres e Dublin lançaram uma das maiores investigações criminais da história das Ilhas Britânicas. O inquérito britânico foi coordenado directamente a partir de Downing Street, onde o primeiro-ministro Tony Blair se reuniu continuamente com os seus principais ministros e com as chefias da polícia e dos serviços de segurança britânicos. Um pouco antes das nove horas dessa noite, o primeiro-ministro saiu da porta do número 10 para a chuva violenta e ficou parado à frente dos repórteres e das câmaras que esperavam para enviar os seus comentários para o mundo inteiro. Um assessor tentou colocar um chapéu-de-chuva por cima da cabeça do primeiro-ministro, mas este afastou-o discretamente com o cotovelo e passado um momento tinha o cabelo e os ombros do casaco ensopados. Expressou o seu pesar pela assustadora perda de vidas — sessenta e quatro mortos em Heathrow, vinte e oito mortos em Dublin, mais dois em Belfast — e jurou que o seu governo não descansaria até que os assassinos fossem levados à justiça.
Em Belfast, os líderes de todos os principais partidos políticos — católicos e protestantes, republicanos e lealistas — manifestaram a sua indignação. Em público, os políticos recusaram especular sobre a filiação dos terroristas até haver mais factos conhecidos. Em privado, cada lado apontava o dedo ao outro. Toda a gente apelava à calma, mas pela meia-noite havia jovens católicos amotinados na Falis Road e uma patrulha do exército britânico ficou sob fogo na Shankill Road, uma zona protestante.
Nas primeiras horas do dia seguinte, os investigadores já tinham feito progressos enormes. Em Londres, especialistas forenses e de explosivos concluíram que a bomba tinha sido colocada na sexta carruagem do comboio com destino a Headirow. O material explosivo estava entre os vinte e dois e os quarenta e cinco quilos de Semtex.
Os fragmentos do material que tinham sido encontrados à volta da zona da explosão levaram os investigadores a concluir que a bomba estava colocada numa mala preta de nylon, muito provavelmente um modelo com rodas. De madrugada, agentes da polícia espalharam-se pela linha de metro de Piccadilly — de Heathrow, a oeste, até Cockfosters, a nordeste — e interrogaram os passageiros da manhã em cada paragem. A polícia recebeu cerca de trezentos relatórios sobre passageiros que transportavam malas num comboio ao final da tarde, das quais cem tinham rodas.
Por sorte, um turista holandês chamado Jacco Krajicek comunicou com a polícia um pouco antes do meio-dia e disse que tinha ajudado uma mulher com uma grande mala preta de nylon com rodas na estação de metro de Knightsbridge ao fim da tarde. Forneceu uma descrição pormenorizada do seu aspecto e roupa, mas foram dois outros pormenores que captaram o interesse dos investigadores. A mulher tinha utilizado a máquina de bilhetes automática com a presteza e a confiança de uma londrina que viaja no metropolitano todos os dias, mas, aparentemente, não fazia ideia de que havia degraus à entrada da estação de Knightsbridge; caso contrário, por que razão teria levado a pesada mala? Falou com um sotaque americano, afirmou Krajicek, mas esse sotaque era falso. O detective-inspector que atendeu a chamada de Krajicek perguntou-lhe como tinha chegado a essa conclusão. Krajicek respondeu que era um terapeuta da fala e um linguista que falava várias línguas fluentemente.
Com a ajuda de Krajicek, os detectives produziram um retrato robô da mulher do metropolitano, que depois foi enviado para a Divisão Especial da Polícia Real do Ulster e para as sedes do MI5 e do MI6. Os agentes concentraram-se nos ficheiros e fotografias que possuíam de todos os membros conhecidos de grupos paramilitares, republicanos e lealistas. Quando não se encontrou nenhuma correspondência, foi posto a circular de uma forma mais alargada. A polícia teorizou que depois de largada a bomba a mulher teria embarcado muito provavelmente num voo em Heathrow e fugido do país. O retrato robô foi mostrado a agentes de bilhetes, bagageiros e agentes de segurança do aeroporto. Foi dada uma cópia a todas as companhias aéreas com voos saídos de Heathrow nessa noite. As imagens captadas pelas câmaras de vigilância do aeroporto foram vistas e revistas de uma ponta à outra. O retrato robô foi entregue aos serviços secretos da Europa Ocidental com quem o Reino Unido mantinha boas relações e também à Mossad de Israel.
Às 19h, as diligências para a procura da mulher foram abruptamente suspensas pela descoberta de outro corpo no meio dos escombros da plataforma do metro. As suas feições estavam surpreendentemente intactas e correspondiam aproximadamente ao retrato robô fornecido por Krajicek. O holandês foi levado a Heathrow para ver o corpo.
Acenou gravemente com a cabeça e desviou a vista. Era a mulher que ele tinha ajudado na estação de metro de Knightsbridge.
Uma série de acontecimentos similares desenrolou-se do outro lado do mar da Irlanda, em Dublin. Pelo menos, uma dúzia de testemunhas informou ter visto um homem de barba, coxo, carregando uma pasta grande e pesada, a entrar na biblioteca mesmo antes do rebentamento da bomba. O porteiro do Hotel Shelbourne forneceu uma descrição pormenorizada do suspeito a um par de detectives da Garda[2] duas horas depois da explosão.
O assistente da biblioteca que tinha dado o passe ao homem barbudo sobreviveu à explosão, ficando apenas com alguns pequenos cortes e equimoses. Ajudou a polícia a detectar o suspeito num vídeo das câmaras de vigilância da biblioteca. A Garda disponibilizou um retrato robô e uma imagem pouco nítida tirada do vídeo. Foram enviadas cópias para Londres por fax. Contudo, nesse final de tarde, os trabalhadores das equipas de resgate retiraram mais um corpo dos escombros que parecia condizer com a descrição do suspeito. Quando um patologista retirou as roupas do cadáver, descobriu um pesado aparelho no joelho direito. Os agentes da polícia mandaram tirar raios X ao joelho. O patologista não encontrou nenhum dano no joelho — quer no osso, quer na cartilagem ou nos ligamentos — que exigisse o uso de um aparelho tão pesado.
— Suspeito que o homem estava a utilizar o aparelho para produzir o coxear e não para apoiar um joelho danificado — disse o patologista, olhando com espanto para a perna do cadáver. — E também receio que o vosso único suspeito neste caso esteja oficialmente bem morto.
A norte, no Ulster, os agentes da Divisão Especial da Polícia Real do Ulster encarregues do caso começaram a recorrer às suas fontes e informadores, dos bares e ruelas de Belfast Ocidental às quintas verdejantes em redor de Portadown e Armagh. Ninguém desencantou nada que se revelasse prometedor. Uma câmara de vigilância do exército tinha captado o assassínio de Eamonn Dillon e a câmara de vigilância instalada na porta do Celtic Bar registara a fuga do assassino. Nenhum destes dois pontos privilegiados produziu uma imagem do rosto do atirador que fosse utilizável. A RUC[3] apelou a que se fizessem chamadas para a Linha Confidencial — uma linha telefónica especial directa na qual os informadores podem dar indicações à polícia anonimamente —, mas nenhuma das 450 chamadas produziu pistas significativas. Doze reivindicações de responsabilidade pelo atentado foram analisadas e repudiadas por serem consideradas embustes. Unidades dedicadas à recolha técnica de informação — videovigilância e escutas electrónicas — analisaram rapidamente gravações e intercepções recentes, à procura de sinais de um ataque iminente que tivessem escapado.
A análise efectuada não revelou nada.
Inicialmente, houve uma grande discussão acerca dos possíveis perpetradores dos ataques. Teria sido um grupo ou dois? Foi algo coordenado ou simplesmente uma coincidência?
Foi obra de um grupo paramilitar já existente ou de um novo? Republicano ou lealista? O assassínio de Eamonn Dillon e o atentado à bomba na National Library em Dublin indiciavam que os terroristas fossem protestantes lealistas. O atentado à bomba no metropolitano sugeria que os terroristas eram republicanos, pois os paramilitares lealistas não confrontavam com frequência as forças britânicas e nunca tinham atacado à bomba em território da Grã-Bretanha. Conhecidos membros do Exército Republicano Irlandês e da Força de Voluntários do Ulster, de cariz protestante, foram trazidos discretamente para interrogatório. Todos eles negaram qualquer conhecimento ou envolvimento.
Às 20h, os ministros e os responsáveis pela segurança juntaram-se no gabinete ministerial de Downing Street para uma reunião com o primeiro-ministro. Todos admitiram relutantemente não terem provas credíveis que apontassem para um grupo ou um indivíduo. Em poucas palavras, estavam perplexos.
Às 20h45, tudo isso mudou.
O telefone chilreou suavemente no atarefado estúdio da BBC. As Nine o'Clock News iriam para o ar dentro de quinze minutos. O produtor executivo planeou dedicar a primeira meia hora do programa aos ataques terroristas. Repórteres estavam prontos para entrar em directo em Belfast, Dublin, Heathrow e Downing Street. Por causa da atmosfera caótica no estúdio, o telefone tocou dez vezes antes de uma jovem assistente de produção chamada Ginger atender.
— Estou a telefonar para reivindicar a responsabilidade pela execução de Eamonn Dillon em Belfast e pelos ataques à bomba no Aeroporto de Heathrow e em Dublin.
Ginger tomou nota da voz: masculina; sem emoção; sotaque irlandês, de Belfast Ocidental pelo tom.
— Está preparada para recolher o meu depoimento?
— Estamos um pouco ocupados agora, meu querido — respondeu Ginger. — De facto, não tenho mesmo tempo para isto neste momento. Foi um prazer falar consigo...
— Se desligar este telefone, estará a cometer o maior erro da sua carreira — disse a pessoa ao telefone. — Quer recolher a minha declaração ou prefere que em vez disso eu telefone para o ITN[4]?
— Muito bem — soltou Ginger, rodopiando um anel de cabelo vermelho à volta da ponta roída do dedo indicador.
— Tem uma caneta?
Ginger andava com três canetas presas por fios à volta do pescoço.
— Claro.
— A execução do terrorista Eamonn Dillon do IRA, a bomba na National Library em Dublin e a bomba na estação de metro do Aeroporto de Heathrow foram levados a cabo sob as ordens do conselho militar da Brigada para a Libertação do Ulster. A Brigada para a Libertação do Ulster é uma nova organização paramilitar protestante e não é um pseudónimo de nenhuma organização já existente, tal como a Força de Voluntários do Ulster ou a Associação de Defesa do Ulster.
— Espere, deixe-me anotar tudo — pediu Ginger com calma, escrevendo furiosamente.
O homem que ela quase tinha descartado como sendo um excêntrico parecia muito real.
— Pronto, já tenho tudo. Continue.
— A Brigada para a Libertação do Ulster dedica-se à preservação do modo de vida protestante na Irlanda do Norte e à preservação do domínio britânico na província.
Não vamos ficar parados sem fazer nada enquanto o governo britânico trai o seu compromisso histórico com o povo protestante da Irlanda do Norte, nem nunca iremos permitir que o Ulster seja anexado pelo Sul. A Brigada para a Libertação do Ulster continuará a sua campanha de resistência armada até que o acordo de paz conhecido como acordo de Sexta-Feira Santa esteja morto e enterrado. Todos aqueles que apoiam esta traição à comunidade protestante da Irlanda do Norte devem considerar esta declaração como um aviso importante.
O homem fez uma pausa e, a seguir, perguntou:
— Apanhou tudo isso?
— Sim, penso que sim.
— Óptimo — disse ele, e a ligação foi interrompida.
Alan Ramsey, o produtor executivo, estava sentado à sua secretária, com dois telefones encostados a ambos os ouvidos e uma pilha de textos à sua frente. Ginger atravessou a redacção de forma decidida e parou à frente dele, acenando com a mão para lhe chamar a atenção. Ele olhou para cima e disse:
— Tenho Belfast numa linha e Dublin na outra. É bom que seja importante, merda.
— Eé.
— Aguenta um minuto — gritou ele para os bocais dos dois telefones. Olhou para Ginger. — Fala.
— Acabou de telefonar um homem a reivindicar os atentados.
— Um maluco, provavelmente.
— Acho que não. Parecia mesmo ser uma coisa a sério.
— Alguma vez ouviste o que é uma coisa a sério?
— Não, mas...
— Então, como é que podes ter a certeza?
— Havia qualquer coisa nele — respondeu Ginger. — Não sei como explicá-lo, Alan, mas ele acagaçou-me realmente.
Ramsey estendeu a mão e Ginger deu-lhe o depoimento. Ele deu uma olhadela à caligrafia garatujada dela, franziu o sobrolho e devolveu-lho.
— Meu Deus, és capaz de decifrar isto, se fazes favor? Ela leu-lhe o depoimento.
Ramsey perguntou:
— Ele tinha algum sotaque? Ela acenou com a cabeça.
— Irlandês?
— Irlanda do Norte — disse ela. — Belfast Ocidental, diria eu.
— E como é que conseguiste perceber isso?
— Porque nasci em Belfast. Vivemos lá até aos meus dez anos. Quando ficamos com esse sotaque na cabeça, é muito difícil esquecê-lo.
Ele olhou para o grande relógio digital na parede: dez minutos para irem para o ar.
— Quanto tempo é que demoras a teclar essa coisa?
— Uns quinze segundos.
— Tens exactamente dez.
— Certo — disse ela, sentando-se à frente de um computador.
Ramsey tirou uma agenda electrónica do bolso do casaco e escreveu o apelido de um amigo de Cambridge que trabalhava para o MI5. Pegou no telefone, marcou o número e tamborilou os dedos na secretária enquanto esperava.
— Olá, Graham, fala o Alan Ramsey. Ouve, recebemos uma chamada telefónica muito interessante há poucos momentos e eu estava a pensar se poderia aproveitar-me da nossa amizade.
Ginger largou uma cópia impressa do depoimento em cima da secretária. Ramsey leu-a ao telefone. Depois tomou notas furiosamente durante trinta segundos.
— Certo, muito obrigado — disse. — A qualquer altura em que possa retribuir-te o favor, não hesites em telefonar-me.
Ramsey desligou o telefone com força e levantou-se da secretária.
— Muito bem, ouçam todos! — gritou, com o estúdio a ficar em silêncio. — Temos aquilo que parece ser uma reivindicação genuína dos ataques em Belfast, Dublin e Heathrow: um novo grupo chamado Brigada para a Libertação do Ulster. Vamos abrir o noticiário com isso. Ponham-se ao telefone e tragam-me todos os peritos em terrorismo irlandês em que consigam pôr as mãos em cima, especialmente terrorismo protestante. Temos cinco minutos, senhoras e senhores. Se o sacana tiver pulso, ponham-no no ar.
Capítulo 3
PORTADOWN, IRLANDA DO NORTE
Um dos alvos da investigação estava nesse momento sentado na sua sala de estar em Portadown a ver televisão. Os habitantes da urbanização de Brownstown não deixam margem para dúvidas quanto à sua lealdade. Bandeiras desbotadas do Reino Unido esvoaçam no cimo de muitas das casas e os parapeitos estão enfeitados com faixas vermelhas, brancas e azuis. Kyle Blake não alinhava nessas manifestações de fidelidade. De facto, tendia a manter as suas opiniões políticas — e, já agora, tudo o mais que considerasse importante — muito para si próprio. Não pertencia a quaisquer organizações unionistas, ia à missa com pouca frequência e nunca falava sobre política em público. Ainda assim, dentro das paredes de Brownstown, sabia-se bastante coisa acerca dele, ou pelo menos suspeitava-se. Era um homem duro, em tempos um oficial veterano da Força de Voluntários do Ulster, um homem que tinha cumprido pena na prisão de Maze por matar católicos.
Kyle Blake viu na televisão a notícia de abertura das Nine O'Clock News.
A BBC recebeu há poucos momentos uma chamada telefónica de um grupo protestante intitulado Brigada para a Libertação do Ulster. O grupo opõe-se ao acordo de paz de Sexta-Feira Santa. Reivindica a responsabilidade pelos ataques e promete continuar a sua campanha de terror até que o acordo seja anulado.
Kyle Blake não sentiu necessidade de continuar a ver e por isso ficou de pé junto a uma porta aberta que dava para um jardim mal tratado, a fumar mais um cigarro de uma torrente infindável. O ar cheirava a pastos húmidos. Blake atirou a beata para um canteiro de flores cheio de ervas daninhas e ouviu a reacção de um especialista em assuntos da Irlanda do-Norte proveniente do University College de Londres. Fechou a porta e desligou a televisão.
Entrou na cozinha e fez uma série de telefonemas rápidos enquanto a sua mulher de há vinte anos, Rosemary, lavava os pratos do jantar. Ela sabia o que o marido fazia — não havia segredos entre eles, exceptuando os pormenores operacionais mais específicos do seu trabalho — e por isso as conversas codificadas ao telefone pareciam perfeitamente normais. — Vou sair.
Rosemary tirou um cachecol do cabide e amarrou-o à volta do pescoço dele, olhando-lhe atentamente para a cara como se estivesse a vê-la pela primeira vez. Era um homem pequeno, apenas um pouco mais alto do que Rosemary, e o facto de fumar continuamente tinha-o deixado tão magro como um corredor de longa distância. Tinha olhos cinzentos e vigilantes, embutidos profundamente na cara, e umas maçãs de rosto cadavéricas. A sua figura frágil disfarçava um corpo com imensa força; quando Rosemary o abraçou, sentiu-lhe os nós dos músculos dos ombros e das costas.
— Tem cuidado — sussurrou-lhe ao ouvido. Blake pegou num casaco e beijou-a na cara.
— Mantém a porta trancada e não fiques acordada à minha espera.
Kyle Blake era tipógrafo de profissão e o único veículo da família, uma pequena carrinha Ford, ostentava o nome da sua oficina em Portadown. Instintivamente, inspeccionou a parte de baixo da viatura, à procura de explosivos, antes de entrar e pôr o motor a trabalhar. Atravessou a urbanização de Brownstown. A cara gigante de Billy Wright, o fanático assassino protestante assassinado na prisão de Maze por terroristas católicos, olhava fixamente da fachada lateral de uma das casas contíguas.
Blake fixou o olhar em frente. Virou para a Armagh Road e seguiu atrás de um veículo militar de transporte de tropas, em direcção ao centro de Portadown.
Sintonizou a Radio Ulster, que estava a difundir um boletim especial sobre a reivindicação de responsabilidade pela Brigada para a Libertação do Ulster. A RUC tinha lançado alertas de segurança em secções do condado de Antrim e do condado de Down. Os condutores eram avisados para contarem com atrasos devido a bloqueios de estradas.
"Outros sítios têm actualizações de trânsito na rádio", pensou Kyle Blake, "o Ulster tem alertas de segurança." Desligou o rádio e ficou a ouvir a batida de ritmo constante dos limpa-pára-brisas contra a chuva.
Kyle Blake nunca tinha frequentado a universidade, mas era um estudioso da história da Irlanda do Norte. Riu-se quando leu que os problemas da província tinham começado em 1969; há séculos que protestantes e católicos andavam a matar-se uns aos outros no Norte do condado de Armagh. Tinham surgido e caído impérios, tinham sido travadas duas guerras mundiais, o homem tinha ido à Lua e voltado, mas nada mudara muito nas colinas suaves e nos vales estreitos e profundos entre os rios Bann e Callon.
Kyle Blake conseguia traçar as suas origens no condado de Armagh até quatrocentos anos atrás. Os seus antepassados tinham vindo das Terras Altas da Escócia durante a grande colonização do Ulster, a qual teve início em 1609. Combateram ao lado de Oliver Cromwell quando este desembarcou no Ulster para acabar com as rebeliões católicas. Participaram nos massacres de católicos em Drogheda e Wexford. Quando Cromwell confiscou as terras de cultura dos católicos, os antepassados de Blake cultivaram os campos e apoderaram-se dos terrenos. Nos séculos XVIII e XIX, quando a violência sectária se exacerbou em Armagh, membros do clã Blake juntaram-se aos Peep O'Day Boys, assim chamados porque atacavam as casas dos católicos mesmo antes do amanhecer. Em 1795, os Blake ajudaram a fundar a Ordem de Orange.
Durante quase dois séculos, os homens da Ordem de Orange de Portadown marcharam até à igreja paroquial de Drumcree no domingo anterior a 12 de Julho — o aniversário da vitória de Guilherme de Orange na Batalha de Boyne. Porém, no Verão anterior — a primeira temporada das marchas depois do acordo de paz —, o governo tinha concordado com as exigências dos católicos e proibido os protestantes de regressarem a Portadown pela Garvaghy Road, maioritariamente católica. A suspensão inflamou a violência ao longo do Ulster, culminando na morte de três jovens católicos quando os lealistas lhes lançaram uma bomba incendiária pela janela da casa, em Ballymoney.
Kyle Blake já não era um homem da Ordem de Orange — tinha-a abandonado há uns anos, quando se envolveu pela primeira vez com os paramilitares protestantes —, mas o espectáculo do exército britânico a bloquear o caminho aos manifestantes lealistas foi demasiado para ele. Achava que os protestantes tinham o direito de se manifestar numa estrada pública quando e onde quer que quisessem. Achava que as paradas anuais eram uma expressão legítima da herança e cultura protestantes na Irlanda do Norte.
E achava que qualquer violação ao direito de manifestação era mais outra concessão aos cabrões dos tazgs[5].
Para Blake, a suspensão ocorrida em Drumcree revelava uma coisa muito mais ameaçadora em relação ao panorama político da Irlanda do Norte: a supremacia protestante no Ulster tinha-se desmoronado e os católicos estavam a ganhar.
Durante trinta anos, Blake tinha observado os britânicos a fazerem concessões atrás de concessões aos católicos e ao IRA, mas o acordo de Sexta-Feira Santa foi mais do que conseguia suportar. Blake achava que isso só podia levar a uma coisa: a retirada britânica da Irlanda do Norte e a união com a República da Irlanda. Duas tentativas anteriores com vista à obtenção da paz no Ulster — o Acordo Sunningdale e o Acordo Anglo-Irlandês — tinham sido dinamitados pela intransigência protestante.
Kyle Blake tinha jurado destruir também o acordo de Sexta-Feira Santa.
Tinha dado o primeiro passo na noite anterior. Engendrara uma das mais impressionantes demonstrações de terrorismo internacional já imaginadas, atacando simultaneamente o Sinn Fein, o governo irlandês e o povo britânico.
Os pináculos da Igreja de St. Mark surgiram à sua frente, assomando por cima da Market High Street. Blake estacionou em frente à sua oficina de tipografia, apesar de ainda se encontrar a vários quarteirões do seu destino. Procurou cuidadosamente sinais de vigilância enquanto passava pelas lojas fechadas e respectivas montras.
Ironicamente, Blake foi buscar a sua inspiração táctica não aos paramilitares protestantes do passado mas sim aos homens que tinham cometido sucessivos atentados à bomba na sua Portadown natal, o IRA. Desde o começo dos actuais Troubks em 1969, o IRA tinha confrontado os seus inimigos — o exército britânico e a Polícia Real do Ulster — e cometido também impressionantes actos de terrorismo. O IRA tinha matado soldados britânicos, assassinado o lorde Mountbatten e chegado a tentar fazer ir pelos ares o governo britânico inteiro, mas mantivera ainda assim a imagem de defensor de um povo oprimido.
Blake queria virar do avesso a política sectária da Irlanda do Norte. Queria mostrar ao mundo que o modo de vida protestante no Ulster estava debaixo de cerco. E estava determinado a jogar a carta do terrorismo para o fazer — com mais força e melhor do que o IRA alguma vez sonhara.
Blake entrou numa pequena rua secundária e entrou no pub McConville's. A sala estava escura, apinhada e coberta por uma cortina azul de fumo de cigarro. Encostadas às paredes almofadas, havia reservados de portas altas, suficientemente amplos para lá caber meia dúzia de pessoas.
O barman que se encontrava atrás do balcão cor de bronze olhou para cima quando Blake entrou.
— Ouviste a notícia, Kyle? Blake abanou a cabeça.
— Qual notícia?
— Houve uma reivindicação de responsabilidade. Foram os prods[6]. Um grupo que se intitula Brigada para a Libertação do Ulster.
— Não me digas, Jimmie.
O barman inclinou a cabeça na direcção do canto mais longínquo da sala.
— O Gavin e a Rebecca estão à tua espera.
Blake piscou o olho e avançou pela sala. Bateu uma vez à porta do reservado e entrou sorrateiramente. Duas pessoas estavam sentadas à volta da pequena mesa, um homem grande com uma camisola de gola alta preta e um casaco desportivo cinzento de bombazina e uma mulher atraente com um pulôver de lã bege. O homem era Gavin Spencer, o chefe das operações da brigada. A mulher era Rebecca Wells, a comandante dos serviços de espionagem da brigada.
Blake tirou o casaco e pendurou-o num cabide na parede. O barman apareceu.
Blake disse:
— Três Guinness, Jimmie.
— Se tens fome, posso ir ali ao lado num instante arranjar umas sandes.
— Umas sandes era óptimo.
Blake entregou ao homem uma nota de dez libras; depois fechou a porta do reservado e sentou-se. Ficaram sentados em silêncio por um momento, a olhar uns para os outros. Era a primeira vez que se atreviam a reunir-se depois dos ataques. Todos eles estavam extasiados com o sucesso das operações, mas ao mesmo tempo todos se encontravam tensos. Tinham tomado consciência de que agora já não havia maneira de voltar atrás.
— Como é que estão os teus homens? — perguntou Blake a Gavin Spencer.
— Estão prontos para mais — respondeu Spencer.
Tinha o corpo poderoso de um trabalhador das docas e o ar desgrenhado de um dramaturgo. O cabelo preto estava carregado de tons grisalhos e uma madeixa de cabelo espessa caía-lhe permanentemente por entre um par de olhos azuis e intensos. Tal como Blake, tinha servido no exército britânico e fora membro da Força de Voluntários do Ulster.
— Mas obviamente que estão um bocadinho preocupados com os cronómetros dos detonadores.
Blake acendeu um cigarro e esfregou os olhos. Tinha sido dele a decisão de sacrificar os bombistas em Dublin e Londres através da manipulação dos cronómetros das bombas. O seu raciocínio era tão simples como maquiavélico. Estava num frente-a-frente com o poder instalado dos serviços secretos e de segurança britânicos, um dos mais impiedosos e eficientes da Europa. A Brigada para a Libertação do Ulster precisava de sobreviver para poder continuar a sua campanha de violência. Se qualquer um dos bombistas tivesse caído nas mãos da polícia, a brigada estaria em sério perigo.
— Diz-lhes que a culpa é dos fabricantes das bombas — soltou Blake. — Diz-lhes que somos novos neste jogo. O IRA tem o seu próprio departamento de engenharia, dedicado apenas e tão-só a construir melhores bombas. Mas mesmo o IRA comete erros. Quando quebraram o cessar-fogo em noventa e seis, as primeiras bombas não funcionaram bem. Tinham perdido a prática.
— Vou dizer isso aos meus homens — respondeu Gavin Spencer. — Podem acreditar em nós uma vez, mas se voltar a acontecer vão ficar desconfiados. Se queremos ganhar esta luta, precisamos de homens dispostos a puxar o gatilho e a colocar bombas.
Blake começou a falar, mas houve um toque suave na porta do cubículo e ele deteve-se. O barman entrou e entregou a Blake um pacote de sandes.
— E em relação ao Bates? — perguntou Blake depois de o barman sair.
— Podemos ter um problema — respondeu Rebecca Wells. Blake e Spencer olharam para a mulher. Era alta e estava em boa forma, com a camisola de lã larga a não conseguir esconder-lhe os ombros quadrados. Os cabelos pretos caíam-lhe pelo rosto e pescoço, enquadrando os largos ossos malares. Os olhos eram ovais e da cor de um nublado céu de Inverno. Como muitas mulheres na Irlanda do Norte tinha ficado viúva muito nova. O marido tinha trabalhado na divisão de espionagem da UVF até um terrorista do IRA o assassinar em Belfast Ocidental. Na altura, Rebecca estava grávida. Abortou nessa noite. Depois de recuperar, juntou-se à UVF e deu continuidade ao trabalho do marido. Abandonou a organização quando esta concordou com um cessar-fogo e, alguns meses mais tarde, juntou forças com Kyle Blake secretamente.
Se alguém merecia crédito pelo assassínio de Eamonn Dillon, era Rebecca Wells. Tinha desenvolvido pacientemente uma fonte no interior da sede do Sinn Fein, na Falis Road, uma jovem muito pouco atraente que fazia parte da equipa administrativa. Tinha-se tornado amiga dela, levando-a a tomar bebidas, tinha-a apresentado a homens.
Passados vários meses, a relação começou a dar frutos. A rapariga forneceu inadvertidamente a Rebecca uma torrente contínua de informações sobre o Sinn Fein e os seus membros principais: estratégias, disputas internas, hábitos pessoais, gostos sexuais, movimentos e segurança. Rebecca deu esta informação a Gavin Spencer, que a seguir planeou o assassínio de Dillon.
— A polícia tem um retrato robô dele — disse ela. — Todos os agentes na província trazem um no bolso. Não podemos deslocá-lo outra vez até as coisas arrefecerem.
— As coisas não vão arrefecer nunca, Rebecca — respondeu Blake.
— Quanto mais tempo ele ficar escondido, maiores são as hipóteses de ser apanhado — comentou ela. — E, se for apanhado, ficamos com sérios problemas.
Blake olhou para Gavin Spencer.
— Onde é que o Bates está agora?
O homem que se encontrava no celeiro feito de pedra em bruto à saída de Hillsborough tinha sido deslocado meia dúzia de vezes desde a morte de Eamonn Dillon na Falis Road. Não lhe tinha sido permitido ouvir rádio, por receio de que as escutas das unidades de espionagem de elite do exército britânico pudessem captar o som. Não lhe tinha sido permitido utilizar um fogão, com medo de que os sensores de infravermelhos do exército pudessem detectar uma fonte de calor invulgar. A sua cama era de lona e dobrável, típica do exército e dura como tijolo, com um cobertor tão áspero como fibra de lã; o oleado verde-escuro que tinha usado durante o assassínio servia de almofada. Sobrevivia à custa de produtos secos — biscoitos, bolachas, nozes — e de carnes enlatadas. Era-lhe permitido fumar, embora tivesse de ter cuidado para não pegar fogo ao feno. Mijava e cagava para dentro de um grande tacho. De início, o fedor era insuportável, mas aos poucos foi-se habituando.
Queria despejar aquela coisa, mas os agentes responsáveis por si tinham-no avisado para nunca pôr o pé fora do celeiro, nem mesmo à noite.
Tinham-lhe deixado uma estranha colecção de livros: biografias de Wolfe Tone, Eamon De Valera e Michael Collins[7] e um par de livros gastos de poesia republicana violenta. Num deles, estava enfiada uma nota escrita à mão: Sun Tsu disse que devíamos conhecer o nosso inimigo. Lê isto e aprende. Mas, na maior parte do tempo, o homem ficava apenas estendido na cama de lona, olhando fixamente para a escuridão, fumando os seus cigarros, revivendo aqueles breves momentos na Falis Road.
Bates ouviu o barulho de um motor. Levantou-se e espreitou por uma janela pequena. Uma carrinha movia-se ruidosamente sobre o caminho não pavimentado, com os faróis apagados. Parou no ensopado de lama e cascalho à frente da porta do celeiro. Desceram duas pessoas; o condutor era grande e encorpado, o passageiro era pequeno e tinha um andar mais ligeiro. Uns segundos depois, Bates ouviu bater à porta.
— Vai para a cama e deita-te de barriga para baixo — disse a voz do outro lado da porta.
Bates fez o lhe foi dito. Ouviu o som de duas pessoas a entrar no celeiro. Um momento depois, a mesma voz mandou-o sentar-se. O homem grande estava sentado numa pilha de sacos de ração; o vulto mais pequeno andava de um lado para o outro, atrás dele, como uma consciência atormentada.
— Peço desculpa pelo cheiro — disse Bates, pouco à vontade. — Fumo para o esconder. Importam-se?
Pelo clarão de um fósforo, Bates pôde ver que ambos os seus visitantes estavam a usar balaclavas. Tocou com a chama na extremidade do cigarro e apagou o fósforo com um sopro, lançando o celeiro de novo numa escuridão total.
— Quando é que posso sair? — perguntou.
Antes da execução de Dillon, tinham dito a Bates que seria enviado para fora da Irlanda do Norte assim que as coisas acalmassem. Tinham-lhe dito que havia amigos num trecho isolado das Terras Altas da Escócia. Num sítio onde os serviços de segurança nunca o encontrariam.
— Ainda não é seguro fazer-te sair daqui — respondeu o homem grande. — A RUC tem um retrato robô teu. Precisamos de deixar as coisas acalmarem um bocadinho mais.
Bates levantou-se abruptamente.
— Meu Deus, estou a endoidecer neste buraco! Não podem mudar-me para outro lugar qualquer?
— Por agora, estás seguro aqui. Não podemos arriscar mudar-te para outro sítio outra vez.
Bates sentou-se, derrotado. Largou a ponta do cigarro no chão de terra batida e triturou-o com o sapato.
— Então e os outros? — perguntou. — Os agentes responsáveis por Dublin e Londres?
— Também estão escondidos — respondeu o homem. — É tudo o que posso dizer.
— Já se fez a reivindicação do atentado?
— Fizemo-la esta noite. Aquilo lá fora está um inferno, bloqueios de estradas e pontos de inspecção desde o condado de Antrim até à fronteira. Até que as coisas afrouxem um pouco, não podemos sequer pensar em mudar-te.
Bates acendeu outro fósforo, iluminando o local por um instante, com os dois visitantes encapuçados, um sentado e o outro em pé, como estátuas num jardim. Acendeu outro cigarro e apagou o fósforo abanando a mão.
— Há alguma coisa que possamos arranjar-te para ajudar a passar o tempo?
— Uma rapariga leviana seria simpático. O comentário foi acolhido com silêncio.
— Deita-te na cama — repetiu o homem sentado. — De barriga para baixo.
Charles Bates fez o que lhe disseram. Ouviu o ruído dos sacos de ração no momento em que o homem grande com tatuagens nas mãos se pôs de pé. Ouviu a porta do celeiro balançar ao abrir-se.
A seguir, sentiu qualquer coisa fria e dura ser encostada com força à nuca. Ouviu um ligeiro clique, viu um clarão de luz brilhante e depois apenas escuridão.
Rebecca Wells enfiou a pistola Walther com silenciador no bolso do casaco ao subir para a carrinha. Gavin Spencer pôs o motor a trabalhar, deu a volta e conduziu ao longo do caminho esburacado da quinta até atingir a estrada BI 77. Esperaram até se encontrarem longe da quinta antes de tirarem as balaclavas. Rebecca Wells olhou pela janela enquanto Spencer ia conduzindo com perícia pela estrada ondulada e sinuosa.
— Não precisavas de fazer aquilo, Rebecca. Eu tê-lo-ia feito por ti.
— Estás a dizer que não sou suficientemente boa no meu trabalho?
— Não, estou só a dizer que não está certo.
— O que é que não está certo?
— Uma mulher matar — disse Spencer. — Não está certo.
— Então e a Dama? — respondeu Rebecca, utilizando o nome de código da mulher que tinha levado a mala com a bomba para dentro do metropolitano de Londres. — Ela matou muito mais pessoas do que eu hoje à noite e além disso sacrificou a vida.
— Tens razão.
— Sou responsável pela espionagem e pela segurança interna — disse ela. — O Kyle queria-o morto. Era meu dever matá-lo.
Spencer deixou cair o assunto. Ligou o rádio para ajudar a passar o tempo. Virou para a Al e seguiu em direcção a Banbridge. Passados uns momentos, Rebecca gemeu:
— Pára.
Ele travou de repente, parando na berma da estrada. Rebecca abriu a porta e cambaleou para fora da carrinha, à chuva. Deixou-se cair com as mãos e os joelhos no chão, iluminada pela luz dos faróis, e vomitou violentamente.
Capítulo 4
WASHINGTON
A reunião entre o primeiro-ministro Tony Blair e o presidente James Beckwith tinha sido marcada com bastante antecedência; o facto de ocorrer uma semana depois de a Brigada para a Libertação do Ulster ter lançado a sua onda de terror era uma coincidência. De facto, os dois homens fizeram grande questão de descrever a reunião como uma rotineira troca de opiniões entre bons amigos, o que em muitos aspectos era. Quando o primeiro-ministro chegou à Casa Branca vindo da Blair House, os aposentos para convidados situado do outro lado da rua, o presidente Beckwith assegurou à sua visita que a mansão tinha sido assim denominada em sua honra. O primeiro-ministro exibiu o seu famoso sorriso rasgado e assegurou ao presidente Beckwith que, da próxima vez que este fosse a Londres, um marco britânico seria nomeado em sua honra.
Durante duas horas, o presidente e o primeiro-ministro estiveram reunidos com os seus assessores e assistentes na Sala Roosevelt da Casa Branca. A ordem de trabalhos incluía uma vasta variedade de questões: a coordenação da defesa e da política externa, as políticas monetárias e comerciais, a tensão étnica nos Balcãs, o processo de paz no Médio Oriente e, claro, a Irlanda do Norte. Um pouco depois do meio-dia, os dois líderes dirigiram-se para a Sala Oval para um almoço privado.
A neve caía sobre South Lawn enquanto os dois homens se deixaram ficar à janela atrás da secretária de Beckwith, a admirar a vista.
Um grande lume ardia vigorosamente na lareira e estava uma mesa posta à sua frente. O presidente agarrou amigavelmente o convidado pelo braço e conduziu-o pela sala.
Depois de uma vida inteira na política, James Beckwith sentia-se confortável com os aspectos cerimoniais do seu trabalho. O corpo de imprensa destacado para Washington dizia frequentemente que ele era o melhor actor que tinha ocupado a Sala Oval desde Ronald Reagan.
Todavia, começava a cansar-se de tudo aquilo. Tinha ganho à justa a reeleição, mantendo-se atrás do seu adversário, o senador democrata Andrew Sterling, do Nebrasca, durante a campanha, até que um grupo terrorista árabe fez explodir um avião a jacto comercial ao largo de Long Island. A hábil condução da crise por Beckwith — e os seus rápidos ataques retaliatórios contra os terroristas — tinha ajudado a virar a maré.
Agora, tinha-se instalado confortavelmente na posição de governante em final de mandato anunciado. O Congresso, controlado pelos democratas, tinha descartado o objectivo principal do seu segundo mandato, a construção de um sistema de defesa de mísseis nacional. A sua lista de prioridades, ou o que restava dela, consistia numa série de iniciativas conservadoras menores que não requeriam o apoio do Congresso. Dois membros do seu gabinete estavam debaixo do ataque de advogados independentes por má conduta financeira. Todas as noites, ao jantar, Beckwith e a mulher, Anne, falavam cada vez menos sobre política e mais sobre como iriam passar a reforma na Califórnia.
Ele tinha mesmo acedido ao desejo antigo de Anne de passar as férias de Verão nas montanhas do Norte de Itália. Em anos anteriores, os seus estrategas tinham-no avisado que fazer férias no estrangeiro seria politicamente desastroso. Beckwith já não queria pura e simplesmente saber. Os amigos mais chegados atribuíram esse afastamento à perda do seu amigo e chefe do estado-maior, Paul Vandenberg, que aparentemente se suicidara com um tiro em Roosevelt Island, no rio Potomac, um ano antes.
Os dois homens sentaram-se para almoçar. Tony Blair era famoso por comer rapidamente — um facto incluído nos relatórios de Beckwith — e tinha devorado o seu peito de galinha grelhado e arroz pilaf antes de Beckwith ter consumido um quarto da sua refeição. Beckwith estava esfomeado depois de uma manhã de intensas discussões e, por isso, fez o líder britânico ficar pacientemente sentado enquanto terminava o resto do almoço.
A relação deles azedara no ano anterior, quando Blair criticou publicamente Beckwith por ter lançado ataques aéreos contra a Espada de Gaza, o grupo terrorista palestiniano responsabilizado pelo abate de um jacto da TransAtlantic Airlines ao largo de Long Island. Algumas semanas depois, a Espada de Gaza retaliou atacando o balcão da TransAtlantic no Aeroporto de Heathrow, em Londres, matando vários passageiros americanos e ingleses. Beckwith nunca se esqueceu da reprimenda de Blair. Conhecido por tratar por tu a maioria dos líderes mundiais, Beckwith referiu-se propositadamente a Blair como "o senhor primeiro-ministro". Blair respondeu na mesma moeda, referindo-se a Beckwith como "o senhor presidente".
Beckwith terminou de almoçar lentamente enquanto Blair ia falando monotonamente sobre um manual de economia "verdadeiramente fascinante" que tinha lido durante o voo de Londres para Washington. Blair era um leitor voraz e Beckwith respeitava genuinamente o seu poderoso intelecto. "Meu Deus", pensou ele, "eu quase não consigo terminar os meus relatórios à noite sem adormecer."
Um criado levantou os restos do almoço. Beckwith tomou chá e Blair, café. A conversa caiu num silêncio repentino. A lareira crepitava como pequenas armas. Blair fez questão de mostrar que estava a olhar pela janela por um momento, na direcção do Monumento de Washington, antes de falar.
— Quero ser muito franco consigo a respeito de uma coisa, senhor presidente — disse Blair, afastando os olhos da janela e encarando o olhar fixo e azul-pálido de Beckwith. — Eu sei que a nossa relação não tem sido sempre tão boa quanto devia ser, mas preciso de pedir-lhe um favor muito importante.
— A nossa relação não é tão boa como podia ser, senhor primeiro-ministro, porque o senhor se distanciou publicamente dos Estados Unidos quando eu ordenei ataques aéreos contra as bases de treino da Espada de Gaza. Precisei do seu apoio nessa altura e o senhor não esteve presente para me ajudar.
Um criado entrou na sala com a sobremesa, mas, sentindo que a conversa se tinha tornado séria, retirou-se rapidamente. Blair olhou para baixo, controlando as suas emoções, e voltou a olhar em frente.
— Senhor presidente, eu disse o que disse porque acreditei ser esse o caso. Achei que os ataques aéreos tinham sido demasiado pesados, prematuros e baseados em provas no mínimo suspeitas. Achei que apenas aumentariam a tensão e prejudicariam a causa da paz no Médio Oriente. Julgo que se provou que eu tinha razão.
Beckwith sabia que Blair estava a referir-se ao ataque da Espada de Gaza ao Aeroporto de Heathrow.
— Senhor primeiro-ministro, se estava preocupado, devia ter pegado no telefone e ligado para mim em vez de ter corrido para o jornalista mais próximo. Os aliados apoiam-se uns aos outros, mesmo quando os seus líderes vêm de extremos opostos do espectro político.
O olhar frio de Blair tornava evidente que não tinha apreciado o sermão de Beckwith sobre os princípios fundamentais da arte de governar. Saboreou o café com pequenos goles enquanto Beckwith continuou:
— Na verdade, suspeito que a Espada de Gaza tenha escolhido retaliar em solo britânico porque os comentários que o senhor fez os levaram a acreditar que podiam pôr dois velhos aliados um contra o outro.
Blair levantou os olhos da chávena de café como se tivesse sido atingido com um murro.
— O senhor não está a sugerir que eu devo ser responsabilizado pelo ataque em Heathrow.
— Claro que não, senhor primeiro-ministro. Fazer uma coisa dessas não seria próprio de bons amigos.
Blair recolocou a chávena no pires e afastou-o alguns centímetros.
— Senhor presidente, quero falar consigo sobre a substituição do embaixador Hathaway.
— Muito bem — respondeu Beckwith.
— Se posso ser franco, senhor presidente, vi alguns dos nomes que está a considerar e, sinceramente, não estou impressionado por aí além.
As faces de Beckwith ganharam cor, mas Blair continuou a investir.
— Estava à espera de alguém um bocadinho mais talentoso.
Beckwith manteve-se em silêncio enquanto Blair dizia de sua justiça. O The New York Times tinha publicado um artigo no início da semana que incluía os nomes de meia dúzia de candidatos ao lugar. Os nomes estavam correctos porque resultavam de uma fuga de informação por ordem de Beckwith. A lista incluía vários grandes doadores republicanos, com um par de agentes do Serviço de Estrangeiros postos lá para fazer número. Londres era um posto político por tradição e Beckwith estava sob pressão do Comité Nacional Republicano para que utilizasse a nomeação temporária para recompensar um benfeitor generoso.
Blair disse:
— Senhor presidente, está familiarizado com a expressão americana "toma e embrulha"?
Beckwith acenou com a cabeça, mas a sua expressão tornou evidente que nunca utilizava linguagem de rua tão rude.
— Senhor presidente, este grupo chamado Brigada para a Libertação do Ulster lançou a sua campanha de terror porque quer anular os passos para a paz que demos na Irlanda do Norte. Quero demonstrar a esses terroristas cobardes, e ao mundo, que nunca terão sucesso. Quero que eles "tomem e embrulhem", senhor presidente, e preciso da sua ajuda.
Beckwith sorriu pela primeira vez.
— Como é que posso ajudar, senhor primeiro-ministro?
— Pode ajudar nomeando uma superestrela para ser o vosso próximo embaixador em Londres. Alguém que todas as partes possam respeitar. Um nome que todos conheçam.
Não quero alguém que vá aquecer o lugar até que o senhor deixe o seu cargo. Quero alguém que me possa ajudar a atingir o meu objectivo, uma resolução permanente para o conflito na Irlanda do Norte.
A intensidade e a honestidade dos argumentos do homem mais novo eram impressionantes. Mas Beckwith estava na política há tempo suficiente para saber que não se deve dar nada sem receber algo em troca.
— Se eu nomear uma superestrela para Londres, o que é que ganho em troca?
Blair sorriu rasgadamente.
— Ganha o meu inequívoco apoio à sua iniciativa para o comércio europeu.
— De acordo — respondeu Beckwith, depois de uma breve reflexão.
Um criado entrou na sala. Beckwith disse:
— Dois balões de brande, por favor.
As bebidas chegaram passado um momento. Beckwith ergueu o copo.
— Aos bons amigos.
— Aos bons amigos.
Blair beberricou o brande com o cuidado de quem raramente bebe. Pousou cuidadosamente o balão e perguntou:
— Tem algum candidato em mente, senhor presidente?
— Por acaso, Tony, acho que tenho exactamente o homem adequado para o lugar.
Capítulo 5
SHELTER ISLAND, NOVA IORQUE
Durante muitos anos, pouca coisa na imponente casa branca revestida de ripas com vista para Dering Harbor e o estreito de Shelter Island tinha dado a entender que o senador Douglas Cannon era o seu proprietário. Havia convidados ocasionais que requeriam a protecção dos serviços secretos e, às vezes, quando Douglas concorria para a sua reeleição e precisava de dinheiro, havia grandes festas. No entanto, a casa normalmente parecia-se com todas as outras ao longo da Shore Road, apenas um pouco maior e um pouco mais bem cuidada. Depois da reforma e da morte da mulher, o senador tinha começado a passar mais tempo em Cannon Point do que no seu apartamento espaçoso na Quinta Avenida, em Manhattan. Insistiu com os vizinhos para que o tratassem por Douglas e, muito estranhamente, eles concordaram. Cannon Point tornou-se mais acessível do que nunca. As vezes, quando os turistas paravam para olhar ou tirar uma fotografia da propriedade, o senador aparecia no relvado bem tratado, com retrievers a correrem à sua volta, e parava para conversar.
Os intrusos tinham mudado isso tudo.
Duas semanas depois do incidente, a polícia tinha autorizado o senador a reparar todas as recordações visíveis do episódio, eliminando assim as últimas provas físicas.
Um empreiteiro de fora da ilha, de quem ninguém tinha ouvido falar — e que não aparecia em nenhuma lista telefónica —, encarregou-se do trabalho.
Os rumores sobre os danos de grande envergadura espalharam-se pela ilha. Harry Carp, o dono de cara avermelhada da loja de ferragens nos Heights, tinha ouvido dizer que havia uma dúzia de buracos de balas nas paredes da sala de estar e cozinha. Patty McLean, a caixa do Mid-Island Market, ouviu dizer que as manchas de sangue no chalé dos convidados eram tão grandes, que todo o chão teve de ser substituído e as paredes pintadas de novo. Martha Creighton, a mais proeminente agente imobiliária da ilha, previu discretamente que Cannon Point estaria no mercado dentro de seis meses. Certamente, o senador e a sua família iriam querer recomeçar a vida noutro lugar qualquer, murmurou Martha enquanto bebia um cappucáno no café da aldeia.
Mas o senador e a filha, Elizabeth, e o genro, Michael, decidiram ficar. Cannon Point, outrora aberta e acessível, ganhou o ar de um colonato num território ocupado.
Outro empreiteiro obscuro aterrou na propriedade, desta vez para construir uma vedação de tijolo e ferro de três metros e um pequeno abrigo à entrada, revestido de ripas de mau gosto, para um segurança permanente. Quando o trabalho ficou completo, chegou uma segunda equipa para encher a propriedade de câmaras e sensores de movimento. Os vizinhos queixaram-se de que as novas medidas de segurança do senador perturbavam as vistas de Dering Harbor e do estreito. Houve conversas sobre uma petição, alguma resmunguice numa reunião da assembleia local e até mesmo uma ou duas cartas desagradáveis no Shelter Island Repórter. Mas, por altura do Verão, toda a gente se tinha habituado à vedação nova e já ninguém se lembrava por que razão se tinham aborrecido com ela.
— É difícil censurá-los — disse Martha Creighton. — Se ele quer a porra de uma vedação, deixem-no ter a porra de uma vedação. Que raio, eu deixava-o construir um fosso se ele quisesse um.
De Michael Osbourne, sabia-se pouco na ilha. Pensava-se que estaria envolvido em negócios de algum tipo, vendas internacionais ou o dúbio mundo da consultadoria.
Normalmente, isolava-se quando ele e a mulher, Elizabeth, vinham passar o fim-de-semana à ilha. Quando tomava o pequeno-almoço na loja de conveniência dos Heights, ou parava no Dory para beber uma cerveja, levava sempre alguns jornais para protecção. As tentativas de encetar conversas bem-educadas eram repelidas gentilmente; qualquer coisa de grave importância parecia estar sempre a puxar-lhe a vista novamente para os jornais.
A população feminina da ilha achava-o atraente e perdoava-lhe a frieza, considerando-a uma manifestação de uma qualquer timidez interior. Harry Carp, conhecido por dizer as coisas de uma forma directa, referia-se habitualmente a Michael como "esse filho-da-puta malcriado da cidade".
O tiroteio tinha suavizado as opiniões sobre Michael Osbourne, mesmo as de Harry Carp. Segundo os rumores, tinha quase morrido várias vezes essa noite devido a um ferimento de bala — uma vez na doca, em Cannon Point, outra vez no helicóptero e uma terceira vez na mesa de operações do Stony Brook Hospital. Depois de lhe terem dado alta, deixou-se ficar dentro de casa por uns tempos, mas depressa começou a ser avistado a andar cautelosamente pelos terrenos, com o braço direito ao peito, numa ligadura colocada por baixo de um já gasto casaco de cabedal de aviador. Por vezes, podia ser visto parado no final da doca, a olhar para o estreito. Às vezes, normalmente ao fim da tarde, parecia perder-se em si mesmo e ficar por ali — como Gatsby, diria Martha Creighton — até a derradeira luz desaparecer.
— Não percebo porque é que está tanto trânsito a meio de Janeiro — exclamou Elizabeth Osbourne, tamborilando a unha do indicador no descanso central de couro para o braço. Iam a andar a passo de caracol na via rápida de Long Island, atravessando a cidade de Islip, a menos de cinquenta quilómetros à hora.
Michael tinha-se reformado da CIA há um ano e o tempo dizia-lhe pouco — mesmo o tempo perdido no trânsito.
— É sexta-feira à noite — disse ele. — É sempre mau à sexta-feira à noite.
O trânsito foi diminuindo à medida que avançavam para leste, vindos dos subúrbios de Mid-Island. O céu nocturno estava limpo e sentia-se um frio de rachar; uma lua em quarto crescente e de um branco-marfim pairava mesmo acima do horizonte, a norte. A estrada abria-se à sua frente e Michael pisou o acelerador. O motor roncou e, passados alguns segundos, o velocímetro subiu relutantemente para os cento e dez quilómetros. As exigências da paternidade tinham-no compelido a trocar o seu elegante Jaguar prateado por uma gigantesca carrinha.
Os gémeos, embrulhados em cobertores cor-de-rosa e azuis, dormitavam nos seus lugares. Maggie, a ama inglesa, estava esparramada no terceiro assento a dormir profundamente.
Elizabeth esticou-se na escuridão e pegou na mão de Michael. Tinha voltado a trabalhar nessa semana, depois de três meses de baixa de maternidade. Enquanto estivera afastada do trabalho, tinha vestido apenas camisas de flanela, calças de fato de treino largueironas e calças de caqui folgadas. Agora, vestia o uniforme de uma advogada nova-iorquina muito cara: fato cinzento-escuro, relógio de ouro de muito bom gosto e brincos de pérola. Tinha eliminado o peso extra da gravidez fazendo longas caminhadas de uma hora na passadeira instalada no quarto do apartamento na Quinta Avenida. Por debaixo das linhas novas em folha do seu fato Calvin Klein, Elizabeth estava tão esbelta como um manequim. No entanto, notavam-se a tensão e a fadiga de se ter tornado de repente uma mãe trabalhadora. O cabelo curto louro-cinza estava meio desarranjado; os olhos andavam tão vermelhos, que tinha trocado as lentes de contacto por óculos com armações de tartaruga. Michael achava que ela parecia uma estudante de direito esgotada com os estudos para os exames.
— Como é que te sentes por estares de volta? — perguntou Michael.
— Como se nunca tivesse saído. Pára para eu poder fumar um cigarro. Não posso fumar no carro com as crianças.
— Não quero fazer uma paragem desnecessária.
— Vá lá, Michael!
— Tenho de parar em Riverhead para pôr gasolina. Podes fumar um cigarro nessa altura. Esta coisa gasta uns cinquenta litros aos cem quilómetros. Provavelmente, vou ter de encher o depósito uma ou duas vezes daqui até à ilha.
— Oh, meu Deus, não vais começar outra vez a lamuriar-te por causa do Jaguar?
— Só não percebo porque é que tiveste direito a manter o teu Mercedes e eu tive de ficar com este monstro. Sinto-me como uma mamã suburbana a levar os filhos de um lado para o outro.
— Precisávamos de um carro maior e o teu mecânico acabava por passar mais tempo com o teu Jaguar do que tu.
— Continuo a não estar satisfeito.
— Esquece isso, querido.
— Se continuas a falar assim, não vais conseguir meter-me na cama esta noite.
— Não faças ameaças vãs, Michael.
A auto-estrada terminava na cidade de Riverhead. Michael parou numa estação de serviço com supermercado, aberta toda a noite, e encheu o depósito. Elizabeth afastou-se um pouco das bombas e pôs-se a fumar, batendo com os pés com força no betão para aquecer. Tinha renunciado aos cigarros com a gravidez, mas, duas semanas depois do nascimento das crianças, os pesadelos voltaram e ela recomeçou a fumar para acalmar os nervos.
Michael seguiu a grande velocidade para leste, ao longo da confluência norte de Long Island, passando por intermináveis campos de relva e vinhas inactivas. De vez em quando, as águas do estreito de Long Island apareciam à sua esquerda — negras, tremeluzentes com o luar. Entrou na aldeia de Greenport e seguiu por ruas sossegadas até chegar ao cais do North Ferry.
Elizabeth estava a dormir. Michael enfiou um casaco de cabedal e saiu para o convés. As ondas de espuma branca batiam contra a proa do ferry, lançando borrifadelas por cima das amuradas. Estava um frio de rachar, mas o capo do carro estava quente do calor do motor. Michael trepou para cima dele e sentou-se, com as mãos enterradas nos bolsos do casaco. Shelter Island surgia à sua frente, do outro lado do estreito, com as luzes todas apagadas à excepção de uma casa de Verão na desembocadura de Dering Harbor, que brilhava com uma imaculada luz branca. Cannon Point.
Quando o ferry atracou, Michael entrou novamente no carro e ligou o motor.
— Estava a olhar para ti, Michael — disse Elizabeth, sem abrir os olhos. — Estavas a pensar naquilo, não estavas?
Não valia a pena mentir-lhe. Ele estava a pensar naquilo — na noite, um ano antes, em que um antigo assassino do KGB, com o nome de código Outubro, tentara matá-los aos dois em Cannon Point.
— Fazes isso muitas vezes? — perguntou ela, interpretando o silêncio dele como uma confirmação.
— Quando estou no ferry a olhar para a casa do teu pai, não posso evitá-lo.
— Eu penso nisso a toda a hora — disse ela, abstraída. — Cada manhã, acordo e penso se será esse o dia; o dia em que tudo vai passar. Mas nunca é.
— Leva tempo — respondeu Michael, acrescentando a seguir: — Muito tempo.
— Achas que ele está mesmo morto?
— O Outubro?
— Sim.
— A CIA acha que sim.
— Etu?
— Eu dormiria melhor se aparecesse um corpo algures, mas não vai aparecer.
Passaram pelos chalés vitorianos e as lojas revestidas de ripas de Shelter Island Heights e aceleraram pela Winthrop Road. Ao luar, Dering Harbor parecia vazio, com a excepção da chalupa de Douglas Cannon, Athena, bem agarrada à sua âncora, com a proa virada para o vento. Michael seguiu pela Shore Road, entrando na aldeia de Dering Harbor, e, passado um momento, parou junto ao portão de Cannon Point.
O segurança da noite saiu do abrigo e apontou uma luz para o carro. Douglas andava a gastar vários milhares de dólares por mês em segurança desde a tentativa de assassínio. A CIA tinha-se oferecido para pagar uma parte da despesa, mas Douglas, eternamente desconfiado da comunidade da espionagem, suportou todos os custos sozinho. Michael seguiu o caminho de saibro, atravessando a propriedade, e parou junto à porta da frente da casa principal. O senador estava à espera deles nas escadas, com um velho casaco de velejar amarelo e os retrievers a brincarem aos seus pés.
A revista The New Yorker foi a primeira a associar Douglas Cannon a Péricles. Ele, apesar de manifestar habitualmente um ligeiro embaraço perante a comparação, não fazia nada para a afastar. Tinha herdado uma riqueza enorme e decidira bem cedo na vida que a perspectiva de meramente aumentar a sua fortuna o deprimia muito. Em vez disso, dedicou-se ao seu primeiro amor, que era a história. Ensinou em Columbia e escreveu livros. O apartamento espaçoso que possuía na Quinta Avenida era um ponto de encontro para escritores, artistas, poetas e músicos. Elizabeth, quando era pequena, conheceu Jack Kerouac, Huey Newton e um estranho homem pequenino com cabelo louro e óculos de sol, chamado Andy. Foi só vários anos depois que percebeu que o homem era Andy Warhol.
Durante o caso Watergate, Douglas compreendeu que não podia continuar confinado às bancadas, como um eterno espectador. Concorreu para o Congresso num distrito de esmagadora maioria liberal-democrata, na midtown de Manhattan, e entrou para a câmara como um reformador na fornada de 1974. Dois anos depois, foi eleito para o Senado. Durante os quatro mandatos que lá passou, foi presidente do Comité de Serviços Armados, da Comissão de Relações Externas e do Comité de Informação e Espionagem.
Douglas tinha sido sempre um pouco iconoclasta, mas desde que se aposentara do Senado as suas roupas e os maneirismos tinham-se tornado mais peculiares do que nunca.
Só usava calças de bombazina esfarrapadas, sapatos antigos para andar de barco e camisolas de lã que, como o próprio dono, começavam a mostrar a idade. Acreditava que a água do mar fria era o segredo para a longevidade e estava constantemente a expor-se a grandes infecções dos brônquios, velejando todo o Inverno e fazendo caminhadas sem fim pelos caminhos pedestres gelados da reserva de Mashomack.
Elizabeth saiu do carro, com o indicador encostado aos lábios, e deu-lhe um beijo na cara.
— Não faças barulho, papá — sussurrou. — As crianças estão a dormir a sono solto.
Michael e Elizabeth tinham para si um conjunto de divisões com vista para o mar: um quarto de dormir principal, uma casa de banho e uma sala de estar privada com televisão. O quarto de dormir contíguo tinha sido convertido num quarto de crianças improvisado. Por superstição, Elizabeth não quisera planear muita coisa antes de os gémeos nascerem e, por isso, o quarto austero não possuía mais do que um par de berços e uma mesa para mudas. As paredes ainda eram de um pálido cinzento e o chão encontrava-se despido. O senador tinha trazido uma velha cadeira de balouço de verga da varanda para dar algum carácter ao quarto. Maggie ajudou Elizabeth a deitar as crianças enquanto Michael e Douglas tomavam um copo de Merlot no andar de baixo, junto à lareira. Elizabeth veio ter com eles passados alguns minutos.
— Como é que eles estão? — perguntou Michael.
— Estão óptimos. A Maggie vai sentar-se junto deles alguns minutos e certifícar-se de que continuam deitados. — Elizabeth afundou-se no sofá. — Serves-me um copo muito grande desse vinho, Michael?
Douglas perguntou:
— Como é que estás a aguentar-te, minha querida?
— Nunca imaginei que isto fosse assim tão duro. — Deu um grande gole do Merlot e fechou os olhos enquanto o vinho lhe fluía pela garganta abaixo. — Eu morria sem a Maggie.
— Não há nada de errado nisso. Tu tiveste uma enfermeira e uma ama e a tua mãe não trabalhava.
— Ela trabalhava, papá! Tomava conta de mim e governava três casas enquanto tu estavas em Washington!
Michael murmurou:
— Mal jogado, Douglas.
— Sabes o que eu quero dizer, Elizabeth. A tua mãe trabalhava, mas não num escritório. Sinceramente, não estou totalmente seguro de que as mães devam trabalhar.
As crianças precisam das mães.
— Não posso acreditar no que estou a ouvir — respondeu Elizabeth. — Douglas Cannon, o grande ícone liberal, acha que as mães devem ficar em casa com os filhos e não trabalhar. Espera até que a Organização Nacional das Mulheres[8] tome conhecimento disto. Meu Deus, afinal de contas, debaixo desse exterior irremediavelmente liberal, bate o coração de um conservador defensor dos valores da família.
— Então e aqui o Michael? — perguntou Douglas. — Está reformado. Não ajuda?
— Eu só jogo bocci[9] todas as tardes com o resto dos rapazes lá na aldeia.
— O Michael é muito bom com as crianças — disse Elizabeth. — Mas peço desculpa por dizer isto: há um limite para o que os pais podem fazer.
— E o que é que isso quer dizer? — perguntou Douglas. O telefone tocou antes de Elizabeth poder responder.
— Salvo pelo gongo, como se costuma dizer — disse Michael. Elizabeth pegou no auscultador e atendeu: "Estou?" Ficou a ouvir com atenção por um momento e, a seguir, disse:
— Sim, está. Espere um momento, se faz favor. Estendeu o auscultador, tapando o bocal.
— É para ti, papá. É da Casa Branca.
— Mas que raio é que a Casa Branca quer de mim às dez da noite de uma sexta-feira?
— O presidente quer falar contigo.
Douglas levantou-se, com uma expressão na cara a meio caminho entre a perplexidade e o aborrecimento, e atravessou vagarosamente a sala, de copo de vinho na mão.
Pegou no telefone que Elizabeth segurava.
— Daqui fala Douglas Cannon... Sim, eu espero... Tapou o auscultador e disse:
— Vão pôr o filho-da-mãe em linha.
Elizabeth e Michael soltaram um risinho abafado. A animosidade entre os dois homens era lendária em Washington. Tinham sido as duas figuras mais poderosas no Comité de Serviços Armados do Senado. Durante muitos anos, Douglas fora o presidente e Beckwith, o membro republicano de posição mais elevada. Quando o GOP[10] reconquistou o controlo do Senado, os dois homens trocaram de lugar. Na altura em que Douglas se reformou, quase não se falavam.
— Boa noite, senhor presidente — disse Douglas com um berro jovial, próprio de uma parada militar.
Maggie surgiu no cimo das escadas e silvou:
— Façam menos barulho ou vão acordar as crianças.
— Ele está a falar com o presidente — sussurrou Elizabeth, impotente.
— Bom, diga-lhe para o fazer mais baixo — respondeu Maggie, rodando nos calcanhares e voltando para o quarto das crianças.
— Estou óptimo, senhor presidente — estava a dizer Douglas. — O que é que posso fazer por si?
Douglas ficou a ouvir por um momento, sem dizer nada, passando uma mão distraidamente pelo espesso cabelo grisalho.
— Não, isso não seria de maneira nenhuma um problema, senhor presidente. De facto, seria encantador... Claro... Sim, senhor presidente... Muito bem, vemo-nos nessa altura.
Douglas pousou o auscultador e disse:
— O Beckwith quer conversar.
— Sobre o quê? — perguntou Michael.
— Não quis dizer. Ele foi sempre assim.
— Quando é que vais a Washington? — perguntou Elizabeth.
— Não vou — respondeu Douglas. — O sacana vem a Shelter Island no domingo de manhã.
Capítulo 6
TAFRAOUTE, MARROCOS
A neve cintilava nas encostas das montanhas do Atlas enquanto a caravana de Range Rover pretos roncava ao longo do trilho pedregoso e esburacado, em direcção à villa nova no cimo do vale. Os veículos eram iguais: pretos, com janelas de vidro fumado e reflector para proteger a identidade dos ocupantes. Todos os passageiros tinham vindo para Marrocos de pontos de embarque diferentes: América Latina, Estados Unidos, Médio Oriente, Europa Ocidental. Iriam todos partir rapidamente, apenas trinta e seis horas mais tarde, quando a conferência tivesse terminado. Havia poucos estrangeiros em Tafraoute nessa altura do ano — uma equipa de alpinistas da Nova Zelândia e uma banda de hippies envelhecidos de Berkeley que tinham aparecido nas montanhas para rezar e fumar haxixe — e a caravana de jipes atraiu os olhares arregalados de curiosos enquanto acelerava pelo vale. Crianças com túnicas coloridas e brilhantes colocavam-se à berma do trilho e acenavam excitadamente enquanto os veículos passavam a roncar numa nuvem de poeira de coloração avermelhada. Dentro das viaturas, ninguém retribuiu os acenos.
A Sociedade para o Desenvolvimento e a Cooperação Internacionais era uma organização completamente privada que não aceitava donativos do exterior nem novos membros, excepto aqueles que seleccionava depois de um processo de triagem rigoroso. Nominalmente, tinha a sua sede social em Genebra, num pequeno escritório com uma placa de ouro de muito bom gosto colocada numa porta austera, frequentemente confundido com um circunspecto banco suíço.
Apesar de o seu nome parecer benevolente, a Sociedade, como era conhecida entre os membros, não era uma ordem altruísta. Tinha sido formada nos anos imediatamente seguintes ao colapso da União Soviética e ao fim da guerra fria. Os seus membros incluíam vários membros actuais e antigos dos serviços secretos e de segurança ocidentais, fabricantes e traficantes de armas, e também líderes de organizações criminosas como as máfias russa e siciliana, cartéis da droga sul-americanos e organizações criminosas asiáticas.
O órgão decisório da Sociedade era o conselho executivo, composto por oito membros. O director executivo era um antigo chefe dos serviços secretos britânicos, o lendário "C" do MI6. Era conhecido simplesmente como "o Director" e nunca era referido pelo nome verdadeiro. Enquanto agente operacional experiente que tinha feito o seu tirocínio nas bases do MI6 em Berlim e Moscovo, o Director supervisionava a administração da Sociedade e dirigia as suas operações a partir da mansão georgiana de alta segurança que possuía em Londres, em St. John's Wood.
O credo da Sociedade declarava que o mundo se tinha tornado um lugar mais perigoso na ausência de um conflito entre o Leste e o Ocidente. A guerra fria tinha proporcionado estabilidade e clareza, a nova ordem mundial, desordem e incerteza. As grandes nações tinham-se tornado complacentes; os grandes exércitos tinham sido castrados.
Por isso, a Sociedade procurava promover uma tensão global controlada e constante através de operações secretas. Actuando dessa forma, conseguia também ganhar uma grande quantidade de dinheiro para os seus membros e investidores.
Ultimamente, o Director procurara expandir o papel e o âmbito da Sociedade. Efectivamente, tinha transformado a organização num serviço secreto para os serviços secretos, uma unidade de operações ultra-secretas que podia levar a cabo acções que, por qualquer razão, um serviço legítimo considerasse demasiado arriscadas ou demasiado desagradáveis.
O Director e os seus quadros tinham tratado das medidas de segurança. A villa ficava na orla do pequeno vale, rodeada por uma cerca electrificada. O deserto à volta da villa era uma rochosa terra de ninguém, coberta por dezenas de câmaras de vigilância e detectores de movimento. Agentes da segurança da Sociedade fortemente armados, todos eles antigos membros da força de comandos de elite britânica, a SAS[11], patrulhavam os terrenos. Instrumentos bloqueadores de rádio emitiam interferências electrónicas para perturbar quaisquer microfones de longo alcance. Os nomes verdadeiros nunca eram mencionados nas reuniões do conselho, pelo que cada membro recebia um nome de código: Rodin, Monet, Van Gogh, Rembrandt, Rothko, Miguel Angelo e Picasso.
Passaram o dia à volta da piscina grande, descontraindo ao ar frio e seco do deserto. Ao anoitecer, tomaram bebidas no amplo terraço de pedra, onde os aquecedores a gás afastavam com o calor o frio da noite, às quais se seguiu uma refeição simples de cuscuz marroquino.
A meia-noite, o Director veio pôr ordem à situação.
Ao longo de praticamente uma hora, o Director falou sobre o estado financeiro da Sociedade. Defendeu a sua decisão de transformar a organização, para que deixasse de ser um mero catalisador para a instabilidade global e se tornasse num exército secreto a tempo inteiro. Sim, desviara-se do plano original, mas durante um breve período de tempo tinha conseguido encher os cofres da Sociedade com milhões de dólares em capital operativo, dinheiro que podia ser bem utilizado.
Os membros do conselho executivo interromperam numa respeitosa salva de palmas, própria de uma sala de reuniões. Sentados à volta da mesa, estavam comerciantes de armas e fornecedores do sector da defesa que enfrentavam mercados em queda, fabricantes de tecnologia química e nuclear que queriam impingir os seus produtos aos exércitos do Terceiro Mundo e chefes dos serviços secretos que se debatiam com orçamentos a encolherem e a perda de poder e influência nos seus capitais.
Durante a hora que se seguiu, o Director conduziu uma mesa-redonda acerca do estado do conflito global. De facto, parecia que o mundo não estava a cooperar com eles.
Sim, havia a ocasional guerra civil na Africa Ocidental, os eritreus e os etíopes andavam em conflito outra vez e a América do Sul continuava propícia à exploração.
Mas o processo de paz no Médio Oriente, apesar de tenso, não tinha fracassado por completo. Os iranianos e os americanos começavam a falar sobre um rapprochement.
Até os protestantes e os católicos da Irlanda do Norte pareciam estar a pôr de lado as suas diferenças.
— Talvez seja altura de fazermos alguns investimentos — disse o Director, em conclusão, olhando para as mãos enquanto falava. — Talvez seja altura de reinvestirmos algum do nosso capital neste ramo. Penso que é uma incumbência para cada um de nós procurar oportunidades onde quer que elas possam estar.
De novo, os aplausos e o tinido de talheres de prata a baterem nos copos interromperam-no. Quando o som se dissipou, abriu a reunião à discussão.
Rembrandt, um dos principais fabricantes mundiais de armas ligeiras, aclarou a garganta e disse:
— Talvez haja alguma maneira de ajudar a atiçar as chamas na Irlanda do Norte.
O Director arqueou uma sobrancelha e pôs-se a catar a costura das calças. Andava à procura de uma maneira de explorar a situação irlandesa, mas mostrava-se relutante em intrometer-se num conflito que envolvia directamente o seu país. Tinha lidado com a Irlanda do Norte quando estava no MI6. Como muitos membros da comunidade da espionagem e de segurança, considerava o IRA um adversário digno, um exército de guerrilha profissional e disciplinado. Os paramilitares protestantes tinham-se mostrado em tudo diferentes, maioritariamente gangsters e bandidos que empreendiam uma campanha de puro terror contra os católicos. Mas este novo grupo, a Brigada para a Libertação do Ulster, parecia diferente e isso intrigava-o.
— A Irlanda do Norte nunca foi um conflito extremamente lucrativo para as pessoas no meu ramo — continuou Rembrandt —, simplesmente por ser tão pequeno. O que me preocupa, no entanto, é a mensagem que o acordo de paz envia ao resto do mundo. Se os protestantes e os católicos da Irlanda do Norte podem aprender a viver em paz depois de centenas de anos de derramamento de sangue... bem, compreende o meu ponto de vista, Director.
— Na verdade, essa mensagem já vingou — interrompeu Rodin, um importante agente dos serviços secretos franceses. — O grupo separatista basco ETA declarou um cessar-fogo em Espanha. Dizem que foram inspirados pela paz na Irlanda do Norte.
— O que é que estás a sugerir, Rembrandt? — perguntou o Director.
— Talvez possamos estender a mão à brigada, oferecermo-nos para a ajudar — disse Rembrandt. — Se o passado servir de alguma indicação, é provavelmente um grupo muito pequeno, com pouco dinheiro e apenas um pequeno stock de armas e explosivos. Se quiserem continuar com a sua campanha, vão precisar de um patrocinador.
— Por acaso, penso que já podemos ter uma abertura — disse Monet.
O Director e Monet tinham trabalhado juntos contra as guerrilhas palestinianas que haviam transformado Londres num campo de recreio para terroristas na década de 1970. Monet era Ari Shamron, o chefe de operações dos serviços secretos israelitas, a Mossad.
— No mês passado, os nossos elementos em Beirute fizeram um relatório sobre um tipo chamado Gavin Spencer, um homem do Uls-ter que tinha ido ao Líbano para comprar armas. Na verdade, acabou por encontrar-se com um dos nossos agentes que se fazia passar por um traficante de armas.
— Os teus agentes venderam armamento ao Spencer? — perguntou o Director, ligeiramente admirado.
— As conversações continuam, Director — respondeu Monet.
— E partilhaste essa informação com os teus homólogos britânicos?
Monet abanou a cabeça.
— Talvez pudesses fazer com que um carregamento de armas vá parar às mãos da Brigada para a Libertação do Ulster — disse o Director a Monet. — Talvez pudesses usar os teus contactos na comunidade bancária para arranjar financiamento para a encomenda em condições generosas.
— Penso que isso pode ser facilmente arranjado, Director — respondeu Monet.
— Muito bem — disse o Director. — Todos os que estão a favor da exploração de contactos com a Brigada para a Libertação do Ulster indiquem-no dizendo sim.
O voto foi unânime.
— Mais alguma questão antes de passarmos para o resto da ordem de trabalhos?
Mais uma vez, foi Monet quem falou:
— Se pudesse fazer o favor de nos pôr a par dos progressos no caso Ahmed Hussein, Director.
Ahmed Hussein era um dirigente do grupo fundamentalista muçulmano Hamas e o cérebro por detrás de uma série de atentados à bomba em Jerusalém e Telavive. A Mossad queria-o morto, mas Monet não se sentira confiante para entregar a missão a um esquadrão de assassinos da Mossad. Em Setembro de 1997, a Mossad tinha tentado matar um membro do Hamas chamado Khaled Meshal, em Amã. A tentativa fracassou e dois agentes da Mossad foram presos pela polícia jordana. Em vez de arriscar um novo falhanço embaraçoso, Monet tinha-se virado para a Sociedade para eliminar Ahmed Hussein.
— Entreguei o trabalho ao mesmo operacional que levou a cabo os contratos do Colin Yardley e do Eric Stoltenberg depois do caso TransAdantic — disse o Director.
— Está a preparar-se para partir para o Cairo e espero que dentro de poucos dias o Ahmed Hussein esteja bem morto.
— Excelente — disse Monet. — As informações de que dispomos indicam que o processo de paz no Médio Oriente não consegue sobreviver a outro golpe de peso. Se a operação for um sucesso, os Territórios Ocupados irão explodir. O Arafat não terá outra escolha a não ser sair das conversações. Espero que no final deste Inverno o processo de paz seja apenas uma má recordação.
Houve uma nova ronda de aplausos comedidos.
— O próximo ponto na ordem de trabalhos é uma actualização sobre os nossos esforços para alimentar o conflito entre a índia e o Paquistão — disse o Director, olhando para os seus papéis. — Os paquistaneses estão a ter uns pequenos problemas com os seus mísseis de médio alcance e pediram a nossa ajuda para resolver os defeitos.
A reunião acabou logo a seguir ao amanhecer.
O membro do conselho com o nome de código Picasso atravessou a planície rosada que separa as montanhas do Adas de Marraquexe num Range Rover com motorista. Picasso tinha entrado em Marrocos com um passaporte falso, com o nome de Lisa Bancroft. O passaporte verdadeiro estava fechado no cofre do seu quarto no hotel de cinco estrelas La Mamounia. Ao regressar ao quarto mais tarde nessa manhã, introduziu o código e a porta do cofre abriu-se com um estalido. 0 passaporte estava lá, bem como algum dinheiro e jóias.
O seu voo era só dali a seis horas, tempo suficiente para tomar banho e dormir cerca de uma hora. Picasso retirou os itens do cofre, despiu-se e estendeu-se na cama.
Abriu o passaporte e olhou para a fotografia.
"Engraçado", pensou ela, "não me pareço muito com o Picasso."
Capítulo 7
SHELTER ISLAND, NOVA IORQUE
A equipa avançada da Casa Branca chegou no sábado de manhã e reservou todos os quartos disponíveis no Manhanset Inn, um hotel vitoriano nos Heights, de arquitectura extremamente ornamentada e com vista para Dering Harbor. O pessoal da Casa Branca tinha pedido delicadamente a Jack Ashcroft, um esgotado banqueiro no mercado de investimentos que tinha comprado o hotel com o bónus de um só ano, para manter esse facto confidencial. A visita do presidente era estritamente privada, explicaram, e ele queria o mínimo de atenção possível. Mas, fosse como fosse, Shelter Island era uma ilha, com o apetite de uma ilha para a bisbilhotice, e à hora de almoço já metade da povoação sabia que o presidente vinha fazer uma visita.
A meio da tarde, Jack Ashcroft começava a temer que fosse tudo um pesadelo. A sua amada estalagem fora virada do avesso. A galardoada casa de jantar tinha sido transformada numa coisa chamada "centro de arquivo". As bonitas mesas de carvalho tinham dado lugar a hediondas mesas de banquete alugadas, envoltas em plástico branco. Umai equipa da companhia de telefones tinha instalado cinquenta linhas temporárias. Outra equipa esvaziara o salão com lareira, fazendo dele um centro de radiodifusão.
Cabos grossos serpenteavam pelos faustosos salões e uma antena parabólica portátil erguia-se no relvado da frente.
As equipas das cadeias noticiosas de televisão chegaram ao final da tarde, algumas vindas de Nova Iorque, outras de Washington. Jack Ashcroft ficou tão zangado, que foi para o quarto e ficou lá sentado numa postura de ioga, a repetir a Oração da Serenidade. Os produtores tinham os olhos remelosos e mostravam-se mal-humorados; os operadores de câmara pareciam pescadores de Greenport — musculosos e barbudos, com roupas que pareciam refugo do exército. Jogaram póquer até depois da meia-noite e esgotaram a cerveja do bar. Ao amanhecer, os serviços secretos espalharam-se pela ilha. Estabeleceram postos fixos nos dois locais da travessia do ferry e postos de controlo em todas as estradas que conduziam a Cannon Point. Atiradores especiais ocuparam as suas posições no telhado do velho edifício e pastores alemães treinados na detecção de bombas vagueavam pelos vastos relvados, aterrorizando os esquilos e os veados de cauda branca. As equipas de televisão invadiram a marina de Coecles Harbor como um grupo de saqueadores e alugaram todos os barcos em que conseguiram pôr as mãos. Os preços subiram em flecha de um dia para o outro. A equipa da CNN teve de conformar-se com um Zodiac de três metros e meio que metia água, pelo qual pagou uns inacreditáveis quinhentos dólares. Um par de cúteres da guarda costeira montou vigilância no estreito de Shelter Island.
Às nove e meia, o autocarro alugado que trazia o corpo de imprensa destacado para a Casa Branca chegou ao Manhanset Inn. Os repórteres entraram a cambalear na pilhada sala de jantar de Jake Ashcroft como refugiados num centro de acolhimento.
E assim, um pouco depois das dez da manhã, tudo parecia estar no seu lugar quando o abafado tbump-thump-thump da hélice de um helicóptero se pôde ouvir a aproximar-se de Little Peconic Bay. O dia tinha amanhecido carregado de nuvens e húmido, mas, a meio da manhã, as nuvens tinham-se eclipsado e a ponta leste de Long Island cintilava ao sol brilhante do Inverno. Uma bandeira americana esvoaçava ao vento em Chequit Point. Havia uma grande faixa a dizer bem-vindo, presidente beckwith no telhado do Clube de Iate de Shelter Island e, por isso, o chefe do governo pôde lê-la quando o helicóptero a sobrevoou. Uma multidão de habitantes da ilha alinhou-se ao longo da Shore Road e a banda do liceu assinou uma animada mas desarticulada interpretação de "Hail to the Chief"[12].
O helicóptero Marine One sobrevoou Nassau Point e Great Hog Neck. Passou rente às águas de Southold Bay e depois mais uma vez sobre terra, em Conkling Point. A multidão na Shore Road viu pela primeira vez o helicóptero presidencial quando este pairava sobre o estreito de Shelter Island. As equipas das estações noticiosas transportadas por água apontaram as suas câmaras para o céu e começaram a filmar. O Marine One flutuou sobre Dering Harbor, com o bater da hélice a provocar pequenas ondulações na superfície da água, e a seguir aterrou no relvado de Cannon Point, logo a seguir à antepara.
Douglas Cannon estava à espera, com Elizabeth e Michael e os seus dois retrievers. Os cães correram para eles quando James e Anne Beckwith desembarcaram do helicóptero vestidos para o campo, com calças de caqui engomadas e casacos impermeáveis verde-escuros.
Um pequeno grupo de repórteres — a chamada "equipa final" — tinha sido autorizado a entrar na propriedade para assistir à chegada.
— Porque é que estão aqui? — gritou a plenos pulmões um correspondente vestido de cabedal da ABC News.
— Só queremos passar algum tempo no campo com um velho amigo — gritou também o presidente, sorrindo.
— E onde é que vão agora? Douglas Cannon chegou-se à frente.
— Vamos à igreja.
A primeira-dama, Anne Beckwith — ou Lady Anne Beckwith, como era conhecida entre as classes tagarelas de Washington —, fora visivelmente apanhada de surpresa pelo comentário do senador. Tal como o marido, era quase uma ateia e detestava a viagem semanal à St. John's Episcopal Church, do outro lado da Lafayette Square, para uma hora de oração fingida e falsa reflexão. Mas, dez minutos mais tarde, um cortejo de automóveis improvisado avançava rugindo pela Manhanset Road, em direcção a St. Mary's. Passado pouco tempo, os dois velhos adversários encontravam-se ombro a ombro no banco da frente da igreja — Beckwith com o seu blaer azul, Cannon usando um casaco de tweed coçado com buracos nos cotovelos —, cantando a plenos pulmões "Deus é o Nosso Refúgio e Fortaleza"[13].
Ao meio-dia, Beckwith e Cannon decidiram que estava na altura de velejar um pouco, apesar de a temperatura mal chegar aos cinco graus e de o vento soprar a uns vinte e cinco quilómetros por hora no estreito de Shelter Island. Para grande consternação dos serviços secretos, os dois homens embarcaram no Athena e partiram.
Deslocaram-se a motor pelo canal estreito que separa Shelter Island da confluência norte de Long Island e depois içaram as velas quando o Athena entrou nas águas abertas de Gardiners Bay. Atrás deles, vinham um cúter da guarda costeira, dois barcos a motor Boston Whaler repletos de agentes dos serviços secretos e meia dúzia de embarcações com a imprensa. Houve um contratempo; o Zodiac alugado pela CNN meteu água e afundou-se ao largo das rochas de Cornelius Point.
— Muito bem, senhor presidente — disse Douglas Cannon. — Agora que já demos aos media montes de fotografias bonitas, porque é que não me diz que diabo se passa?
O Athena progredia velozmente pela Gardiners Bay, em direcção a Plum Island, com o vento a soprar de popa, inclinando-se elegantemente para estibordo. Cannon estava sentado ao leme; Beckwith instalara-se no compartimento atrás da escada que liga o convés aos camarotes.
— Nunca fomos grandes amigos, senhor presidente. De facto, penso que o único evento social a que assistimos juntos foi o funeral da minha mulher.
— Fomos adversários quando estávamos no Senado — respondeu Beckwith. — Já foi há muito tempo. E deixa-te dessa treta do senhor presidente, Douglas. Já nos conhecemos há demasiado tempo para isso.
— Nunca fomos adversários, Jim. Desde que tu e a Anne chegaram a Washington que tinhas os olhos postos na Casa Branca. Eu só queria ficar no Senado a fazer leis.
Gostava de ser legislador.
— E eras o raio de um legislador muito bom. Um dos melhores de sempre.
— Fico grato por isso, Jim — disse Cannon, olhando para as velas e franzindo o sobrolho. — Essa vela da bujarrona está a bolinar um pouco, senhor presidente. Importa-se de dar um puxão a esse cabo?
Orient Point passou a bombordo. As sirenes de nevoeiro costeiras retumbaram em tributo. Plum Island ficava directamente em frente à proa. Cannon virou para sul, em direcção a Gardiners Island, colocando o Athena com o vento de flanco.
— Quero que venhas trabalhar para mim — disse Beckwith bruscamente. — Preciso de ti e o país precisa de ti.
— E que queres que eu faça?
— Quero que vás para Londres como meu embaixador. Não posso ficar de braços cruzados e permitir que um bando de rufiões protestantes faça descarrilar o processo de paz. Preciso de um homem com prestígio em Londres imediatamente, e o Tony Blair também.
— Jim, tenho setenta e um anos. Estou reformado e feliz.
— Se a paz não se aguentar na Irlanda do Norte, a violência atingirá níveis nunca vistos desde os anos setenta. Não quero isso na minha consciência e acho que tu também não.
— Mas porquê eu?
— Porque és um estadista americano respeitado e ilustre. Porque os teus antepassados são originários da Irlanda do Norte. Porque, nas tuas declarações públicas sobre o conflito, tens sido igualmente duro com o IRA e com a maioria protestante. Porque ambos os lados vão confiar que sejas justo.
Beckwith hesitou um momento, olhando fixamente para a água.
— E porque o teu presidente está a pedir-te para fazeres uma coisa pelo teu país. Isso costumava significar alguma coisa em Washington. E acho que ainda significa alguma coisa para ti, Douglas. Não me faças pedir duas vezes.
— Estás a esquecer-te de uma coisa, Jim.
— A tentativa de assassínio do teu genro no ano passado?
— E da minha filha. Calculo que uma cópia do memorando do Michael tenha chegado à Sala Oval. Ele acha que um dos teus maiores benfeitores está por trás do ataque ao Voo 002 da TransAtlantic. E, sinceramente, acredito nele.
— De facto, vi o relatório dele — respondeu Beckwith, franzindo o sobrolho. — O Michael era um óptimo agente dos serviços secretos, mas as suas conclusões falharam o alvo. A sugestão de que um homem como o Mitchell Elliott pudesse ter alguma coisa a ver com o ataque a esse jacto é ridícula. Se eu pensasse que ele estava remotamente envolvido, teria usado absolutamente todo o meu poder para garantir que fosse punido. Mas isso simplesmente não é verdade, Douglas. A Espada de Gaza abateu aquele avião.
— Se me nomeares, os homens do dinheiro do GOP vão ter um ataque. Londres vai sempre para um grande contribuinte.
— A melhor coisa de ser um peso morto, Douglas, é que já não preciso de me importar com o que a merda dos homens do dinheiro dizem.
— E em relação ao processo de homologação?
— Perdoa-me o trocadilho, mas vais passá-lo nas calmas, como se estivesses a velejar.
— Não estejas assim tão seguro. O Senado mudou desde a nossa saída. O teu partido enviou para lá um bando de jovens radicais e parece-me que eles querem queimar aquilo tudo.
— Eu trato dos jovens radicais.
— Não os quero a chatearem-me porque fumei marijuana algumas vezes. Fui professor universitário em Nova Iorque nos anos sessenta e setenta, por amor de Deus. Toda a gente fumava marijuana.
— Eu não.
— Bem, isso explica muita coisa. Beckwith riu-se.
— Vou falar pessoalmente com o membro republicano de posição mais elevada nos Negócios Estrangeiros. Vou dizer-lhe, sem margem para dúvidas, que a tua nomeação terá de receber o apoio unânime dos republicanos. E vai receber.
Cannon fingiu que estava a ponderar o assunto cuidadosamente, mas ambos sabiam que ele já tinha tomado a sua decisão.
— Preciso de tempo. Preciso de falar com a Elizabeth e o Michael. Tenho dois netos. Mudar-me para Londres nesta altura da minha vida não é uma coisa que possa fazer com ligeireza.
— Demora o tempo todo que for preciso, Douglas.
Cannon olhou por cima do ombro, para a quantidade de barcos que os seguiam ao longo da Gardiners Bay.
— Aquele cúter da guarda costeira tinha-me dado jeito há um par de anos.
— Ah, sim — disse o presidente. — Li acerca do teu pequeno acidente no mar, ao largo de Montauk Light. Como é que um velejador com a tua experiência se deixou apanhar de surpresa pelo mau tempo é uma coisa que me ultrapassa.
— Foi uma tempestade de Verão anormal!
— Não existem tempestades de Verão anormais. Devias ter estado a olhar para os céus e a ouvir a rádio. Onde é que aprendeste a velejar, já agora?
— Eu estava a controlar as condições. Aquilo foi uma tempestade tropical anormal.
— Tempestade tropical anormal, uma ova — respondeu o presidente. — Deve ter sido daquela marijuana toda que fumaste nos anos sessenta.
Os dois homens rebentaram a rir.
— Talvez seja melhor voltarmos para trás — disse Cannon. — Prepare-se para virar, senhor presidente.
— Ele quer que eu vá para Londres substituir o Edward Hathaway como embaixador — anunciou Cannon, ao subir as escadas da adega, segurando uma empoeirada garrafa de Bordéus.
O presidente e a primeira-dama tinham partido; as crianças dormiam no andar de cima. Michael e Elizabeth estavam esparramados nos sofás demasiado estofados ao lado da lareira. Cannon abriu o vinho e encheu três copos.
— E o que é que lhe disseste? — perguntou Elizabeth.
— Disse-lhe que tinha de discutir o assunto com a minha família. Michael interveio:
— Mas porquê você? O James Beckwith e o Douglas Cannon nunca foram exactamente grandes amigos.
Cannon repetiu as razões de Beckwith.
Michael anuiu:
— O Beckwith tem razão. Você arrasou todas as partes devido à conduta que levavam: o IRA, os paramilitares protestantes e os britânicos. E também impõe respeito pelo seu mandato no Senado. Isso tor-na-o um homem perfeito para ser enviado para o Palácio de St. James imediatamente.
Elizabeth franziu o sobrolho.
— Mas também tem setenta e um anos, está reformado e tem dois netos acabados de nascer. Esta não é a altura de ele ir a correr para Londres para ser embaixador.
— Não se diz não a um presidente — lançou Cannon.
— O próprio presidente devia ter tomado isso em consideração antes de te convidar — respondeu Elizabeth. — Além disso, Londres tem sido sempre uma nomeação política.
Deixa o Beckwith enviar um dos seus grandes doadores.
— O Blair pediu ao Beckwith para não fazer uma nomeação política. Quer um diplomata de carreira ou um político com prestígio... como aqui o teu pai — disse Cannon defensivamente.
Foi-se aproximando da lareira e remexeu as brasas com o atiçador.
— Tens razão, Elizabeth — disse ele, contemplando as chamas. — Tenho setenta e um anos e sou provavelmente muito velho para aceitar uma nomeação para um cargo tão exigente. Mas o meu presidente pediu-me para o fazer e, raios me partam, quero fazê-lo. É difícil ficar à margem. Se puder ajudar a levar a paz à Irlanda do Norte, tudo o que já consegui no Congresso revestir-se-á de pouca importância.
— Parece que já decidiste, papá.
— Sim, já decidi, mas quero a tua bênção.
— E quanto aos teus netos?
— Os meus netos só serão capazes de perceber a diferença entre mim e os cães daqui a seis meses.
Michael disse:
— Há outra coisa que tem de tomar em consideração, Douglas. Há menos de um mês, uma nova organização terrorista protestante deu provas da sua vontade e capacidade para atacar alvos de alta visibilidade.
— Tenho noção de que o trabalho não está isento de riscos. Em boa verdade, gostava de conhecer a natureza da ameaça e gostava de uma avaliação em que pudesse acreditar.
— O que é que estás a dizer, papá?
— Estou a dizer que o meu genro trabalhou em tempos para a CIA, infiltrando-se em grupos terroristas. Sabe uma ou outra coisa sobre este assunto e tem bons contactos.
Gostava que ele usasse esses contactos para eu saber aquilo que tenho de enfrentar.
— Oh, não. Não vou deixar que o Michael se vá embora de repente para fazer de freelancer para ti e ficarem os dois em perigo.
— Só estaria um par de dias em Londres — disse Michael. — É chegar e partir.
Elizabeth acendeu um cigarro e exalou o fumo por entre os lábios rispidamente.
— Pois. Lembro-me da última vez que disseste isso.
Capítulo 8
MÍCONOS CAIRO
A casa de campo caiada agarrava-se aos penhascos do cabo Mavros, na desembocadura da baía de Panormos. Durante cinco anos, tinha estado vazia, com a excepção de um grupo de jovens bêbados, corretores da Bolsa ingleses, que arrendara a casa todos os Verões. Os donos anteriores, um romancista americano e a sua estonteante mulher mexicana, tinham-se ido embora por causa do eterno vento. Tinham confiado a propriedade a Stavros, o maior agente imobiliário da margem norte de Míconos, e voado para a Toscana.
O francês chamado Delaroche — pelo menos, Stavros partiu do princípio de que ele era francês — parecia não se importar com o vento. Tinha vindo para Míconos no Inverno anterior, com a mão direita fortemente ligada, e comprou a casa de campo depois de a inspeccionar durante cinco minutos. Nessa noite, Stavros celebrou a sua sorte com rodadas intermináveis de vinho e ouzo[14] — em honra do francês, claro — oferecidas aos clientes habituais da taberna em Ano Mera. A partir desse momento, o enigmático Monsieur Delaroche tornou-se o homem mais popular da margem norte de Míconos, apesar de ninguém, excepto Stavros, lhe ter visto alguma vez a cara.
Poucas semanas depois da sua chegada, houve uma boa dose de especulação em Míconos em relação ao que faria exactamente o francês para viver. Era um pintor angelical, mas quando Stavros se ofereceu para organizar uma exposição numa galeria de um amigo, em Chora, o francês declarou que nunca vendia o seu trabalho. Era um ciclista diabólico, mas quando Kristos, o dono da taberna de Ano Mera, tentou recrutar Delaroche para o clube local o francês disse que preferia andar de bicicleta sozinho.
Alguns especularam que tinha nascido rico, mas foi ele próprio quem fez todas as reparações na casa de campo e era conhecido nas lojas da aldeia como sendo um cliente frugal. Não recebia visitas, não organizava festas e não andava com mulheres, ainda que muitas das raparigas de Míconos estivessem dispostas a oferecer de bom grado os seus serviços. O seu dia tinha a regularidade de um relógio. Montava a sua bicicleta de corrida italiana, pintava as suas pinturas, tomava conta da sua villa varrida pelo vento. Na maior parte dos dias, ao anoitecer, podia ser visto nos rochedos de Linos, sentado a contemplar o mar. Segundo a lenda, tinha sido ali que Posídon tinha destruído Ajax, o Menor, pela violação de Cassandra.
Delaroche tinha passado o dia em Siro a pintar. Ao final da tarde, enquanto o Sol se punha no mar, voltou a Míconos de ferry. Ficou na coberta da proa a fumar um cigarro enquanto o barco entrava na baía de Korfos e atracava em Chora. Esperou até que toda a gente saísse antes de desembarcar.
Tinha comprado uma carrinha Volvo usada para os dias em que estivesse demasiado frio e chuvoso para andar de bicicleta. A carrinha estava à espera num parque de estacionamento deserto no terminal do ferry. Delaroche abriu a porta de trás e colocou as suas coisas no compartimento traseiro: uma mala grande e achatada, com as suas telas e a palete, uma mala mais pequena com as tintas e pincéis. Entrou na carrinha e ligou o motor.
A viagem para norte, até ao cabo Mavros, levou apenas alguns minutos; Míconos é uma ilha pequena, cerca de quinze por dez quilómetros, e havia pouco trânsito na estrada por causa da época. O terreno próprio de uma paisagem lunar foi passando pelo cone amarelo dos faróis — sem árvores, árido, com as suas características rudes amaciadas por milhares de anos de habitação humana.
Delaroche estacionou no caminho de terra batida em frente à villa e saiu da carrinha. Teve de apoiar-se com força na porta para a conseguir fechar com o vento. Ondas com espuma branca brilhavam na baía de Panormos e mais adiante, no mar Jónico. Delaroche seguiu pelo pequeno carreiro até à porta da frente e enfiou a chave na fechadura.
Antes de abrir a porta, sacou uma pistola automática Beretta do coldre do ombro, por baixo do casaco de cabedal. O alarme chilreou suavemente quando ele entrou.
Desarmou o sistema, acendeu as luzes e percorreu toda a villa, divisória atrás de divisória, até se sentir seguro de que não estava lá ninguém.
Estava com fome depois de ter passado o dia a pintar e por isso foi para a cozinha preparar o jantar: uma omeleta de cebola, cogumelos e queijo, um prato de presunto de Parma, pimentos gregos assados e pão frito em azeite e alho.
Levou a comida para a mesa de madeira rústica da sala de jantar. Ligou o computador portátil, ligou-se à Internet e leu os jornais enquanto comia. Estava tudo calmo, tirando o vento a matraquear nas janelas com vista para o mar.
Quando acabou de ler, foi ver o e-mail. Havia uma mensagem, mas quando a abriu no ecrã apareceu uma série de caracteres sem sentido. Digitou apassword e a algaraviada incompreensível transformou-se num texto claro. Delaroche acabou de jantar enquanto estudava o dossiê do próximo homem que ia matar.
Jean-Paul Delaroche vivera em França a maior parte da sua vida, mas não era francês. Com o nome de código de Outubro, Delaroche tinha sido um assassino a soldo do KGB. Vivera e actuara exclusivamente na Europa Ocidental e no Médio Oriente e a sua missão tinha sido simples: criar o caos dentro da NATO, inflamando a tensão no interior das fronteiras dos seus Estados-membros. Quando a União Soviética se desmoronou, homens como Delaroche não foram absorvidos pelo sucessor mais apresentável do KGB, os Serviços Secretos Externos; passou a trabalhar por conta própria e tornou-se rapidamente no mais solicitado assassino contratado a nível mundial. Agora, trabalhava apenas para uma pessoa, um homem que conhecia apenas como o Director. Recebia pelos seus serviços um milhão de dólares por ano.
No dia seguinte, o nevoeiro marítimo pairava sobre os penhascos enquanto Delaroche avançava numa pequena lambreta italiana pela via estreita por cima da baía de Panormos. Almoçou na taberna de Ano Mera: peixe, arroz, pão e salada, com azeite e fatias de ovo cozido. Depois do almoço, atravessou a aldeia até ao mercado da fruta. Comprou vários melões e colocou-os dentro de um saco de papel grande, que segurou entre as pernas enquanto seguiu com a lambreta para um trecho de caminho deserto nas colinas áridas por cima da baía de Merdias.
Parou a lambreta junto a um afloramento de rochas. Tirou um melão do saco e colocou-o no rebordo de uma rocha, de modo a que estivesse aproximadamente ao mesmo nível da sua cabeça. A seguir, tirou mais três melões e colocou-os ao longo do caminho, a cerca de vinte metros de distância. Tinha a Beretta num coldre de ombro por baixo do braço esquerdo. Conduziu cerca de duzentos metros pelo caminho, parou e deu a volta. Enfiou a mão no bolso do casaco e calçou um par de luvas de couro pretas.
Havia um ano, durante a sua última missão, o homem que fora contratado para matar alvejara-o na mão direita. Tinha sido a única vez que Delaroche não tinha cumprido os termos de um contrato. O tiro tinha deixado uma cicatriz enrugada e feia. Podia fazer muitas coisas para alterar a sua aparência — deixar crescer a barba, usar óculos de sol e um chapéu, pintar o cabelo —, mas não podia fazer nada a respeito da cicatriz a não ser escondê-la.
De repente, acelerou a fundo com a lambreta e seguiu a toda a velocidade pelo trilho, com a poeira a pairar numa pequena nuvem atrás de si. Manobrou com perícia por entre os obstáculos. Enfiou a mão por baixo do braço esquerdo, sacou da arma e apontou-a ao alvo que se aproximava. Ao passar velozmente por ele, disparou três vezes.
Delaroche parou, deu a volta e foi inspeccionar o melão.
Nenhum dos três tiros tinha atingido o alvo.
Praguejou baixinho e reproduziu toda a cena na sua cabeça, tentando determinar porque tinha falhado. Olhou para as mãos. Nunca tinha usado luvas e não gostava da sensação; roubavam-lhe a sensibilidade da mão para usar a arma e era difícil sentir o gatilho contra o indicador. Tirou-as, enfiou a Beretta no coldre, avançou a grande velocidade pelo caminho e deu a volta.
Acelerou de novo a fundo e ziguezagueou velozmente pelo meio dos melões. Sacou a Beretta e disparou ao passar pelo alvo. O melão desintegrou-se num clarão amarelo.
Delaroche afastou-se rapidamente.
Ahmed Hussein estava a morar num atarracado prédio de apartamentos de quatro andares em Ma'adi, um subúrbio poeirento ao longo do Nilo, a alguns quilómetros a sul do centro do Cairo. Hussein era baixo, com menos de um metro e sessenta e cinco de altura, e delgado. Tinha o cabelo cortado rente e a barba devotamente mal tratada. Tomava todas as refeições e recebia todas as visitas dentro do apartamento, aventurando-se fora dele apenas para ir à mesquita do outro lado da rua, cinco vezes por dia, para rezar. Às vezes, parava no café ao lado da mesquita para tomar chá, mas geralmente o seu magote de seguranças amadores insistia que ele voltasse directamente para o apartamento.
Às vezes, amontoavam-se todos num Fiat azul-escuro para fazer a curta viagem até à mesquita; outras vezes, iam a pé. Estava tudo no dossiê.
Delaroche começou a sua viagem para o Cairo três dias depois, numa manhã carregada de nuvens e sem vento. Tomou café no seu terraço acima do cabo Mavros, com um mar calmo à sua volta, e depois foi com o Volvo até Chora e deixou-o num parque de estacionamento. Podia ter voado directamente para Atenas, mas decidiu apanhar um ferry para Paros e voar a partir daí. Não tinha pressa e queria manter-se atento a eventuais sinais de vigilância. Enquanto o barco partia da baía de Korfos e passava pela pequena ilha de Delos, pas-seou-se pelas cobertas e examinou as caras dos outros passageiros, memorizando-as.
Em Paros, Delaroche apanhou um táxi que o levou da zona portuária para o aeroporto. Passou o tempo numa cabina telefónica, numa tabacaria e num café, sempre a controlar os rostos à sua volta. Embarcou no voo para Atenas; nenhum dos passageiros a bordo tinha vindo no ferry. Delaroche recostou-se e desfrutou do voo curto, olhando para o mar invernoso cinzento-esverdeado a passar por baixo da janela.
Passou a tarde em Atenas, visitando os locais históricos, e à noite embarcou num voo para Roma. Registou-se num pequeno hotel na Via Venetto, sob o nome de Karel van der Stadt, e começou a falar num inglês fragmentado com sotaque holandês.
Roma estava fria e húmida, mas ele tinha fome e por isso apressou-se por entre a chuvinha miudinha até chegar a um bom restaurante que conhecia na Via Borghese.
Os empregados trouxeram vinho tinto e entradas sem fim: tomate e moarella, beringela assada, pimentos marinados em azeite e especiarias, omeleta e presunto de Parma.
Quando as entradas acabaram, o empregado apareceu e disse simplesmente: "Carne ou peixe?" Delaroche comeu robalo com batatas cozidas.
Depois do jantar, voltou para o hotel. Sentou-se à pequena secretária e ligou o seu Notebook. Ligou-se à Internet e descarregou um ficheiro encriptado. Teclou ãpassword e, uma vez mais, a algaraviada tornou-se um texto claro. O novo ficheiro era um relatório de vigilância actualizado das actividades de Ahmed Hussein no Cairo. Delaroche tinha trabalhado para um serviço de espionagem profissional e sabia reconhecer um bom trabalho de campo quando o via. Hussein estava sob a vigilância de um serviço de topo no Cairo, provavelmente a Mossad.
De manhã, Delaroche apanhou um táxi para o Aeroporto Leonardo da Vinci e embarcou ao início da tarde num voo da Egypt Air para o Cairo. Registou-se num pequeno hotel egípcio na baixa da capital e mudou para roupas mais leves. Ao final da tarde, apanhou um táxi! para Ma'adi. O condutor acelerou pela Comiche, desviando-se de ciclistas e carroças puxadas por burros enquanto o Sol que se punha transformava o Nilo numa fita dourada.
Ao anoitecer, Delaroche estava a tomar chá doce com bolos num café do outro lado da rua do apartamento de Ahmed Hussein. O muezim fazia soar o chamamento da tarde para a oração e os fiéis afluíam em catadupa em direcção à mesquita. Ahmed Hussein encontrava-se entre eles, rodeado pelo seu heterogéneo grupo de guarda-costas. Delaroche analisou Hussein cuidadosamente. Pediu mais chá e visualizou como o iria matar no dia seguinte.
Na manha seguinte, Delaroche almoçou no café cheio de sol no terraço do Hotel Nile Hilton. Avistou o homem louro de óculos de sol, sentado sozinho no meio dos turistas e dos egípcios ricos, com uma grande garrafa de cerveja Stella e um copo meio vazio. Uma pasta diplomática fina e preta encontrava-se na cadeira ao lado dele.
Delaroche encaminhou-se para a mesa.
— Importa-se que lhe faça companhia? — perguntou num inglês com sotaque holandês.
— Na realidade, já estava de saída — respondeu o homem, levantando-se.
Delaroche sentou-se e encomendou o almoço. Pousou a pasta diplomática no chão, ao lado do pé.
Depois do almoço, Delaroche roubou uma lambreta. Estava estacionada em frente do Nile Hilton, no meio da loucura da Tahrir Square, e ele demorou apenas alguns segundos para conseguir ligar a ignição e pôr o motor a trabalhar. Era azul-escura, coberta com uma fina camada de poeira do Cairo, e parecia estar a funcionar bem. Havia até um capacete com um visor escuro.
Seguiu para sul, atravessando a zona de Garden City — passando pela embaixada americana fortificada e por vivendas delapidadas, tristes recordações de um tempo mais grandioso. O que estava dentro da pasta diplomática, uma Beretta automática de nove milímetros e um silenciador, encontrava-se agora num coldre por baixo do seu braço esquerdo. Acelerou por uma viela estreita, passando pelas traseiras do velho Hotel Shepherd, virou para a Comiche e seguiu a toda a velocidade para sul, ao longo do Nilo.
Chegou a Ma'adi antes do pôr do Sol. Ficou à espera a cerca de duzentos metros da mesquita, enquanto comprava pão sem fermento e limas a um rapazinho camponês na esquina da rua, com a cabeça coberta pelo capacete. A voz amplificada do muezim soou e a chamada para a oração ecoou por toda a zona.
Deus é muito grande.
Eu testemunho que não há deus senão Deus.
Eu testemunho que Maomé é o Profeta de Deus.
Venham orar.
Venham vencer.
Deus é muito grande.
Não há deus senão Deus.
Delaroche viu Ahmed Hussein sair do apartamento, rodeado pelos guarda-costas, atravessar a rua e entrar na mesquita. Deu ao miúdo algumas piastras amarrotadas para pagar o pão e as limas, subiu para a lambreta e ligou o motor.
De acordo com os relatórios, Ahmed Hussein ficava sempre na mesquita pelo menos dez minutos. Delaroche avançou até meio do quarteirão e parou num quiosque. Descontraidamente, comprou um maço de cigarros egípcios, algumas guloseimas e giletes. Guardou tudo isso no saco grande com o pão e as limas.
Os fiéis começaram a sair a conta-gotas da mesquita.
Delaroche pôs o motor a trabalhar.
Ahmed Hussein e os seus guarda-costas saíram da mesquita, em direcção ao crepúsculo rosado.
Delaroche acelerou a fundo e a mota arrancou com um salto. Avançou a toda a velocidade pela estrada poeirenta, ziguezagueando pelo meio de peões e carros lentos, exactamente como tinha treinado no caminho por cima da baía de Merdias, e com uma derrapagem fez parar a mota em frente à mesquita. Ao pressentirem problemas, os guarda-costas tentaram cerrar fileiras em torno do seu homem.
Delaroche enfiou a mão no casaco e sacou a Beretta.
Apontou-a a Hussein e fez pontaria ao rosto; a seguir, baixou a pistola alguns centímetros e carregou rapidamente no gatilho três vezes. Todos os tiros atingiram Ahmed Hussein no peito.
Dois dos quatro guarda-costas puxaram das armas por baixo das roupas. Delaroche atingiu um no coração e o outro na garganta. Os dois últimos guarda-costas atiraram-se para o chão, ao lado dos corpos. Delaroche acelerou a fundo e afastou-se velozmente.
Desapareceu no meio dos apinhados bairros-de-lata no Sul do Cairo, largou a mota numa viela e atirou a Beretta para um esgoto. Duas horas depois, embarcou num voo da Alitalia para Roma.













