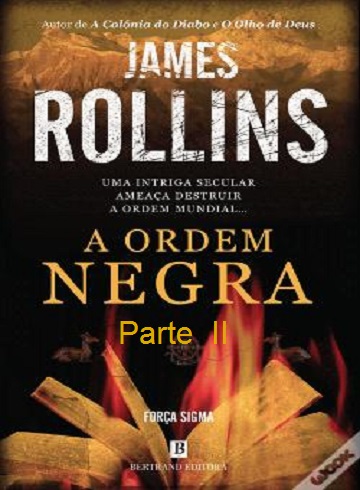Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha caiu, teve início uma nova guerra entre os Aliados: para pilhar a tecnologia dos cientistas nazistas. Numa corrida entre os britânicos, os americanos, os franceses e os russos, era cada país por si. Patentes foram roubadas: de novos tubos a vácuo, de novas substâncias químicas exóticas e plásticos, até mesmo de pasteurização do leite com luz ultravioleta. Mas muitas das patentes mais importantes desapareceram no abismo de projetos obscuros, como a Operação Clipe de Papel, que recrutou em segredo centenas de cientistas nazistas que trabalharam no projeto dos foguetes V-2 e os trouxe para os Estados Unidos.
Mas os alemães não desistiram tão facilmente da sua tecnologia. Eles também lutaram para proteger seus segredos, na expectativa de um renascimento do Reich. Cientistas foram assassinados; laboratórios de pesquisa, destruídos; e projetos, ocultos em cavernas, submersos no fundo de lagos e enterrados em criptas. Tudo isso com o fim de mantê-los fora do alcance dos Aliados.
A busca tornou-se desanimadora. Os laboratórios de pesquisa e de armas dos nazistas chegavam a centenas, muitos deles subterrâneos, espalhados pela Alemanha, Áustria, Checoslováquia e Polônia. Um dos mais misteriosos era uma mina adaptada nos arredores da pequena cidade montanhesa de Breslau. As pesquisas nessas instalações receberam o codinome die Glocke, ou "o Sino". As pessoas que viviam no campo próximo dali referiam-se a luzes estranhas e a doenças e mortes misteriosas.
As forças russas foram as primeiras a chegar à mina, porém ela estava deserta. Todos os 62 cientistas envolvidos no projeto haviam sido fuzilados. Quanto ao instrumento em si... só Deus sabe onde tinha ido parar.
Tudo isso sem dúvida é conhecido: o Sino era real.

Cidade-fortaleza de Breslau, Polônia
O corpo boiava no esgoto que corria pela galeria úmida e fria. O cadáver de um menino, inchado e comido por ratos, fora destituído das botas, da calça e da camisa. Nada ia para o lixo na cidade sitiada.
O Obergruppenführer da SS Jakob Sporrenberg cutucou o cadáver ao passar, revolvendo a imundície. Detritos e excrementos. Sangue e bílis. O cachecol úmido amarrado em volta do nariz e da boca pouco contribuía para afastar o mau cheiro. Era a isso que a grande guerra havia chegado. Os poderosos obrigados a rastejar por esgotos para escapar. Mas ele recebera ordens.
Acima, o barulho das explosões e da fuzilaria da artilharia russa sacudia a cidade. Cada explosão golpeava suas entranhas com sua concussão violenta. Os russos haviam derrubado os portões, bombardeado o aeroporto, e naquele exato momento tanques esmagavam as ruas pavimentadas com pedras enquanto aviões de transporte aterrissavam na Kaiserstrabe. A principal artéria da cidade havia se convertido numa pista de aterrissagem por filas paralelas de barris de petróleo flamejantes, que acrescentavam sua fumaça ao céu já abafado da madrugada, mantendo a aurora à distância. O combate era travado em cada rua, em cada lar, do sótão ao porão.
Cada casa uma fortaleza.
Essa fora a última ordem do Gauleiter Hanke à população. A cidade tinha de resistir pelo tempo mais longo possível. O futuro do Terceiro Reich dependia disso.
E de Jakob Sporrenberg.
- Macht schnell! - instava ele com os outros que vinham atrás.
Sua unidade do Sicherheitsdienst - designação do Comando Especial de Evacuação rastejava atrás dele, com a água imunda até a altura dos joelhos. Quatorze homens.
Todos armados. Todos vestidos de preto. Todos com pesadas mochilas nas cosias. No meio, quatro dos homens mais altos, ex-estivadores dos portos do mar do Norte, carregavam nos ombros varas que mantinham no alto caixotes enormes.
Havia um motivo para os russos estarem atacando aquela cidade solitária naquela região remota dos montes Sudetos, entre a Alemanha e a Polônia. As fortificações de Breslau guardavam a entrada para a região montanhosa além. Nos últimos dois anos, trabalhadores forçados do campo de concentração de Gross-Rosen haviam escavado o pico de uma montanha próxima. Cem quilômetros de túneis cavados por mãos humanas e por cargas de dinamite, todos a serviço de um projeto secreto, oculto dos olhos indiscretos dos Aliados.
Der Riese... o Gigante.
Mas a notícia já havia se espalhado. Talvez um dos aldeões que viviam nas imediações da mina Wenceslas tivesse falado sobre a doença, sobre o súbito malestar que afligira até as pessoas que viviam bem longe do complexo.
Se pelo menos eles tivessem tido mais tempo para concluir a pesquisa...
Todavia, uma parte de Jakob Sporrenberg hesitava. Ele não conhecia tudo o que estava envolvido no projeto secreto, apenas o codinome: Cronos. No entanto, sabia o suficiente. Vira os corpos usados nos experimentos. Ouvira os gritos es tridentes.
Abominação.
Essa era a única palavra que aflorara ao seu cérebro e fizera gelar seu sangue.
Ele não tivera problemas em executar os cientistas. Os 62 homens e mulheres haviam sido levados para fora e recebido dois tiros na cabeça. Ninguém devia saber o que havia ocorrido nas profundezas da mina Wenceslas... ou o que foi encontrado. Apenas uma pesquisadora teve a vida poupada.
Frau Doktor Tola Hirszfeld.
Jakob ouvia a mulher chapinhando atrás dele, meio arrastada por um de seus homens, os pulsos amarrados atrás das costas. Ela era alta para uma mulher, tinha quase 30 anos, seios pequenos, mas cintura larga e pernas bem-feitas. Seus cabelos eram lisos e pretos, sua pele estava branca como o leite, devido aos meses passados embaixo da terra. Ela deveria ter sido morta junto com os outros, mas seu pai, o Oberarbeitsleiter Hugo Hirszfeld, supervisor do projeto, finalmente revelara seu sangue corrompido, sua herança meio-judia. Ele tentara destruir seus arquivos da pesquisa, mas fora ferido a tiros por um dos guardas e morto antes que pudesse destruir seu escritório subterrâneo com bombas incendiárias. Para sorte de sua filha, alguém com pleno conhecimento de die Glocke tinha de sobreviver, a fim de levar o trabalho adiante. Um gênio como o pai, ela conhecia a pesquisa dele melhor do que qualquer um dos demais cientistas. Mas ela teria de ser persuadida a partir dali.
O fogo ardia nos olhos dela toda vez que Jakob olhava em sua direção. Ele podia sentir o ódio dela como o calor de uma fornalha tipo Siemens-Martin. Mas ela cooperaria... como seu pai havia cooperado antes dela. Jakob sabia como lidar com Juden, em particular os de sangue misto. Mischlinge. Esses eram os piores. Parcialmente judeus. Havia cerca de 100 mil Mischlinge no serviço militar do Reich. Soldados judeus. Raras exceções à lei nazista haviam permitido que essas pessoas de sangue misto ainda fossem úteis, salvando suas vidas. Era necessário dispensa especial. Esses Mischlinge em geral se revelavam os soldados mais impetuosos, pois necessitavam demonstrar sua lealdade ao Reich acima da raça.
No entanto, Jakob jamais confiara neles. O pai de Tola provou a validade de suas suspeitas. A tentativa de sabotagem do doutor não lhe causara surpresa. Jamais se deveria confiar nos judeus, apenas exterminá-los.
Porém, os documentos de imunidade de Hugo Hirszfeld haviam sido assinados pelo próprio Führer, poupando não só pai e filha, mas também um casal de pais idosos em algum lugar no Oeste da Alemanha. Portanto, embora Jakob não confiasse nos Mischlinge, ele confiava inteiramente em seu Führer. Suas ordens haviam sido bem claras: tirar da mina os recursos necessários para continuar o trabalho e destruir o resto.
Isso significava poupar a filha.
E o bebê.
O recém-nascido foi envolto em cueiros e bem agasalhado, um bebê judeu, de no máximo um mês de idade. Haviam dado um sedativo leve à criança para mantê-la em silêncio enquanto eles fugiam.
Dentro da criança ardia o espírito da abominação, a verdadeira fonte da repulsa de Jakob. Todas as esperanças do Terceiro Reich estavam em suas minúsculas mãos - as mãos de um bebê judeu. A bílis causou-lhe engulhos quando ele teve esse pensamento. Seria melhor empalar a criança numa baioneta. Mas ele recebera ordens.
Ele também viu como Tola observava o menino. Os olhos dela brilhavam com um misto de fogo e pesar. Além de ajudar na pesquisa do pai, Tola havia desempenhado o papel de mãe de criação do menino, ninando-o, alimentando-o. A criança era a única razão por que a mulher na verdade estava cooperando. Uma ameaça à vida do menino fizera Tola afinal concordar com as exigências de Jakob.
Um morteiro explodiu acima deles, lançando-os todos de joelhos e ensurdecendo o mundo com um som agudo. O cimento rachou, e poeira precipitou-se na água fétida.
Jakob ficou em pé, praguejando entre os dentes.
Seu subcomandante, Oskar Henricks, arrastava-se ao lado dele e apontou para a frente, para uma bifurcação lateral da galeria de esgoto.
- Vamos seguir por aquele túnel, Obergruppenführer. É um antigo escoadouro de águas pluviais. De acordo com o mapa do município, a galeria principal desemboca no rio, não muito distante da ilha da Catedral.
Jakob concordou com um aceno de cabeça. Escondidas perto da ilha, duas canhoneiras camufladas deveriam estar esperando, tripuladas por outra unidade do Comando. Não era muito longe.
Ele seguiu na frente a um ritmo mais rápido à medida que o bombardeio russo se intensificava acima. O ataque renovado evidentemente anunciava a investida final deles contra a cidade. A rendição de seus cidadãos era inevitável.
Quando chegou ao túnel lateral, Jakob saiu da imundície represada e subiu para a plataforma cimentada da galeria que se bifurcava. A cada passo, suas botas produziam o ruído de quem chapinhava na lama. O mau cheiro gangrenoso de tripas e lodo foi ficando cada vez pior, como se o esgoto tentasse escorraçá-lo de suas entranhas.
O resto de sua unidade seguiu-o.
Jakob dirigiu a luz de sua lanterna pelo escoadouro de cimento abaixo. O ar tinha um cheiro um pouco mais fresco? Ele seguiu o feixe de luz com vigor renovado. Com a fuga tão próxima, a missão estava quase encerrada. Sua unidade já teria cruzado a metade da Silésia antes que os russos chegassem ao labirinto subterrâneo de caminhos de rato que constituíam a mina Wenceslas. Como calorosas boas-vindas, Jakob havia plantado armadilhas explosivas em todas as galerias do laboratório. Os russos e seus aliados nada encontrariam a não ser a morte em meio às montanhas.
Com esse pensamento de satisfação, Jakob seguiu em direção à promessa de ar fresco. O túnel de cimento formava um declive gradual. O ritmo da equipe aumentou, instigado pelo silêncio repentino entre as explosões da artilharia. Os russos estavam chegando com toda a força.
Seria por um triz. O rio não permaneceria desprotegido por muito tempo.
Como que sentindo o perigo, o bebê começou a chorar de mansinho, a gemer baixo quando o efeito do sedativo passou. Jakob havia advertido o médico da equipe para manter fraca a dose das drogas. Eles não ousavam pôr em risco a vida da criança. Talvez tivesse sido um erro...
Os gritos foram ficando mais estridentes.
Um único morteiro explodiu em algum lugar ao norte.
Os gritos transformaram-se em lamentos. O barulho ecoava pela estreita abertura de pedra do túnel.
- Acalme a criança! - ordenou ele ao soldado que carregava o bebê.
O homem, pálido e magro feito um caniço, sacudiu o embrulho de seu ombro, perdendo seu quepe preto ao fazê-lo. Ele lutou para libertar o menino, mas o resultado foram apenas mais gritos de aflição.
- Sol... solte-me - implorou Tola, resistindo ao homem que segurava seu cotovelo. - Ele precisa de mim.
O homem que carregava a criança olhou para Jakob. O silêncio tomou conta do mundo lá em cima. Os gritos estridentes continuavam embaixo. Fazendo uma careta, Jakob acenou com a cabeça.
As cordas que atavam os pulsos dela foram cortadas. Esfregando os dedos para ativar a circulação, ela estendeu os braços para a criança. O soldado renunciou de bom grado à sua carga. Ela aninhou o bebê na dobra do braço, apoiando a cabeça dele e ninando-o suavemente. Inclinou-se sobre ele, aproximando-o de si. Sons suaves, sem palavras e confortadores, foram sussurrados acima dos gritos dele. Seu ser inteiro fundiu-se em torno da criança.
Lentamente, os gritos de aflição reduziram-se a um choro mais calmo.
Satisfeito, Jakob fez um aceno de cabeça para o guarda que a vigiava. O homem ergueu sua Luger e manteve-a pressionada nas costas de Tola. Em silêncio agora, eles continuaram sua caminhada através do labirinto subterrâneo embaixo de Breslau.
Rapidamente, o cheiro de fumaça sobrepôs-se ao mau cheiro dos esgotos. Sua lanterna iluminou uma cortina de fumaça que assinalava a saída do escoadouro de águas pluviais. As armas de artilharia permaneciam caladas, mas as explosões e o matraquear quase contínuos da fuzilaria continuavam - principalmente a leste. Bem perto, podia-se ouvir o ruído nítido de água.
Jakob gesticulou para que seus homens permanecessem onde estavam no túnel e indicou a saída com um aceno para o radiotelegrafista.
- Envie um sinal aos barcos.
O soldado fez um firme aceno de cabeça e avançou às pressas, desaparecendo na escuridão repleta de fumaça. Poucos instantes depois, alguns clarões passageiros transmitiram uma mensagem em código para a ilha próxima. Levaria apenas um minuto para que os barcos cruzassem o canal até onde eles estavam.
Jakob virou-se para Tola. Ela ainda carregava o bebê. O menino havia se acalmado de novo, e seus olhos estavam fechados.
Tola encarou Jakob com firmeza.
- O senhor sabe que meu pai estava certo - disse ela com uma certeza serena. Seu olhar deslocou-se rapidamente para os caixotes lacrados e depois de volta para ele. - Eu posso ver isso no seu rosto. O que nós fizemos... nós passamos dos limites.
Não compete a nenhum de nós tomar tais decisões - respondeu Jakob.
A quem, então?
Jakob sacudiu a cabeça e começou a se afastar. Heinrich Himmler havia lhe dado aquelas ordens pessoalmente. Não lhe cabia contestar. No entanto, ele sentiu a atenção da mulher voltada para ele.
- Isso desafia Deus e a natureza - sussurrou ela. Um grito poupou-o de responder.
- Os barcos estão chegando - anunciou o radiotelegrafista, voltando da boca do escoadouro de águas pluviais.
Jakob gritou as últimas ordens e mandou seus homens entrarem em posição. Ele os conduziu ao fim do túnel, que se abria na margem íngreme do rio Oder. Eles estavam perdendo a proteção da escuridão. O sol nascente brilhava no leste, mas ali uma nuvem permanente de fumaça negra pairava baixo sobre a água, mantida densa pela vazão do rio. A cortina de fumaça ajudaria a ocultados. Porém, por quanto tempo?
O tiroteio continuava a produzir seu matraquear estranhamente alegre, bombinhas para comemorar a destruição de Breslau.
Livre do mau cheiro do esgoto, Jakob removeu a máscara úmida e respirou fundo. Ele perscrutou as águas cor de chumbo. Dois barcos de seis metros de calado rasgaram as águas do rio, os motores balbuciando um zunzum contínuo. Em cada proa, ocultas apenas sob lonas impermeáveis verdes, haviam sido montadas duas metralhadoras MG-42.
Além dos barcos, mal se podia ver a massa escura de uma ilha. A ilha da Catedral não era uma ilha de verdade, porque acumulara bastantes sedimentos no século XIX, unindo-se à margem oposta. Uma ponte verde-esmeralda de ferro fundido, datando do mesmo século, ligava a ilha àquele lado do rio. Sob a ponte, as canhoneiras contornaram os pilares de pedra e aproximaram-se.
Os olhos de Jakob foram atraídos para cima quando um raio de sol penetrante atingiu as pontas das duas torres altíssimas da catedral que deu à ex-ilha seu nome. Era uma dentre meia dúzia de igrejas que se aglomeravam na ilha.
As palavras de Tola Hirszfeld ainda ecoavam nos ouvidos dele.
Isso desafia Deus e a natureza.
A friagem da manhã penetrava suas roupas ensopadas, deixando sua pele comichando e fria. Ele ficaria contente quando estivesse bem longe dali, capaz de bloquear toda a lembrança daqueles últimos dias.
O primeiro dos barcos chegou à margem. Contente pela distração, ainda mais feliz por estar em movimento, ele apressou seus homens para carregarem os dois barcos.
Tola permaneceu em pé com o bebê nos braços, um pouco mais afastada, flanqueada pelo guarda. Os olhos dela também haviam descoberto as pontas das torres da catedral resplandecentes no céu enfumaçado. O tiroteio continuava, chegando mais perto agora. Tanques podiam ser ouvidos rangendo em baixa velocidade. Gritos pontuavam tudo aquilo.
Onde estava aquele Deus que ela temia desafiar?
Certamente, não ali.
Com os barcos carregados, Jakob aproximou-se de Tola. - Entre no barco.
Ele tencionara ser severo, mas alguma coisa no rosto dela suavizou suas palavras.
Ela obedeceu, com a atenção ainda voltada para a catedral e os pensamentos ainda mais longe, na direção do céu.
Naquele momento, Jakob percebeu como ela poderia ser bela... muito embora fosse uma Mischlinge. Mas então a ponta da bota dela deu uma topada, ela cambaleou e recuperou o equilíbrio, tomando cuidado com o bebê. Seus olhos voltaram-se para as águas cinzentas e para a cortina de fumaça. Seu rosto endureceu novamente, tornando-se pétreo. Até mesmo os olhos dela endureceram quando procurou um assento para si e o bebê.
Ela acomodou-se num banco no estibordo, os passos do guarda em cadência com os seus.
Jakob sentou-se em frente a eles e acenou para que o piloto do barco partisse. - Nós não devemos nos atrasar.
Ele esquadrinhou o rio adiante. Eles seguiram para o oeste, para longe da frente oriental, para longe do sol nascente.
Ele consultou o relógio. Àquela altura, um avião de transporte alemão Junker Ju 52 deveria estar esperando-os num campo de aviação abandonado a 10 km de distância. Ele fora pintado com o logotipo da Cruz Vermelha Alemã, camuflado como um avião de transporte médico, uma dose extra de precaução contra ataque.
Os barcos descreveram um círculo e entraram na parte mais funda do canal, os motores triplicando de intensidade. Os russos não podiam detê-los agora. Estava acabado.
Um movimento voltou a atrair sua atenção para o outro lado do barco.
Tola inclinou-se sobre o bebê e deu um beijo suave nos cabelos finos de sua cabeça. Ela ergueu o rosto e encarou Jakob. Ele não viu desafio ou raiva. Apenas determinação.
Jakob sabia o que ela estava prestes a fazer.
- Não...
Tarde demais.
Mudando de posição, Tola inclinou-se para trás sobre a amurada baixa às suas costas e impulsionou o corpo com os pés. Com o bebê agarrado à seu peito, ela se lançou na água fria.
O guarda dela, surpreendido pela ação repentina, girou e disparou a esmo contra a água.
Jakob correu para o lado dele e forçou seu braço para cima.
- Você poderia atingir a criança.
Jakob inclinou-se sobre a borda do barco e esquadrinhou as águas. Os outros homens estavam em pé. O barco oscilou. Tudo o que Jakob viu nas águas cor de chumbo foi seu próprio reflexo. Ele acenou para que o piloto navegasse em círculos.
Nada.
Procurou bolhas reveladoras, mas a esteira do barco carregado agitava as águas, deixando-as obscuras. Ele deu um soco na amurada. Tal pai... tal filha...
Apenas um Mischlinge cometeria uma ação tão drástica. Ele vira aquilo antes: mães judias asfixiavam seus próprios filhos para poupá-los de um sofrimento maior. Ele havia pensado que Tola fosse mais forte do que aquilo. Mas, no fim, talvez ela não tivesse escolha.
Ele deu voltas e mais voltas por bastante tempo a fim de ter certeza. Seus homens esquadrinharam as margens de cada lado. Ela se fora. Um morteiro que passou assobiando acima desencorajou-os de demorar-se mais.
Jakob acenou para que seus homens voltassem para seus assentos. E apontou para o oeste, na direção do avião que esperava. Eles ainda tinham os caixotes e todos os arquivos. Foi um revés, mas um revés que podia ser superado. Onde havia uma criança poderia haver outra.
- Vamos - ordenou.
Os dois barcos partiram de novo, os motores sendo acionados até a velocidade máxima.
Poucos instantes depois, eles haviam desaparecido na cortina de fumaça enquanto Breslau ardia.
Tola ouviu os barcos desaparecerem a distância.
Ela ficou boiando atrás de um dos grossos pilares que sustentavam a antiga ponte da Catedral, de ferro fundido. Mantinha uma das mãos pressionada sobre a boca do bebê, a fim de que ele ficasse em silêncio, rezando para que recebesse ar suficiente pelo nariz. Mas a criança estava fraca.
Como ela.
A bala havia trespassado um lado de seu pescoço. O sangue escorria em abundância, tingindo a água de vermelho. Sua visão estreitou-se. No entanto, ela lutou para segurar o bebê acima da água.
Momentos antes, quando se atirou no rio, ela tencionara afogar-se junto com o bebê. Mas, quando sentiu o choque do frio e seu pescoço ardeu por causa do ferimento à bala, alguma coisa a demoveu de sua decisão. Ela se lembrou da luz brilhando nas torres da igreja. Não era sua religião, sua herança. Mas era uma lembrança de que havia luz além da escuridão do momento. Em algum lugar, os homens não atacavam brutalmente seus irmãos. As mães não afogavam seus bebês.
Ela usara os pés para impulsioná-la até a parte mais funda do canal, permitindo que a correnteza a empurasse em direção à ponte. Embaixo d’água, usou seu próprio ar para manter o bebê vivo, apertando com força o nariz dele e exalando o ar através dos lábios dele. Embora ela tivesse planejado morrer, uma vez iniciada, a luta pela vida foi se tornando mais feroz, um fogo que ardia em seu peito.
O menino nunca teve um nome.
Ninguém deveria morrer sem um nome.
Ela continuou a soprar levemente seu ar na criança, respirações superficiais, exalando e inalando enquanto lutava contra a correnteza, cega na água. Um golpe de sorte a fez ir de encontro a um dos pilares de pedra e ofereceu-lhe um lugar para abrigar-se.
Porém, agora que os barcos estavam indo embora, ela não podia mais esperar.
O sangue jorrava dela. Ela sentia que apenas o frio a mantinha viva. Mas o mesmo frio estava consumindo a vida da frágil criança.
Tola começou a bater os pés a fim de chegar à margem, uma agitação frenética, descoordenada pela fraqueza e pelo entorpecimento. Ela desapareceu sob a água, arrastando a criança consigo para baixo.
Não.
Ela lutou para voltar à superfície, mas a água repentinamente ficou mais pesada, mais difícil de resistir. Recusava-se a sucumbir.
Então, sob os dedos de seus pés, pedras escorregadias chocaram-se contra suas botas. Ela gritou, esquecendo-se de que ainda estava embaixo d’água, e engasgou ao sorver a água do rio. Afundou um pouco mais, e em seguida agitou os pés uma última vez a fim de livrar-se das pedras lodosas. Sua cabeça projetou-se para fora e seu corpo arremessou-se para a margem.
A ribanceira foi ficando mais íngreme sob seus pés.
De quatro, ela arrastou-se para fora da água, com o bebê preso à sua garganta. Ela alcançou a margem e caiu de bruços na margem rochosa. Não tinha força para mover um membro sequer. Seu próprio sangue banhava a criança. Fez um último esforço para se concentrar no bebê. Ele não se movia. Não respirava.
Ela fechou os olhos e rezou enquanto uma escuridão eterna a tragava. Chore, seu desgraçado, chore...
O padre Varick foi o primeiro a ouvir o gemido.
Ele e seus irmãos estavam abrigados na adega sob a igreja de São Pedro e São Paulo. Eles haviam fugido quando começou o bombardeio de Breslau na noite anterior. De joelhos, haviam rezado para que sua ilha fosse poupada. A igreja, construída no século XV, havia sobrevivido aos sempre mutáveis senhores da cidade fronteiriça. Eles buscaram proteção celestial para sobreviver mais uma vez.
Foi nessa devoção silenciosa que os gritos de lamento ecoaram até os monges.
O padre Varick ficou em pé, o que exigiu muito esforço de suas velhas pernas.
Aonde o senhor vai? - perguntou Franz.
Eu ouvi meu rebanho me chamando - disse o padre.
Nas duas últimas décadas, ele havia alimentado os gatos e o vira-lata ocasional que freqüentavam a igreja à beira do rio.
- Agora não é hora - advertiu outro irmão, com a voz cheia de medo.
O padre Varick havia vivido demais para temer a morte com um fervor tão próprio dos jovens. Ele atravessou a adega e curvou-se para entrar na curta passagem que terminava na porta que dava para o rio. Carvão costumava ser transportado até a mesma passagem e armazenado onde agora belas garrafas verdes estavam abrigadas em poeira e carvalho.
Ele alcançou a velha porta por onde o carvão escoava, ergueu a trave e abriu o trinco.
Usando um ombro, empurrou a porta, que se abriu com um rangido.
A ardência da fumaça atingiu-o primeiro - em seguida, o gemido atraiu seus olhos para baixo.
- Mein Gott im Himmel...
Uma mulher havia desfalecido a alguns passos da porta na parede reforçada por um botaréu que sustentava a igreja junto ao canal. Ela estava imóvel. Ele correu para o lado dela, voltando a ajoelhar-se, com uma nova oração nos lábios.
Estendeu a mão para o pescoço dela, à procura de um sinal de vida, mas só encontrou sangue e ruína. Ela estava ensopada da cabeça aos pés e fria como as pedras.
Morta.
Então, de novo o choro... vindo do outro lado dela.
Ele mudou de posição e encontrou um bebê, semi-oculto sob a mulher, também ensangüentado.
Apesar de roxa por causa do frio e tão molhada quanto a mulher, a criança ainda vivia. Ele tirou o bebê que estava sob o corpo. Com o peso aumentado por estarem ensopados, seus cueiros desprenderam-se dele.
Um menino.
Ele rapidamente passou as mãos pelo corpo minúsculo e viu que o sangue não era da criança.
Apenas de sua mãe.
Ele olhou tristemente para a mulher. Tantas mortes. Ele esquadrinhou o outro lado do rio. A cidade queimava, turvando de fumaça o céu no alvorecer. O tiroteio continuava. Será que ela havia cruzado o canal a nado? Tudo para salvar o filho?
- Descanse - sussurrou ele para a mulher. - Você merece isso.
O padre Varick voltou para a porta de escoamento de carvão. Ele removeu o sangue e a água do bebê. Os cabelos da criança eram macios e finos, mas inequivocamente brancos como a neve. Ela não poderia ter mais de um mês de idade.
Com os cuidados de Varick, os gritos do menino ficaram mais fortes, seu rosto contraiu-se com o esforço, mas ele continuou fraco, com os membros sem firmeza e frio.
- Chore, pequenino.
Reagindo à sua voz, o menino abriu os olhos inchados. Olhos azuis saudaram Varick. Brilhantes e puros. Mas, pensando bem, a maioria dos recém-nascidos tinha olhos azuis. Todavia, Varick teve a sensação de que aqueles olhos conservariam seu azul-celeste profundo.
Ele aproximou o menino de si, a fim de transmitir-lhe calor. Was ist das? Ele virou o pé do menino. Alguém havia desenhado um símbolo em seu calcanhar.
Não, desenhado não. Ele esfregou para ter certeza.
Tatuado com tinta vermelha.
Ele observou-o. Parecia um pé de galinha.
Mas o padre Varick passara boa parte da juventude na Finlândia. Ele reconheceu o símbolo pelo que ele na verdade era: uma das runas nórdicas. Não tinha idéia de que runa era aquela ou do que ela significava. Sacudiu a cabeça. Quem havia feito uma coisa tão idiota?
Com o cenho franzido, olhou para a mãe.
Não tinha importância. Os filhos não deviam pagar pelos pecados dos pais. Ele removeu o resto do sangue do topo da cabeça do menino e o aninhou em sua batina quente.
- Du armer Junge... uma recepção tão dura neste mundo.
Época atual - 16 de Maio, 6:34h
Himalaia - Acampamento-base no Everest
5.400 metros de altitude
Taski, o guia sherpa, pronunciou esse veredicto com toda a solenidade e certeza de sua profissão. O homem atarracado mal chegava a 1,5 m, mesmo com o seu desgastado chapéu de vaqueiro. Mas ele se portava como se fosse mais alto do que qualquer um na montanha. Seus olhos, enterrados em pálpebras semicerradas, examinavam a fileira ondulante de bandeiras de orações.
A dra. Lisa Cummings focalizou o homem com a sua Nikon D-100 e bateu uma foto. Embora Taski fosse o guia do grupo, ele também era objeto dos testes psicométricos de Lisa. Um candidato perfeito à pesquisa dela.
Uma bolsa de pesquisa para estudar os efeitos fisiológicos de uma escalada sem oxigênio do Everest a trouxera ao Nepal. Até 1978, ninguém atingira o cume do Everest sem a ajuda de oxigênio suplementar. O ar era rarefeito demais. Mesmo alpinistas experientes, com o auxílio de cilindros de oxigênio, sentiam extrema fadiga, diminuição da coordenação, visão dupla e alucinações. Considerava-se impossível atingir o cume de uma montanha de 8 mil metros de altura sem uma fonte de ar engarrafado.
Todavia, em 1978, dois alpinistas tiroleses conseguiram o impossível e atingiram o cume, contando apenas com seus próprios pulmões ofegantes. Nos anos subseqüentes, cerca de sessenta homens e mulheres seguiram os passos deles, anunciando uma nova meta da elite de alpinistas.
Ela não poderia exigir um melhor teste de esforço em atmosferas de baixa pressão.
Antes de vir para o Nepal, a dra. Lisa Cummings havia acabado de concluir urna pesquisa de cinco anos sobre o efeito dos sistemas de alta pressão sobre o processo fisiológico humano. Para realizar isso, ela havia estudado mergulhadores de altomar durante o tempo que passou a bordo de um navio de pesquisa, o Deep Fathom. Depois disso, as circunstâncias exigiram que ela seguisse em frente... tanto com a sua vida profissional quanto com a pessoal. Por isso ela aceitara uma bolsa da National Science Foundation para fazer uma pesquisa antitética: estudar os efeitos fisiológicos dos sistemas de baixa pressão.
Por esse motivo ela fizera aquela viagem ao Teto do Mundo.
Lisa reposicionou-se para tirar outra foto de Taski Sherpa. A exemplo de muitos membros de seu povo, Taski adotara o nome de seu grupo étnico como sobrenome.
O homem afastou-se da fileira ondulante de bandeiras de orações, fez um firme aceno de cabeça e apontou um cigarro preso entre dois dedos para a montanha altíssima.
- Mau dia. A morte viaja nestes ventos - repetiu ele, depois pegou outro cigarro e afastou-se.
O assunto morreu ali.
Mas não para os outros integrantes do grupo.
Sons de desapontamento circularam entre os que fariam a escalada. Rostos olharam fixamente para o céu azul e sem nuvens acima. Fazia nove dias que a equipe de alpinistas, composta por dez homens, aguardava a melhora das condições meteorológicas. Até então, ninguém havia argumentado contra o bom senso de a escalada durante a tempestade da semana anterior não ter sido empreendida. O tempo havia sido agitado por um ciclone que varrera a baía de Bengala. Ventos furiosos haviam fustigado o acampamento, atingindo mais de 160km por hora, levando consigo uma das barracas onde se preparava o rancho, jogando as pessoas no chão, seguidos por quedas repentinas de neve que esfolava toda pele exposta como uma lixa grosseira.
Depois a manhã rompera mais luminosa do que eles haviam esperado. A luz do sol cintilava da geleira Khumbu com seu aspecto de cascata. O Everest, coberto de neve, flutuava acima deles, cercado por suas serenas montanhas vizinhas, uma festa de casamento de branco.
Lisa havia tirado cem fotos, captando as variações da luz em toda a sua beleza cambiante. Ela agora entendia os nomes do Everest na região: Chomolungma, ou Deusa-Mãe do Mundo, em chinês, e Sagarmatha, ou Deusa do Céu, em nepalês.
Flutuando entre as nuvens, a montanha era de fato uma deusa de gelo e rocha escarpada. E todos eles tinham vindo adorá-la, provar a si mesmos que eram dignos de beijar o céu. E isso não saíra barato: 65 mil dólares por cabeça. Pelo menos, o preço incluía o equipamento para acampar, carregadores, sherpas e, é claro, todos os iaques que fossem necessários. O mugido de um iaque fêmea ecoou sobre o vale, um dentre duas dúzias a serviço da equipe de alpinistas. A forma bojuda de suas barracas vermelhas e amarelas adornava o acampamento. Havia cinco outros acampamentos naquela escarpa rochosa, todos esperando que os deuses da tempestade virassem as costas.
Porém, de acordo com o guia sherpa, isso não aconteceria hoje.
- Isto é um tremendo absurdo - declarou o gerente de uma firma de artigos esportivos de Boston. Vestindo a última moda em trajes acolchoados de uma só peça, ele estava em pé com os braços cruzados ao lado de sua mochila carregada. - Mais de 600 dólares por dia para ficarmos sentados sem fazer nada? Eles estão nos ludibriando. Não tem uma nuvem sequer nesse maldito céu!
Ele falou entre os dentes, como que tentando incitar uma sublevação que ele próprio não tinha a intenção de liderar.
Lisa já vira o sujeito antes. Personalidade tipo A... A de asno. Numa percepção tardia, ela talvez não devesse ter dormido com ele. Ela encolhia-se de vergonha ao lembrar-se disso. O encontro fora nos Estados Unidos, depois de uma reunião sobre a organização da expedição no Hyatt de Seattle, após uma de muitas doses de uísque sour. O Bob de Boston tinha sido apenas outro porto numa tempestade... nem o primeiro, nem provavelmente o último. Mas uma coisa era certa: aquele era um porto no qual ela jamais voltaria a baixar âncora.
Ela suspeitava que, mais do que qualquer outro, aquele era o motivo da contínua beligerância dele.
Ela se afastou, desejando ao irmão caçula força para sufocar o tumulto. Josh era um alpinista com dez anos de experiência e havia coordenado a inclusão dela numa de suas primeiras escaladas ao Everest com acompanhantes. Ele liderava viagens ao redor do mundo para a prática de alpinismo pelo menos duas vezes por ano.
Josh Cummings ergueu uma das mãos. Louro e esguio como ela própria, ele usava jeans preto, enfiado nos canos de suas botas Millet One Sport, e uma camisa térmica cinza expedition-weight.
Ele pigarreou.
- Taski escalou o Everest doze vezes. Ele conhece a montanha e seus estados de espírito. Se ele diz que o tempo é imprevisível demais para prosseguirmos, então vamos passar mais um dia nos aclimatando e exercitando nossas habilidades. Se alguém quiser, eu posso mandar dois guias liderarem uma viagem de um dia à floresta de rododendros na parte inferior do vale do Khumbu.
Alguém do grupo ergueu a mão.
- Que tal uma viagem de um dia ao Everest View Hotel? Nós passamos os últimos seis dias acampados nestas malditas barracas. Eu bem que gostaria de um banho quente.
Murmúrios de concordância acompanharam esse pedido.
Eu não sei se essa é uma idéia assim tão boa - advertiu Josh. - O hotel fica a um dia inteiro de caminhada daqui, e oxigênio é bombeado em seus quartos a fim de evitar o mal-das-montanhas. Isso poderia enfraquecer a aclimatação de vocês no momento e retardar a escalada.
Como se nós já não tivéssemos sido retardados o bastante! - pressionou Rob de Boston.
Josh ignorou-o. Lisa sabia que seu irmão caçula não seria coagido a fazer algo tão estúpido quanto arriscar uma escalada com tempo inclemente. Embora o céu estivesse azul, ela sabia que aquilo poderia mudar numa questão de minutos. Ela havia crescido à beira-mar, na altura da costa da ilha Catalina. Como Josh. As pessoas aprendiam a decifrar sinais além da inexistência de nuvens. Josh podia não ter desenvolvido o olho de um sherpa para interpretar o tempo naquela altitude, mas sem dúvida sabia respeitar os que eram capazes de fazê-lo.
Lisa olhou fixamente para a coluna de neve arrancada pelo vento do topo do Everest. Era um sinal da corrente de jato, que, segundo se sabia, soprava a mais de 320km por hora através do cume. A coluna atingia uma altura incrível. Apesar de a tempestade ter cessado, o padrão de pressão ainda era devastador acima de 8 mil metros. A corrente de jato poderia fazer com que outra tempestade se precipitasse sobre eles a qualquer momento.
- Nós pelo menos poderíamos seguir para o Acampamento Um - insistiu Bob de Boston. - Acampar lá e ver o que o tempo nos reserva.
Uma lamúria irritante havia penetrado na voz do gerente da loja de artigos esportivos, o qual tentava obter alguma concessão. Seu rosto havia enrubescido de frustração.
Lisa não conseguia compreender sua atração anterior pelo homem.
Antes que seu irmão pudesse dar uma resposta àquele palerma, ouviu-se um novo barulho. Um som surdo como o de tambores. Todos os olhos moveram-se para o leste. Um helicóptero surgiu em meio ao brilho ofuscante do sol nascente. Um B-2 Squirrel A-Star Ecuriel em forma de vespão. O helicóptero de resgate havia sido projetado para chegar até aquela altitude.
O silêncio caiu sobre o grupo.
Uma semana antes, pouco antes do início da tempestade recente, uma expedição havia subido pelo lado do Nepal. De acordo com as comunicações pelo rádio, eles estavam no Acampamento Dois, a mais de 6.400m de altitude.
Lisa protegeu os olhos da luz. Será que alguma coisa dera errado?
Ela havia visitado a clínica da Associação de Resgate do Himalaia (ARH) em Pheriche. Era o ponto de triagem de todos os tipos de doenças que rolavam a encosta até a sua entrada: ossos fraturados, edema pulmonar e cerebral, ulceração produzida pelo frio, cardiopatias, disenteria, nifablepsia e toda sorte de infecções, incluindo doenças sexualmente transmissíveis. Parecia que até mesmo a clamídia e a gonorréia estavam determinadas a chegar ao cume do Everest.
Mas o que dera errado dessa vez? Não tinha havido nenhum sinal de socorro na faixa de emergência do rádio. Um helicóptero só podia chegar até um pouco acima do Acampamento-Base, em virtude do ar rarefeito ali. Isso significava que os resgates pelo ar com freqüência exigiam que se viajasse a pé desde as alturas mais difíceis. Acima de 7.600m, os mortos eram simplesmente deixados onde caíam, transformando as vertentes superiores do Everest em cemitérios glaciais de equipamentos abandonados, cilindros de oxigênio vazios e cadáveres mumificados pelo frio intenso.
A batida dos rotores mudou de intensidade.
- Eles estão vindo nesta direção - disse Josh e acenou para que todos voltassem para os agrupamentos de barracas quatro estações resistentes a tempestades, deixando livre a extensão plana que servia de heliporto do acampamento.
O helicóptero negro desceu sobre eles. O distúrbio no ar causado pelos rotores fez turbilhonar a areia e fragmentos de rocha. O envoltório de uma barra de chocolate Snickers passou voando pelo nariz de Lisa. As bandeiras de orações dançavam e contorciam-se, e os iaques dispersaram-se. Depois de tantos dias de quietude na montanha, o barulho era ensurdecedor.
O B-2 pousou sobre seus patins com uma graça que não correspondia ao seu tamanho. As portas abriram-se e dois homens desceram. Um deles usava um uniforme de camuflagem verde e trazia uma arma automática pendurada no ombro: um soldado do Exército Real Nepalês. O outro era mais alto, usava uma túnica vermelha e um manto amarrado na cintura com uma faixa, e sua cabeça era raspada: um monge budista.
Os dois aproximaram-se e falaram rapidamente num dialeto nepalés com dois sherpas. Depois de uns breves gestos, um braço apontou. Para Lisa.
O monge encaminhou-se até ela, flanqueado pelo soldado. Pelas rugas produzidas pelo sol no canto de seus olhos, o monge parecia ter uns 45 anos, a pele cor de café-com-leite, os olhos caramelo.
A pele do soldado era mais escura, e seus olhos, mais apertados. Seu olhar estava fixo abaixo do decote dela. Ela havia deixado a jaqueta aberta, e o sutiã esportivo que estava usando sob o colete de lã sintética parecia ter prendido a atenção dele.
Por outro lado, o monge budista manteve os olhos respeitosos e até curvou ligeiramente a cabeça. Ele falava um inglês preciso, com sotaque britânico.
- Dra. Cummings, peço-lhe desculpas pela intrusão, mas houve uma emergência. Fui informado pela clínica da ARH que a senhora é médica.
Lisa franziu o cenho, enchendo a testa de sulcos.
- Sim.
- Um mosteiro aqui próximo foi atingido por uma doença misteriosa que afetou quase todos os habitantes. Um único mensageiro, um homem de uma aldeia vizinha, foi enviado a pé e viajou três dias para chegar ao hospital de Khunde. Como a ARH havia sido alertada, esperávamos transportar um de seus médicos até o mosteiro, mas uma avalanche deixou a clínica com falta de pessoal. A dra. Sorenson nos informou da sua presença aqui no Acampamento-base.
Lisa recordou-se da médica canadense, uma mulher baixinha. Uma noite, elas beberam juntas seis latas de cerveja Carlsberg junto com chá com leite adoçado.
- Como eu posso ser útil? - perguntou Lisa.
A senhora estaria disposta a nos acompanhar até lá? Apesar de isolado, o mosteiro pode ser alcançado de helicóptero.
Quanto tempo...? - ela perguntou e olhou na direção de Josh, que se aproximava para juntar-se a eles.
O monge sacudiu a cabeça, os olhos preocupados e ligeiramente desconcertados por tê-la enganado.
- São quase três horas de viagem. Eu não sei o que vamos encontrar - disse ele, e voltou a sacudir a cabeça, preocupado.
Josh falou em voz alta:
- Hoje nós estamos retidos aqui de qualquer modo. - Ele tocou o cotovelo dela e inclinou-se para mais perto. - Mas eu iria com você.
Lisa rejeitou aquela sugestão. Ela sabia cuidar de si mesma. Porém, também fora instruída sobre o tenso clima político no Nepal desde 1996. Rebeldes maoístas vinham travando uma guerrilha na região montanhosa, na tentativa de derrubar a monarquia constitucional e substituí-la por uma república socialista. Sabia-se que eles decepavam os membros das vítimas - um a um - com foices. Embora no momento vigorasse um cessar-fogo, de vez em quando atrocidades ainda eram cometidas.
Ela olhou para o rifle automático bem untado nas mãos do soldado. Se até mesmo um homem santo precisava de escolta armada, talvez fosse melhor ela reconsiderar a oferta do irmão.
- Eu... eu tenho pouco mais que um estojo de primeiros socorros e alguns instrumentos de monitoramento - ela disse de maneira hesitante ao monge. - Eu mal estou preparada para uma situação médica mais grave, que envolva vários pacientes.
O monge fez um aceno de cabeça e apontou para o helicóptero parado, com os rotores ainda girando.
- A dra. Sorenson nos forneceu tudo o que poderíamos precisar por uns poucos dias. Nós não esperamos abusar de seus serviços por mais de um dia. O piloto tem um telefone via satélite para retransmitir suas descobertas. Talvez o problema já tenha sido resolvido, e poderíamos voltar para cá até o meio-dia.
Uma sombra passou pelas feições dele ao fazer esta última afirmação. Ele não acreditava nisso. A preocupação perpassou suas palavras... isso e talvez um resquício de medo.
Ela inalou profundamente o ar rarefeito, que mal encheu seus pulmões. Ela havia feito um juramento. Além disso, havia tirado fotografias suficientes e queria retomar o trabalho de verdade.
O monge deve ter percebido algo no rosto dela.
Então a senhora vem.
Sim.
Lisa... - advertiu Josh.
Eu estarei bem. - Ela apertou o braço dele. - Você tem uma equipe para impedir de amotinar-se contra você. - Josh voltou o olhar para Bob de Boston e suspirou. - Portanto, defenda o forte até eu voltar.
Ele a encarou de novo, não persuadido, mas não discutiu. O rosto dele permaneceu tenso.
- Tome cuidado lá fora.
Eu tenho o que o Exército Real Nepalês tem de melhor para me proteger. Josh olhou fixamente para a arma lubrificada do único soldado.
É isso que me preocupa.
Ele tentou abrandar o que dissera com um riso abafado, mas o riso saiu mais amargo.
Lisa sabia que era o máximo que poderia conseguir dele. Ela lhe deu um rápido abraço, pegou a mochila com o material médico em sua barraca e poucos instantes depois estava abaixando-se sob a ameaça afiada dos rotores que giravam e acomodando-se no assento traseiro do helicóptero de resgate.
O piloto nem sequer a cumprimentou. O soldado acomodou-se no assento do co-piloto. O monge, que se apresentou como Ang Gelu, juntou-se a ela no assento traseiro.
Ela pôs um par de fones de ouvido que amorteciam o ruído. No entanto, os motores rugiam à medida que as hélices giravam mais rápido. O helicóptero agitou-se sobre seus esquis quando os rotores tentaram dominar o ar rarefeito. Um zumbido aumentou em amplitudes subsônicas. O helicóptero afinal se desprendeu do heliporto rochoso e subiu rapidamente.
Lisa sentiu um frio no estômago quando o helicóptero descreveu um círculo sobre um desfiladeiro próximo. Ela olhou pela janela lateral para o amontoado de barracas e iaques lá embaixo. Avistou o irmão, que acenava com um braço erguido, ou será que ele o erguera apenas contra o brilho ofuscante do sol? Taski Sherpa estava ao lado dele, facilmente identificável pelo seu chapéu de caubói.
O comentário anterior do sherpa acompanhou-a em direção ao céu, fazendo gelar seus pensamentos e preocupações.
A morte viaja nestes ventos.
Um pensamento nada agradável naquele momento.
Ao lado dela, os lábios do monge moviam-se numa oração silenciosa. Ele continuava tenso... ou por causa do meio de transporte deles ou por medo do que poderiam descobrir no mosteiro.
Lisa recostou-se com as palavras do sherpa ainda ecoando em sua cabeça.
Um mau dia de fato.
Ele movia-se pelo chão gretado com passos tranqüilos, grampos de aço abrindo profundos buracos na neve e no gelo. Em cada lado, erguiam-se penhascos de rocha nua, pictografados em líquen marrom. O desfiladeiro dobrava num ângulo para cima.
Na direção de sua meta.
Ele usava um traje de uma só peça com enchimento de penas de ganso, camuflado em tons de branco e preto. Sua cabeça estava coberta por uma balaclava de polar fleece, e seu rosto, oculto atrás de óculos de neve. Sua mochila de alpinismo pesava 21 kg, incluindo a picareta para gelo presa com uma correia num lado e um rolo de corda de poliéster no outro.
Também carregava um rifle de assalto Heckler & Koch, um pente extra com trinta cartuchos e uma sacola com nove granadas incendiárias.
Não precisava de oxigênio adicional, nem mesmo naquela altitude. As montanhas tinham sido o seu lar nos últimos 44 anos. Ele estava tão habituado àquela região montanhosa quanto qualquer sherpa, mas não falava a língua deles, e uma herança diferente brilhava em seus olhos: um olho era de um azul glacial, e o outro, de um branco puro. A disparidade certamente o distinguia tanto quanto a tatuagem em seu ombro. Mesmo entre os Sonnenkönige, os Reis-Sol.
O rádio em seu ouvido zumbiu.
- Você já chegou ao mosteiro?
Ele tocou a garganta.
- Chego daqui a quatorze minutos.
- Ninguém deve ficar sabendo do acidente.
- Pode deixar comigo.
Ele manteve o tom de sua voz calmo, respirando pelo nariz. Na voz do outro, percebeu medo e comando. Quanta fraqueza. Era um dos motivos por que ele raras vezes visitava o Granitschloβ, o Castelo de Granito, preferindo viver nos seus arredores, como era seu direito.
Ninguém lhe pedia que se aproximasse.
Eles apenas solicitavam suas habilidades quando mais precisavam delas.
Seu fone de ouvido estalou.
- Eles em breve chegarão ao mosteiro.
Ele não se deu o trabalho de responder. Ouviu o ruído surdo e distante de rotores e fez os cálculos mentalmente. Não era necessário apressar-se. As montanhas ensinavam a ter paciência.
Ele regularizou a respiração e continuou descendo em direção ao agrupamento de edifícios de pedra com teto de telhas vermelhas. O mosteiro Temp Och situava-se à beira de um penhasco, e só se podia chegar até ele por um único caminho vindo de baixo. Os monges e os discípulos raramente tinham de se preocupar com o resto do mundo.
Até três dias atrás.
O acidente.
O seu dever era terminar o serviço.
O som repetitivo do helicóptero que se aproximava foi ficando mais alto, erguendo-se de baixo. Ele manteve o passo constante. Dispunha de muito tempo. Era importante que os que estavam se aproximando entrassem no mosteiro.
Seria mais fácil matá-los todos.
Do helicóptero, o mundo lá embaixo havia congelado num negativo fotográfico perfeito. Um objeto de estudo pleno de contrastes. Pretos e brancos. Neve e rocha. Picos envoltos em neblina e desfiladeiros tragados pelas sombras. A luz da manhã refletia-se dolorosamente das montanhas geladas e dos penhascos glaciais, ameaçando com nifablepsia por causa do ofuscante brilho aéreo.
Lisa desviou o olhar da claridade. Quem viveria tão distante de tudo? Num ambiente tão implacável como aquele? Por que o gênero humano sempre achava aqueles lugares inóspitos para reivindicar, quando vidas muito mais fáceis estavam à sua disposição?
Mas, pensando bem, sua mãe sempre formulava a mesma pergunta para ela. Por que tais extremos? Cinco anos no mar num navio de pesquisa, depois mais um ano treinando e condicionando-se para os rigores do alpinismo, e agora ali, no Nepal, preparando-se para fazer uma investida contra o Everest. Qual a razão desses riscos, quando uma vida mais fácil estava prontamente disponível?
A resposta de Lisa sempre fora simples: pelo desafio. George Mallory, lenda do alpinismo, não havia dado uma resposta semelhante quando lhe perguntaram por que ele havia escalado o Everest? Porque ele estava lá. Claro que a verdadeira história por trás dessa resposta famosa era que Mallory a havia pronunciado com raiva a um jornalista importuno. Será que a resposta de Lisa às perguntas da mãe não havia sido nada menos que uma reação automática? O que ela estava fazendo ali em cima? Todos os dias a vida oferecia desafios suficientes: ganhar seu sustento, economizar para a aposentadoria, encontrar alguém para amar, sobreviver à perda, criar filhos.
Lisa rejeitou aqueles pensamentos, reconhecendo uma pontada de ansiedade e dando-se conta do que isso poderia implicar. Será que eu estou vivendo uma vida no limite afim de evitar uma vida de verdade?. Teria sido por isso que tantos homens passaram pela minha vida sem permanecerem?
E ali estava ela. Trinta e três anos, sozinha, sem perspectivas, apenas sua pesquisa por companhia, e por cama um saco de dormir para uma só pessoa. Talvez ela simplesmente devesse raspar a cabeça e mudar-se para um daqueles mosteiros no topo das montanhas.
O helicóptero chacoalhou, descrevendo um ângulo para cima.
A atenção dela voltou a se concentrar no presente.
Ai, merda...
Lisa prendeu a respiração quando o helicóptero roçou num cume abrupto. Seus esquis quase removeram a borda de gelo varrida pelo vento e mergulharam no desfiladeiro próximo.
Ela forçou os dedos a fim de desafivelar o cinto de segurança preso ao braço da poltrona. De repente, uma cabana de três quartos para pessoas com dois ou três filhos não parecia assim tão mau.
Ao lado dela, Ang Gelu inclinou-se para a frente e apontou entre o piloto e o soldado, acenando para baixo. O rugido dos rotores tragou suas palavras.
Lisa encostou a face na janela da porta para perscrutar lá fora. A curva de plexiglas frio beijou sua face. Abaixo, ela avistou o primeiro resquício de cor. Uma confusão de tetos de telhas vermelhas. Um pequeno amontoado de oito cabanas de pedra erguia-se num platô, emoldurado por montanhas de 6.000m de altura em três lados e por um penhasco vertical no quarto.
O mosteiro Temp Och.
O helicóptero desceu precipitadamente em direção às construções. Lisa notou uma plantação de batatas em terraços num lado. Alguns currais e celeiros espalhavam-se no outro. Nenhum movimento. Ninguém saiu para cumprimentar os barulhentos recém-chegados.
De maneira mais sinistra, Lisa notou um grupo de cabras e ovelhas bharal reunido nos currais. Elas também não se moviam. Em vez de entrarem em pânico por causa do helicóptero que descia, todas elas estavam estateladas no chão, com as patas torcidas, os pescoços flexionados, uma situação anormal.
Ang Gelu notou o mesmo e afundou no assento. Seus olhos encontraram os dela. O que havia acontecido? O piloto e o soldado discutiam no assento da frente. Era óbvio que o piloto não queria aterrissar. O soldado venceu a discussão pondo a palma de uma das mãos na culatra de seu rifle. O piloto fechou a cara e ajustou sua máscara de oxigênio, apertando-a ainda mais sobre o nariz e a boca. Não porque precisasse do suplemento de ar, mas por medo de contágio.
Todavia, o piloto obedeceu às ordens do soldado. Ele afogou os controles e baixou o helicóptero em direção ao solo. Dirigiu-se para o mais longe possível dos currais, descendo rumo à borda da plantação de batatas do mosteiro.
A plantação era formada por uma série de camadas, dispostas como num anfiteatro, revestidas por fileiras de minúsculos brotos verdes. O cultivo da batata em grandes altitudes fora introduzido pelos britânicos no início do século XIX, e as batatas haviam se transformado numa das culturas de subsistência da região. Com um solavanco estridente, os esquis do helicóptero atingiram o solo rochoso, esmagando uma fileira de plantas. Os brotos próximos agitaram-se e ondularam devido ao distúrbio no ar causado pelos rotores.
Mesmo assim ninguém percebeu a chegada deles. Ela pensou nos animais mortos. Será que havia pelo menos alguém para resgatar? O que havia acontecido ali? Várias etiologias percorreram seu cérebro, junto com rotas de exposição: ingestão, inalação, contato. Ou será que era contagioso? Ela precisava de mais informações.
- Talvez a senhora deva ficar aqui - disse Ang Gelu a Lisa enquanto desafivelava o cinto de segurança. - Deixe-nos inspecionar o mosteiro.
Lisa pegou sua mochila com o material médico do assoalho do helicóptero e sacudiu a cabeça.
- Eu não tenho medo dos doentes. E talvez existam perguntas às quais só eu possa responder.
Ang Gelu acenou com a cabeça, falou apressadamente com o soldado e abriu a portinhola traseira. Ele desceu e voltou-se para estender uma das mãos para Lisa.
Ventos frios varreram o interior aquecido, auxiliados pela agitação dos rotores. Puxando para cima o capuz de sua parca, Lisa descobriu que a corrente de ar fria removia gradualmente o oxigênio que porventura ainda houvesse no ar naquela altitude. Ou talvez fosse o medo. Suas palavras anteriores eram mais corajosas do que ela sentia.
Ela segurou a mão do monge. Mesmo através das luvas de lã, ela sentiu a força e o calor dele. Ele não se deu o trabalho de cobrir a cabeça raspada, aparentemente esquecido do frio glacial.
Ela desembarcou, mas permaneceu abaixada sob o impetuoso movimento giratório das hélices do helicóptero. O soldado desceu por último. O piloto permaneceu na cabine. Embora tivesse aterrissado o helicóptero conforme ordenado, ele não ia correr o risco de abandonar seu abrigo.
Ang Gelu fechou a portinhola com força, e o trio saiu às pressas pela plantação de batatas em direção à confusão de construções de pedra.
Do solo, as cabanas de pedregulhos vermelhos eram mais altas do que pareciam do ar. A estrutura mais central parecia ter a altura de três andares, encimada por um teto no estilo de um pagode. Todos os edifícios eram elaboradamente decorados. Murais com as cores do arco-íris emolduravam portas e janelas. Folha de ouro fazia brilhar os dintéis, enquanto dragões esculpidos em pedra e pássaros míticos sorriam com expressão escarninha e olhavam de soslaio dos cantos dos telhados. Pórticos cobertos ligavam as várias construções, criando pequenos pátios e espaços privados. Moinhos de orações de madeira, gravados com inscrições antigas, estavam assentados sobre estacas em todas as estruturas. Bandeiras de orações multicores caíam em dobras das linhas do teto, estalando nas rajadas intermitentes de vento.
Embora a aparência fosse a de um conto de fadas, de uma Xangrilá no alto de uma montanha, Lisa percebeu que seus passos estavam lentos. Nada se movia. As venezianas da maioria das janelas estavam fechadas. O silêncio era opressivo.
Em seguida o ar ficou nitidamente pestilento. Apesar de ser sobretudo uma pesquisadora, Lisa havia se familiarizado o bastante com a morte quando era médica residente. O miasma fétido da putrefação não podia ser dissipado tão facilmente. Ela rezou para que ele estivesse vindo apenas dos animais no outro lado do pavilhão. Porém, pela falta de reação à presença deles, ela não acalentava muita esperança.
Ang Gelu seguiu na frente, flanqueado pelo soldado. Lisa foi obrigada a apressar-se para acompanhar o passo deles. Eles passaram entre dois edifícios e dirigiram-se para a estrutura elevada no centro.
No pátio principal, ferramentas agrícolas estavam espalhadas desordenadamente pelo chão, como se tivessem sido abandonadas às pressas. Uma carroça presa a um iaque estava virada de lado. O animal também estava morto, estatelado em seu flanco, a barriga inchada. Olhos leitosos fitavam-nos. Uma língua distendida projetava-se de lábios negros inchados.
Lisa observou a ausência de moscas ou de outros minúsculos oportunistas. Havia moscas naquela altitude? Ela não tinha certeza. Perscrutou o céu. Nenhum pássaro. Nenhum ruído, exceto o do vento agora calmo.
- Por aqui - disse Ang Gelu.
O monge encaminhou-se para um conjunto de portas altas que conduziam à habitação central, sem dúvida o templo principal. Ele testou o trinco, percebeu que estava destrancado e abriu-o com um gemido de dobradiças.
Além da soleira, esboçou-se o primeiro sinal de vida. Em cada lado da entrada, lâmpadas do tamanho de um barril luziam com uma dezena de pavios flamejantes. Lâmpadas de manteiga, alimentadas por manteiga de iaque. O odor fétido era pior no interior. Isso era um mau presságio.
Até mesmo o soldado, agora, se absteve de transpor a soleira, mudando a arma automática de um ombro para o outro, como para se tranqüilizar. O monge simplesmente entrou no templo. Ele gritou uma saudação, que ecoou.
Lisa entrou atrás de Ang Gelu. O soldado manteve seu posto à entrada.
Mais algumas lâmpadas grandes como barris iluminavam o interior do templo. De cada lado, moinhos de orações altíssimos revestiam as paredes, enquanto velas com odor de junípero queimavam perto de uma estátua de Buda de teca de 2,5m de altura. Outros deuses do panteão estavam enfileirados atrás de seus ombros.
Quando os olhos de Lisa se acostumaram ao interior escuro, ela observou as numerosas pinturas nas paredes e as mandalas intrincadamente esculpidas em madeira, representando cenas que, à luz bruxuleante, pareciam demoníacas. Ela olhou para cima. Uma fileira de pilares estendia-se até o segundo andar, sustentando um conjunto de lâmpadas suspensas, todas escuras e frias.
Ang Gelu tornou a chamar.
Em algum lugar acima de suas cabeças, algo rangeu.
O barulho súbito congelou-os. O soldado ligou uma lanterna e moveu-a para cima. Sombras tremeram e mudaram de posição, mas não havia nada ali.
O rangido de tábuas soou de novo. Alguém estava se movendo no andar superior. Apesar do sinal de vida positivo, a pele de Lisa ficou toda arrepiada.
Ang Gelu falou:
- Uma sala de meditação privada dá vista para o templo. Há uma escada nos fundos. Eu vou dar uma olhada. Fiquem aqui.
Lisa quis obedecer, mas sentiu o peso de sua mochila com o material médico e de sua responsabilidade. Os animais não haviam sido mortos por mãos humanas. Ela estava certa disso. Se houvesse um sobrevivente, alguém que pudesse dizer o que havia acontecido ali, ela estaria mais bem preparada para sua tarefa.
Ela pendurou a mochila mais alto no ombro.
- Eu também vou.
Apesar da voz firme, deixou Ang Gelu ir na frente.
Ele contornou a estátua de Buda até uma entrada em arco perto dos fundos e transpôs uma cortina de brocado bordado a ouro. Um pequeno corredor conduzia ainda mais para o interior da estrutura. Janelas providas de venezianas permitiam que alguns filetes de luz penetrassem na escuridão poeirenta. Eles iluminavam uma parede caiada. A mancha vermelha e a sujeira ao longo de uma parede não exigiam uma inspeção minuciosa.
Sangue.
Duas pernas nuas e inertes projetavam-se de uma entrada na metade do corredor... em meio a uma poça negra. Ang Gelu acenou para que ela voltasse para o templo. Ela sacudiu a cabeça e passou por ele. Ela não esperava salvar quem quer que estivesse caído ali. Era óbvio que ele já devia estar morto. Mas o instinto impulsionou-a. Em cinco passos, estava junto ao corpo.
Num piscar de olhos, ela compreendeu a cena e recuou.
Pernas. Isso era tudo o que restara do homem. Apenas um par de membros decepados, cortados na metade da coxa. Ela olhou mais para dentro do aposento, para o matadouro. Braços e pernas estavam empilhados como lenha no centro do quarto.
E depois as cabeças decepadas, enfileiradas metodicamente ao longo de uma parede, olhando para dentro, os olhos escancarados de horror daquilo tudo.
Ang Gelu estava ao lado dela. Ele enrijeceu diante daquela visão e murmurou algo que soou meio como uma oração, meio como uma maldição.
Como se o tivesse ouvido, alguma coisa mexeu-se no aposento. Ela ergueu-se no outro lado da pilha de membros. Uma figura nua, com a cabeça raspada, banhada de sangue como um recém-nascido. Era um dos monges do templo.
O homem emitiu um sibilo gutural. A loucura transparecia de maneira apática. Os olhos capturaram a luz escassa e refletiram-na de volta, como um lobo à noite.
Ele andava pesadamente na direção deles, arrastando pelas tábuas uma foice de um metro de comprimento. Lisa recuou vários passos no corredor. Ang Gelu falou mansamente, as palmas das mãos erguidas em súplica, sem dúvida tentando aplacar a criatura ensandecida.
- Relu Na - disse ele. - Relu Na.
Lisa percebeu que Ang Gelu reconhecera o louco, alguém que ele conhecia de uma visita anterior ao mosteiro. O simples ato de ter dado um nome ao homem humanizou-o e transformou a monstruosidade daquilo tudo em algo mais horrendo.
Com um grito áspero, o monge lançou-se sobre o seu confrade. Ang Gelu esquivou-se facilmente da foice. A coordenação do homem havia se deteriorado junto com sua mente. Ang Gelu atracou-se com ele, segurou-o, imprensando-o num dos lados do caixilho da porta.
Lisa agiu rápido. Ela baixou sua mochila, abriu um zíper, tirou um estojo de metal e abriu-o com o polegar.
Dentro havia uma fileira de seringas de plástico, protegidas e já com uma carga de vários medicamentos de emergência: morfina para dor, epinefrina para anafilaxia, Lasix para edema pulmonar. Embora cada seringa tivesse um rótulo, ela havia memorizado a posição de cada uma. Numa emergência, cada segundo contava. Ela pegou a última seringa.
Midazolam. Sedativo injetável. Loucuras e alucinações não eram incomuns em lugares tão altos como aquele, exigindo às vezes contenção por meio de substâncias químicas.
Usando os dentes, ela tirou o protetor da agulha e avançou às pressas.
Ang Gelu continuava a segurar o monge, mas ele se debatia e resistia à preensão firme do outro. O lábio de Ang Gelu estava rachado, e um lado de seu pescoço, todo arranhado.
- Mantenha-o imobilizado! - gritou Lisa.
Ang Gelu esforçou-se ao máximo - porém, naquele momento, talvez percebendo a intenção da médica, o louco moveu-se repentinamente para a frente e deu uma profunda mordida no rosto de Ang Gelu.
O monge deu um grito agudo quando sua carne foi rasgada até o osso.
Mas continuou a segurar o outro com força.
Lisa correu em seu auxílio, introduziu a agulha no pescoço do louco e empurrou o êmbolo até o fim.
- Pode soltá-lo!
Ang Gelu empurrou o homem com força de encontro ao marco da porta, batendo a cabeça dele contra a madeira. Eles recuaram.
- O sedativo vai surtir efeito em menos de um minuto.
Ela teria preferido uma injeção intravenosa, mas era impossível aplicá-la com a violenta agitação do homem. A injeção intramuscular profunda bastaria. Assim que o homem se acalmasse, ela poderia aprimorar os cuidados, talvez obter algumas respostas.
O monge nu gemeu, tocando o pescoço. O sedativo o afligia. Cambaleou de novo, na direção deles, estendeu a mão outra vez para a sua foice abandonada e reergueu-se.
Lisa puxou Ang Gelu para trás.
- Espere um pouco...
... crac...
A detonação do rifle foi ensurdecedora no corredor estreito. A cabeça do monge explodiu numa profusão de sangue e osso. O corpo recuou com o impacto e desabou no chão.
Lisa e Ang Gelu olharam horrorizados para o atirador.
O soldado nepalês mantinha a arma apoiada no ombro e baixou-a devagar. Ang Gelu começou a repreendê-lo em sua língua materna, quase arrebatando a arma do soldado.
Lisa foi até o corpo e checou o pulso. Nada. Olhou fixamente para o corpo, tentando encontrar alguma resposta. Seria necessário um necrotério com modernas instalações médico-legais para determinar a causa da loucura. Pela história do mensageiro, o que quer que houvesse ocorrido ali não havia afetado apenas aquele homem. Outros deviam ter sido afligidos em graus variados.
Mas pelo quê? Haveriam sido expostos a algum metal pesado na água, a um vazamento subterrâneo de gás venenoso ou a algum fungo tóxico em cereais velhos? Poderia ser algo viral, como o ebola? Ou mesmo uma nova forma da doença da vaca louca? Ela tentou lembrar se os iaques eram suscetíveis. Lembrou-se da carcaça inchada no pátio. Ela não sabia.
Ang Gelu voltou para o lado dela. Sua face estava toda ensangüentada, mas ele parecia esquecido do ferimento. Toda a sua dor estava concentrada no corpo no chão.
- O nome dele era Relu Na Havarshi.
- O senhor o conhecia.
Um aceno afirmativo de cabeça.
- Ele era primo do marido da minha irmã. De uma pequena aldeia rural em Raise. Ele havia sido influenciado pelos rebeldes maoístas, mas a crescente selvageria deles não estava em sua natureza. Ele fugiu. Para os rebeldes, fazer isso era assinar a sentença da própria morte. A fim de escondê-lo, consegui um lugar para que ficasse no mosteiro... onde os seus ex-camaradas jamais o descobririam. Aqui, ele encontrou um lugar sereno para se curar... ou eu havia rezado para isso. Agora, terá de encontrar o próprio caminho para essa paz.
- Sinto muito.
Lisa levantou-se. Imaginou a pilha de membros no aposento ao lado. Será que a loucura desencadeara algum choque pós-traumático, fazendo com que Relu Na expressasse em ações o que mais o aterrorizava?
Acima, outro rangido repentino soou.
Todos os olhos voltaram-se para cima.
Ela esquecera o que os trouxera até ali. Ang Gelu apontou para uma escada estreita e íngreme ao lado da entrada acortinada do templo. Ela não a notara. Era mais uma escada de mão do que uma escada comum.
Vou subir - disse ele.
Todos nós vamos ficar juntos - afirmou Lisa, que foi até a mochila, pôs outra dose de sedativo na seringa e a manteve na mão. - Apenas assegure-se de que o Pepe Legal ali do outro lado mantenha o dedo longe do gatilho.
O soldado foi o primeiro a subir a escada. Inspecionou as adjacências e acenou para que eles subissem. Lisa subiu e descobriu um aposento vazio. Pilhas de travesseiros finos estavam amontoadas num canto. O aposento cheirava a resina e a incenso provenientes da sala do andar de baixo.
O soldado manteve a arma apontada para uma porta de madeira no outro lado. Uma luz fraca vazava sob o umbral. Antes que algum deles pudesse se aproximar, uma sombra passou pela faixa de luz.
Alguém estava lá dentro.
Ang Gelu avançou e bateu à porta.
O rangido parou.
Ele gritou através da porta. Lisa não entendeu suas palavras, mas outra pessoa sim. Um rangido de madeira soou. Um trinco foi erguido. A porta foi entreaberta - mas não além.
Ang Gelu apoiou a palma de uma das mãos na porta.
- Tenha cuidado - sussurrou Lisa, segurando com mais força a seringa, sua única arma.
Ao lado dela, o soldado fez o mesmo com o rifle.
Ang Gelu escancarou a porta. O cômodo não era maior do que um quartinho onde cabia uma só pessoa. No canto havia uma cama imunda. Uma mesinha lateral sustentava uma lamparina a óleo. O ar estava empestado com o odor fétido de urina e fezes vindo de um urinol aberto ao pé da cama. Quem quer que houvesse se refugiado ali não se arriscara a sair por dias a fio.
Num canto, um velho estava em pé, de costas para eles. Ele usava a mesma túnica vermelha que Ang Gelu, mas suas vestes estavam esfarrapadas e manchadas. Havia amarrado as dobras inferiores ao redor das coxas, expondo as pernas nuas. Trabalhava num projeto, escrevendo na parede. Na verdade, pintura a dedo.
Com o próprio sangue.
Mais loucura.
Ele segurava um pequeno punhal na outra mão. As pernas nuas exibiam cortes profundos, a origem de sua tinta. Ele continuou a trabalhar, mesmo quando Ang Gelu entrou.
- Lama Khemsar - disse Ang Gelu, com preocupação e cautela na voz.
Lisa entrou depois dele, com a seringa pronta nos dedos. Ela fez um aceno de cabeça para Ang Gelu quando ele se virou para olhá-la. Também sinalizou para que o soldado se afastasse. Não queria uma repetição do que ocorrera lá embaixo.
Lama Khemsar virou-se. Seu rosto era apático e seus olhos pareciam vítreos e ligeiramente leitosos, mas a luz da lamparina refletia-se com intensidade, com muita intensidade, com a intensidade da febre.
- Ang Gelu - sussurrou o velho monge, olhando aturdido para as centenas de linhas de símbolos pintados nas quatro paredes. Um dedo ensangüentado ergueu-se, pronto para continuar a trabalhar.
Ang Gelu caminhou na direção dele, obviamente aliviado. O homem, mestre do mosteiro, ainda não era um caso perdido. Talvez fosse possível obter respostas. Ang Gelu falou na língua materna deles.
Lama Khemsar fez um aceno de cabeça, mas se recusou a afastar-se de sua obra em sangue. Lisa estudou a parede enquanto Ang Gelu persuadia o velho monge. Embora não estivesse familiarizada com a escrita, viu que o trabalho era simplesmente o mesmo agrupamento de símbolos repetidos incessantemente.
Percebendo que devia haver um significado naquilo, Lisa alcançou sua mochila e tirou a câmera com uma das mãos. Apoiando-a no quadril, focalizou a parede e tirou uma foto. Mas esqueceu-se do flash.
O aposento encheu-se de um brilho repentino.
O velho deu um grito e girou-se, com o punhal na mão. Golpeou violentamente o ar. Sobressaltado, Ang Gelu recuou. Mas não fora ele o alvo. Lama Khemsar gritou algumas palavras com um medo digno de pena e passou a lâmina pela própria garganta. Uma linha vermelha transformou-se numa torrente pulsante. O corte penetrou até a traquéia. O sangue formava bolhas com a respiração agonizante do velho monge.
Ang Gelu precipitou-se para ele e jogou a lâmina longe. Pegou Lama Khemsar e baixou-o até o chão, aninhando-o. O sangue ensopou a túnica, os braços e o colo de Ang Gelu.
Lisa largou a câmera e a mochila e correu para a frente. Ang Gelu tentava exercer pressão sobre a ferida, mas era inútil.
- Ajude-me a deitá-lo no chão - disse Lisa. - Tenho de obter uma via respiratória... Ang Gelu sacudiu a cabeça. Sabia que seria em vão. Ele simplesmente embalava o velho lama. A respiração do homem, marcada pelas bolhas que saíam do corte, já havia cessado. A idade, a perda de sangue e a desidratação já haviam debilitado Lama Khemsar.
- Sinto muito - disse Lisa. - Eu pensei... - Ela apontou com um braço para as paredes. - Eu pensei que isto pudesse ser importante.
Ang Gelu balançou a cabeça.
- Isto não passa de símbolos incoerentes. Os rabiscos de um louco.
Sem saber o que mais poderia fazer, Lisa pegou o estetoscópio e enfiou-o sob a bainha da túnica do homem. Procurou dissimular sua culpa com algo improdutivo apenas para se manter ocupada. Em vão: nenhum batimento cardíaco. Mas descobriu cicatrizes ao longo das costelas do homem. Abriu suavemente a frente ensopada de sangue da túnica dele e expôs seu tórax.
Ang Gelu olhou para baixo e exalou bruscamente.
Parecia que as paredes não eram o único suporte sobre o qual Lama Khemsar escolhera trabalhar. Um símbolo derradeiro fora gravado no tórax do monge, talhado pelo mesmo punhal, muito provavelmente pela mesma mão. Ao contrário dos estranhos símbolos nas paredes, a cruz torcida não podia ser confundida.
Uma suástica.
Antes que eles pudessem reagir, a primeira explosão sacudiu o edifício.
Ele despertou em pânico.
O estrondo de um trovão tirou-o de uma escuridão febril. Não um trovão. Uma explosão. Pó de gesso precipitou-se do teto baixo. Sentou-se, desorientado, lutando para se localizar no tempo e no espaço. O quarto girou um pouco ao seu redor. Ele olhou para baixo, jogando para trás um cobertor de lã sujo. Estava deitado num catre estranho, usando apenas uma tanga de linho. Ergueu um braço, causando um tremor. Sua boca tinha o gosto de pasta morna, e, embora o quarto estivesse abrigado da luz, seus olhos doíam. Um ataque paroxístico de tremores sacudiu-o.
Ele não tinha idéia de onde estava e tampouco quando.
Movendo as pernas para fora do catre, tentou levantar-se. Má idéia. O mundo enegreceu de novo. Ele caiu bruscamente e quase entrou num estado de alheamento, mas os disparos de uma arma de fogo fizeram-no concentrar-se. Tiros de uma arma automática. Próximos. A breve rajada passou aos poucos.
Tentou outra vez, com mais determinação. A memória voltou quando ele cambaleou em direção à única porta, chocou-se contra ela, manteve-se em pé com o auxílio dos braços e girou a maçaneta.
Trancada.
- Foi o helicóptero - disse Ang Gelu. - Ele foi destruído.
Lisa estava em pé em um dos lados da janela alta. Momentos antes, quando o eco da explosão se desvaneceu, eles haviam soltado os trincos da janela e aberto as venezianas. O soldado pensara ter visto movimento no pátio abaixo e disparou precipitadamente.
Não houve resposta aos tiros.
- Poderia ter sido o piloto? - perguntou Lisa. - Talvez tenha havido um problema com o motor e ele evacuou em pânico.
O soldado mantinha sua posição junto à janela, a coronha do rifle apoiada no parapeito, um olho na alça de mira, rastreando e explorando.
Ang Gelu apontou para a turbulência da fumaça oleosa que se erguia da plantação de batatas. Exatamente onde o helicóptero tinha pousado.
Não acredito que tenha sido acidente mecânico.
O que vamos fazer agora? - perguntou Lisa.
Será que outro monge demente havia mandado o helicóptero pelos ares? Em caso afirmativo, quantos outros maníacos estavam soltos no mosteiro? Ela imaginou o homem selvagem brandindo a foice, a automutilação do monge... que diabo estava acontecendo ali?
Nós temos de sair daqui - disse Ang Gelu.
E aonde nós vamos?
Existem pequenas aldeias e uma e outra propriedades rurais a um dia de caminhada. Seja o que for que tenha ocorrido aqui, vai exigir mais de três pessoas para descobrir.
E os outros que estão aqui? O estado mental de alguns talvez não esteja tão comprometido quanto o do primo do seu cunhado. Não deveríamos tentar ajudá-los?
Minha principal preocupação deve ser com sua segurança, dra. Cummings. Além disso, as autoridades devem ser informadas.
Mas se o agente que atacou as pessoas aqui for contagioso? Nós poderíamos disseminá-lo ao viajarmos.
O monge tocou com os dedos a face ferida.
- Com o helicóptero destruído, não dispomos de nenhum meio de comunicação. Se ficarmos aqui, também morreremos... e nenhuma notícia chegará ao mundo exterior.
Ele tinha razão.
- Nós podemos reduzir ao mínimo nossa exposição a outras pessoas até sabermos mais - prosseguiu ele. - Pedir ajuda, mas manter uma distância segura.
Nenhum contato físico - murmurou ela.
Ele moveu a cabeça, confirmando.
A informação que temos vale o risco.
Lisa concordou com um lento gesto com a cabeça. Ela olhou fixamente para a coluna de fumaça negra contra o céu azul. Era bem possível que um membro do grupo deles já estivesse morto. Não havia como saber o verdadeiro número de pessoas acometidas ali. A explosão com certeza havia despertado outras. Se eles quisessem escapar, teriam de ser rápidos.
- Vamos - disse ela.
Ang Gelu falou rude com o soldado. Ele reergueu-se, acenou positivamente e abandonou sua posição junto à janela, a arma de prontidão.
Lisa deu uma última olhadela preocupada no cômodo e no monge, considerando a possibilidade de contágio. Será que eles já estavam infectados? Ela percebeu que estava fazendo uma avaliação para si mesma de sua condição enquanto seguia os outros para fora do aposento e escada abaixo. Sua boca estava seca, os músculos de sua mandíbula doíam e seu pulso batia com força em sua garganta. Mas era só o medo, não era? Uma típica reação de luta ou fuga diante da situação, reações autônomas normais. Ela tocou a testa: úmida, mas sem febre. Respirou fundo para se acalmar, para reconhecer a insensatez. Ainda que o agente fosse infeccioso, o período de incubação seria superior a uma hora.
Eles cruzaram o templo principal, com seu Buda de teca e seus deuses secundários. A luz do dia brilhava com uma intensidade excepcional através da entrada.
A escolta armada checou o pátio por um minuto inteiro, depois acenou que o caminho estava livre. Lisa e Ang Gelu seguiram-no.
Quando entrou no pátio, Lisa examinou os cantos escuros à procura de movimento súbito. Tudo parecia quieto outra vez.
Mas não por muito tempo...
Quando ela virou as costas, uma segunda detonação sacudiu o edifício no outro lado do pátio. A força da explosão a fez cair de quatro. Ela jogou-se rapidamente no chão, girando-se sobre um ombro a fim de olhar para trás.
Telhas voavam em direção ao céu em meio a chamas. Duas granadas de mão detonaram através de janelas despedaçadas, enquanto a porta da moradia explodia numa ruína de estilhaços, expelindo mais fumaça e fogo. O calor passou sobre ela como a exalação de um alto-forno.
Alguns passos adiante, o soldado havia caído sentado em conseqüência da explosão. Ele mantivera posse da arma apenas fechando os dedos em sua alça de couro. Rastejava quando uma chuva de telhas quebradas caiu do céu.
Ang Gelu ficou em pé e estendeu uma das mãos para Lisa.
Foi a desgraça dele.
Uma explosão mais abrupta entremeou o barulho de telhas e o rugido das chamas. Um tiro. A parte superior do rosto do monge explodiu numa névoa de sangue. Mas dessa vez não fora obra da escolta armada dela.
O rifle do soldado ainda estava pendurado pela alça enquanto o homem fugia da chuva de telhas de pedra. Ele parecia não ter ouvido o tiro, porém seus olhos arregalaram-se quando Ang Gelu tombou para a frente. Reagindo por puro reflexo, esquivou-se para a direita e abrigou-se na sombra de uma habitação próxima. Ele gritou para Lisa, ininteligível em seu pânico.
Lisa arrastou-se em direção à entrada do templo. Outro tiro produziu centelhas no pátio de pedra. Junto aos dedos dos pés dela. Ela precipitou-se através da soleira para o interior escuro.
Abaixando-se num canto, observou o soldado avançar furtivamente ao longo da parede, com cuidado para passar longe de onde calculava que o atirador de tocaia pudesse estar empoleirado.
Lisa esqueceu-se de como se respirava, os olhos fixos e arregalados. Examinou com minúcia toda a extensão do teto, as janelas. Quem havia fuzilado Ang Gelu?
Então ela o viu.
Uma sombra correu a toda velocidade através da fumaça que se elevava do edifício no outro lado. Ela captou um reflexo de chamas emitido de um objeto cinza metálico quando o homem correu. Uma arma. O atirador havia saído de sua posição original e rumava para uma nova posição vantajosa.
Lisa voltou para fora, rezando para que as sombras a ocultassem bem. Ela gritou e acenou para o soldado. As costas dele estavam pressionadas contra a parede, e ele deslizava em direção ao local onde ela estava, em direção ao templo principal. Seu olhar e sua arma estavam focados na linha do telhado acima. Ele não vira a fuga do atirador.
Ela tornou a gritar.
- Vamos, saia!
Ela não falava a língua dele, mas seu pânico deve ter sido óbvio. Os olhos dele encontraram os dela. Ela insistiu para que ele viesse para o esconderijo dela. Apontou, tentando ilustrar o caminho pelo qual o atirador havia fugido. Mas aonde ele havia ido? Será que já estava em posição?
- Corra! - gritou ela.
O soldado deu um passo na direção dela. Um brilho súbito sobre o ombro do homem revelou a suposição equivocada de Lisa. O atirador não correra a toda velocidade para conseguir uma nova chance. Chamas dançaram atrás de uma janela no edifício ao lado. Outra bomba.
Oh, Deus...
A detonação surpreendeu o soldado a meio passo. A entrada atrás dele explodiu com mil fragmentos flamejantes, que o trespassaram ao mesmo tempo que a explosão o erguia no ar e o projetava pelo pátio. Ele caiu pesadamente de bruços e deslizou.
Assim que parou, não se mexeu, mesmo quando as chamas incendiaram suas roupas.
Lisa seguiu com astúcia para as profundezas do templo principal, os olhos esquadrinhando a entrada. Afastou-se, em direção à saída dos fundos, voltando para o corredor estreito. Não tinha um plano. Na verdade, mal tinha controle sobre os próprios pensamentos.
Lisa só tinha uma certeza. Quem quer que tivesse assassinado Ang Gelu e o soldado que os escoltava não era um monge enlouquecido. As ações haviam sido calculadas demais, a execução havia sido muito bem planejada.
E agora ela estava sozinha.
Ela checou o corredor estreito e avistou o corpo ensangüentado de Relu Na. O resto do corredor parecia livre. Se conseguisse pegar a foice abandonada do homem morto... ter pelo menos uma arma na mão...
Ela entrou no corredor.
Antes que pudesse dar um segundo passo, uma forma materializou-se atrás dela. Um braço nu apertou com força seu pescoço. Palavras ásperas foram berradas ao seu ouvido.
- Não se mova.
Como não era uma garota obediente, Lisa deu uma cotovelada no estômago de seu agressor.
Um ufa! de satisfação e o braço desprendeu-se. O agressor recuou pela cortina de brocado bordado que cobria a entrada, arrastando-a para baixo com seu peso, e caiu sentado.
Lisa girou-se, agachou-se e preparou-se para correr.
O homem usava apenas uma tanga. Sua pele estava profundamente bronzeada, com várias marcas de cicatrizes antigas. Cabelos pretos lisos, desgrenhados, semi-ocultavam seu rosto. Pelo tamanho, musculatura e ombros largos, ele parecia mais um americano do que um monge tibetano.
Por outro lado, no entanto, poderia ser apenas a impressão causada pela tanga.
Com um gemido, ele ergueu os olhos para ela. Olhos azuis como o gelo refletiam a luz das lamparinas.
Quem é você? - perguntou ela.
Painter - respondeu ele com um gemido. - Painter Crowe.
Copenhague, Dinamarca
Qual era a relação entre livrarias e gatos?
O comandante Grayson Pierce mastigou ruidosamente outro comprimido de Claritin quando saiu do hotel Nyhavn. A pesquisa do dia anterior entre a comunidade de bibliófilos de Copenhague havia-o conduzido a meia dúzia de livrarias da cidade. Em cada uma delas, grupos de felinos com seus alérgenos pareciam ter fixado residência, descansando nos balcões, espreitando no alto de prateleiras bambas repletas de poeira e de couro desfazendo-se em pó.
Ele agora sofria por isso, refreando um espirro. Ou talvez fosse simplesmente o começo de um resfriado. A primavera em Copenhague era úmida e fria como o inverno na Nova Inglaterra. Ele não colocara agasalhos suficientes na bagagem.
Usava um suéter comprado em uma butique de preços abusivos perto do seu hotel. A gola rulê era de lã de merino canelada, não tingida e simples. E coçava. No entanto, protegia da friagem do início da manhã. Embora já fizesse uma hora que o dia raiara, o sol frio num céu cinza-azulado não oferecia esperança de um dia mais quente. Coçando na altura do colarinho, ele seguiu na direção da estação ferroviária central.
Seu hotel estava localizado ao lado de um dos canais da cidade. Casas geminadas pintadas com cores alegres - uma mistura de lojas, albergues e residências - enfileiravam-se em ambos os lados do canal, fazendo Gray lembrar-se de Amsterdã. Ao longo das margens, estava atracado um agrupamento heterogêneo de embarcações, uma imprensada contra a outra: chalupas rasas desbotadas, barcos de excursão brilhantes, escunas de madeira majestosas, iates brancos que cintilavam. Gray passou por um deles e sacudiu a cabeça: parecia um bolo de casamento flutuante. Já tão cedo, alguns visitantes com suas câmeras perambulavam de um lado para outro ou posicionavam-se ao longo dos parapeitos da ponte para tirar fotografias.
Ele cruzou o vão de pedra e seguiu pela margem do canal por meio quarteirão, depois parou e encostou-se no parapeito de tijolos com vista para o canal. Seu reflexo na água calma apareceu abaixo, sobressaltando-o por um momento. Meio encoberto pela sombra, o rosto de seu pai encarava-o: cabelos negros como carvão escorriam sobre olhos azuis, uma cova no queixo, todos os planos de seu rosto eram ângulos agudos, definindo uma inflexível herança galesa. Ele era inequivocamente filho de seu pai. Um fato no qual Gray vinha pensando um pouco demais ultimamente e que o mantinha acordado à noite.
O que mais ele havia herdado do pai?
Um casal de cisnes negros passou deslizando por onde ele estava, agitando as águas, fazendo o reflexo tremular. Os cisnes seguiram para a ponte, seus longos pescoços movendo-se vaidosos, os olhos com um ar indiferente.
Gray seguiu o exemplo deles. Endireitando-se, fingiu interesse em tirar uma foto da fileira de barcos, embora estivesse, na verdade, observando a ponte que acabara de cruzar. Estava atento a quaisquer vagabundos, a qualquer rosto familiar, a alguém suspeito. Aquela era uma das vantagens de residir perto do canal. As pontes eram locais de aglomeração perfeitos para observar qualquer pessoa que o estivesse seguindo. Ao ziguezaguear pelos vãos de pedra, ele obrigaria qualquer um na sua cola a se expor. Ele observou por um minuto, até ficar satisfeito, memorizando rostos e modos de andar, e então seguiu em frente.
Numa missão de menor importância como aquela, o hábito era mais paranóico que o necessário, mas ele trazia no pescoço um lembrete da importância da diligência: um cordão do qual pendia um amuleto com um pequeno dragão de prata. Fora um presente de uma agente que atuava no outro lado do muro. Ele carregava-o como um lembrete. Para ter cautela.
Quando começou a andar de novo, ele sentiu uma vibração familiar em seu bolso. Pegou seu telefone celular e abriu-o. Quem estaria lhe telefonando assim tão cedo?
- Alô - respondeu.
- Gray, ainda bem que o achei.
A suavidade familiar da voz aqueceu-o na friagem da manhã. Um sorriso suavizou suas feições duras.
- Rachel...? - Os passos dele vacilaram de preocupação. - Aconteceu alguma coisa?
Rachel Verona era o motivo principal por que Gray havia solicitado aquela missão, sobrevoando o Atlântico até a Dinamarca. Embora a investigação em curso pudesse ter sido conduzida por qualquer assistente de pesquisa de baixo nível na Sigma, a missão oferecia uma oportunidade perfeita de reencontrar a bela tenente de cabelos pretos dos Carabinieri. Os dois haviam se conhecido em Roma no ano anterior enquanto trabalhavam num caso. Desde então haviam inventado todo tipo de pretexto para se encontrarem. No entanto, isso se revelara difícil. O cargo dela mantinha-a presa à Europa, ao passo que o dele na Força Sigma restringia seu tempo longe de Washington, D.C. Fazia quase oito semanas que eles haviam estado juntos pela última vez.
Um tempo longo demais.
Gray imaginou o último encontro deles, numa vila em Veneza, a silhueta de Rachel recortada contra a porta aberta da sacada, a pele dela brilhante à luz do sol poente. Eles haviam passado aquela noite inteira na cama. As lembranças inundaram-no: o gosto de canela e chocolate dos lábios dela, o delicioso perfume de seus cabelos úmidos, o calor de sua respiração no pescoço dele, os gemidos suaves, o ritmo de seus corpos entrelaçados, a carícia da seda...
Ele rezou para que ela se lembrasse de pôr aquele ursinho de pelúcia preto na bagagem.
- Meu vôo atrasou - disse Rachel, interrompendo o devaneio dele com a realidade.
- O quê?
Ele ficou sério junto ao canal, incapaz de dissimular o desapontamento em sua voz.
- Fui transferida para um vôo da KLM. Vou chegar às dez da noite.
Dez da noite. Ele franziu a testa. Aquilo significava ter de cancelar a reserva para o jantar ao pôr do sol no St. Gertruds Kloster, um restaurante à luz de velas instalado na galeria subterrânea do mosteiro medieval. Ele tivera de fazer a reserva com uma semana de antecedência.
- Sinto muito - disse Rachel, enchendo o silêncio dele.
- Não... não se preocupe. Contanto que você chegue aqui. Isso é tudo que importa.
- Eu sei. Sinto tanto a sua falta.
- Eu também.
Gray sacudiu a cabeça por causa de sua resposta esfarrapada. Havia muito mais em seu coração, mas as palavras se recusavam a aflorar. Por que era sempre assim? O primeiro dia de cada encontro exigia a superação de certa formalidade entre eles, de uma timidez embaraçosa. Embora fosse compreensível romantizar que eles simplesmente cairiam fácil e imediatamente nos braços um do outro, a realidade era bem outra. Nas primeiras horas, eram apenas estranhos com um passado comum. É claro que se abraçavam, se beijavam e diziam palavras apropriadas, mas a intimidade mais profunda requeria tempo, horas necessárias para pôr em dia a vida de um e de outro em cada lado do Atlântico. Porém, ainda mais importante, eles tentavam encontrar seu ritmo de novo, aquela cadência calorosa que aos poucos se transformava em algo mais apaixonado.
E cada vez Gray receava que eles não a encontrassem.
- Como está seu pai? - perguntou Rachel, iniciando os primeiros passos da dança.
Ele recebeu bem o desvio da conversa, embora não necessariamente o assunto. Pelo menos tinha boas notícias.
- Ele está muito bem. Seus sintomas estabilizaram-se bastante há pouco tempo. Apenas alguns ataques de confusão. Minha mãe está convencida de que a melhora se deve ao curry.
- Ao curry? A especiaria?
- Exatamente. Ela leu um artigo que dizia que a curcumina, o pigmento amarelo do curry, atua como antioxidante e antiinflamatório. É até mesmo possível que ela ajude a decompor as placas amilóides às quais a doença de Alzheimer é atribuída.
- Isso parece promissor.
- Por isso, agora minha mãe põe curry em tudo. Até mesmo nos ovos mexidos que meu pai come de manhã. A casa inteira cheira como um restaurante indiano.
A risada suave de Rachel iluminou a manhã melancólica.
- Pelo menos ela está cozinhando.
O sorriso de Gray alargou-se. Sua mãe, uma professora de biologia estável na Universidade George Washington, jamais fora reconhecida pela habilidade doméstica. Ela estivera ocupada demais com o desenvolvimento de sua carreira, uma necessidade depois do acidente industrial que havia incapacitado o pai de Gray quase vinte anos atrás. Agora a família estava lutando contra um novo problema: os estágios iniciais da doença de Alzheimer de seu pai. Recentemente, a mãe de Gray havia tirado uma curta licença da universidade, a fim de ajudar a cuidar do marido, mas agora falava em voltar às salas de aula. Com tudo indo tão bem, a ocasião revelara-se propícia para Gray sair de Washington naquela curta viagem.
Antes que ele pudesse responder, seu telefone tocou com outra chamada. Ele verificou a origem da ligação. Droga...
- Rachel, eu estou recebendo um telefonema do comando central. Tenho de atender. Sinto muito.
- Ah, então eu vou liberar você.
- Espere, Rachel. Qual o número do seu vôo?
- O vôo é KLM 403.
- Memorizei. Vejo você hoje à noite.
- Hoje à noite - repetiu ela e desligou.
Gray atendeu o telefonema.
- Aqui é o Pierce.
- Comandante Pierce.
O sotaque entrecortado do homem que estava telefonando, típico da Nova Inglaterra, identificou-o imediatamente como Logan Gregory, o vice-diretor da Força Sigma, subordinado imediato do diretor Painter Crowe. Como era de costume, Logan não desperdiçou palavras.
- Temos novidades para relatar que podem estar relacionadas com a sua busca em Copenhague. A Interpol informa um súbito aumento no interesse pelo leilão de hoje.
Gray havia cruzado outra ponte. Parou de novo. Dez dias atrás, um banco de dados da Agência de Segurança Nacional (NSA) havia transmitido informações sobre uma série de negócios no mercado negro, todos relacionados com documentos históricos que haviam pertencido a cientistas da era vitoriana. Alguém estava colecionando manuscritos, transcrições, documentos jurídicos, cartas e diários dessa era, muitos com vestígios de propriedade nebulosos. E, embora normalmente isso fosse de pouco interesse para a Força Sigma, que se concentrava em questões de segurança global, o banco de dados da NSA vinculava várias das vendas a facções no seio de organizações terroristas. E as rotas do dinheiro de tais organizações eram sempre examinadas.
Todavia, aquilo não fazia sentido. Embora sem dúvida esses documentos históricos tivessem se revelado um mercado crescente para investimento especulativo, não se tratava de um dos campos de atividade da maioria das organizações terroristas. Mas, por outro lado, os tempos estavam mudando.
De qualquer modo, a Força Sigma havia sido convocada para investigar os figurões envolvidos. A missão de Gray era obter informações sobre a venda que ocorreria no fim daquela tarde apenas para convidados, o que incluía pesquisar itens de particular interesse, vários dos quais seriam postos em leilão por colecionadores da cidade e lojas da área. Por isso ele passara os últimos dois dias visitando livrarias poeirentas e antiquários nas ruelas de Copenhague. Encontrou o máximo de ajuda em uma loja na Hojbro Plads, cujo proprietário era um expatriado da Geórgia. Com a ajuda do ex-advogado, Gray sentia-se preparado. Seu plano naquela manhã fora examinar o local do leilão e instalar algumas microcâmeras próximas a todas as entradas e saídas. No leilão, Gray deveria apenas observar os figurões e fotografar suas faces sempre que possível. Uma missão insignificante; porém, se aumentasse o banco de dados de participantes periféricos da guerra contra o terror, tanto melhor.
- O que está causando sensação? - perguntou Gray.
- Um novo item que será leiloado à parte. Ele chamou a atenção de vários dos figurões sob investigação. Trata-se de uma Bíblia antiga que acabou de ser posta em leilão por uma pessoa física.
- E o que há de tão emocionante nisso?
- De acordo com a descrição do item, a Bíblia pertenceu originalmente a Darwin.
- O senhor está se referindo a Charles Darwin, o pai da evolução?
- Exatamente.
Gray bateu de leve o nó de um dedo no parapeito de tijolos. Outro cientista da era vitoriana. Pensava nisso enquanto observava a ponte vizinha.
Seus olhos fixaram-se numa adolescente usando uma jaqueta de malha de lã azul-escuro com o zíper fechado e o capuz puxado para cima. Devia ter 17, 18 anos. De rosto suave, sua pele era da cor de caramelo queimado. Indiana? Paquistanesa? O que ele pôde ver dos cabelos pretos dela revelava que eles eram longos, projetando-se de um lado do capuz numa única trança grossa. Ela trazia uma mochila verde e gasta no ombro esquerdo, como muitos estudantes universitários.
Só que Gray vira a moça antes... cruzando a primeira ponte. À distância de cerca de cinqüenta metros, os olhos dela encontraram os dele por um momento. Ela virou-se rápido demais. Displicente.
Ela estava seguindo-o.
Logan prosseguiu:
- Transferi o endereço do vendedor para o banco de dados do seu telefone. O senhor deve ter bastante tempo para interrogar o proprietário antes do leilão.
Gray deu uma olhada no endereço que aparecia na tela, destacado com precisão num mapa da cidade. A oito quarteirões de distância, perto da Stroget, a principal praça de pedestres, que se estendia pelo centro de Copenhague. Não era longe.
Mas primeiro...
Do canto do olho, ele continuou a monitorar o reflexo da ponte nas águas tranqüilas do canal abaixo. No espelho ondulante, observou a garota curvar os ombros, erguendo mais a mochila, numa frágil tentativa de ocultar suas feições.
Será que ela sabia que seu disfarce havia sido descoberto?
- Comandante Pierce? - disse Logan.
A garota chegou ao fim da ponte, afastou-se a passos largos e desapareceu numa rua transversal. Ele esperou para ver se ela voltava.
- Comandante Pierce, o senhor recebeu esse endereço?
- Sim. Vou investigá-lo.
- Ótimo. Logan desligou.
Do parapeito do canal, Gray examinou minuciosamente os arredores, prestando atenção ao retorno da garota ou à aparição de cúmplices. Lamentou ter deixado sua Glock 9mm no cofre do hotel. Mas as instruções da casa de leilões advertiam que todos os participantes convidados seriam revistados à entrada, inclusive passariam por um detector de metais. A única arma de Gray era uma faca de plástico carbonizado na bainha de uma de suas botas. Isso era tudo.
Ele esperou.
O tráfego de pedestres fluía em torno dele à medida que a cidade despertava. Atrás dele, um comerciante cadavérico colocava gelo numa grande quantidade de caixotes na beira da rua e tirava apressadamente uma seleção de peixes frescos: solha-de-dover, bacalhau, galeota e o ubíquo arenque.
O cheiro afinal expulsou-o de seu posto junto ao canal. Ele foi embora, prestando atenção extra para ver se estava sendo seguido.
Talvez estivesse paranóico demais, mas, em sua profissão, esse tipo de neurose era saudável. Tocou com os dedos o pingente com o dragão ao redor do pescoço e continuou em direção ao centro da cidade.
Após vários quarteirões, sentiu-se seguro o bastante para sacar um bloco de anotações. Na primeira página, estavam escritos itens de interesse particular, colocados em leilão naquela tarde.
- Um exemplar do artigo de Gregor Mendel, de 1865, sobre genética.
- Os livros de Max Planck sobre física: Thermodynamik, de 1897, e Theorie der Wärmestrahlung, de 1906, ambos autografados pelo autor.
- O diário do botânico Hugo de Vries, de 1901, sobre as mutações das plantas.
Gray havia anotado todas as informações possíveis sobre esses itens, de sua pesquisa do dia anterior. Acrescentou, então, a peça de interesse mais recente.
- A Bíblia da família de Charles Darwin.
Fechando o bloco de anotações, ele se perguntou pela centésima vez desde que tomara um avião até ali: Qual era a relação?
Talvez fosse um quebra-cabeça que teria sido melhor deixar para alguma outra pessoa na Sigma. Pensou em pedir a Logan que passasse alguns detalhes a seus colegas Monk Kokkalis e Kathryn Bryant. Os dois haviam se revelado peritos em juntar detalhes e construir padrões onde não existia nenhum. Mas, pensando bem, talvez não houvesse nenhum padrão ali. Ainda era cedo demais para dizer. Gray precisava reunir um pouco mais de informações secretas e mais alguns fatos, em particular sobre o último item.
Até então, ele deixaria os dois pombinhos em paz.
Washington, D.C.
- É mesmo?
Monk pousou a palma de uma das mãos na barriga nua da mulher que ele amava. Ajoelhou-se ao lado da cama usando uma calça de moletom Nike laranja e preta. Sua camisa, úmida após a corrida noturna, estava caída no assoalho de madeira de lei, onde ele a jogara. Suas sobrancelhas, os únicos pêlos na cabeça raspada, estavam erguidas em esperançosa expectativa.
- Sim - confirmou Kat.
Ela tirou suavemente a mão dele e saiu da cama pelo outro lado.
O sorriso de Monk ficou mais largo. Ele não conseguia parar de sorrir.
- Você tem certeza?
Kat dirigiu-se ao banheiro, usando apenas uma calcinha branca e uma camiseta extragrande do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Seus cabelos lisos castanho-avermelhados caíam soltos até os ombros.
- Minha menstruação estava cinco dias atrasada - respondeu ela num tom taciturno. - Fiz um teste de gravidez ontem.
Monk levantou-se.
- Ontem? Por que você não me contou?
Kat desapareceu no banheiro, deixando a porta meio fechada.
- Kat?
Ele ouviu a água escorrer no chuveiro. Contornou a cama e foi até a entrada do banheiro. Queria saber mais. Ela lhe deu a notícia surpreendente quando ele voltou da corrida e a encontrou enroscada na cama. Os olhos e o rosto dela estavam inchados. Ela havia chorado. Fora necessário um pouco de persuasão para descobrir o que a estivera perturbando o dia inteiro.
Ele bateu à porta. O barulho foi mais alto e mais insistente do que pretendia. Ele olhou zangado para a mão irritante. A prótese de cinco dedos era de última geração, repleta do que havia de mais moderno na coleção de engenhocas da DARPA. Ele havia recebido a mão artificial após a perda da sua numa missão. Mas plástico e metal não eram carne. As batidas na porta de madeira haviam soado como se ele estivesse tentando arrebentá-la a socos.
Kat, converse comigo - disse ele, gentilmente.
Só vou tomar uma ducha rápida.
Apesar das palavras sussurradas, Monk percebeu a tensão na voz dela. Ele deu uma espiada no banheiro. Embora eles viessem se encontrando havia quase um ano, e ele tivesse uma gaveta própria ali no apartamento dela, as boas maneiras impunham limites.
Kat estava sentada no vaso sanitário tampado, com a cabeça apoiada nas mãos.
- Kathryn...
Ela ergueu o olhar, claramente surpresa pela intrusão.
- Monk!
Ela inclinou-se para a porta, a fim de empurrá-la até fechar. Ele bloqueou-a com o pé.
- Não parecia que você estava usando o banheiro.
- Eu estava esperando a água do chuveiro esquentar.
Monk notou o espelho embaçado pelo vapor quando entrou. O recinto cheirava a jasmim, uma fragrância que evocava todos os tipos de excitação dentro dele. Ele aproximou-se e ajoelhou-se de novo diante dela.
Ela recostou-se.
Ele pôs as mãos, a de carne e a sintética, sobre os joelhos dela. Ainda cabisbaixa, ela não o olhou nos olhos.
Ele afastou os joelhos dela, inclinou-se entre eles, deslizou as mãos pela parte externa de suas coxas acima, envolveu suas nádegas com elas e puxou-a de encontro a si.
- Eu tenho de... - começou ela.
- Você tem de vir aqui.
Ele a ergueu e a pôs em seu colo, sentado de pernas abertas. O rosto dele estava a poucos centímetros do dela. Ela, afinal, olhou-o nos olhos.
- Eu... eu sinto muito.
Ele inclinou-se para mais perto.
- Pelo quê?
Os lábios deles roçaram uns nos outros.
- Eu deveria ter sido mais cuidadosa.
- Não me lembro de ter-me queixado.
- Mas este tipo de erro...
- Nunca. - Ele beijou-a com força, não com raiva, e sim com decidida certeza, e sussurrou entre os lábios de ambos. - Nunca diga isso.
Ela fundiu-se com ele, os braços entrelaçados atrás do pescoço. Os cabelos dela exalavam cheiro de jasmim.
- O que nós vamos fazer?
- Eu posso não saber tudo, mas sei esta resposta.
Ele virou-se para o lado e baixou-a até o tapete de banheiro embaixo dele.
- Oh - disse ela.
Copenhague, Dinamarca
Gray estava sentado no café em frente ao pequeno sebo. Ele examinou o edifício no outro lado da rua.
Na vitrine estava estampado SJAEDEN BOGER. LIVROS RAROS. A livraria ocupava o andar térreo de uma casa geminada de dois andares com um teto de telhas vermelhas. Ela parecia idêntica às casas vizinhas, enfileiradas uma após a outra rua abaixo. E, como as outras naquela parte menos próspera da cidade, estava em mau estado de conservação. As janelas superiores estavam vedadas com tábuas. Até mesmo a loja no andar térreo era protegida por um portão deslizante vertical de aço.
Fechada no momento.
Enquanto esperava a loja abrir, Gray olhou para o edifício de um modo mais objetivo, bebericando o chocolate quente ali da Dinamarca, tão espesso que tinha o sabor de uma barra de Hershey derretida. Ele observou além das janelas vedadas com tábuas. Embora o edifício tivesse entrado em decadência, seu charme europeu persistia: águas-furtadas parecidas com olhos de coruja surgiam do sótão, pesadas vigas expostas entrecruzavam-se no andar superior e um íngreme declive da linha do telhado estava sempre pronto a impedir a precipitação de neve durante um longo inverno. Gray até avistou marcas antigas abaixo das janelas onde outrora jardineiras haviam sido aparafusadas.
Ele pensou em maneiras de reformar a casa, trazer de volta sua glória original, reconstruindo-a em sua cabeça, um exercício mental que equilibrava engenharia e estética.
Ele quase pôde sentir o cheiro de pó de serra.
Este último pensamento subitamente azedou o devaneio. Outras lembranças vieram à tona, espontâneas e indesejadas: a marcenaria de seu pai na garagem, onde trabalhava ao lado dele depois da aula. O que em geral começava como um simples projeto de reforma com freqüência terminava em gritos e palavras duras demais para se esquecer. A hostilidade acabara fazendo Gray sair do ensino médio e entrar para as forças armadas. Só ultimamente pai e filho haviam descoberto novas maneiras de se comunicar, encontrado interesses comuns, aceitado as diferenças.
Todavia, Gray foi assaltado por uma observação impensada de sua mãe. Como pai e filho eram mais parecidos do que diferentes! Por que aquilo o incomodava tanto ultimamente? Ele afastou os pensamentos e sacudiu a cabeça.
Com a concentração interrompida, consultou o relógio, ansioso para dar continuidade ao seu dia. Ele já havia examinado minuciosamente o local do leilão e instalado duas câmeras nos pontos de acesso, na frente e nos fundos. Tudo o que tinha a fazer era interrogar o proprietário do sebo sobre a Bíblia e tirar algumas fotos instantâneas dos figurões envolvidos - então ele teria terminado e poderia passar um longo fim de semana com Rachel.
O pensamento do sorriso dela aliviou o nó que se criara entre suas escápulas.
Enfim, uma campainha soou no outro lado da rua. A porta da livraria abriu-se e o portão de segurança começou a subir.
Gray aprumou-se mais na cadeira, surpreso ao ver quem abria a livraria. Cabelos pretos presos numa trança, tez cor de chocolate, grandes olhos amendoados. Era a moça que o havia seguido mais cedo naquela manhã. Ela até usava a mesma jaqueta de malha de lã e a mochila verde e gasta.
Ele pegou um monte de cédulas e as deixou sobre a mesa do café, contente por deixar de lado seus pensamentos e voltar ao trabalho.
Atravessou a rua estreita a passos largos quando a garota terminou de prender o portão. Ela olhou para ele, sem demonstrar surpresa.
- Deixe-me adivinhar, colega - disse ela em inglês nítido, edulcorado pelo sotaque britânico, olhando-o de alto a baixo. - Americano.
Ele franziu o cenho por causa do jeito abrupto dela. Ele ainda não havia dito uma palavra. Mas manteve uma leve curiosidade no rosto, sem dar a entender que já sabia que ela o estivera seguindo mais cedo.
- Como você sabia?
- Pelo seu jeito de andar. Você empina o bumbum. Ele te denuncia.
- É mesmo?
Ela trancou o portão. Ele notou que ela usava vários broches na jaqueta: uma bandeira do Greenpeace com as cores do arco-íris, um símbolo celta de prata, um ankh egípcio de ouro e uma variedade colorida de buttons com slogans em dinamarquês e um em inglês que dizia GO, LEMMINGS, GO. Também usava uma pulseira de borracha branca estampada com a palavra HOPE.
Ela acenou para que ele saísse do seu caminho, mas deu um encontrão nele ao passar, pois ele não se afastou com rapidez suficiente. Ela atravessou a rua de costas.
- A livraria só abre daqui a uma hora. Sinto muito, colega.
Gray estava em pé no alpendre, olhando para a porta da livraria e a garota. Ela seguiu para o café. Passando pela mesa que ele acabara de desocupar, pegou uma das cédulas que Gray deixara e entrou. Ele esperou. Pela janela, observou-a pedir dois cafés grandes e pagar com a cédula furtada.
Ela voltou com uma caneca de isopor em cada mão.
- Ainda aqui? - perguntou ela.
No momento não tenho nenhum outro lugar para estar.
- Que pena! - A garota acenou com a cabeça para a porta fechada e ergueu ambas as mãos. - E então?
Gray virou-se e abriu a porta para ela. Ela entrou rapidamente.
- Bertal! - berrou ela, e em seguida olhou de novo para ele. - Você vai entrar ou não?
- Pensei que você tivesse dito...
- Besteira. - Ela revirou os olhos. - Chega de fingimento. Como se você não tivesse me visto mais cedo.
Gray ficou tenso. Então não foi mera coincidência. A garota estivera seguindo-o. Ela gritou para dentro da livraria.
- Bertal! Venha cá!
Confuso e cauteloso, Gray a seguiu para o interior do sebo. Ele permaneceu junto à porta, pronto para agir se necessário.
A livraria era estreita como um beco. Em cada lado, fileiras de estantes iam do chão ao teto, abarrotadas com todos os tipos de livros, tomos, textos e panfletos. Alguns passos à frente, duas vitrines margeavam o corredor central, obviamente trancadas à chave. Dentro delas havia livros encadernados em couro e desfazendo-se em pó e o que parecia serem pergaminhos presos a cilindros brancos sem ácido.
Gray examinou mais a fundo.
Partículas de poeira flutuavam pelo espaço à luz oblíqua da manhã. O ar tinha um quê de antigo e desintegrava-se tanto quanto o estoque de papel da livraria, lira como grande parte da Europa. Velhice e antigüidade faziam parte da vida cotidiana ali.
No entanto, apesar da idade e do estado do edifício, a livraria destacava-se com uma graça acolhedora, dos candelabros de parede de vidro colorido ao punhado de escadas de mão encostadas nas estantes. Havia até duas cadeiras estofadas perto da janela da frente.
E o melhor de tudo...
Gray respirou fundo.
Nenhum gato.
E o motivo logo se tornou compreensível.
Perto de uma das estantes, surgiu uma grande forma peluda, movendo-se pesadamente. Parecia um mestiço de são-bernardo, um animal idoso com olhos castanhos empapuçados. O cão andou com dificuldade e de um jeito taciturno na direção deles, mancando da pata esquerda dianteira. A pata naquele lado era uma protuberância nodosa.
- Aí está você, Bertal. - A garota curvou-se e derramou o conteúdo de uma das canecas de isopor numa tigela de cerâmica no chão. - O beberrão sarnento é inútil antes do seu primeiro café matinal.
A última frase foi dita com afeição óbvia.
O são-bernardo chegou ao lado em que eles estavam e começou a lamber a tigela com avidez.
- Não creio que café seja bom para um cachorro - advertiu Gray.
A garota aprumou-se, jogando a trança sobre o ombro.
- Não se preocupe, é descafeinado. - E continuou livraria adentro.
- O que aconteceu com a pata dele? - perguntou Gray, conversando amigavelmente enquanto se ajustava à situação.
Ele deu um lapinha no cão quando ele passou, recebendo uma pancada do rabo.
- Gangrena produzida pelo frio. Mutti o acolheu há muito tempo.
- Mutti?
- Minha avó. Ela está à sua espera.
Uma voz gritou dos fundos da livraria.
- Er det ham der vil kobe bogerne, Fiona?
- Ja, Mutti! O comprador americano. Em inglês, por favor.
- Send ham ind paa mit kontor.
- Mutti vai vê-lo no escritório dela.
A garota, Fiona, conduziu-o aos fundos da livraria. O cachorro, que havia terminado seu café matinal, seguiu bem atrás de Gray.
No meio da livraria, eles passaram por um pequeno balcão com a caixa registradora, um computador e uma impressora. Parecia que a idade moderna havia encontrado uma posição segura ali.
- Nós temos uma página própria na Internet - disse Fiona, percebendo a atenção dele.
Eles passaram pela caixa registradora e entraram numa sala nos fundos por uma porta aberta. O espaço ali era mais uma sala de visitas do que um escritório. Havia um sofá, uma mesa baixa e duas cadeiras. Mesmo a escrivaninha no canto parecia estar ali para sustentar a chapa elétrica e um bule de chá, em vez de ter alguma função no escritório. Porém, uma parede estava revestida por uma fila de prateleiras com arquivos pretos. Acima deles, uma janela gradeada deixava entrar a alegre luz da manhã, iluminando a única ocupante do escritório.
Ela ergueu-se e estendeu-lhe a mão.
- Dr. Sawyer - disse ela, usando a falsa identidade assumida por ele para aquela missão. Ela sem dúvida havia examinado algumas informações sobre ele. - Eu sou Grette Neal.
O aperto de mão da mulher era firme. Ela era magérrima, e, embora sua pele fosse pálida, a saúde indômita de seus compatriotas refletia-se através de seus poros. Com um aceno, indicou uma das cadeiras a Gray. Todo o jeito dela era informal, até suas roupas: jeans azul-marinho, blusa azul-turquesa e sapatilhas pretas despretensiosas. Seus longos cabelos grisalhos, lisos, acentuavam um ar sério, mas os olhos dela brilhavam com sarcástica diversão.
- O senhor encontrou minha neta. - Grette Neal era fluente em inglês, mas o sotaque dinamarquês era evidente. Ao contrário da neta.
Gray olhou para a pálida anciã e para a garota escura. Não havia nenhuma semelhança familiar, mas ele não tocou nesse assunto. Tinha questões mais importantes para esclarecer.
- Sim, nós nos encontramos - disse Gray. - Na verdade, parece que eu encontrei sua neta duas vezes hoje.
- Ah, a curiosidade de Fiona vai acabar metendo-a em encrenca de verdade um dia desses. - A repreensão de Grette foi suavizada por um sorriso. - Ela lhe devolveu sua carteira?
A fisionomia de Gray franziu-se. Ele tocou um de seus bolsos traseiros. Vazio.
Fiona enfiou a mão num bolso lateral de sua mochila e tirou a carteira de couro marrom dele.
Gray a pegou de volta. Lembrou-se da trombada que ela lhe dera quando saiu para comprar o café. Fora mais do que rudeza impaciente.
- Por favor, não se ofenda - tranqüilizou-o Grette. - É o jeito dela de dizer olá.
- Todos os documentos de identificação dele foram checados - disse Fiona com um dar de ombros.
- Então, por favor, devolva o passaporte do rapaz, Fiona.
Gray verificou seu outro bolso. Vazio. Pelo amor de Deus! Fiona arremessou o livrinho azul com a águia americana na capa.
Isso é tudo? - perguntou Gray, apalpando o corpo de cima a baixo.
Fiona deu de ombros.
- Mais uma vez, por favor, desculpe a extravagância da minha neta. Às vezes ela se torna excessivamente protetora.
Gray olhou para ambas.
- Vocês poderiam me explicar o que está acontecendo?
- O senhor veio perguntar sobre a Bibel de Darwin - disse Grette.
- Sobre a Bíblia - traduziu Fiona.
Grette fez um aceno de cabeça para a neta. O lapso verbal claramente revelava certa ansiedade em relação ao objeto.
- Eu represento um comprador que poderia estar interessado - disse Gray.
- Sim, nós sabemos. E o senhor passou o dia inteiro, ontem, fazendo perguntas a outras pessoas sobre lotes adicionais a serem leiloados no Leilão Ergenschein?
As sobrancelhas dele ergueram-se de surpresa.
- Nós somos uma pequena comunidade de bibliófilos aqui em Copenhague. As informações se difundem rápido entre nós.
Gray franziu o cenho. Ele pensara que tinha sido mais discreto.
- Foi a sua investigação que me ajudou a decidir sobre colocar minha Bíblia de Darwin em leilão. A comunidade inteira está excitada por causa do crescente interesse por tratados científicos da era vitoriana.
- O que faz do leilão uma boa ocasião para vendê-la - disse Fiona um pouco firme demais, como se aquele fosse o final de uma discussão recente. - O aluguel do apartamento está um mês atrasado...
As palavras dela foram interrompidas com um aceno.
- Foi uma decisão difícil. A Bíblia foi comprada pelo meu pai em 1949. Ele a apreciava muito. Há nomes de membros da família de Darwin escritos à mão, remontando a dez gerações que precederam o ilustre Charles. Mas a Bíblia também tem importância histórica. Ela acompanhou o homem em sua viagem ao redor do mundo a bordo do Beagle. E eu não sei se o senhor sabia disto ou não, mas Charles Darwin uma vez pensou em entrar para o seminário. Nessa Bíblia única, o senhor encontra a justaposição do homem religioso ao cientista.
Gray fez um aceno de cabeça. Não restava dúvida de que a mulher estava tentando despertar sua curiosidade. Será que tudo aquilo era uma manobra para fazê-lo participar do leilão? Para obter o melhor lance? De uma forma ou de outra, ele poderia usar aquilo em proveito próprio.
- E por que Fiona me seguiu? - perguntou ele.
Grette exibiu um ar de enfado.
- Minhas desculpas mais uma vez pela intrusão. Como eu mencionei antes, ultimamente surgiu um grande interesse pelas memoráveis obras da era vitoriana, e esta é uma comunidade pequena. Todos nós sabemos que algumas transações foram feitas... digamos... se não no mercado negro, então, sem dúvida, no cinzento.
- Ouvi alguns boatos a esse respeito - disse ele, fazendo-se de tímido, esperando arrancar mais informações.
- Alguns compradores descumpriram o lance final ou pagaram com recursos obtidos em transações ilícitas, com cheques sem fundos, etc. Fiona estava apenas tentando proteger meus interesses. E às vezes ela vai longe demais, recorrendo a talentos que era melhor ter deixado para trás. - A mulher ergueu uma única sobrancelha para a neta, em repreensão.
De repente, Fiona achou as tábuas do assoalho de particular interesse.
- Há um ano, um cavalheiro passou um mês inteiro vasculhando meus arquivos de procedência, os registros históricos de propriedade. - Ela acenou com a cabeça na direção da parede com os arquivos. - Só que pagou pelo privilégio com um cartão de crédito roubado. Ele mostrou particular interesse pela Bíblia de Darwin.
- E por isso nós não podemos ser cautelosas demais - disse Fiona, com ênfase outra vez.
- A senhora sabe quem era esse cavalheiro? - perguntou Gray.
- Não, mas eu me lembraria dele se voltasse a vê-lo. Um sujeito estranho, pálido.
Fiona ficou agitada.
- Mas uma investigação de fraude conduzida pelo banco seguiu o rastro dele desde a Nigéria até a África do Sul. Foi o mais longe que pôde ser seguido. O filho-da-puta encobriu suas pegadas.
Grette franziu o cenho.
- Modere a língua, mocinha.
- Qual o motivo de uma investigação tão diligente por causa de um calote? - Indagou ele.
Fiona achou as tábuas do assoalho fascinantes outra vez.
Grette olhou severamente para a neta.
- Ele tem o direito de saber.
- Mutti... - disse Fiona, sacudindo a cabeça.
- De saber o quê?
Fiona olhou para ele e em seguida desviou o olhar.
- Ele vai contar aos outros, e nós vamos obter a metade do preço pela Bíblia.
Gray ergueu uma das mãos.
- Eu posso ser discreto.
Grette o examinou, um dos olhos estreitando-se.
- Mas o senhor pode ser confiável?... Isso é o que eu me pergunto, dr. Sawyer. Gray sentiu que estava sendo observado atentamente por ambas as mulheres.
Seria seu disfarce tão seguro quanto ele esperava? O peso do olhar simultâneo de ambas fez suas costas enrijecerem-se. Grette afinal falou:
- O senhor deve saber. Pouco depois de o cavalheiro pálido fugir com as informações obtidas aqui, a livraria foi arrombada. Nada foi roubado, mas forçaram e abriram a vitrine na qual normalmente expomos a Bíblia de Darwin. Felizmente para nós, a Bíblia e nossas peças mais valiosas ficam escondidas num cofre embaixo do assoalho à noite. Além disso, a polícia reagiu prontamente ao alarme e os afugentou. O arrombamento permaneceu sem solução, mas nós sabíamos quem estava por trás dele.
- O imbecil hipócrita... - murmurou Fiona.
- Desde aquela noite, nós mantemos a Bíblia no cofre em um banco ali na esquina. Todavia, nossa livraria foi depredada duas vezes neste último ano. O criminoso esquivou-se ao alarme, e a loja foi saqueada em ambas.
- Alguém estava procurando a Bíblia - disse Gray.
- Foi o que supusemos.
Gray começou a entender. Não era apenas o lucro financeiro o fator decisivo na venda da Bíblia, elas também queriam se livrar daquela carga. Alguém queria a Bíblia, e na tentativa de obtê-la poderia apelar para meios mais violentos. E aquela ameaça poderia transferir-se para o novo comprador.
Do canto do olho, Gray examinou Fiona. Todas as suas ações foram cometidas para proteger a avó, para proteger a segurança financeira delas. Mesmo agora ele notava o fogo nos olhos dela. A garota obviamente desejava que a avó tivesse sido mais reticente.
- A Bíblia poderia estar mais segura numa coleção particular nos Estados Unidos - disse Grette. - Esses problemas talvez não ultrapassem o Atlântico.
Gray concordou com um aceno de cabeça, interpretando a estratégia de venda por trás das palavras.
- A senhora chegou a descobrir o que tanto obcecava o estranho para tentar obter a Bíblia? - perguntou ele.
Agora foi a vez de Grette mostrar certa reserva.
- Essa informação só pode tornar a Bíblia mais valiosa para o meu cliente - insistiu Gray.
Os olhos de Grette deslocaram-se rapidamente para ele. De algum modo ela sabia que ele estava mentindo. Ela o examinou de novo, avaliando algo mais do que apenas a verdade das palavras dele, olhando mais fundo.
Naquele momento, Bertal entrou sem firmeza no escritório, farejou, ansioso, alguns bolinhos para o chá ao lado do bule em cima da escrivaninha, depois passou para o lado onde Gray estava e deitou-se no assoalho com um suspiro. Apoiou o focinho na bota de Gray, sentindo-se claramente à vontade com aquele estranho na livraria.
Como se aquilo bastasse, Grette suspirou e fechou os olhos, e toda a aspereza suavizou-se.
- Eu não sei ao certo. Só tenho algumas suposições.
- Vou aceitar o que a senhora puder me oferecer.
- O estranho veio aqui à procura de informação sobre uma biblioteca que foi vendida aos poucos depois da guerra. Na verdade, quatro desses itens vão ser leiloados hoje à tarde. O diário de De Vries, um exemplar dos artigos de Mendel e dois livros do físico Max Planck.
Gray estava bem ciente da mesma lista no seu bloco de anotações. Eram os mesmos itens que haviam despertado atenção especial de entidades suspeitas. Quem os estava comprando e por quê?
- A senhora pode me dizer mais alguma coisa sobre a coleção dessa biblioteca antiga? Existe algum item cuja procedência possa ser reveladora?
Grette levantou-se e dirigiu-se aos seus arquivos.
- Eu tenho o recibo original emitido quando meu pai fez a compra, em 1949. Ele menciona uma aldeia e uma pequena propriedade. Deixe-me ver se consigo encontrá-lo.
Ela avançou para uma área abaixo da janela dos fundos pela qual entrava a luz do sol e abriu uma das gavetas do meio.
- Não posso lhe dar o original, mas ficaria contente em mandar Fiona tirar uma fotocópia para o senhor.
Enquanto a senhora remexia nos arquivos, Bertal ergueu o focinho da bota direita de Gray, deixando um rastro de baba, e rosnou baixo. Mas o rosnado não era para Gray.
- Aqui está.
Grette virou-se e estendeu uma folha de papel amarelado pelo tempo numa capa de plástico protetora.
Gray ignorou o braço estendido da mulher e concentrou-se nos pés dela. Uma sombra ligeira deslocou-se pelo feixe da luz do sol onde Grette estava em pé.
- Abaixe-se!
Ele pulou em direção ao sofá, tentando alcançar a senhora.
Atrás dele, Bertal latiu forte, quase abafando o ruído de vidro estilhaçando-se.
Ainda tentando alcançá-la, Gray chegou atrasado. Tudo o que ele pôde fazer foi segurar o corpo de Grette Neal quando o rosto dela se dissolveu numa profusão de sangue e osso, atingido por trás por um disparo feito pelo atirador de tocaia no lado de fora da janela.
Gray aparou o corpo dela e foi em direção ao sofá.
Fiona gritou.
Através da janela dos fundos, dois estalos nítidos soaram junto com o estilhaçar do vidro. Duas caixinhas pretas de metal voaram para dentro do escritório, atingiram a parede oposta e caíram com um estrondo, quicando.
Gray saltou do sofá, protegendo Fiona com os ombros. Com força, empurrou-a para fora do escritório e para trás da quina da parede. O cachorro arrastou-se com dificuldade atrás deles.
Gray praticamente carregava Fiona atrás de uma estante protetora quando detonações simultâneas destruíram o escritório, fazendo a parede voar pelos ares numa explosão flamejante de gesso e madeira lascada.
A estante tombou, indo de encontro à estante próxima a ela e inclinando-se sem nenhuma estabilidade. Gray protegeu Fiona sob seu corpo.
Acima, textos entraram em chamas e cinzas flamejantes começaram a cair.
Gray avistou o velho cão. Ele havia se movido devagar demais, mancando por causa da pata aleijada. A concussão havia projetado o pobre animal contra a parede. Ele não se mexia. Seu pêlo ardia em chamas.
Gray evitou que Fiona visse aquilo.
- Nós temos de sair daqui.
Ele puxou a garota, em estado de choque, debaixo da estante inclinada. Chamas e fumaça já tomavam conta da parte de trás da livraria. Acima, sprinklers começaram a lançar borrifos mornos. Poucos demais, tarde demais. Inútil com tanto material de fácil combustão tão perto.
- Vamos sair pela frente! - ele insistiu. Ele avançou aos tropeções com ela. Lento demais.
Diante deles, o portão de segurança externo caiu com um estrondo, impedindo a passagem pela porta e pela janela da frente. Gray notou sombras passarem em cada lado do portão gradeado. Mais atiradores.
Ele olhou para trás. Uma turbulenta barreira de chamas e fumaça enchia os fundos da livraria.
Eles estavam encurralados.
Washington, D.C.
Monk cochilava naquele lugar feliz entre o êxtase e o sono. Ele e Kat haviam passado do piso do banheiro para a cama quando a paixão se dissolveu em sussurros suaves e em toques mais suaves ainda. Os lençóis e edredons ainda estavam emaranhados em torno de suas formas nuas; nenhum deles estava disposto a se desligar do outro, nem fisicamente nem de nenhum outro modo.
O dedo de Monk acompanhou a curva do seio de Kat, preguiçosamente, mais para tranqüilizar do que para excitá-la sexualmente. O arco macio do pé dela acariciou com delicadeza a panturrilha dele.
Perfeição.
Nada poderia arruinar aquele...
Um som agudo irrompeu no quarto, deixando ambos tensos.
Vinha do lado da cama, onde Monk jogara sua calça de moletom... ou melhor, onde ela fora arrancada dele. O pager ainda estava preso ao cós de elástico. Ele sabia que havia colocado o aparelho para vibrar quando voltou de sua corrida noturna. Apenas um tipo de chamada era feito naquele modo.
Emergência.
No outro lado da cama, na mesa-de-cabeceira, um segundo pager começou a emitir um toque semelhante.
O de Kat.
Ambos ergueram-se na cama, os olhos encontrando-se com preocupação.
- Comando central - disse Kat.
Monk estendeu a mão para baixo e pegou seu pager, arrastando sua calça de moletom junto com o aparelho. Ele confirmou as palavras dela.
Ele apoiou os pés no chão e estendeu a mão para o telefone. Kat sentou-se ao lado dele e puxou os lençóis para cobrir os seios nus, como se fosse necessário algum tipo de decoro para telefonar para o comando central. Ele discou o número da linha direta da Força Sigma e atenderam imediatamente.
- Capitã Bryant? - respondeu Logan Gregory.
- Não, senhor. É o Monk Kokkalis. Mas a Kat... a capitã Bryant está aqui comigo.
- Preciso de vocês dois de volta ao comando imediatamente. Logan o pôs a par de tudo de maneira concisa.
Monk ouviu, fazendo acenos de cabeça.
- Sairemos agora - ele encerrou a conversa e desligou.
Kat olhou, fixa, para ele, a expressão aflita.
- O que está acontecendo?
- Problemas.
- Com o Gray?
- Não, tenho certeza de que ele está bem. - Monk vestiu sua calça de moletom. - É provável que ele esteja se divertindo a valer com Rachel.
- Então...?
- É o diretor Crowe. Aconteceu algo no Nepal. Os detalhes são vagos. Alguma coisa relacionada com uma praga.
- O diretor Crowe deu notícias?
- Esse é o problema. Há três dias ele deu notícias pela última vez, mas uma tempestade havia interrompido a comunicação. Por isso o pessoal não se preocupou muito. A tempestade, no entanto, cessou hoje, e ele ainda não entrou em contato com a Sigma. E agora há rumores de uma praga, de mortes e de uma rebelião por lá. Possivelmente um ataque de rebeldes.
Os olhos de Kat arregalaram-se.
- Logan está chamando todos de volta ao comando.
Kat deslizou para fora da cama e estendeu a mão para suas roupas.
- O que poderia estar acontecendo lá?
- Boa coisa não é, pode ter certeza disso.
Copenhague, Dinamarca
- Tem saída lá em cima? - perguntou Gray.
Fiona olhou fixamente para o portão fechado, girou sem sair do lugar, os olhos arregalados e sem piscar. Gray percebeu os sinais de choque na garota.
- Fiona... - Gray deu a volta, inclinou-se e aproximou seu rosto do dela, preenchendo todo o campo de visão da garota. - Fiona, nós temos de escapar do incêndio.
Atrás dela, a tempestade de fogo espalhava-se rapidamente, alimentada pelas pilhas de livros secos e pelas prateleiras de pinho quebradas. As chamas haviam aumentado e alcançado o teto. A fumaça agitava-se e rolava ao longo dele. Os sprinklers continuavam a lançar borrifos tépidos no incêndio generalizado, adicionando vapor à nuvem tóxica.
O calor aumentava a cada respiração. Silenciosa, quando Gray segurou nas mãos de Fiona, ela estremeceu, seu corpo inteiro tremeu. Mas pelo menos o toque dele fez, afinal, os olhos dela fixarem-se nele.
- Tem uma saída lá em cima? Para outro andar?
Fiona ergueu o olhar. Uma cortina de fumaça obscurecia as folhas-de-flandres do teto.
- Alguns aposentos antigos. Um sótão...
- Sim. Perfeito. Podemos chegar lá em cima?
A princípio, ela sacudiu a cabeça devagar, em seguida com mais firmeza, despertando para o perigo.
- Não, a única escada fica... - ela acenou fracamente na direção do incêndio - nos fundos do edifício.
- No lado de fora.
Ela acenou afirmativamente com a cabeça. As cinzas turbilhonavam num redemoinho flamejante em torno deles à medida que a barreira de fogo avançava.
Gray praguejou em silêncio. Deve ter havido outrora uma escada interna, antes que o edifício fosse dividido numa loja e em aposentos superiores. Mas essa escada já não existia. Ele teria de improvisar uma.
- Você tem um machado? - perguntou ele.
Fiona sacudiu a cabeça.
- Um pé-de-cabra? Alguma coisa para abrir engradados ou caixas?
Fiona enrijeceu e acenou com a cabeça.
- Do lado da caixa registradora.
- Fique aqui.
Gray andou com cautela ao longo da parede esquerda, que oferecia o caminho mais livre de volta ao balcão no centro da loja. Na verdade, o fogo ainda não a havia atingido.
Fiona o seguiu.
- Eu disse para você ficar lá atrás.
- Eu sei onde o maldito pé-de-cabra está - respondeu ela bruscamente.
Gray reconheceu o terror por trás da raiva dela, mas era um avanço em comparação ao choque paralisante de alguns minutos antes. Além disso, ele competia contra a própria fúria. Contra si mesmo. Era bastante ruim que a garota o houvesse seguido mais cedo, mas agora ele havia permitido a si mesmo ser encurralado por assassinos desconhecidos. Ele estivera distraído demais, pensando em Rachel, desdenhoso demais daquela missão e seus parâmetros, e agora não era apenas sua vida que estava em risco.
Fiona passou à frente dele, os olhos vermelhos e tossindo por causa da fumaça.
- Está aqui.
Inclinou-se sobre a escrivaninha, estendeu a mão atrás dela e tirou uma longa barra de aço verde.
- Vamos.
Ele voltou na frente, em direção às chamas que avançavam. Tirou o suéter de lã e o trocou pelo pé-de-cabra.
- Molhe o suéter completamente. Ensope-o bem naquele sprinkler. - Ele apontou com o pé-de-cabra. - E a si mesma também.
- O que você vai...?
- Tentar construir nossa própria escada.
Gray subiu com dificuldade uma das escadas de mão encostadas nas estantes. A fumaça agitava-se acima de seu rosto erguido. O próprio ar queimava. Cutucou com o pé-de-cabra uma das folhas-de-flandres do teto. Ela foi facilmente deslocada e empurrada para o lado. Conforme ele havia esperado, o telhado da livraria era em declive e em cantiléver. Ele ocultava o piso de caibros e tábuas do andar de cima.
Ele subiu até o alto da escada, escalou as últimas prateleiras cia estante e posicionou-se em cima dela. Usando aquela posição vantajosa, calcou com força entre duas tábuas o pé-de-cabra, que penetrou profundamente. Apoiou o pé-de-cabra no ombro e o usou como uma alavanca. A barra de aço rachou a madeira antiga. No entanto, mal conseguiu fazer uma abertura do tamanho de um buraco de rato.
Os olhos lacrimejavam e ardiam. Gray inclinou-se. Uma tosse torturante sacudiu-o. Nada bom. Seria uma competição entre o pé-de-cabra e a fumaça. Ele voltou o olhar para o incêndio, que se tornara mais ameaçador. A fumaça expelida era cada vez mais espessa.
Ele jamais se sairia bem naquele ritmo.
Um movimento atraiu sua atenção de novo para baixo. Fiona havia subido a escada. Ela encontrara um lenço, ensopara-o e amarrara-o ao redor da parte inferior do rosto, como um bandido, um disfarce adequado no seu caso.
Ergueu o encharcado suéter de lã dele. Ela também estava bastante molhada, e parecia ter encolhido de tamanho como um cachorrinho molhado. Gray percebeu que a garota tinha menos que os 17 anos que ele supusera mais cedo. Ela devia ter 15, no máximo. Os olhos dela estavam vermelhos de pânico, mas também brilhavam com esperança, depositando um pouco de fé cega nele.
Gray detestava quando as pessoas faziam aquilo... porque sempre funcionava.
Amarrou as mangas do suéter em torno do pescoço e deixou o resto cair sobre as costas. Puxou uma aba de lã encharcada para cobrir a boca e o nariz, oferecendo certo isolamento do ar repleto de cinzas.
Com a água encharcando as costas de sua camisa, Gray voltou a ajoelhar-se, pronto para atacar as tábuas resistentes. Sentiu a presença de Fiona abaixo. E a responsabilidade.
Ele examinou o espaço entre o teto em declive e os caibros, à procura de qualquer outro meio de fuga. Em toda a parte, canos e fios ziguezagueavam sem qualquer padrão, sem dúvida acrescentados aos poucos depois da divisão da casa de dois andares numa loja embaixo e num apartamento em cima. As reformas mais recentes pareciam de qualidade inferior, a diferença entre a perícia profissional européia e a construção moderna desleixada.
Enquanto examinava, Gray avistou uma interrupção na seqüência uniforme das tábuas e caibros. Uma área quadrada, de um metro cada lado, emoldurada por um suporte mais grosso. Ele a reconheceu de imediato. Estivera certo antes. O suporte marcava a abertura por onde uma escada interna, demolida havia muito tempo, levava ao andar acima.
Mas com que grau de segurança ela fora lacrada?
Só havia um modo de descobrir.
Gray ergueu-se na ponta dos pés, ficou em pé em cima da estante e percorreu-a como se fosse uma trave de ginástica, na direção da abertura emoldurada. Ela ficava a apenas alguns metros de distância, mas conduzia mais para o interior da loja, em direção ao incêndio.
- Aonde você vai? - indagou Fiona do alto da escada.
Gray não tinha fôlego para explicar. A fumaça sufocava mais a cada passo. O calor aumentou até a intensidade de uma fornalha. Ele afinal alcançou a parte da estante embaixo do poço da escada lacrado.
Ao olhar para baixo, Gray viu que as prateleiras inferiores da estante já estavam ardendo lentamente. Ele havia chegado ao ponto mais crítico da tempestade de fogo.
Não tinha tempo a perder.
Escorando-se, empurrou o pé-de-cabra com força para cima.
A ponta penetrou facilmente através das tábuas mais finas, que não passavam de chapas de fibra e telhas de vinil. Um serviço de qualidade inferior, como ele havia esperado. Graças a Deus pela falta da moderna ética profissional.
Gray empurrava com força o pé-de-cabra, girando-o como a uma manivela enquanto o ar queimava e o calor produzia bolhas. Em pouco tempo, havia feito um buraco largo o suficiente para que eles pudessem passar.
Gray atirou o pé-de-cabra através do buraco, e a ferramenta caiu com estrépito acima.
Ele acenou para que Fiona viesse para onde ele estava.
- Você pode subir no alto da estante e...?
- Eu vi como você chegou aí - ela respondeu e subiu no alto da estante. Um estalo abaixo chamou a atenção de Gray. A estante estremeceu sob ele. Oh-oh...
Seu peso e as prateleiras inferiores em chamas estavam enfraquecendo rapidamente seu precário ponto de apoio. Ele alcançou o buraco e impulsionou o corpo um pouco para cima, livrando a prateleira de seu peso.
- Depressa - ele apressou a garota.
Com os braços estendidos para manter o equilíbrio, Fiona avançou aos poucos pelo topo da estante. Quase um metro de distância.
- Depressa - repetiu.
- Eu ouvi quando você falou da primeira vez...
Com um estrondo ressonante, a parte da estante embaixo de Gray desabou. Ele segurou com mais força as bordas do buraco quando a estante tombou, espatifando-se no fogo. Uma nova onda de calor, cinzas e chamas precipitou-se para o alto.
Fiona gritou quando a área da estante onde ela estava estremeceu, mas se agüentou firme.
Suspenso pelos braços, Gray gritou para ela.
- Jogue-se sobre mim. Segure ao redor dos meus ombros.
Fiona não precisou de mais encorajamento quando a estante oscilou. Ela pulou e chocou-se com força contra ele, os braços fechando-se em torno do pescoço dele, as pernas em volta da cintura, quase o derrubando. Ele girou sem sair do lugar.
- Você pode usar meu corpo para subir pelo buraco? - perguntou ele com esforço.
- Eu... eu acho que sim.
Ela ficou agarrada a ele por mais algum tempo, sem se mover. As bordas ásperas do buraco feriam os dedos dele.
- Fiona...
Ela tremeu de encontro a ele, depois foi girando com dificuldade até chegar às costas dele. Uma vez em movimento, subiu rapidamente, apoiando o dedão do pé no cinto dele e, em seguida, tomando impulso no ombro. Ela passou pelo buraco com toda a agilidade de um macaco-aranha.
Abaixo, uma fogueira de livros e prateleiras alastrava-se.
Gray ergueu-se com prazer depois dela, movendo-se cuidadosamente através do buraco e desabando no chão. Ele estava no centro de um corredor. Cômodos espalhavam-se em ambas as direções.
- O fogo chegou aqui em cima também - sussurrou Fiona, como se estivesse com medo de atrair a atenção das chamas.
Ao ficar em pé, Gray viu o brilho tremeluzente vindo dos fundos do apartamento. A fumaça obstruía aqueles aposentos, ainda mais espessa do que embaixo.
- Vamos - disse ele. Ainda era uma corrida.
Gray avançou às pressas pelo corredor, afastando-se do fogo. Chegou a uma das janelas vedadas com tábuas no segundo andar. Deu uma olhadela entre duas ripas. Sirenes podiam ser ouvidas a distância. Pessoas aglomeravam-se na rua: espectadores e curiosos embasbacados. E, decerto, um ou dois pistoleiros escondidos no meio deles.
Gray e a garota ficariam expostos se tentassem sair pela janela.
Fiona também observou a multidão.
- Eles não vão nos deixar sair, não é mesmo?
- Então vamos sair por conta própria.
Gray recuou e esquadrinhou o ambiente. Lembrou-se da água-furtada do sótão, que vira mais cedo da rua. Eles precisavam chegar ao telhado. Fiona entendeu a intenção dele.
- Tem uma escada retrátil no próximo aposento. - Ela seguiu na frente. - Eu às vezes vinha ler aqui em cima quando Mutti... - A voz dela falhou, e suas palavras sumiram.
Gray sabia que a garota seria assombrada pela morte da avó por muito tempo. Ele pôs o braço em torno do ombro dela, mas ela sacudiu-o com raiva e afastou-se.
- Por aqui - disse ela, e entrou no que outrora devia ter sido uma sala de estar. Nela, agora, havia apenas alguns engradados e um sofá desbotado e rasgado.
Fiona apontou para uma corda esfiapada que pendia do teto, presa a um alçapão.
Gray puxou-a com força, e uma escada retrátil de madeira deslizou até o chão. Ele subiu primeiro, seguido por Fiona.
O sótão estava inacabado: apenas material de isolamento, caibros e excrementos de ratos. A única luz vinha de duas águas-furtadas. Uma dava para a rua da frente e a outra para os fundos. Uma fumaça fina enchia o espaço, mas até então nada de chamas.
Gray decidiu tentar a água-furtada dos fundos. Ela estava voltada para o oeste, deixando o telhado com sombras àquela hora do dia. Além disso, aquele lado da casa geminada estava em chamas. Seus agressores talvez prestassem menos atenção na área.
Gray saltava de um caibro para outro. Ele podia sentir o calor vindo de baixo. Parte do material já ardia sem chamas, a fibra de vidro derretia-se.
Chegando à água-furtada, ele olhou para baixo, a fim de verificar se estava tudo bem. A inclinação do telhado era tal que ele não podia ver o pátio atrás da livraria. E, se ele não podia vê-lo, eles também não podiam vê-lo. Além do mais, a fumaça saía em grande quantidade das janelas quebradas abaixo, proporcionando proteção extra.
Pela primeira vez, o incêndio estava sendo vantajoso para eles.
Todavia, Gray ficou bem afastado para o lado quando soltou o trinco da janela e a abriu. Esperou. Nenhum tiro. Agora, sirenes podiam ser ouvidas reunidas na rua lá fora.
- Deixe-me ir primeiro - sussurrou ele no ouvido de Fiona. - Se o caminho estiver livre...
Um rugido baixo irrompeu atrás deles.
Ambos viraram-se. Uma língua de fogo projetou-se do centro do material isolante em chamas, lambendo alto, estalando e fumegando. Eles não tinham mais tempo.
- Siga-me - disse Gray.
Ele empurrou a janela, permanecendo abaixado. Estava maravilhosamente fresco do lado de fora do telhado, o ar era revigorante depois do perpétuo abafamento.
Animado por ter escapado, Gray examinou as telhas do teto. O declive era íngreme, mas suas botas tinham boa aderência. Com cuidado, era possível andar. Ele afastou-se do abrigo da água-furtada e dirigiu-se à linha do telhado ao norte. Adiante, o espaço entre as casas geminadas era inferior a um metro. Eles seriam capazes de saltá-lo.
Satisfeito, voltou para junto da janela.
- Tudo bem, Fiona... tome cuidado.
A garota pôs a cabeça para fora, olhou ao redor e em seguida arrastou-se de mansinho para o telhado. Permaneceu agachada, as mãos apoiadas no chão. Gray esperou por ela.
- Você está indo muito bem.
Ela olhou para ele. Distraída, não viu uma telha rachada. Um dedo do seu pé penetrou na rachadura. A telha quebrou-se, fazendo-a perder o equilíbrio. Ela caiu pesadamente de barriga - e começou a deslizar.
Seus dedos das mãos e dos pés tentaram encontrar, em vão, um ponto de apoio.
Gray precipitou-se na direção dela, mas seus dedos encontraram apenas o vazio do ar.
A velocidade dela aumentava à medida que ela deslizava sobre as telhas. Mais telhas quebraram-se na frenética tentativa da garota de deter sua queda. Cacos de cerâmica trepidavam e quicavam à sua frente, transformando-se numa avalanche de telhas.
Gray permaneceu de bruços, obliquamente. Não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar.
- A calha! - ele gritou atrás dela, deixando de lado a cautela. - Segure-se na calha!
Ela parecia surda às palavras dele, os dedos das mãos arranhando e os dos pés arrancando mais telhas. Ela virou de lado e começou a rolar. E deixou escapar um grito nervoso.
As primeiras telhas quebradas despencaram do telhado. Gray as ouviu espatifarem-se no pátio de pedra abaixo com estalidos de bombinhas.
Então foi a vez de Fiona, que caiu sobre a beira do telhado, os braços agitando-se. E desapareceu.
Reserva de caça Hluhluwe-umfolozi
Zululândia, África do Sul
A 9.600 quilômetros e um mundo de distância de Copenhague, um jipe conversível percorria a vastidão sem estradas da África do Sul.
O calor já sufocante murchava a savana e criava miragens tremeluzentes. Pelo espelho retrovisor, as campinas crestavam brilhantemente sob o sol, interrompidas por moitas espinhentas e grupos solitários de salgueiros-vermelhos. Logo adiante erguia-se um outeiro baixo, densamente juncado de acácias nodosas e árvores... esqueléticas.
- É este o lugar, doutora? - perguntou Khamisi Taylor, girando o volante e fazendo o jipe atravessar aos solavancos o leito seco de um riacho, enquanto a poeira subia como o rabo de um galo. Ele olhou para a mulher ao seu lado.
A dra. Marcia Fairfield estava meio em pé no banco do carona, a mão apertando o canto do pára-brisa a fim de obter equilíbrio. Ela apontou com o braço.
- Dobre para o oeste, onde tem um buraco fundo.
Khamisi reduziu a velocidade e seguiu para a direita. Como o atual guarda-caça de serviço na Reserva de Caça Hluhluwe-umfolozi, ele tinha de seguir o protocolo. A caça ilícita era um crime grave, mas também uma realidade, sobretudo nas áreas mais solitárias do parque.
Mesmo o próprio povo, os membros da tribo zulu, às vezes seguiam os métodos e práticas tradicionais. Era necessário multar até mesmo alguns dos velhos amigos de seu avô. Os anciãos haviam lhe dado um apelido, uma palavra em zulu que significava "Garoto Gordo". Ela era pronunciada com pouco menosprezo aparente, porém Khamisi sabia que ainda havia certa aversão velada. Eles tinham menos consideração por ele como homem por aceitar o emprego de um homem branco, engordando à custa de outras pessoas. Ele ainda era um pouco estranho ali. Seu pai o levara para a Austrália quando ele estava com 12 anos, após a morte de sua mãe. Ele passara uma boa parte da vida nas imediações da cidade de Darwin, na costa norte da Austrália, e até estudara dois anos na universidade, em Queensland. Agora, aos 28 anos, estava de volta, tendo assegurado um emprego como guarda-caça - em parte devido à sua educação, em parte devido aos seus vínculos com as tribos dali. Engordando à custa dos outros.
- Você pode ir mais rápido? - apressou-o sua passageira.
A dra. Marcia Fairfield era uma bióloga grisalha egressa de Cambridge, bem respeitada, que integrara o projeto original da Operação Rinoceronte, e com freqüência era chamada de Jane Goodall dos rinocerontes. Khamisi gostava de trabalhar com ela. Talvez fosse apenas a falta de pretensão dela, que ia da jaqueta de safari caqui desbotada aos cabelos grisalhos presos para trás num rabo-de-cavalo simples.
Ou talvez fosse a paixão dela. Como agora.
- Se a fêmea morreu de parto, o filhote talvez ainda esteja vivo. Mas por quanto tempo? - Ela deu um soco no canto do pára- brisa. - Não podemos perder ambos.
Como guarda-caça, Khamisi compreendia. Desde 1970, a população de rinocerontes negros havia diminuído 96 por cento na África. A reserva Hluhluwe-umfolozi procurava corrigir isso, como fizera com a população de rinocerontes brancos. Esse era o principal esforço de preservação do parque.
Cada rinoceronte negro era importante.
- O único motivo por que a encontramos foi o chip de rastreamento implantado - prosseguiu a dra. Fairfield. - Nós a avistamos do helicóptero. Mas, se ela deu à luz, não teremos como rastrear o filhote.
- Será que ele não vai ficar junto da mãe? - perguntou Khamisi.
Ele próprio havia testemunhado situação semelhante. Dois anos atrás, dois filhotes de leão foram encontrados encolhidos contra a barriga fria de sua mãe, morta por um caçador ilegal que caçava por esporte.
- Você conhece o destino dos órfãos. Predadores são atraídos pela carcaça. Se o filhote ainda estiver por perto, ensangüentado devido ao parto...
Khamisi fez um aceno de cabeça. Ele acelerou e fez o jipe subir aos solavancos o declive rochoso. A traseira do veículo derrapou em algum cascalho solto, mas Khamisi seguiu em frente.
Quando eles transpuseram a colina, o terreno à frente separou-se em ravinas profundas, cortadas por riachos com um fio d’água. Ali a vegetação tornava-se mais densa: sicómoros, mogno-de-natal e árvores-de-nyala. Era uma das poucas áreas "úmidas" do parque, também uma das mais remotas, bem distante das costumeiras trilhas de caça e das estradas turísticas. Só quem possuía autorização podia percorrer aquela área, sob severas restrições: apenas durante a luz do dia, sem pernoitar. O território estendia-se por todo o limite ocidental do parque.
Khamisi examinava o horizonte enquanto o jipe avançava devagar pelo outro lado da encosta. A pouco mais de um quilômetro e meio de distância, um trecho de cerca de caça invadia o terreno. A cerca preta de três metros de altura separava o parque de uma reserva privada vizinha. Essas reservas com freqüência partilhavam um dos limites de um parque, oferecendo a viajantes abastados uma experiência mais próxima.
Mas aquela não era uma reserva privada comum.
O Parque Hluhluwe-umfolozi fora fundado em 1895, o santuário mais antigo em toda a África. Assim, a reserva particular vizinha também era a mais antiga. Aquela grande extensão de terra já pertencia a uma família antes mesmo da fundação do parque, e seus proprietários eram uma dinastia da África do Sul ainda existente, O clã Waalenberg, uma das famílias bôeres originais, cujas gerações remontavam ao século XVII. Aquela reserva particular tinha um quarto do tamanho do parque em si. Dizia-se que em sua área a vida selvagem era abundante. E não eram apenas as cinco grandes espécies - o elefante, o rinoceronte, o leopardo, o leão e o búfalo-africano -, mas também predadores e presas de todas as espécies: crocodilos-do-nilo, hipopótamos, guepardos, hienas, gnus, chacais, girafas, zebras, cobos-de-meia-lua, cudos, impalas, cervicabras, javalis-africanos, babuinos. Dizia-se que, sem que se soubesse, na reserva Waalenberg havia vários dos raros ocapis, muito antes de esses parentes da girafa terem sido descobertos em 1901.
Mas sempre houve boatos e histórias associados à reserva Waalenberg. O único acesso ao parque era por meio de helicóptero ou de um avião pequeno. As estradas que outrora conduziam a ele haviam sido tomadas pelo mato havia muito tempo. Os únicos visitantes, ocasionais, eram importantes dignitários de todo o mundo. Dizia-se que Teddy Roosevelt uma vez caçou na reserva e até moldou o sistema de parques nacionais dos Estados Unidos de acordo com a reserva Waalenberg.
Khamisi daria tudo para passar um dia lá.
Mas aquela honra era restrita apenas ao guarda-caça-chefe do Hluhluwe. Uma volta pela propriedade Waalenberg era um dos privilégios quando se adquiria aquele cargo, e mesmo assim isso exigia uma declaração escrita e juramentada de sigilo. Khamisi esperava um dia atingir aquele objetivo elevado.
Porém, acalentava pouca esperança.
Não com sua pele negra.
Sua herança e educação zulus podiam tê-lo ajudado a obter aquele emprego, mas mesmo depois do apartheid havia limites. Os costumes custam a desaparecer - tanto para os homens negros quanto para os brancos. No entanto, seu cargo era um avanço. Um dos tristes legados do apartheid era o fato de uma geração inteira de crianças de inúmeras tribos ter sido criada com pouca ou nenhuma educação, sofrendo durante os anos de sanções, segregação e inquietação. Uma geração perdida. Por isso ele fez tudo o que podia fazer: abriu as portas possíveis e as manteve abertas para os que viessem depois.
Ele representaria o papel do Garoto Gordo, se fosse preciso.
Enquanto isso...
Lá! gritou a dra. Fairfield, assustando Khamisi e trazendo-o de volta à tortuosa trilha não sinalizada. - Dobre à esquerda perto daquele baobá no pé da colina.
Khamisi avistou a árvore gigante pré-histórica. Grandes flores brancas pendiam tristemente das extremidades de seus galhos. À esquerda, o terreno diminuía gradualmente, descendo numa depressão em forma de tigela. Khamisi notou o brilho de um minúsculo poço próximo ao fundo.
Uma cacimba.
Aquelas fontes espalhavam-se por todo o parque, algumas naturais, algumas artificiais. Elas eram os melhores lugares para um vislumbre da vida selvagem - e também os mais perigosos para se percorrer a pé.
Khamisi parou junto à árvore.
- Vamos ter de caminhar a partir daqui.
A dra. Fairfield concordou com um aceno de cabeça. Ambos pegaram seus rifles. Embora os dois fossem conservacionistas, eles também estavam familiarizados com o perigo permanente da savana.
Quando desceu do jipe, Khamisi pendurou no ombro sua espingarda de cano duplo de grosso calibre, uma Nitro Holland & Holland Royai calibre 465. Ela poderia deter um elefante numa arremetida. No mato denso, ele o preferia a qualquer rifle de repetição por ação de ferrolho.
Eles desceram a encosta, que pinicava por causa das gramíneas e pequenos arbustos espinhosos. Acima, o dossel mais alto os protegia do sol, mas criava sombras profundas abaixo. Enquanto marchava, Khamisi notou o silêncio opressivo. Nenhum canto de pássaros. Nenhum guincho de macacos. Apenas o zumbido de insetos. A quietude lhe causava arrepios.
Ao lado dele, a dra. Fairfield checou um rastreador portátil pelo sistema de posicionamento global.
Ela ergueu o braço e apontou.
Khamisi seguiu na direção que ela indicara, contornando a cacimba lamacenta. Enquanto passava silenciosamente através de alguns juncos, sentiu um crescente mau cheiro de carne em decomposição. Não levou muito tempo para entrar num matagal profundamente encoberto por sombras e descobrir a origem do odor.
O rinoceronte fêmea devia ter pesado mais ou menos uma tonelada e meia. Um espécime do tamanho de um monstro.
- Deus do céu! - exclamou a dra. Fairfield através de um lenço pressionado sobre a boca e o nariz. - Quando Roberto localizou os restos mortais do helicóptero...
- É sempre pior no solo - disse Khamisi.
Ele caminhou em direção à carcaça inchada, que jazia sobre o lado esquerdo. Moscas ergueram-se numa nuvem negra à aproximação deles. A barriga havia sido rasgada. Os intestinos projetavam-se para fora, distendidos por gases. Parecia impossível que tudo aquilo um dia coubera dentro do abdome. Outros órgãos estavam espalhados no chão. Uma mancha de sangue indicava para onde dentro da densa folhagem ao redor algum petisco selecionado havia sido arrastado.
As moscas voltaram a pousar.
Khamisi pulou sobre um pedaço de fígado vermelho carcomido. O membro traseiro parecia ter sido quase arrancado na altura do quadril. A força das mandíbulas para fazer aquilo...
Mesmo um leão adulto teria passado maus bocados.
Khamisi deu a volta até chegar à cabeça do animal.
Uma das orelhas curtas e grossas do rinoceronte havia sido arrancada a mordidas, e a garganta dele havia sido selvagemente rasgada. Olhos negros sem vida fitavam Khamisi, arregalados demais, parecendo congelados de pavor. Os lábios também estavam contraídos, como em terror ou agonia. Uma língua larga projetava-se, e havia sangue acumulado embaixo dela. Mas nada disso era importante. Ele sabia o que tinha de verificar.
Acima das narinas cobertas de espuma, curvava-se um longo chifre, proeminente e perfeito.
- Sem dúvida, não se trata de um caçador ilegal - disse Khamisi.
O chifre teria sido levado. Era o principal motivo por que a população de rinocerontes ainda estava em rápido declínio. O pó do chifre era vendido no mercado asiático como uma suposta cura para disfunção erétil, um Viagra homeopático. Um único chifre atingia uma soma descomunal.
Khamisi aprumou-se.
A dra. Fairfield agachou-se próximo ao outro lado do corpo. Ela havia calçado luvas descartáveis e apoiado o rifle no corpo.
Não parece que ela deu à luz.
Então não existe nenhum filhote órfão.
A bióloga contornou a carcaça até a barriga de novo. Ela curvou-se e, sem nem ao menos estremecer de náusea, puxou com força uma aba da barriga dilacerada e introduziu a mão.
Ele afastou-se.
- Por que animais que se alimentam de carniça não limparam a carcaça? - perguntou a dra. Fairfield enquanto trabalhava.
- É muita carne - murmurou ele.
Khamisi tornou a dar a volta. A quietude ao redor continuava a exercer pressão nele, tornando mais sufocante o calor. A mulher continuava o exame.
- Não acho que seja isso. O corpo está aqui desde a noite passada, perto de uma cacimba. Se fosse só isto, o abdome teria sido limpo por chacais.
Khamisi examinou o corpo outra vez. Ele olhou atentamente para a pata traseira dilacerada, para a garganta rasgada. Alguma coisa grande havia derrubado o rinoceronte. E rápido.
Ele sentiu um arrepio percorrer sua nuca.
Onde estavam os animais que se alimentavam de carniça?
Antes que ele pudesse refletir sobre o mistério, a dra. Fairfield falou:
- O filhote desapareceu.
- O quê? - Ele deu a volta. - Pensei que a senhora tivesse dito que ela não havia dado à luz.
A dra. Fairfield levantou-se, tirou as luvas e pegou sua arma. Com o rifle na mão, a bióloga afastou-se da carcaça, o olhar fixo no chão. Khamisi notou que ela estava seguindo a trilha de sangue, onde alguma coisa fora arrastada da barriga para ser devorada em particular.
Oh,Deus...
Ele a seguiu.
Na beira do matagal, a dra. Fairfield usou a ponta do rifle para afastar alguns galhos baixos, revelando o que havia sido arrastado da barriga. O filhote de rinoceronte.
O corpo descarnado havia sido todo despedaçado, como se o tivessem disputado.
- Acho que o filhote ainda estava vivo quando foi dilacerado - disse a dra. Fairfield, apontando para uma mancha de sangue. - Pobrezinho...
Khamisi afastou-se, lembrando-se da pergunta anterior da bióloga. Por que nenhum outro animal que se alimentava de carniça havia devorado os restos mortais? Abutres, chacais, hienas, até mesmo leões. A dra. Fairfield tinha razão. Toda aquela carne não teria sido deixada para moscas e vermes.
Não fazia sentido.
A não ser que...
O coração de Khamisi bateu violentamente. A não ser que o predador ainda estivesse ali.
Ele ergueu sua espingarda. Bem no fundo do matagal mergulhado em sombras, ele voltou a notar o silêncio opressivo. Era como se a própria floresta estivesse intimidada pelo que quer que houvesse matado o rinoceronte.
Ele flagrou-se examinando o ar, ouvindo, forçando a visão, permanecendo absolutamente imóvel. As sombras pareciam aprofundar-se em toda sua volta.
Por ter passado a infância na África do Sul, Khamisi estava bastante familiarizado com superstições, boatos de monstros que assombravam as selvas e as percorriam em busca de caça: o ndalawo, uma fera da floresta de Uganda que uivava e se alimentava de carne humana; o mbilinto, um hipopótamo do tamanho de um elefante das terras úmidas do Congo; o mngwa, um monstro peludo que se ocultava nos coqueirais da costa.
Mas, às vezes, até os mitos pareciam adquirir vida na África. Como o nsui-fisi. Tratava-se de um monstro listrado da Rodésia que se alimentava de carne humana, durante muito tempo considerado uma lenda por colonos brancos..., isto é, até que décadas mais tarde se descobriu que se tratava de uma nova espécie de guepardo, classificada pela taxonomia como Acinonyx rex.
Enquanto investigava a selva, Khamisi se lembrou de outro monstro lendário, conhecido em toda a África. Era chamado por vários nomes: dubu, lumbwa, kerit, getet. A simples menção do nome fazia os nativos gritarem de medo. Cirande como um gorila, era um verdadeiro demônio por sua rapidez, astúcia e ferocidade. Através dos séculos, caçadores - brancos e negros - afirmaram ter visto vislumbres dele. Todas as crianças aprendiam a reconhecer seu uivo característico. Aquela região da Zululândia não era exceção.
- Ukufa... - murmurou Khamisi.
- Você disse alguma coisa? - perguntou a dra. Fairfield, ainda curvada junto ao filhote morto.
Era o nome do monstro em zulu, um nome sussurrado ao redor de fogueiras de acampamentos e de cabanas das aldeias fortificadas da África do Sul. Ukufa. Morte.
Ele sabia por que aquela fera lhe viera à mente agora. Cinco meses atrás, um velho membro da tribo afirmou ter visto um ukufa perto dali. Meio fera, meio fantasma, com olhos de fogo, o velho afirmara com certeza absoluta. Apenas as pessoas tão velhas quanto aquele ancião enrugado prestaram atenção. Os outros, como Khamisi, fingiram acreditar na fantasia do membro da tribo.
Porém, ali, nas sombras escuras...
- Nós deveríamos ir embora - disse Khamisi.
- Mas não sabemos o que a matou.
- Não foram caçadores ilegais.
Aquilo era tudo o que Khamisi precisava ou queria saber. Ele acenou com a espingarda em direção ao jipe. Entraria em contato pelo rádio com o guarda-caça-chefe, encerraria a transmissão e daria o assunto por encerrado. Animal morto por predadores. Nenhuma caça ilegal. Eles deixariam a carcaça para os animais que se alimentavam de carniça. O ciclo da vida.
A dra. Fairfield ergueu-se com relutância.
Mais longe, à direita, um grito prolongado propagou-se pela selva mergulhada em sombras - uu-iii-ÔÔÔÔ -, pontuado por um guincho agudo feroz.
Khamisi tremeu no lugar onde estava. Ele reconheceu o grito, não tanto com a cabeça quanto com a espinha. Ele ecoava de volta ao passado, a fogueiras de acampamento à meia-noite, a histórias de terror e derramamento de sangue e, ainda mais longe no tempo, a algo primitivo, a uma época anterior à fala, quando a vida era instinto.
Ukufa.
Morte.
Quando o grito se desvaneceu, o silêncio voltou a cair opressivamente sobre eles.
Khamisi calculou mentalmente a que distância estavam do jipe. Eles precisavam se refugiar, mas não em pânico. Uma fuga assustada apenas excitaria a sede de sangue de um predador.
Na selva, outro guincho retumbou.
Depois outro.
E outro.
Todos de direções diferentes.
No silêncio repentino que se seguiu, Khamisi soube que eles só tinham uma chance.
- Corra!
Copenhague, Dinamarca
Gray estava de bruços transversalmente sobre as telhas do teto, a cabeça para baixo, estatelado onde não conseguira segurar Fiona. A imagem da queda dela sobre a beira enfumaçada do telhado ardia em sua mente. Seu coração batia acelerado.
- Oh, Deus... o que foi que eu fiz...?
O barulho de sirene se aproximava da rua, esvaindo-se à medida que chegava perto do prédio em chama.
Por cima de seus ombros, uma nova torrente de chamas projetou-se da água-furtada do sótão, acompanhada por um fluxo estrepitante de calor e fumaça. Apesar da angústia, ele tinha de se mexer.
Gray fez esforço para se apoiar nos cotovelos, em seguida, nas mãos, empurrando o corpo para cima.
Ao lado, o fogo recuou, dando uma trégua momentânea. No silêncio súbito, ele ouviu vozes lá embaixo, urgentes, furtivas. Também mais perto dele... um gemido baixo. Pouco além da linha do telhado.
Fiona...?
Gray tornou a ficar de bruços e desceu rápido, num deslizar controlado, até a beira do telhado. Uma fumaça densa saía das janelas estilhaçadas e preenchia imediatamente a área abaixo. Ele usou a cortina de fumaça para ocultar sua aproximação.
Ao chegar à beira do telhado onde estava a calha, olhou para baixo.
Logo abaixo dele estendia-se uma sacada de ferro fundido... não, não uma sacada. Era o patamar de uma escada. A escada externa que Fiona mencionara.
A garota estava estatelada no patamar.
Com um segundo gemido fraco, Fiona se virou e começou a se erguer com dificuldade, usando as grades do parapeito.
Outros notaram o movimento dela.
No pátio abaixo, Gray enxergou duas figuras. Uma estava em pé no meio das lajes de pedra, com um rifle erguido à altura do ombro, à procura do tiro certeiro. Fumaça negra era expelida através da porta-janela quebrada do apartamento, impedindo que Fiona fosse vista. O atirador de tocaia esperou a garota pôr a cabeça acima do parapeito do patamar.
- Continue abaixada - sussurrou para Fiona.
Ela olhou para cima. Sangue vivo pingava de sua testa.
O segundo pistoleiro deu a volta, segurando com ambas as mãos uma pistola preta. Ele apontou para a escada, com a intenção de bloquear qualquer tentativa de fuga.
Gray acenou para que Fiona permanecesse agachada, em seguida rolou ao longo da linha do telhado até ficar acima do segundo pistoleiro. A fumaça, expelida em grande quantidade, ainda o mantinha oculto. A atenção dos assassinos continuava concentrada na escada. Uma vez em posição, Gray aguardou. Ele segurava uma pesada telha na mão direita, uma das telhas de pedra que Fiona deslocara durante a queda.
Ele teria apenas uma tentativa.
Embaixo, o homem segurou a pistola engatilhada e pôs um pé no degrau mais baixo.
Gray inclinou-se sobre a beira do telhado com o braço erguido. Deu um assobio agudo.
O pistoleiro olhou para cima, girando a arma e apoiando-se num joelho. Extremamente rápido...
Mas a gravidade era mais rápida.
Gray jogou a telha. Ela girou no ar como um machado e acertou a face erguida do pistoleiro. O sangue jorrou do nariz do homem, que caiu pesadamente para trás. Sua cabeça bateu contra as lajes de pedra, quicou e não mais se moveu.
Gray rolou de novo - de volta em direção a Fiona.
O homem armado com o rifle deu um grito.
Gray manteve o olhar fixo nele. Tinha esperança de que, por ter tido o parceiro derrubado, o homem fugiria. Não tivera essa sorte. O homem armado com o rifle fugiu para o lado oposto e encontrou abrigo perto de uma lata de lixo, mas ficou numa posição da qual poderia disparar um tiro certeiro. Permaneceu de tocaia próximo aos fundos da livraria, que ardia em chamas, tirando vantagem dos rolos de fumaça que subiam de uma janela vizinha.
Gray voltou a alcançar Fiona e acenou para que ela permanecesse abaixada. Tentar puxá-la para cima seria a morte de ambos. Eles ficariam expostos por muito tempo.
Só restava uma chance.
Segurando a calha com uma das mãos, Gray arrastou-se pelo telhado abaixo e saltou. Caiu no patamar com o estrondo de aço, depois abaixou-se. Um tijolo acima de sua cabeça estilhaçou-se. Disparo de rifle.
Gray estendeu a mão para a bainha em seu tornozelo e pegou seu punhal.
Fiona observou o gesto.
- O que nós vamos...?
- Você vai ficar aqui - ordenou ele.
Ele estendeu uma das mãos para o parapeito acima. Tudo de que dispunha era do elemento surpresa. Nenhum colete de proteção, nenhuma arma, exceto seu punhal.
- Corra quando eu mandar - disse ele. - Desça a escada sem parar e pule a cerca do seu vizinho. Encontre o primeiro policial ou bombeiro. Você pode fazer isso?
Fiona olhou-o nos olhos. Parecia que ela estava prestes a objetar, mas seus lábios contraíram-se e ela acenou com a cabeça.
Boa menina.
Gray equilibrou o punhal na mão. Mais uma chance. Respirando fundo, pulou para cima e esquivou-se do parapeito, saltando sobre ele. Enquanto caía em direção às lajes de pedra, fez duas coisas ao mesmo tempo.
- Corra! - gritou ele, e atirou o punhal na direção do abrigo do atirador de tocaia.
Ele não esperava matá-lo, apenas distraí-lo por tempo suficiente para ficar a uma pequena distância do homem. Um rifle era inábil em situações difíceis.
Quando caiu no chão, ele notou duas coisas.
Uma boa, uma ruim.
Ele ouviu os passos de Fiona soando pela escada de metal abaixo.
Ela estava fugindo.
Ótimo.
Ao mesmo tempo, Gray observou seu punhal voar através do ar enfumaçado, acertar com violência na lata de lixo e bater no chão. Seu arremesso nem sequer chegara perto.
Isso era ruim.
O atirador ergueu-se imperturbável de sua posição, com o rifle preparado para atirar, e apontou diretamente para o tórax de Gray.
- Não! - Fiona gritou quando chegou ao fim da escada. O homem nem sequer sorriu ao puxar o gatilho.
Reserva de caça Hluhluwe-umfolozi
Zululândia, África do Sul
- Corra! - repetiu Khamisi.
A dra. Fairfield não precisava de mais nenhum estímulo. Eles fugiram rumo ao jipe à sua espera. Ao chegar à cacimba, Khamisi acenou para que a dra. Fairfield passasse à sua frente. Ela abriu caminho através dos juncos altos, porém não antes de olhá-lo nos olhos, em silêncio. Os olhos dela brilhavam de horror, refletindo o próprio horror dele.
Quaisquer que fossem as criaturas que haviam gritado na floresta, elas davam a impressão de ser grandes, fortes e estimuladas pela morte recente do rinoceronte. Khamisi olhou para trás, para a carcaça macerada do animal. Monstros ou não, ele não precisava de outras informações sobre o que poderia estar escondido no labirinto de floresta densa, córregos com um fio d'água e ravinas encobertas pelas sombras.
Dando a volta à cacimba, Khamisi seguiu a bióloga. Ele olhava para trás, por sobre o ombro, com freqüência, apurando o ouvido para qualquer som de perseguição. Algo chamou atenção no poço ali próximo. Ele ignorou. O barulho na água foi insignificante. Insignificante demais. Seu cérebro filtrava os detalhes irrelevantes, ignorando o zumbido de insetos e o rangido de juncos. Khamisi estava concentrado em sinais reais de perigo. Seu pai o havia ensinado a caçar quando ele tinha apenas seis anos e lhe instruiu sobre os sinais a serem observados ao se aproximar silenciosamente de uma presa.
Só que agora a caça era ele.
O adejar aterrorizado de asas atraiu seus ouvidos e olhos.
Um movimento rápido.
À esquerda.
No céu.
Um único picanço levantou vôo.
Algo o assustara.
Algo em movimento.
Khamisi aproximou-se da dra. Fairfield enquanto eles saíam do meio dos juncos.
- Depressa! - sussurrou ele, os sentidos aguçando-se.
A dra. Fairfield estendeu o pescoço, o rifle oscilando. Ela respirava com dificuldade, seu rosto estava pálido. Khamisi acompanhou o olhar dela. O jipe deles estava no topo da encosta, estacionado à sombra do baobá, à beira da profunda depressão no terreno. A encosta parecia mais íngreme e longa do que quando eles desceram.
- Continue andando - insistiu ele.
Ao olhar para trás, Khamisi viu a fêmea castanho-amarelada de um antílope sul-africano pular da margem da floresta e saltitar rumo à encosta no outro lado, levantando poeira.
Em seguida, desapareceu.
Eles precisavam seguir seu exemplo.
A dra. Fairfield começou a subir a encosta. Khamisi a seguiu, deu um passo para o lado e apontou sua espingarda na direção da floresta atrás deles.
- Eles não mataram para comer - a dra. Fairfield disse ofegante à frente dele.
Khamisi examinou o escuro emaranhado da floresta. Por que ele sabia que ela estava certa?
- Não foi a fome que os incitou - prosseguiu a bióloga, lutando para apaziguar o pânico com ponderação. - Mal comeram alguns pedaços. Foi como se tivessem matado por prazer. Como um gato doméstico caçando um camundongo.
Khamisi havia trabalhado ao lado de muitos predadores. Aquele não era o método da natureza. Depois de uma refeição, leões raramente se revelavam uma ameaça, em geral descansavam e, até certa distância, eram inclusive afáveis. Um predador saciado não estraçalharia a fêmea de um rinoceronte e tiraria o filhote de sua barriga apenas por diversão.
A dra. Khamisi continuava sua ladainha, como se o perigo presente fosse um enigma a resolver.
- No mundo domesticado, é o gato doméstico bem alimentado que caça com mais freqüência. Ele tem energia e tempo para esse tipo de brincadeira.
Brincadeira?
Khamisi deu de ombros.
- Simplesmente continue andando - disse ele, sem querer ouvir mais.
A dra. Fairfield acenou com a cabeça, mas as palavras da bióloga permaneceram com Khamisi. Que tipo de predador mata apenas por diversão? É claro que havia uma única resposta óbvia.
O homem.
Mas aquilo não era obra de mãos humanas.
Um movimento voltou a atrair o olhar de Khamisi. Por um breve momento, uma forma pálida deslocou-se atrás da margem da floresta escura, vista de relance do canto do olho. E desvaneceu-se como fumaça branca quando ele concentrou o olhar no local.
Ele se lembrou das palavras do encarquilhado membro da tribo zulu. Meio fera, meio fantasma...
Apesar do calor, sua pele esfriou. Ele apertou o passo, quase empurrando com os ombros a bióloga, uma mulher mais velha do que ele, ladeira acima. Xisto solto e argila arenosa moviam-se traiçoeiramente sob os pés de ambos. Mas eles estavam quase no topo. O jipe estava apenas a trinta metros de distância.
Então a dra. Fairfield escorregou.
Um dos joelhos dela fraquejou e ela caiu para trás, chocando-se contra Khamisi.
Ele deu um passo em falso para trás, escorregou e caiu sentado pesadamente. O ângulo da encosta e o impulso fizeram-no dar uma cambalhota. Ele rolou meia ladeira abaixo antes de, finalmente, interromper sua queda usando os calcanhares e a culatra da espingarda.
A dra. Fairfield ainda estava sentada onde havia caído, os olhos arregalados de medo, olhando fixamente para baixo.
Não para ele.
Para a floresta.
Khamisi virou-se e ficou de joelhos; sentiu uma dor lancinante no tornozelo: havia-o torcido ou talvez fraturado. Ele examinou ao redor e não viu nada, mas ergueu a espingarda.
- Vá! Vá! - gritou Khamisi, que deixara as chaves na ignição.
Ele ouviu a dra. Fairfield levantar-se com dificuldade, fazendo o xisto ranger.
Da margem da floresta, ergueu-se outro uivo, crocitante e inumano.
Khamisi apontou às cegas e puxou o gatilho. O estrondo de sua espingarda ecoou pela depressão. A dra. Fairfield gritou atrás dele, assustada. Khamisi esperava que o barulho também houvesse assustado o que quer que estivesse escondido na floresta.
- Vá para o jipe! - berrou ele. - Vá agora! Não espere!
Ele levantou-se, deslocando seu peso do tornozelo ferido, e manteve o rifle suspenso. A floresta voltara a ficar silenciosa. Ele ouviu a dra. Fairfield chegar ao topo.
Khamisi... - ela tornou a gritar.
Entre no jipe!
Ele arriscou uma olhadela atrás de si, sobre o ombro.
A dra. Fairfield afastou-se da beira da encosta e caminhou na direção do jipe. Acima, movimento nos galhos do baobá atraiu a atenção dele. Algumas das flores brancas que pendiam da árvore balançavam suavemente.
Não ventava.
- Marcia! - gritou ele. - Não...!
Um grito selvagem irrompeu atrás dele, abafando o resto de sua advertência. A dra. Fairfield deu meio passo em sua direção. Não...
Ela saltou das sombras profundas da árvore gigante, uma mancha pálida. Atacou a bióloga, e ambas sumiram de vista. Khamisi ouviu um grito aterrorizante da mulher, o qual se extinguiu num piscar de olhos.
O silêncio voltou a reinar.
Khamisi virou-se outra vez para a margem da floresta.
Morte acima e abaixo.
Ele só tinha uma chance.
Ignorando a dor no tornozelo, correu.
Ladeira abaixo.
Ele simplesmente deixou a gravidade tomar conta de si. Era menos uma corrida a toda velocidade do que uma queda livre. Ele correu de volta para o pé da colina, as pernas lutando para se manterem em pé. Ao chegar lá embaixo, apontou a arma na direção da floresta e disparou um segundo tiro.
Bum.
Ele não tinha qualquer esperança de assustar os caçadores. Procurava apenas conseguir uma fração extra de vida. O ricochete do rifle também o ajudou a manter-se em pé quando o declive se aplainou. Continuou correndo, o tornozelo pegando fogo, o coração retumbando.
Ele divisou, ou quem sabe meramente sentiu, o movimento de alguma coisa grande bem na margem da floresta. Um vulto matizado ligeiramente mais claro.
Meio fera, meio fantasma.
Embora invisível, ele sabia a verdade.
Ukufa.
Morte.
Hoje não, rezou ele, hoje não.
Khamisi moveu-se ruidosamente através dos juncos...
... e mergulhou de ponta-cabeça na cacimba.
Copenhague, Dinamarca
O grito de Fiona acompanhou a detonação do rifle do atirador de tocaia.
Gray girou-se na tentativa de escapar de um ferimento mortal. Quando ele se virou, a forma indistinta de alguma coisa grande saiu com estardalhaço dos restos da janela enfumaçada da livraria.
O pistoleiro devia ter captado o mesmo movimento uma fração antes de Gray, o suficiente para errar a mira por uma distância mínima.
Gray sentiu a bala passar queimando pelo seu braço esquerdo.
E continuou a afastar-se do alcance de um tiro à queima-roupa.
Da janela, a grande forma pulou em cima da lata de lixo e avançou sobre o pistoleiro.
- Bertal! - gritou Fiona.
O peludo são-bernardo, completamente molhado, cravou os caninos no antebraço do pistoleiro. O ataque rápido e inesperado pegou o homem desprevenido, e ele caiu para trás, nas sombras atrás da lata de lixo. Seu rifle caiu com um estrondo nas lajes de pedra.
Gray arremeteu contra ele.
O latido do cão soou bem perto. Antes que Gray pudesse reagir, o assassino deu um pulo alto, colocou com firmeza o calcanhar de uma bota no ombro de Gray, fazendo-o chocar-se contra as pedras, e saltou sobre ele.
Gray ficou rapidamente de lado, esforçando-se para pegar o rifle caído. Mas o homem movia-se com excepcional astúcia. Com uma capa impermeável preta flutuando, pulou o muro de pedra do jardim e fugiu. Gray ouviu seus passos afastando-se pelo beco abaixo.
-Filho-da-puta...
Fiona correu ao encontro de Gray com uma pistola na mão.
- O outro homem... - Ela apontou atrás de si. - Acho que está morto.
Gray pendurou o rifle no ombro e tomou a pistola da mão dela. Ela não protestou, preocupada demais com outra coisa.
- Bertal...
O cão veio para fora, cambaleante, fraco, com um lado gravemente queimado.
Gray olhou para trás, para a livraria em chamas. Como a pobre criatura havia sobrevivido? Gray lembrou-se de onde tinha visto o cachorro pela última vez: lançado pelos ares com toda força contra a parede dos fundos pelas primeiras bombas incendiárias, onde caíra inconsciente.
Fiona abraçou o animal encharcado.
O cachorro devia ter caído sob um sprinkler.
Ela ergueu a cara do são-bernardo e fitou-o de perto, seu nariz quase roçando o focinho do cão.
- Bom cachorro.
Gray concordou. Ele tinha uma dívida com Bertal.
- Todos os cafezinhos que você quiser, companheiro - prometeu ele num sussurro. Os membros de Bertal tremiam. Ele desabou sobre suas ancas, depois sobre as pedras. A adrenalina que havia sustentado o pobre animal estava se esgotando.
À esquerda, vozes altas chegaram até eles, em dinamarquês. Um jato d'água voou bem alto. Os bombeiros haviam ido para o outro lado da loja.
Gray não podia ficar mais tempo.
- Eu tenho de ir.
Fiona levantou-se. Ela olhou para Gray e o cão.
- Fique com Bertal - disse ele, dando um passo para trás. - Leve-o a um veterinário.
O olhar de Fiona endureceu.
- E você simplesmente vai cair fora...
- Sinto muito.
Era uma resposta insatisfatória para encerrar os horrores: o assassinato da avó, o incêndio que destruiu completamente a livraria, a fuga por um triz. Mas ele não sabia o que mais dizer, e não tinha tempo para entrar em pormenores.
Virou-se e dirigiu-se ao muro dos fundos do jardim.
- Sim, vá em frente, caia fora! - gritou Fiona atrás dele.
Gray pulou o muro, o rosto queimando.
- Espere!
Ele desceu o beco às pressas. Detestava ter de abandoná-la, mas não havia escolha. Ela estaria mais segura. Com o pessoal de emergência, estaria abrigada, protegida. Aonde Gray tinha de ir em seguida não havia lugar para uma garota de 15 anos. No entanto, seu rosto continuava a queimar. Bem no fundo, ele não podia negar uma motivação mais egoísta: simplesmente estava contente de ter-se livrado dela, da responsabilidade.
Não tinha importância... estava feito.
Ele caminhou rapidamente pelo beco. Enfiou a pistola no cós da calça e tirou toda a munição do rifle. Quando terminou, empurrou o rifle para trás de uma pilha de madeira. Carregá-lo seria expor-se demais. Enquanto continuava a andar, tornou a vestir o suéter. Precisava abandonar seu hotel e mudar de identidade. As mortes ali seriam investigadas. Era hora de deixar a persona do dr. Sawyer morrer.
Porém, antes disso, ainda tinha uma tarefa a terminar.
Tirou seu telefone celular de um dos bolsos traseiros e apertou a tecla de discagem rápida para o comando central. Após alguns instantes, estava falando com Logan Gregory, o líder operacional de sua missão.
- Estamos com um problema aqui - disse Gray.
- O que há de errado?
- Seja o que for que esteja acontecendo, é mais importante do que nós a princípio pensamos. Importante o suficiente para que matem por esse motivo. - Gray fez o relato de sua manhã, e seguiu-se um longo período de silêncio.
Logan afinal falou, com a voz tensa.
- Então é melhor adiarmos esta missão até o senhor dispor de mais recursos aí no local.
- Se eu esperar por apoio, será tarde demais. O leilão é daqui a algumas horas.
- Seu disfarce já era, comandante Pierce.
- Eu não tenho certeza disto. Até onde os figurões sabem, sou um comprador americano que faz perguntas demais. Não tentarão nada às claras. Muitas pessoas estarão presentes ao leilão, e a segurança da casa é rigorosa. Ainda posso examinar minuciosamente o local e talvez averiguar algumas pistas sobre quem ou o que na verdade está por trás de tudo isso. Depois, sumirei do mapa, ficarei à espreita até a ajuda chegar.
Gray também queria pôr as mãos naquela Bíblia, ainda que apenas para inspecioná-la.
- Não acho isso prudente. O risco potencial supera o ganho potencial. Especialmente como um agente atuando sozinho - Logan falou.
Gray ficou exaltado.
- Quer dizer então que os filhos-da-puta tentam acabar comigo... e agora o senhor quer que eu não faça nada?
- Comandante.
Os dedos de Gray apertaram o telefone. Logan havia obviamente passado tempo demais fazendo trabalho burocrático na Sigma. Era adequado como líder de operações em uma missão de pesquisa, mas aquilo já não era uma missão para reunir fatos. Estava transformando-se numa operação plena da Força Sigma. E, se fosse aquele o caso, Gray queria alguém com liderança de verdade dando-lhe apoio.
- Talvez nós devêssemos envolver o diretor Crowe - disse Gray.
Seguiu-se outra longa pausa. Talvez ele houvesse dito algo errado. Não queria insultar Logan, passar por cima de sua autoridade, mas às vezes simplesmente era preciso saber quando sair do caminho.
- Sinto muito, mas acho que isso é impossível no momento, comandante Pierce.
- Por quê?
- No momento, o diretor Crowe está incomunicável no Nepal. Gray ficou perplexo.
- No Nepal? O que ele está fazendo no Nepal?
- Comandante, o senhor o mandou.
- O quê?
Então Gray começou a entender.
Ele recebera o telefonema uma semana atrás.
De um velho amigo.
A mente de Gray voltou ao passado, aos seus primeiros dias na Força Sigma. Como todos os outros agentes daquela organização, Gray tinha passado pelas Forças Especiais: entrara para o Exército aos 18 anos e para os Rangers aos 21. Porém, depois de ter sido submetido a julgamento perante a corte marcial por agredir um oficial superior, ele fora recrutado pela Força Sigma, diretamente de Leavenworth. No entanto, fora olhado com desconfiança. Tinha havido um bom motivo para ele agredir aquele oficial. A incompetência do homem resultara em mortes desnecessárias na Bósnia - de crianças -, mas a raiva de Gray tinha raízes mais profundas. Problemas relacionados com autoridade, que remontavam ao seu relacionamento com o pai. E, uma vez que aqueles problemas não tinham sido completamente resolvidos, fora necessário que um sábio mostrasse o caminho a Gray.
Esse homem fora Ang Gelu.
- O senhor está dizendo que o diretor Crowe está no Nepal por causa do monge budista meu amigo?
- Painter sabia como o homem era importante para o senhor. Gray parou de andar e procurou abrigo nas sombras.
Ele passara quatro meses estudando com o monge no Nepal, paralelamente ao seu treinamento para a Sigma. Na verdade, foi por intermédio de Ang Gelu que Gray havia desenvolvido currículo singular na Sigma. Gray recebera prioridade para estudar biologia e física e obter dois graus de nível superior, mas Ang Gelu elevou os estudos dele, ensinando-o a procurar o equilíbrio entre todas as coisas. A harmonia dos opostos. O yin e o yang taoístas. O um e o zero.
Essa compreensão ajudou Gray a enfrentar demônios de seu passado.
Durante seu crescimento, ele sempre oscilara entre opostos. Embora sua mãe tivesse lecionado numa escola católica, instilando profunda espiritualidade na vida de Gray, ela também era uma bióloga talentosa, uma discípula devota da evolução e da razão. Depositava tanta fé e confiança no método científico quanto em sua religião.
E também havia seu pai: um galês que vivia no Texas, um engenheiro especializado em petróleo que ficara incapacitado na meia-idade e tivera de assumir o papel de dona de casa. Em conseqüência, sua vida veio a ser governada por supercompensação e raiva.
Tal pai, tal filho.
Até Ang Gelu mostrar outro caminho a Gray.
Um caminho entre opostos. Não era um caminho curto: ele estendia-se tanto no passado quanto no futuro. Gray ainda estava lutando contra isso.
Mas Ang Gelu ajudara Gray a dar os primeiros passos. Ele tinha uma dívida com o monge por isso. Portanto, quando Gray recebeu o pedido de ajuda uma semana atrás, não o ignorou. Ang Gelu relatara desaparecimentos inexplicáveis, doenças estranhas, tudo em determinada região perto da fronteira com a China.
O monge não soubera a quem recorrer. O próprio governo no Nepal estava muito concentrado nos rebeldes maoístas. E Ang Gelu sabia que Gray estava envolvido numa nebulosa cadeia de comando de operações secretas. Por isso, apelara para a ajuda do ex-aluno. Porém, já designado para a missão em curso, Gray passara o problema para Painter Crowe.
Transferindo a responsabilidade para outro...
- Eu apenas pensei que Painter mandaria um agente novato - gaguejou Gray, incrédulo. - Para checar a situação. Certamente havia outros que...
Logan interrompeu-o.
- As coisas estavam devagar por aqui.
Gray reprimiu um gemido. Ele sabia o que Logan queria dizer. A mesma calmaria nas ameaças globais havia-o trazido à Dinamarca.
- Então ele foi?
- O senhor conhece o diretor. Sempre quer sujar as mãos. - Logan suspirou, exasperado. - E agora há um problema. Uma tempestade impediu a comunicação por alguns dias, mas, agora que ela passou, nós ainda não recebemos informações atualizadas do diretor. Em vez disso, estamos ouvindo rumores através de várias fontes. As mesmas histórias relatadas pelo seu amigo: doença, praga, mortes, até possíveis ataques de rebeldes na região. Só que a situação está se agravando.
Gray agora entendia a tensão na voz de Logan.
Parecia que não era só a missão de Gray que estava dando errado.
Uma desgraça nunca vem só.
- Posso mandar o Monk para aí - disse Logan. - Ele e a capitã Bryant estão vindo para cá. Monk pode estar aí daqui a dez horas. Relaxe até lá.
Mas o leilão terá terminado...
- Comandante Pierce, estas são as suas ordens.
Gray falou rapidamente, a voz endurecendo de novo.
- Senhor, eu já instalei microcâmeras nos pontos de entrada e saída da casa de leilões. Seria um desperdício deixá-las para lá.
- Está bem. Monitore as câmeras de um lugar seguro. Filme tudo. Mas só isso. O senhor entendeu, comandante?
Gray ficou indignado, mas Logan estava ocupadíssimo. Tudo por causa de um favor para Gray Por isso ele tinha poucos motivos para objetar.
- Muito bem, senhor.
- Dê notícias após o leilão - disse Logan.
- Sim, senhor.
A linha emudeceu.
Gray continuou pelas ruelas de Copenhague, alerta a tudo à sua volta. Mas a preocupação o atormentava. Com Painter, com Ang Gelu... Que diabo estava acontecendo no Nepal?
Himalaia
- E a senhora tem certeza de que Ang Gelu foi morto? - perguntou Painter, olhando para trás.
Ela respondeu com um aceno de cabeça.
Lisa Cummings terminara sua história, dizendo como fora recrutada de uma equipe que ia escalar o Everest para investigar uma doença no mosteiro. Ela rapidamente relatara os horrores que se seguiram: a loucura, as explosões, o atirador de tocaia.
Painter reviu a história dela mentalmente enquanto os dois ziguezagueavam cada vez mais fundo no porão do mosteiro, onde ervas eram armazenadas. O estreito labirinto de pedra não fora projetado para alguém do seu tamanho. Ele tinha de se manter abaixado, e, mesmo assim, a parte de cima de sua cabeça roçou em alguns ramos de junípero pendurados para secar. As folhas aromáticas eram usadas para fazer bastões de incenso para cerimônias no templo acima, um templo que agora era apenas um enorme bastão de incenso, queimando e lançando fumaça no céu do meio-dia.
Desarmados, eles haviam fugido para o porão a fim de escapar às chamas. Painter havia parado apenas num vestiário o tempo suficiente para pegar um poncho pesado e um par de botas forradas de pele. Vestido com aquelas roupas, quase se parecia com um índio Pequot, ainda que fosse apenas mestiço. Ele não lembrava para onde suas roupas ou mochilas tinham sido levadas.
Três dias haviam esvaecido de sua vida.
Junto com cinco quilos.
Enquanto vestia a túnica, mais cedo, ele notou como suas costelas estavam proeminentes. Até seus ombros pareciam mais ossudos. Ele não havia escapado por completo à doença ali. No entanto, pelo menos suas forças continuavam a melhorar.
Elas precisavam melhorar.
Especialmente com um assassino ainda à solta.
Painter tinha ouvido disparos ocasionais à medida que fugiam para baixo. Um atirador de tocaia estava matando qualquer pessoa que fugisse do mosteiro em chamas. A dra. Cummings descrevera o agressor. Um único homem. Decerto havia outros. Será que eram rebeldes maoístas? Isso não fazia sentido. Qual seria a finalidade da chacina?
Com uma lanterna de bolso na mão, Painter ia na frente.
A dra. Cummings seguia logo atrás.
Painter soubera que ela era uma médica americana e membro de uma equipe que ia escalar o Everest. Ele a observou pelo canto do olho, avaliando-a. Era uma mulher de pernas longas e físico atlético, loura, usava um rabo-de-cavalo e suas faces estavam avermelhadas devido à queimadura provocada pelo vento. Ela também estava aterrorizada. Mantinha-se próxima a ele e sobressaltava-se ao ouvir os eventuais estalos abafados da tempestade de fogo acima. Todavia, ela não parava, não chorava, não se queixava. Parecia que afugentava qualquer choque por mera determinação.
Mas por quanto tempo?
Os dedos dela tremeram quando ela afastou do rosto um buquê de capim-limão que secava. Eles seguiram em frente. A medida que desciam cada vez mais fundo no porão de armazenagem de ervas, o ar ficava impregnado do aroma de todos os raminhos: alecrim, artemísias, rododendro-das-montanhas, khenpa. Todos prontos para serem transformados em vários bastões de incenso.
Lama Khemsar, o líder do mosteiro, havia ensinado a Painter os objetivos das centenas de ervas: purificar, fomentar as energias divinas, dispersar pensamentos disruptivos, até mesmo tratar a asma e o resfriado comum. Porém, naquele exato momento, tudo o que Painter queria lembrar era como chegar à porta dos fundos do porão. O porão de armazenagem de ervas ligava todos os edifícios do mosteiro. Os monges passavam de uma estrutura a outra durante as intensas precipitações de neve no inverno por meio do porão.
Inclusive para chegarem ao celeiro nos limites do terreno. Ele ficava bem distante das chamas e fora da visão direta.
Se eles conseguissem alcançá-lo... e depois fugir para a aldeia situada mais abaixo...
Ele precisava entrar em contato com o comando da Sigma.
Enquanto sua mente rodopiava com possibilidades, o mesmo acontecia com a galeria.
Painter apoiou uma das mãos na parede do porão para se equilibrar.
Tonto.
- O senhor está bem? - perguntou a médica, dando um passo à frente para ficar ao lado dele.
Ele inspirou algumas vezes antes de confirmar com a cabeça. Desde que havia despertado, surtos de desorientação o incomodavam. Mas estavam ocorrendo com menos freqüência - ou será que aquilo era fantasia?
- O que de fato aconteceu lá em cima? - perguntou a médica.
Ela tomou dele a minilanterna - na verdade, pertencia a ela, de seu estojo médico - e a apontou para os olhos dele.
- Eu não... eu não tenho certeza... Mas nós deveríamos continuar andando. Painter tentou afastar-se da parede, mas ela pressionou a palma de uma das mãos contra o tórax dele, ainda examinando seus olhos.
- O senhor está exibindo um nistagmo acentuado - sussurrou ela e baixou a lanterna, a testa franzida.
- O quê?
Ela passou-lhe um cantil com água fria e acenou para que ele se sentasse num fardo de feno embrulhado. Ele não protestou. O fardo de feno estava duro como cimento.
- Seus olhos exibem sinais de nistagmo horizontal, uma contração espasmódica das pupilas. O senhor foi golpeado na cabeça?
- Acho que não. Isso é grave?
- É difícil dizer. Pode ser resultado de uma lesão no olho ou no cérebro. Um derrame cerebral, esclerose múltipla, um golpe na cabeça. Como o senhor está com vertigem, eu diria que sofreu algum dano no aparelho vestibular. Talvez no ouvido interno. Talvez no sistema nervoso central. É muito provável que não seja permanente. - Esta última frase foi murmurada com a voz muito desconcertante.
- O que a senhora quer dizer com muito provável, dra. Cummings?
- Me chame de Lisa - disse ela, tentando desviar a atenção dele.
- Ótimo. Lisa. Quer dizer que isto pode ser permanente?
Ela desviou o olhar.
- Eu precisaria de mais exames, de mais informações - disse ela. - Talvez o senhor pudesse começar me contando como tudo isso aconteceu.
Ele bebeu um longo gole d’água. Ele gostaria de poder contar. Uma dor instalou-se entre seus olhos quando tentou lembrar-se. Os últimos dias haviam se tornado obscuros.
- Eu estava hospedado numa das aldeias afastadas. No meio da noite, luzes estranhas apareceram no alto das montanhas. Não vi os fogos de artifício. Quando acordei, eles já haviam cessado. Mas, de manhã, todos na aldeia queixaram-se de dor de cabeça e náusea. Inclusive eu. Perguntei a um dos anciãos sobre as luzes. Ele disse que elas apareciam de vez em quando e remontavam a gerações. Luzes-fantasma. Ele as atribuía a espíritos malignos da profundeza das montanhas.
- Espíritos malignos?
- Ele apontou para onde as luzes eram vistas. Lá no alto, numa região remota das montanhas, uma área de desfiladeiros profundos e cascatas geladas que se estende ao longo de toda a fronteira com a China. Difícil de percorrer. O mosteiro situa-se num ombro de montanha que dá vista para essa terra de ninguém.
- Então o mosteiro estava mais perto das luzes?
Painter fez um aceno positivo de cabeça.
Todas as ovelhas morreram dentro de 24 horas. Algumas caíram onde estavam. Outras bateram repetidamente a cabeça contra as pedras. Voltei para cá no dia seguinte, com dor e vomitando. Lama Khemsar me deu um pouco de chá. Esse é o último momento de que me lembro. - Ele tomou outro gole d’água do cantil e suspirou. - Isso foi há três dias. Acordei trancado num quarto. Eu tinha de cair fora.
- O senhor teve sorte - disse a mulher, pegando de volta o cantil.
- Como assim?
Ela cruzou os braços com força, num gesto protetor.
- Sorte de estar longe do mosteiro. A proximidade das luzes parece correlacionar-se com a gravidade dos sintomas. - Ela ergueu e desviou o olhar, como se tentasse ver através das paredes ali embaixo. - Talvez tenha sido alguma forma de radiação. O senhor não disse que a fronteira com a China não era distante? Talvez tenha sido algum tipo de teste nuclear.
Painter fizera a mesma pergunta a si mesmo dias atrás.
- Por que o senhor está sacudindo a cabeça?
Painter não havia percebido que estava. Ele ergueu a palma de uma das mãos até a testa.
Lisa franziu o cenho.
- O senhor ainda não disse o que está fazendo aqui, sr. Crowe.
- Me chame de Painter - disse ele, com um falso sorriso.
Ela não se impressionou.
Ele refletiu sobre até que ponto podia dizer mais. Naquelas circunstâncias, parecia mais prudente ser honesto. Ou pelo menos o mais honesto possível.
- Trabalho para o governo, para uma divisão chamada DARPA. Nós...
Ela o interrompeu com um estalar de dedos, os braços ainda cruzados.
- Eu conheço a DARPA, a divisão de pesquisa e desenvolvimento das Forças Armadas dos Estados Unidos. Tive uma bolsa de pesquisa uma vez lá. Qual é o interesse deles aqui?
- Bem, parece que você não era a única que Ang Gelu recrutou. Ele entrou em contato com nossa organização há uma semana, para investigar rumores de enfermidades estranhas aqui em cima. Eu estava apenas me inteirando da situação do terreno, determinando quais especialistas traria para cá - médicos, geólogos, militares -, quando as tempestades começaram. Eu não havia planejado ficar isolado por tanto tempo.
- Você conseguiu descartar alguma possibilidade?
- Pelas entrevistas iniciais, estava preocupado de que rebeldes maoístas na região tivessem se apossado de algum lixo nuclear, preparando uma arma suja de algum tipo. No sentido do que você conjecturou em relação aos chineses. Por isso fiz testes para detectar várias formas de radiação enquanto esperava as tempestades passarem. Não registrei nada de incomum.
Lisa olhou fixamente para ele, como se estivesse examinando um besouro estranho.
- Se nós pudéssemos levá-lo a um laboratório - disse ela de maneira objetiva -, talvez encontrássemos algumas respostas.
Então ela não o considerava tanto um besouro quanto um porquinho-da-índia.
Pelo menos ele estava subindo na escala evolucionária.
- Primeiro nós temos de sobreviver - disse Painter, lembrando-a da realidade ali. Ela olhou para o teto do porão. Já se passara algum tempo desde que eles ouviram alguns disparos.
- Talvez eles pensem que estão todos mortos. Se nós simplesmente ficarmos aqui embaixo...
Painter empurrou o fardo de feno e levantou-se.
- Pela sua descrição, o ataque aqui foi metódico, planejado com antecedência. Eles devem saber da existência destes túneis e vão acabar procurando aqui. Só podemos rezar para que eles esperem que os incêndios se extingam.
Lisa acenou com a cabeça e disse:
- Então seguiremos em frente.
- E fugimos. Nós podemos fazer isso - ele a encorajou e pôs uma das mãos na parede para se equilibrar. - Nós podemos fazer isso - repetiu, dessa vez mais para si mesmo do que para ela.
Eles partiram.
Depois de alguns passos, Painter sentiu-se mais firme.
Ótimo.
A saída não podia estar muito longe.
Como que confirmando isso, uma brisa soprou pelo corredor abaixo, agitando com um estalido seco os molhos de ervas pendurados. Painter sentiu o frio em seu rosto. Ele congelou-o no lugar. O instinto de caçador tomou conta dele - em parte devido ao treinamento especial como agente secreto, em parte devido à sua herança de mestiço. Ele estendeu a mão atrás de si e segurou o cotovelo de Lisa, fazendo-a calar-se.
E desligou a lanterna.
Adiante, algo pesado atingiu o chão, e o som ecoou pelo corredor. Botas. Uma porta fechou-se com um estrondo. A brisa extinguiu-se.
Eles não estavam mais sozinhos.
O assassino agachou-se no porão. Ele sabia que havia outras pessoas ali embaixo. Quantas? Pendurou o rifle no ombro e sacou uma pistola Heckler & Koch MK23. Já havia tirado as luvas externas, mais grossas, e vestia apenas luvas de lã mais finas, que deixavam os dedos nus. Permaneceu em sua posição, ouvindo.
O som levíssimo de passos arrastando-se e de rangidos.
Afastando-se.
Pelo menos duas... talvez três pessoas.
Estendendo a mão para cima, deu um puxão e fechou o alçapão que conduzia ao celeiro acima. A brisa fria extinguiu-se com uma última corrente sussurrada quando a escuridão o envolveu. Ele baixou sobre os olhos um par de óculos de visão noturna e acendeu uma lâmpada ultravioleta afixada em seu ombro. O corredor adiante brilhou em tons de um verde prateado.
Bem próximo, uma parede com prateleiras estava cheia de pilhas de alimentos enlatados e fileiras de potes de mel amarelo-âmbar lacrados com cera. Ele passou de mansinho, movendo-se devagar, em silêncio. Não era necessário pressa. As outras únicas saídas levavam a uma ruína de chamas. Ele havia fuzilado aqueles monges ainda com senso suficiente na cabeça confusa para escaparem às chamas.
Mortes misericordiosas, todas elas.
Como ele sabia muito bem.
O Sino havia soado alto demais.
Fora um acidente. Um entre muitos ultimamente.
No último mês, ele havia percebido a agitação entre as outras pessoas no Granitschloß. Mesmo antes do acidente. Algo sacudira o castelo e fora sentido até a região distante onde ele havia construído sua casa solitária. Ele havia ignorado aquilo. Por que deveria se preocupar?
Então ocorreu o acidente... e ele tornara-se seu problema.
Dar um jeito no erro deles.
Era seu dever como um dos últimos Sonnenkönige sobreviventes. Tamanha era a decadência dos Reis-Sol, tanto em número quanto em prestígio, debilitados e marginalizados, anacrônicos e um estorvo. Em breve, o último deles estaria morto.
E estaria bem assim.
Mas pelo menos seu dever hoje estava quase terminado. Ele poderia voltar para sua choupana depois de limpar aquele porão. A culpa da tragédia no mosteiro seria atribuída a rebeldes maoístas. Quem mais a não ser os maoístas ateus atacariam um mosteiro sem importância estratégica?
Para garantir aquela fraude, até sua munição era igual à dos rebeldes.
Incluindo sua pistola.
Com a arma em punho, passou despercebidamente por uma fileira de barris de carvalho abertos. Grãos, centeio, farinha de trigo, até maçãs secas. Ele andava com cuidado, precavido contra qualquer emboscada. A mente dos monges podia estar deteriorada, mas mesmo os loucos podiam demonstrar astúcia quando encurralados.
Adiante, o corredor dobrava para a esquerda. Ele manteve-se encostado à parede direita e parou para ouvir, alerta a qualquer ruído de calcanhares arrastando-se. lirgueu os óculos de visão noturna.
Escuro como breu.
Colocou os óculos e o corredor estendeu-se à sua frente, pintado de verde. Ele veria quaisquer pessoas de tocaia muito antes de ser visto. Não havia como escapar. Teriam de passar por ele para alcançar a única saída segura.
Ele esgueirou-se pelo canto.
Um fardo baixo de feno estava atravessado na passagem, como se tivesse sido empurrado às pressas para o lado. Examinou o trecho do porão à frente. Mais barris. O teto era sustentado por caibros, dos quais pendiam feixes de ramos para secar.
Nenhum movimento. Nenhum som.
Ele estendeu uma perna sobre o monte de feno, que bloqueava a passagem, e passou para o outro lado.
Sob o calcanhar de sua bota, um frágil ramo de junípero estalou.
Seus olhos voltaram-se para baixo. O chão inteiro estava coberto com uma grande quantidade de ramos.
Uma armadilha.
- Agora!
Ele ergueu o olhar quando o mundo acima irrompeu num brilho estroboscópico ofuscante. Amplificadas pela sensibilidade dos óculos, as supernovas que explodiam queimavam a parte de trás de seu crânio, cegando-o.
Flashes de máquina fotográfica.
Ele abriu fogo instintivamente.
As explosões eram ensurdecedoras no porão estreito.
Eles devem ter ficado à espreita, no escuro, ouvindo até ele pisar no ramo que estalou, denunciando sua proximidade, e então o emboscaram. Ele deu um passo atrás, quase tropeçando no fardo de feno.
Ao recuar, disparou um tiro para o alto.
Um erro.
Aproveitando a oportunidade, alguém investiu contra ele. Baixo. Golpeou-o nas pernas e derrubou-o sobre o fardo de feno. Suas costas bateram com força no chão de pedra. Alguma coisa penetrou na carne de sua coxa. Ele ajoelhou-se, recebendo um grunhido do agressor em cima dele.
- Vá! - gritou Painter, pressionando a pistola contra ele. - Fuja! Seu agressor falava inglês. Não era um monge.
Uma segunda figura deu um pulo sobre o corpo dos dois, ainda indistinta enquanto sua visão começava a voltar. Ele ouviu os passos afastando-se em direção ao alçapão do celeiro.
- Scheiße - praguejou ele.
Ele virou o corpo de lado e derrubou o homem de cima dele como se fosse uma boneca de pano. Os Sonnenkönige não eram como os outros homens. Seu agressor bateu na parede e voltou, e tentou seguir atrás do outro fugitivo. Mas a visão voltou rapidamente, graças à luz que recuava. Furioso, ele segurou o tornozelo de seu agressor e o puxou para trás.
O homem deu um chute com o outro pé, acertando seu cotovelo.
Resmungando, ele enfiou o polegar num nervo sensível atrás do tendão de Aquiles. O homem soltou um grito. Ele sabia como aquele beliscão podia doer. Era como fraturar o tornozelo. Ele puxou o homem pela perna.
Quando ele se aprumou, o mundo transformou-se num rodopio estonteante. Toda sua força subitamente esvaiu-se como se ele fosse um balão estourado. A parte superior de sua coxa ardia. Na área em que fora esfaqueado. Ele olhou para baixo. Não esfaqueado. Uma seringa ainda pendia de sua coxa, o êmbolo empurrado até o fim.
Drogado.
Seu agressor girou e livrou-se de seu domínio, cada vez mais fraco, rolou e levantou-se com a ajuda das mãos.
Ele não podia deixar o homem escapar.
Ergueu a pistola - agora pesada como uma bigorna - e disparou atrás dele. O tiro ricocheteou no chão. Enfraquecendo rapidamente, disparou um segundo tiro, mas o homem já estava fora do alcance de sua visão.
Ele ouviu seu agressor fugir.
Com os membros pesados, caiu de joelhos. Seu coração mariolava em seu peito. Um coração com o dobro do tamanho médio. Mas normal para um Sonnenkönig. Ele respirou fundo várias vezes, à medida que seu metabolismo voltava ao normal. Os Sonnenkönige não eram como os outros homens. Ele ficou em pé devagar.
Ele tinha uma tarefa por terminar.
Era para isso que havia nascido.
Para servir.
Painter fechou o alçapão com um estrondo.
- Ajude-me com isto - disse ele, mancando para o lado. A dor subia em ferroadas pela sua perna. Ele apontou uma pilha de caixotes. - Empilhe-os em cima do alçapão.
Painter puxou o engradado no alto da pilha. Pesado demais para carregar, caiu no chão com o rangido de metal. Arrastou-o para o alçapão. Não sabia o que estava dentro dos caixotes, apenas que era pesado, terrivelmente pesado.
Empurrou-o para cima do alçapão.
Com grande esforço, Lisa moveu outro. Ele juntou-se a ela para pegar um terceiro. Juntos, eles carregaram a carga até o alçapão.
- Mais um - disse Painter.
Lisa olhou fixamente para a pilha de caixotes sobre o alçapão.
- Ninguém vai conseguir passar através disso.
- Mais um - insistiu Painter, ofegante e fazendo careta. - Confie em mim. Eles arrastaram o último, em conjunto. Foi necessário que ambos o erguessem sobre os outros já empilhados no alçapão.
- As drogas vão mantê-lo inconsciente por horas - disse Lisa.
Um único disparo foi a resposta que ela obteve. O projétil de um rifle perfurou a porta do alçapão com a pilha de caixotes e penetrou num dos caibros do celeiro.
- Eu acho que vou querer uma segunda opinião - disse Painter, afastando-a dali.
- Você injetou todo o midazolam... o sedativo nele?
- Claro que sim.
- Então como...?
- Não sei. E neste momento não me interessa.
Painter levou-a em direção à porta aberta do celeiro. Após esquadrinharem o terreno, a fim de ver se havia outros pistoleiros, saíram. À esquerda, o mundo era uma ruína flamejante e enfumaçada. Brasas turbilhonavam num céu ameaçador.
Nuvens da cor de granito obscureciam o cume acima.
- Taski tinha razão - murmurou Lisa, puxando para cima o capuz de sua parca.
- Quem?
- Um guia sherpa. Ele advertiu que hoje chegaria outra frente de tempestade.
Painter observou as chamas contorcerem-se em direção às nuvens. Densos flocos de neve começaram a precipitar, misturando-se com uma chuva negra de cinzas incandescentes. Fogo e gelo. Era uma cerimônia adequada em memória das dezenas de monges que haviam vivido naquele mosteiro.
Quando Painter se lembrou dos homens gentis que haviam feito do mosteiro seu lar, uma raiva sombria o atiçou. Quem chacinaria os monges com tamanha falta de misericórdia?
Ele não tinha resposta para o quem, mas sabia o porquê.
A doença ali.
Algo dera errado - e agora alguém procurava encobrir o ocorrido. Uma explosão interrompeu qualquer outra reflexão. Chamas e fumaça projetaram-se pela porta do celeiro. A tampa de uma das caixas voou no pátio. Painter segurou o braço de Lisa.
- Será que ele acabou de mandar a si mesmo pelos ares? - perguntou Lisa, olhando horrorizada na direção do celeiro.
- Não, apenas o alçapão. Vamos. O fogo só vai retardá-lo por pouco tempo. Painter seguiu na frente pelo terreno coberto com uma crosta de gelo, desviando das carcaças congeladas das cabras e ovelhas. Eles saíram pelo cercado dos animais.
A neve ficou mais densa. Uma bênção confusa. Painter usava apenas uma grossa túnica de lã e botas forradas com pele. Não era um isolante contra uma nevasca. Mas a atual queda de neve ajudaria a ocultar o rastro deles e a reduzir a visibilidade.
Ele seguiu na frente, em direção a uma trilha que corria ao longo de uma face íngreme do penhasco e seguia até a aldeia lá embaixo, que ele visitara alguns dias atrás.
- Veja! - exclamou Lisa.
Abaixo, uma coluna de fumaça revolvia-se no céu, uma versão menor da que se erguia atrás deles.
- A aldeia... - disse Painter, cerrando um punho.
Então não era apenas o mosteiro que estava sendo erradicado. A dispersão de cabanas abaixo também havia sido atacada com bombas incendiárias. Os agressores não deixaram testemunhas.
Painter afastou-se da trilha à beira do penhasco, pois ela ficava exposta demais. O caminho com certeza seria vigiado, e outros homens ainda poderiam estar lá embaixo. Ele voltou em direção às ruínas flamejantes do mosteiro.
- Para onde nós estamos indo? - perguntou Lisa.
Painter apontou para além das chamas.
- Para a terra de ninguém.
- Mas não é lá que...?
- Que as luzes foram vistas pela última vez - confirmou ele. - Mas devido ao terreno acidentado também desapareceremos de vista. Podemos encontrar abrigo para nos escondermos até a tempestade passar. Vamos esperar que outros venham investigar o incêndio e a fumaça.
Painter olhou para a grossa coluna negra. Ela devia ser visível a quilômetros de distância. Um sinal de fumaça, como seus ancestrais indígenas um dia usaram. Mas havia alguém para vê-lo? Seu olhar moveu-se para mais alto, para as nuvens. Ele tentou olhar através da camada de nuvens para o céu aberto além. E rezou para que alguém reconhecesse o perigo.
Até lá...
Ele tinha apenas uma opção.
- Vamos.
Washington, D.C.
Monk cruzou a escura praça do Capitólio com Kat a seu lado. Eles andavam a passos largos, menos de acordo do que irritados.
- Eu preferia que esperássemos - disse Kat. - É muito cedo. Qualquer coisa poderia acontecer.
Monk podia sentir o suave cheiro de jasmim que ela exalava. Eles haviam tomado uma ducha juntos, às pressas, após o telefonema de Logan Gregory, acariciando um ao outro no vapor, entrelaçados enquanto se enxaguavam, uma última intimidade. Porém, em seguida, enquanto se enxugavam e se vestiam separadamente, a praticidade começou a impor-se a cada zíper puxado ou a cada botão preso. A realidade manifestou-se, esfriando a paixão deles tanto quanto a friagem da noite.
Monk olhava fixamente para ela agora.
Kat usava calça azul-marinho, blusa branca e um casaco com o brasão da Marinha dos Estados Unidos. Como ela era sempre profissional, o emblema estava tão polido quanto seus escarpins de couro preto. Monk, por sua vez, usava um par de tênis Reebok preto, jeans escuro e um suéter bege-claro de gola rulê, arrematado por um boné de beisebol do Chicago Cubs.
- Até eu ter certeza - prosseguiu Kat -, prefiro que guardemos segredo sobre a gravidez.
- O que você quer dizer com até eu ter certeza? Até você ter certeza de que deseja ter o bebê? Até você ter certeza em relação a nós?
Eles estavam discutindo desde o apartamento de Kat, no canto do Logan Circle, um ex-hotel vitoriano que oferecia apenas leito e café-da-manhã e que fora convertido em apartamentos, a poucos minutos a pé do Capitólio. Naquela noite, a curta caminhada parecia interminável.
- Monk...
Ele parou, estendeu uma das mãos para ela e em seguida baixou-a. No entanto, ela também parou.
Ele a olhou diretamente nos olhos.
- Diga-me, Kat.
- Eu quero ter certeza de que a gravidez... eu não sei... vai correr bem. Até ela ter avançado um pouco mais antes de contar a qualquer pessoa.
Os olhos dela cintilavam à luz da lua, à beira das lágrimas.
- Querida, é por isso que deveríamos contar a todos. Ele aproximou-se e pôs uma das mãos na barriga dela. - Para proteger o que está crescendo aqui.
Ela virou-se, e a mão dele agora pousava na região lombar dela.
- E, além disso, talvez você tivesse razão. Minha carreira... quem sabe este não seja o momento certo.
Monk suspirou.
- Se todas as crianças nascessem apenas no momento certo, o mundo seria um lugar muito mais vazio.
- Monk, você não está sendo justo. Não se trata da sua carreira
- Como não? Você acha que um filho não vai alterar minha vida, minhas escolhas a partir de agora? Ele muda tudo.
- Exatamente. É isso o que mais me assusta. - Ela inclinou-se na palma da mão dele, e ele a envolveu em seus braços.
- Nós vamos superar isto juntos - sussurrou ele. - Eu prometo.
- Eu ainda prefiro guardar segredo... pelo menos por mais alguns dias. Eu ainda nem fui ao médico. Talvez o teste de gravidez esteja errado.
- Quantos testes você fez?
Ela inclinou-se de encontro a ele.
- Então?
- Cinco - sussurrou ela.
- Cinco? - perguntou ele, sem conseguir disfarçar o divertimento em sua voz.
Ela deu um leve soco nas costelas dele, mas doeu.
- Não tire sarro da minha cara - respondeu, e ele percebeu o sorriso na voz dela.
Ele a abraçou com mais força.
- Está bem. Será nosso segredo por enquanto.
Ela virou-se nos braços dele e o beijou, não vividamente, não de um jeito apaixonado, apenas em agradecimento. Eles separaram-se, mas seus dedos permaneceram entrelaçados enquanto continuavam a andar pela alameda.
Adiante, intensamente iluminado, estava o destino deles: o Castelo Smithsonian. Suas muralhas, torres e pináculos de arenito vermelho brilhavam na escuridão, um monumento histórico anacrônico na cidade quieta ao redor dele. Enquanto o edifício principal abrigava o centro de informações do Instituto Smithsonian, o velho e abandonado abrigo antiaéreo havia sido transformado no comando central da Sigma, encobrindo a força secreta de cientistas militares da DARPA no coração dos muitos museus e laboratórios de pesquisa do Instituto Smithsonian.
Os dedos de Kat deslizaram dos dele quando eles se aproximaram do terreno do castelo.
Monk observou-a, dominado por preocupação.
Apesar do acordo entre os dois, ele percebeu que ela permanecia insegura. Seria algo além do bebê?
Até eu ter certeza.
Certeza de quê?
A preocupação incomodou Monk até os escritórios subterrâneos do comando da Sigma. Porém, uma vez lá embaixo, o relato da missão por Logan Gregory, diretor interino da Sigma, acrescentou toda uma nova leva de preocupações.
- A tempestade ainda estende-se por toda a região, enfraquecendo os sinais de rádio, com tempestades elétricas que varrem toda a baía de Bengala - explicou Logan, sentado atrás de uma escrivaninha organizada. Uma fileira de monitores de cristal líquido revestia uma parede. Dados rolavam por dois deles, um dos quais mostrava imagens ao vivo de um satélite meteorológico sobre a Ásia.
Monk passou para Kat a foto de uma das varreduras do satélite.
- Espero que tenhamos mais notícias antes do nascer do sol - continuou Logan. - Ang Gelu partiu do Nepal de madrugada a fim de levar alguns médicos de helicóptero até o mosteiro. Eles estavam tentando voar durante uma pausa entre as tempestades. Ainda é cedo. Lá é apenas meio-dia agora. Por isso espero receber mais informações em breve.
Monk e Kat entreolharam-se. Eles haviam sido informados sobre a investigação do diretor. Havia três dias Painter Crowe estava incomunicável. Pelo ar abatido, Logan Gregory estivera acordado o tempo todo. Ele usava seu habitual terno azul, mas que estava um pouco amarrotado nos cotovelos e nos joelhos, praticamente desalinhado para o vice-diretor da Sigma. Seus cabelos louro-claros e seu físico bronzeado sempre lhe deram uma aparência jovem, porém, naquela noite, os sinais de seus quarenta e tantos anos transpareciam: olhos inchados, rosto pálido e duas rugas entre os olhos, tão fundas quanto o Grand Canyon.
- E o Gray? - perguntou Kat.
Logan pôs um arquivo em ordem com uma batida firme na escrivaninha, como se aquilo resolvesse o assunto anterior. Sempre eficiente, empurrou uma segunda pasta para a frente e a abriu.
- Atentaram contra a vida do comandante Pierce há uma hora.
- O quê? - Monk de súbito inclinou-se para a frente. - Então, o que há com todos os boletins meteorológicos?
- Calma. Ele está em segurança e aguardando apoio. - Logan comentou os pormenores dos acontecimentos em Copenhague, incluindo a sobrevivência de Gray. - Monk, providenciei para que você se junte ao comandante Pierce. Há um jato à sua espera no Aeroporto de Dulles, com decolagem prevista para daqui a uma hora e 32 minutos.
Monk tinha de dar crédito ao homem. Ele nem ao menos consultou o relógio.
- Capitã Bryant - prosseguiu Logan, virando-se para Kat -, neste ínterim, eu gostaria que a senhora ficasse aqui enquanto monitoramos a situação no Nepal. Tenho gente de plantão na nossa embaixada em Catmandu. Posso usar sua experiência em inteligência, no país e no exterior.
- É claro que sim, senhor.
Monk de repente ficou contente por Kat ter feito carreira na área de inteligência. Ela seria o braço direito de Logan durante aquela crise. Ele preferia que ela ficasse ali, em segurança embaixo do Castelo Smithsonian, a vê-la em ação. Seria menos uma preocupação.
Ele percebeu que Kat mantinha o olhar fixo nele. Os olhos dela endureceram de raiva, como se ela pudesse ler seus pensamentos. Ele manteve o rosto fixo e imóvel.
- Então vou deixar vocês dois se situarem - Logan disse e levantou-se. Manteve a porta de seu gabinete aberta, efetivamente dispensando-os.
Mal a porta se fechou atrás deles, Kat segurou com força o braço de Monk acima do cotovelo.
- Você vai para a Dinamarca?
- Sim, e daí?
- E quanto...? - Ela arrastou-o para o toalete feminino, vazio àquela hora tão avançada. - E quanto ao bebê?
- Eu não estou entendendo. O que...?
- E se acontecer alguma coisa com você?
Ele piscou para ela.
- Não vai me acontecer nada.
Ela ergueu o outro braço dele, expondo sua mão artificial.
- Você não é indestrutível.
Ele baixou o braço, meio que escondendo a prótese atrás de si. Seu rosto enrubesceu.
Trata-se de uma operação insignificante. Vou dar apoio ao Gray enquanto ele termina o trabalho por lá. Quer dizer, até mesmo a Rachel irá a Copenhague. É bem provável que eu seja a vela deles. Em seguida pegaremos o primeiro vôo de volta.
- Se a operação é tão insignificante, deixe outra pessoa ir. Posso dizer ao Logan que preciso da sua ajuda aqui.
- Como se ele fosse acreditar nisso.
- Monk...
- Eu vou, Kat. Você é quem quer manter a gravidez em segredo. Eu quero gritá-la para o mundo. De qualquer modo, nós temos nossos deveres. Você tem os seus, eu tenho os meus. E, confie em mim, eu não serei imprudente. - Ele pôs uma das mãos na barriga dela. - Vou proteger o meu traseiro por nós três.
Ela cobriu a mão dele com a sua e suspirou.
- Bem, é um belo traseiro.
Ele sorriu, e ela retribuiu o sorriso, mas ele também viu a exaustão e a preocupação nos olhos dela. Ele só tinha uma resposta para aquilo. Inclinou-se, os lábios tocando os dela, e sussurrou:
- Eu prometo.
- Promete o quê? - perguntou ela, afastando-se ligeiramente.
- Tudo - ele respondeu e beijou-a com avidez.
Ele falava sério.
- Você pode contar ao Gray - ela disse quando eles afinal se soltaram dos braços um do outro. - Desde que você o faça jurar segredo.
- É mesmo? - Os olhos dele iluminaram-se, depois estreitaram-se em suspeita. - Por quê?
Ela passou por trás dele em direção ao espelho, mas não sem antes dar um tapa em suas nádegas.
- Eu quero que ele também cuide do seu traseiro.
- Tudo bem. Mas eu acho que essa não é a dele.
Ela sacudiu a cabeça e olhou o próprio rosto no espelho.
- O que é que eu vou fazer com você?
Ele aproximou-se de Kat por trás e a abraçou pela cintura.
- Bem, de acordo com o sr. Gregory, eu tenho uma hora e 32 minutos.
Himalaia
Lisa andava com dificuldade atrás de Painter.
Com a habilidade de uma cabra montesa, ele seguia na frente por um declive íngreme, coberto de cascalho e perigoso por causa do xisto congelado. A neve caía em flocos espessos sobre eles, uma nuvem que se movia rapidamente e se espalhava num turbilhão denso reduzia a visibilidade a poucos metros, criando uma luz fraca, estranha e cinzenta. Mas pelo menos eles estavam livres das piores rajadas de vento gelado. O desfiladeiro profundo que haviam descido ficava na direção contrária à do vento.
No entanto, não havia como fugir ao frio glacial à medida que a temperatura caía. Mesmo em sua parca e luvas para tempestade, ela tremia. Embora estivessem viajando há menos de uma hora, o calor do mosteiro em chamas era uma lembrança distante. Os centímetros de pele exposta no rosto dela estavam queimados pelo vento e esfolados.
Painter devia estar em pior situação. Ele vestira uma calça grossa e luvas de lã, tiradas de um dos monges mortos. Mas não tinha um capuz de isolamento, apenas um cachecol amarrado na parte inferior do rosto. Sua respiração ofegante soltava pequenas nuvens brancas no ar gelado.
Eles precisavam encontrar abrigo.
E logo.
Painter estendeu a mão para ela quando ela deslizou sentada por um trecho particularmente inclinado, ficando ao lado dele. Eles haviam chegado ao fundo do desfiladeiro, que dobrava num ângulo, emoldurado por paredes íngremes.
O acúmulo de neve recente já chegava a trinta centímetros ali embaixo.
Seria difícil caminhar sem raquetes de neve.
Como que adivinhando a preocupação dela, Painter apontou para um lado da passagem estreita. Uma saliência projetava-se da rocha, oferecendo proteção contra o tempo. Eles seguiram para lá, arrastando-se pelo monte de neve armazenado pelo vento.
Assim que chegaram à saliência rochosa, a situação ficou mais fácil.
Ela olhou para trás. Os passos deles já estavam sendo preenchidos pela neve caindo. Dentro de minutos, teriam desaparecido. Embora isso com certeza ajudasse a ocultar o rastro deles de quaisquer pessoas que estivessem no seu encalço, a circunstância ainda a enervava. Era como se a própria existência deles estivesse sendo apagada.
Ela virou-se para ele.
- Você tem alguma idéia de aonde estamos indo? - perguntou.
Ela se deu conta de que estava sussurrando - não tanto por medo de denunciar a posição deles, mas intimidada pelo silêncio envolvente da tempestade.
- Muito pouca - respondeu Painter. - Estas terras fronteiriças são território não mapeado. Grande parte dele jamais foi pisada pelo homem. - Ele moveu um braço. - Quando cheguei aqui pela primeira vez, examinei algumas fotos de levantamento topográfico por satélite. Mas elas não têm muito uso prático. O terreno é muito acidentado, o que torna difíceis os levantamentos.
Eles deram mais alguns passos em silêncio. Então Painter olhou para ela.
- Você sabia que em 1999 descobriram Xangrilá aqui em cima?
Lisa observou-o atentamente. Ela não podia dizer se ele estava sorrindo atrás do cachecol, tentando atenuar o medo dela.
- Xangrilá... de Horizonte perdido?
Ela se lembrava do filme e do livro. Um paraíso utópico, perdido e congelado no tempo no Himalaia.
Dando a volta, ele continuou a arrastar-se pela neve e explicou.
- Dois exploradores da National Geographic descobriram um desfiladeiro profundíssimo no Himalaia, a algumas centenas de quilômetros ao sul daqui, oculto sob o contraforte de uma montanha, um lugar que não aparecia nos mapas dos satélites. No fundo do desfiladeiro estava um paraíso subtropical. Cascatas, abetos e pinheiros, campinas repletas de arbustos, córregos margeados por cicutas e abetos-vermelhos. Uma paisagem semelhante a um jardim selvagem, cheia de vida, cercada por todos os lados por gelo e neve.
- Xangrilá?
Ele deu de ombros.
- Isso simplesmente nos mostra que a ciência e os satélites nem sempre revelam o que o mundo quer esconder.
Àquela altura, ele estava batendo os dentes. Até mesmo a conversa disperdiçava fôlego e calor. Eles precisavam encontrar seu próprio Xangrilá.
Continuaram em silêncio. A neve caía em flocos cada vez mais densos.
Dez minutos depois, a passagem fazia uma curva numa subida estreita em ziguezague. Ao alcançá-la, a saliência protetora desapareceu.
Eles pararam e olharam fixamente, entrando em desespero.
O desfiladeiro diminuía abruptamente a partir dali, alargando-se, abrindo-se. Um véu de neve caía à frente deles, enchendo o mundo. Através de rajadas de vento ocasionais, apareciam vislumbres trêmulos de um vale profundo.
Não era Xangrilá.
Adiante estendia-se uma série de penhascos irregulares cobertos de gelo e varridos pela neve, íngremes demais para transpor sem cordas. Um córrego precipitava-se através da paisagem escarpada numa série de cascatas altíssimas - o curso congelado em puro gelo, aprisionado no tempo.
Além, coberto pelo nevoeiro causado por cristais de gelo e pela neve, havia um desfiladeiro profundíssimo que, de onde eles estavam, parecia não ter fundo. O fim do mundo.
- Nós vamos encontrar um jeito de descer - disse Painter batendo os dentes. Ele voltou a enfrentar a tempestade. A neve rapidamente utrapassou os tornozelos deles, depois chegou à metade das panturrilhas. Painter abria uma trilha para ela.
- Espere - disse ela, sabendo que ele não conseguiria agüentar-se por muito mais tempo. Ele a trouxera até ali, mas eles não estavam equipados para ir além. - Por aqui.
Ela o conduziu até a parede do penhasco. O lado situado na direção para onde sopra o vento oferecia um pouco de abrigo.
- Para onde...? - ele tentou perguntar, mas o chacoalhar de seus dentes interrompeu as palavras.
Ela apenas apontou para o riacho congelado, que se precipitava além do penhasco acima. Taski Sherpa lhes havia ensinado técnicas de sobrevivência ali em cima. Uma de suas lições mais rígidas era encontrar abrigo.
Ela sabia de cor os cinco melhores lugares para procurar.
Lisa foi até onde a cascata de gelo atingia o nível em que eles estavam. Conforme fora instruída, procurou o local onde a rocha negra se encontrava com o gelo branco-azulado. De acordo com o guia, o derretimento da neve no verão transformava as cascatas do Himalaia em torrentes violentas, capazes de talhar uma profunda cavidade na rocha. E, no fim do verão, o fluxo de água diminuía e congelava, deixando com freqüência um espaço vazio atrás de si.
Com alívio, ela percebeu que aquela cascata não era exceção.
Ela dirigiu uma prece de agradecimento a Taski e a todos os seus ancestrais.
Com o cotovelo, quebrou uma crosta de gelo e alargou uma brecha negra entre o gelo e a parede. Uma pequena caverna abriu-se do outro lado. Painter juntou-se a ela.
- Deixe-me certificar se é seguro.
Ele virou-se de lado e, espremido, entrou na caverna e desapareceu. Um momento mais tarde, uma luz fraca brilhou, iluminando a cascata. Lisa olhou através da fenda.
Painter estava em pé a alguns passos de distância, com a lanterna na mão. Ele vasculhou o pequeno nicho com seu feixe de luz.
- Parece seguro. Poderíamos ficar algum tempo aqui dentro, esperando a tempestade passar.
Lisa entrou pela brecha a fim de juntar-se a ele. Protegido do vento e da neve, o lugar já parecia mais quente.
Painter desligou a lanterna. Uma fonte de luz não era de fato necessária. A parede de gelo parecia capturar toda a luz diurna que a tempestade deixava penetrar e a amplificava. A cascata congelada cintilava, resplandecia.
Painter virou-se para ela, os olhos excepcionalmente azuis, que combinavam com o brilho intenso do gelo. Ela examinou o rosto dele à procura de sinais de ulceração causada pelo frio. A abrasão do vento havia deixado sua pele com um tom vermelho vivo. Ela reconheceu a herança indígena dele nos traços de seu rosto, admirável com seus olhos azuis.
- Obrigado - disse Painter. - Talvez você tenha acabado de salvar nossas vidas.
Ela deu de ombros, desviando o olhar.
- Eu lhe devia o favor.
No entanto, apesar das palavras desdenhosas, uma parte dela enterneceu-se com a gratidão dele - mais do que ela teria esperado.
- Como você sabia o modo de encontrar...? - As últimas palavras de Painter deram lugar a um forte espirro. - Ui!
Lisa tirou sua mochila do ombro.
- Chega de perguntas. Nós dois precisamos nos aquecer.
Ela abriu a mochila com o material médico e tirou um cobertor isolante. Apesar de sua finura enganadora, o tecido retinha 90 por cento do calor emitido pelo corpo. E ela não estava contando apenas com o calor do corpo.
Tirou da mochila um aquecedor catalítico compacto, aparelho fundamental no alpinismo.
- Sente-se - ordenou ela a Painter, estendendo o cobertor sobre a rocha fria. Exausto, ele não protestou.
Ela sentou-se ao lado dele e puxou o cobertor sobre ambos, formando um casulo. Aninhada ali dentro, apertou a ignição automática do aquecedor. O aparelho sem chamas era alimentado por um pequeno cilindro de butano que durava 14 horas. Usando-o com moderação e de maneira intermitente, junto com o cobertor isolante, eles seriam capazes de resistir por dois ou três dias.
Painter tremia ao lado dela enquanto o aparelho aquecia o ambiente.
- Tire suas luvas e botas - disse ela, fazendo o mesmo. - Aqueça as mãos acima do aquecedor e massageie os dedos dos pés e das mãos, o nariz e as orelhas.
- Con... contra ulceração pro... produzida pelo fri... frio...
Ela fez um aceno de cabeça afirmativo.
- Amontoe o máximo de roupa entre seu corpo e a rocha, para restringir a perda de calor pela condução.
Eles despiram-se e revestiram seu ninho com penas de ganso e lã. Pouco tempo depois o espaço parecia quase agradável.
- Tenho algumas barrinhas energéticas - disse ela. - Para obtermos água, podemos derreter neve.
- Uma mulher acostumada a sobreviver em regiões remotas - disse Painter com um pouco mais de firmeza, o otimismo voltando à medida que eles se aqueciam.
- Mas nada disto deterá uma bala - retrucou ela, olhando para ele, um nariz quase tocando o outro sob o cobertor.
Painter suspirou e acenou com a cabeça. Eles estavam protegidos do frio, mas não do perigo. A tempestade, antes uma ameaça, oferecia certa proteção. Mas, e depois? Eles não tinham nenhum meio de comunicação, nenhuma arma.
- Ficaremos escondidos - disse Painter. - Quem quer que tenha atacado o mosteiro com bombas incendiárias não conseguirá nos seguir. Equipes de busca virão verificar o que aconteceu quando a tempestade passar. Espero que em helicópteros de resgate. Podemos emitir sinais para eles com aquele sinalizador luminoso que eu vi na sua mochila de emergência.
- E simplesmente esperar que os resgatadores nos alcancem antes dos outros. Ele estendeu a mão e apertou o joelho dela. Ela gostou do fato de ele não ter dito falsas palavras de encorajamento. Nada de subestimar a situação deles com palavras doces. A mão dela encontrou a dele e a segurou com força. Era encorajamento suficiente.
Eles permaneceram calados, perdidos em seus pensamentos.
- Quem você acha que eles são? - ela afinal perguntou suavemente.
- Não sei. Mas eu ouvi o homem praguejar quando investi contra ele. Em alemão. Tive a impressão de que havia atingido um tanque.
- Em alemão? Você tem certeza?
- Eu não tenho certeza de nada. Provavelmente era um mercenário contratado. Era óbvio que ele tinha algum treinamento militar.
- Espere - disse Lisa, inclinando-se para a mochila. - Minha câmera.
Painter sentou-se mais ereto, desprendendo uma aba do cobertor. Ele o enfiou embaixo de seu corpo para fechar a lacuna.
- Você acha que tem uma foto dele?
- A fim de que o flash estroboscópico funcionasse, ajustei a câmera para fotografar continuamente. Nesse modo, a câmera digital SRL captura cinco cenas por segundo. Eu não tenho a menor idéia do que foi registrado.
Ela virou-se e ligou a câmera.
Ombro a ombro, eles olharam fixamente para a minúscula tela de cristal líquido. Lisa exibiu as últimas fotos. A maioria estava desfocada, porém, à medida que ela avançava rapidamente pela série de fotos, era como assistir a uma reprise em câmera lenta da fuga deles: a reação de surpresa do assassino, seu braço erguido quando ele instintivamente tentou proteger os olhos, os disparos dele quando ela se abaixou depressa atrás do barril, o choque de Painter contra ele.
Algumas fotos haviam capturado fragmentos do rosto do homem. Juntando as peças do quebra-cabeça, eles obtiveram uma fotomontagem rudimentar: cabelos branco-alourados, rosto animalesco, mandíbula proeminente. A última foto da série devia ter sido tirada quando ela pulou por cima de Painter e do assassino. Ela capturou um close-up dos olhos dele, seus óculos de visão noturna caídos sobre uma orelha. A raiva ardia, uma brutalidade acentuada pelas pupilas vermelhas devido ao flash da câmera.
Lisa lembrou-se de Relu Na, o parente distante de Ang Gelu que os atacara com uma foice. Os olhos do monge enlouquecido haviam brilhado do mesmo jeito. Um frio que não tinha nada a ver com o clima percorreu sua pele nua.
Ela também notou outra característica em relação aos olhos do homem.
Eles não combinavam.
Um olho refletia um azul ártico brilhante.
O outro era branco sem vida.
Talvez fosse apenas um esmaecimento causado pelo flash...
Lisa pressionou a seta para retroceder e rever as fotos desde o começo. Ela excedeu-se e exibiu a última foto armazenada na câmera antes da série no porão de armazenagem de ervas. Era a foto de uma parede, cheia de rabiscos feitos com sangue. Ela esquecera-se de que a havia tirado.
- O que é isso? - perguntou Painter.
Ela já havia contado a ele a triste história do líder do mosteiro, Lama Khemsar.
- Isso é o que o velho monge estava escrevendo na parede. Parece a mesma série de símbolos, desenhados repetidamente.
Painter inclinou-se para mais perto.
- Você pode dar um zoom nela?
Ela o fez, embora perdesse boa parte da resolução e da clareza.
Painter franziu a testa.
- Isto não é nem tibetano nem nepalês. Veja como a escrita é angular. Isto se parece mais com runas nórdicas ou algo desse tipo.
- Você acha?
- Talvez. - Painter recostou-se com um gemido cansado. - De qualquer modo, isso faz você se perguntar se Lama Khemsar sabia mais do que fazia crer.
Lisa lembrou-se de algo que esquecera de contar a Painter.
- Depois que o velho monge cortou a garganta, encontramos um símbolo gravado em seu tórax. Eu o ignorei por considerá-lo apenas tolice e coincidência. Mas agora não tenho tanta certeza.
- Como era o símbolo? Você pode desenhá-lo?
Não preciso desenhá-lo: era uma suástica.
As sobrancelhas de Painter ergueram-se.
Uma suástica?
- Acho que sim. Será que ele estava voltando ao passado, expressando em ações algo que o assustava?
Lisa contou a história do parente de Ang Gelu. Como Relu Na havia fugido dos rebeldes maoístas, traumatizado pela crescente brutalidade deles quando pegaram foices para decepar os membros de agricultores inocentes. Então Relu Na fez o mesmo quando a doença destruiu sua sanidade, expressou em ações um trauma não superado.
Painter franziu o cenho quando ela terminou.
- Lama Khemsar tinha mais ou menos 75 anos, o que significa que estava no início ou no meio da adolescência durante a Segunda Guerra Mundial. Então é possível. Os nazistas tinham enviado expedições de pesquisa ao Himalaia.
- Aqui? Por quê?
Painter deu de ombros.
- Segundo consta, Heinrich Himmler, o chefe da SS, tinha fixação pelo oculto. Ele estudou antigos textos védicos da Índia que remontavam a milhares de anos. O filho-da-puta acabou acreditando que estas montanhas foram o berço da raça ariana original. E enviou expedições à procura de provas. É claro que o cara era doido de pedra.
Lisa sorriu para ele.
- No entanto, pode ser que, contratado como guia ou função parecida, o velho lama tenha se desentendido com os membros de uma daquelas primeiras expedições.
- Pode ser. Mas nós jamais saberemos. Quaisquer que fossem os segredos, morreram com ele.
- Talvez não. Talvez fosse isso que ele estava tentando fazer lá em cima, em seus aposentos. Libertando-se de algo horrível. Seu subconsciente tentando absolver a si mesmo ao revelar o que ele, Lama Khemsar, sabia.
- São muitas probabilidades. - Painter esfregou a testa, estremecendo. - E eu tenho mais uma: talvez fosse apenas linguagem inarticulada.
Lisa não tinha um contra-argumento. Ela suspirou, cansando-se rapidamente à medida que a adrenalina da fuga deles diminuía.
- Você está bastante aquecido?
- Sim, obrigado.
Ela desligou o aquecedor.
- Precisamos economizar o butano.
Ele concordou com um aceno de cabeça, e em seguida não conseguiu evitar um bocejo que fez sua mandíbula estalar.
- Deveríamos tentar dormir um pouco - disse ela. - Fazer rodízio.
Horas mais tarde, Painter despertou sobressaltado com alguém sacudindo seu ombro. Ele sentou-se onde estivera encostado à parede. Estava escuro lá fora. A parede de gelo diante dele estava tão negra quanto a rocha.
Pelo menos, parecia que a tempestade havia amainado.
- O que está acontecendo? - Indagou ele.
Lisa havia baixado uma parte do cobertor deles.
Ela apontou e sussurrou:
- Espere.
Ele chegou para mais perto dela, repelindo qualquer vestígio de sono, e esperou meio minuto. Nada ainda. A tempestade claramente tinha diminuído. O uivo do vento cessara. Além da caverna deles, um silêncio cristalino de inverno havia caído sobre o vale e os penhascos. Ele se esforçou para ouvir algo suspeito.
Alguma coisa havia sem dúvida assombrado Lisa.
Ele percebeu o medo insuportável que praticamente vibrava do corpo tenso dela.
- Lisa, o que...?
De repente, a parede de gelo tremeluziu com um brilho intenso, como se fogos de artifício houvessem sido acesos no céu lá fora. Não se ouvia barulho. A radiância cintilante caiu como cascata ao longo das quedas-d’água e extinguiu-se. Em seguida o gelo voltou a escurecer.
- As luzes-fantasma... - sussurrou Lisa e virou-se para ele.
Painter retrocedeu a três noites atrás, quando tudo aquilo havia começado. A doença na aldeia, a loucura no mosteiro. Ele se lembrou da afirmação anterior de Lisa. A proximidade das estranhas luzes era diretamente proporcional à gravidade dos sintomas.
E agora eles estavam no coração do terreno acidentado.
Mais perto do que nunca.
Enquanto Painter observava, a cascata congelada fulgurou de novo, com uma luminosidade cintilante e fatal. As luzes-fantasma estavam de volta.
Copenhague, Dinamarca
Será que nada jamais começa na hora na Europa?
Gray consultou seu relógio de pulso.
O início do leilão fora marcado para as cinco horas.
Trens e ônibus podiam ser eficientes o bastante para que você acertasse o seu relógio ali, porém, quando se tratava de eventos com hora marcada, ninguém tinha certeza. Já passava das seis. No último consenso havia sido decidido que o início do leilão deveria ser por volta de seis e meia, devido ao atraso de alguns vôos, porque uma tempestade na costa do mar do Norte estava causando prejuízo ao tráfego aéreo com destino a Copenhague.
As pessoas que participariam do leilão ainda estavam chegando lá embaixo.
Enquanto o sol declinava no horizonte, Gray posicionou-se numa sacada no segundo andar do hotel Scandic Webers. Ele ficava em frente, no outro lado da rua, da Casa de Leilões Ergenschein, um moderno edifício de quatro andares que mais parecia uma galeria de arte do que uma casa de leilões, com seu moderno estilo minimalista dinamarquês, todo de vidro e madeira descorada. O leilão seria realizado no porão do edifício.
E tomara que em breve.
Gray bocejou e espreguiçou-se.
Mais cedo, ele passara no hotel onde antes estivera hospedado, próximo à Nyhavn, recolhera rapidamente seu equipamento de vigilância e pagara a conta. Com um novo nome e um novo MasterCard, hospedara-se naquele hotel, que oferecia uma vista panorâmica da praça da Prefeitura de Copenhague, e da sacada privada Gray podia ouvir o riso abafado e a música distantes de um dos parques de diversões mais antigos do mundo, o Tivoli.
Seu laptop estava aberto ao lado de um cachorro-quente que ele comera pela metade, comprado de um vendedor ambulante. Sua única refeição do dia. Apesar dos boatos, a vida de um agente secreto não era feita em absoluto de cassinos em Monte Carlo e restaurantes finos. No entanto, o cachorro-quente era ótimo, embora tivesse custado quase cinco dólares americanos.
A imagem na tela do laptop tremia à medida que a câmera sensível ao movimento batia uma rápida série de fotos. Ele já havia fotografado duas dúzias de participantes: banqueiros soberbos, escória européia descartável, três cavalheiros de pescoço grosso usando ternos lustrosos e com a palavra "mafioso" estampada na testa, uma mulher gorducha em trajes professorais e um quarteto de novos-ricos de terno branco e bonés de marinheiro idênticos que combinavam com a roupa. Claro que estes últimos falavam inglês americano. E em voz alta.
Ele sacudiu a cabeça.
Não era possível que ainda houvesse muita gente a chegar.
Uma longa limusine preta parou em frente à casa de leilões e duas figuras desembarcaram. Eram altas e magras, e trajavam ternos Armani pretos combinando. O dele e o dela. Ele usava uma gravata azul-esverdeado clara, e ela, uma blusa de seda com uma tonalidade parecida com a da gravata dele. Ambos eram jovens, tinham no máximo 25 anos. Mas se portavam como se fossem muito mais velhos. Talvez fossem os cabelos brancos descoloridos, penteados de maneira quase idêntica, curtos, grudados ao couro cabeludo, parecendo um casal de estrelas do cinema mudo da década de 1920. Seu modos conferiam-lhes uma graça imutável. Não sorriam, porém não eram frios. Mesmo nos instantâneos, havia em seus olhos um divertimento amigável.
O porteiro manteve a porta aberta para eles.
Cada um deles agradeceu com um aceno de cabeça - mais uma vez, sem calor excessivo, porém reconhecendo o gesto do homem. Eles desapareceram no interior do edifício. O porteiro virou uma tabuleta e seguiu atrás deles. Sem dúvida, aquele casal era o último, e talvez o próprio motivo por que o leilão havia atrasado até então.
Quem eram eles?
Ele deixou a curiosidade de lado. Havia recebido ordens de Logan Gregory.
Reviu as fotos a fim de se assegurar de que tinha imagens nítidas de cada participante. Satisfeito, copiou o arquivo num pen drive e o guardou num dos bolsos. Agora tudo o que tinha a fazer era esperar o fim do leilão. Logan dera um jeito de obter uma lista com os itens à venda e os nomes de arrematantes bem-sucedidos. Certamente, alguns eram pseudônimos, mas a informação seria partilhada com a força-tarefa americana contra o terrorismo e, no devido tempo, com a Europol e a Interpol. O que quer que realmente estivesse em curso ali, talvez Gray jamais viesse a saber.
Como, por exemplo, por que ele fora atacado? Por que Grette Neal fora morta?
Gray forçou seu punho a relaxar. Levara a tarde toda, mas, agora mais calmo, acabara aceitando as restrições que Logan lhe impusera. Ele não tinha a menor idéia do que de fato estava acontecendo ali, e agir às cegas, de maneira irrefletida, só faria com que outras pessoas fossem mortas.
Todavia, uma enorme sensação de culpa fazia doer a base de sua coluna vertebral, tornando difícil ficar sentado, imóvel. Ele passara a maior parte da tarde andando de um lado para outro em seu quarto de hotel. Os últimos dias haviam repassado em sua mente repetidas vezes.
Se ele tivesse sido mais cuidadoso no começo... tomado mais precauções...
O telefone celular de Gray vibrou em seu bolso. Ele o pegou e verificou o número no visor. Graças a Deus. Ele abriu o aparelho, levantou-se e foi até o balaústre da sacada.
- Rachel... Estou contente por você ter retornado a minha ligação.
- Recebi sua mensagem. Você está bem?
Ele percebeu tanto a preocupação pessoal quanto o interesse profissional num relato mais minucioso. Ele deixara apenas uma breve mensagem no celular dela, avisando-a de que o encontro deles teria de ser adiado. Ele não havia entrado em detalhes. Apesar do relacionamento deles, havia questões de autorização envolvidas.
- Eu estou bem. Monk está vindo para cá. Ele chegará aqui um pouco depois da meia-noite.
- Acabei de chegar a Frankfurt - disse Rachel. - Estou fazendo escala para o vôo para Copenhague. Verifiquei minhas mensagens após aterrissarmos aqui.
- Mais uma vez, sinto muito...
- Quer dizer que eu devo voltar para casa?
Ele receava envolvê-la de alguma maneira.
- Seria melhor. Nós teremos de remarcar nosso encontro. Se a situação se acalmar aqui, talvez eu possa fazer uma curta viagem a Roma e visitar você lá antes de voltar para os Estados Unidos.
- Eu gostaria disso.
Ele percebeu a decepção na voz dela.
- Eu vou lhe recompensar - disse ele, esperando que fosse uma promessa que pudesse cumprir.
Ela suspirou, não de irritação, mas de compreensão. Eles não eram ingênuos acerca de seu relacionamento a longa distância. Dois continentes, duas carreiras. Mas eles estavam dispostos a investir nele... para ver aonde ele conduziria.
- Eu esperava que tivéssemos uma chance de conversar - disse Rachel.
Ele sabia o que ela queria dizer, interpretando o significado mais profundo por trás das palavras dela. Eles haviam passado por muita coisa juntos, testemunhado o que cada um tinha de bom e de mau, e apesar da dificuldade de um romance a distância, nenhum dos dois estava disposto a desistir. Na verdade, ambos sabiam que era hora de discutir o próximo passo.
De encurtar aquela distância.
Provavelmente, era um dos motivos por que eles haviam ficado tanto tempo longe um do outro desde o último encontro. Um certo reconhecimento tácito de que ambos precisavam de tempo para pensar. Agora era hora de pôr as cartas na mesa.
De seguir ou não em frente.
Mas será que ele tinha uma resposta? Ele amava Rachel. Estava disposto a viver com ela. Eles haviam até conversado sobre filhos. No entanto... algo o perturbava. Fazia-o quase se sentir aliviado de que o encontro deles ali tivesse sido adiado. Não era algo comum, como insegurança. Então, o que era?
Talvez fosse melhor eles conversarem.
- Eu irei a Roma - disse ele. - Eu prometo.
- Vou obrigar você a cumprir essa promessa. Eu vou até mesmo deixar um pouco do vermicelli alla panna do tio Vigor esquentando no forno. - Ele sentiu menos tensão na voz dela. - Estou com saudades de você, Gray. Nós...
As próximas palavras dela foram interrompidas pelo som estridente da buzina de um automóvel.
Gray olhou para a rua. Lá embaixo, uma figura atravessou correndo duas pistas, indiferente ao trânsito. Uma mulher de jaqueta de caxemira e vestido até os tornozelos, os cabelos presos num coque. Gray quase não a reconheceu. Não até ela fazer um sinal obsceno com o dedo médio para o motorista que havia buzinado.
Fiona.
Que diabo a garota estava fazendo ali?
- Gray...? - disse Rachel em seu ouvido.
- Sinto muito, Rachel... Tenho de correr - ele falou às pressas. Ele desligou e pôs o telefone celular no bolso.
Lá embaixo, Fiona correu até a casa de leilões e entrou. Gray voou para o seu laptop. Sua câmera capturou a imagem da garota através da entrada envidraçada. Ela estava discutindo com o porteiro. Por fim, o homem uniformizado checou um papel que ela empurrou em suas mãos, franziu a testa e acenou para que ela seguisse em frente.
Fiona passou por ele de maneira indelicada e desapareceu. A câmera escureceu.
Gray olhou para o laptop e para a rua.
Droga...
Logan não ficaria contente. Nada de ações precipitadas. No entanto, o que Painter Crowe faria?
Gray voltou para o quarto e tirou suas roupas simples. O paletó de seu terno estava em cima da cama. Pronto, em caso de emergência.
Painter com certeza não ficaria sentado calmamente, sem fazer nada.
Himalaia
- Nós temos de permanecer calmos - disse Painter. - Agüentar firme.
Diante deles, as luzes-fantasma continuavam a brilhar e a desvanecer-se, sombrias e silenciosas, incandescendo a cascata de gelo com um brilho ofuscante e depois extinguindo-se. Na escuridão resultante, a caverna parecia mais fria e mais negra.
Lisa aproximou-se dele. Sua mão encontrou a dele e, comprimindo-a, fez refluir quase todo o sangue de sua palma.
- Não é de admirar que eles não tenham se dado o trabalho de nos seguir - sussurrou ela, ofegante de medo. - Por que eles nos perseguiriam através desta tempestade, quando tudo o que têm a fazer é acender de novo aquelas malditas luzes e nos contaminar com a radiação? Nós não podemos nos esconder disso.
Painter se deu conta de que ela estava certa. Enlouquecidos, eles não teriam como se defender. Em tal estado irracional, a paisagem perigosa e o frio glacial sem dúvida os matariam tanto quanto a bala de qualquer atirador de tocaia.
Mas ele recusava-se a perder a esperança.
Levava horas para que a loucura se apoderasse das pessoas. Ele não desperdiçaria esse período. Se eles pudessem obter ajuda a tempo, talvez houvesse um modo de reverter o efeito.
- Nós vamos superar isto - disse ele, pouco convincente.
Isso apenas a irritou.
- Como?
Ela virou-se para ele quando as luzes voltaram a brilhar, fazendo a caverna cintilar com um reflexo como o do diamante. Os olhos de Lisa brilhavam com menos terror do que ele havia imaginado. Ela estava amedrontada - e com razão -, porém refletia uma luz forte, assim como o diamante.
- Não fale comigo de modo superior - disse Lisa, afastando sua mão da dele. - Isso é tudo o que eu peço.
Painter concordou com um aceno de cabeça.
- Se eles confiam que a radiação ou seja lá o que for vai nos matar, talvez não estejam vigiando as montanhas tão bem assim. Quando a tempestade passar, nós podemos...
Um ruído de tiros irrompeu, destruindo a quietude do inverno.
Os olhos de Painter encontraram os de Lisa.
Parecia perto.
Para provar isso, uma rajada de balas estilhaçou a parede de gelo. Painter e Lisa recuaram, deixando cair o cobertor. Refugiaram-se nos fundos da pequena caverna. Não havia como escapar.
Naquele momento, Painter notou outra coisa.
A luz-fantasma não se desvaneceu como antes. A cascata congelada permaneceu incandescente com seu brilho intenso. A luz manteve-se firme, encurralando-os.
Um megafone ressoou.
- Painter Crowe! Nós sabemos que o senhor e a mulher estão escondidos aí! - A voz que ordenava tinha um timbre feminino, além de sotaque. - Saiam! Com as mãos para cima!
Painter segurou os ombros de Lisa, pressionando-os a fim de tranqüilizá-la o máximo possível.
- Fique aqui.
Ele apontou para as roupas que haviam tirado, fazendo um gesto para que Lisa se vestisse. Calçou as botas e, em seguida, aproximou-se devagar da fenda no gelo e pôs a cabeça para fora.
Como era comum nas regiões montanhosas, a tempestade havia cessado tão rápido quanto havia começado. Estrelas brilhavam no céu negro. A Via Láctea descrevia um arco sobre o vale hibernal, demarcado por neve e gelo, salpicado com as brumas de um nevoeiro formado por cristais de gelo.
Ali próximo, um holofote penetrou a noite, seu feixe de luz centrado na cascata congelada. A cerca de cinqüenta metros de distância, num penhasco mais baixo, uma figura indistinta, que operava o holofote, pilotava um snowmobile. Tratava-se apenas de uma lâmpada comum, possivelmente xenônio, devido à sua intensidade e à sua cor azulada.
Não era nenhuma luz-fantasma misteriosa.
Painter sentiu uma onda de alívio. Fora aquela a luz o tempo todo, assinalando a aproximação dos veículos? Painter contou cinco deles. Também contou as várias figuras de parcas brancas, espalhadas pelo nível inferior e em cada lado do penhasco. Todas portavam rifles.
Sem nenhuma outra opção - e, além disso, terrivelmente curioso -, Painter ergueu os braços e saiu da caverna. O pistoleiro mais próximo, um homem grandalhão, chegou mais perto andando de lado, com o rifle erguido. Um minúsculo raio de luz marcava o tórax de Painter. Uma mira a laser.
Desarmado, Painter só podia permanecer firme. Ele pesou a probabilidade de arrebatar o rifle do pistoleiro.
Nada boa.
Os olhares deles se cruzaram.
Um dos olhos do pistoleiro era de um azul glacial e o outro de um branco fosco.
O assassino do mosteiro.
Ele se lembrou da força descomunal do homem. Não, a probabilidade não era nada boa. E, além do mais, com o número de homens ali, o que ele faria se tivesse êxito?
Uma figura surgiu por trás do ombro do homem. Uma mulher. Talvez a mesma que havia usado o megafone um momento antes. Ela estendeu a mão e usou um único dedo para forçar para baixo o rifle do assassino. Painter duvidou de que qualquer homem tivesse força para fazer aquilo.
Quando ela avançou, Painter observou-a no brilho do holofote. Ela devia ter quase 40 anos. Cabelos pretos cortados curtos, olhos verdes. Usava uma parca branca pesada com um capuz forrado de pele. A forma de seu corpo estava escondida sob as roupas, mas ela parecia esbelta e movia-se com elegância.
- Dra. Anna Sporrenberg - disse ela, e estendeu uma das mãos.
Painter olhou fixamente para a luva dela. Se ele a puxasse de encontro a si, lhe desse uma gravata e a usasse como refém...
Ao olhar o assassino nos olhos por cima do ombro dela, pensou melhor. Estendeu a mão e cumprimentou a mulher. Como eles ainda não haviam atirado contra ele, pelo menos poderia ser educado. Ele faria aquele jogo desde que o mantivesse vivo. Também tinha de pensar em Lisa.
- Diretor Crowe - disse ela. - Parece que tem havido muito blablablá nas últimas horas por intermédio dos canais da inteligência internacional a respeito de seu paradeiro.
Painter manteve o rosto impassível. Ele não via razão para negar sua identidade. Talvez pudesse até usá-la em proveito próprio.
- Então a senhora sabe até que ponto esses mesmos recursos irão para me encontrar.
- Natürlich - ela fez um aceno de cabeça, resvalando o alemão. - Mas eu não contaria com o sucesso deles. Neste ínterim, devo pedir a você e a moça que me acompanhem.
Painter deu um passo defensivo para trás.
- A dra. Cummings não tem nada a ver com isto. Ela é apenas uma profissional de saúde que veio em auxílio dos doentes. Ela não sabe de nada.
- Nós verificaremos isso muito em breve.
Então era isso, enunciado de maneira bem clara. Por enquanto eles estavam vivos apenas por causa de seu suposto conhecimento. E aquele conhecimento seria extraído com sangue e dor. Painter pensou em agir naquele instante. Em acabar com aquilo. Uma morte rápida em vez de uma lenta e agonizante. Ele tinha muitas informações secretas sobre assuntos delicados em sua mente para se arriscar a ser torturado.
Porém, não estava sozinho ali. Ele pensou em Lisa, aquecendo as mãos dela nas suas. Enquanto eles vivessem, havia esperança.
Outros guardas juntaram-se a eles. Lisa foi obrigada a sair da caverna sob a mira de armas. Eles foram conduzidos aos snowmobiles.
Os olhos de Lisa encontraram os seus, o medo brilhando intensamente.
Ele estava determinado a protegê-la da melhor maneira possível.
Anna Sporrenberg aproximou-se deles enquanto eram amarrados.
- Antes de começarmos a viagem, vou falar com franqueza. Nós não podemos deixar vocês irem embora. Creio que vocês compreendem isso. Não vou lhes dar essa falsa esperança. Mas eu posso lhes prometer um fim indolor e tranqüilo.
- Como o dos monges - disse Lisa asperamente. - Nós testemunhamos a misericórdia de vocês lá.
Painter tentou atrair o olhar de Lisa. Aquela não era a hora de se opor aos seus captores. Era óbvio que os filhos-da-puta não tinham nenhum remorso de matar imediatamente. Ambos precisavam interpretar o papel de prisioneiros cooperativos.
Tarde demais.
Anna deu a impressão, na verdade, de estar vendo Lisa pela primeira vez, e virou-se para ela. Um pouco de ardor surgiu na voz da mulher.
- Foi misericórdia, sim, dra. Cummings. - Os olhos dela moveram-se rapidamente para o assassino que ainda montava guarda. - A senhora nada sabe a respeito da doença que atingiu o mosteiro. Dos horrores que aguardavam os monges. Nós sabemos. A morte deles não foi assassinato, mas eutanásia.
- E quem lhes deu esse direito? - perguntou Lisa.
Painter aproximou-se dela.
- Lisa, talvez...
- Não, sr. Crowe. - Anna chegou mais perto de Lisa. - Que direito, a senhora pergunta? Experiência, dra. Cummings, experiência. Creiam em mim quando eu lhes digo... as mortes lá em cima foram um ato de bondade, não de crueldade.
- E os homens com quem eu vim até aqui no helicóptero? Aquilo também foi bondade?
Anna suspirou, cansada daquela discussão.
- Escolhas difíceis tiveram de ser feitas. Nosso trabalho aqui é importante demais.
- E quanto a nós? - Lisa gritou quando a mulher lhe deu as costas. - Será uma agulhada indolor se nós cooperarmos. Mas, e se não estivermos dispostos a colaborar?
Anna encaminhou-se para o snowmobile da frente.
- Não torturaremos ninguém, se é isso que quis dizer, só usaremos drogas. Não somos bárbaros, dra. Cummings.
- Não, vocês são apenas nazistas! - Lisa disse-lhe com veemência. - Nós vimos a suástica.
- Não seja tola. Nós não somos nazistas. - Anna olhou calmamente para eles enquanto erguia uma perna sobre o assento do snowmobile. - Não mais.
Copenhague, Dinamarca
Gray atravessou a rua correndo em direção à casa de leilões.
O que Fiona estava pensando, intrometendo-se ali depois do que acontecera?
A preocupação com a segurança dela o afligiu. Mas Gray também tinha de admitir que a intrusão dela lhe proporcionava a desculpa de que ele precisava. De participar pessoalmente do leilão. Quem quer que tivesse atacado a livraria com bombas incendiárias, assassinado Grette Neal e tentado matá-lo... o rastro o levara até ali.
Gray chegou à calçada e diminuiu o passo. Os raios oblíquos do sol poente transformavam a porta da casa de leilões num espelho prateado. Ele checou suas roupas, pois havia se vestido num frenesi de modelo de alta-costura masculina. O terno, um Armani risca-de-giz azul-marinho, caía-lhe bem, mas a camisa branca engomada estava apertada no colarinho. Ele ajeitou a gravata amarelo-clara.
Não exatamente modesto. Mas ele tinha de representar o papel do comprador para um abastado financista americano.
Ele empurrou a porta e entrou na casa de leilões. O saguão era puro design escandinavo, o que significava uma falta total disso: madeira descorada, divisórias de vidro e pouca coisa mais. A única peça de mobília era uma cadeira esquelética parecida com uma escultura, posicionada junto a uma mesa lateral pequeníssima. Na mesa havia uma única orquídea em um vaso. Seu caule, semelhante a um junco, sustentava uma flor anêmica marrom e cor-de-rosa.
O porteiro bateu seu cigarro dentro do jarro da planta e caminhou na direção de Gray com uma expressão mal-humorada.
Gray enfiou a mão num bolso e tirou seu convite. Fora necessário depositar 250 mil euros no fundo da casa como garantia de que o comprador possuía os recursos financeiros para participar de um evento tão exclusivo.
O porteiro verificou seu convite, acenou com a cabeça e foi até uma corda de veludo que bloqueava o acesso a uma ampla escadaria que levava ao nível inferior. Ele desatrelou a corda e acenou para que Gray passasse.
No fim da escada, portas de vaivém duplas abriam-se para o interior do recinto principal, no qual seria realizado o leilão. Dois guardas escoltavam a entrada. Um segurava um detector de metais. Gray deixou-se revistar, com os braços estendidos. Ele notou as câmeras de vídeo instaladas em cada lado da entrada. A segurança era excelente. Assim que foi liberado, o outro guarda apertou um botão e abriu a porta.
O murmúrio de vozes chegou até ele. Gray reconheceu o italiano, o holandês, o francês, o árabe e o inglês. Parecia que o mundo inteiro tinha vindo ao leilão.
Ele entrou. Alguns olhares voltaram-se na sua direção, mas a maior parte da atenção permaneceu concentrada nas vitrines que revestiam as paredes. Empregados da casa de leilões, vestidos em um uniforme preto, estavam em pé atrás do balcão, como em uma joalheria. Usavam luvas brancas e ajudavam os participantes a examinar os objetos a serem leiloados.
Um quarteto de cordas tocava música suave num canto. Alguns garçons circulavam pelo recinto, oferecendo flutes de champanhe aos convidados.
Gray apresentou-se numa mesa próxima, recebeu uma tabuleta numerada e avançou pela sala. Um punhado de participantes já havia se sentado. Ele avistou o casal de retardatários que havia atrasado o leilão, o rapaz e a moça pálidos, as estrelas do cinema mudo. Eles estavam sentados na primeira fila. Uma tabuleta descansava no colo da mulher. O homem inclinou-se e sussurrou no ouvido de sua parceira. Foi um gesto estranhamente íntimo, talvez intensificado pelo pescoço arqueado da mulher, longo e gracioso, inclinado como se aguardasse um beijo.
Os olhos dela deslocaram-se rapidamente para Gray enquanto ele descia o corredor central. Olhou-o de cima a baixo e desviou o olhar.
Nenhum reconhecimento.
Gray continuou sua investigação, atingindo a frente da sala com seu estrado elevado e o pódio. Ele deu a volta num círculo lento. Não viu nenhuma ameaça aparente à sua presença.
Também não viu nenhum sinal de Fiona.
Onde ela estava?
Ele se aproximou lentamente de uma das vitrines e se encaminhou para o outro lado. Seus ouvidos estavam meio sintonizados com as conversas em torno dele. Ele passou por um atendente que ergueu e pousou suavemente um volumoso livro com encadernação em couro sobre a vitrine de exposição para um cavalheiro imponente. O interessado inclinou-se para perto, com um par de óculos pousado na ponta do nariz.
Gray observou o livro em questão.
Um tratado sobre borboletas, de cerca de 1884, com ilustrações desenhadas à mão.
Ele continuou a descer o corredor. Novamente próximo à porta, deparou com a mulher malvestida que filmara mais cedo. Ela estendeu-lhe um pequeno envelope branco, que Gray aceitou mesmo antes de se perguntar o que poderia ser. A mulher parecia não estar interessada em mais nada e afastou-se.
Gray sentiu um suave perfume no envelope.
Estranho.
Ele usou a unha de um dos polegares para romper o lacre e tirou do envelope uma folha de papel dobrada, um tipo de papel que, pela marca-d’água, sem dúvida era caro. Nela, havia um bilhete caprichosamente escrito.
ATÉ MESMO A GUILDA SABE QUE NÃO DEVE PERAMBULAR PERTO DEMAIS DESSA CHAMA.
TOME CUIDADO.
BEIJOS.
O bilhete não estava assinado, mas, na parte inferior, desenhado com tinta vermelha, estava o símbolo de um pequeno dragão enroscado. A outra mão de Gray moveu-se até seu pescoço, no qual estava pendurado um dragão de prata idêntico, um presente de uma rival.
Seichan.
Ela era uma agente secreta da Guilda, um cartel sombrio de células terroristas cujos caminhos haviam se cruzado com os da Força Sigma no passado. Gray sentiu arrepio na nuca. Ele virou-se e esquadrinhou a sala. A mulher desalinhada que lhe entregara o envelope desaparecera.
Ele tornou a olhar para o bilhete.
Uma advertência.
Antes tarde do que nunca...
Mas pelo menos a Guilda estava agindo ali. Isto é, se fosse possível acreditar em Seichan...
Na verdade, Gray estava disposto a levá-la a sério.
Honra entre ladrões e todas essas coisas.
Uma agitação atraiu sua atenção para os fundos da sala.
Um cavalheiro alto entrou no recinto do leilão por uma porta dos fundos. Resplandecente num smoking, era o estimado sr. Ergenschein em pessoa, atuando como leiloeiro. Ele ajeitou os cabelos pretos oleosos com a palma da mão - sem dúvida, obra de alguma tintura. Suas feições pálidas exibiam um sorriso fixo, como que recortado de um livro e colado em seu rosto.
O motivo de seu claro mal-estar veio em seguida. Ou melhor, estava sendo conduzido por um guarda, que segurava com força o braço dela.
Fiona.
O rosto dela estava vermelho. Seus lábios, enrugados de terror, haviam perdido a cor.
Furiosa.
Gray foi na direção deles.
Ergenschein afastou-se para o lado. Ele carregava um objeto embrulhado em camurça crua macia, e dirigiu-se à vitrine principal, perto da frente. Ela estivera vazia antes. Um dos funcionários destrancou a vitrine. Ergenschein desembrulhou o objeto com cuidado e o colocou lá dentro.
Ao perceber a aproximação de Gray, o leiloeiro esfregou as mãos e veio ao encontro dele, com as palmas postadas como que em oração. Atrás dele, a vitrine foi trancada por um atendente.
Gray notou o que fora colocado na vitrine.
A Bíblia de Darwin.
Os olhos de Fiona arregalaram-se quando ela avistou Gray.
Ele a ignorou e confrontou Ergenschein.
- Está havendo algum problema aqui?
- É claro que não, senhor. A mocinha está sendo conduzida para fora. Ela não tem convite para este leilão.
Gray tirou do bolso o próprio convite.
- Eu creio que tenho direito a um convidado para este leilão. - E estendeu a outra mão para Fiona. - Estou contente de ver que ela já está aqui. Uma conferência por telefone com o comprador que eu represento me reteve. Eu abordei a jovem senhorita Neal mais cedo, hoje, para pedir informações sobre uma venda particular. Sobre um item específico.
Gray acenou com a cabeça em direção à Bíblia de Darwin. O corpo inteiro de Ergenschein suspirou com tristeza fingida.
- Uma tragédia, o incêndio. Mas acho que Grette Neal transferiu por escrito seu lote para a casa de leilões. Sem uma contra-ordem do advogado que administra o espólio dela, receio que o lote tenha de ser colocado em leilão. É a lei.
Fiona deu um puxão no braço do guarda, os olhos ardendo em fúria assassina.
Ergenschein parecia ter-se esquecido dela.
- Receio que tenha de dar seus próprios lances, senhor. Desculpe-me, mas estou de mãos atadas.
- Então, neste caso, o senhor certamente não se importaria que a senhorita Neal permanecesse ao meu lado. Para me ajudar, caso eu queira inspecionar o lote.
- Como queira. - O sorriso de Ergenschein tornou-se sombrio. Ele dispensou o guarda com um aceno vago. - Mas ela deve ficar sempre com o senhor. E, como sua convidada, ela está sob sua responsabilidade.
Fiona foi solta. Enquanto a conduzia para os fundos, Gray notou que o guarda os seguia ao longo do canto da sala. Parecia que eles tinham ganhado um guarda-costas particular.
Gray levou Fiona para a última fila. Uma campainha soou, anunciando que o leilão começaria em um minuto. Os assentos começaram a ser ocupados, a maioria perto da frente. Gray e Fiona tinham a última fila só para si.
- O que você está fazendo aqui? - sussurrou ele.
- Reavendo a minha Bíblia - disse ela com profundo desdém. - Ou pelo menos tentando reavê-la.
Ela afundou-se em sua poltrona, com os braços cruzados sobre a bolsa de couro.
Lá na frente, Ergenschein subiu ao pódio e fez algumas introduções formais. Os procedimentos seriam em inglês, a língua mais comum entre a clientela internacional do leilão. Ele entrou em pormenores sobre as regras dos lances, o ágio e as taxas da casa, até mesmo sobre o comportamento adequado. A regra mais importante era o limite permitido dos lances, dez vezes a quantia investida e garantida em depósito.
Gray ignorou a maior parte daquilo, continuando a falar com Fiona e recebendo alguns olhares descontentes das pessoas sentadas na fileira adiante.
- Você voltou por causa da Bíblia? Por quê?
A garota simplesmente cruzou os braços com mais força.
- Fiona...
Ela virou-se para ele, dura e zangada.
- Porque ela pertencia a Mutti! - Lágrimas cintilaram em seus olhos. - Eles a mataram por causa dela. Eu não vou deixar que eles a possuam.
- Quem?
Ela moveu um braço.
- Seja lá quem for o maldito que a assassinou. Eu vou reavê-la e queimá-la. Gray suspirou e reclinou-se. Fiona queria vingar-se do modo que fosse possível. Ela queria feri-los. Gray não a censurava..., mas a única probabilidade de suas ações inconseqüentes era a de que também fosse morta.
- A Bíblia é nossa. Eu tenho de recuperá-la.- A voz dela falhou. Ela sacudiu a cabeça e esfregou o nariz com um movimento lateral do braço.
Gray a abraçou.
Ela encolheu-se, mas não se afastou.
Na frente, o leilão começou. Tabuletas eram erguidas e baixadas. Itens iam e vinham. O melhor seria guardado até o fim. Gray observava quem comprava o quê. Ele observou especialmente quem foram os arrematantes dos itens registrados no seu bloco de anotações, os três itens de particular interesse: os artigos de Mendel sobre genética, os livros de física de Planck e o diário de De Vries sobre as mutações das plantas.
Todos eles foram para o casal de estrelas do cinema mudo.
A identidade deles continuava desconhecida. Gray ouviu sussurros entre os outros participantes. Ninguém sabia quem eles eram. Apenas o número da tabuleta que sempre erguiam.
Número 002.
Gray inclinou-se para Fiona.
- Você reconhece aqueles compradores? Você já os viu antes na sua livraria?
Fiona endireitou-se na poltrona, olhou fixamente por um minuto e depois voltou a afundar lenta e silenciosamente nela.
- Não.
- E o que você me diz de alguma outra pessoa?
Ela deu de ombros.
- Fiona, você tem certeza?
- Sim - disse ela bruscamente. - Eu tenho uma puta certeza! Isso atraiu mais olhares irritados na direção deles.
Por fim o leilão chegou ao último item. A Bíblia de Darwin foi destrancada de sua vitrine e carregada como uma relíquia religiosa até um cavalete localizado sob um refletor especial de halogênio. Era um tomo sem graça: couro preto descamado, esfarrapado e manchado, que nem sequer exibia o título. Poderia ser qualquer diário antigo.
Fiona sentou-se mais ereta. Sem dúvida, aquilo é que a mantivera em seu assento o tempo todo. Ela segurou no pulso de Gray.
- Você vai mesmo fazer ofertas por ela? - perguntou a garota, a esperança manifestando-se em seus olhos brilhantes.
Gray franziu as sobrancelhas para ela - e então percebeu que não era uma idéia de todo má. Se os outros estavam dispostos a matar pela Bíblia, talvez alguma pista de todo aquele castelo de cartas pudesse ser discernida a partir dela. Além disso, ele estava ansioso para dar uma espiada naquele item. E a Força Sigma havia depositado 250 mil euros na conta da casa de leilões. Isso significava que ele podia fazer lances até o valor de 2,5 milhões de euros. Isso era o dobro do valor máximo estimado da Bíblia. Se vencesse, ele poderia examinar o objeto comprado.
Todavia, ele se lembrou da advertência de Logan Gregory. Já desobedecera às ordens ao seguir Fiona até ali. Não ousava envolver-se ainda mais.
Gray sentiu os olhos de Fiona sobre ele.
Se ele começasse a fazer lances, isso poria a vida deles em perigo, transformando ambos em alvos. E se ele não arrematasse a Bíblia? O risco teria sido em vão. Ele já não fora bastante imprudente hoje?
- Senhoras e senhores, com quanto devemos começar os lances do último lote de hoje? - disse Ergenschein de maneira solene. - Devemos abrir com 100 mil? Ah, sim, temos 100 mil... e de um novo licitante. Que maravilha. Número 144.
Gray baixou sua tabuleta com todos os olhos voltados para ele, comprometido agora.
Ao lado dele, Fiona deu um largo sorriso.
- E dobramos o lance - disse Ergenschein. - Duzentos mil do número 002!
As estrelas do cinema mudo.
Gray sentiu o foco da sala mudar de volta para ele, incluindo o casal na frente. Tarde demais para recuar. Ele ergueu sua tabuleta de novo.
Os lances continuaram por mais dez tensos minutos. A sala do leilão continuava cheia. Todos tinham permanecido ali para ver que valor a Bíblia de Darwin alcançaria. Havia uma tendência oculta de apoio a Gray. Muitos outros haviam sido vencidos pelo número 002. E quando a cifra ultrapassou a marca dos dois milhões, bem acima do valor máximo estimado, murmúrios de excitação silenciosa foram balbuciados pela sala.
Houve outro momento de excitação quando, por telefone, um licitante entrou na briga. O número 002, porém, fez um lance mais alto, e ele não cobriu.
Mas Gray sim. Dois milhões e trezentos mil. As palmas das mãos de Gray começaram a suar.
- Dois milhões e quatrocentos mil do número 002! Senhores e senhoras, por favor, permaneçam sentados.
Gray ergueu sua tabuleta mais uma vez.
- Dois milhões e quinhentos mil.
Gray sabia que estava perdido. Ele não podia fazer nada a não ser olhar enquanto o número 002 se erguia novamente, irrefreável, implacável, impiedoso.
- Três milhões - disse o rapaz pálido, cansando-se do jogo. Ele levantou-se e olhou para Gray, provocando-o a desafiar aquilo.
Gray havia chegado ao seu limite. Mesmo que quisesse, não podia oferecer mais. Sua mão esfregava-se em sua tabuleta. Ele sacudiu a cabeça, admitindo a derrota.
O outro curvou-se na direção dele, um adversário para outro. O homem inclinou um chapéu imaginário. Gray notou uma mancha azul na mão direita do sujeito, na área interdigital entre o polegar e o indicador. Uma tatuagem. Sua acompanhante, que àquela altura Gray percebeu que devia ser irmã do rapaz, talvez até gêmea, exibia a mesma marca na mão esquerda.
Gray memorizou a tatuagem, talvez uma pista sobre a identidade deles.
Sua atenção foi interrompida pelo leiloeiro.
- E parece que o número 144 encerrou! - disse Ergenschein. - Mais algum lance? - Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. - Ele ergueu o martelo, manteve-o suspenso no ar por um momento ansioso e em seguida o bateu na borda do pódio. - Vendida!
Aplausos educados seguiram-se ao arremate.
Gray sabia que a situação teria ficado mais tempestuosa se ele tivesse ganhado. Todavia, teve uma surpresa ao ver quem estava aplaudindo ao seu lado.
Fiona.
- Vamos sair daqui. - Ela deu um largo sorriso para ele.
Eles juntaram-se ao fluxo de pessoas que saía em fila pela porta. Enquanto deixava o local, Gray recebeu manifestações de solidariedade e de pesar de alguns dos outros participantes. Eles logo chegaram à rua, onde cada um seguiu seu caminho.
Fiona arrastou-o rua abaixo, passando por algumas lojas, e o levou a uma pâtisserie próxima, um estabelecimento francês com cortinas de chintz e mesas de café de ferro fundido. A garota escolheu um lugar perto de uma vitrine cheia de doces com recheio de creme, petits-fours, bombas de chocolate e smorrebrod, o onipresente sanduíche aberto dinamarquês.
Ela ignorou as guloseimas, sorrindo com estranho júbilo.
- Por que você está tão feliz? - perguntou Gray, afinal. - Nós perdemos o lance.
Gray estava sentado de frente para a janela. Eles teriam de tomar cuidado. No entanto, agora que a Bíblia fora vendida, ele esperava que o perigo talvez passasse.
- Nós os enganamos! - disse Fiona. - Fizemos a Bíblia chegar a três milhões. Brilhante!
- Não creio que dinheiro signifique tanto assim para eles.
Fiona puxou o grampo de seu coque e sacudiu os cabelos, soltando-os. Ela pareceu rejuvenescer dez anos. O divertimento continuava a brilhar em seus olhos, com uma ponta de prazer malicioso.
De repente, Gray sentiu o estômago embrulhar.
- Fiona, o que você fez?
Ela ergueu a bolsa até a mesa, inclinou-a na direção de Gray e a manteve aberta. Ele curvou-se para a frente.
- Oh, Deus... Fiona...
No fundo da bolsa dela estava um tomo desgastado com encadernação em couro. Um exemplar da Bíblia de Darwin igual ao que acabara de ser vendido.
Essa é a verdadeira? - perguntou ele.
Eu a roubei bem a tempo daquele punheteiro insensível na sala dos fundos.
Como...?
Lancei a isca, ele caiu, eu fiz a troca. Levei o dia inteiro para encontrar uma Bíblia com o tamanho e o formato certos. Claro que tive de fazer alguns improvisos mais tarde. Depois, no entanto, tudo o que foi necessário foram muitas lágrimas e gritos, um pouco de hesitação... - Ela deu de ombros. - E, tudo bem, estava feito.
Se você já tinha a Bíblia, por que me fez dar lances...? - Gray então se deu conta. - Você me usou.
Para fazer aqueles filhos-da-puta pagarem três milhões por uma falsificação que custa uma ninharia.
Eles logo vão descobrir que aquela não é a verdadeira Bíblia - disse Gray, o horror aumentando.
Sim, mas eu planejo estar bem longe quando isso acontecer.
Onde?
Eu vou com você - respondeu Fiona, fechando a bolsa.
Eu acho que não.
- Você se lembra de quando Mutti lhe contou sobre a biblioteca que foi vendida aos poucos? Da qual veio a Bíblia de Darwin?
Gray sabia do que ela estava falando. Grette Neal havia insinuado que alguém estava reorganizando a biblioteca antiga de um cientista. Ela ia deixá-lo tirar uma cópia do recibo de venda original, mas eles foram atacados e o documento foi destruído pelas chamas.
Fiona bateu de leve na testa.
- O endereço está armazenado bem aqui. - Em seguida, ela estendeu uma das mãos. - Então?
Com olhar de censura, ele ia sacudi-la.
Ela afastou a mão com aversão.
- Até parece. - Estendendo o braço de novo, ela virou a palma da mão para cima.
- Quero ver seu verdadeiro passaporte, seu punheteiro. Você acha que eu não consigo identificar um passaporte falsificado quando vejo um?
Ele a olhou nos olhos. Ela havia roubado seu passaporte mais cedo. A fisionomia dela agora era inflexível. Franzindo a testa, ele enfiou a mão num bolso oculto de seu paletó e tirou seu verdadeiro passaporte.
Fiona o leu.
- Grayson Pierce. - Ela o jogou de volta sobre a mesa. - Prazer em conhecê-lo... finalmente.
Ele pegou seu passaporte.
E a Bíblia? Qual a procedência dela?
Só lhe direi se você me levar junto.
Não seja ridícula. Você não pode vir comigo. Você é apenas uma criança.
Uma criança com a Bíblia de Darwin.
Gray se cansou da chantagem. Ele poderia arrebatar a Bíblia quando bem quisesse, mas não podia fazer o mesmo com as informações dela.
- Fiona, isto não é uma brincadeira.
Os olhos dela endureceram ao fitá-lo, envelhecendo diante dele.
- E você acha que eu não sei disso? - As palavras dela eram extremamente frias. - Onde você estava quando eles tiraram minha Mutti naqueles sacos? Naqueles malditos sacos?!
Ele fechou os olhos. Ela havia tocado num assunto delicado, mas Gray recusava-se a ceder.
- Fiona, sinto muito - disse ele com a voz tensa -, mas o que você está pedindo é impossível. Eu não posso levar...
A explosão sacudiu a pâtisserie como um terremoto. A vidraça da frente chacoalhou, pratos espatifaram-se. Fiona e Gray levantaram-se e foram até a janela. Uma nuvem de fumaça subia no outro lado da rua, enfurecendo-se e agitando-se no céu escuro. Do lado despedaçado de um edifício no outro lado da rua chamas dançavam para cima devorando tudo.
Fiona olhou para Gray.
Deixe-me adivinhar - disse ela.
Meu quarto de hotel - admitiu ele.
É o fim da vantagem inicial.
Himalaia
Capturado pelos alemães, Painter ia atrás de Lisa em um trenó puxado por um dos snowmobiles. Fazia quase uma hora que eles estavam viajando, presos no lugar com tiras de plástico e amarrados juntos. Pelo menos o trenó deles era aquecido.
No entanto, ele permanecia curvado sobre Lisa, protegendo-a o máximo possível com seu corpo. Ela inclinou-se para trás, de encontro a ele. Era tudo o que podiam fazer. Seus pulsos estavam amarrados a suportes de ambos os lados.
Adiante, o assassino viajava no assento traseiro do snowmobile que os rebocava. Ele estava voltado para trás, com o rifle apontado para eles, os olhos desarmônicos jamais hesitando. Anna Sporrenberg, a líder daquele grupo, pilotava o veículo.
Um grupo de ex-nazistas.
Ou de nazistas reformados.
Ou seja lá o que fossem.
Painter deixou a questão de lado. Ele tinha um problema mais importante para resolver naquele momento. Permanecer vivo.
A caminho, Painter soubera como ele e Lisa haviam sido facilmente descobertos naquela caverna. Por intermédio de raios infravermelhos. Contra a paisagem glacial, fora fácil captar o calor liberado pelo corpo deles, revelando seu esconderijo.
A mesma coisa tornaria quase impossível escapar através daquele terreno.
Ele continuava a refletir, a mente concentrada numa única meta.
Fugir.
Naquele período de uma hora, a caravana de snowmobiles havia avançado pela noite de inverno. Os veículos eram equipados com motores elétricos e deslizavam quase sem fazer barulho. Em silêncio, os cinco snowmobiles percorreram aquele labirinto com uma facilidade advinda da prática, deslizando ao longo da beira de penhascos, mergulhando em vales escarpados, cruzando rapidamente pontes de gelo.
Ele se esforçou ao máximo para memorizar o trajeto. Mas a exaustão e a complexidade do caminho confundiam-no. O fato de seu crânio ter começado a martelar de novo não ajudava. A dor de cabeça havia retornado, assim como a desorientação e a vertigem. Ele tinha de admitir que seus sintomas não estavam menos intensos. Ele também tinha de admitir que estava completamente perdido.
Esticando o pescoço, olhou para o céu noturno.
Acima, as estrelas irradiavam um brilho frio.
Talvez ele conseguisse memorizar sua posição.
Enquanto olhava fixamente, os minúsculos pontos de luz giravam no céu. Ele desviou o olhar, sentindo uma pontada dolorosa atrás dos olhos.
Você está bem? - perguntou-lhe Lisa num sussurro.
Painter grunhiu entre os dentes, nauseado demais para falar.
O nistagmo de novo? - ela supôs por si mesma.
Um resmungo áspero do assassino silenciou qualquer nova comunicação. Painter ficou grato. Ele fechou os olhos e respirou fundo, esperando aquilo passar. Afinal passou.
Ele abriu os olhos quando a caravana se aproximou lentamente da crista de uma rocha e reduziu a velocidade até parar. Painter observou ao redor. Não havia nada ali. Um penhasco coberto de gelo abria uma fenda à direita da crista. A neve começou a cair de novo.
Por que eles haviam parado?
Adiante, o assassino saiu de seu assento.
Anna juntou-se a ele. Girando um ombro, o homem corpulento falou com a mulher em alemão.
Painter esforçou-se para ouvir e captou as últimas palavras do assassino.
- ... deveria simplesmente matá-los.
Isso não foi dito com nenhuma veemência, apenas com um terrível senso prático.
Anna franziu o cenho.
- Precisamos descobrir mais, Gunther. - A mulher olhou na direção de Painter. - Você sabe os problemas que tivemos ultimamente. Se ele foi enviado para cá... se ele souber de algo que possa deter isso.
Painter não tinha nenhuma pista do que eles estavam falando, mas deixou que tivessem essa falsa idéia. Sobretudo se ela o mantivesse vivo. O assassino apenas sacudiu a cabeça.
- Ele é sinônimo de encrenca. Posso sentir o cheiro disso nele. - E começou a se afastar, desdenhoso, dando o assunto por encerrado.
Anna o deteve com um toque em sua face, terno, agradecido... e talvez algo mais.
- Danke, Gunther.
O homem afastou-se, mas não antes de Painter notar o lampejo de dor nos olhos dele. O assassino caminhou com dificuldade até a face rachada do penhasco e desapareceu através de uma fenda na parede. Um instante depois, uma nuvem de vapor foi expelida, junto com um pouco de luz cor de fogo, e em seguida extinguiu-se.
Uma porta abriu e fechou-se.
Atrás dele, um dos guardas fez um ruído zombeteiro, murmurando uma palavra entre os dentes, um insulto, ouvido apenas pelos que estavam mais próximos a ele.
Leprakönig.
Rei Leproso.
Painter notou que o guarda havia esperado até que o homem corpulento chamado Gunther não pudesse ouvi-lo. Ele não ousara dizer aquilo na cara do homem. Porém, pela protuberância dos ombros do assassino e pelos seus modos grosseiros, Painter suspeitou que ele já tivesse ouvido aquilo antes.
Anna subiu no snowmobile. Um novo guarda armado tomou o lugar do assassino, com a arma apontada. Eles partiram outra vez.
A trilha ziguezagueva em torno de um contraforte rochoso e descia por um desfiladeiro ainda mais íngreme na montanha. O caminho à frente era um mar de nevoeiro formado por cristais de gelo, obscurecendo o que estava lá embaixo. Uma pesada crista da montanha projetava-se sobre o mar de névoa, com a forma de uma concha rasa, como duas mãos sendo aquecidas.
Eles desceram para o vasto banco de nevoeiro e luzes moviam-se rapidamente adiante.
Poucos momentos depois, a visibilidade reduziu-se a poucos metros. As estrelas desapareceram.
Então a escuridão subitamente se intensificou quando eles passaram sob a sombra da saliência na rocha. Mas, em vez de ficar mais frio, o ar estava notavelmente cada vez mais quente. À medida que desciam ainda mais, afloramentos rochosos surgiam da neve. Água produzida pelo derretimento de neve e gelo escorria pelos penedos.
Painter percebeu que devia haver uma bolsa localizada de atividade geotermal ali. Fontes de água quente, embora raras e conhecidas sobretudo pelas pessoas originárias da região, estavam dispersas pelo Himalaia. Acreditava-se que aqueles pontos quentes geotermais, criados pelas intensas pressões da placa continental indiana em atrito com o contimente asiático, eram a origem da mitologia de Xangrilá.
Como a neve diminuiu, a caravana foi obrigada a abandonar os snowmobiles. Assim que eles foram estacionados, Painter e Lisa foram libertados de seu trenó, obrigados a ficar em pé, e seus pulsos foram atados. Ele permaneceu próximo a Lisa. Os olhos dela encontraram os de Painter, refletindo a preocupação dele.
Onde diabo eles estavam?
Rodeados de parcas brancas e rifles, foram conduzidos pelo resto do caminho. A neve transformava-se em rocha úmida sob suas botas. Sob seus pés surgiram degraus talhados na rocha, pelos quais escorria água produzida pelo derretimento de neve e gelo. Adiante, o nevoeiro perpétuo ficou mais esparso e dissipado.
Depois de mais alguns passos, uma das faces de um penhasco, abrigada pelo ombro da montanha, apareceu em meio à escuridão. Uma profunda gruta natural. Mas não era nenhum paraíso, apenas granito negro escarpado, gotejando e suando.
Mais para inferno do que para Xangrilá.
Lisa tropeçou ao lado dele. Painter a amparou da melhor maneira possível com seus pulsos atados. Mas ele compreendeu o passo vacilante dela. Adiante, um castelo surgiu do meio das brumas.
Ou melhor, quase um castelo.
Quando eles se aproximaram, Painter reconheceu a forma como uma fachada, esculpida grosseiramente nos fundos da gruta. Duas torres gigantes com ameias flanqueavam uma masmorra central maciça. Luzes ardiam atrás de grossas janelas envidraçadas.
- Granitschlob - Anna anunciou e os conduziu para uma entrada em arco, com o dobro da altura de Painter, escoltada por cavaleiros gigantes de granito.
Uma pesada porta de carvalho, ornamentada com tachões e lâminas de ferro preto, lacrava a entrada. Porém, quando o grupo se aproximou, ela foi suspensa com um guincho, erguendo-se como uma porta levadiça.
Anna avançou a passos largos.
- Venham. Foi uma noite longa, ja?
Painter e Lisa foram conduzidos para a entrada sob a mira de armas. Ele examinou a fachada de muralhas, ameias e janelas em arco. Em toda a superfície, o granito negro suava e gotejava. A água parecia uma torrente de óleo negro, como se o castelo estivesse se dissolvendo diante dos olhos deles, fundindo-se de novo na face da rocha.
A iluminação rubra vinda de algumas das janelas fazia a superfície do castelo brilhar com uma incandescência infernal, fazendo Painter lembrar-se de uma pintura de Hieronymus Bosch. O artista do século XV havia se especializado em representações distorcidas do inferno. Se Bosch algum dia tivesse esculpido os portões do mundo inferior, aquele castelo seria essa escultura.
Sem escolha, Painter seguiu Anna e passou sob a entrada em arco do castelo. Olhou para cima, tentando descobrir se as palavras que Dante dissera porventura estavam entalhadas nos portões do inferno.
Abandonai toda a esperança, vós que aqui entrais.
As palavras não estavam ali, mas bem que poderiam estar.
Abandonai toda a esperança...
Aquilo era mais ou menos uma síntese disso.
Copenhague, Dinamarca
Quando o eco da explosão do hotel se desvaneceu, Gray segurou Fiona pelo braço e saiu apressadamente com ela por uma porta lateral da pâtisserie. Ele se dirigiu a um beco próximo, abrindo caminho entre os fregueses reunidos na calçada.
Sirenes irromperam a distância.
Parecia que os bombeiros de Copenhague estavam tendo um longo dia hoje. Gray chegou à esquina do beco, longe da fumaça e do caos, levando Fiona a reboque. Um tijolo rachou perto de seu ouvido, seguido por um zunido que ricocheteou. Um disparo de arma de fogo. Girando, ele puxou Fiona de repente para o beco e se abaixou. Examinou a rua à procura da pessoa que havia atirado.
E a encontrou.
Perto.
Meio quarteirão atrás, no outro lado da rua.
Era a mulher de cabelos branco-alourados do leilão. Só que agora ela usava um justo traje de corrida preto. Também havia ganhado um novo acessório da moda: uma pistola com silenciador. Segurava-a baixo, à altura do joelho, e caminhava rapidamente em direção ao lugar onde ele estava. Tocou o ouvido, os lábios moviam-se.
Rádio.
Quando a mulher passou embaixo de um poste de luz, Gray percebeu seu equívoco. Não era a mesma mulher do leilão. Os cabelos dela eram mais longos e o rosto mais esquálido.
Uma irmã mais velha dos outros dois.
Gray deu meia-volta.
Ele esperava que Fiona tivesse percorrido metade do beco, mas ela estava a apenas cinco metros de distância, montada em uma Vespa verde-musgo cheia de manchas de ferrugem.
- O que você está...?
- Arrumando transporte pra gente. - E jogou uma chave de fenda de volta dentro da bolsa aberta.
Gray correu para o lado dela.
- Não temos tempo para fazer uma ligação direta.
Fiona olhou para ele por cima de um ombro, enquanto seus dedos remexiam às cegas num emaranhado de fios da ignição. Ela torceu dois e o motor tossiu, gemeu e pegou.
Droga..
Ela era boa, mas existiam limites para a confiança.
Gray acenou para que ela se afastasse.
- Eu piloto.
Fiona deu de ombros e deslizou para o assento traseiro. Gray montou na lambreta, empurrou-a para tirá-la do estribo lateral e pressionou o acelerador. Mantendo o farol apagado, partiu pelo beco escuro. Ou melhor, resfolegou.
- Vamos - insistiu ele.
Engate a segunda - disse Fiona. - Deixe a terceira pra lá. Você tem de exigir o máximo dessas lambretas velhas.
Eu não preciso de alguém na garupa que me dê instruções sobre como pilotar esta coisa.
No entanto, Gray obedeceu, pressionando a embreagem e mudando a marcha. A Vespa pulou feito uma potranca assustada. Eles seguiram a toda velocidade pelo beco, ziguezagueando em volta de pilhas de latas de lixo.
Sirenes uivavam atrás deles. Gray olhou para trás. Um carro de bombeiros passou com a sirene ligada pela entrada do beco, as luzes resplandecentes, devido à explosão. Antes que Gray se virasse para a frente, avistou uma figura escura, delineada contra a iluminação mais forte da rua.
A atiradora.
Ele aumentou a potência, deu uma guinada em torno de uma lata de lixo alta de um edifício, deixando-a entre ele e a mulher. Se ele se mantivesse junto à parede, teria uma boa probabilidade de sair do beco a partir dali.
No outro extremo, a rua distante brilhava como um farol.
Era a única chance deles.
Concentrado adiante, ele viu uma segunda figura escura aparecer e parar. Os faróis de um carro que passava pratearam seus cabelos louros. Mais um irmão. O homem usava um longo casaco negro. Ele afastou a capa impermeável e ergueu uma espingarda de caça.
A mulher devia ter-se comunicado com ele pelo rádio, preparando aquela emboscada.
- Segure-se firme! - gritou Gray.
Quando o homem ergueu a arma com apenas um braço, Gray notou a tipóia em torno de seu outro braço, enfaixado do punho ao cotovelo. Embora seu rosto estivesse encoberto pelas sombras, Gray sabia quem impedia a fuga deles.
Era o homem que havia assassinado Grette Neal.
Ele ainda possuía as feridas causadas pelas mordidas de Bertal, agora enfaixadas.
A espingarda apontava para Gray.
Ele não tinha tempo.
Gray girou o guidom da lambreta, fazendo-a derrapar e soltar fumaça, inclinada para o lado, avançando para o homem.
A espingarda explodiu com um som abafado, acompanhado pelo ruído de estilhaços quando um punhado de grãos de chumbo atingiu uma porta próxima.
Fiona gritou de medo.
Mas aquele foi o único tiro do homem. Ele desapareceu rapidamente do caminho da lambreta que derrapava. Assim que saiu do beco escuro, Gray deteve a derrapagem do veículo pisando no acelerador e produzindo um som agudo de borracha no cimento. Com o uso da força, ele conseguiu aprumar a Vespa e entrar no tráfego, recebendo uma buzinada furiosa do descontente motorista de um Audi.
Gray afastou-se dali.
Fiona afrouxou seu aperto.
Gray manobrou em torno dos carros mais lentos, ganhando velocidade à medida que a avenida formava um declive bastante íngreme. Na parte inferior, ela terminava numa travessa arborizada. Gray freou para fazer a curva acentuada. A lambreta recusou-se a obedecer. Ele olhou para baixo. Um cabo quicava ao lado do pneu traseiro do veículo.
O cabo do freio.
Ele devia ter arrebentado durante a derrapagem.
Reduza a velocidade - gritou Fiona em seu ouvido.
O freio já era! - gritou ele em resposta. - Segure-se!
Gray afogou o motor, depois lutou para escapar ao impulso da lambreta com uma guinada, derrapando como um esquiador colina abaixo. Ele arrastou o pneu traseiro ao longo de um meio-fio, a borracha soltando muita fumaça.
Eles chegaram à esquina ainda depressa demais.
Gray inclinou a lambreta para o lado, o atrito do metal produzindo faíscas de brilho intenso. O veículo deslizou pelo cruzamento, passando em frente a um caminhão com cabine avançada. Buzinas ressoaram. Freios guincharam.
Em seguida, eles atingiram o meio-fio no outro lado.
A lambreta sacudiu bruscamente, e Gray e Fiona voaram.
Uma fileira de cerca viva amorteceu a maior parte do impacto de sua queda, mas mesmo assim eles acabaram rolando pela calçada e parando ao pé de um muro de alvenaria. Ao ficar em pé, Gray foi até o lado de Fiona.
- Você está bem?
Ela se levantou, mais zangada do que ferida.
- Eu paguei em coroas dinamarquesas o equivalente a 200 euros por esta saia. - A saia dela tinha um longo rasgo de um lado. Ela o cobriu com uma das mãos e curvou-se para pegar a bolsa.
O terno Armani de Gray estava em situação muito pior. Estava rasgado em um cotovelo, e parecia que o lado direito de seu paletó havia sido esfregado com uma escova de arame. Mas, além de alguns arranhões e escoriações, eles estavam ilesos.
O trânsito fluía pelo local do acidente.
Fiona afastou-se dali.
- Aqui ocorrem acidentes de Vespas o tempo todo. E elas são roubadas com a mesma freqüência. Propriedade de uma lambreta em Copenhague é modo de falar. Precisa de uma? Pegue uma. Mas a abandone para o próximo cara. Ninguém realmente se importa.
Mas alguém se importava.
Um automóvel cantando pneus chamou a atenção deles. Um sedã preto entrou na rua dois quarteirões atrás. Movia-se em grande velocidade na direção deles. Estava escuro demais para identificar o motorista ou os passageiros. Os faróis avançavam rapidamente na direção deles.
Gray arrastou Fiona ao longo da calçada arborizada, procurando as sombras mais escuras. Um alto muro de alvenaria emoldurava aquele lado da rua. Não havia nem edifícios nem becos. Apenas um longo muro alto. No outro lado, ouvia-se um som alegre de flautas e instrumentos de cordas.
Atrás deles, os ocupantes do sedã reduziram a velocidade, à procura.
Não restava dúvida de que a fuga deles de lambreta havia sido informada.
- Por aqui - disse Fiona.
Após colocar a bolsa sobre o ombro, ela o conduziu a um banco de jardim encoberto pelas sombras e subiu nele; depois, usando as costas do banco como apoio, pulou para cima e agarrou um dos ramos da árvore. Tomando impulso com os pés, enganchou as pernas no galho.
O que você está fazendo?
Crianças de rua fazem isto o tempo todo. Entrada franca.
O quê?
Vamos nessa.
Com as mãos, ela desceu pelo grosso galho enquanto ele se curvava sobre o muro. Ela pulou no outro lado e desapareceu.
Droga.
O sedan começou a mover-se outra vez rua acima.
Sem escolha, Gray seguiu o exemplo de Fiona. Ele subiu no banco e pulou para cima. Música flutuava por cima do muro, cintilante e mágica na noite escura. Uma vez pendurado de cabeça para baixo, ele esticou o pescoço por cima do muro.
Além estava um país das maravilhas com lanternas resplandecentes, palácios em miniatura e brinquedos que rodopiavam.
O Tivoli.
O parque de diversões da virada do século situava-se no coração de Copenhague. Daquela altura, Gray avistou o lago central do parque. Sua superfície espelhada refletia milhares de lanternas e luzes. Espalhando-se para fora, caminhos ladeados de flores conduziam a pavilhões iluminados por lâmpadas, montanhas-russas de madeira, carrosséis e rodas-gigantes. O velho parque estava menos para Disneylândia do que para um parque de bairro com um quê familiar.
Gray avançou depressa ao longo do galho em direção ao parque, passando por cima do muro.
No outro lado, Fiona, que aguardava embaixo, acenou para ele. Ela estava em pé nos fundos de um galpão de uso geral ou no qual se guardava o material de jardinagem.
Gray soltou as pernas e ficou pendurado pelos braços.
Um pedaço grosso da casca da árvore explodiu próximo à sua mão direita. Chocado, ele se soltou e caiu, os braços fazendo estrelinhas em busca de equilíbrio. Ele caiu pesadamente num canteiro de flores, machucando um joelho, mas a terra preta macia amorteceu sua queda. Do outro lado do muro, um motor roncou e uma porta fechou-se com um estrondo.
Eles haviam sido descobertos.
Fazendo uma careta, Gray juntou-se a Fiona. Os olhos dela estavam escancarados. Ela ouvira o disparo. Sem dizer nada, eles fugiram juntos rumo ao coração do Tivoli.
Himalaia
Bem depois da meia-noite, Lisa tomou um fumegante banho de imersão em água mineral naturalmente aquecida. Ela pôde fechar os olhos e imaginar-se em algum spa europeu caro. Os móveis e acessórios dos aposentos eram, sem dúvida, bastante luxuosos: grossas toalhas e roupões de banho de algodão egípcio, uma cama de dossel maciça com uma pilha alta de cobertores sobre um colchão de penas de ganso com 30 centímetros de espessura. Tapeçarias medievais decoravam as paredes, e, sob os pés, tapetes turcos cobriam o piso de pedra.
Painter estava no quarto principal, alimentando a minúscula lareira deles.
Eles dividiam aquela pequena e agradável cela de prisão.
Painter dissera a Anna Sporrenberg que eles viviam juntos nos Estados Unidos. Um ardil com o objetivo de evitar que fossem separados.
Lisa não protestara contra isso.
Ela não quisera ficar sozinha ali.
Embora a temperatura da água fosse quase escaldante, Lisa tremia. Como médica, ela reconhecia seus próprios sinais de choque à medida que a adrenalina que a havia sustentado até aquele ponto diminuía. Ela se lembrou de quão precocemente havia vociferado contra a alemã, quase atacado a mulher. Em que estivera pensando? Poderia ter provocado a execução de ambos.
E o tempo todo Painter fora tão calmo. Mesmo agora, ela hauria forças ao ouvir Painter pôr mais lenha no fogo, simples demonstração de cuidado e conforto. Ele devia estar exausto. O homem já havia tomado um banho na imponente banheira, não tanto por uma questão de higiene e mais como uma prescrição contra ulceração produzida pelo frio. Lisa notara as manchas brancas na ponta das orelhas dele e insistira para que ele tomasse banho primeiro.
Como usava roupas mais quentes, ela passara melhor.
No entanto, ela imergiu por completo na banheira, enfiando a cabeça também na água, seus cabelos espalhando-se. O calor difundiu-se pelo corpo dela, aquecendo todos os seus tecidos. Seus sentidos aguçaram-se. Tudo o que ela precisava fazer era aspirar até se afogar. Um momento de pânico, e estaria terminado. Todo o medo, toda a tensão. Ela estaria no controle do próprio destino - tomando de volta o que seus captores mantinham como refém.
Apenas uma inalação...
- Você já está terminando seu banho? - As palavras abafadas chegaram até ela através da água, parecendo vir de muito longe. - Eles nos trouxeram um lanche extra.
Lisa mexeu-se, emergindo do vapor, a água escorrendo de seus cabelos e de seu rosto.
- Eu... eu vou terminar já, já.
- Não se apresse - gritou Painter do quarto principal.
Ela ouviu ele pôr outra acha de lenha na lareira.
Como ele ainda conseguia estar em movimento? Acamado por três dias, a luta no porão de armazenamento de ervas, a viagem através do gelo até ali... e no entanto ele continuava a fazer coisas. Isso lhe dava esperança. Talvez fosse apenas desespero, mas ela percebia uma fonte de energia nele que transcendia o físico.
Enquanto pensava nele, seus tremores finalmente diminuíram.
Ela saiu da banheira com a pele fumegando e enrolou-se em uma toalha. Um roupão grosso estava pendurado num gancho. Ela o deixou ali por mais um instante. Ao lado de uma bacia antiga para lavar as mãos havia um espelho que ia quase até o chão. Sua superfície estava embaçada, mas a forma dela nua era visível. Ela virou a perna, não em admiração narcisista, e sim para examinar a extensão das contusões em seu membro. A dor profunda em suas panturrilhas lembrava-a de algo essencial.
Ainda estava viva.
Ela olhou para a banheira.
Não lhes daria o prazer. Iria até o fim.
Vestiu o roupão. Após ajustá-lo bem em volta da cintura, ergueu o pesado trinco de ferro do banheiro e abriu a porta. Estava mais quente no aposento vizinho. Um registro de vapor mantinha o aposento habitável, mas o fogo recente na lareira havia fornecido ao lugar um calor agradável. A minúscula chama estalava e crepitava alegremente, inundando o quarto com uma luz suave e bruxuleante. Um grupo de velas ao lado da cama, a única outra fonte de iluminação, deixava o ambiente mais confortável.
Não havia eletricidade no aposento.
Ao aprisioná-los ali, Anna Sporrenberg explicou com orgulho que a maior parte da energia que eles consumiam era gerada geotérmicamente, com base em um projeto secular desenvolvido por Rudolf Diesel, o engenheiro alemão nascido na França que inventaria o motor a diesel. Mesmo assim, a eletricidade não podia ser desperdiçada e fora limitada a áreas seletas do castelo.
E aquela não era uma delas.
Painter virou-se para Lisa quando ela entrou. Ela notou que os cabelos dele haviam secado desalinhados, dando-lhe uma aparência jovial e pueril. Descalço e usando um roupão igual ao dela, ele encheu duas canecas de pedra com uma infusão fumegante.
- Chá de jasmim - disse e acenou para que ela se sentasse num pequeno sofá em frente à lareira.
Uma travessa estava apoiada numa mesa baixa: queijos de massa dura, pão preto, fatias de rosbife empilhadas, mostarda e uma tigela de amoras-pretas com uma garrafinha de creme.
- Nossa última refeição? - perguntou Lisa, tentando ser irreverente, sem êxito, porém. Eles seriam interrogados de manhã cedo.
Painter deu um tapinha no assento ao lado dele ao se sentar.
Ela juntou-se a ele.
Enquanto ele cortava o pão, ela pegou um pedaço de cheddar com odor penetrante. Cheirou-o e o pôs de lado. Estava sem fome.
Você deveria comer - disse Painter.
Para quê? Para estar mais forte quando eles nos drogarem?
Painter enrolou uma fatia de rosbife e jogou-a na boca. Ele mastigava enquanto falava.
- Nada é definitivo. Se eu não aprendi nada na vida, pelo menos aprendi isso.
Não convencida, ela sacudiu a cabeça.
- Então o que você está dizendo? Que devemos simplesmente esperar que aconteça o melhor?
Eu pessoalmente prefiro um plano. Ela olhou para ele.
E você tem um?
- Sim, um plano simples. Não exatamente o disparo de armas de fogo, a explosão de granadas.
O quê, então?
Ele engoliu o rosbife e virou-se para ela.
Algo que, na minha opinião, quase sempre funciona.
Ela esperou uma resposta.
E então?
Honestidade.
Ela recuou no assento, os ombros curvando-se.
- Excelente.
Painter pegou uma fatia de pão, espalhou um pouco de mostarda de má qualidade nela, acrescentou-lhe uma fatia de rosbife e colocou um pedaço de cheddar por cima. Ele estendeu o sanduíche para ela
- Coma.
Suspirando, ela aceitou a criação dele, apenas para satisfazê-lo.
Painter fez outro para si.
- Por exemplo, eu sou o diretor de uma divisão da DARPA chamada Sigma. Nossa especialidade é investigar ameaças aos Estados Unidos, empregando uma equipe de ex-soldados de Forças Especiais. O braço forte da DARPA lá fora em ação.
Lisa mordiscou a beira da casca do pão, sentindo um pouco do gosto picante de mostarda fresca.
- Podemos esperar que esses soldados nos resgatem?
- Tenho minhas dúvidas. Não no tempo de que dispomos. Eles vão levar dias para descobrir que o meu corpo não está entre as ruínas do mosteiro.
- Então eu não vejo...
Painter ergueu uma das mãos, mastigou ruidosamente um pedaço do sanduíche e murmurou:
- Eu estou falando de honestidade. De expressar tudo clara e abertamente. Ver o que acontece. Algo atraiu a atenção da Sigma para cá. Relatos de doenças estranhas.
Após operações tão secretas por tantos anos, por que todos esses erros nos últimos meses? Eu não sou uma pessoa de dar muito crédito a coincidências. Ouvi por acaso Anna falando com o soldado assassino. Ela fez alusão a algum problema aqui. Algo que os deixou aturdidos. Talvez as nossas metas e as deles tenham o mesmo propósito se desfizermos o mal-entendido. Talvez haja espaço para cooperação.
- E eles nos deixariam viver? - perguntou ela, meio escarnecedora, mas com uma parte de si acalentando esperança.
Ela deu uma mordida no sanduíche para ocultar sua tolice.
- Eu não sei - respondeu ele, sendo honesto. - Enquanto nós nos revelarmos úteis. Mas se pudermos ganhar alguns dias... isso aumentará nossa chance de resgaste ou talvez de uma mudança das circunstâncias.
Lisa mastigou enquanto refletia. Antes que se desse conta, seus dedos estavam vazios. E ela ainda sentia fome. Eles dividiram a tigela de amoras-pretas, despejando creme sobre elas.
Ela olhou para Painter com uma nova perspectiva. Ele era mais do que força obstinada. Havia um brilho intenso e muito bom senso atrás daqueles olhos azuis. Como que sentindo a análise dela, ele olhou para Lisa. Ela rapidamente voltou a examinar a travessa de comida.
Em silêncio, terminaram a refeição e bebericavam o chá. Alimentados, a exaustão pesou sobre ambos, tornando penosa até mesmo a conversa. Além disso, ela apreciava o silêncio, sentada ao lado dele. Ouvia-o respirar. Podia sentir o cheiro de sua pele recém-lavada.
Quando terminou de tomar o resto do chá adoçado, ela notou Painter esfregar a têmpora direita, um olho quase fechado. A dor de cabeça dele estava atacando de novo. Ela não queria bancar a médica, ser objetiva demais e preocupá-lo, mas observou-o de esguelha. Os dedos da outra mão dele tremiam. Ela notou a ligeira vibração nas pupilas dele enquanto ele olhava para o fogo que se extinguia.
Painter havia mencionado honestidade, mas será que queria a verdade sobre a própria condição? Os surtos pareciam estar ocorrendo com mais freqüência. E uma parte dela era egoísta o bastante para temer - não pela saúde dele, mas pelo fio de esperança de sobrevivência que ele havia instilado nela. Ela precisava dele.
Lisa levantou-se.
- Nós deveríamos dormir um pouco. O amanhecer não deve tardar.
Painter gemeu, mas concordou com um aceno de cabeça. Ele também se levantou. Lisa teve de segurar o cotovelo dele quando ele cambaleou.
- Estou bem - disse ele. Chega de honestidade.
Ela o guiou até a cama e puxou os cobertores.
- Posso dormir no sofá - disse ele, resistindo.
- Não seja ridículo. Deite-se. Agora não é hora de ficar preocupado com nenhuma conduta imprópria. Nós estamos numa fortaleza nazista.
Eles são ex-nazistas.
Está bem, isso é um grande consolo.
No entanto, ele subiu para a cama com um suspiro, o roupão e tudo mais. Ela deu a volta e fez o mesmo, apagando as velas ao lado da cama. As sombras adensaram-se, mas a luz do fogo que se extinguia na lareira manteve o quarto agradavelmente iluminado. Lisa não sabia se conseguiria suportar a escuridão absoluta.
Ela acomodou-se sob os cobertores, puxando-os até o queixo, e deixou um espaço entre os dois, atrás de Painter. Ele deve ter sentido o medo dela e girou a fim de ficar de frente para ela.
- Se nós morrermos - murmurou Painter -, morreremos juntos.
Ela engoliu em seco. Aquelas não eram as palavras tranquilizadoras que tinha esperado ouvir, mas, ao mesmo tempo, sentia-se estranhamente confortada. Alguma coisa no tom da voz dele, a honestidade, a promessa por trás de suas palavras, teve êxito onde fracas afirmações sobre a segurança deles teriam falhado.
Ela acreditava nele.
Aconchegou-se um pouco mais, sua mão encontrou a dele, os dedos entrelaçaram-se, nada sexual, apenas duas pessoas necessitando de contato. Ela puxou o braço dele em torno de si.
Ele apertou a mão dela de modo tranqüilizador e forte.
Ela aproximou-se ainda mais dele, que se moveu para abraçá-la de maneira mais aconchegante.
Lisa fechou os olhos, sem esperar adormecer.
Porém, nos braços dele, acabou adormecendo.
Copenhague, Dinamarca
Gray consultou o relógio.
Fazia mais de duas horas que eles estavam se escondendo. Ele e Fiona haviam permanecido dentro do poço de serviço de uma animação chamada Minen, ou Mina. Era um brinquedo animatrônico antiquado no qual os carros passavam por animais animados semelhantes a toupeiras com petrechos de mineração, trabalhando em alguma pedreira subterrânea esquisita. O mesmo refrão musical era tocado repetidamente, uma forma auditiva de tortura chinesa.
Pouco depois de desaparecerem em meio à multidão do Tivoli, Gray e Fiona pularam no velho brinquedo, bancando pai e filha. Porém, na primeira curva não supervisionada, eles saíram do carrinho e entraram num cubículo de serviço atrás de uma porta de vaivém com um símbolo de perigo de descarga elétrica. Por não ter terminado a volta no brinquedo, Gray só podia imaginar o fim: as criaturas parecidas com toupeiras refesteladas alegremente nos leitos de um hospital, sofrendo de antracose.
Ou era o que ele esperava.
O alegre refrão em dinamarquês continuou pela milésima vez. Talvez não fosse tão ruim quanto o passeio no brinquedo It's-a-Small-World, na Disneylândia, mas era bem parecido.
No refúgio apertado, Gray abriu a Bíblia de Darwin no colo. Examinou as páginas com uma lanterna de bolso, procurando qualquer pista de sua importância, página por página. Sua cabeça latejava em sintonia com a música.
- Você tem uma arma? - perguntou Fiona, agachada em um canto, os braços cruzados. - Se tiver, me mate agora.
Nós só temos mais uma hora. - Gray suspirou.
Eu jamais vou conseguir.
O plano era esperar o parque fechar. Havia apenas uma saída oficial, mas Gray tinha certeza de que todas as saídas estavam sendo vigiadas àquela altura. A única chance deles era tentar escapar durante o êxodo em massa do parque à meia-noite. Ele tentara confirmar a chegada de Monk ao aeroporto de Copenhague, mas o ferro e o cobre no edifício antigo estavam interferindo seriamente no funcionamento de seu celular. Eles precisavam chegar ao aeroporto.
- Você ficou sabendo alguma coisa da Bíblia? - perguntou ela.
Gray sacudiu a cabeça. Era fascinante ver a linhagem da família representada por meio de um gráfico na parte interna da capa, a árvore genealógica da família do próprio Darwin. Mas, em outros aspectos, das páginas restantes que ele examinara até então, as folhas quebradiças e frágeis não ofereciam qualquer pista. Tudo o que ele descobriu foram alguns rabiscos. A mesma marca repetida várias vezes, em muitas posições e tamanhos diferentes.
Gray deu olhada em seu bloco de anotações. Ele havia desenhado os símbolos à medida que eles apareciam, escritos nas margens da Bíblia - se pela mão de Charles Darwin ou de um proprietário posterior, ele não sabia.
Ele empurrou o bloco de anotações na direção de Fiona.
- Algum lhe parece familiar?
Fiona suspirou e inclinou-se para a frente, descruzando os braços. Ela olhou de relance para os símbolos.
- Rabiscos de pássaros - respondeu ela. - Nada pelo que valha a pena matar.
Gray revirou os olhos, mas se segurou para não retrucar. O humor de Fiona havia acabado. Ele preferia o divertimento vingativo e a raiva maníaca da garota. Com o encarceramento deles ali, ela parecia estar retraída. Gray suspeitava que ela havia investido toda sua dor e energia no estratagema para obter a Bíblia, seu pequeno ato de vingança contra o assassino da avó. E agora, no escuro, a realidade estava manifestando-se.
O que ele podia fazer?
Pegou papel e caneta e procurou algum meio de mantê-la concentrada no presente. Desenhou outro símbolo, a pequena tatuagem no dorso da mão do arrematante.
Ele o empurrou para ela.
- E o que você me diz deste símbolo?
Com um suspiro ainda mais alto, mais dramático, ela tornou a inclinar-se para a frente, a fim de olhar o desenho, e sacudiu a cabeça.
Um trevo-de-quatro-folhas. Eu não sei. O que será que isso... espere... - Ela pegou o bloco de anotações e olhou mais de perto. Seus olhos arregalaram-se. - Eu vi isto antes!
Onde?
Num cartão de visita - disse Fiona. - Só que não era bem assim, era só um contorno.
Ela pegou a caneta dele e começou a desenhar.
De quem era o cartão de visita?
Do idiota que veio meses atrás e examinou cuidadosamente nossos registros. O cara que nos trapaceou com o cartão de crédito falsificado. - Fiona continuou a desenhar. - Onde você o viu?
- Estava desenhado no dorso da mão do homem que comprou a Bíblia.
Fiona praticamente rosnou.
- Eu sabia! Então é o mesmo filho-da-puta que esteve por trás disto o tempo todo. Primeiro ele tenta roubá-la. Depois, tenta encobrir seus rastros matando Mutti e queimando a livraria por completo.
Você se lembra do nome no cartão de visita? - indagou Gray.
Ela sacudiu a cabeça.
Apenas do símbolo. Porque o reconheci.
Ela empurrou o desenho para ele. Era um desenho com traços mais detalhados da tatuagem uniforme, revelando mais da natureza emaranhada do símbolo.
Gray deu um tapa de leve na página.
- Você reconheceu isto?
Fiona fez um aceno positivo de cabeça.
- Eu coleciono broches. Claro que não podia usá-los com estas roupas sem graça.
Gray lembrou-se da jaqueta dela, com capuz, a que ela estava usando quando a viu pela primeira vez, enfeitada com buttons de todas as formas e tamanhos.
- Eu passei por uma fase celta - disse Fiona. - Era o único estilo de música que eu ouvia, e a maioria dos meus broches tinha desenhos celtas.
- E este símbolo aqui?
- É chamado de Quadrado da Terra ou Cruz de São João. Supõe-se que ele seja protetor, clamando por força aos quatro cantos da Terra. - Ela tocou nos círculos em forma de folha de trevo. - É por isso que ele às vezes é chamado de laço protetor, cujo objetivo é proteger você.
Gray concentrou-se, mas não encontrou nenhum significado na pista.
- Foi por isso que eu disse a Mutti para confiar nele - disse Fiona. - Ela estava de novo sem ânimo e sua voz havia se reduzido a um sussurro, como se ela estivesse com medo de falar. - Ela não gostou do homem à primeira vista. Mas quando eu vi o símbolo no cartão dele, pensei que ele devia ser um cara legal.
- Você não tinha como saber.
- Mutti sabia - disse ela asperamente. - E agora ela está morta. Por minha causa. Culpa e raiva ecoaram nas palavras dela.
- Isso é um absurdo. - Ele aproximou-se e envolveu-a com um braço. - Sejam quem forem essas pessoas, elas estavam determinadas desde o começo. Você sabe disso. Elas teriam encontrado um modo de obter essa informação de vocês. Elas não teriam aceitado um não como resposta. Se você não tivesse convencido sua avó a deixá-los examinar os registros, elas poderiam ter matado vocês duas na hora.
Fiona encostou-se nele.
Sua avó...
Ela não era minha avó - interrompeu ela, a voz fingida.
Gray havia imaginado o mesmo, mas permaneceu calado, deixando Fiona falar.
- Ela me flagrou quando eu tentava roubar alguns itens na livraria dela há dois anos. Mas não chamou a polícia; em vez disso, preparou uma sopa para mim. Cevada com frango.
Gray não precisava enxergar no escuro para saber que Fiona havia dado um ligeiro sorriso.
Ela era assim. Sempre ajudava crianças de rua. Sempre acolhia pessoas e animais perdidos.
Como Bertal.
E eu. - Ela ficou em silêncio por um longo momento. - Meus pais morreram num acidente de automóvel. Eram imigrantes paquistaneses, de Punjab. Nós tínhamos uma pequena casa em Waltham Forest, em Londres, até mesmo um jardim. Conversamos sobre ter um cachorro. Então... então eles morreram.
Sinto muito, Fiona.
Minha tia e meu tio me acolheram... eles tinham acabado de chegar de Punjab. - Outra longa pausa. - Depois de um mês, ele começou a entrar no meu quarto à noite.
Gray fechou os olhos. Deus do céu...
Por isso fugi... Eu vivi alguns anos nas ruas de Londres, mas arrumei encrenca com as pessoas erradas. Tive de fugir. Então saí da Inglaterra e viajei de mochila pela Europa. Dando um jeito de sobreviver. E vim parar aqui.
E Grette acolheu você.
E agora ela também está morta. - De novo aquele tom de culpa. - Talvez eu só traga azar.
Gray abraçou Fiona com mais força.
Eu vi a maneira como ela olhava para você. A sua entrada na vida dela não foi azar. Ela amava você.
Eu... eu sei. - Fiona virou o rosto. Seus ombros sacudiam enquanto ela soluçava em silêncio.
Gray apenas continuou a abraçá-la. Por fim, ela virou-se e enterrou o rosto no ombro dele. Agora era a vez de Gray lutar contra o remorso. Grette fora uma mulher tão generosa, protetora e instintiva, gentil e empática. E agora estava morta. Ele tinha seu próprio sentimento de culpa para contrabalançar naquele caso. Se tivesse agido com mais cautela... sido menos imprudente durante sua investigação...
E o preço da sua negligência.
Os soluços de Fiona continuaram.
Mesmo que o assassinato e o incêndio tivessem sido planejados independentemente de seus interrogatórios descuidados, Gray julgava suas ações posteriores. Ele havia fugido, abandonado Fiona ao caos, deixado-a com sua dor. Lembrou-se dela gritando para ele - primeiro com raiva, depois implorando.
Ele não havia parado.
Eu não tenho ninguém agora - Fiona chorou mansamente em seu paletó.
Você tem a mim.
Ela afastou-se, os olhos cheios de lágrimas.
Mas você também vai partir.
E você vem comigo.
Mas você disse...
Esqueça o que eu disse. - Gray sabia que a garota já não estava segura ali. Ela seria executada, se não para obterem a Bíblia, então para calarem-na. Ela sabia demais. Como... - Você mencionou que sabia o endereço que constava no recibo de venda da Bíblia.
Fiona o encarou com visível suspeita. Os soluços dela haviam cessado. Ela afastou-se e olhou para Gray, avaliando se a solidariedade dele era uma cilada para fazê-la revelar o que sabia. Ele entendia a cautela da garota agora, uma cautela nascida das ruas.
Gray sabia que não devia forçar a barra.
- Um amigo está vindo para cá num jato privado. Ele deve chegar à meia-noite. Podemos entrar em contato com ele e voar para algum lugar. Você pode me dizer aonde temos de ir assim que estivermos a bordo.
Ele estendeu a mão, pronto para selar o acordo.
Com um olho semicerrado de suspeita, Fiona apertou a mão dele.
- Fechado.
Era um pequeno remendo nos erros que Gray cometera naquele dia, mas era um começo. Ela teria de ser livrada do perigo, e estaria segura assim que embarcasse no avião. Poderia permanecer a bordo, sob guarda, enquanto ele e Monk fizessem mais investigações.
Fiona empurrou o bloco de anotações de volta para ele, com todos os símbolos sem sentido.
- Só para seu governo... precisamos ir a Paderborn, no oeste da Alemanha. Assim que estivermos lá, eu lhe darei o endereço exato.
Gray considerou a concessão dela uma pequena dose de confiança.
- Para mim está muito bom.
Ela fez um aceno de cabeça.
O acordo foi fechado.
- Agora, se você pudesse fazer esta música idiota parar - acrescentou ela com um gemido cansado.
No mesmo segundo a canção monótona e incessante parou. O zumbido constante e baixo das máquinas e a trepidação dos carros sobre os trilhos também cessaram. No silêncio repentino, passos soaram do lado de fora da porta estreita.
Gray ficou em pé.
- Fique atrás de mim - sussurrou ele.
Fiona recolheu a Bíblia e a enfiou na bolsa. Gray pegou um vergalhão que encontrara antes.
A porta foi aberta e uma luz forte brilhou nos olhos deles.
O homem gritou ríspido e assustado, em dinamarquês.
- O que vocês dois estão fazendo aqui?
Gray aprumou-se e baixou a barra. Ele quase havia trespassado o homem, que usava um uniforme da manutenção.
- O brinquedo está fechado - disse o homem, dando um passo para o lado. - Saiam daqui antes que eu chame a segurança.
Gray obedeceu. O homem fechou a cara para ele quando ele passou. Gray sabia a impressão que a cena dava. Um homem mais velho escondido com uma adolescente num cubículo de um parque de diversões.
- Você está bem, senhorita? - perguntou o empregado.
Ele devia ter notado os olhos inchados e as roupas rasgadas dela.
- Estamos bem. - Ela enganchou o braço no de Gray e requebrou um pouco os quadris. - Ele pagou por fora por este passeio.
O homem franziu o cenho com repugnância.
- A porta dos fundos é do outro lado. - Ele apontou para um sinal de saída em néon. - Não me deixem flagrar vocês aqui dentro de novo. É perigoso ficar vadiando aqui atrás.
Não tão perigoso quanto lá fora. Gray dirigiu-se à porta e a empurrou. Consultou o relógio. Passava pouco das 11. Só dali a uma hora o parque fecharia. Talvez eles precisassem tentar sair agora.
Quando dobraram a esquina da estrutura da mina, viram que aquela área do parque estava deserta. Não era de admirar que o brinquedo tivesse fechado cedo.
Gray ouviu música e gritos de alegria vindos da direção do lago do parque.
- Todo mundo está se reunindo para a parada elétrica - disse Fiona. - Ela encerra as atividades do parque, junto com os fogos de artifício.
Gray rezou para que os fogos de artifício daquela noite não terminassem com pessoas sangrando e soltando gritos estridentes. Ele examinou a área ao redor de onde estavam. Lanternas iluminavam a noite. Tulipas enchiam os canteiros até transbordarem. Os passeios e rampas de concreto ali tinham pouquíssimo movimento. Eles estavam expostos demais.
Gray avistou dois seguranças do parque, um homem e uma mulher, caminhando a passos largos de maneira um pouco intencional demais na direção deles. Será que, afinal, o operário da manutenção havia alertado a segurança?
- É hora de desaparecermos de novo - Gray disse e arrastou Fiona na direção oposta à dos guardas que se aproximavam. Ele seguiu para onde a multidão estava concentrada. Eles andavam rápido, permanecendo nas sombras embaixo das árvores. Apenas dois visitantes ansiosos para assistir à parada.
Eles saíram dos passeios do jardim e entraram na praça central com seu amplo lago, resplandecente com todas as luzes e lanternas dos pavilhões e palácios à volta. No outro lado do caminho, ergueu-se um aplauso quando o primeiro dos carros alegóricos da parada chegou à praça. Com altura equivalente à de três andares, ele representava uma sereia numa rocha, ornamentada com luzes verde-esmeralda e azul-celeste. Um braço acenava dando as boas-vindas. Outros carros alegóricos vieram atrás deste, resplandecentes com bonecos animados de cinco metros de altura. Flautas soavam alegremente, tambores rufavam.
- A parada de Hans Christian Andersen - disse Fiona -, em comemoração aos duzentos anos de nascimento do escritor. Ele é o santo padroeiro da cidade.
Gray seguiu com ela ao encontro da multidão que se enfileirava no trajeto da parada ao redor do lago central. Refletida nas águas calmas, uma flor incandescente gigante explodiu no céu, acompanhada por um som abafado. Cascatas fantásticas de serpentinas cintilantes assobiaram e espiralaram no céu noturno.
Aproximando-se da multidão que se avolumava para assistir à parada, Gray ficou vigiando as imediações todo o tempo. Ele procurava qualquer figura pálida vestida de preto. Porém, estava em Copenhague, onde uma a cada cinco pessoas era loura. E preto, ao que parecia, era a nova moda daquela estação na Dinamarca.
O coração de Gray batia no compasso dos tambores. Uma curta salva de fogos de artifício esmurrou seu tórax e tímpanos com suas concussões. Mas eles finalmente alcançaram a multidão.
Diretamente acima, outra flor flamejante, com chuviscos de fogo, crepitou e explodiu.
Fiona tropeçou.
Gray a segurou, sentindo os ouvidos zumbirem.
Quando os ecos da explosão desvaneceram-se, Fiona olhou fixamente para ele, chocada. Ela ergueu uma das mãos e a estendeu para ele, enquanto ele a puxava para o meio da multidão.
Sua palma estava coberta de sangue.
Himalaia
Painter acordou na escuridão, o fogo da lareira apagado. Por quanto tempo ele dormira? Sem janelas, parecia que uma eternidade. Mas ele sentiu que não havia passado muito tempo.
Alguma coisa o havia acordado.
Ele apoiou-se num cotovelo.
No outro lado da cama, Lisa também estava acordada, olhando para a porta.
- Você sentiu...?
O quarto estremeceu com uma violenta trepidação. O som distante de uma explosão chegou até eles e foi sentido nas entranhas.
Painter jogou os cobertores para trás.
- Problemas.
Ele apontou para a pilha de roupas limpas fornecida por seus anfitriões. Eles vestiram-se às pressas: roupa de baixo comprida, jeans pesados desgastados e suéteres enormes.
No outro lado do quarto, Lisa acendeu as velas ao lado da cama e enfiou os pés num par de botas de couro resistente, um modelo masculino. Eles aguardaram em silêncio durante algum tempo... talvez vinte minutos, ouvindo o tumulto passar aos poucos.
Ambos voltaram a afundar na cama.
- O que você acha que aconteceu? – sussurrou Lisa.
Gritos estridentes ecoaram.
- Não sei..., mas acho que estamos prestes a descobrir.
Botas andavam pesadamente no corredor de pedra além da grossa porta de carvalho. Painter levantou-se e aguçou o ouvido.
- Estão vindo para cá - disse ele.
Confirmando isso, uma batida forte fez a porta chacoalhar. Erguendo um braço, Painter segurou Lisa atrás de si e também recuou. Um forte rangido soou em seguida, soltando a barra de ferro que os trancava ali dentro.
A porta foi aberta com um empurrão. Quatro homens precipitaram-se dentro do quarto, com rifles apontados para eles. Um quinto entrou. Ele se parecia bastante com o assassino chamado Gunther. Um homem enorme, de pescoço grosso, cabelos curtos e espetados, brancos ou grisalhos. Usava calça marrom folgada enfiada em botas pretas que iam até o meio das coxas e uma camisa marrom combinando.
Exceto pela ausência da braçadeira com a suástica, parecia-se com um membro de uma tropa de assalto nazista.
Ou melhor, com um ex-membro de uma tropa de assalto nazista.
Ele também tinha a pele pálida como Gunther, só que alguma coisa parecia errada. O lado esquerdo de seu rosto era pendente como o de uma vítima de derrame cerebral. Seu braço esquerdo tremeu com uma paralisia quando ele apontou para a porta.
- Kommen Sie mit mir! - disse ele rápida e asperamente.
Eles estavam recebendo ordens para sair. O líder enorme virou-se e afastou-se a passos largos, como se qualquer pensamento de desobedecer fosse simplesmente incogitado. Por outro lado, os rifles nas costas deles decerto reforçavam essa suposição.
Painter fez um aceno de cabeça para Lisa. Ela juntou-se a ele enquanto saíam, seguidos pelos guardas. O corredor era estreito, esculpido na rocha, e sua largura mal dava para duas pessoas. A única iluminação vinha das lanternas presas aos rifles dos guardas, projetando sombras à frente deles. Estava nitidamente mais frio no corredor do que no quarto deles, longe, porém, de ser um frio glacial.
Não os levaram longe. Painter calculou que eles foram conduzidos em direção à fachada da frente do castelo. E estava certo. Ele até ouviu um distante assobio do vento. A tempestade devia ter começado outra vez lá fora.
Adiante, o guarda corpulento bateu a uma porta de madeira entalhada. Uma resposta abafada o encorajou a abri-la. Uma luz morna inundou o corredor, junto com um sopro de calor.
O guarda entrou e segurou a porta.
Painter entrou com Lisa no aposento e observou o ambiente. Parecia tratar-se de uma sala de leitura e biblioteca rústica. Tinha dois pavimentos, e as quatro paredes eram cobertas de prateleiras de livros abertas. O piso superior era cercado por uma sacada de ferro, pesada e sem adornos. O único jeito de subir era por uma escada de mão.
A fonte de calor do aposento era uma grande lareira de pedra, na qual ardia uma pequena fogueira. Uma pintura a óleo de um homem usando um uniforme alemão os contemplava.
- Meu avô - disse Anna Sporrenberg, ao notar a atenção de Painter. - Ela ergueu-se detrás de uma enorme escrivaninha de madeira esculpida. Também vestia jeans escuro e um suéter. Aparentemente, eram os trajes usados como código no castelo. - Ele se apropriou do castelo depois da guerra.
Ela acenou para que eles se dirigissem a um círculo de poltronas com braços em frente à lareira. Painter notou as manchas escuras sob os olhos dela. Parecia que ela não havia dormido. Ele também sentiu o cheiro de fumaça nela, um odor parecido com o de cordite.
Interessante.
Painter olhou-a nos olhos quando ela se aproximou das pesadas poltronas. Os pêlos de sua nuca ficaram arrepiados. Apesar da exaustão, os olhos dela eram brilhantes e penetrantes. Painter reconheceu um lampejo ardiloso, predatório e calculista. Ali estava alguém para se observar atentamente. Ela também parecia estar avaliando-o atentamente, julgando-o.
O que estava acontecendo?
- Setzen Sie sich, bittel - disse ela, indicando as poltronas com um aceno de cabeça.
Painter e Lisa sentaram-se em cadeiras lado a lado. Anna escolheu uma em frente a eles. O guarda, de braços cruzados, manteve seu posto junto à porta fechada. Painter sabia que os outros guardas ainda esperavam do lado de fora. Ele esquadrinhou a sala à procura de rotas de fuga. A outra única saída era uma janela envidraçada, solidamente fixada, fosca até a obscuridade, com grades de ferro. Não era possível fugir por ali.
Painter voltou sua atenção para Anna. Talvez houvesse outra saída. A conduta de Anna era cautelosa, mas eles haviam sido chamados ali por um motivo. Ele precisava do máximo de informações possível, mas teria de obtê-las com muita habilidade. Ele notou a grande semelhança entre Anna e o homem na tela a óleo. Poderia começar por esse assunto.
- A senhora disse que seu avô se apropriou do castelo - disse Painter, sondando em busca de respostas, permanecendo em terreno seguro. - Quem foi o dono antes dele?
Anna recostou-se na poltrona, obviamente aliviada por sentar-se em frente ao fogo por um momento tranqüilo. No entanto, era concentrada, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos deslocando-se para Lisa, depois de volta para ele.
- O Granitschlob tem uma história longa e sombria, sr. Crowe. O senhor sabe quem foi Heinrich Himmler?
O subcomandante de Hitler?
Ja. O chefe da SS. Também um carniceiro e um louco.
Painter ficou surpreso de ouvir aquela definição. Será que aquilo era um truque? Ele sentiu um jogo em curso. Só que não conhecia as regras... pelo menos, ainda não. Anna prosseguiu:
- Himmler acreditava que era a reencarnação do rei Henrique, um rei germânico dos saxões que viveu no século X. Até pensava que recebia mensagens psíquicas dele.
Painter acenou com a cabeça.
- Eu soube que ele se interessava pelo oculto.
- Era obcecado, na verdade. - Anna deu de ombros. - Era uma paixão de muitos na Alemanha, uma paixão que remontava à Madame Blavatsky, que cunhou o termo ariano. Ela afirmava que havia obtido conhecimento secreto enquanto estudava num mosteiro budista. Mestres em ciências ocultas supostamente lhe ensinaram que a humanidade havia evoluído de uma raça superior e um dia voltaria a evoluir.
- A proverbial raça superior - disse Painter.
- Exatamente. Um século mais tarde, Guido von List mesclou as crenças dela com a mitologia germânica, aprimorando uma origem nórdica como essa mítica raça ariana.
E o povo alemão engoliu essa história - disse Painter, provocando-a um pouco.
E por que não? Depois da nossa derrota na Primeira Guerra Mundial, uma idéia dessas era um conceito promissor. Ela foi adotada por um grande número de sociedades secretas na Alemanha. A Sociedade Thule, a Sociedade Vril, a Ordem dos Novos Templários.
E, se bem me lembro, o próprio Himmler pertencia à Sociedade Thule.
Sim, o Reichsführer acreditava plenamente nessa mitologia. Até na magia das runas nórdicas. Foi por isso que ele escolheu a dupla de runas sig, raios gêmeos, para representar sua própria ordem de sacerdotes-guerreiros, a Schutzstaffel, a SS. Pelo estudo da obra de Madame Blavatsky, ele acabou convencido de que foi no Himalaia que surgiu a raça ariana, e de que seria aqui que ela ressurgiria.
Lisa falou pela primeira vez.
- Então foi por isso que Himmler enviou expedições ao Himalaia.
Ela trocou um olhar com Painter. Eles haviam conversado sobre isso antes. Então eles não estavam tão enganados. Mas Painter ainda pensava na afirmação enigmática de Anna.
Nós não somos nazistas. Não mais.
Ele estimulou a mulher a falar enquanto ela permanecia sociável. Sentiu que havia um plano, mas não tinha a menor idéia de aonde ele estava levando. Odiava ficar no escuro, mas se recusava a demonstrar isso.
Mas o que Himmler estava procurando aqui? - perguntou ele. - Alguma tribo perdida de arianos? Um Xangrilá com supremacia dos brancos?
Não exatamente. Sob o pretexto de pesquisas antropológicas e zoológicas, Himmler enviou membros da sua SS a fim de procurar indícios de uma raça superior há muito perdida. Ele acabou convencido de que encontraria vestígios da antiga raça aqui. E, apesar de não ter encontrado nada, ficou mais determinado, foi levado ainda mais à loucura. Quando começou a construir uma fortaleza SS na Alemanha, um castelo pessoal chamado Wewelsburg, ele ergueu um castelo idêntico aqui, transportando de avião mil trabalhadores escravos dos campos de concentração alemães. Também despachou por navio uma tonelada métrica de lingotes de ouro, para nos tornar auto-suficientes. Conforme fiquei sabendo, com investimentos cuidadosos.
- Mas por que construir aqui? - perguntou Lisa. Painter podia imaginar.
- Ele acreditava que a raça ariana renasceria nestas montanhas. E estava construindo a primeira cidadela para essa raça.
Anna fez um aceno de cabeça, como que dando um ponto de vantagem numa competição esportiva.
Ele também acreditava que os mestres em ciências ocultas que um dia ensinaram Madame Blavatsky ainda estavam vivos. Ele estava construindo uma fortaleza para eles, um lugar central para reunir todo esse conhecimento e experiência.
Esses mestres em ciências ocultas deram as caras por aqui alguma vez? -perguntou Painter em tom zombeteiro.
Não, mas meu avô sim, no fim da guerra. E trouxe consigo algo milagroso, algo que poderia tornar realidade o sonho de Himmler.
- E o que era isso? - perguntou Painter. Anna sacudiu a cabeça.
- Antes de prosseguirmos com a conversa, eu devo fazer-lhe uma pergunta. E gostaria de receber uma resposta honesta.
Painter franziu o cenho por causa da súbita mudança de rumo.
A senhora sabe que eu não posso prometer isso.
Anna sorriu pela primeira vez.
Eu agradeço até essa honestidade, sr. Crowe.
- Então, qual é a sua pergunta? - indagou ele, curioso. Ali devia estar o xis do problema.
Anna olhou fixamente para ele.
- O senhor está doente? Estou com dificuldade para reconhecer. O senhor parece muito lúcido.
Os olhos de Painter arregalaram-se. Ele não havia esperado aquela pergunta. Antes que ele pudesse replicar, Lisa respondeu:
Sim.
Lisa... - advertiu Painter.
- Ela saberia de qualquer modo. Não é necessário ser médico para saber. - Lisa virou-se para Anna. - Ele está apresentando sinais vestibulares, nistagmo e desorientação.
- E o que a senhora me diz de enxaquecas com lampejos visuais?
Lisa confirmou com um aceno de cabeça.
- Era o que eu pensava. - Ela recostou-se. A informação pareceu tranqüilizar a mulher.
Painter não viu com bons olhos. Por quê?
Lisa pressionou.
O que o está afetando? Eu acho que nós... que ele tem o direito de saber.
Isso requer um pouco mais de discussão, mas eu posso lhe dar o prognóstico dele.
E qual é esse prognóstico?
- Ele morrerá daqui a três dias, da maneira mais horrível.
Painter esforçou-se para não reagir.
Lisa permaneceu igualmente imperturbável, o tom da voz objetivo.
- Existe cura?
Anna olhou para Painter e depois de novo para Lisa.
- Não.
Copenhague, Dinamarca
Ele tinha de levar a garota para um lugar seguro, a um médico. Gray sentiu o sangue pingar da ferida causada pelo tiro que atingira Fiona e encharcava a blusa dela enquanto ele a amparava com o braço.
A multidão se apertava em torno deles. Câmeras acendiam-se com o clarão dos flashes, o que deixava Gray nervoso. Música e canto ecoaram do lago quando a parada elétrica passou com seus carros alegóricos. Bonecos gigantes animados atingiam uma altura imensa, inclinavam-se para a frente e pendiam sobre a cabeça da multidão.
Fogos de artifício continuavam a ressoar e explodir sobre o lago.
Gray ignorou tudo aquilo. Permanecia abaixado, ainda procurando o atirador de tocaia que havia ferido Fiona. Ele havia dado uma olhadela no ferimento da garota. Apenas uma escoriação, pele queimada e sangue gotejando, mas ela precisava de cuidados médicos. A dor empalideceu o rosto dela.
O tiro tinha vindo de trás, o que significava que o atirador tinha de estar posicionado entre as árvores e arbustos. Eles tinham tido sorte de chegar até a multidão. No entanto, por terem sido avistados, os perseguidores provavelmente estavam indo em direção a eles. Com certeza já havia alguns em meio à multidão.
Consultou o relógio. Faltavam 45 minutos para o parque fechar.
Gray precisava de um plano... de um novo plano. Eles não podiam mais esperar até a meia-noite para fugir enquanto a multidão estivesse saindo do parque. Eles seriam descobertos antes disso. Tinham de sair agora.
Mas o trecho do parque entre a área da parada e a saída estava quase deserto, porque todos os visitantes haviam se reunido ao redor do lago. Se tentassem uma corrida desesperada rumo à saída, ficariam expostos outra vez, flagrados num espaço aberto. E, sem dúvida, o portão do parque também estava sendo vigiado.
Ao lado dele, Fiona mantinha uma das mãos pressionada sobre o local do ferimento. O sangue escorria entre seus dedos. Os olhos dela, cheios de pânico, encontraram os dele.
- O que nós vamos fazer? - ela sussurrou para ele.
Gray continuou andando com a garota através da multidão. Ele tinha apenas uma idéia - perigosa, mas a cautela não os faria sair do parque. Ele virou Fiona de frente para ele.
Preciso ensangüentar minhas mãos.
O quê?
Ele apontou para a blusa dela.
Franzindo o cenho, ela ergueu a barra da blusa.
- Tenha cuidado...
Ele removeu com suavidade o sangue que pingava da ferida esfolada. Ela encolheu-se e respirou ofegante.
Sinto muito - disse ele.
Seus dedos estão congelando - murmurou ela.
Você está bem?
Vou viver. Aquele era o objetivo.
Terei de carregar você daqui a pouco - disse Gray, levantando-se.
O que você está...?
Simplesmente esteja pronta para gritar quando eu lhe disser.
Ela enrugou o nariz, confusa, mas concordou com um aceno de cabeça.
Ele esperou o momento certo. Flautas e tambores começaram a soar a distância. Gray empurrou Fiona na direção dos portões principais. Após passarem por um grupo de estudantes, Gray avistou uma figura familiar numa capa impermeável, o braço numa tipóia, o assassino de Grette. Ele avançava com dificuldade através do grupo de jovens, os olhos procurando ao redor.
Gray recuou para o meio de uma multidão de alemães que cantavam uma balada em harmonia com as flautas e tambores. Quando a canção terminou, um estouro de fogos de artifício concluiu numa seqüência ensurdecedra de explosões crepitantes.
- Lá vamos nós - disse Gray, abaixando-se. Cobriu o rosto com sangue e pegou Fiona nos braços. Levantando-a, ergueu a voz e gritou em dinamarquês - Bomba!
Explosões crepitantes pontuaram seu grito agudo.
- Grite - sussurrou ele no ouvido de Fiona.
Ele ergueu o rosto outra vez, lambuzado de sangue. Conforme combinado, Fiona gemeu e soltou gritos estridentes de dor intensa nos braços dele.
- Bomba! - gritou ele de novo.
Rostos voltaram-ne na direção dele. Fogos de artifício estouravam. O sangue fresco cintilava em seu rosto. A princípio, ninguém se mexeu. Em seguida, como uma onda que reflui, uma pessoa recuou, colidindo com outra. Gritos confusos ergueram-se. Mais pessoas começaram a andar para trás.
Gray seguiu atrás das pessoas que se afastavam, permanecendo entre as que mais estavam em pânico.
Fiona gritava e se debatia. Ela moveu um braço, o sangue pingando dos dedos.
A confusão espalhou-se rapidamente. O berro de Gray foi como uma fagulha que atingiu material altamente inflamável, intensificado pelos ataques em Londres e na Espanha. Mais gritos "Bomba!" ecoaram através da multidão, transmitidos de boca em boca.
Como o estouro de uma boiada, a massa entrou em polvorosa e as pessoas chocaram-se umas contra as outras. A claustrofobia aumentava a ansiedade. Os fogos de artifício extinguiram-se acima, porém, àquela altura, gritos de medo irrompiam ao longo do trajeto da parada. Quando uma pessoa fugia, mais duas seguiam-na, numa ação reflexa que aumentava exponencialmente. Pés golpeavam o pavimento, batendo em retirada, indo em direção à saída.
Um pingo transformou-se numa onda.
A debandada em direção à saída começou.
Gray deixou se levar por ela, com Fiona nos braços. Ele rezou para que ninguém fosse pisoteado. Mas, até então, as pessoas em retirada não estavam totalmente em pânico. Com o término do estourar dos fogos de artifício, reinava mais confusão que horror. No entanto, o fluxo da multidão dirigia-se às pressas para o portão principal.
Gray pôs Fiona no chão, deixando os braços livres. Ele removeu o sangue do rosto com a manga de seu paletó Armani. Fiona permanecia ao seu lado, com uma das mãos segurando o cinto dele a fim de continuar presa a ele no meio da multidão.
O portão apareceu adiante.
Gray inclinou a cabeça na direção dele.
Se algo acontecer... corra. Continue em frente.
Eu não sei se vou conseguir. Meu lado dói pra caramba.
Gray notou que ela estava mancando, ligeiramente curvada.
Um pouco à frente, ele viu seguranças tentando controlar a multidão que saía pelos portões, evitando que o empurra-empurra esmagasse alguém. Enquanto observava, avistou dois guardas um pouco mais afastados, que visivelmente não ajudavam a controlar a multidão. Um rapaz e uma moça, ambos com cabelos branco-alourados. Os arrematantes da casa de leilões. Disfarçados, vigiavam os portões. Ambos traziam pistolas no coldre, as palmas das mãos encostadas nelas.
Apenas por um momento, os olhos da mulher encontraram os dele na multidão.
Mas se desviaram.
Depois voltaram a mover-se rapidamente na direção dele.
Reconhecimento.
Gray começou a andar para trás, através da multidão, lutando contra a corrente.
O que está acontecendo? - indagou Fiona, avançando atrás dele.
Estamos voltando. Precisamos encontrar outro caminho.
Como?
Gray afastou-se devagar para o lado, nadando contra a corrente. Estava difícil demais recuar. Um instante depois, saiu do meio da multidão. Apenas um punhado de pessoas ainda se apressava ao redor dele, uma pequena contracorrente na corrente maior.
Eles precisavam de melhor cobertura.
Gray viu que eles estavam próximos do trajeto da parada, agora deserto. Os carros alegóricos haviam parado, com as luzes ainda piscando, mas não havia música. Parecia que o pânico havia chegado até os condutores dos carros alegóricos. Eles haviam abandonado os carros e fugido. Até mesmo os seguranças tinham ido para os portões.
Gray avistou a porta aberta da cabine de um dos carros.
- Por aqui.
Ele meio que carregou Fiona para longe da multidão e correu o mais depressa possível rumo ao carro. Um boneco gigante iluminado, em forma de um pato desengonçado com uma cabeça desproporcional, elevava-se acima da cabine. Gray reconheceu a figura. Do conto de fadas O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen.
Eles mergulharam sob uma de suas asas erguidas, sem dúvida destinadas a bater, resplandecente com luzes amarelas que piscavam. Gray ajudou Fiona a entrar na cabine, esperando receber um tiro nas costas a qualquer momento. Ele entrou em seguida e fechou a porta, batendo-a do modo mais silencioso possível.
Quando olhou pelo pára-brisa, foi grato a si mesmo por sua cautela.
Uma figura apareceu adiante, saindo da multidão, vestida de preto. O assassino de Grette. Ele não se deu o trabalho de esconder sua espingarda de caça. Toda a atenção havia se desviado para a frente do parque. Ele circundou a multidão que recuava, olhando fixamente na direção do lago e do circuito da parada.
Gray abaixou-se com Fiona.
O homem passou a poucos metros de distância e continuou seguindo a fila de carros alegóricos abandonados.
Essa foi por pouco - sussurrou Fiona. - Nós deveríamos...
Psiu.
Gray pressionou um dedo nos lábios dela. O cotovelo dele empurrou uma alavanca. Alguma coisa deu um clique no painel de instrumentos. Ai, que merda...
Os alto-falantes embutidos no boneco acima começaram a grasnar:
- QUEN, QUEN..., QUEN...
O Patinho Feio havia despertado.
E todos sabiam disso.
Gray reergueu-se. A cerca de trinta metros de distância, o pistoleiro deu meia-volta. Eles não tinham onde se esconder agora.
De repente, o motor da cabine roncou. Olhando de relance, Gray viu Fiona sentar-se e pisar na embreagem.
- Encontre a chave da ignição - disse ela, e engrenou a marcha.
O carro alegórico deu um solavanco para a frente, saindo da fila.
- Fiona, me deixe...
- Você dirigiu da última vez. E veja onde viemos parar. - Ela avançou direto para o pistoleiro com a espingarda. - Além do mais, eu tenho uma dívida com esse filho-da-puta.
Então ela também o havia reconhecido. O homem que havia assassinado sua mãe adotiva. Ela havia engrenado a segunda quando o homem ergueu a espingarda. Fia partiu para cima dele, indiferente à ameaça.
Gray procurou algum modo de ajudar, inspecionando a cabine.
Tantas alavancas.
O assassino disparou.
Gray encolheu-se; porém, antevendo, Fiona já havia dado uma guinada no volante. Um canto do pára-brisa trincou, formando uma teia de aranha a partir do grande furo produzido pelo projétil. Fiona girou o volante para o outro lado, tentando atropelar o homem.
Com o giro súbito, o carro alegórico, mal equilibrado, tombou sobre duas rodas.
- Segure-se! - gritou Fiona.
O carro rapidamente voltou a equilibrar-se nas quatro rodas, mas isso deu ao homem um momento extra para dar um salto para a esquerda. Incrivelmente ágil, ele já preparava sua espingarda, planejando disparar à queima-roupa através da janela lateral enquanto o carro alegórico passava.
Eles não tinham tempo para manobrar e sair do caminho.
Voltando sua atenção para a fileira de alavancas, Gray segurou a situada mais à esquerda. Só podia fazer sentido. Ele a puxou para baixo. As engrenagens rangeram. A asa esquerda do patinho, erguida um instante antes, bateu para baixo. Ela acertou o pistoleiro no pescoço, derrubando-o de lado, despedaçando vértebras. O homem foi erguido no ar e arremessado a distância.
- Siga para os portões! - exortou Gray.
O Patinho Feio sentiu o gosto de sangue pela primeira vez.
- QUEN, QUEN... QUEN, QUEN...
O apito da sirene do carro alegórico desobstruiu um caminho. As pessoas dispersaram-se para os lados. Os seguranças foram imprensados pela multidão. Inclusive os disfarçados. O portão de serviço ao lado da entrada principal, que havia sido escancarado para facilitar a fuga das pessoas, permanecia aberto.
Fiona avançou na direção dele.
O Patinho passou por ele, despedaçando tudo, rasgando sua mortífera asa esquerda. A cabine estremeceu, e eles chegaram à rua. Fiona afastou-se dali.
- Vire na primeira esquina - disse Gray, apontando.
Ela obedeceu, reduzindo a marcha na curva como uma profissional. O patinho dobrou a esquina. Depois de mais duas curvas, Gray insistiu com ela para que reduzisse a velocidade.
Nós não podemos continuar dirigindo esta coisa - disse ele. - Ela chama muito a atenção.
Você acha? - disse Fiona, olhando para ele e sacudindo a cabeça para provocá-lo.
Gray encontrou uma chave inglesa longa num jogo de ferramentas. Ele mandou-a parar no topo de um morro e acenou para que ela saísse do carro. Mudando de lugar, pisou na embreagem, escorou o acelerador com a chave inglesa e saltou para o meio-fio.
O Patinho Feio partiu, as luzes brilhando, mutilando os carros estacionados à medida que descia o morro. Onde quer que ele finalmente viesse a parar, o local da colisão distrairia a atenção de quaisquer pessoas no encalço deles.
Gray seguiu na direção oposta. Eles estariam em segurança por algumas horas. Ele consultou o relógio. Tempo suficiente para chegarem ao aeroporto. E até Monk. Seu avião aterrissaria em breve.
Fiona mancava ao lado dele, olhando para trás.
Atrás deles, o Patinho grasnava na noite:
QUEN, QUEN... QUEN, QUEN...
Vou sentir saudades dele - disse Fiona.
Eu também.
Himalaia
Painter estava em pé junto à lareira. Ele se levantara da poltrona ao ouvir o pronunciamento de sua sentença de morte.
O guarda corpulento deu três passos para a frente quando Painter ficou em pé, mas Anna fez o homem recuar ao erguer uma das mãos.
- Nein, Klaus. Alles istganz recht.
Painter esperou o guarda, Klaus, retornar a seu posto junto à porta.
- Não existe cura?
Anna acenou com a cabeça.
Eu disse a verdade.
Então, por que Painter não está exibindo a mesma loucura dos monges? - perguntou Lisa.
Anna olhou para Painter.
- O senhor estava longe do mosteiro, ja? Na aldeia afastada. O senhor ficou menos exposto. Em vez da rápida degeneração neurológica, o senhor está passando por uma deterioração do corpo mais lenta e generalizada. No entanto, trata-se de uma sentença de morte.
Anna deve ter lido algo no rosto dele.
- Embora não exista cura, existe a esperança de retardar a deterioração. No decorrer dos anos, em experimentos com animais, nós idealizamos alguns modelos promissores. Podemos prolongar sua vida. Ou pelo menos poderíamos.
- O que a senhora quer dizer? - indagou Lisa.
Anna levantou-se.
- Foi por isso que eu os chamei aqui. Para lhes mostrar. - Ela acenou com a cabeça para o guarda, Klaus, que abriu a porta. - Venham comigo. E talvez encontremos um modo de ajudar uns aos outros.
Painter estendeu uma das mãos para Lisa enquanto Anna saía da sala. Ele ardia de curiosidade. Sentia tanto uma cilada quanto um pouco de esperança. Poderia haver melhor isca? Lisa inclinou-se para ele quando se levantou.
O que está acontecendo? - ela sussurrou no ouvido dele.
Não tenho certeza.
Ele olhou de relance para Anna enquanto ela falava com Klaus. Talvez encontremos um modo de ajudar uns aos outros. Painter pensara em propor o mesmo a Anna, até discutira isso com Lisa mais cedo, fazer um acordo em troca da vida de ambos, ganhar tempo. Será que haviam escutado às escondidas a conversa deles? Instalado um aparelho de escuta em seu aposento? Ou será que os problemas simplesmente haviam piorado tanto ali a ponto de a cooperação deles ser de fato necessária? Agora ele estava preocupado.
- Isso deve ter alguma coisa a ver com a explosão que nós ouvimos - disse Lisa.
Painter concordou, indicando com a cabeça. Sem dúvida, ele precisava de mais informações. Por ora, adiou qualquer preocupação com sua própria saúde... embora fosse difícil, pois outra enxaqueca desenvolveu-se atrás de seus olhos, fazendo doer seus molares, lembrando-o de sua enfermidade a cada latejo.
Anna acenou para que eles se aproximassem. Klaus deu um passo atrás. Ele não parecia feliz. Mas, pensando bem, Painter ainda estava para ver o homem feliz. E, por algum motivo, esperava jamais vê-lo contente. O que satisfazia aquele homem envolvia gritos estridentes e derramamento de sangue.
- Por favor, acompanhem-me - disse Anna com fria polidez.
Ela saiu pela porta, flanqueada por dois dos guardas que estavam no corredor. Klaus seguiu Lisa e Painter, seguidos, por sua vez, por mais dois homens armados.
Eles foram em uma direção diferente da de sua luxuosa cela de prisão. Um túnel reto, mais largo do que qualquer um dos outros, surgiu depois de algumas curvas, estendendo-se montanha adentro. Era também iluminado por uma seqüência de lâmpadas elétricas, enfileiradas em gaiolas de arame ao longo de uma parede. Foi o primeiro sinal de quaisquer confortos modernos.
Eles desceram o corredor.
Painter sentiu o forte cheiro de fumaça no ar. Ficava mais forte à medida que eles avançavam. Ele voltou a atenção para Anna.
Quer dizer então que a senhora sabe o que me fez adoecer - disse ele.
Foi o acidente, como eu disse antes.
Um acidente envolvendo o quê? - pressionou ele.
A resposta não é fácil. Ela remonta a uma fase remota da história.
Ao tempo em que vocês eram nazistas?
Anna olhou para ele.
À origem da vida neste planeta.
- É mesmo? - disse Painter. - Então, quão longa é essa história? Lembre-se, só me restam três dias.
Ela voltou a sorrir para ele e balançou a cabeça.
Nesse caso vou dar um pulo à frente, à época em que meu avô veio pela primeira vez ao Granitschlob. No fim da guerra. O senhor está familiarizado com a agitação naquela época? Com o caos na Europa enquanto a Alemanha se desintegrava?
Tudo disponível para quem quisesse tomar posse.
E não só a terra e os recursos alemães, mas também nossas pesquisas. As forças aliadas enviaram grupos rivais, cientistas e soldados, que esquadrinharam a zona rural da Alemanha, pilhando tecnologia secreta. Era uma briga de foice. - Anna franziu a testa para eles. - Essa expressão está certa?
Lisa e Painter acenaram afirmativamente com a cabeça.
- Só a Grã-Bretanha mandou cinco mil soldados e civis, sob o codinome Força T. Força de Tecnologia. Eles diziam que seu objetivo era localizar e preservar a tecnologia alemã de pilhagem e roubo, quando na verdade pilhagem e roubo eram o verdadeiro objetivo deles, em uma competição com os seus colegas americanos, franceses e russos. Vocês sabem quem foi o fundador da Força T britânica?
Painter sacudiu a cabeça. Ele não podia deixar de comparar sua própria Força Sigma com as antigas equipes britânicas da Segunda Guerra Mundial. Saqueadores de tecnologia. Ele adoraria discutir o mesmo assunto com o fundador da Sigma, Sean McKnight. Se vivesse para isso.
Quem era o líder deles? - perguntou Lisa.
Um cavalheiro chamado comandante Ian Fleming.
O escritor que criou James Bond? - Lisa bufou com desdém.
O próprio. Dizia-se que ele moldou seu personagem em alguns dos homens de sua equipe. Isso lhes dá uma idéia da exuberância rude e despótica desses saqueadores.
O vencedor fica com os espólios da guerra - citou Painter com um dar de ombros.
Talvez. Mas era dever do meu avô proteger tanto quanto possível aquela tecnologia. Ele era oficial do Sicherheitsdienst - disse ela, olhando para Painter a fim de testá-lo.
Então o jogo não terminara. Ele estava pronto para o desafio.
- O Sicherheitsdienst era o grupo de comandos SS envolvidos na evacuação dos tesouros alemães: obras de arte, ouro, antigüidades e tecnologia.
Ela fez um aceno de cabeça para ele.
- Nos últimos dias da guerra, enquanto a Rússia avançava através das linhas orientais, meu pai recebeu o que vocês, americanos, chamam de missão obscura.
Ele recebeu ordens do próprio Heinrich Himmler, antes de o Reichsführer ser capturado e cometer suicídio.
E que ordens eram essas?
Remover, salvaguardar e destruir todas as evidências de um projeto cujo codinome era Cronos. No âmago do projeto estava um aparelho simplesmente chamado die Glocke. Ou o Sino. O laboratório de pesquisas estava oculto nas profundezas da terra, em uma mina abandonada nos montes Sudetos. Ele não tinha a menor idéia de qual era o objetivo do programa, mas viria a saber. Ele quase o destruiu na época, mas recebera ordens.
Então ele fugiu com o Sino. Como?
Foram traçados dois planos. Um era a fuga para o norte pela Noruega, o outro, para o sul, através do Adriático. Havia agentes esperando para ajudá-lo em ambas as rotas. Meu avô optou por ir para o norte. Himmler havia lhe contado sobre o Clranitschlob. Ele fugiu para cá com um grupo de cientistas nazistas, alguns haviam prestado serviços nos campos de concentração. Todos precisavam de um lugar para se esconder. Além disso, meu avô estava envolvido em um projeto ao qual poucos cientistas podiam resistir.
O Sino - concluiu Painter.
Exatamente. Ele oferecia algo que muitos cientistas na época vinham procurando por outros meios.
E o que era?
Anna suspirou e olhou para trás, para Klaus.
- A perfeição.
Ela permaneceu calada por alguns instantes, perdida numa certa tristeza privada.
O corredor finalmente terminou um pouco adiante. Duas portas gigantes de pau-ferro estavam abertas no fim dele. Além do limiar, uma escada tosca descia em espiral pelo interior da montanha. Ela havia sido esculpida na rocha, mas circundava uma coluna de aço central grossa como o tronco de uma árvore. Eles desceram serpenteando em torno dela.
Painter ergueu os olhos. A coluna perfurava a superfície do teto e continuava ainda mais alto... possivelmente até a saída do ombro da montanha. Pára-raios, pensou ele, que também sentiu um vestígio de ozônio no ar, mais forte agora que a fumaça.
Anna notou a atenção dele.
- Nós usamos a coluna para expelir energias em excesso para fora da montanha - disse ela, apontando para cima.
Painter esticou o pescoço. Ele imaginou as luzes-fantasma relatadas na área. Será que aquela era sua origem? Tanto as luzes quanto, talvez, a doença?
Contendo a raiva, ele concentrou-se nos degraus. Sua cabeça latejava, e as voltas da escada agravavam a crescente vertigem. Procurando distrair-se, ele continuou o diálogo com Anna.
- De volta à história do Sino. O que ele fazia?
Anna interrompeu seu devaneio.
A princípio, ninguém sabia. Isso veio a ser conhecido a partir das pesquisas de uma nova fonte de energia. Alguns pensavam que ele até poderia ser uma máquina do tempo rudimentar. Foi por isso que recebeu o codinome Cronos.
Viagem no tempo? - disse Painter.
O senhor deve lembrar-se - disse Anna - de que os nazistas estavam anos-luz à frente de outras nações em certas tecnologias. Foi por isso que houve essa intensa pirataria científica depois da guerra. Mas me deixe retroceder. No início do século, dois sistemas teóricos competiam entre si: a teoria da relatividade e a quântica. E, embora uma necessariamente não contradissesse a outra, até mesmo Einstein, o pai da relatividade, disse que as duas eram incompatíveis. As teorias dividiram o mundo científico em dois campos. E nós sabemos muito bem de que lado a maior parte do mundo ocidental ficou.
Na relatividade de Einstein.
Anna balançou a cabeça afirmativamente.
Que levou à fissão atômica, a bombas e à energia nuclear. O mundo inteiro se transformou no Projeto Manhattan, todo baseado na obra de Einstein. Os nazistas seguiram um caminho diferente, mas não com menos fervor. Eles tinham um equivalente próprio do Projeto Manhattan, porém baseado no outro campo teórico: a teoria quântica.
Por que eles seguiram esse caminho? - indagou Lisa.
Por um motivo simples. - Anna virou-se para ela. - Porque Einstein era judeu.
O quê?
Lembre-se do contexto da época. Einstein era judeu. Na opinião dos nazistas, isso conferia menos valor às descobertas dele. Em vez disso, os nazistas levavam a sério as descobertas físicas de cientistas alemães puros, considerando suas obras mais válidas e importantes. Os nazistas basearam seu Projeto Manhattan no trabalho de cientistas como Werner Heisenberg, Erwin Schrõdinger e, sobretudo, Max Planck, o pai da teoria quântica. Todos tinham sólidas raízes na pátria. Assim, os nazistas adotaram o método de aplicações práticas baseadas na mecânica quântica, obra que ainda hoje é considerada inovadora. Os cientistas nazistas acreditavam que uma fonte de energia poderia ser criada com base em experimentos com modelos quânticos. Algo que só hoje está sendo percebido. A ciência moderna chama isso de "energia do ponto zero".
- Ponto zero? - Lisa olhou para Painter.
Ele fez um aceno afirmativo de cabeça, pois conhecia bem esse conceito científico.
Quando alguma coisa é congelada até o zero absoluto - quase 300 graus Celsius abaixo de zero -, todo o movimento atômico cessa. Ocorre uma imobilidade total. O ponto zero da natureza. Apesar disso a energia persiste. Uma radiação de fundo que não deveria existir. A presença da energia não pôde ser adequadamente explicada pelas teorias tradicionais.
Mas a teoria quântica pode explicá-la - disse Anna com firmeza. - Ela permite que haja movimento mesmo quando a matéria está congelada a um estado de imobilidade absoluta.
Como isso é possível? - perguntou Lisa.
No zero absoluto, as partículas podem não se mover para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, mas, de acordo com a mecânica quântica, poderiam passar a existir e deixar de existir numa fração de segundo, produzindo energia. O que é chamado de energia do ponto zero.
- Passar a existir e deixar de existir? - Lisa parecia pouco convencida.
Painter assumiu o controle.
- A física quântica é um pouco esquisita. Mas, embora o conceito pareça maluco, a energia é real. Registrada em laboratórios. No mundo inteiro, cientistas procuram maneiras de ter acesso a essa energia que está no âmago de toda a existência. Ela oferece uma fonte de poder infinito, ilimitado.
Anna concordou com um gesto.
- E os nazistas estavam fazendo experimentos com essa energia com todo o fervor do Projeto Manhattan de vocês.
Os olhos de Lisa arregalaram-se.
- Uma fonte de poder ilimitado. Se eles a tivessem descoberto, isso teria mudado o curso da guerra.
Anna ergueu uma das mãos, corrigindo-a.
Quem disse que eles não a descobriram? Está documentado que, nos últimos meses da guerra, os nazistas haviam alcançado progressos notáveis. Projetos chamados Feuerball e Kugelblitz. Os detalhes deles podem ser encontrados entre os arquivos não confidenciais da Força T britânica. Mas as descobertas ocorreram tarde demais. Instalações de pesquisa foram bombardeadas, cientistas foram mortos, pesquisas foram roubadas. O que quer que tenha restado desapareceu nos projetos obscuros de várias nações.
Mas o Sino não - disse Painter, fazendo a discussão voltar ao ponto de partida. Suas náuseas não permitiriam que a conversa desviasse muito do assunto principal.
O Sino não - concordou Anna. - Meu avô conseguiu fugir com a essência do Projeto Cronos, nascido da pesquisa da energia do ponto zero. Ele deu um novo nome ao projeto: Schwarze Sonne.
Sol Negro - traduziu Painter.
Sehr gut.
Mas, e esse Sino? O que ele fazia? - perguntou Painter.
Foi o que deixou o senhor doente - disse Anna. - Causou-lhe dano no nível quântico, aonde nenhum comprimido ou outro medicamento pode chegar.
Painter quase tropeçou. Ele precisou de um momento para digerir a informação. Dano no nível quântico. O que isso significava?
Os últimos degraus apareceram adiante, bloqueados por uma barreira de vigas de madeira cruzadas, guardada por mais dois homens armados com rifles. Embora atordoado, Painter notou a rocha chamuscada ao longo do teto da última curva da espiral.
Mais à frente, abria-se uma galeria subterrânea. Painter não conseguia ver muito além, mas ainda podia sentir o calor. Todas as superfícies estavam enegrecidas. Uma fila de formas encurvadas jazia sob lonas. Cadáveres.
Ali estava a zona de deflagração das explosões que eles tinham ouvido mais cedo.
Enegrecida pelas cinzas, uma figura surgiu das ruínas, mas suas feições ainda eram reconhecíveis. Era Gunther, o guarda corpulento que havia queimado completamente o mosteiro. Parecia que aquelas pessoas haviam colhido o que haviam plantado.
Fogo por fogo.
Gunther dirigiu-se à barreira. Anna e Klaus juntaram-se a ele. Com Klaus e Gunther lado a lado, Painter reconheceu uma semelhança entre os dois gigantes - não na aparência física, mas em certa dureza e exotismo difíceis de se determinar.
Gunther acenou com a cabeça para Klaus.
O outro mal notou sua presença.
Anna curvou a cabeça junto com Gunther, falando rapidamente em alemão. Tudo o que Painter conseguiu compreender foi uma única palavra, igual em alemão e em inglês.
Sabotagem.
Então nem tudo estava em ordem no Castelo de Granito. Será que havia um traidor ali? Se havia, quem? E qual era seu objetivo? Era amigo ou outro inimigo?
Os olhos de Gunther pousaram em Painter. Seus lábios moveram-se, mas Painter não conseguiu discernir o que ele disse. Anna sacudiu a cabeça, discordando. Os olhos de Gunther estreitaram-se, mas ele aquiesceu com um aceno de cabeça.
Painter sabia que deveria ficar aliviado.
Com um último olhar penetrante, Gunther virou-se e voltou a passos largos para as ruínas enegrecidas. Anna retornou.
É isto que eu queria mostrar a vocês - disse ela, apontando para a destruição.
O Sino - disse Painter.
Ele foi destruído. Um ato de sabotagem.
Lisa olhou para as ruínas.
E foi esse Sino que deixou Painter doente.
E que oferecia a única chance de cura.
Painter examinou a devastação.
- A senhora tem uma duplicata do Sino? - perguntou Lisa. - Ou pode fabricar outro?
Anna sacudiu a cabeça lentamente.
- Um dos componentes fundamentais não pode ser duplicado: o Xerum 525. Mesmo após sessenta anos, não conseguimos reformulá-lo.
- Quer dizer, sem Sino, sem cura - disse Painter.
- Mas talvez haja uma chance... se nós ajudarmos uns aos outros. - Anna estendeu a mão. - Se nós cooperarmos... Eu lhe dou minha palavra.
Painter estendeu a mão desajeitadamente e segurou a dela. No entanto, ele hesitou. Ele sentia certo subterfúgio ali. Alguma coisa que Anna não dissera. Toda a conversa dela... todas as explicações. Tudo aquilo visava a desorientá-los. Por que estavam oferecendo-lhe aquele acordo?
Então ele começou a compreender.
Ele sabia.
- O acidente... - disse ele.
Ele sentiu os dedos de Anna fugirem dos seus.
- Não foi um acidente, não é mesmo? - Ele se lembrou da palavra que tinha ouvido por acaso. - Também foi sabotagem.
Anna fez um aceno positivo de cabeça.
- A princípio, pensamos que havia sido um acidente. Nós tivemos problemas ocasionais com sobretensões que levaram ao aumento da produção de energia do Sino. Nada de importante. A vazão da energia causava algumas doenças aqui na região. Mortes ocasionais.
Painter teve de se controlar para não sacudir a cabeça. Nada de importante, dissera Anna. As doenças e as mortes eram importantes o suficiente para justificar o pedido internacional de ajuda de Ang Gelu, o qual trouxera Painter até ali.
- Mas algumas noites atrás, alguém manipulou os ajustes durante um teste de rotina do Sino, aumentando exponencialmente a produção de energia - Anna prosseguiu.
- Que atingiu o mosteiro e a aldeia.
- Isso.
Painter segurou a mão de Anna com mais força. Parecia que ela queria puxá-la. Ele não estava disposto a soltá-la. Ela ainda estava evitando revelar tudo. Porém, Painter sabia a verdade com a mesma certeza da dor de cabeça que pressionava agora. Isso explicava a oferta de cooperação.
- Mas não apenas os monges e a aldeia foram afetados - disse Painter. - Todos aqui também foram. Todos vocês estão doentes como eu. Não a rápida degeneração neurológica vista no mosteiro, porém a deterioração do corpo mais lenta pela qual estou passando.
Os olhos de Anna estreitaram-se, estudando-o, ponderando quanto dizer; em seguida, ela afinal concordou com um aceno de cabeça.
- Nós estávamos parcialmente abrigados aqui, um tanto protegidos. Descarregamos a pior parte da radiação do Sino para cima e para fora.
Painter lembrou-se das luzes-fantasma vistas dançando no topo das montanhas. Para pouparem a si mesmos, os alemães haviam arruinado a área próxima com radiação, incluindo o mosteiro vizinho. Porém, os cientistas ali não tinham conseguido escapar totalmente ilesos.
Os olhos de Anna encontraram os seus, sem piscar, sem demonstrar remorso.
- Todos nós agora estamos sob a mesma sentença de morte.
Painter considerou suas opções, mas ele não tinha nenhuma. Apesar de nenhum dos lados confiar no outro, estavam todos no mesmo barco, por isso eles bem que poderiam aproximar-se uns dos outros. Segurando a mão dela, ele a apertou, selando o pacto.
A Sigma e os nazistas juntos.
Reserva Hluhluwe-umfolozi
Zululândia, África do Sul
Khamisi Taylor estava em pé diante da escrivaninha do guarda-caça-chefe. Com as costas rígidas, ele aguardava o guarda-caça Gerald Kellogg terminar de ler seu relatório preliminar sobre a tragédia do dia anterior.
O único som era o rangido de um ventilador de teto que girava lentamente.
Khamisi usava uma muda de roupa emprestada, a calça comprida demais, a camisa muito apertada. Mas elas estavam secas. Depois de passar o dia e a noite inteiros na cacimba de água morna, atolado até os ombros no buraco lamacento, os braços doendo enquanto mantinha a espingarda pronta para disparar, ele apreciava as roupas quentes e o terreno firme.
Ele também tinha apreço pela luz do dia. Através da janela de trás do escritório, o alvorecer pintava o céu de um rosa poeirento. O mundo voltou a surgir das sombras.
Ele sobrevivera. Estava vivo.
Mas ainda tinha de aceitar completamente a situação.
Os gritos do ukufa ainda ecoavam em seu cérebro.
Bem próximo, o guarda-caça-chefe, Gerald Kellog, passava a mão distraidamente em seu espesso bigode castanho-avermelhado enquanto lia. A luz da manhã brilhava em sua cabeça calva, dando-lhe uma luminosidade rósea oleosa. Por fim, ele ergueu os olhos por cima de um par de óculos de leitura meia-taça apoiado no nariz.
- E este é o relatório que o senhor pretende que eu arquive, sr. Taylor? - O guarda-caça correu um dedo ao longo de uma linha no papel amarelo. - "Um predador de topo desconhecido." Isto é tudo o que o senhor pode dizer a respeito do que matou e arrastou a dra. Fairfield?
Senhor, eu não consegui ver o animal muito bem. Era grande e tinha pêlos brancos, conforme relatei.
Talvez uma leoa - disse Kellogg.
Não, senhor... não foi nenhum leão.
Como o senhor pode ter certeza? O senhor não acabou de dizer que não o viu?
Sim, senhor... o que eu quis dizer, senhor... foi que o que eu vi não correspondia a nenhum predador conhecido das estepes.
Então, o que era?
Khamisi ficou calado. Ele tinha bom senso suficiente para não mencionar o ukufa. Na claridade de um dia comum, boatos de monstros só provocariam chacota. Os supersticiosos membros das tribos.
- Quer dizer então que alguma criatura atacou e arrastou a dra. Fairfield, alguma coisa que o senhor não viu com clareza suficiente para identificar...
Khamisi fez um lento aceno de cabeça.
... e, no entanto, o senhor correu e se escondeu na cacimba? - Gerald Kellogg amassou o relatório. - Como o senhor acha que isso repercute no nosso serviço aqui? Um dos nossos guarda-caças permite que uma mulher de 60 anos seja morta enquanto ele foge e se esconde. Virou as costas sem nem ao menos saber o que estava lá fora.
Senhor, isso não é justo...
Justo? - A voz do guarda-caça ressoava fortemente, alta o bastante para ser ouvida na sala externa, para onde toda a equipe fora chamada devido à emergência. -Até que ponto é justo que eu tenha de contatar os parentes mais próximos da dra. Fairfield e lhes dizer que a mãe ou a avó deles foi atacada e devorada enquanto um dos meus guarda-caças - um dos meus guarda-caças armados - corria e se escondia?
Não havia nada que eu pudesse fazer.
A não ser salvar a sua própria... pele.
Khamisi percebeu a palavra não pronunciada, omitida de propósito.
Salvar a sua pele negra.
Gerald Kellogg não se entusiasmara em contratar Khamisi. A família do guarda-caça tinha vínculos com o antigo governo africânder, e ele havia feito carreira por causa de suas relações. Ainda pertencia ao clube de campo Oldavi, exclusivo para brancos, no qual mesmo após a queda do apartheid muito poder econômico ainda era negociado. Embora novas leis tivessem sido aprovadas, barreiras caído no governo e coalizões sido formadas, negócios ainda eram negócios na África do Sul. Os De Beers ainda eram proprietários de suas minas de diamantes. Os Waalenberg ainda possuíam quase tudo mais. A mudança seria lenta.
O cargo de Khamisi era um pequeno passo, um passo que ele pretendia manter aberto para as gerações futuras. Por isso ele manteve a voz calma.
Tenho certeza de que assim que os investigadores examinarem o local eles apoiarão minha conduta.
Será que agora eles vão apoiá-lo, sr. Taylor? Eu enviei uma dúzia de homens para lá, uma hora após o helicóptero de busca e resgate encontrá-lo, depois da meia-noite, chafurdado na água lamacenta. Eles entraram em contato comigo há 15 minutos. Encontraram a carcaça do rinoceronte, quase descarnada por chacais e hienas. Nenhum sinal do filhote que o senhor mencionou. E, ainda mais importante, nenhum sinal da dra. Fairfield.
Khamisi sacudiu a cabeça, procurando um jeito de escapar àquelas acusações. Ele fez um retrospecto de sua longa vigília na cacimba. O dia parecia interminável, mas a noite fora pior. Após o pôr do sol, Khamisi esperara ser atacado. Em vez disso, ouvira o gargalhar de hienas e o regougar de chacais descendo para o vale, acompanhados pelos rosnados e gritos furiosos de animais que brigavam pela carniça.
A presença dos animais que se alimentam de carniça quase o fizera acreditar que era seguro tentar uma corrida até o jipe. Se os chacais e as hienas de costume haviam retornado, então talvez o ukufa houvesse ido embora.
No entanto, ele não dera um passo.
A emboscada que pegara a dra. Fairfield de surpresa ainda era recente demais em sua mente.
Com certeza havia outros rastros - disse ele.
Sim, havia.
Khamisi animou-se. Se ele tivesse provas...
Eram rastros de leões - disse o guarda-caça Kellogg. - Duas fêmeas adultas. Como eu disse antes.
Leoas?
Sim. Creio que nós temos algumas fotos dessas estranhas criaturas em algum lugar aqui. Talvez fosse melhor o senhor estudá-las para que possa identificá-las no futuro. Durante todo o tempo livre que o senhor terá.
Senhor?
O senhor está suspenso, sr. Taylor.
Khamisi não conseguiu disfarçar o choque em seu rosto. Ele sabia que, se tivesse sido qualquer outro guarda-caça... qualquer outro guarda-caça branco... haveria mais tolerância, mais confiança. Mas não quando a sua pele era a de um membro de uma tribo. Ele sabia que não devia argumentar. Isso apenas pioraria a situação.
- Sem pagamento, sr. Taylor. Até que uma investigação minuciosa seja levada a cabo.
Uma investigação minuciosa. Khamisi sabia como aquilo terminaria.
- E a polícia local me disse para informá-lo de que o senhor não deve sair das redondezas. Também há a questão da imprudência criminosa a ser descartada.
Khamisi fechou os olhos.
Apesar do sol nascente, o pesadelo recusava-se a terminar.
Dez minutos mais tarde, Gerald Kellogg ainda estava sentado à sua escrivaninha, seu gabinete estava agora vazio. Ele passou uma das mãos suadas pelo topo da cabeça, como se estivesse lustrando uma maçã. A expressão carrancuda em seus lábios recusava-se a relaxar. A noite fora interminável, tantos incêndios para apagar. E ainda havia mil detalhes dos quais cuidar: lidar com a mídia, assistir a família da bióloga, incluindo sua parceira.
Kellogg sacudiu a cabeça ao pensar neste último problema. A dra. Paula Kane seria o maior incômodo no dia que se iniciava. Ele sabia que o termo "parceria" entre as duas mulheres mais velhas ia além da pesquisa. Fora a dra. Paula Kane quem solicitara com urgência o helicóptero de busca e resgate na noite anterior, ao constatar que a dra. Fairfield não havia retornado para casa da viagem de um dia à selva.
Despertado no meio da noite, Gerald pedira cautela. Não era incomum que pesquisadores passassem a noite acampados. O que o tirara da cama foi saber aonde a dra. Fairfield fora com um de seus guarda-caças. Ao limite noroeste do parque, próximo à propriedade e reserva privada dos Waalenberg.
Uma busca ali perto exigia sua supervisão imediata.
Fora uma noite agitada, com a necessidade de ações e coordenação rápidas, mas tudo estava quase terminado, o gênio voltou para sua proverbial garrafa. Exceto um último item do qual teria de se encarregar. Não havia motivo algum para adiá-lo mais.
Ele pegou o telefone, discou um número particular e esperou a ligação ser atendida enquanto batia de leve uma caneta num bloco de anotações.
Relate - foi a reação sucinta quando a ligação se completou.
Acabei de interrogá-lo.
- E?
Ele não viu nada... nada com clareza.
O que isso quer dizer?
Afirma ter tido vislumbres. Nada que pudesse identificar.
Seguiu-se um longo silêncio.
Gerald ficou nervoso.
- O relatório dele será publicado. Leões. Essa será a conclusão. Mataremos alguns animais por precaução e encerraremos o assunto em outra ocasião. Por ora, o homem foi suspenso.
- Ótimo. Você sabe o que tem de fazer.
Kellogg protestou contra isso.
- Ele foi suspenso. Não ousará complicar a situação. Eu o assustei bastante. Não acho...
- Exatamente. Não ache. Você recebeu ordens. Faça parecer um acidente. A ligação encerrou-se com um estalido.
Kellogg pôs o fone no gancho. A sala era asfixiante, apesar do ruído do ar-condicionado e do ventilador que girava lentamente. De fato, nada podia resistir ao calor abrasador da savana à medida que o dia esquentava.
Porém, não foi a temperatura que fez rolar uma gota de suor pela testa dele.
Você recebeu ordens.
Ele sabia muito bem que não devia desobedecer.
Baixou o olhar para o bloco de anotações sobre sua escrivaninha. Distraidamente, tinha feito um desenho enquanto falava ao telefone, um reflexo de como o homem no outro lado da linha o deixara inquieto.
Gerald cobriu-o apressadamente de rabiscos, arrancou a folha e rasgou-a em pedacinhos. Nenhuma prova. Jamais. Essa era a regra. E ele recebera ordens.
Faça parecer um acidente.
37 mil pés de altitude, Alemanha
- Vamos aterrissar daqui a uma hora - disse Monk. - Talvez você devesse tentar tirar outra soneca.
Gray espreguiçou-se. O zumbido baixo do jato executivo Challenger 600 o fizera adormecer, mas sua mente ainda repassava os acontecimentos do dia anterior, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. A Bíblia de Darwin estava aberta diante dele.
- Como está Fiona? - perguntou ele.
Monk acenou com a cabeça para o sofá próximo à traseira do avião. Fiona estava esparramada sob um cobertor.
- Desabou, afinal. Eu a derrubei com alguns analgésicos. A garota não cala a boca.
Ela falara sem parar desde que ambos chegaram ao aeroporto de Copenhague. Gray havia alertado Monk por telefone, e este havia providenciado um carro particular para transportá-los em segurança até o jato que os aguardava, já sendo reabastecido. Logan havia resolvido antecipadamente todos os problemas diplomáticos e de emissão de vistos.
No entanto, Gray não suspirara de alívio até o Challenger taxiar pela pista e decolar.
- E o ferimento à bala dela?
Monk deu de ombros e desabou em uma poltrona próxima.
- Na verdade, uma escoriação. Está bem, uma escoriação de fato profunda e grave. Vai doer muito nos próximos dias. Mas, com um pouco de antisséptico, líquido cicatrizante para a pele e uma atadura, ela estará recuperada daqui a alguns dias. Pronta para roubar mais pessoas.
Monk apalpou seu paletó, certificando-se de que sua carteira ainda estava lá.
- Ela a roubou apenas como uma forma de dizer olá - disse Gray, ocultando um sorriso cansado.
Grette Neal explicara-lhe a mesma coisa ontem. Meu Deus, acontecera apenas ontem?
Enquanto Monk cuidava de Fiona, Gray comunicara-se com Logan. O diretor interino não ficou nem um pouco contente em saber de suas travessuras depois do leilão... um leilão ao qual Gray fora proibido de comparecer. No entanto, o dano estava feito. Felizmente, ele ainda tinha o pen drive com as fotos de todos os participantes, incluindo o casal de cabelos branco-alourados. Ele havia encaminhado todas a Logan, junto com cópias enviadas por fax de algumas páginas da Bíblia e de suas anotações. Enviara até seu desenho em forma de trevo-de-quatro-folhas igual à tatuagem que vira nos agressores que os haviam atacado à noite. Algum esquadrão desconhecido de assassinos louros.
Logan e Kat fariam sua parte para determinar quem estava por trás de tudo aquilo. Logan já havia pedido informações às autoridades de Copenhague. Elas não relataram morte no parque. Parecia que o corpo do assassino que eles haviam acertado no pescoço e lançado a distância havia desaparecido. Portanto, as conseqüências da fuga deles do Tivoli não se revelaram piores do que contusões e arranhões entre os visitantes acotovelados. Nenhum ferimento grave... exceto em um carro alegórico da parada.
Ele observou Monk checar o bolso do jeans.
O anel ainda está aí? - perguntou Gray, caçoando do amigo.
Ela não precisava roubá-lo também.
Gray tinha de reconhecer o mérito de Fiona: a garota tinha dedos ágeis.
- Então, você vai me contar sobre aquele estojo com o anel? - perguntou Gray, fechando a Bíblia de Darwin.
Eu queria te fazer uma surpresa com ele...
Monk, eu não sabia que você se importava tanto.
- Ora, cale a boca. Eu quis dizer que queria te contar sobre ele no momento adequado, e não... não porque aquela senhorita Copperfield ali o tirou da cartola.
Gray recostou-se, encarando Monk, os braços cruzados.
Então você vai pedi-la em casamento. Eu não sei... a sra. Kat Kokkalis jamais vai se interessar por isso.
Eu também acho que não. Comprei a maldita coisa há dois meses. Ainda não encontrei o momento oportuno de perguntar a ela.
- Parece mais que você não encontrou coragem.
- É, talvez seja isso também.
Gray estendeu a mão e bateu de leve no joelho de Monk.
- Ela te ama, Monk. Pare de se preocupar.
Monk sorriu como um adolescente para ele. Mas a expressão não lhe caía bem. Todavia, Gray reconheceu a intensidade da ternura nos olhos dele. Junto com um vislumbre de genuíno medo. Monk esfregou a articulação onde a mão artificial se juntava ao coto de seu punho. Apesar de sua fanfarrice, ele havia sido abalado pela mutilação ocorrida no ano anterior. A atenção de Kat ajudara grandemente a curá-lo, mais do que qualquer um dos médicos. No entanto, permanecia uma profunda tendência à insegurança.
Monk abriu o pequeno estojo de veludo preto e olhou fixamente para o anel de noivado com um diamante de três quilates.
Talvez eu devesse ter comprado um diamante maior... especialmente agora.
O que você quer dizer?
Monk olhou para ele. A nova expressão transparecia em seu rosto... uma esperança trêmula era a melhor maneira de descrevê-la.
- Kat está grávida.
Gray aprumou-se na poltrona, surpreso.
O quê? Como?
Eu acho que você sabe como - disse Monk.
- Meu Deus... meus parabéns - disse ele sem pensar, ainda se recobrando. A última frase foi pronunciada mais ou menos como uma pergunta. - Quero dizer... vocês vão querer o bebê.
Monk ergueu uma sobrancelha.
- É claro que sim - disse Gray, sacudindo a cabeça por causa de sua estupidez.
- Ainda é cedo - disse Monk. - Kat não quer que ninguém saiba... ela me disse que eu poderia contar a você.
Gray inclinou-se para a frente, levando tempo para assimilar a notícia. Ele tentou imaginar Monk como pai e ficou surpreso de como era fácil visualizar isso.
Meu Deus, é uma excelente notícia.
E quanto a você? - Monk fechou o estojo.
Quanto a mim? - Gray franziu a testa.
- Você e Rachel. O que ela disse quando você telefonou para ela a fim de informá-la de suas travessuras no Tivoli?
A testa de Gray encheu-se de rugas.
Os olhos de Monk arregalaram-se.
Gray...
O quê?
Você não telefonou para ela, não é mesmo?
Eu não acho...
Ela é membro dos Carabinieri. Portanto, você sabe que ela foi informada sobre qualquer possível ataque terrorista em Copenhague. Em particular sobre algum sujeito maluco gritando "Bomba!" num parque lotado e passeando sem permissão em um dos carros alegóricos da parada. Ela tem de saber que você estava envolvido.
Monk tinha razão. Ele deveria ter ligado imediatamente para ela.
Grayson Pierce, o que é que eu vou fazer com você? - Monk sacudiu a cabeça tristemente. - Quando é que você vai deixar aquela garota livre?
Sobre o que você está falando?
Sem essa! Eu estou feliz por você e Rachel terem se dado bem, mas aonde isso está realmente levando?
Gray ficou indignado.
Embora isso não seja da sua conta, nós planejamos discutir isso aqui, antes que tudo virasse um caos.
Para sorte sua.
Quer saber? O simples fato de você ter no bolso um anel de noivado comprado há dois meses não te transforma num especialista em relacionamentos.
Monk ergueu as palmas de ambas as mãos.
Tudo bem... eu desisto... eu estava apenas dizendo...
Gray não ia deixá-lo safar-se assim tão facilmente.
O quê?
Que você na verdade não quer um relacionamento.
Ele piscou diante da agressão direta.
Sobre o que você está falando? Rachel e eu temos feito um grande esforço para que o nosso relacionamento dê certo. Eu amo a Rachel. Você sabe disso.
Sim, eu sei que você a ama. Eu nunca disse o contrário. Só que você não quer um relacionamento de verdade com ela. - Monk enumerou três itens nos dedos. -Isto significa uma esposa, uma hipoteca e filhos.
Gray simplesmente sacudiu a cabeça.
- Tudo o que você está fazendo com a Rachel é curtir um primeiro encontro prolongado.
Gray procurou alguma réplica, mas Monk estava quase acertando o alvo. Ele se lembrou de como era necessário superar certo constrangimento cada vez que ele e Rachel se encontravam, uma barreira que tinha de ser transposta antes que uma intimidade mais profunda pudesse ser restabelecida. Como em um primeiro encontro.
- Há quanto tempo eu te conheço? - perguntou Monk.
Gray ignorou a pergunta.
E, durante este tempo, quantas namoradas sérias você já teve? - Monk fez um grande zero com a mão. - E veja só quem você escolheu para o seu primeiro relacionamento sério.
A Rachel é maravilhosa.
Ela é. E eu acho ótimo que você finalmente esteja se abrindo mais. Mas, cara, estou falando da criação de barreiras instransponíveis.
Que barreiras?
O que você me diz do maldito Atlântico como uma delas? Situado entre você e um relacionamento pleno.
Monk agitou três dedos para ele. Esposa, hipoteca, filhos.
- Você não está pronto - disse Monk. - O que quero dizer é que você deveria ter visto a sua cara quando mencionei a gravidez de Kat. Você se borrou de medo. E se trata do meu filho.
O coração de Gray batia com força na garganta. Ele se deu conta de que estava respirando com mais dificuldade, como se tivesse levado um soco no estômago.
Monk suspirou.
- Você tem problemas, meu caro. Talvez algum assunto emocional que você tenha de resolver com o seu pai. Não sei.
Gray foi salvo da resposta pela interrupção do sistema de comunicação interna do jato.
- Estamos aproximadamente a trinta minutos do nosso destino. Logo vamos iniciar a descida - o piloto informou.
Gray olhou pela janela. O sol nascia no leste.
Eu acho que vou tentar relaxar um pouco até aterrissarmos - murmurou Gray junto à janela.
Parece uma boa idéia.
Gray virou-se para Monk. Ele abriu a boca para responder de algum modo às palavras do amigo, mas, em vez disso, apelou para a verdade.
- Eu realmente amo a Rachel.
Monk reclinou sua poltrona e virou para o lado dele com um resmungo.
- Eu sei. E é isso que torna o relacionamento de vocês tão difícil.
Reserva Hluhluwe-umfolozi
Khamisi Taylor bebericava o chá na pequena sala de estar. Embora a bebida tivesse ficado bastante tempo em infusão e sido adoçada com mel, ele não sentia seu gosto.
- E não há a menor probabilidade de Marcia estar viva? - perguntou Paula Kane.
Khamisi sacudiu a cabeça. Ele não recuou diante da realidade. Não foi por isso que tinha ido ali depois da severa repreensão pelo guarda-caça-chefe. Ele quisera retirar-se para sua casa de um quarto na extremidade da reserva, onde uma fileira de casas atarracadas eram alugadas aos guarda-caças de serviço. Khamisi se perguntou por quanto tempo poderia permanecer na casa se sua suspensão acabasse em demissão.
No entanto, ele não havia regressado diretamente para casa. Em vez disso, havia percorrido de carro metade do parque, até outro agrupamento de moradias temporárias, um pequeno enclave onde os pesquisadores do parque residiam pelo tempo que durasse o dinheiro da bolsa.
Khamisi estivera muitas vezes naquela casa colonial de dois andares com a fachada mal-acabada pintada de cal, com suas acácias gigantes que projetavam sombras, seu minúsculo jardim e um pequeno quintal onde algumas galinhas perambulavam. Os recursos das bolsas de pesquisa das duas mulheres que residiam ali pareciam jamais se esgotar. Na verdade, na última vez que ele esteve ali foi para comemorar o décimo aniversário da dupla ali no parque. No seio da comunidade científica, elas haviam se transformado em figuras permanentes na Reserva Hluhluwe-umfolozi tanto quanto os cinco grandes animais cobiçados como troféus de caça.
Mas agora havia apenas uma.
A dra. Paula Kane estava sentada em um pequeno divã no outro lado da mesa baixa, em frente a Khamisi. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas sua face permanecia seca.
- Está tudo bem disse ela, os olhos desviando-se para uma parede repleta de fotos, um panorama de uma vida feliz. Ele sabia que as duas tinham vivido juntas desde o curso de pós-graduação em Oxford, há tantos anos. - Eu não havia acalentado muita esperança.
Ela era uma mulher baixa, de corpo frágil, com cabelos escuros levemente grisalhos cortados retos na altura dos ombros. Embora ele soubesse que ela estava com quase 60 anos, parecia dez anos mais jovem. Ela sempre conservara certa beleza dura, transpirando uma confiança que superava qualquer maquilagem. Porém, naquela manhã, ela parecia murcha, um fantasma de si mesma; algo vital se fora. Parecia que havia dormido de calça caqui e camisa branca folgada.
Khamisi não tinha palavras para aliviar a dor estampada em cada linha do corpo dela, apenas solidariedade.
- Sinto muito.
Os olhos de Paula voltaram-se para ele.
- Eu sei que você fez tudo o que pôde. Eu ouvi os boatos lá fora. Uma mulher branca morre, mas um homem negro vive. Não me dou bem com certos tipos lá fora.
Khamisi sabia que ela estava referindo-se ao guarda-caça-chefe. Paula e Marcia haviam entrado em choque com o homem muitas vezes. Ela conhecia os vínculos e associações do guarda-caça, assim como qualquer outra pessoa. Embora o apartheid pudesse ter sido esmagado nas cidades e distritos municipais, ou na selva, o mito do Grande Caçador Branco ainda reinava supremo.
- A morte dela não foi culpa sua - disse Paula, lendo algo no rosto dele.
Ele desviou o olhar. Era grato pela compreensão dela, mas, ao mesmo tempo, as acusações do guarda-caça haviam alimentado sua própria culpa. Ao pensar de maneira racional, ele sabia que fizera todo o possível para proteger a dra. Fairfield. Mas ele saíra da selva, ela não. Eram estes os fatos.
Khamisi levantou se. Não queria importuná-la mais. Viera apresentar suas condolências e dizer à dra. Kane em pessoa o que havia acontecido. E o fizera.
- Tenho de ir embora - disse ele.
Paula levantou-se e acompanhou-o à porta de tela. Ela o deteve com um toque antes de ele sair.
O que você acha que foi? Ele virou-se para ela.
O que a matou? - perguntou Paula.
Khamisi olhou fixamente para a luz matinal, forte demais para se falar em monstros. Ele também fora proibido de discutir o assunto. Seu emprego estava em risco. Ele olhou para Paula e disse-lhe a verdade.
Não foi nenhum leão.
Então o que...?
Eu vou descobrir.
Ele empurrou a porta de tela e desceu os degraus. Sua pequena picape enferrujada esturricava ao sol. Ele encaminhou-se até ela, entrou na cabine sufocante e partiu para casa.
Pela centésima vez naquela manhã, o terror do dia anterior desenrolou-se. Ele mal ouvia o ronco do motor por causa do eco dos gritos de caça do ukufa. Não fora um leão. Ele nunca acreditaria nisso.
Ele alcançou a fileira de casas sobre estacas, provisórias e sem ar-condicionado, que abrigavam o pessoal residente no parque. Freou com uma nuvem de poeira vermelha ao lado do portão do pátio da frente.
Exausto, descansaria algumas horas.
Depois buscaria a verdade.
Ele já sabia onde queria iniciar sua investigação.
Mas isso teria de esperar.
Quando se aproximou da cerca do pátio da frente, Khamisi observou que o portão estava entreaberto. Ele sempre se certificava de fechá-lo com o trinco ao sair. Mas, por outro lado, quando os desaparecimentos foram informados na noite anterior, alguém poderia ter ido ali verificar se ele estava em casa.
No entanto, os sentidos de Khamisi ainda não haviam relaxado... não desde o momento em que ele ouviu o primeiro grito na selva. Na verdade, ele duvidava que seus sentidos relaxariam algum dia.
Ele esgueirou-se pelo portão e notou que a porta da frente parecia trancada. Avistou a correspondência saindo de sua caixa de correio, intocada. Subiu os degraus, um de cada vez.
Entrou, desejando ter pelo menos uma arma branca.
As tábuas do assoalho rangeram. O som não viera de sob os próprios pés, mas do interior da casa.
Todos os sentidos de Khamisi exortaram-no a fugir.
De novo não. Não desta vez.
Chegou à varanda, ficou em pé ao lado da porta e forçou o trinco.
Destrancado.
Ele desenganchou o trinco e abriu a porta. Próximo aos fundos da casa, outra tábua do assoalho rangeu.
- Quem está aí? - gritou ele.
Himalaia
- Venha ver isto.
Painter acordou sobressaltado, instantaneamente alerta. Uma dor de cabeça pungente penetrava entre seus olhos. Ele deslizou pela cama, completamente vestido. Não percebera que havia adormecido. Ele e Lisa haviam retornado a seu aposento algumas horas atrás, escoltados. Anna precisara cuidar de certos assuntos e providenciar alguns itens que Painter solicitara.
Por quanto tempo eu dormi? - perguntou ele, a dor de cabeça passando aos poucos.
Sinto muito. Não percebi que você estava dormindo. - Lisa estava sentada com as pernas cruzadas junto à mesa em frente à lareira. Ela havia espalhado folhas de papel no tampo da mesa. - Não mais de quinze... vinte minutos. Eu queria que você visse isto.
Painter levantou-se. O quarto oscilou por um instante, depois voltou a firmar-se. Mau sinal. Ele aproximou-se de Lisa e afundou-se ao lado dela.
Ele notou que a câmera dela estava sobre algumas das folhas de papel. Lisa havia solicitado que a Nikon fosse devolvida como o primeiro ato de cooperação de seus captores.
- Veja. - Ela deslizou uma folha de papel na direção dele.
Lisa havia desenhado uma fileira de símbolos de um lado a outro do papel. Painter reconheceu-os como as runas que Lama Khemsar havia rabiscado na parede. Ela devia tê-los copiado da câmera digital. Painter viu que embaixo de cada símbolo havia uma letra correspondente.
Era simplesmente um código de substituição, com cada runa representando uma letra do alfabeto. Foi necessário empregar um pouco do método das tentativas.
Schwarze Sonne - ele leu em voz alta.
Sol Negro. O nome do projeto aqui.
Então Lama Khemsar sabia sobre tudo isto. - Painter sacudiu a cabeça. - O velho budista tinha mesmo vínculos aqui.
E sem dúvida ele ficou traumatizado. - Lisa tomou-lhe o papel. - A loucura deve ter reaberto velhas feridas, deve tê-las reavivado.
Ou talvez o velho lama estivesse cooperando o tempo todo, mantendo o mosteiro como algum posto de guarda do castelo aqui.
Se é isso, veja o que a cooperação trouxe para ele - disse Lisa, incisiva. - Será que esse é um exemplo da recompensa que vamos obter pela nossa cooperação?
Nós não temos escolha. É o único modo de permanecermos vivos. Sermos necessários.
E depois disso? Quando nós não formos mais necessários?
Painter não ofereceu qualquer ilusão.
Eles nos matarão. Nossa cooperação só está nos fazendo ganhar algum tempo. Ele notou que ela não se esquivou à verdade, mas pareceu extrair forças dela. A determinação enrijeceu os ombros dela.
Neste caso, o que vamos fazer primeiro? - indagou ela.
Reconhecer o primeiro passo em qualquer conflito.
E que passo é esse?
Conhecer o inimigo.
Eu acho que sei demais sobre Anna e seu bando da maneira como estão.
Não. Eu quis dizer descobrir quem estava por trás do bombardeio aqui. O sabotador... e quem quer que o tenha contratado. Alguma coisa maior está acontecendo aqui. Esses primeiros atos de sabotagem - a manipulação dos controles de segurança do Sino, as primeiras enfermidades - tiveram o objetivo de nos atrair. De levantar um pouco de fumaça. De nos atrair para cá com os rumores de doenças estranhas.
Mas por que fariam isso?
Para assegurar que o grupo de Anna fosse descoberto e interrompesse suas atividades. Você não acha estranho que o Sino, o coração da tecnologia, só tenha sido destruído depois de nós chegarmos aqui? O que isso poderia indicar?
Embora eles quisessem que o projeto de Anna fosse interrompido, não pretendiam que o coração da tecnologia caísse nas mãos de nenhuma outra pessoa.
Painter concordou com um aceno de cabeça.
E talvez algo ainda pior. Tudo isso pode ter o objetivo de confundir. Um despiste. Dar uma olhada aqui enquanto o verdadeiro truque é escondido dos olhos de todos. Mas quem é o mágico misterioso agindo nos bastidores? Qual é o objetivo, a intenção dele? É isso o que nós temos de descobrir.
E o equipamento eletrônico que você requisitou a Anna?
Talvez seja um meio de nos ajudar a farejar o espião aqui. Se nós pudermos encurralar esse sabotador, poderemos obter algumas respostas, descobrir quem está realmente mexendo os pauzinhos aqui.
Uma batida à porta deixou ambos sobressaltados.
Painter levantou-se enquanto a barra era removida, e a porta, aberta.
Anna entrou com Gunther a seu lado. O guarda havia se lavado desde que Painter o vira pela última vez. O fato de nenhum outro guarda tê-los seguido até o interior do aposento era um sinal da ameaça do homem. Ele nem sequer tinha uma arma.
Pensei que vocês gostariam de tomar o café-da-manhã conosco - disse Anna. - Quando terminarmos, o equipamento que o senhor requisitou deverá estar aqui.
O equipamento todo? Como? De onde?
De Catmandu. Nós temos um heliporto abrigado no outro lado da montanha.
- Sério? E vocês nunca foram descobertos?
Anna deu de ombros.
- É uma mera questão de misturarmos nossos vôos com as dezenas de excursões turísticas diárias e as equipes de alpinistas. O piloto deverá estar de volta dentro de uma hora.
Painter fez um aceno de cabeça. Ele planejava fazer o melhor uso possível daquela hora.
Reunir informações secretas.
Todo problema tinha solução. Pelo menos, era o que ele esperava.
Eles saíram do aposento. Os corredores além estavam surpreendentemente cheios. A notícia havia se propagado. Todos pareciam ocupados ou zangados, ou olhavam com rancor para eles... como se Painter e Lisa de algum modo fossem culpados da sabotagem ali. Mas ninguém chegou perto demais. O andar pesado de Gunther abriu-lhes caminho. O captor deles havia se tornado protetor.
Eles afinal chegaram à sala de leitura de Anna.
Uma mesa longa, coberta de travessas, havia sido posta diante da lareira. Salsichas, pão preto, ensopados fumegantes, mingaus, queijos maduros, uma variedade de amoras-pretas, ameixas e melões.
- Algum exército está vindo juntar-se a nós? - perguntou Painter.
- Combustível constante é de suma importância em climas frios, tanto para a família quanto para o coração - disse Anna, sempre a boa alemã.
Eles sentaram-se. A comida foi passada. Apenas uma família grande e feliz.
- Se existe alguma esperança de cura - disse Lisa -, nós teremos de saber mais sobre esse Sino de vocês. Sua história... como ele funciona.
Anna, taciturna depois da caminhada, ficou radiante. Que pesquisador não gostava de discorrer sobre suas descobertas?
- Ele começou como um experimento, como gerador de energia - começou ela. - Uma nova máquina. O Sino recebeu este nome por causa do seu vaso de confinamento externo em forma de sino, um recipiente de cerâmica do tamanho de um tambor de cem galões, revestido de chumbo. No interior havia dois cilindros de metal, um dentro do outro, que giravam em direções contrárias.
Anna fez uma descrição movendo as mãos.
- Lubrificando tudo isso e enchendo o Sino havia um metal líquido semelhante ao mercúrio. Esse metal foi chamado de Xerum 525.
Painter recordou-se do nome.
- Essa é a substância que a senhora disse que não poderia duplicar.
Anna confirmou com um aceno de cabeça.
- Por décadas a fio nós tentamos reproduzir o metal líquido. Aspectos de sua composição desafiam os testes. Sabemos que ele contém peróxidos de tório e berílio, mas isso é quase tudo. Tudo o que sabemos com certeza é que o Xerum 525 era um subproduto da pesquisa nazista da energia do ponto zero. Ele era produzido em outro laboratório, que foi destruído pouco depois da guerra.
E a senhora não encontrou uma forma de produzir mais? - indagou Painter.
Anna sacudiu a cabeça.
Mas o que o Sino na verdade fazia? - perguntou Lisa.
Como eu disse antes, ele era apenas um experimento. Mais provavelmente, outra tentativa de derivar a força infinita do ponto zero. Porém, assim que os pesquisadores nazistas o ligaram, efeitos estranhos foram observados. O Sino emitia um brilho pálido. Equipamentos elétricos num enorme raio entraram em curto-circuito. Mortes foram relatadas. Durante uma série de experimentos posteriores, eles aperfeiçoaram o instrumento e construíram uma blindagem. Os experimentos eram feitos nas profundezas de uma mina abandonada. Não ocorreram mais mortes, mas aldeães que viviam a um quilômetro de distância da mina relataram insónia, vertigem e espasmos musculares. Algo estava sendo irradiado pelo Sino. O interesse aumentou.
Como uma arma potencial? - imaginou Painter.
Não sei dizer. Muitos dos registros foram destruídos pelo supervisor do projeto. Mas sabemos que a equipe original expôs todos os tipos de substâncias biológicas ao Sino: samambaias, fungos, ovos, carne, leite. E todo um espectro de vida animal. Invertebrados e vertebrados. Baratas, caracóis, camaleões, sapos e, é claro, camundongos e ratos.
E o que a senhora me diz do topo da cadeia alimentar? - perguntou Painter. - Seres humanos.
Anna acenou com a cabeça.
Receio que sim. Os princípios morais são com freqüência o primeiro infortúnio do progresso.
Mas o que aconteceu durante os experimentos? - perguntou Lisa. Ela havia perdido todo o interesse por seu prato de comida. Não em repulsa por causa do assunto, mas por interesse cheio de admiração.
Anna pareceu sentir uma comunhão de interesses ali e voltou sua atenção para Lisa.
- Mais uma vez os efeitos foram inexplicáveis. A clorofila das plantas desaparecia, deixando-as brancas. Poucas horas depois, elas se decompunham numa lama gordurosa. Nos animais, o sangue endurecia nas veias. Uma substância cristalina formava-se dentro dos tecidos, destruindo as células de dentro para fora.
Deixe-me adivinhar - disse Painter. - Apenas as baratas não eram afetadas.
Lisa franziu a testa para ele, depois dirigiu-se a Anna.
A senhora tem alguma idéia do que causava esses efeitos?
- Nós só podemos conjeturar. Mesmo agora. Acreditamos que, quando o Sino gira, ele cria um forte vórtice eletromagnético. A presença do Xerum 525, um subproduto da pesquisa inicial do ponto zero, quando exposta a esse vórtice, propicia a emanação de energias quânticas estranhas.
Painter juntou as partes em sua cabeça.
Quer dizer que o Xerum 525 é a fonte de combustível e o Sino é o motor.
Anna validou com um gesto.
Transformando o Sino numa batedeira - uma nova voz ressoou.
Todos os olhos voltaram-se para Gunther. Sua boca estava cheia de salsicha. Pela primeira vez ele demonstrou qualquer interesse na conversa.
- Uma descrição grosseira, mas acurada - concordou Anna. - Imaginem a natureza do ponto zero como a tigela de uma batedeira de bolo. O Sino girando é como um misturador que mergulha e suga energia quântica para fora, na nossa existência, respingando todos os tipos de partículas subatômicas estranhas. Os primeiros experimentos foram tentativas de manipular a velocidade dessa batedeira e, assim, controlar os respingos.
- Para causar menos problemas.
- E com isso reduzir os efeitos colaterais degenerativos. E eles tiveram êxito. Os efeitos adversos diminuíram, e algo notável os substituiu.
Painter sabia que eles estavam chegando ao xis do problema.
Anna inclinou-se para a frente.
- Em vez de degeneração de tecidos biológicos, os cientistas nazistas começaram a notar melhoras. Crescimento acelerado em fungos. Gigantismo em samambaias. Reflexos mais rápidos em camundongos e desenvolvimento da inteligência em ratos. A consistência dos resultados não poderia ser atribuída apenas a mutações aleatórias. E parecia que, quanto mais elevada a ordem do animal, mais ele se beneficiava da exposição.
Por isso cobaias humanas vieram em seguida - disse Painter.
Mantenha uma perspectiva histórica, sr. Crowe. Os nazistas estavam convencidos de que dariam origem à próxima super-raça. E ali estava um instrumento para fazer isso em uma geração. Os princípios morais não ofereciam benefício algum. Havia um imperativo maior.
Criar uma raça superior. Para dominar o mundo.
Era nisto que os nazistas acreditavam. Com essa finalidade, eles investiram muitos esforços para aperfeiçoar a pesquisa do Sino. Mas, antes que ela pudesse ser concluída, o tempo deles esgotou-se. A Alemanha caiu. O Sino foi evacuado a fim de que a pesquisa pudesse prosseguir em segredo. Era a última grande esperança do Terceiro Reich. Uma chance de a raça ariana renascer. De renascer e dominar o mundo.
E Himmler escolheu este lugar - disse Painter. - Nas entranhas do Himalaia. Que loucura - disse ele, sacudindo a cabeça.
Muitas vezes, é a loucura, mais do que a genialidade, que faz o mundo avançar. Quem mais, a não ser os loucos, chegaria tão longe em busca do impossível? E, ao alcançá-lo, demonstraria que o impossível era possível?
- E, às vezes, ela meramente inventa o meio mais eficaz de genocídio.
Anna suspirou.
Lisa trouxe a discussão de volta ao rumo.
- O que foi feito dos estudos com seres humanos? - indagou ela, mantendo o tom de voz frio.
Anna reconheceu na médica alguém com quem poderia partilhar mais idéias.
- Nos adultos, os efeitos ainda eram danosos, especialmente quando expostos ao nível mais alto de radiação. Mas a pesquisa não parou aí. Quando fetos eram expostos no útero materno, uma em cada seis crianças nascidas dessa exposição exibia aperfeiçoamentos notáveis. Alterações no gene miostatina produziam crianças com músculos mais bem desenvolvidos. Também ocorreram outras melhoras. Visão mais aguçada, melhora da coordenação mão-olho e QIs surpreendentes.
- Supercrianças - disse Painter.
Mas, tristemente, era raro essas crianças viverem além dos dois anos de idade - disse Anna. - Por fim, elas começavam a degenerar, a empalidecer. Cristais formavam-se nos tecidos. Os dedos das mãos e dos pés necrosavam e caíam.
Interessante - disse Lisa. - Parecem os mesmos efeitos colaterais da primeira série de testes.
Painter olhou de relance para ela. Ela acabara de dizer interessante? O olhar de Lisa estava fixo em Anna, fascinado. Como ela podia permanecer tão racional? Então ele notou o joelho esquerdo dela subindo e descendo embaixo da mesa. Ele tocou o joelho dela e o acalmou. Ela tremeu ao toque dele. Aparentemente, seu rosto permanecia passivo. Painter se deu conta de que todo o interesse de Lisa era simulado. Ela estava contendo sua raiva e horror, permitindo que ele bancasse ora o bom policial, ora o mau policial. A atitude cooperativa dela permitia que ele instigasse o interrogatório com algumas perguntas mais complexas, facilitando a obtenção das respostas de que precisava.
Painter apertou o joelho de Lisa, reconhecendo o esforço dela.
Ela continuou a fingir.
- A senhora mencionou que um desses seis bebês exibiu esse desenvolvimento de curta duração. E os outros cinco?
Anna acenou com a cabeça.
Natimortos. Mutações fatais. Morte das mães. O índice de mortalidade era alto.
E quem eram essas mães? - perguntou Painter, expressando o choque de ambos. - Presumo que não eram voluntárias.
Não julgue de maneira tão severa, sr. Crowe. O senhor sabe qual é o índice de mortalidade infantil em seu país? Ele é pior do que em algumas nações subdesenvolvidas. Que benefício se obtém dessas mortes?
Santo Deus, ela não podia estar falando sério. Era uma comparação absurda.
- Os nazistas tinham seu imperativo - disse Anna. - Pelo menos eram coerentes.
Painter procurou algumas palavras para criticá-la duramente, mas a ira travou sua língua.
Lisa falou no lugar dele. Sua mão encontrou a dele pousada sobre seu joelho e a apertou com força.
Eu suponho que esses cientistas procuravam algum jeito de ajustar o Sino com mais precisão, de erradicar esses efeitos colaterais.
É claro. Mas, no fim da guerra, não se progrediu muito. Existe apenas um relato isolado de êxito absoluto. Uma criança supostamente perfeita. Antes disso, todas as crianças nascidas sob a influência do Sino exibiam ligeiras imperfeições. Placas com perda de pigmentos, assimetria de órgãos, olhos de cores diferentes. - Anna olhou de esguelha para Gunther e, em seguida, de novo para eles. - Mas essa criança parecia não ter defeito. Até mesmo uma análise genética grosseira do genoma do menino apresentou resultados perfeitos. Mas a técnica empregada para alcançar esse resultado permaneceu desconhecida. O supervisor do projeto realizou este último experimento em segredo. Quando meu avô foi evacuar o Sino, ele objetou e destruiu todas as suas anotações pessoais feitas no laboratório. A criança morreu pouco tempo depois.
Devido aos efeitos colaterais?
Não, a filha dele afogou-se junto com o bebê.
Por quê?
Anna sacudiu a cabeça.
- Meu avô recusou-se a falar sobre isso. Como eu disse, tratava-se do relato de um caso isolado.
Qual era o nome desse pesquisador? - indagou Painter.
Não me lembro. Posso fazer uma consulta, se o senhor quiser.
Painter deu de ombros. Se ao menos ele tivesse acesso aos computadores da Sigma. Ele sentia que havia mais alguma coisa na história do avô dela.
- E após a evacuação? - perguntou Lisa. - A pesquisa continuou aqui?
- Sim. Apesar de isolados, mantivemos informantes na comunidade científica de um modo geral. Após a guerra, os cientistas nazistas espalharam-se em todas as direções, muitos foram arregimentados para projetos obscuros no mundo inteiro. Europa. União Soviética. América do Sul. Estados Unidos. Eles eram nossos ouvidos e olhos no exterior, filtrando dados para nós. Alguns ainda acreditavam na causa. Outros foram chantageados por causa de seu passado.
- Então vocês se mantinham atualizados.
Ela respondeu com um aceno de cabeça.
Nas duas décadas seguintes, os avanços foram muito rápidos. Nasceram supercrianças que viviam mais tempo. Elas eram criadas como príncipes aqui e recebiam o título de Ritter des Sonnenkönig. Cavaleiros do Rei-Sol. A fim de caracterizar seu nascimento a partir do projeto Sol Negro.
Que coisa mais wagneriana - escarneceu Painter.
Talvez. Meu avô gostava da tradição. Mas eu quero que saibam que todas as pessoas que se submeteram a testes aqui no Granitschloß eram voluntários.
Mas essa era uma escolha moral? Ou era porque vocês não tinham judeus à mão no Himalaia?
Anna franziu a testa, sem nem ao menos se dignar a comentar a observação dele, e prosseguiu:
Embora o progresso fosse contínuo, a decrepitude continuava a afligir os Sonnenkönige. Em geral, o início dos sintomas ainda ocorria em cerca de dois anos; eram, porém, mais brandos. O que era uma degeneração aguda se transformou em degeneração crônica. E, com a maior longevidade, surgiu um novo sintoma: deterioração mental. Paranóia aguda, esquizofrenia, psicose.
Estes últimos sintomas... se parecem com o que aconteceu aos monges no mosteiro - Lisa falou.
Anna concordou.
É tudo uma questão do grau de exposição e da idade da pessoa. As crianças expostas no útero materno a um nível controlado da radiação quântica do Sino exibiam melhoras, seguidas por uma degeneração crônica a vida toda. Já adultos, como Painter e eu, expostos a quantidades moderadas de radiação não controlada, eram acometidos por uma forma mais aguda da mesma degeneração, por um declínio mais rápido. Mas os monges, expostos a um alto nível da radiação, progrediram imediatamente para o estado mental degenerativo.
E os Sonnenkönige? - quis saber Painter.
Como no nosso caso, não havia cura para a doença deles. Na verdade, embora o Sino tenha um grande potencial de nos ajudar, os Sonnenkönige são imunes a ele. Parece que a exposição deles ainda tão jovens os torna resistentes a qualquer manipulação posterior pelo Sino - seja qual for o resultado.
Então, quando eles enlouqueciam...?
Painter imaginou super-homens praticando atos violentos no castelo.
Uma condição dessas ameaçava nossa segurança. Por fim, paramos de fazer testes com seres humanos.
Vocês desistiram da pesquisa? - Painter não conseguiu dissimular sua surpresa.
Não exatamente. Os testes com seres humanos já eram um meio ineficaz de experimentação. Levava-se muito tempo para avaliar os resultados. Novos modelos foram empregados. Raças de camundongo modificadas, tecido fetal desenvolvido in vitro, células-tronco. Com o mapeamento do genoma humano, os testes de DNA tornaram-se o método mais rápido de avaliar o progresso. Nosso ritmo acelerou-se. Eu suspeito que, se reiniciássemos o projeto dos Sonnenkönige, veríamos resultados muito melhores hoje.
- Então, por que vocês não tentaram de novo?
Anna deu de ombros.
Ainda constatamos demência nos nossos camundongos. Isso é preocupante. Mas, sobretudo, desistimos dos estudos com seres humanos porque nossos interesses no decorrer da última década se tornaram mais objetivos. Nós não nos vemos como precursores de uma nova raça superior. Na verdade, nós não somos mais nazistas. Acreditamos que, uma vez aperfeiçoado, nosso trabalho pode beneficiar a humanidade como um todo.
Então, por que não vêm a público agora? - perguntou Lisa.
Para sermos atados pelas leis das nações e pelos ignorantes? A ciência não é um processo democrático. Essas coibições arbitrárias dos princípios morais simplesmente retardariam dez vezes nosso progresso. Isso é inaceitável.
Painter fez um esforço para não bufar. Parecia que algumas filosofias nazistas ainda floresciam ali.
O que aconteceu com os Sonnenkönige! - perguntou Lisa.
Uma situação das mais trágicas. Embora muitos tenham morrido de condições degenerativas, muitos outros tiveram de ser submetidos à eutanásia quando suas mentes se deterioraram. No entanto, um punhado sobreviveu. Como Klaus, que vocês conheceram.
Painter imaginou o guarda gigante que tinha visto mais cedo. Ele se lembrou do membro paralisado e do rosto repuxado do homem, sinais de degeneração. A atenção de Painter deslocou-se para Gunther. O homem o encarou, o rosto impossível de interpretar. Um olho azul, o outro branco fosco. Outro dos Sonnenkönige.
- Gunther foi o último que nasceu aqui.
Anna apontou para o próprio ombro e fez um sinal para o homenzarrão.
As rugas da testa de Gunther aprofundaram-se, mas ele estendeu a mão e arregaçou o punho desabotoado de sua manga a fim de expor o braço. Ele exibia uma tatuagem preta.
- O símbolo dos Sonnenkönige - disse Anna. - Uma marca de orgulho, dever e realização.
Gunther puxou a manga para baixo, ocultando a tatuagem.
Painter lembrou-se da viagem de trenó na noite anterior, do comentário sarcástico de um dos guardas sobre Gunther. Qual era mesmo a palavra? Leprakönig. Rei Leproso. Sem dúvida, havia pouco respeito pelos antigos Cavaleiros do Rei-Sol. Gunther era o último de sua espécie, caindo lentamente no esquecimento. Quem ficaria em luto por ele?
Os olhos de Anna demoraram-se em Gunther antes de voltarem a se concentrar neles.
Talvez houvesse alguém para ficar em luto por ele.
Ainda segurando a mão de Painter, Lisa falou:
- Algo que a senhora ainda tem de esclarecer. O Sino. Como ele produz tais alterações? A senhora disse que elas eram consistentes demais para serem mutações geradas ao acaso.
Anna fez um aceno de cabeça.
Sim, é verdade. Nossa pesquisa não se limitou aos efeitos do Sino. Grande parte dos nossos estudos concentrou-se em como ele funciona.
Vocês progrediram muito? - indagou Painter.
É claro que sim. Na verdade, temos certeza de que compreendemos os princípios básicos de seu funcionamento.
Painter piscou, surpreso.
- É mesmo?
A testa de Anna enrugou-se.
- Eu pensei que fosse óbvio. - Ela olhou para Painter e Lisa. - O Sino controla a evolução.
Reserva Hluhluwe-umfolozi
- Quem está aí? - repetiu Khamisi, de pé na soleira de sua casa. Alguém estava escondido lá dentro, no quarto dos fundos.
Ou talvez fosse algum animal.
Macacos sempre invadiam as casas; às vezes, animais maiores também.
Todavia, ele recusou-se a entrar. Tentou espiar, mas todas as cortinas haviam sido fechadas. Após a viagem até ali sob o sol ofuscante, a escuridão de sua casa era tão densa quanto a de qualquer selva.
De pé na varanda, Khamisi estendeu a mão pela porta até o interruptor de luz. Seus dedos tatearam. Ele encontrou o interruptor e o ligou. Uma única lâmpada acendeu-se, iluminando a sala da frente, com sua mobília escassa, e uma minicozinha. Mas a luz não revelou quem ou o que esperava no quarto dos fundos.
Ele ouviu o som de passos arrastados.
- Quem...?
Uma picada aguda no lado de seu pescoço interrompeu suas palavras. Atordoado, ele avançou para o quarto e deu uma palmada no local da picada. Seus dedos encontraram alguma coisa emplumada incrustada ali.
Ele a puxou e olhou para ela, sem entender por um instante.
Um dardo.
Ele também os usava para sedar animais grandes.
Mas aquele era diferente.
Ele caiu de seus dedos.
O momento de incompreensão foi o tempo que a toxina levou para chegar ao seu cérebro. O mundo inclinou-se para um lado. Khamisi lutou em vão para se equilibrar.
O assoalho de tábuas precipitou-se em direção ao seu rosto.
Ele conseguiu amparar ligeiramente sua queda, mas mesmo assim caiu pesadamente, batendo a cabeça. Minúsculos pontos luminosos fragmentaram-se numa escuridão que se adensava. Sua cabeça estava refestelada. De onde estava, ele avistou um pedaço de corda sobre as tábuas. Forçou mais a visão. Não, não era uma corda.
Era uma serpente de três metros de comprimento.
Ele a reconheceu imediatamente.
Uma mamba negra.
Estava morta, cortada ao meio. Um facão fora colocado ao lado. Seu facão.
O frio entorpeceu seus membros quando ele se deu conta da dura verdade.
O dardo envenenado.
Não era como os que ele empregava em seu trabalho de campo. Aquele dardo tinha duas agulhas. Como as presas inoculadoras de veneno de uma serpente.
Seus olhos pousaram sobre a serpente morta.
Uma encenação.
Morte pela picada de uma serpente.
As tábuas do assoalho rangeram no quarto dos fundos. Restara-lhe força suficiente apenas para virar a cabeça. Uma figura escura estava agora em pé à entrada, iluminada pela luz da lâmpada, observando-o, inexpressiva.
Não.
Não fazia o menor sentido. Por quê?
Ele não teria a resposta.
A escuridão envolveu-o, levando-o consigo.
Paderborn, Alemanha
Você vai ficar aqui - disse Gray, em pé no centro da cabine principal do Challenger, as mãos nos quadris, sem arredar o pé.
Uma ova! - retrucou Fiona a um passo de distância, opondo-se a ele.
Ao lado, Monk encostou-se na porta aberta do jato, os braços cruzados, divertindo-se.
- Eu ainda não te disse o endereço - argumentou Fiona. - Você pode passar o próximo mês procurando de porta em porta pela cidade inteira, ou eu posso ir com você e te levar ao lugar. A escolha é sua, colega.
O rosto de Gray esquentou. Por que ele não havia tomado o endereço da garota quando ela ainda estava fraca e vulnerável? Ele sacudiu a cabeça. Fraca e vulnerável eram palavras que não descreviam Fiona.
E então, como é que vai ser?
Parece que temos alguém na nossa cola - disse Monk.
Gray recusava-se a ceder. Talvez se a assustasse, se a lembrasse de que haviam escapado da morte por um triz no Tivoli.
- E seu ferimento à bala?
O nariz de Fiona dilatou-se.
- O ferimento? Praticamente curado. Aquele curativo líquido me remendou direitinho.
Ela pode até nadar com ele - disse Monk. - É à prova d'água. Gray olhou com um ar feroz para seu parceiro.
O problema não é esse.
Então qual é? - pressionou Fiona.
Gray voltou a olhar para ela. Ele não queria mais ser responsável pela garota. E decerto não tinha tempo para...
James Rollins
O melhor da literatura para todos os gostos e idades