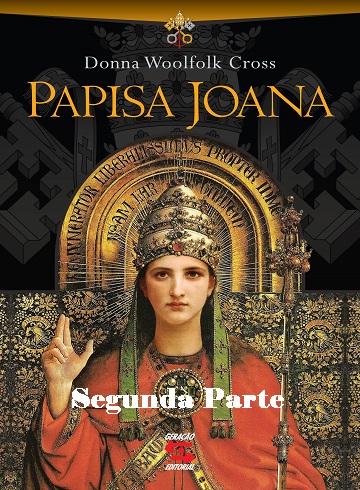Biblio "SEBO"




Na galeria das mais extraordinárias e controversas figuras do Ocidente, a papisa Joana assume alguns contornos dos mais brumosos, enigmáticos e fascinantes. Muitos negaram, ao longo dos séculos, a sua existência, mas é ainda considerável a quantidade de documentos que referem a sua passagem pelo trono papal. Personagem histórica ou lendária, Joana protagoniza a notável ascensão de uma mulher brilhante que não aceita as limitações que a sua época, profundamente misógina, lhe impõe e, armada de uma inteligência esclarecida e de uma força de carácter inquebrantável, conquista o mais elevado poder religioso. Um romance magnífico, cativante, que conspira, no virar de cada página, para prender o leitor num sortilégio magnético, na teia enredada da intriga, das turbulências políticas, dos fanatismos e intolerâncias, das paixões, das duplicidades e segredos, das crises de fé e conspirações que ameaçam fazer soçobrar Joana.
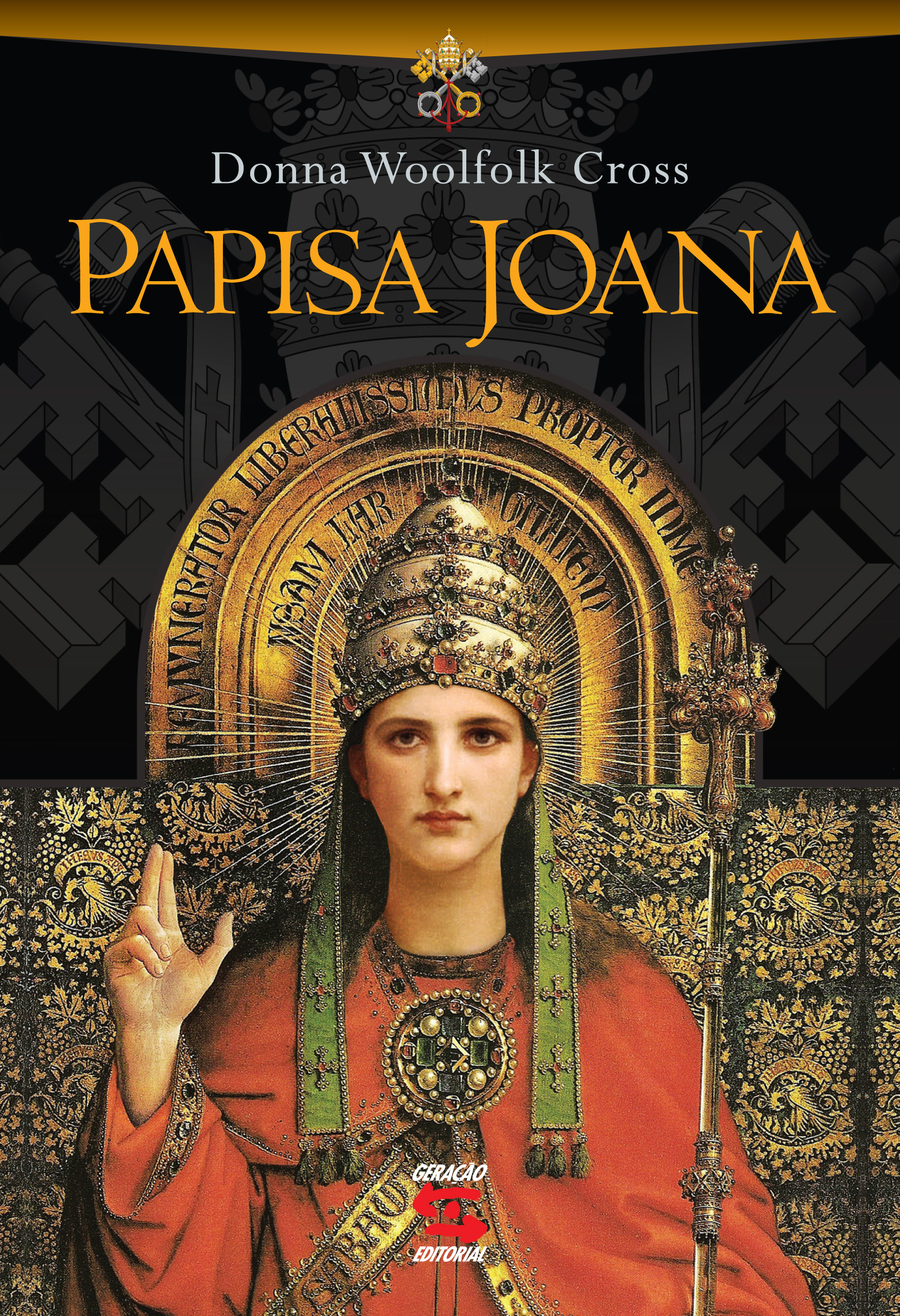
Era o dia 28 de Wintarmanoth do ano da graça de 814, o Inverno mais rigoroso de que havia memória.
Hrotrud, a parteira da aldeia de Ingelheim, avançava penosamente pela neve, a caminho da cabana do cónego. Uma rabanada de vento agitou as árvores, espetando dedos gelados no seu corpo que procuravam penetrar através dos buracos e dos remendos das suas finas vestes de lã. O caminho pela floresta estava cheio de neve; a cada passo que dava, enterrava-se quase até aos joelhos. A neve acumulava-se-lhe nas sobrancelhas e nas pestanas; tinha de limpar constantemente a cara para conseguir ver. As mãos e os pés doíam-lhe de frio, apesar das camadas de trapos de linho em que os tinha embrulhado.
Apareceu uma mancha negra à sua frente, no caminho. Era um corvo morto. Neste Inverno, até estes robustos necrófagos morriam de fome: os seus bicos não conseguiam rasgar a carne podre enregelada. Hrotrud estremeceu, apressando o passo.
Gudrun, a mulher do cónego, tinha entrado em trabalho de parto um mês antes do previsto. Linda altura para uma criança nascer, pensou Hrotrud amargamente. Cinco crianças nascidas só no último mês e nem uma só sobreviveu mais do que uma semana.
Um violento turbilhão de neve cegou Hrotrud. Por momentos, perdeu de vista o caminho mal assinalado. Sentiu uma onda de pânico. Já tinha morrido mais do que um aldeão naquele caminho, andando em círculos a pouca distância da sua própria casa. Esforçou-se por se manter direita, enquanto a neve rodopiava à sua volta, envolvendo-a numa paisagem branca.
Quando o vento abrandou, mal conseguia vislumbrar o caminho.
Continuou a marcha. As mãos e os pés já não lhe doíam; estavam completamente dormentes. Ela sabia o que isso podia significar, mas não podia ligar; era importante manter a calma.
Tenho de deixar de pensar no frio.
Lembrou-se da casa onde tinha nascido, uma bela casa com uma herdade próspera, de cerca de seis hectares. Era quente e aconchegada, com sólidas paredes de madeira, muito mais bonita do que as casas dos seus vizinhos, construídas com simples traves de madeira, cobertas de argamassa. Na sala principal, havia uma grande lareira, com o fumo a sair em espiral por uma abertura no telhado. O pai de Hrotrud usava um belo manto de pele de lontra por cima da sua camisa em linho fino e a mãe usava fitas de seda nos seus longos cabelos negros. Hrotrud tinha duas túnicas de mangas largas e um manto da mais pura lã. Lembrava-se de sentir junto à sua pele a maciez e suavidade do tecido fino.
Tinha tudo acabado tão depressa. Dois verões de seca e um gelo assassino tinham arruinado a colheita. Havia fome por todo o lado. Na Turíngia, havia boatos de canibalismo. O pai de Hrotrud tinha conseguido poupá-los à fome durante algum tempo, graças à venda ponderada de bens de família. Hrotrud chorou quando levaram os seus mantos de lã. Na altura, pensou que não poderia acontecer nada pior. Tinha oito anos e ainda não se tinha apercebido do horror e da crueldade do mundo.
Abriu caminho através de mais um longo manto de neve, lutando contra uma sensação crescente de atordoamento. Há vários dias que não comia nada. Bem, se tudo correr bem, hoje à noite vou festejar. Talvez possa levar um pouco de presunto para casa, se o cónego ficar satisfeito. A ideia renovou-lhe as energias.
Hrotrud chegou a uma clareira. Já conseguia distinguir os contornos enevoados da cabana à sua frente. A neve ali era mais alta, para além do limite das árvores, mas ela seguiu em frente, abrindo caminho com as suas pernas e braços fortes, confiante de que, agora, estava em segurança.
Ao chegar à porta, bateu uma vez, depois, entrou logo.
Estava muito frio para se preocupar com cortesias. Ao entrar, pestanejou na escuridão. A única janela da cabana tinha sido entaipada por causa do Inverno; a única luz existente vinha da lareira e de algumas velas de cebo espalhadas pelo compartimento. A pouco e pouco, os seus olhos começaram a habituar-se à escuridão e viu dois rapazinhos sentados um junto ao outro perto do lume.
- A criança já nasceu? - perguntou Hrotrud.
- Ainda não. - respondeu o rapaz mais velho.
Hrotrud murmurou uma pequena oração de acção de graças a São Cosme, patrono das parteiras. Já tinha sido privada do pagamento mais do que uma vez desta maneira, despedida sem um denário, depois de ter tido o trabalho de aparecer.
Junto à lareira, despiu os trapos enregelados que lhe revestiam as mãos e os pés, soltando um grito de alarme, ao ver como estavam roxos. Mãe santa, não deixes que o gelo os leve. Não serviria de muito à aldeia ter uma parteira aleijada. Elias, o sapateiro, tinha perdido assim o seu sustento. Depois de ter sido apanhado numa tempestade quando regressava de Mainz, as pontas dos seus dedos tinham escurecido, acabando por cair ao fim de uma semana. Agora, magro e andrajoso, passava a vida encolhido às portas das igrejas, apelando à caridade dos outros para sobreviver.
Abanando a cabeça tristemente, Hrotrud beliscava e esfregava os dedos dos pés e das mãos entorpecidos, sob o olhar dos dois rapazes silenciosos. Olhando-os, ficou mais descansada. Será um parto fácil, disse ela para si mesma, tentando afastar da ideia o pobre Elias. Afinal, ajudei Gudrun no parto destes dois e foi bastante fácil. O rapaz mais velho deve ter quase seis invernos, uma criança robusta, com um ar inteligente. O mais novo, o seu irmão bochechudo, com três anos, abanava-se para trás e para a frente, chupando morosamente o polegar.
Eram ambos morenos, como o pai. Nenhum deles tinha herdado o extraordinário cabelo dourado da sua mãe saxónia.
Hrotrud recordou-se de como os homens da aldeia tinham ficado a olhar espantados para o cabelo de Gudrun, quando o cónego a trouxe de uma das suas viagens missionárias na Saxónia. Ao princípio, o facto de o cónego ter trazido uma mulher tinha causado bastante sensação. Alguns diziam que era contra a lei, que o Imperador tinha promulgado um édito proibindo o casamento aos homens da Igreja. Mas outros diziam que não podia ser porque era sabido que, sem uma mulher, um homem estava sujeito a todo o tipo de tentações e fraquezas.
«Olhem para os monges de Stablo», diziam eles, «que envergonham a Igreja com as suas fornicações e bebedeiras.» E não havia dúvida de que o cónego não bebia e era um homem trabalhador.
O compartimento estava quente. A grande lareira estava cheia com grandes toros de vidoeiro e carvalho; o fumo elevava-se em grandes rolos, saindo pelo buraco do telhado em colmo. Era uma casa confortável. As vigas de madeira que formavam as paredes eram pesadas e espessas e as frinchas entre elas estavam bem tapadas com palha e argamassa para impedir a entrada do frio.
A única janela existente tinha sido coberta com placas de carvalho, uma medida de protecção suplementar contra os nordostroni, as nortadas frigidíssimas do Inverno.
A casa era suficientemente grande para estar dividida em três compartimentos, um onde se encontrava o quarto do cónego e da sua mulher, um para os animais que ali se abrigavam contra a intempérie - Hrotrud ouvia-os resfolegar e bater com os cascos, à sua esquerda - e este, o compartimento central, onde a família trabalhava e comia e as crianças dormiam. Para além do bispo, cuja casa era feita em pedra, em Ingelheim ninguém tinha uma casa tão boa como esta.
Os membros de Hrotrud começaram a picar com formigueiro e a palpitar, voltando a adquirir sensibilidade. Olhou para os seus dedos; estavam duros e secos, mas as manchas roxas tinham desaparecido, dando lugar a um cor-de-rosa-avermelhado com aparência mais saudável. Ela suspirou de alívio, decidindo fazer uma oferta a São Cosme, em acção de graças. Hrotrud ficou junto à lareira durante mais alguns instantes, usufruindo do seu calor; depois, com um aceno encorajador para os rapazes, apressou-se na direcção do compartimento onde a parturiente esperava.
Gudrun estava deitada numa cama de turfa coberta com palha fresca. O cónego, um homem moreno, com umas sobrancelhas espessas e carrancudas, que lhe davam uma expressão de austeridade permanente, estava sentado à parte. Acenou para Hrotrud, depois voltou a concentrar a sua atenção no grande livro encadernado em madeira que tinha sobre os joelhos.
Hrotrud já tinha visto o livro em visitas anteriores, mas, sempre que o via, ficava cheia de temor. Era um exemplar da Sagrada Escritura e era o único livro que ela tinha visto. Tal como os outros aldeões, Hrotrud também não sabia ler nem escrever. Mas sabia que aquele livro era um tesouro, que valia mais soldos em ouro do que toda a aldeia ganhava num ano. O cónego tinha-o trazido da sua terra natal, a Inglaterra, onde os livros não eram tão raros como no país franco.
Hrotrud apercebeu-se imediatamente de que Gudrun estava mal.
A sua respiração era fraca, o seu pulso estava demasiado rápido, todo o seu corpo estava inchado e balofo. A parteira conhecia os sintomas. Não havia tempo a perder. Pegou no saco que trazia e tirou dele um pouco de excrementos de pombo que tinha recolhido cuidadosamente no Outono. Regressando à lareira, atirou as ervas ao fogo, vendo com satisfação a forma como o fumo negro começou a subir, limpando o ar de espíritos malignos.
Devia ter de aliviar as dores, de forma a que Gudrun pudesse descontrair-se e ajudar a criança a nascer. Para isso, tinha de usar meimendro. Pegou num ramo de florinhas amarelas, raiadas de púrpura, colocou-as num almofariz em loiça e reduziu-as habilidosamente a pó, tapando o nariz por causa do cheiro acre que elas libertavam. Depois, deitou o pó num copo de vinho tinto e levou-o a Gudrun, para ela o beber.
- O que lhe queres dar? - perguntou o cónego bruscamente.
Hrotrud estremeceu; quase se tinha esquecido de que ele estava ali.
- Ela está fraca, por causa do trabalho de parto. Isto vai aliviar-lhe as dores e ajudar a criança a nascer.
O cónego franziu as sobrancelhas. Tirou o copo das mãos de Hrotrud, atravessou o quarto a passos largos e atirou-o ao lume, onde ele assobiou por momentos e depois desapareceu.
- É um sacrilégio, mulher!
Hrotrud estava horrorizada. Tinha passado semanas de busca penosa para conseguir juntar aquela pequena quantidade do precioso medicamento. Virou-se para o cónego, pronta a descarregar a sua ira, mas deteve-se quando viu o seu olhar impiedoso.
- Está escrito - e bateu no livro com a mão para reforçar o que dizia - Darás à luz na dor. Esse remédio é ímpio!
Hrotrud estava indignada. Não havia nada de anticristão no seu remédio. Então, ela não recitava nove Pai-Nossos cada vez que arrancava uma das plantas da terra? O cónego nunca se tinha queixado quando ela lhe tinha dado meimendro para aliviar as suas frequentes dores de dentes. Mas não ia discutir com ele. Ele era um homem influente. Uma palavra sobre as suas práticas ímpias e Hrotrud estaria arruinada.
Gudrun gemeu na angústia de mais uma dor. Muito bem, pensou Hrotrud. Se o cónego não autorizava o meimendro, ela tinha de tentar outra coisa. Voltou ao seu saco e tirou um longo pedaço de pano, cortado como o Sudário de Cristo. Com movimentos rápidos e eficazes, atou-o firmemente ao abdómen de Gudrun.
Gudrun gemeu quando ela a levantou da cama. O mínimo movimento provocava-lhe dores, mas não havia nada a fazer. Hrotrud tirou um pequeno pacote do seu saco, cuidadosamente embrulhado num pedaço de seda. Dentro, encontrava-se um dos seus tesouros - um astrágalo de um coelho morto no dia de Natal. Tinha-o obtido no ano anterior, por ocasião de uma caçada imperial.
Com todo o cuidado, cortou três fatias finas de osso e pô-las dentro da boca de Gudrun.
- Mastiga isto devagar - ordenou ela a Gudrun que assentiu, fraca.
Hrotrud sentou-se à espera. Pelo canto do olho, observava o cónego, de tal modo concentrado no seu livro que as suas sobrancelhas quase se juntavam ao nariz.
Gudrun gemeu novamente, torcendo-se com dores, mas o cónego não levantou os olhos do livro. Um homem duro, pensou Hrotrud.
Mas deve ter algum fogo nos quadris, senão não a tinha tomado por esposa.
Há quanto tempo tinha o cónego trazido a mulher da Saxónia para casa: há dez invernos, talvez há onze? Gudrun não era jovem, para o que era costume entre os francos, talvez tivesse vinte e seis ou vinte e sete anos, mas era muito bonita, com os longos cabelos louros e os olhos azuis das alienigenae.
Tinha perdido toda a família no massacre de Verden. Nesse dia, milhares de saxónios tinham preferido morrer a aceitar a verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bárbaros loucos, pensou Hrotrud. Comigo, não teria sido assim. Ela teria jurado tudo quanto lhe pedissem. Fá-lo-ia, aliás, se os bárbaros alguma vez voltassem a passar pela terra dos francos, juraria fidelidade a todos os deuses que eles quisessem, por muito estranhos ou terríveis que fossem. Isso não alterava nada.
Quem poderia saber o que se passava no coração de alguém? Uma mulher sensata tinha ideias próprias.
O lume faiscava, lançando chispas. Hrotrud dirigiu-se à pilha de lenha arrumada a um canto, escolheu dois ramos de vidoeiro de bom tamanho e meteu-os na lareira. Ficou a observar, à medida que eles ardiam, sibilando, e as labaredas os devoravam. Depois, voltou para junto de Gudrun para ver como ela estava.
Tinha passado uma boa meia hora desde que Gudrun tinha mastigado as aparas de astrágalo, mas o seu estado não se tinha alterado. Nem sequer um medicamento tão forte como aquele tinha conseguido fazer efeito. As contracções continuavam a ser irregulares e sem resultado e Gudrun continuava a enfraquecer.
Hrotrud suspirou, cansada. Era evidente que tinha de tomar medidas mais enérgicas.
O cónego demonstrou ser mais um problema, quando Hrotrud lhe disse que necessitava de ajuda para o parto.
- Manda chamar mulheres à aldeia. - disse ele, peremptoriamente.
- Ah, senhor, isso é impossível. Quem poderia ir buscá-las? - Hrotrud ergueu as mãos ao céu. - Eu não posso ir porque a vossa mulher precisa de mim aqui. O vosso filho mais velho não pode ir porque apesar de parecer um rapaz que promete, poderia perder-se na tempestade. Eu quase me perdi.
O cónego deitou-lhe um olhar fulminante.
- Muito bem - disse ele. - Eu vou. Quando se levantou da cadeira, Hrotrud abanou a cabeça com impaciência.
- Não adiantava nada. Quando tivésseis regressado, já seria tarde de mais. É da vossa ajuda que eu preciso, e depressa, se quereis que a vossa mulher e o bebé sobrevivam.
- Da minha ajuda? Estás doida, mulher? Isso - e apontou, enojado, para a cama - é coisa de mulheres, é impuro. Recuso-me.
- Então, a vossa mulher vai morrer.
- Isso está nas mãos de Deus, não nas minhas.
Hrotrud encolheu os ombros:
- Para mim, tanto se me dá. Mas não vos será fácil criar dois filhos sem uma mãe.
O cónego encarou Hrotrud:
- Porque hei-de acreditar em ti? Ela já deu à luz sem problemas. Eu dei-lhe força com as minhas orações. Não podes saber se ela vai morrer.
Isto era de mais. Fosse ele cónego ou não, Hrotrud não toleraria que ele pusesse em causa a sua competência como parteira.
- Vós é que não sabeis nada - disse ela, asperamente. - Nem sequer olhastes para ela. Ide vê-la agora e depois dizei-me que ela não está a morrer.
O cónego aproximou-se da cama e olhou para a sua mulher. O seu cabelo molhado estava colado à pele, que se tinha tornado de um branco-amarelado. Os seus olhos, cercados de um traço negro, estavam encovados; se não fosse o barulho profundo e irregular da sua respiração, dir-se-ia que já estava morta.
- Então? - espicaçou Hrotrud.
O cónego voltou-se, para a encarar de frente:
- Que raio, mulher! Porque não trouxeste mulheres contigo?
- Como vós dissestes, os partos anteriores não tinham tido qualquer problema. Não havia nenhum motivo para pensar que agora houvesse. Além disso, quem teria vindo com um tempo destes?
O cónego dirigiu-se para a lareira e pôs-se a andar de um lado para o outro, agitadamente. Por fim, estacou.
- O que queres que eu faça?
Hrotrud sorriu.
- Oh, pouca coisa, senhor, pouca coisa.
Conduziu-o de novo para ao pé da cama.
- Para começar, ajudai-me a levantá-la.
Um de cada lado de Gudrun, levantaram-na pelos braços. O seu corpo estava pesado, mas, juntos, conseguiram pô-la de pé. Ela oscilou e o seu corpo tombou completamente na direcção do marido.
O cónego era mais forte do que Hrotrud tinha pensado. Isso era bom porque ela precisaria de toda a força que ele tivesse para o que se seguia.
- Temos de forçar o bebé a descer. Quando eu disser, levantai-a o mais alto que puderdes e abanai-a com força.
O cónego assentiu, com um esgar. Gudrun oscilava entre ambos como um peso morto, com a cabeça tombada sobre o peito.
- Levantai-a! - gritou Hrotrud.
Ergueram Gudrun pelos braços e começaram a sacudi-la para cima e para baixo. Gudrun gritava, lutando para se libertar. A dor e o medo tinham-lhe dado uma força surpreendente. Os dois tinham dificuldade em controlá-la. Se ele me tivesse deixado dar-lhe o meimendro, pensou Hrotrud. Agora, ela estaria meio entorpecida.
Eles voltaram a deitá-la, mas ela continuava a lutar e a gritar. Hrotrud voltou a dar a mesma ordem e eles voltaram a levantá-la e a sacudi-la. Depois, deitaram Gudrun na cama, onde ela ficou meio inconsciente, murmurando palavras misteriosas na sua língua bárbara. Está bem, pensou Hrotrud. Se eu me despachar, estará tudo terminado antes de ela recuperar os sentidos.
Hrotrud meteu a mão na passagem para o nascimento, tacteando a abertura do útero. Estava rígida e inchada por causa de tantas horas de contracções inúteis. Usando a unha do dedo indicador direito, que ela conservava comprida precisamente para este efeito, Hrotrud rasgou a membrana resistente. Gudrun gemeu, depois ficou completamente inconsciente. Sobre a mão de Hrotrud correu sangue quente, espalhando-se pelos seus braços e pela cama. Finalmente, ela sentiu a abertura ceder. Com um grito exultante, Hrotrud meteu a mão e agarrou na cabeça do bebé, exercendo uma pressão suave para baixo.
- Segurai-a pelos ombros e empurrai-a na minha direcção. - disse ela ao cónego, que empalideceu.
Mesmo assim, obedeceu. Hrotrud sentiu a pressão aumentar quando o cónego juntou a sua força à dela. Ao fim de alguns minutos, o bebé começou a descer para a passagem do nascimento. Ela continuou a puxar com firmeza, mas com cuidado suficiente para não magoar os ossos tenros da cabeça e do pescoço da criança. Por fim, apareceu o cimo da cabeça do bebé, coberto com uma massa de cabelo fino e molhado.
Hrotrud puxou a cabeça para fora, com cuidado, depois virou o corpo para permitir que o ombro direito, depois o esquerdo, saíssem. Mais um puxão firme e o pequeno corpo deslizou, húmido, para os braços de Hrotrud, que o esperava.
- Uma menina - anunciou Hrotrud. - E forte, pelo que parece - acrescentou ela, atentando, aprovadora, para o grande grito lançado pela criança e para o tom saudavelmente cor-de-rosa da sua pele.
Voltou-se e encarou com o olhar reprovador do cónego.
- Uma menina - disse ele. - Então, foi tudo para nada.
- Não digais isso, senhor.
Hrotrud ficou subitamente receosa de que a desilusão do cónego significasse menos comer para ela.
- A criança é saudável e forte. Se Deus quiser, há-de viver e honrará o vosso nome.
O cónego abanou a cabeça.
- Ela é um castigo de Deus. Um castigo pelos meus pecados e pelos dela. - Voltou-se para Gudrun, que estava imóvel. - Ela irá sobreviver?
- Sim.
Hrotrud esperou ter sido convincente. Não podia permitir que o cónego pensasse que tinha motivos para estar duplamente desapontado. Ainda esperava provar carne nessa noite. E, afinal, era razoável esperar que Gudrun sobrevivesse realmente. É verdade que o parto tinha sido violento. Depois de um esforço tão grande, muitas mulheres apanhavam febre e tinham hemorragias. Mas Gudrun era forte; Hrotrud trataria a sua ferida com um unguento de artemísia misturada com gordura de raposa.
- Sim, se Deus quiser, ela sobreviverá - repetiu ela, com firmeza.
Não lhe pareceu necessário acrescentar que, provavelmente, não teria mais filhos.
- Já é alguma coisa, então - disse o cónego.
Aproximou-se da cama e ficou a olhar para Gudrun. Tocou suavemente no cabelo louro, agora mais escuro, por causa do suor. Por momentos, Hrotrud pensou que ele ia beijar Gudrun.
Depois, a sua expressão mudou. Ficou sério, mesmo zangado.
- Per mulierem culpa successit - disse ele. - O pecado veio por uma mulher.
Largou o caracol de cabelo e recuou.
Hrotrud abanou a cabeça. Qualquer coisa da Bíblia, certamente. O cónego era uma pessoa estranha, não havia dúvida, mas isso não era da sua conta, graças a Deus.
Apressou-se para acabar de limpar Gudrun do sangue e da placenta para poder regressar a casa ainda com luz do dia.
Gudrun abriu os olhos e viu o cónego debruçado sobre ela. O sorriso que começou a esboçar gelou-lhe nos lábios quando viu a expressão dos seus olhos.
- Marido? - disse ela, a medo.
- Uma menina - disse o cónego, friamente, sem se dar ao incómodo de ocultar o seu desagrado.
Gudrun assentiu, compreendendo, e voltou o rosto para a parede. O cónego virou-se para sair, mas parou por uns instantes para olhar para a criança já bem aconchegada na sua enxerga de palha.
- Joana. Chamar-se-á Joana - disse ele, e saiu do quarto, abruptamente.
A trovoada soou muito perto e a criança acordou. Mexeu-se na cama, à procura do calor e do conforto dos corpos adormecidos dos seus irmãos mais velhos. Depois, lembrou-se.
Os seus irmãos tinham-se ido embora.
Chovia. Um aguaceiro primaveril que enchia o ar da noite com o cheiro agridoce de terra acabada de lavrar. A chuva fazia um ruído surdo no telhado da cabana do cónego, mas a espessa cobertura de colmo mantinha a casa seca, excepto num ou dois cantinhos, onde a água tinha começado a acumular-se, pingando lentamente em gotas grossas sobre o chão em terra batida.
Levantou-se vento e as folhas de um carvalho junto da casa começaram a bater num ritmo irregular de encontro às paredes.
A sombra dos seus ramos projectava-se no quarto. A criança observou, petrificada, como os monstruosos dedos negros se contorciam à volta da cama. Estendiam-se para ela, procurando alcançá-la, e ela encolheu-se.
- Mamã, pensou ela. Abriu a boca para a chamar, mas deteve-se.
Se fizesse barulho, a mão ameaçadora atacaria. Ficou gelada, incapaz de se mexer. Depois, espetou o queixo resolutamente.
Tinha de ser, portanto, fá-lo-ia. Movendo-se com extrema lentidão, sem tirar os olhos do inimigo, levantou-se da cama.
Sentiu o chão térreo frio por baixo dos pés; a sensação familiar tranquilizou-a. Mal se atrevendo a respirar, dirigiu-se para a parte da casa onde a mãe estava a dormir.
Relampejou; os dedos mexeram-se e esticaram-se como que para a agarrar. Ela engoliu um grito e a garganta apertou-se-lhe com o esforço. Teve de se forçar a mover-se lentamente e a não largar numa corrida.
Já estava perto. De repente, abateu-se sobre a sua cabeça o estrondo de um trovão. Nesse preciso momento, algo lhe tocou nas costas. Ela gritou, virou-se e fugiu pelo quarto, tropeçando na cadeira que se encontrava no caminho.
Aquela parte da casa estava às escuras e silenciosa, só se ouvindo a respiração ritmada da sua mãe. Pelo som, a criança percebeu que ela estava a dormir profundamente; o barulho não a tinha acordado. Dirigiu-se rapidamente para a cama, levantou o cobertor de lã e deslizou por baixo dele. A mãe estava deitada de lado, com a boca entreaberta; a sua respiração morna acariciou a face da criança. Esta aconchegou-se, sentindo o corpo macio da mãe através da camisa de linho fino.
Gudrun bocejou e mudou de posição, desperta pelo movimento.
Abriu os olhos e, ensonada, olhou para a criança. Depois, acordando completamente, estendeu os braços e abraçou a filha.
- Joana - repreendeu-a ela, docemente, com os lábios junto do cabelo macio da criança. - Pequenina, devias estar a dormir.
Falando apressadamente, com a voz elevada e tensa pelo medo, Joana contou à mãe o aparecimento da mão monstruosa.
Gudrun ouviu, acariciando e abraçando a filha e murmurando mimos. Com os dedos, percorreu docemente a face da criança, tacteando no escuro. Não era bonita, pensou Gudrun, com tristeza. Era demasiado parecida com ele, com o seu grosso pescoço inglês e o grande maxilar. O seu corpinho já era atarracado e pesado e não esguio e gracioso como os do povo de Gudrun. Mas, os olhos da criança eram generosos, grandes e expressivos, com pupilas de uma linda cor verde, com pequenos anéis de cinzento-escuro no centro. Gudrun levantou uma madeixa do cabelo da sua filha e acariciou-a, apreciando a forma como ele brilhava, de um louro-claro, mesmo na escuridão. O meu cabelo. Não o cabelo preto espigado do seu marido e do seu povo cruel e escuro. A minha filha. Enrolou um fio de cabelo em volta do dedo e sorriu. Pelo menos, esta é minha.
Acalmada pela solicitude da mãe, Joana descontraiu-se. Imitando a mãe, começou a puxar a longa trança de Gudrun, desfazendo-a, até o cabelo cair em torno da sua cabeça. Joana ficou a olhar para ele, espalhando-o sobre a cobertura escura, como se fosse creme. Nunca tinha visto a mãe com o cabelo solto. Por insistência do cónego, Gudrun usava-o sempre bem preso, escondido sob uma touca de linho grosso. O seu marido dizia que o cabelo de uma mulher é a rede onde Satanás apanha a alma de um homem. E o cabelo de Gudrun era extraordinariamente belo, comprido, macio, dourado, sem um único cabelo branco, apesar de já ser uma idosa com trinta e seis primaveras.
- Porque é que o Mateus e o João se foram embora? - perguntou Joana, subitamente.
A mãe já lhe tinha explicado várias vezes, mas Joana queria ouvir novamente.
- Sabes bem porquê. O teu pai levou-os com ele na sua viagem missionária.
- Porque é que eu não pude ir também?
Gudrun suspirou pacientemente. A filha estava sempre cheia de perguntas.
- O Mateus e o João são rapazes; um dia, serão padres como o teu pai. Tu és uma rapariga, por isso esses assuntos não te dizem respeito.
Vendo que Joana não tinha ficado satisfeita com a resposta, acrescentou:
- Além disso, és muito nova.
Joana ficou indignada.
- Fiz quatro anos no Wintarmanoth!
Os olhos de Gudrun brilharam divertidos ao olhar para o rosto rechonchudo da criança.
- Ah, pois, já me esquecia que tu, agora, és uma menina crescida, não é? Quatro anos! Já és muito crescida.
Joana ficou calada, enquanto a mãe lhe acariciava o cabelo.
Depois perguntou.
- O que são os pagãos?
O pai e os irmãos tinham falado muito de pagãos antes de terem partido. Joana não percebia exactamente o que eram pagãos, apesar de pensar que devia ser qualquer coisa muito má.
Gudrun ficou hirta. A palavra tinha poderes de esconjuro. Tinha sido pronunciada pelos soldados invasores, quando tinham pilhado a casa dela e morto a sua família e amigos. Os sinistros e cruéis soldados de Carolus, o imperador dos Francos. Magnus, como o povo lhe chamava agora, depois da sua morte. Carolus Magnus. Carlos Magno. Será que lhe dariam esse título se tivessem visto o seu exército arrancar os bebés dos braços das mães, fazendo-os voltear no ar, antes de esmagarem as suas cabeças contra as pedras?, pensou Gudrun. Gudrun tirou a mão do cabelo de Joana e virou-se de costas.
- Tens de perguntar ao teu pai - disse ela.
Joana não percebeu o que tinha feito de mal, mas apercebeu-se de uma dureza estranha na voz da mãe. Sentiu que ela a mandaria regressar à sua cama se não procurasse reparar o dano. Disse, rapidamente:
- Falai-me outra vez dos Antepassados.
- Não posso. O teu pai não acha bem que eu te conte essas histórias.
Estas palavras eram um misto de afirmação e interrogação.
Joana sabia o que fazer. Colocando ambas as mãos sobre o coração, recitou o juramento exactamente como a sua mãe lho tinha ensinado, prometendo segredo eterno, em nome de Thor, o deus do Trovão.
Gudrun riu-se e voltou a abraçar Joana.
- Muito bem, passarinho. Vou contar-te a história, uma vez que tens tanto jeito para a pedir.
A voz dela voltou a ser carinhosa, sussurrante e melodiosa quando começou a falar de Woden, Thor e Freya e de todos os outros deuses que tinham povoado a sua infância saxónica, antes de os exércitos de Carlos Magno terem trazido a Palavra de Cristo com um banho de sangue e de fogo. Falou cadenciadamente sobre Asgard, o reino radioso dos deuses, um país com palácios em ouro e prata, que só podiam ser alcançados atravessando Bifrost, a misteriosa ponte sobre o arco-íris. A guardar a ponte estava Heimdall, o Guardião, que nunca dormia e cujo ouvido era tão apurado que ouvia a erva a crescer. Em Valhalla, o palácio mais belo de todos, vivia Woden, o pai dos deuses, sobre cujos ombros poisavam dois corvos: Hugin, o Pensamento, e Munin, a Memória. Sentado no seu trono, enquanto os outros deuses festejavam, Woden meditava sobre as verdades que o Pensamento e a Memória lhe segredavam ao ouvido.
Joana acenava com a cabeça, contente. Esta era a parte da história que ela mais gostava.
- Falai-me do Poço da Sabedoria - pediu ela.
- Apesar de já ser muito sábio - explicou a mãe - Woden buscava sempre alcançar mais sabedoria. Um dia, foi ao Poço da Sabedoria, guardado por Mimir, o Sábio, e pediu-lhe autorização para beber dele.
- Que preço estás disposto a pagar? - perguntou Mimir.
Woden respondeu que Mimir podia pedir o que quisesse.
- A sabedoria só se adquire com dor - respondeu Mimir. - Se queres beber desta água, tens de sacrificar um dos teus olhos.
Com os olhos a brilhar de excitação, Joana exclamou:
- E Woden pagou, mamã, não pagou? Pagou!
A mãe acenou com a cabeça.
- Apesar de ter sido uma escolha difícil, Woden consentiu em perder um olho. Bebeu a água. Depois, transmitiu à humanidade a sabedoria que tinha adquirido.
Joana levantou os olhos para a mãe, com um ar grave.
- Teríeis feito isso, mamã, para ser sábia, para saber tudo?
- Só os deuses é que fazem estas coisas - respondeu ela.
Depois, vendo que a filha continuava a olhar para ela insistentemente, Gudrun confessou:
- Não. Teria tido demasiado medo.
- Eu também - disse Joana, pensativa. - Mas, teria querido ser capaz de o fazer. Teria querido saber tudo quanto o poço pudesse dizer-me.
Gudrun sorriu para o rostinho decidido.
- Talvez não gostasses daquilo que podias aprender ali. Há um ditado do nosso povo que diz: O coração de um homem sábio raramente é feliz.
Joana abanou a cabeça, apesar de não compreender muito bem.
- Agora, falai-me da Árvore - disse ela, aconchegando-se mais à mãe.
Gudrun começou a descrever Irminsul, a maravilhosa árvore do universo. Encontrava-se no bosque saxónico mais sagrado, na nascente do rio Lippe. O seu povo tinha-a adorado até ela ter sido abatida pelos exércitos de Carlos Magno.
- Era muito bela - disse a mãe. - E tão alta que não se conseguia ver o cimo. Era...
Interrompeu-se. Tendo-se apercebido subitamente de outra presença, Joana levantou os olhos. O seu pai estava parado à entrada.
A mãe sentou-se na cama.
- Marido - disse ela. - Não esperava o vosso regresso senão amanhã.
O cónego não respondeu. Pegou numa vela de cera que se encontrava na mesa junto à porta e aproximou-se da lareira para a acender.
Gudrun disse, nervosa:
- A criança estava com medo da trovoada. Pensei que podia confortá-la contando-lhe uma história inocente.
- Inocente!
A voz do cónego tremia com o esforço para controlar a ira.
- Chamas a uma blasfémia dessas uma história inocente?
Percorreu a distância que o separava da cama em duas passadas, pousou a vela e puxou o cobertor, destapando-as.
Joana estava deitada abraçada à mãe, meio escondida sob uma cortina de cabelo dourado.
Por momentos, o cónego ficou parado, estupefacto, olhando para o cabelo solto de Gudrun. Depois, a fúria apoderou-se dele.
- Como te atreveste! Quando eu o proibi expressamente!
Agarrando Gudrun, começou a arrastá-la para fora da cama.
- Bruxa pagã!
Joana agarrou-se à mãe. O rosto do cónego ensombrou-se.
- Desaparece, filha! - bramiu ele.
Joana hesitou, dividida entre o temor e o desejo de proteger a sua mãe, de algum modo.
Gudrun empurrou-a suavemente.
- Sim, larga-me. Vai depressa.
Soltando-se, Joana caiu para o chão e correu. À porta, voltou-se e viu o pai arrastar a mãe pelos cabelos, puxando-lhe a cabeça para trás e forçando-a a ajoelhar-se.
Joana voltou para o quarto. O terror imobilizou-a imediatamente quando viu o pai puxar da sua grande faca do mato, com cabo em osso, tirando-a do cinto.
- Forsachistu diabolae? - perguntou ele a Gudrun em saxão, numa voz que era pouco mais do que um sussurro.
Como ela não respondeu, ele encostou a ponta da faca à sua garganta:
- Diz as palavras - rosnou ele, ameaçador. - Diz!
- Ec forracho allum diaboler - respondeu Gudrun com os olhos cheios de lágrimas e de rancor - Wuercum and wuordum, thunaer ende woden ende raxnoter ende allum...
Cheia de medo, Joana viu o pai levantar uma grande madeixa de cabelo da sua mãe e passá-la pela faca. O corte da madeixa sedosa provocou um barulho abafado; uma grande madeixa de cabelo dourado caiu para o chão.
Tapando a boca com a mão para abafar um grito, Joana voltou-se e correu.
Na escuridão, tropeçou numa sombra que se aproximou dela.
Vendo-se presa, ela soltou um grito agudo. A monstruosa mão negra! Tinha-se esquecido dela! Lutou, batendo-lhe com os seus pequenos punhos, resistindo com todas as suas forças, mas ela era enorme e agarrava-a com força.
- Joana! Joana, já passou. Sou eu!
As palavras penetraram no seu medo. Era o seu irmão de dez anos de idade, Mateus, que tinha regressado com o pai.
- Já voltámos. Joana, pára de lutar! Já passou. Sou eu.
Joana estendeu os braços e sentiu a superfície macia da cruz peitoral que Mateus usava sempre e agarrou-se a ele, aliviada.
Sentaram-se juntos no escuro, ouvindo os sons surdos e cortantes da faca, passando no cabelo da mãe. Ouviram a mamã a chorar de dor. Mateus praguejou alto. Veio uma resposta da cama onde o irmão de Joana, o João, com sete anos de idade, estava escondido, sob os cobertores.
Finalmente, os sons cortantes terminaram. Depois de uma breve pausa, o cónego começou a rezar. Joana sentiu que Mateus se tinha acalmado. Tinha acabado. Atirou os braços ao seu pescoço e começou a chorar. Ele abraçou-a e embalou-a gentilmente.
Ao fim de algum tempo, ela olhou para ele.
- O pai chamou pagã à mãe.
- Sim.
- Mas, ela não é, pois não? - perguntou Joana, hesitante.
- Era.
Vendo o seu olhar de descrença horrorizada, acrescentou:
- Há muito tempo. Já não. Mas, as histórias que ela te estava a contar são pagãs.
Joana parou de chorar. Era uma informação interessante.
- Sabes qual é o primeiro Mandamento, não sabes?
Joana acenou e recitou-o obedientemente:
- Não terás senão um só deus.
- Pois. Isto quer dizer que os deuses de que a mamã te estava a falar são falsos; é pecado falar neles.
- Foi por isso que o pai...
- Foi. - interrompeu Mateus. - A mamã tinha de ser castigada para bem da sua alma. Foi desobediente ao seu marido e isso também é contra a lei de Deus.
- Porquê?
- Porque é assim que diz no Livro Sagrado.
Ele começou a recitar:
- Pois o marido é a cabeça da mulher; portanto, que as esposas se submetam em tudo aos seus maridos.
- Porquê?
- Porquê?
Mateus foi apanhado de surpresa. Nunca ninguém lhe tinha feito essa pergunta:
- Bem, acho que é porque... porque as mulheres são inferiores aos homens, por natureza. Os homens são maiores, mais fortes e mais inteligentes.
- Mas...
Joana começou a responder, mas Mateus interrompeu-a:
- Basta de perguntas, irmãzinha. Devias estar na cama. Anda.
Levou-a para a cama e deitou-a ao lado do João, que já estava a dormir.
O Mateus tinha sido gentil com ela. Em troca, Joana fechou os olhos e tapou-se com os cobertores, como se fosse dormir.
Mas, estava demasiado perturbada para dormir. Ficou deitada no escuro, olhando para o João, que dormia, com a boca entreaberta.
- Ele não é capaz de recitar do Saltério e tem sete anos.
Joana só tinha quatro, mas já sabia de cor os primeiros dez salmos.
O João não era esperto. No entanto, era um rapaz. Mas, como era possível que o Mateus estivesse enganado? Ele sabia tudo; ia ser padre, como o pai deles.
Ficou acordada no escuro, magicando no problema.
Adormeceu de madrugada, atribulada, assaltada por sonhos de guerras tremendas entre deuses ciumentos e irados. O próprio anjo Gabriel tinha descido do Céu com uma espada flamejante para lutar contra Thor e Freya. A batalha tinha sido terrível e cruel, mas, no fim, os falsos deuses foram derrotados e Gabriel ficou de pé, triunfante, às portas do paraíso. A sua espada tinha desaparecido; na sua mão, reluzia uma faca com cabo em osso.
O estilete de madeira moveu-se rapidamente, formando letras e palavras na macia cera amarela sobre a tábua. Joana, atenta, estava junto ao ombro de Mateus, enquanto ele copiava a lição do dia. De vez em quando, parava para passar a chama da vela sobre a tábua, de forma a impedir a cera de endurecer demasiado rapidamente.
Ela adorava ver o Mateus a estudar. O seu estilete pontiagudo transformava a cera informe em linhas de símbolos de uma beleza misteriosa. Ela desejava compreender o que cada sinal significava e seguia intensamente cada movimento do estilete para descobrir a chave do significado na forma das letras.
Mateus poisou o estilete e recostou-se na cadeira, esfregando os olhos. Aproveitando a oportunidade, Joana aproximou-se da tábua e apontou para uma palavra.
- O que diz aqui?
- Jerónimo. É o nome de um grande Padre da Igreja.
- Jerónimo - repetiu ela lentamente. - É um nome parecido com o meu.
- Algumas das letras são as mesmas - assentiu Mateus, sorrindo.
- Mostra-me.
- É melhor não. O pai não ia gostar, se descobrisse.
- Ele não descobre. Por favor, Mateus. Eu quero saber. Por favor, mostras-me?
Mateus hesitou.
- Acho que não há mal nenhum em te ensinar a escrever o teu nome. Pode ser útil, um dia, quando fores casada e tiveres uma casa para governar.
Colocando a mão sobre a mãozinha da irmã, ajudou-a a desenhar as letras do nome dela: J-O-A-N-A, com um grande a com aselha no fim.
- Muito bem. Agora experimenta tu.
Joana agarrou no estilete com força, forçando os dedos a colocarem-se na estranha e rígida posição, de forma a formarem as letras que ela tinha fixado na sua mente. Deu imediatamente um grito frustrado, ao aperceber-se de que não era capaz de pegar no estilete como devia ser.
Mateus consolou-a:
- Devagar, irmãzinha, devagar. Só tens seis anos. Escrever não é fácil com a tua idade. Também foi com essa idade que eu comecei e lembro-me. Tem paciência; acabarás por conseguir.
No dia seguinte, ela levantou-se cedo e saiu. Na terra mole à volta da pocilga, desenhou as letras tantas vezes até ter a certeza de que as tinha feito correctamente. Depois, orgulhosa, chamou o Mateus, para ele testemunhar a obra dela.
- Muito bem, irmãzinha. Mesmo muito bem. Mas - murmurou, culpado - o pai não pode saber disto.
Passou o pé por cima do esterco, apagando as marcas que ela tinha feito.
- Não, Mateus, não!
Joana tentou afastá-lo. Perturbados pelo barulho, os porcos começaram a grunhir em coro.
Mateus debruçou-se para a abraçar.
- Está bem, Joana. Não fiques triste.
- M-mas, tu disseste que as minhas letras estavam bem!
- Elas estão bem.
Mateus estava surpreendido com a sua perfeição; melhor do que o João era capaz de fazer e era três anos mais velho.
Realmente, se a Joana não fosse uma rapariga, Mateus diria que, um dia, ela daria um óptimo escriba. Mas, era melhor não meter ideias estranhas na cabeça da criança.
- Não podia deixar ficar as letras para o pai ver; foi por isso que as apaguei.
- Ensinas-me mais letras, Mateus, ensinas?
- Já te mostrei mais do que devia.
Ela disse com gravidade:
- O pai não descobre. Eu nunca lhe irei contar, prometo. E apagarei as letras com todo o cuidado quando tiver acabado.
Os seus olhos de um verde-acinzentado profundo prenderam os seus intensamente, determinados a fazer com que ele concordasse.
Mateus abanou a cabeça, divertido. Não havia dúvida de que ela era persistente, esta sua irmãzinha. Afectuosamente, beliscou-lhe o queixo:
- Muito bem - assentiu ele. - Mas não te esqueças que é o nosso segredo.
A partir daí, aquilo tornou-se uma espécie de jogo entre eles. Sempre que havia oportunidade, não tantas vezes quanto Joana desejava, Mateus mostrava-lhe como desenhar letras no chão. Ela era uma aluna ávida de aprender; apesar de estar ciente das consequências, Mateus não conseguia resistir ao seu entusiasmo. Ele também adorava aprender; a paixão dela falava-lhe ao coração.
Mesmo assim, até ele ficou chocado quando ela veio ter com ele um dia, carregando a enorme Bíblia com encadernação em madeira, que pertencia ao pai de ambos.
- O que estás a fazer? - gritou ele. - Vai pôr isso no sítio; nunca lhe devias ter mexido!
- Ensina-me a ler.
- O quê?
A audácia dela era espantosa.
- Ora, vamos lá, irmãzinha, isso é pedir muito.
- Porquê?
- Bem... porque ler é muito mais difícil do que limitar-se a aprender o alfabeto. Duvido mesmo que fosses capaz de o aprender.
- Porque não? Tu aprendeste.
Ele sorriu indulgentemente:
- Sim, mas eu sou um homem.
Isto não era bem verdade porque ele ainda não tinha atingido treze invernos. Dali a pouco mais de um ano, quando fizesse catorze, então, seria verdadeiramente um homem. Mas, agradava-lhe reclamar o privilégio já agora e, além disso, a sua irmãzinha não percebia a diferença.
- Eu sou capaz. Eu sei que sou.
Mateus suspirou. Isto não ia ser fácil.
- Não é só isso, Joana. É perigoso e contra a natureza uma mulher aprender a ler e a escrever.
- Santa Catarina aprendeu. O bispo disse no sermão, lembras-te? Ele disse que ela era admirada pela sua sabedoria e erudição.
- É diferente. Ela era santa. Tu és apenas uma... rapariga.
Então, ela calou-se. Mateus ficou contente por ter ganho a discussão com tanta facilidade; ele sabia o quanto a sua irmãzinha podia ser determinada. Estendeu a mão para pegar na Bíblia. Ela fez menção de lha dar, mas puxou-a para si:
- Porque é que Catarina é uma santa? - perguntou ela.
Mateus fez uma pausa, com as mãos ainda estendidas.
- Ela era uma santa mártir que morreu pela sua Fé. O bispo disse no sermão, lembras-te?
Não conseguiu resistir a imitá-la.
- Porque é que ela foi martirizada?
Mateus suspirou.
- Ela desafiou o imperador Maxêncio e cinquenta dos seus conselheiros, provando, através de uma argumentação lógica, que o paganismo era um erro. Foi castigada por isso. Vamos, irmãzinha, dá-me o livro.
- Que idade tinha ela quando fez isso?
Mas que perguntas tão esquisitas que aquela criança lhe fazia!
- Não quero continuar a discutir isso - disse Mateus, inesperadamente. - Dá-me o livro!
Ela recuou, agarrando o livro contra o peito.
- Ela era velha quando foi a Alexandria discutir com os conselheiros do imperador, não era?
Mateus começou a pensar se lhe devia tirar o livro à força. Não, era melhor não. A frágil encadernação podia desfazer-se e, então, ficariam ambos em apuros maiores do que ele queria imaginar. Era melhor continuar a falar, a responder às perguntas dela, por muito tontas e infantis que fossem, até ela se cansar da brincadeira.
- Tinha trinta e três anos, disse o bispo, a mesma idade que Jesus Cristo tinha quando foi crucificado.
- E quando Santa Catarina desafiou o imperador já era admirada pela sua erudição, como o bispo disse?
- Obviamente - condescendeu Mateus. - Senão, como poderia ela ter derrotado os mais sábios conselheiros do país em tal debate?
- Então - o pequeno rosto de Joana iluminou-se, triunfante -, ela deve ter aprendido a ler antes de se ter tornado santa, quando era ainda uma menina, como eu!
Mateus ficou sem palavras durante alguns momentos, dividido entre a irritação e a surpresa. Depois riu alto.
- Seu diabinho! - disse ele. - Então era aí que querias chegar! Bom, que tens talento para a disputa, isso é certo!
Então, ela entregou-lhe o livro, com um sorriso esperançado.
Mateus tirou-lho, abanando a cabeça. Que criatura estranha, tão curiosa, tão determinada, tão segura de si mesma. Não era nada parecida com o João ou com qualquer outra criança que ele conhecesse. Do seu rosto de rapariguinha sobressaíam os olhos de uma mulher sábia. Não admirava que as outras raparigas da aldeia não quisessem dar-se com ela.
- Muito bem, irmãzinha - acabou ele por dizer. - Hoje, começas a aprender a ler.
Ao ver o entusiasmo nos olhos dela, ele apressou-se em preveni-la.
- Não deves esperar demasiado. É muito mais difícil do que tu pensas.
Joana atirou os braços ao pescoço do seu irmão.
- Adoro-te, Mateus.
Mateus libertou-se do abraço, abriu o livro e disse num tom severo:
- Começamos aqui.
Joana debruçou-se sobre o livro, inalando o cheiro intenso a pergaminho e madeira, ao mesmo tempo que Mateus apontava a passagem: Evangelho de João, capítulo primeiro, versículo primeiro. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et verbum erat Deus - No princípio, era o Verbo e o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus.
O Verão e o Outono seguintes foram temperados e fecundos; a colheita foi a melhor que a aldeia tinha tido havia anos. Mas, em Heilagmanoth, caiu neve e o vento soprou do Norte, em chicotadas geladas. A janela da cabana estava tapada por causa do frio e a neve amontoava-se contra as suas paredes, pelo lado de fora. A família passava a maior parte do tempo dentro de casa. A Joana e o Mateus tinham mais dificuldade em arranjar tempo para as lições. Quando estava bom tempo, o cónego ainda ia exercer o seu ministério, levando o João consigo porque o Mateus ficava entregue aos seus estudos, mais importantes do que qualquer outra coisa. Quando Gudrun ia à floresta para recolher lenha, Joana corria para a secretária sobre a qual Mateus estava debruçado e abria a Bíblia na passagem onde tinham ficado na lição anterior. Assim, Joana continuava a fazer progressos rápidos, pelo que, antes da Quaresma, já dominava o Livro de João quase na totalidade.
Um dia, Mateus retirou uma coisa do seu saco e deu-lha, com um sorriso.
- É para ti, irmãzinha.
Era um medalhão em madeira, preso a um fio. Mateus colocou o fio à volta do pescoço de Joana e o medalhão deslizou sobre o peito dela.
- O que é isto? - perguntou Joana, curiosa.
- É uma coisa para tu usares.
- Ah! - disse ela e, depois, apercebendo-se de que faltava qualquer coisa, acrescentou: - Obrigada.
Mateus riu-se ao ver o embaraço dela.
- Olha para o que está na parte da frente do medalhão.
Joana fez como ele mandou. Na superfície em madeira, estava gravada a efígie de uma mulher. Era uma peça rude, uma vez que Mateus não era entalhador, mas os olhos da mulher estavam bem desenhados, chegavam mesmo a ser impressionantes, olhando em frente, com uma expressão inteligente.
Mateus ordenou-lhe ainda.
- Agora, vê na parte de trás.
Joana virou o medalhão e leu as seguintes palavras, escritas em letras grandes, dispostas ao longo do rebordo do medalhão:
Santa Catarina de Alexandria.
Com um grito, Joana apertou o medalhão junto ao coração.
Sabia o que esta oferta significava. Era a forma de o Mateus reconhecer as suas capacidades e a confiança que tinha tido nela. As lágrimas chegaram-lhe aos olhos.
- Obrigada. - disse ela, novamente, e, desta vez, ele sabia que era sentido.
Ele sorriu. Ela reparou que ele tinha círculos negros em torno dos olhos; parecia cansado e abatido.
- Sentes-te bem? - perguntou ela, preocupada.
- Claro que sim! - disse ele, de um modo um tanto enfático.Vamos começar a lição, sim?
Mas ela estava inquieta e distraída. Ao contrário do que era costume, ele não a apanhou quando ela cometeu um erro por distracção.
- Passa-se alguma coisa? - perguntou Joana.
- Não, não. Só estou um pouco cansado.
- Então, queres parar? Eu não me importo. Podemos continuar amanhã.
- Não, desculpa. Só estava distraído. Vejamos, onde estávamos? Ah, sim! Volta a ler a última passagem e, desta vez, toma atenção ao verbo: videat, não videt.
No dia seguinte, Mateus acordou a queixar-se com dores de cabeça e de garganta. Gudrun trouxe-lhe uma bebida quente com borgem e mel.
- Tens de ficar todo o dia na cama - disse ela. - O filho da velha mãe Wigbod apanhou o fluxo da Primavera; pode ser que tu também tenhas apanhado.
Mateus riu-se e disse que não era nada disso. Dedicou muitas horas aos seus estudos, depois insistiu em sair para ajudar o João a vindimar.
Na manhã seguinte, tinha febre e custava-lhe a engolir. Até mesmo o cónego se apercebeu de que ele estava muito doente.
- Esta manhã, estás dispensado dos teus estudos - disse ele a Mateus. Ele fez como se não tivesse ouvido.
Eles mandaram pedir ajuda ao mosteiro de Lorsch e, ao fim de dois dias, o enfermeiro veio e examinou Mateus, abanando a cabeça gravemente e murmurando por causa da sua respiração.
Joana apercebeu-se pela primeira vez de que a condição do seu irmão podia ser séria. A ideia era aterradora. O monge fez grandes sangrias e esgotou todo o seu repertório de orações e de talismãs sagrados, mas, por alturas da Festa de São Severino, a situação de Mateus era grave. Jazia numa letargia febril, agitado por ataques de tosse tão violentos que Joana tapava as orelhas para tentar deixar de os ouvir.
Ao longo do dia e durante a noite, a família mantinha-se de vigília. Joana ajoelhava-se no chão em terra batida, ao lado da mãe. Estava assustada com a alteração da aparência de Mateus. A pele do seu rosto estava esticada, distorcendo as suas feições familiares numa máscara horrível. Sob a sua cor de febre, a sua pele era de um ominoso tom cinzento.
A voz do cónego sobrepunha-se às suas, troando na noite, recitando orações para a cura do seu filho:
- Domine Sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, qui fragilitatem conditionis nostrae infusa virtutis tuae dignatione confirmas...
Joana cabeceou de sono.
- Não!
Joana acordou subitamente com o grito lancinante da mãe.
- Ele partiu! Mateus, meu filho!
Joana olhou para a cama. Nada parecia ter mudado. Mateus estava deitado imóvel, como antes. Depois, ela reparou que a sua pele tinha perdido a cor febril; ele estava totalmente cinzento, como uma pedra.
Pegou na sua mão. Estava flácida, pesada, ainda que não tão quente como antes. Apertou-a contra o rosto. Por favor, não morras, Mateus. Se estivesse morto, significava que nunca mais dormiria ao seu lado e ao lado do João, na cama grande; ela nunca mais o veria debruçado sobre a mesa de pinho, de sobrolho franzido, concentrado nos seus estudos, nunca mais se sentaria ao seu lado, enquanto o seu dedo se movia através das páginas da Bíblia, apontando-lhe palavras, para ela ler. Por favor, não morras.
Pouco depois, mandaram-na embora para que a sua mãe e as mulheres da aldeia pudessem lavar o corpo de Mateus e prepará-lo para o funeral. Quando terminaram, Joana foi autorizada a aproximar-se para se despedir dele. Se não fosse o tom cinzento da sua pele, parecia que estava a dormir. Se o pudesse tocar, ela imaginava que ele acordaria, os seus olhos abrir-se-iam e fitá-la-iam com um afecto trocista. Beijou a sua face, tal como a mãe lhe mandou. Estava fria e estranhamente flácida, como a pele do coelho morto que a Joana tinha retirado do telheiro gelado apenas uma semana antes. Ela afastou-se dele rapidamente.
Mateus tinha partido.
Já não haveria mais lições.
Ficou de pé junto do recinto dos animais, fitando os pedaços de terra negra que começavam a aparecer sob a neve derretida, a terra na qual tinha desenhado as suas primeiras letras.
- Mateus - murmurou ela.
Caiu de joelhos. A neve húmida penetrou no seu casaco de lã, ensopando-a até aos ossos. Tinha muito frio, mas não podia voltar para dentro. Tinha que fazer uma coisa. Com o indicador, desenhou na neve húmida as letras conhecidas do Livro de João.
Ubi sum ego vos non potestis venire. Para onde eu vou não podeis vir.
- Vamos todos fazer penitência - anunciou o cónego depois do funeral -, para expiar os pecados que fizeram recair a ira de Deus sobre a nossa família.
Obrigou a Joana e o João a ajoelharem-se em oração recolhida sobre o duro genuflexório em madeira que servia de altar familiar. Ficaram ali o dia todo, sem comerem nem beberem, até que, finalmente, com o cair da noite, foram dispensados e autorizados a dormir na cama grande e, agora, vazia, sem o Mateus. João queixou-se com fome. A meio da noite, Gudrun acordou-os, com o dedo nos lábios, de aviso.
O cónego estava a dormir. Deu-lhes, rapidamente, fatias de pão e uma malga cheia com leite de cabra quente - a comida que se tinha atrevido a tirar sorrateiramente da dispensa sem que o marido desconfiasse. João engoliu a sua parte de pão e, como continuava com fome, Joana partilhou a sua porção com ele. Quando acabaram, Gudrun levou a malga e saiu, aconchegando-lhes a coberta de lã por baixo do queixo. As crianças chegaram-se uma à outra para ficarem mais confortáveis e adormeceram rapidamente.
O cónego acordou com a primeira luz do dia e voltou a mandá-los, em jejum, para o altar para terminarem a sua penitência. A manhã chegou e partiu, assim como a hora de jantar, e eles continuavam de joelhos.
Os raios de sol do fim da tarde projectaram-se sobre o altar, derramando-se através das frinchas da janela da cabana.
Joana suspirou e mudou de posição no genuflexório. Os seus joelhos estavam maçados e o seu estômago fez um ruído. Fez um esforço por se concentrar nas palavras da sua oração: Pater Noster qui es in caelis, sanctificatur nomen tuum, adveniat regnum tuum...
Era escusado. O desconforto causado pela posição em que se encontrava interferia constantemente. Estava cansada e com fome e tinha saudades do Mateus. Pensou porque seria que não tinha chorado. Sentia a garganta e o peito apertados, mas as lágrimas não conseguiam romper.
Olhou para o pequeno crucifixo de madeira pendurado na parede diante do altar. O cónego trouxera-o consigo da Inglaterra, sua terra natal, quando tinha levado o seu trabalho missionário aos pagãos saxónios. Esculpida por um artista do Norte da Humbria, a figura de Cristo era mais poderosa e requintada do que em qualquer obra artística franca. O seu corpo alongava-se na cruz, com os músculos distendidos e as costelas magras, a parte de baixo torcida para realçar a Sua agonia de morte. A sua cabeça estava inclinada para trás, de forma que a maçã-de-Adão estava saliente - uma recordação estranhamente desconcertante da Sua masculinidade humana. A madeira estava gravada a fundo para mostrar o rasto de sangue das Suas várias feridas.
A figura, apesar de impressionante, era grotesca. Joana sabia que devia sentir-se repleta de amor e reverência perante o sacrifício de Cristo, mas, em vez disso, sentia repulsa.
Comparada com os belos e poderosos deuses da sua mãe, esta figura parecia feia, esmagada e derrotada.
Ao seu lado, João começou a gemer. Joana pegou-lhe na mão. O João tinha dificuldade em suportar a penitência. Ela era mais forte do que ele e sabia-o.
Apesar de ele ter dez anos e ela apenas sete, achava perfeitamente natural ser ela a tomar conta dele e a protegê-lo e não o contrário.
As lágrimas começaram a brotar dos olhos do João:
- Não é justo - disse ele.
- Não chores.
Joana tinha medo que o barulho atraísse a mamã ou, pior ainda, o pai:
- A penitência está quase a acabar.
- Não é isso! - respondeu ele, ferido na sua dignidade.
- Então, o que é?
- Tu não irias compreender.
- Diz-me.
- O pai vai querer que eu assuma os estudos do Mateus. Eu já sei que vai. E eu não sou capaz; não sou.
- Talvez sejas - disse ela, apesar de compreender a preocupação do irmão.
O pai acusava-o de preguiça e batia-lhe quando ele não progredia nos estudos. Mas, não era culpa do João. Ele tentava fazer o melhor que podia, mas era lento; sempre o tinha sido.
- Não - insistiu João. - Eu não sou como o Mateus. Sabias que o pai tinha planeado levá-lo para Aachen para pedir que ele fosse aceite na Escola Palatina?
- A sério? - Joana estava abismada. A Escola do Palácio! Não tinha ideia que as ambições do pai para Mateus fossem tão longe.
- E eu ainda nem sequer sou capaz de ler Donato. O pai diz que o Mateus já dominava Donato ainda só tinha nove anos de idade e eu tenho quase dez. O que hei-de fazer, Joana? O que hei-de fazer?
- Bem... - Joana tentava pensar em qualquer coisa que o tranquilizasse, mas o esforço dos últimos dois dias tinha posto o João num estado inconsolável.
- Ele vai-me bater. Já sei que ele me vai bater.
Agora, o João tinha começado a soluçar alto.
- Eu não quero que ele me bata!
Gudrun apareceu à porta. Olhando nervosamente por cima do ombro, precipitou-se para o João.
- Cala-te. Queres que o teu pai te oiça? Cala-te, já te disse!
João escorregou desastradamente do genuflexório, atirou a cabeça para trás e começou a gritar. Não dando ouvidos às palavras da sua mãe, continuou a soluçar. As lágrimas corriam-lhe pela face vermelha.
Gudrun agarrou-o pelos ombros e abanou-o. A sua cabeça caiu violentamente para a frente; os seus olhos fecharam-se, a sua boca ficou aberta. Joana ouviu o ruído dos seus dentes a baterem, quando ele fechou a boca. Surpreendido, João abriu os olhos e olhou para a mãe.
Gudrun puxou-o para si e abraçou-o.
- Não chores mais. Não podes chorar para bem da tua irmã e para meu bem. Vai ficar tudo bem, João. Mas, agora, fica calado.
Ela embalava-o, consolando-o e repreendendo-o ao mesmo tempo.
Joana olhava pensativa. Reconhecia que o que o seu irmão tinha dito era verdade. João não era esperto. Não podia seguir as pegadas do Mateus. Mas... corou de excitação no momento em que lhe passou pela cabeça uma ideia, como se fosse uma revelação.
- O que é, Joana? - Gudrun tinha visto a estranha expressão na cara da filha. - Não estás bem?
Ela estava preocupada porque era sabido que os demónios que traziam o fluxo permaneciam numa casa.
- Não, Mamã. Mas tive uma ideia, uma ideia maravilhosa!
Gudrun gemeu. A filha só tinha ideias que a metiam em sarilhos.
- Sim?
- O pai queria que o Mateus fosse para a Escola Palatina.
- Eu sei.
- E agora vai querer que o João vá no lugar dele. É por isso que o João está a chorar, Mamã. Ele sabe que não é capaz de o fazer e tem medo que o pai se zangue.
- E então? - Gudrun estava intrigada.
- Eu posso ir, Mamã. Eu posso continuar os estudos do Mateus.
Gudrun ficou momentaneamente demasiado chocada para responder. A sua filha, o seu bebé, o filho que mais amava - o único com quem tinha partilhado a língua e os segredos do seu povo - ela iria estudar os livros sagrados dos conquistadores cristãos? Que Joana chegasse, sequer, a pensar nisso já a feria profundamente.
- Que disparate! - disse Gudrun.
- Eu posso trabalhar muito - insistia Joana. - Eu gosto de estudar e de aprender coisas. Eu posso fazê-lo e, assim, o João já não precisa de o fazer. Ele não é bom nos estudos.
Nesse momento, João, cuja cabeça ainda se encontrava enterrada no peito da mãe, deu um suspiro abafado.
- Tu és uma rapariga; essas coisas não são para ti - disse Gudrun para a dissuadir. - Além disso, o teu pai nunca aprovaria.
- Mas, Mamã, isso era antes. Agora, as coisas mudaram. Não vê? Agora, pode ser que o pai pense de maneira diferente.
- Proíbo-te de falares disto ao teu pai. Deves ter a cabeça vazia por causa de não teres comido e por causa do resto, como o teu irmão. Senão, nunca falarias assim.
- Mas, Mamã, se eu pudesse ao menos mostrar-lhe...
- Basta, já disse!
O tom de Gudrun não deixou qualquer espaço para prosseguir a discussão.
Joana calou-se. Procurando por baixo da túnica, agarrou o medalhão de Santa Catarina que o Mateus tinha gravado para ela. Eu sei ler latim e o João não, pensou ela obstinadamente.
Porque haverá de ter importância o facto de eu ser uma rapariga?
Foi direita à Bíblia que se encontrava sobre a pequena secretária.
Pegou nela, sentindo o seu peso. As gravações a letras douradas sobre a capa eram-lhe familiares. O cheiro a madeira e pergaminho, tão fortemente associado a Mateus, fê-la pensar no seu trabalho conjunto, em tudo quanto ele lhe tinha ensinado, em tudo quanto ela ainda queria aprender. Talvez se eu mostrar ao pai o que aprendi... talvez, então, ele veja que eu sou capaz. Voltou a sentir uma onda de excitação. Mas, podia haver problemas. O pai podia ficar zangado. A ira do seu pai assustava-a; já tinha sido atingida por ela vezes suficientes para conhecer e temer a força da sua cólera.
Ficou a acariciar, distraidamente, a superfície macia da encadernação em madeira. Num impulso, abriu a Bíblia; os seus olhos caíram no Evangelho de São João, o texto que Mateus tinha usado quando começou a ensiná-la a ler. É um sinal, pensou ela.
A mãe estava sentada de costas para a Joana, embalando o João, cujo choro tinha dado lugar a soluços incontroláveis. É agora a minha oportunidade. Joana pegou no livro aberto e levou-o para o quarto ao lado.
O pai estava sentado numa cadeira, com a cabeça baixa e as mãos cobrindo o rosto. Não se apercebeu de que a Joana se tinha aproximado. Ela parou, subitamente amedrontada. A ideia era impossível, ridícula; o pai nunca aprovaria. Preparava-se para se retirar, quando ele tirou as mãos do rosto e levantou os olhos. Ela estava diante dele com o livro aberto na mão.
A sua voz era de uma insegurança nervosa quando começou a ler.
- "In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et verbum erat Deus..."
Não houve nenhuma interrupção; ela prosseguiu, ganhando confiança, à medida que ia lendo.
- "Todas as coisas foram feitas por Ele; e sem Ele nada daquilo qe existe existiria. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas e as trevas não a receberam."
A beleza e o poder das palavras encheram-lhe o coração, levando-a a prosseguir, dando-lhe alento.
Chegou ao fim, corada pelo sucesso, sabendo que tinha lido bem. Levantou os olhos e viu o pai a olhar fixamente para ela.
- Eu sei ler. O Mateus ensinou-me. Guardámos segredo para ninguém saber. - As palavras saíram-lhe de um só fôlego. - Eu sou capaz de fazer com que tenha orgulho em mim, Pai, eu sei que sou. Deixe-me prosseguir os estudos do Mateus e eu...
- Tu! - A voz do pai troava de ira. - Foste tu! - apontava para ela com um dedo acusador. - Foste tu! Fizeste com que a ira de Deus caísse sobre nós. Filha desnaturada! Monstro! Mataste o teu irmão!
Joana gritou. O cónego foi direito a ela, com o braço levantado. Joana deixou cair o livro e tentou fugir, mas ele apanhou-a e fê-la rodopiar, desfechando o seu punho cerrado no seu rosto com uma força que a fez cambalear. Caiu desamparada no chão, batendo com a cabeça.
O pai ergueu-se sobre ela. Ela protegeu-se de outro golpe.
Mas, ele não veio. Passaram alguns instantes e, então, ele começou a resfolegar. Da sua garganta, saíam sons guturais.
Ela apercebeu-se de que ele estava a chorar. Ela nunca tinha visto o pai a chorar.
- Joana! - Gudrun correu para o quarto. - O que fizeste, filha!
Ajoelhou-se junto a Joana, reparando na nódoa negra que se tinha formado sob o seu olho direito. Colocando-se entre o marido e a Joana, murmurou:
- O que foi que eu te disse? Menina tola, olha o que fizeste!
Num tom de voz mais forte, disse:
- Vai ter com o teu irmão. Ele precisa de ti.
Ajudou a Joana a levantar-se e empurrou-a rapidamente para o outro quarto.
O cónego olhou sombriamente para a Joana, enquanto ela se dirigia para a porta.
- Esquecei a rapariga, marido. - disse Gudrun para o distrair. - Ela não interessa. Não desespereis; lembrai-vos que ainda tendes outro filho.
Era Aranmanoth, o mês da ceifa, o Outono do seu nono ano de idade, quando Joana encontrou Asclépios pela primeira vez.
Ele tinha passado pela cabana do cónego, a caminho de Mainz, onde iria ser professor na escola da catedral.
- Bem-vindo, senhor, bem-vindo! - o pai de Joana saudou Asclépios, encantado. - Alegramo-nos que tenhais chegado bem. Espero que a viagem não tenha sido demasiado penosa?
Conduziu a sua visita para dentro de casa.
- Vinde refrescar-vos. Gudrun! Traz vinho! A vossa presença honra muito a minha casa, senhor.
Pelo comportamento do seu pai, a Joana percebeu que Asclépios devia ser um sábio de renome.
Era grego e vestia-se como os bizantinos. A sua bela clâmide de linho branco estava presa no ombro com um simples broche de metal e coberta com uma longa capa azul, bordada a fio de prata. Usava o cabelo curto, como um camponês, oleado e cuidadosamente puxado para trás, afastado do rosto. Ao contrário do pai dela, que se barbeava como o clero franco, Asclépios tinha uma barba longa e farta, branca, tal como seu cabelo.
Quando o seu pai a chamou para ser apresentada à visita, ela foi acometida de uma timidez súbita e ficou, acanhada diante do estranho, com os olhos pregados no entrançado das suas sandálias. O cónego acabou por intervir, mandando-a regressar para junto da mãe, para a ajudar a preparar a ceia.
Quando se sentaram à mesa, o cónego disse:
- É nosso costume ler uma passagem do Livro Sagrado antes de distribuirmos a comida. Quereis fazer-nos a honra de ler, esta noite?
- Muito bem - disse Asclépios, sorrindo.
Pegou cuidadosamente no livro encadernado a madeira e desfolhou as frágeis páginas de pergaminho.
- O texto é de Eclesiastes. Omnia tempus habent, et momentum suum cuique negotio sub caelo...
Joana nunca tinha ouvido falar tão bem latim. A sua pronúncia não era habitual: as palavras não fluíam juntamente, como no estilo galês; cada uma delas era distinta, como as gotas da chuva.
- Para tudo existe um momento e um tempo para cada coisa sob o Céu. Um tempo para nascer e um tempo para morrer; um tempo para semear e um tempo para recolher o que se plantou...
Joana tinha ouvido muitas vezes o seu pai a ler a mesma passagem, mas ao ouvi-la lida por Asclépios, ela adquiriu uma beleza de que ela nunca se tinha apercebido antes.
Quando terminou, Asclépios fechou o livro.
- Um exemplar excelente - disse ele ao cónego, em tom apreciativo. - Escrito por mão habilidosa. Haveis trazido o manuscrito da Inglaterra; ouvi dizer que a arte ainda é florescente por lá. Hoje em dia, é raro encontrar um manuscrito isento de barbarismos gramaticais.
O cónego corou de satisfação.
- Havia muitos desses na biblioteca de Lindisfarne. Este foi-me entregue pelo bispo, quando me ordenou para a missão na Saxónia.
A refeição estava esplêndida, a melhor que a família alguma vez tinha preparado para uma visita. Havia uma coxa de porco assado, cozinhado até a pele ficar estaladiça, milho cozido e beterraba, queijo fundido e fatias de pão fresco, cozido sob as brasas. O cónego tinha trazido cerveja franca, com um gosto apurado, escura e espessa como sopa camponesa. Depois, comeram amêndoas fritas e maçãs assadas.
- Delicioso - disse Asclépios no fim da refeição. - Há muito tempo que não jantava tão bem. Desde que saí de Bizâncio, ainda não tinha comido carne de porco tão tenra.
Gudrun estava satisfeita.
- É porque nós fazemos criação de porcos e engordamo-los antes de eles serem abatidos. A carne dos javalis é dura e sensaborona.
- Falai-nos de Constantinopla! - disse João, entusiasmado. É verdade que as ruas são pavimentadas com pedras preciosas e que as fontes jorram ouro?
Asclépios riu-se.
- Não. Mas, é uma cidade lindíssima.
Joana e João estavam presos aos lábios de Asclépios, enquanto este descrevia Constantinopla, com edifícios em mármore com cúpulas em ouro e prata, construída sobre um promontório sobre o porto do Corno de Ouro, onde aportavam navios de todo o mundo. Era a cidade onde Asclépios tinha nascido e passado a juventude. Tinha sido obrigado a fugir, quando a sua família se viu envolvida numa disputa religiosa com o basileus, a propósito de qualquer coisa relacionada com a destruição de ícones. Joana não percebeu, ao contrário do pai que abanava a cabeça, em sinal de desaprovação, enquanto Asclépios descrevia a perseguição a que a família tinha sido sujeita.
Então, a discussão derivou para questões teológicas e a Joana e o seu irmão foram mandados para a parte da casa onde os pais dormiam; como hóspede de honra, Asclépios iria ficar com a cama grande junto à lareira toda para ele.
- Por favor, não posso ficar para ouvir? - pediu Joana à sua mãe.
- Não. Já passa da hora de estarem a dormir. Além disso, o nosso convidado já acabou de contar histórias. Esta conversa erudita não te iria interessar.
- Mas...
- Basta, filha. Para a cama! Preciso da tua ajuda amanhã; o teu pai quer que preparemos outra refeição para o convidado, amanhã. Mais convidados destes e ficamos arruinados - murmurou Gudrun.
Meteu os filhos na cama de palha, beijou-os e saiu.
João adormeceu logo, mas Joana ficou acordada, tentando ouvir o que estavam a dizer do outro lado da grossa divisória em madeira. Por fim, vencida pela curiosidade, levantou-se da cama e aproximou-se da porta, pé ante pé. Pôs-se de gatas, perscrutando na escuridão, onde o pai e Asclépios estavam a conversar, junto à lareira. Estava frio; o calor da lareira não chegava tão longe e Joana só tinha vestida uma camisa de noite em linho. Tremia, mas nem sequer lhe passava pela cabeça ir para a cama; tinha de ouvir o que Asclépios estava a dizer.
A conversa tinha-se orientado para a escola da catedral.
Asclépios perguntou ao cónego:
- Conheceis a biblioteca que eles lá têm?
- Sim, claro - disse o cónego, visivelmente satisfeito por lhe ter sido perguntado. - Passei lá muitas horas. Alberga uma excelente colecção, com mais de setenta e cinco manuscritos.
Asclépios abanou a cabeça, delicadamente, mas pareceu não ter ficado muito impressionado. Joana não era capaz de imaginar tanto livro junto.
O cónego disse:
- Existem lá cópias do De scriptoribus, ecclesiasticus, de Isidoro, e Vie gubernatione Dei, de Salviano. Também têm os Commentarii de Jerónimo completos, com ilustrações maravilhosas. E um manuscrito especialmente raro do Hexaemeron, de São Basílio, vosso conterrâneo.
- Têm manuscritos de Platão?
- Platão? - o cónego estava chocado. - Claro que não; os seus ritos não são apropriados para os estudos de um cristão.
- Ah? Então, não aprovais o estudo da lógica?
- Tem o seu lugar no trivium - respondeu o cónego, pouco à vontade - desde que apoiado em textos apropriados, como os de Agostinho e Boécio. Mas, a fé fundamenta-se na autoridade da Escritura, não na evidência da lógica; por vezes, os homens abalam a sua fé por causa de uma curiosidade tola.
- Estou a perceber.
As palavras de Asclépios foram pronunciadas mais por delicadeza do que por concordância.
- Mas, talvez me possais responder a isto: porque será que o homem é dotado de raciocínio?
- A razão é a centelha da essência divina no homem: Então, Deus criou o homem à Sua própria imagem; criou-o à Sua imagem e semelhança.
- Conheceis bem a Escritura. Então, concordais que a razão é um dom de Deus?
- Certamente.
Joana aproximou-se mais, saindo da sombra do compartimento; não queria perder o que Asclépios ia dizer a seguir.
- Então, porquê ter medo de expor a fé à razão? Se Deus no-la deu, como poderia ela afastar-nos dEle?
O cónego mexeu-se na cadeira. Joana nunca o tinha visto tão embaraçado. Ele era um missionário, educado para ensinar e pregar, pouco habituado a debates lógicos. Abriu a boca para responder, mas voltou a fechá-la.
- Aliás - prosseguiu Asclépios - não será a falta de fé que leva os homens a temerem o escrutínio da razão? Se o destino é duvidoso, então o caminho tem que ser percorrido com medo. Uma fé robusta não precisa de ter receio porque se Deus existe, então a razão não pode deixar de nos levar até Ele. Cogito, ergo Deus est, diz Santo Agostinho, penso, portanto Deus existe.
Joana estava a seguir a argumentação com tanta intensidade que se distraiu e exprimiu alto a sua aprovação. O seu pai olhou severamente para o outro lado da divisória.
Ela escondeu-se novamente na escuridão, sustendo a respiração.
Depois, voltou a ouvir o murmúrio de vozes. Benedicite, pensou ela, não me viram. Voltou sorrateiramente para a enxerga, onde João ressonava.
Muito tempo depois de as vozes se terem silenciado, Joana continuava acordada no escuro. Sentia-se incrivelmente aliviada e liberta, como se um peso opressivo lhe tivesse sido tirado de cima. Não era por causa dela que o Mateus tinha morrido. O desejo dela de aprender não o tinha morto, apesar do que o pai tinha dito. Nessa noite, ao ouvir Asclépios, ela tinha descoberto que o amor dela pelo conhecimento não era uma abominação, nem era pecaminoso, mas sim a consequência directa de uma capacidade de pensar que era um dom de Deus. Eu penso, portanto, Deus existe. No seu coração, sentia que isto era verdade.
As palavras de Asclépios tinham alumiado uma luz no seu coração. Talvez amanhã possa falar com ele, pensou ela. Talvez tenha oportunidade de lhe mostrar que sei ler.
A expectativa entusiasmava-a de tal forma, que ela não era capaz de se libertar dela. Só adormeceu de madrugada.
No dia seguinte, de manhã cedo, a mãe de Joana mandou-a ao bosque para apanhar frutos da faia e bolota para dar aos porcos. Ansiosa por voltar para casa e para junto de Asclépios, Joana apressou-se a terminar a tarefa. Mas, o chão da floresta, no Outono, estava cheio de folhas caídas e as bagas eram difíceis de encontrar; ela não podia regressar antes de o cesto estar cheio.
Quando voltou, Asclépios estava a preparar-se para sair.
- Ah, mas eu tinha pensado que nos daríeis a honra de voltar a jantar connosco - disse o cónego. - Estava interessado nas vossas ideias sobre o mistério da Trindade e gostaria de continuar a discutir o assunto.
- É muito gentil, mas tenho de estar em Mainz ao cair da tarde. O bispo está à minha espera e eu estou ansioso por assumir as minhas novas tarefas.
- Claro, claro.
Após uma pausa, o cónego acrescentou:
- Mas, lembrais-vos da nossa conversa acerca do rapaz. Ficais para assistir à sua lição?
- É o mínimo que posso fazer para agradecer um acolhimento tão generoso - disse Asclépios com uma gentileza estudada.
Joana tirou a sua costura e instalou-se numa cadeira perto, tentando ser o mais discreta possível para que o pai não a mandasse embora.
Não precisava de se preocupar. A atenção do cónego estava totalmente concentrada no João. Esperando impressionar Asclépios com o nível de conhecimentos do seu filho, começou a lição por perguntar a João as regras da gramática, segundo Donato. Foi um erro porque a gramática era o tema em que o João era mais fraco. Como seria de esperar, o seu desempenho foi medíocre, confundindo o ablativo com o dativo, atamancando os seus verbos e acabando por se revelar completamente incapaz de dividir a frase correctamente. Asclépios ouviu solenemente, de sobrolho carregado.
Corado de embaraço, o cónego retirou-se para um campo mais seguro. Começou com o catecismo de enigmas do grande Alcuíno, no qual João tinha sido bastante treinado. João conseguiu avançar pela primeira parte do catecismo de forma bastante satisfatória.
- O que é um ano?
- Um carro com quatro rodas.
- Quais são os cavalos que o puxam?
- O Sol e a Lua.
- Quantos palácios tem?
- Doze.
Satisfeito com este pequeno sucesso, o cónego avançou para a parte mais difícil do catecismo. Joana temia o que estava para vir, porque viu que o João estava à beira do pânico.
- O que é a vida?
- A alegria dos bem-aventurados, o desgosto dos infelizes e... e... - João interrompeu-se.
Asclépios mexeu-se na cadeira. Joana fechou os olhos, concentrando-se nas palavras, ansiosa de que o João prosseguisse.
- Sim? - incentivou-o o cónego. - E que mais?
O rosto do João resplandeceu, inspirado:
- E uma busca da morte!
O cónego acenou afirmativamente.
- E o que é a morte?
Rendido, João olhou para o pai como um veado apanhado numa armadilha e que vê o caçador a aproximar-se, finalmente.
- O que é a morte? - repetiu o cónego.
Era escusado. O facto de quase ter falhado a última pergunta e o crescente descontentamento do pai destruiram o que restava da compostura do João. Já não conseguiu lembrar-se de mais nada. O seu rosto contraiu-se; Joana reparou que ele ia começar a chorar. O pai fulminava-o com o olhar. Asclépios olhou com compaixão.
Ela já não suportava mais. O embaraço do irmão, a ira do pai, a humilhação intolerável diante de Asclépios puseram-na fora de si. Antes que se apercebesse do que estava a fazer, gritou:
- Uma coisa inevitável, uma peregrinação incerta, as lágrimas dos vivos, o ladrão do homem.
As suas palavras atingiram os outros como um relâmpago.
Olharam todos os três para ela, simultaneamente. Nos seus rostos adivinhava-se um leque de emoções. No rosto do João havia desgosto. No do pai, indignação. No de Asclépios, espanto. O cónego foi o primeiro a conseguir articular palavra.
- Que insolência é esta? - perguntou ele.
Depois, lembrando-se da presença de Asclépios, disse:
- Se não fosse a presença do nosso hóspede, dava-te já o castigo que mereces. Assim, terá de esperar. Sai da minha vista.
Joana levantou-se da cadeira, lutando para se controlar, até chegar à porta da cabana, que fechou atrás de si. Depois, correu tão depressa quanto foi capaz, até ao feto que ficava no limite da floresta, onde se atirou para o chão.
Pensou que ia rebentar de dor. Ter sido assim humilhada diante da única pessoa que tinha querido impressionar!
Não é justo. O João não sabia a resposta e eu sabia. Porque não haveria de a dar?
Ficou muito tempo a olhar para as sombras das árvores.
Poisou no chão um pisco, que começou a depenicar na terra, à procura de vermes. Encontrou um, encheu o peito, fez um pequeno círculo, gozando o seu troféu.
Como eu, pensou ela, contrariada. Toda inchada de orgulho pelo que fiz.
Ela sabia que o orgulho era um pecado - já tinha sido castigada por isso muitas vezes - mas, não podia evitar sentir-se assim. Sou mais esperta do que o João. Porque deverá ele poder estudar e eu não?
O pisco voou. A Joana ficou a olhar, à medida que ele se transformava numa mancha colorida e distante, no meio das árvores. Agarrou na medalha de Santa Catarina que tinha pendurada ao pescoço e pensou em Mateus. Ele ter-se-ia sentado ali com ela, teria falado com ela, ter-lhe-ia explicado o que ela não era capaz de entender. Tinha tantas saudades dele.
Mataste o teu irmão, tinha dito o pai. Sentiu um aperto na garganta, ao recordá-lo. O seu espírito continuava a revoltar-se. Ela era orgulhosa, queria mais do que Deus tinha destinado a uma mulher. Mas, porque teria Deus castigado Mateus por causa do pecado dela? Não tinha lógica.
Porque seria que não conseguia libertar-se dos seus sonhos impossíveis? Toda a gente lhe tinha dito que o seu desejo de aprender era contra a natureza.
Mas, mesmo assim, ela tinha sede de saber, desejava explorar o vasto mundo das ideias e oportunidades abertas às pessoas que estudavam. As outras raparigas da aldeia não se interessavam por estas coisas. Contentavam-se em assistir à missa, sem perceberem uma única palavra. Aceitavam o que lhes diziam e não procuravam ir mais além. Sonhavam com um bom marido, quer dizer, um homem que as tratasse bem e que não lhes batesse, e com um pedaço de terra para cultivar; nem sequer pensavam em sair do mundo seguro e familiar da aldeia. Eram tão inexplicáveis para a Joana como ela para elas.
Porque sou diferente?, pensava ela. O que há de errado comigo?
Soaram passos perto dela e uma mão tocou-lhe no ombro. Era o João. Ele disse, suavemente:
- O pai mandou-me chamar-te.
Joana pegou-lhe na mão.
- Desculpa.
- Não devias ter feito aquilo. Não passas de uma rapariga.
Aquilo era difícil de aceitar, mas ela devia-lhe uma desculpa por causa de o ter envergonhado diante do convidado.
- Fiz mal. Desculpa.
Ele tentou manter a pose de alguém ferido na sua virtude, mas não foi capaz.
- Está bem, eu desculpo - disse ele. - Pelo menos, o pai já não está zangado comigo. Agora... bom, vem ver.
Ele ajudou-a a levantar-se do chão e a limpar-se do pó. De mãos dadas, regressaram a casa.
Quando chegaram à porta, João mandou a Joana à frente.
- Vai - disse ele. - É contigo que eles querem falar.
Eles? Joana ficou intrigada, mas não podia perguntar nada porque já estava diante do seu pai e de Asclépios, que a esperavam à lareira.
Aproximou-se e ficou submissamente diante deles. O seu pai tinha uma expressão estranha, como se tivesse engolido algo amargo. Resmungou e fez-lhe sinal para que ela se aproximasse de Asclépios, que estava de costas para ela. Pegando nas suas mãos, Asclépios fixou-a com um olhar penetrante.
- Sabes latim? - perguntou ele.
- Sim, senhor.
- Como é que aprendeste?
- Ouvi, senhor, sempre que o meu irmão tinha as suas lições.
Ela imaginava a reacção do pai perante esta informação.
Baixou os olhos.
- Sei que não o devia ter feito.
Asclépios perguntou:
- Que mais aprendeste tu?
- Sei ler, senhor, e escrever um pouco. O meu irmão Mateus ensinou-me quando eu era pequena.
Pelo canto do olho, Joana viu o ataque de cólera do pai.
- Mostra-me.
Asclépios abriu a Bíblia, procurou uma passagem, depois estendeu-lhe o livro, marcando a passagem com o dedo. Era a parábola do grão de mostarda, do Evangelho de São Lucas. Ela começou a ler, começando por tropeçar nalgumas palavras latinas - já há algum tempo que não lia.
- "Quomodo assimilabimus regnum Dei aut in qua parabola ponemus illud?" - A que se assemelha o Reino de Deus? E a que havemos de o comparar?
Continuou, sem hesitação, até ao fim.
- Então ele disse: "É como um grão de mostarda que um homem plantou no seu jardim e que cresceu, transformando-se numa grande árvore, que abriga as árvores do céu nos seus ramos."
Parou de ler. No silêncio que se seguiu, ela conseguia ouvir a brisa suave do Outono a passar pelas frinchas do telhado.
Asclépios perguntou, calmamente:
- E compreendes o significado daquilo que leste?
- Penso que sim.
- Explica-me.
- Significa que a fé é como um grão de mostarda. Planta-se no nosso coração, como uma semente num jardim. Se a semente for tratada, cresce, transformando-se numa linda árvore. Se se cultivar a fé, ganha-se o Reino dos Céus.
Asclépios cofiou a barba. Não deu qualquer sinal de aprovação daquilo que ela tinha dito. Será que ela tinha dado uma interpretação incorrecta?
- Ou... - teve outra ideia.
Asclépios ergueu as sobrancelhas.
- Sim?
- Também pode querer dizer que a Igreja é como uma semente. A Igreja começou por ser pequena, crescendo escondida, cultivada apenas por Cristo e pelos Doze Apóstolos, mas transformou-se numa grande árvore, uma árvore que abriga o mundo inteiro.
- E as aves que se abrigam nos seus ramos? - perguntou Asclépios.
Ela pensou rapidamente.
- São os crentes, que encontram salvação na Igreja, como as aves encontram protecção nos ramos da árvore.
A expressão de Asclépios era enigmática. Voltou a cofiar a barba, solenemente. Joana resolveu fazer outra tentativa.
- Então... - pensava lentamente, à medida que falava. - O grão de mostarda pode representar Cristo. Cristo era como uma semente quando foi sepultado na terra e como uma árvore, quando ressuscitou e subiu ao Céu.
Asclépios virou-se para o cónego.
- Ouviu?
O rosto do cónego contorceu-se:
- Ela é apenas uma rapariga. Estou certo que não queria...
- A semente como Fé, Igreja, Cristo. - disse Asclépios. - Alegoria, moralis, anagoge. A exegese escriturística clássica, em três partes. Expressa de uma forma bastante simples, claro, mas, mesmo assim, uma interpretação tão completa como a do próprio Gregório Magno. E isto sem uma educação formal! Espantoso! A criança demonstra uma inteligência extraordinária. Tratarei de ser o seu tutor.
Joana estava encantada. Estava a sonhar? Tinha medo de acreditar que aquilo estava mesmo a acontecer.
- Claro que não na escola - continuou Asclépios - porque isso não seria permitido. Arranjarei maneira de vir aqui uma vez por semana. E arranjo-lhe os livros para ela estudar nos outros dias.
O cónego estava contrariado. Este não era o desfecho que ele tinha esperado.
- Está tudo muito bem - disse ele, para experimentar. - Mas, e o rapaz?
- Ah, o rapaz? Temo que ele não demonstre qualquer possibilidade como estudante. Com mais algum estudo, pode ser que fique apto a ser cura de aldeia. A lei só exige que eles saibam ler e escrever e conheçam as formas correctas dos sacramentos. Mas, eu ficar-me-ia por aí. A escola não é para ele.
- Não posso acreditar no que oiço! Quereis ensinar a rapariga e o rapaz não?
Asclépios encolheu os ombros.
- Um tem talento, o outro não: Não se pode pensar outra coisa.
- Uma mulher a estudar!
O cónego estava indignado.
- Ela irá estudar os textos sagrados e o irmão é ignorado? Não o permitirei. Ou ensinais ambos ou nenhum.
Joana susteve a respiração. Certamente não estaria tão perto de perder tudo quanto tinha conseguido até aqui. Começou a rezar baixinho, depois, parou. Talvez Deus não aprovasse.
Procurou a medalha de Santa Catarina por baixo da túnica. Ela compreenderia.
Por favor, rezou ela, silenciosamente. Ajudai-me a consegui-lo. Far-vos-ei uma boa oferta. Mas, ajudai-me a consegui-lo.
Asclépios parecia impaciente.
- Já vos disse que o rapaz não tem qualquer aptidão para o estudo. Educá-lo seria uma perda de tempo.
- Então, está decidido - disse o cónego, furioso.
Joana olhou para ele, sem querer acreditar, quando ele se levantou da cadeira.
- Um momento - disse Asclépios. - Vejo que insistis na vossa ideia.
- Insisto.
- Muito bem. A rapariga apresenta todos os sinais de possuir um intelecto prodigioso. Poderá chegar longe se receber a educação adequada. Não posso deixar perder uma oportunidade destas. Já que insiste, serei tutor de ambos.
Joana suspirou.
- Obrigada - disse ela, tanto a Santa Catarina, como a Asclépios. Era tudo quanto conseguia dizer com uma voz segura. - Trabalharei para o merecer.
Asclépios olhou para ela, com um olhar cheio de uma inteligência penetrante. Como um fogo interior, pensou Joana.
Um fogo que iluminaria as semanas e meses que se iriam seguir.
- Trabalharás mesmo - disse ele.
Havia um esboço de sorriso por baixo das suas espessas barbas brancas. - Oh, se trabalharás.
Roma
O interior do Palácio de Latrão, com as suas abóbadas altas em mármore parecia deliciosamente fresco em comparação com o calor abrasador das ruas romanas. Quando as grandes portas em madeira da residência papal se fecharam atrás dele, Anastácio ficou ofuscado, momentaneamente cego pela escuridão do Patriarchium. Instintivamente, procurou a mão do pai, depois, recuou, recordando-se.
- Fica direito, não te agarres ao teu pai - tinha dito a sua mãe naquela manhã, enquanto lhe preparava a roupa. - Já tens doze anos; já é tempo de aprenderes a comportar-te como um homem. - Puxou firmemente pela fivela do seu cinto, pondo-o no lugar. - E olha de frente para aqueles que se te dirigirem. O nome da nossa família não fica atrás de qualquer outro; não deves parecer demasiado serviçal.
Agora, ao recordar-se das suas palavras, Anastácio puxou os ombros para trás e ergueu a cabeça. Era pequeno para a sua idade, o que constituía um desgosto para si próprio, mas tentava sempre parecer o mais alto possível. Os seus olhos começaram a adaptar-se à luz fraca, pelo que olhou à volta, cheio de curiosidade. Era a sua primeira visita a Latrão, a majestosa residência do Papa, sede de todo o poder em Roma. Anastácio estava impressionado. O interior era enorme, constituído por uma vasta estrutura que albergava os arquivos da Igreja e a Câmara do Tesouro, assim como dezenas de oratórios, triclínios e capelas, entre as quais a célebre capela dos Papas, o Sanctum Sanctorum. Diante de Anastácio, na parede do Grande Átrio, estava pendurada uma enorme tabula mundi, um mapa de parede anotado, representando o mundo como um disco plano rodeado de oceanos. Os três continentes - Ásia, África e Europa - estavam separados pelos grandes rios Tanais e Nilo, assim como pelo Mediterrâneo.
No centro do mundo, estava a cidade santa de Jerusalém, cuja fronteira leste confinava com o paraíso terrestre. Anastácio observou o mapa e a sua atenção concentrou-se nos grandes, misteriosos e aterradores espaços virgens, nas margens mais longínquas, onde o mundo caía na escuridão.
Aproximou-se um homem com uma dalmática em seda branca, característica dos membros da casa papal.
- Saudações e bênçãos do Santíssimo Padre, o papa Pascal - disse ele.
- Que vivamos o suficiente para continuarmos a gozar da sua orientação benevolente - respondeu o pai de Anastácio.
Depois das devidas formalidades, ambos os homens se descontraíram.
- Então, Arsénio, como estás? - perguntou o homem. - Vieste para ver o Teodoro, não?
O pai de Anastácio confirmou:
- Sim. Para tratar das coisas para o meu sobrinho Cosme ser nomeado arcarius.
Baixando a voz, acrescentou:
- O pagamento já foi feito há semanas. Não percebo porque motivo o anúncio se atrasou tanto.
- Teodoro tem estado muito ocupado ultimamente. Houve aquele conflito terrível, sabes, por causa da posse do Mosteiro de Farfa. O Santo Padre ficou muito descontente com a decisão do tribunal imperial.
Aproximando-se mais, acrescentou num sussurro conspirativo:
- E ainda mais descontente com o Teo, por causa de ele ter defendido a posição do imperador. Prepara-te: o Teo é capaz de não poder fazer muito por ti, neste momento.
- Já tinha pensado nisso - disse o pai de Anastácio, encolhendo os ombros. - Mesmo assim, Teo continua a ser primicerius e o pagamento já foi feito.
- Veremos.
A conversa interrompeu-se abruptamente quando se aproximou um segundo homem, vestido também com uma dalmática branca.
Anastácio, aproximando-se do pai, sentiu que as suas costas ficaram um pouco hirtas.
- Que as bênçãos do Santo Padre te acompanhem, Sárpato - disse o seu pai.
- E a ti, meu caro Arsénio, e a ti - respondeu o homem. A sua boca retorceu-se numa expressão estranha.
- Ah, Luciano - disse ele, voltando-se para o primeiro homem. - Estavas tão embrenhado na tua conversa com Arsénio, mesmo agora. Tens notícias interessantes? Adorava ouvi-las. - Acenou afectadamente. - A vida por aqui é tão monótona desde que o Imperador partiu.
- Não, Sárpato, claro que não. Se tivesse novidades, dizia - respondeu Luciano, enervado.
E disse para o pai de Anastácio:
- Bem, Arsénio, tenho de ir. Tenho que fazer.
Curvou-se, virou-se e afastou-se rapidamente.
Sárpato abanou a cabeça.
- Luciano tem andado irritado ultimamente. Não sei porquê.
Olhou longamente para o pai de Anastácio.
- Bem, não interessa. Vejo que tens companhia, hoje.
- Sim. Posso apresentar-te o meu filho Anastácio? Vai fazer exame em breve para se tornar lector.
O pai de Anastácio acrescentou, enfaticamente:
- O seu tio Teo tem-lhe muita estima; foi por isso que o trouxe comigo para o nosso encontro.
Anastácio curvou-se.
- Que prospereis no Seu Nome - disse ele formalmente, como lhe tinham ensinado.
O homem sorriu e os cantos dos seus lábios torceram-se ainda mais, divertidos.
- Mas, o latim do rapaz é excelente; parabéns, Arsénio. Será um digno sucessor - a não ser, claro, que partilhe da deplorável falta de discernimento do seu tio.
Prosseguiu sem dar margem para qualquer resposta:
- Sim, sim, um excelente rapaz. Que idade tem?
A pergunta foi dirigida ao pai de Anastácio.
Anastácio respondeu:
- Fiz doze anos logo a seguir ao Advento.
- Ah sim? Pareces mais novo - disse ele, dando uma pancadinha na nuca de Anastácio.
Anastácio sentiu antipatia pelo desconhecido. Fazendo-se tão alto quanto possível, disse:
- E penso que o discernimento do meu tio não pode ser assim tão mau, senão, não seria primicerius.
O pai de Anastácio beliscou-lhe o braço, em advertência, mas os seus olhos eram meigos e havia uma ponta de sorriso nos seus lábios. O desconhecido ficou a olhar para Anastácio, exprimindo algo como surpresa? irritação?
- nos seus olhos. Anastácio desviou o olhar. Ao fim de algum tempo, o homem voltou a concentrar a atenção no pai de Anastácio.
- Mas que lealdade familiar! Que comovente! Bem, bem, esperemos que o pensamento do rapaz se revele tão correcto como o seu latim.
Um grande ruído desviou as suas atenções para o outro lado do átrio, ao mesmo tempo que as pesadas portas se abriam.
- Ah! Aí vem agora o primicerius. Não os interrompo mais.
Sárpato curvou-se afectadamente e saiu.
Fez-se silêncio na sala quando Teodoro entrou, acompanhado do seu cunhado, Leão, recentemente elevado à posição de nomemclator. Parou mesmo à porta para conversar um pouco com alguns clérigos e nobres que estavam ali próximo. Vestido com a sua dalmática em seda rubra e o seu cingulum dourado, Teodoro era, indiscutivelmente, o mais elegante do grupo; ele adorava tecidos finos e manifestava uma certa ostentação no vestir, característica que Anastácio apreciava.
Terminando as saudações formais, Teodoro observou a sala. Ao ver Anastácio e o seu pai, sorriu e começou a atravessar o compartimento, dirigindo-se para eles. Ao aproximar-se, acenou a Anastácio, e a sua mão direita moveu-se na direcção do bolso da sua dalmática. Anastácio sorriu porque sabia o que aquilo significava. Teodoro, que adorava crianças, trazia sempre presentes para oferecer. «O que será hoje?», pensou Anastácio, abrindo a boca, na expectativa. Um figo maduro, uma ameixa doce, vermelha, talvez um pedaço de maçapão, cremoso e rico, recheado de amêndoas e avelãs doces?
A atenção de Anastácio estava tão concentrada no bolso da dalmática de Teodoro, que, ao princípio, não reparou na chegada dos outros homens. Eles aproximaram-se rapidamente - três de entre eles - pelas costas; um deles tapou a boca de Teodoro com a mão e puxou-o para trás. Anastácio pensou que era uma espécie de brincadeira. Sorrindo, olhou para o pai, à espera de uma explicação; o seu coração saltou quando viu medo nos olhos do pai. Voltou-se e viu Teodoro a lutar para se libertar. Teodoro era um homem alto, mas a luta era fatalmente desigual. Os homens rodearam-no, agarrando-o pelos braços e atirando-o ao chão. A parte da frente da dalmática rubi de Teodoro estava rasgada, expondo a sua pele branca. Um dos atacantes pegou em Teodoro pelos cabelos e puxou-lhe a cabeça para trás. Anastácio viu um fio de aço brilhar numa torrente de vermelho.
Anastácio estremeceu quando um borrifo atingiu a sua cara. Levantou os olhos e ficou estupefacto, a olhar para a mão. Era sangue. Do outro lado da sala, alguém gritou. Anastácio viu Leão, o cunhado de Teodoro, desaparecer por entre um turbilhão de atacantes.
Os homens libertaram Teodoro e ele caiu para a frente, de joelhos.
Depois, levantou a cabeça e Anastácio gritou de terror. O seu rosto tinha uma aparência horrível. O sangue jorrava dos buracos negros e vazios, onde outrora, se encontravam os olhos de Teodoro, correndo pelo seu queixo, para os ombros e o peito.
Anastácio escondeu a cara na anca do seu pai. Sentiu as grandes mãos do pai pousarem nos seus ombros e ouviu a sua voz forte e imperturbável:
- Não - disse o pai. - Não te podes esconder, meu filho. As suas mãos empurravam-no, afastando-o, forçando-o a ver a cena terrível que se desenrolava diante dos seus olhos. - Olha - mandou a voz - e aprende. Este é o preço que se paga pela falta de subtileza e de arte. Teodoro pagou agora por causa de ter demonstrado tão abertamente a sua lealdade ao imperador.
Anastácio ficou imóvel como uma estátua, enquanto os atacantes levavam Teodoro e Leão para o centro do átrio. Eles tropeçaram várias vezes, quase caindo no chão em ladrilhos, cheio de sangue. Teodoro gritava algo, mas as palavras não se compreendiam. De boca aberta e os lábios a mexer, o seu rosto ainda era mais assustador.
Os homens forçaram Teodoro e Leão a ajoelharem-se e a baixarem as cabeças. Um homem levantou uma longa espada e desfechou-a na nuca de Leão, decapitando-o de um só golpe.
Mas, o pescoço de Teodoro era mais forte e ele continuou a lutar; foram precisos três ou quatro golpes de espada para lhe separar a cabeça do corpo.
Anastácio reparou, pela primeira vez, que os atacantes ostentavam a cruz vermelha da milícia papal.
- Pai! - gritou ele. - É a guarda! Os guardas da milícia!
- Sim.
Ele puxou Anastácio para junto dele. Anastácio estava à beira da histeria:
- Mas, porquê? Porquê, Pai? Porque haveriam eles de fazer isto?
- Obedeceram a ordens.
- A ordens? - perguntou Anastácio. Tentava compreender. - Quem poderia dar uma ordem destas?
- Quem? Ah, meu filho, pensa.
O rosto do pai estava pálido, mas a sua voz era firme, quando respondeu:
- Tens de aprender a pensar, para nunca sofreres tal destino. Pensa: quem tem poder para o fazer? Quem pode dar uma ordem destas?
Anastácio ficou sem palavras, avassalado pela monstruosidade da ideia que começava a formar-se-lhe na mente.
- Sim.
Agora, as mãos do seu pai pousavam suavemente sobre os seus ombros.
- Quem, senão o Papa? - disse ele.
- Não, não, não.
A voz de Asclépios estava cortante de impaciência.
- Tens de fazer as letras muito mais pequenas. Vês como a tua irmã escreve a lição dela?
Bateu no papel de Joana.
- Tens de aprender a respeitar muito mais o teu pergaminho, meu rapaz. Foi precisa uma ovelha inteira para fazer apenas uma folha. Se os monges de Andernach espalhassem as suas palavras pelas páginas desta maneira, os rebanhos da Austrásia seriam dizimados num mês!
João lançou um olhar ressentido a Joana.
- É muito difícil; não sou capaz.
Asclépios suspirou.
- Está bem; volta a praticar na tua tábua. Quando tiveres conseguido controlar melhor a escrita, voltamos a tentar o pergaminho.
Perguntou à Joana:
- Já acabaste o De inventione?
- Já, senhor - respondeu Joana.
- Enuncia as seis questões probatórias utilizadas para determinar as circunstâncias da acção humana.
Joana estava preparada.
- Quis, quid, quomodo, ubi, quando, cur? - Quem, o quê, como, onde, quando, porquê?
- Muito bem. Agora, identifica as constitutiones retóricas.
- Cícero especifica quatro constitutiones diferentes: a controvérsia sobre o facto, a controvérsia acerca da definição, a controvérsia acerca da natureza do acto, e...
Ouviu-se um baque, quando Gudrun empurrou a porta para entrar, dobrada pelo peso dos cantis de madeira cheios de água que trazia na mão. Joana levantou-se para a ajudar, mas Asclépios pousou a mão no seu ombro, obrigando-a a voltar a sentar-se.
- E?
Joana hesitou, com os olhos ainda fixos na mãe.
- Continua, filha.
O tom de Asclépios indicava que ele não tolerava qualquer desobediência.
Joana apressou-se a responder:
- A controvérsia acerca da jurisdição ou procedimento.
Asclépios assentiu, satisfeito.
- Apresenta um exemplo para o terceiro status. Escreve-o no teu pergaminho, mas certifica-te de que vale a pena fazê-lo.
Gudrun deambulava, acendendo o lume, colocando a panela ao lume, pondo a mesa para a refeição da tarde. Olhou uma ou duas vezes por cima do ombro, aborrecida.
Joana sentia-se culpada, mas esforçou-se por se concentrar no seu trabalho. Este tempo era precioso: Asclépios só vinha uma vez por semana e os seus estudos eram mais importantes do que qualquer outra coisa.
Mas, era difícil trabalhar sob o peso do descontentamento da mãe. Era óbvio que Asclépios também tinha reparado, apesar de o atribuir ao facto de as lições da Joana a desviarem dos trabalhos caseiros. Joana sabia qual era o motivo real. Os estudos dela eram uma traição, uma violação do mundo secreto que ela partilhava com a sua mãe, um mundo povoado de deuses e segredos saxónicos. Aprendendo latim e estudando textos cristãos, Joana punha-se ao lado das coisas que a mãe mais detestava: do deus cristão, que tinha destruído a pátria de Gudrun e, acima de tudo, do cónego, seu marido.
A verdade era que Joana trabalhava sobretudo com textos clássicos pré-cristãos. Asclépios venerava os textos pagãos de Cícero, Séneca, Lucano e Ovídeo, condenados por maior parte dos eruditos da época. Ele estava a ensinar Joana a ler grego através de textos tão antigos como os de Menandro e Homero, cuja poesia, aos olhos do cónego, não passava de uma blasfémia pagã. Ensinada por Asclépios a apreciar acima de tudo a clareza e o estilo, Joana nunca se questionara se a poesia de Homero era aceitável nos termos da doutrina cristã; Deus estava nela porque ela era bela. Teria gostado de explicar isto à sua mãe, mas sabia que não adiantaria nada. Homero ou Beda, Cícero ou Santo Agostinho - para Gudrun era tudo a mesma coisa: não era saxónio; e bastava.
Ela tinha perdido a concentração; enganou-se e fez um borrão no pergaminho. Levantou os olhos para Asclépios, que estava a olhar para ela, com uns olhos escuros penetrantes.
- Deixa lá, filha. - A sua voz era de uma gentileza inesperada; normalmente, era assim com erros descuidados. - Deixa lá. Começa outra vez aqui.
Os habitantes de Ingelheim estavam reunidos junto ao tanque comum, conversando animadamente. Naquele dia, ia ser julgada uma feiticeira, um acontecimento que, certamente, iria inspirar horror, piedade e satisfação, uma variante bem-vinda na monotonia quotidiana das suas vidas.
- Benedictus.
O cónego deu início à bênção da água. Hrotrud tentou fugir, mas dois homens agarraram-na e arrastaram-na para onde se encontrava o cónego, que a olhou de sobrolho carregado, em sinal de desaprovação. Hrotrud praguejou e debateu-se e os homens que a agarravam prenderam-lhe as mãos atrás das costas e ataram-nas firmemente com uma tira de pano de linho, provocando-lhe um grito de dor.
- Maleficia - murmurou alguém do meio da multidão, perto do local onde Joana e Asclépios se encontravam.
- São Barnabé nos guarde do mau-olhado.
Asclépios não disse nada, mas abanou a cabeça tristemente.
Tinha chegado de manhã a Ingelheim para a lição semanal, mas o cónego tinha-se recusado a autorizar que os filhos recebessem a lição, insistindo em que fossem primeiro assistir ao julgamento de Hrotrud, antiga parteira da aldeia.
- Aprendereis mais com os caminhos de Deus assistindo a este julgamento sagrado do que com qualquer escrito pagão - tinha dito o cónego, olhando acusadoramente para Asclépios.
Joana não gostava de adiar a sua lição, mas estava curiosa sobre o julgamento. Perguntava-se a si própria como seria; nunca tinha visto ninguém ser julgado por feitiçaria. Mas, tinha pena que fosse Hrotrud. Gostava de Hrotrud, uma mulher honesta, não uma hipócrita. Sempre tinha dito a verdade à Joana, tratando-a com delicadeza e não a ridicularizando, como faziam muitos outros da aldeia. Gudrun tinha contado à Joana que Hrotrud tinha assistido ao seu nascimento - um parto difícil, segundo dizia a sua mãe, que atribuía a Hrotrud o salvamento da sua vida e da Joana, naquele dia.
Ao olhar para a multidão, Joana pensou que Hrotrud tinha assistido ao nascimento de quase todos os que se encontravam ali, pelo menos, daqueles que já tinham passado por seis invernos ou mais. Ninguém diria, a avaliar pelo ódio com que a encaravam agora. Ela tinha-se tornado um aborrecimento para eles, um aguilhão para a sua caridade cristã porque, desde que dores lancinantes tinham retorcido as suas mãos, destruindo a sua utilidade como parteira, vivia das esmolas dos seus vizinhos - disso e do pouco que conseguia ganhar com a venda de plantas medicinais e de filtros que ela própria fazia.
O seu talento acabou por ser a sua perdição: curar insónias, dores de dentes, de estômago e de cabeça acabou por ser considerado pelos simples aldeões como nada menos do que feitiçaria.
Depois de ter terminado a bênção da água, o cónego virou-se para Hrotrud:
- Mulher! Sabes o crime de que és acusada. Confessas de livre vontade os teus pecados para alcançar a salvação da tua alma imortal?
Hrotrud olhou-o pelo canto do olho.
- Se confessar, fico livre?
O cónego abanou a cabeça.
- A Sagrada Escritura proíbe-o claramente: Não deixarás uma feiticeira viver.
E acrescentou, para dar maior autoridade à frase:
- Êxodo, capítulo vinte e dois, versículo dezoito. Mas, morrerás uma morte abençoada e suave, ganhando as recompensas incomensuráveis dos Céus.
- Não! - retorquiu Hrotrud, firmemente. - Eu sou uma mulher cristã, não sou uma bruxa, e quem disser o contrário é um mentiroso!
- Bruxa! Sofrerás o fogo do Inferno para toda a eternidade! Negas a prova diante dos teus próprios olhos?
O cónego tirou detrás das costas um cinto de linho, deformado por uma série de nós apertados. Estendeu-o acusadoramente para Hrotrud, que recuou, sobressaltada.
- Vêem como ela foge dele? - disse alguém perto de Joana. É claro que é culpada e que deve ser lançada à fogueira!
Qualquer um ficaria intimidado por um gesto tão repentino, pensou Joana. É evidente que isso não prova nada.
O cónego levantou o cinto para a multidão o ver.
- Isto pertence a Arno, o moleiro. Desapareceu ontem à noite. Imediatamente depois, ele caiu de cama, com uma dor terrível nas entranhas.
Os rostos da multidão tornaram-se solenes. Eles não gostavam particularmente de Arno, suspeito de enganar nos pesos.
- Qual é a coisa mais gorda do mundo? - dizia o início de uma adivinha, que eles gostavam de repetir. - A camisa de Arno porque aperta todos os dias o pescoço de um ladrão!
Mesmo assim, toda a comunidade estava preocupada com a doença do seu moleiro. Sem ele, o trigo não seria transformado em farinha porque, por lei, nenhum aldeão podia moer o seu próprio trigo.
- Há dois dias atrás - a voz do cónego estava ensombrada com a acusação - este cinto foi descoberto na floresta junto à casa de Hrotrud.
Ouviu-se um murmúrio colectivo, pontilhado de gritos.
- Bruxa! Feiticeira! Seja queimada!
O cónego disse a Hrotrud:
- Roubaste o cinto e fizeste-lhe nós para ajudar aos teus encantos malignos, o que ia matando Arno.
- Nunca! - gritou Hrotrud, indignada, lutando contra os laços que a prendiam. - Não fiz tal coisa! Nunca vi esse cinto! Nunca...
Impaciente, o cónego fez um sinal aos homens, que agarraram Hrotrud como um saco de castanhas, balançando-a para trás e para a frente várias vezes. Depois, soltaram-na, de repente.
Hrotrud gritou, aterrada e irada, enquanto voava pelo ar, indo aterrar com um baque directamente no meio do tanque.
Joana e Asclépios foram empurrados pela multidão, que procurava aproximar-se da borda do tanque para ver. Se Hrotrud viesse à superfície e flutuasse, isso queria dizer que as águas benzidas pelo padre a tinham rejeitado; revelar-se-ia como uma feiticeira e como uma bruxa, pelo que seria queimada. Se se afundasse, estava provada a sua inocência e salvar-se-ia.
Num silêncio tenso, todos os olhos estavam fixos na superfície do tanque. Começaram a formar-se círculos, lentamente, no local onde Hrotrud tinha caído à água; nos outros locais, a água estava tranquila.
O cónego rabujou e fez sinal aos homens, que se dirigiram imediatamente para a água, mergulhando à procura de Hrotrud.
- Está inocente das acusações feitas contra ela - pronunciou o cónego. - Deus seja louvado.
Seria impressão da Joana, ou era verdade que ele parecia desapontado?
Os homens continuavam a mergulhar, sem resultados. Por fim, um deles veio à superfície, trazendo Hrotrud. Ela jazia inanimada nos seus braços, com o rosto inchado e pálido.
Ele levou-a para a margem do tanque e deitou-a no chão. Ela não se mexeu. Ele debruçou-se sobre ela para ouvir se o seu coração batia.
Pouco depois, levantou-se.
- Está morta - disse ele.
Um murmúrio percorreu a multidão.
- Infelizmente - disse o cónego. - Mas, morreu ilibada dos crimes de que tinha sido acusada. Deus conhece os Seus; Ele a recompensará e dará descanso à sua alma.
Os aldeões dispersaram, alguns passando pelo local onde se encontrava o corpo de Hrotrud para a verem de perto; outros, partiram em pequenos grupos, falando em voz baixa.
Joana e Asclépios regressaram a casa, em silêncio. Joana estava profundamente perturbada pela morte de Hrotrud.
Envergonhava-se da excitação que tinha sentido antes por causa de ir presenciar um julgamento por feitiçaria. Mas, ela não sabia que Hrotrud ia morrer. De certeza que Hrotrud não era uma bruxa, por isso, Joana tinha acreditado que Deus provaria a sua inocência.
E Ele tinha-o feito.
Mas, então, porque a deixou morrer?
Só falou no assunto mais tarde, depois de ter retomado a lição em casa. Levantou o estilete a meio da escrita e perguntou, subitamente:
- Porque teria Deus feito uma coisa daquelas?
- Talvez não o tenha feito - respondeu Asclépios, percebendo imediatamente o que ela queria dizer.
A Joana fitou-o intensamente.
- Estais a dizer que uma coisa destas poderia ter acontecido contra a Sua vontade?
- Talvez não. Mas, talvez a culpa esteja na natureza do julgamento e não na natureza da vontade de Deus.
A Joana reflectiu no que tinha ouvido.
- O meu pai diria que é assim que as bruxas são julgadas há centenas de anos.
- É verdade.
- Mas, isso não significa que esteja correcto - Joana olhou para Asclépios. - Qual seria a forma mais correcta?
- Diz-me tu - respondeu ele.
Joana suspirou. Asclépios era tão diferente do pai dela e até de Mateus. Recusava-se a dizer-lhe as coisas, insistindo que teria de ser ela a discorrer a sua própria forma de responder. Joana coçou levemente a ponta do nariz, como costumava fazer quando estava a tentar resolver um problema.
Devia estar cega para não ver imediatamente. Cícero e o De inventione - até aqui, não passava de uma abstracção, de um ornamento retórico, um exercício mental.
- As perguntas probatórias - disse Joana. - Não poderiam usar-se neste caso?
- Explica - disse Asclépios.
- Quid: existe o facto do cinto com nós - isso é indiscutível. - Deve existir, certamente, um sentido para este facto.
Quis: - Quem fez os nós no cinto e quem o colocou na floresta?
Quomodo: - Como foi tirado a Arno? Quando, Ubi: quando e onde lhe foi tirado?
- Quem viu Hrotrud com ele? Cur: porque quereria Hrotrud fazer ao Arno?
Joana falava cada vez mais depressa, excitada pelas possibilidades levantadas pela sua ideia.
- Deveriam ter sido apresentadas e ouvidas testemunhas. E Hrotrud e Arno também. Eles podiam ter sido interrogados. As suas respostas talvez tivessem determinado a inocência de Hrotrud. E... - Joana concluiu pesarosamente - ela não precisaria de ter morrido para o provar!
Eles estavam a pisar terreno perigoso e sabiam-no muito bem.
Sentaram-se os dois, em silêncio. Joana estava perturbada pela enormidade da ideia que se tinha abatido sobre ela: a aplicação da lógica à revelação divina, a possibilidade de uma justiça humana na qual as afirmações eram orientadas pela inquirição racional e a crença se apoiava nos poderes da razão.
Asclépios disse:
- Provavelmente, seria mais sensato não mencionar esta conversa.
A festa de São Bertino tinha chegado ao fim, os dias eram cada vez mais curtos, por isso, as lições das crianças também.
O Sol já se tinha posto quando Asclépios se levantou.
- Basta por hoje, meninos.
- Posso ir? - perguntou o João.
Asclépios acenou, despedindo-o, e levantou-se do seu lugar, apressando-se a sair.
Joana sorriu, pesarosa. O tédio evidente que João demonstrava pelos estudos embaraçava-a. Asclépios perdia frequentemente a paciência com o João, chegando mesmo a ser duro. Mas, o seu irmão era um estudante lento e sem vontade.
- Não sou capaz! - dizia ele, mal se lhe apresentava uma nova dificuldade.
Havia momentos em que Joana gostava de poder abaná-lo e de lhe gritar:
- Tenta! Tenta! Como sabes que não és capaz, se não tentas!
Depois, censurava-se a si própria por ter estes pensamentos. João não tinha culpa de ser lento. Sem ele, nem sequer teria havido lições naqueles últimos dois anos - e a vida seria impensável sem o estudo.
Quando o João se foi embora, Asclépios disse, com um ar sério:
- Tenho uma coisa para te dizer. Fui informado de que já não necessitam dos meus serviços na escola. Foi contratado um outro professor, um franco, e o bispo acha que ele é mais adequado para o lugar do que eu.
Joana estava fora de si.
- Como é possível? Quem é esse homem? Não é possível que saiba tanto como vós!
Asclépios sorriu.
- Essa afirmação, demonstra se não sabedoria, pelo menos, lealdade. Conheci o homem; é um excelente professor, cujos interesses são mais adequados aos ensinamentos na escola do que os meus.
Vendo que Joana não acreditou, acrescentou:
- O lugar para o tipo de conhecimento que tu e eu procuramos, Joana, não é dentro dos muros da catedral. Lembra-te do que te digo e tem cuidado: algumas ideias são perigosas.
- Compreendo - respondeu Joana, apesar de não compreender completamente. - Mas, o que ireis fazer agora? De que vivereis?
- Tenho um amigo em Atenas, um compatriota que fez fortuna como mercador. Quer que eu seja tutor dos seus filhos.
- Ides-vos embora?
Joana não queria crer no que ele lhe estava a dizer.
- Ele é abastado; a sua oferta é generosa. Não tenho outra alternativa senão aceitar.
- Quereis ir para Atenas? - Era tão longe. - Quando ireis?
- Daqui a um mês. Já teria ido se não fosse o prazer que sinto no nosso trabalho em conjunto.
- Mas - o semblante de Joana toldou-se, tentando pensar em algo que impedisse este terrível acontecimento. - Poderíeis viver aqui connosco. Poderíeis ser o nosso tutor, meu e do João, e poderíamos ter lições todos os dias!
- Isso é impossível, minha querida. O vosso pai mal tem o necessário para sustentar a tua família durante o Inverno. Na vossa casa e na vossa mesa não há lugar para um estranho. Além disso, tenho de ir para um sítio onde possa continuar o meu trabalho. A biblioteca da catedral deixará de me ser acessível.
- Não partais! - O desgosto cresceu dentro dela como uma substância palpável, formando um nó duro no fundo da sua garganta. - Por favor, não partais!
- Minha querida menina, tenho de ir. Embora, na verdade, preferisse que não fosse assim.
Acariciou docemente o cabelo dourado de Joana.
- Aprendi muito ensinando-te; duvido que volte a ter um aluno tão dotado. Possuis uma inteligência rara; é um dom de Deus e não o deves negar - ele olhou para ela significativamente - custe o que custar.
Joana tinha medo de falar sem que a sua voz traísse as suas emoções.
Asclépios pegou-lhe na mão.
- Não te preocupes. Conseguirás continuar os teus estudos. Tratarei disso. Ainda não sei bem onde ou como, mas fá-lo-ei. A tua inteligência é demasiado prometedora para se perder. Encontraremos a maneira de a fazer frutificar, prometo.
Apertou-lhe a mão.
- Confia em mim.
Depois de ele ter partido, Joana não se mexeu da sua mesinha. Ficou sozinha no escuro, até a mãe voltar, com a madeira para a lareira.
- Ah, então, já acabaram? - disse Gudrun. - Ainda bem! Agora, vem ajudar-me a acender o lume.
Asclépios veio vê-la no dia em que partiu, vestido com o seu longo manto de viagem azul. Trazia na mão um pacote embrulhado em pano.
- É para ti.
Entregou-lhe o embrulho.
Joana desembrulhou o pacote e deu um grito quando descobriu o seu conteúdo. Era um livro encadernado à moda oriental, com madeira guarnecida a couro.
- É o meu - disse Asclépios. - Fui eu que o fiz, há alguns anos. É um exemplar de Homero. Tens o original grego na primeira metade do livro e a tradução latina na segunda metade. Ajudar-te-á a manter frescos os teus conhecimentos da língua, até poderes recomeçar os teus estudos.
Joana não tinha palavras. Um livro só dela! Este privilégio só era partilhado por monges e eruditos do mais alto gabarito.
Abriu-o, olhando para cada uma das linhas da letra uncial perfeita de Asclépios, que enchia as páginas de palavras de uma beleza inexprimível. Asclépios observava-a, com os olhos cheios de uma terna melancolia.
- Não me esqueças, Joana. Nunca me esqueças.
Abriu-lhe os braços. Ela dirigiu-se para ele e abraçaram-se pela primeira vez. Ficaram muito tempo agarrados um ao outro, o corpo alto e direito de Asclépios embalando o pequeno corpo de Joana. Quando, finalmente, se separaram, o seu manto azul estava húmido das lágrimas de Joana.
Ela não olhou quando ele se afastou a cavalo. Ficou dentro de casa, onde ele a tinha deixado, segurando no livro com tanta força que as suas mãos lhe doíam.
Joana sabia que o seu pai não a autorizaria a ficar com o livro. Ele nunca tinha concordado com os estudos dela e, agora, que Asclépios tinha partido, não havia ninguém que o impedisse de levar a sua vontade avante. Por isso, ela escondeu o livro, voltando a embrulhá-lo cuidadosamente no seu invólucro e metendo-o por baixo do monte de palha do seu lado da cama.
Desejava ardentemente lê-lo, ver as palavras, voltar a ouvir ressoar na sua mente a beleza gozosa da poesia. Mas, era muito perigoso; havia sempre alguém dentro ou perto de casa e ela tinha medo de ser descoberta. A sua única oportunidade era à noite. Depois de todos estarem a dormir, ela podia ler sem correr o risco de ser interrompida subitamente. Mas, precisava de um pouco de luz - de uma vela ou, pelo menos, de um pouco de azeite. A família só conseguia arranjar duas dúzias de velas por ano - o cónego tinha relutância em as levar do santuário - e eram guardadas cuidadosamente; ela não poderia utilizar uma delas sem ser descoberta. Mas, a arrecadação da igreja tinha um monte de cera armazenada. Os habitantes de Ingelheim tinham a obrigação de entregar ao santuário cem libras por ano, a título de imposto: Se ela conseguisse alguma, podia fazer a sua própria vela.
Não foi fácil, mas acabou por conseguir surripiar cera em quantidade suficiente para fazer uma pequena vela, utilizando um pedaço de fio de linho para o pavio. Era uma peça artesanal - a chama não passava de uma luzinha tremelicante - mas era o suficiente para ela ter luz para poder estudar.
Na primeira noite, foi cuidadosa. Esperou que os pais se tivessem passado para a sua cama, por trás da divisória, e só se mexeu depois de ter começado a ouvir o cónego a ressonar.
Por fim, saltou da cama, silenciosa e vigilante como um fauno, com cuidado para não acordar o João, que estava deitado ao seu lado. Ele dormia sossegadamente, com a cabeça coberta pelos cobertores. Joana retirou o livro cuidadosamente do lugar onde se encontrava escondido na palha e levou-o para a pequena mesa em pinho, no canto oposto do quarto. Levou a vela para a lareira e acendeu-a nas brasas que ardiam, regressando à secretária, colocou a vela junto ao livro. A luz era bem pouco firme, mas, com esforço, ela conseguia seguir as linhas de tinta preta. As letras bem desenhadas dançavam à luz tremeluzente, acenando, convidativas. Joana parou por instantes, saboreando o momento. Depois, virou a página e começou.
Os dias temperados e as noites frias do Windumemanoth, o mês da vindima, passaram depressa. As ríspidas nortadas chegaram mais cedo do que o habitual, soprando em rajadas fortes, que enregelavam os ossos. A janela da cabana voltou a ser fretada, mas, os ventos gélidos penetravam por todas as frinchas; para se manterem quentes, eles tinham que deixar a lareira acesa durante todo o dia, o que enchia a casa de fuligem.
Todas as noites, depois da família estar a dormir, Joana levantava-se e estudava horas a fio, na escuridão. A vela gastou-se, por isso, ela viu-se forçada a esperar impacientemente até conseguir surripiar mais alguma cera da arrecadação da igreja. Quando, finalmente, conseguiu acabar o trabalho, foi implacável consigo própria. Terminou o livro e voltou ao princípio, desta vez, estudando as complicadas formas verbais e copiando-as para a sua tábua, até as saber de cor. Os seus olhos estavam vermelhos e a cabeça doía-lhe do esforço para tentar trabalhar com uma luz tão fraca, mas nunca pensou em parar. Estava feliz.
A festa de São Columbano passou e continuava a não haver nenhuma notícia de qualquer combinação para uma tutoria formal. Mesmo assim, a Joana continuava a acreditar na promessa de Asclépios. Com o seu livro, não havia motivo para desespero. Continuava a aprender, a fazer progressos. De certeza que iria acontecer alguma coisa em breve. Chegaria um tutor à vila, perguntando por ela, ou seria convocada pelo bispo, que lhe diria que ela tinha sido aceite na escola.
Joana começou a trabalhar um pouco mais cedo todas as noites. Por vezes, nem sequer esperava para ouvir se o pai já estava a ressonar. Nem sequer reparava quando entornava um pouco de cera sobre a secretária.
Uma noite, estava a trabalhar num problema de sintaxe particularmente difícil e interessante. Impaciente para começar, sentou-se à secretária pouco depois dos pais se retirarem. Trabalhava havia poucos minutos quando ouviu um som abafado que vinha da parte de trás da divisória.
Apagou a vela e ficou como uma pedra no escuro, sentindo a batida do pulso na garganta.
Passaram alguns momentos. Não voltou a ouvir nada. Devia ter sido a sua imaginação. O alívio passou por ela como uma corrente morna. Mas, deixou passar mais tempo antes de se levantar da secretária. Dirigiu-se para a lareira para acender o pavio, e voltou com a vela acesa. A chama criava um pequeno círculo de luz em torno da mesa. Na margem do círculo, onde a luz se encontrava com a sombra, estavam dois pés.
Os pés do seu pai.
O cónego saiu do escuro. Instintivamente, Joana tentou esconder o livro, mas já era tarde.
O seu rosto, iluminado pela vela, era sinistro, aterrador.
- Que malvadez é esta?
A voz de Joana era um sussurro.
- Um livro.
- Um livro!
Ele ficou espantado a olhar para o livro, mal querendo acreditar no que os seus olhos viam.
- Como é que o arranjaste? O que estás a fazer com ele?
- Estou a lê-lo. É... meu, foi o Asclépios que mo deu. É meu.
A força do golpe do pai apanhou-a de surpresa, derrubando-a da cadeira. Foi parar ao chão, com o rosto de encontro ao solo frio.
- Teu! Criança insolente! Eu sou o dono desta casa!
Joana soergueu-se num dos cotovelos e olhou, impotente, para o seu pai, que se debruçava sobre o livro, procurando ler as palavras à luz fraca da vela. Pouco depois, desviou-se, fazendo o sinal da cruz sobre a secretária.
- Cristo Jesus, protege-nos.
Sem olhar para o livro, ordenou a Joana:
- Aproxima-te.
Joana levantou-se do chão. Estava tonta e a dor latejava-lhe num dos ouvidos. Lentamente, aproximou-se do pai.
- Isto não é a linguagem da Santa Madre Igreja. - Apontou para a página aberta diante dele. - que significam estes sinais? Responde-me sinceramente, se tens amor à tua alma imortal!
- É poesia, Pai.
Apesar do medo, Joana sentiu um certo orgulho nos seus conhecimentos. Não se atreveu a acrescentar que era de Homero, que o pai considerava um pagão. O cónego não sabia grego. Se não visse a tradução na parte de trás, talvez não se apercebesse do que ela tinha feito.
O pai colocou ambas as mãos sobre a cabeça de Joana, colocando os braços rudes de camponês à volta da sua cabeça, por cima das sobrancelhas.
- Exorcizo te, immundissime spiritus, omnis incursio adversarii, omne phantasma.
As suas mãos apertavam a cabeça da Joana com tanta força que ela gritou de medo e de dor.
Gudrun apareceu à porta.
- Por tudo quanto é sagrado, Marido, o que se passa? Tende cuidado com a criança!
- Silêncio. - rugiu o cónego. - A criança está possessa! Os demónios que se encontram dentro dela têm de ser exorcizados.
A pressão das suas mãos aumentou até a Joana pensar que os olhos lhe iriam saltar.
Gudrun pegou-lhe no braço.
- Basta! Ela é apenas uma criança! Marido, parai! Quereis matá-la na vossa loucura?
A pressão excruciante cessou abruptamente, quando o cónego deixou de apertar. Virou-se e, de um só golpe, atirou com Gudrun para o outro lado do quarto.
- Vai-te! - gritou ele. - Não é o momento para fraquezas de mulher! Encontrei a rapariga a praticar magia de noite! Com um livro de bruxaria! Ela está possessa!
- Não, Pai, não. - gritou Joana. - Não é bruxaria! É poesia! Poesia escrita em grego, só isso! Juro!
Ele foi direito a ela, mas ela cobriu o rosto com o braço e deu a volta por trás dele. Ele virou-se e avançou para ela, com os olhos sombrios de ameaça.
Ia matá-la.
- Pai! Virai as páginas! No verso do livro! Está escrito em latim! Vereis! Está em latim!
O cónego hesitou. Gudrun apressou-se a chegar-lhe o livro. Ele não olhou para ele. Fitou Joana, pensativo.
- Peço-vos, Pai. Vede o verso do livro. Vós mesmos o podeis ler. Não é bruxaria!
Ele tirou o livro das mãos de Gudrun. Ela apressou-se a pegar na vela e aproximou-a da página para ele poder ver. Ele inclinou-se para examinar o livro, com as grossas sobrancelhas franzidas, em sinal de concentração.
Joana não era capaz de parar de falar.
- Eu estava a estudar. Leio de noite para ninguém saber. Já sabia que não iríeis aprovar.
Ela seria capaz de dizer qualquer coisa, de confessar fosse o que fosse, para que ele acreditasse.
- É Homero. O livro da Ilíada. Poesia de Homero. Não é feitiçaria, Pai.
Começou a soluçar.
- Não é feitiçaria.
O cónego não lhe dava atenção. Lia atentamente, com os olhos junto à página, os lábios formando as palavras silenciosamente. Depois, ergueu os olhos.
- Deus seja louvado. Não é bruxaria. Mas, é a obra de um pagão, por isso é uma ofensa contra o Senhor.
Voltou-se para Gudrun.
- Acende o lume. Esta abominação tem de ser destruída.
Joana sobressaltou-se. Queimar o livro! O lindo livro de Asclépios que ele lhe tinha confiado!
- Pai, o livro tem muito valor! Vale dinheiro; podíamos obter um bom preço por ele - corou - podias oferecê-lo ao bispo para a biblioteca da catedral.
- Criança malvada, estás de tal forma mergulhada no pecado que é de admirar que ainda não te tenhas afogado. Isto não é uma oferta adequada para um bispo, nem para nenhuma alma temente a Deus.
Gudrun dirigiu-se para o canto onde a lenha estava armazenada e escolheu alguns toros pequenos. Joana olhou, desesperada. Tinha de arranjar uma maneira de impedir que aquilo acontecesse. Se a dor que sentia na cabeça passasse, podia pensar.
Gudrun remexeu as achas, preparando a lareira para a madeira fresca.
- Espera um momento - disse o cónego a Gudrun, bruscamente. - Deixa a lareira.
Apalpou as páginas do livro, apreciando-as.
- É verdade que o pergaminho é bom e que pode ser-lhe dado uso. - Pôs o livro sobre a secretária e desapareceu para o quarto ao lado. que queria ele dizer? Joana olhou para a mãe, que encolheu os ombros, sem perceber. À sua esquerda, João tinha-se sentado na cama, Acordado pelo barulho, fitava Joana com uns olhos muito abertos. O cónego voltou, trazendo um objecto comprido e reluzente. Era a faca de mato com cabo em osso. Como sempre que a via, Joana encheu-se de temor. Lembrou-se de qualquer coisa que lhe estava ligada, mas não conseguiu recordar-se do que era.
O pai sentou-se à secretária. Colocando a faca num ângulo oblíquo, de forma a que a lâmina ficasse sobre a página, raspou o velino. Uma das letras que se encontravam sobre a página desapareceu. Ele emitiu um grunhido de satisfação.
- Resulta. Vi fazer isto uma vez, no Mosteiro de Corbie. Deixa as páginas limpas para poderem voltar a ser utilizadas.
Ordenou peremptoriamente à Joana:
- Faz tu.
Então, este era o seu castigo. Seria a sua mão a destruir o livro, a erradicar o conhecimento proibido e, com ele, todas as suas esperanças.
Os olhos do pai brilhavam de expectativa malévola. Impassível, ela pegou na faca e sentou-se à secretária.
Ficou um momento a olhar para a página. Depois, pegando na faca como tinha visto o pai fazer, movimentou lentamente a lâmina sobre a superfície da página.
Não aconteceu nada.
- Não resulta.
Levantou os olhos, na expectativa.
- Assim. - O cónego pôs as mãos em cima das suas, pressionando um pouco a lâmina, num movimento lateral. Desapareceu outra letra. - Tenta novamente.
Ela pensou em Asclépios, nas suas longas horas de trabalho a fazer este livro, na confiança que tinha manifestado nela, ao entregar-lho. A página ficou enevoada, quando as lágrimas lhe chegaram aos olhos.
- Por favor. Não me obrigueis a fazê-lo. Peço-vos, Pai.
- Filha, ofendeste a Deus com a tua desobediência. Em penitência, trabalharás noite e dia, até estas páginas estarem completamente limpas do seu conteúdo ímpio. Não tomarás senão pão e água, até teres terminado a tua tarefa. Pedirei a Deus que tenha misericórdia de ti - por causa de tão grande pecado.
Apontou para o livro. - Começa.
Joana colocou a faca sobre a página e raspou, como o seu pai lhe tinha mostrado. Uma das letras ficou sumida e, depois, desapareceu.
Ela moveu a faca; desapareceu outra letra. Depois, outra. E outra. Em breve, já tinha desaparecido uma palavra inteira da superfície rugosa do pergaminho.
A faca aproximou-se da palavra seguinte. Aletheia. Verdade.
Joana parou, com a mão sobre a palavra.
- Continua. - A voz do pai era uma ordem.
A verdade. As linhas redondas das letras maiúsculas sobressaíam do pergaminho pálido.
Emergiu nela a revolta. Todo o medo e tristeza daquela noite cederam o lugar a uma convicção avassaladora: Não pode ser.
Poisou a faca. Lentamente, ergueu os olhos, à procura dos do pai.
O que ela viu cortou-lhe a respiração.
- Pega na faca.
A ameaça contida na sua voz era iniludível.
Joana tentou falar, mas a garganta apertou-se-lhe e não saiu qualquer palavra. Abanou a cabeça negativamente.
- Filha de Eva, já te ensino a temer as penas do inferno. Traz-me a vara.
Joana dirigiu-se para o canto e trouxe a longa chibata negra que o pai utilizava naquelas ocasiões.
- Prepara-te - disse o cónego.
Ela ajoelhou-se em frente à lareira. Lentamente, porque tinha as mãos a tremer, despiu o manto em lã cinzenta e a túnica de linho, expondo as costas nuas.
- Começa o Pai-Nosso. - A voz do pai era um sussurro junto a ela.
- Pai-Nosso, que estais no Céu...
O primeiro golpe atingiu-a entre os ombros, rasgando a carne, e lançando uma corrente de dor do pescoço ao crânio.
- Santificado seja o Vosso Nome...
O segundo golpe foi mais forte. Joana mordeu o braço para não gritar. Já tinha sido espancada, mas nunca assim, nunca com esta força implacável.
- Venha a nós o Vosso Reino...
O terceiro golpe atingiu-a na carne, fazendo espirrar o sangue. Sentiu um líquido quente a correr-lhe pelas costas.
- Seja feita a Vossa vontade...
O choque do quarto golpe fez Joana inclinar a cabeça para trás.
Viu o irmão a olhar da cama. O seu rosto tinha uma expressão... Seria medo? Curiosidade? Piedade?
- Assim na terra como...
Outro golpe. Antes de fechar õs olhos, por causa da dor, Joana conseguiu identificar a expressão no rosto do irmão. Era de satisfação.
- No Céu. O pão nosso de cada dia...
O golpe foi ainda mais forte. Quantos já tinha levado? Joana estava a ficar dormente. Nunca tinha tido de suportar mais de um golpe. Ao longe, ouviu alguém gritar.
- Nos dai hoje. Perdoai-nos... perdoai...
Os seus lábios moveram-se, mas não conseguia formar as palavras. Com o entendimento que lhe restava, Joana, de repente, compreendeu. Desta vez, não ia acabar. Desta vez, o seu pai não ia parar. Desta vez, continuaria até ela morrer.
Outro Golpe. A campainha que tocava nos seus ouvidos começou a tocar cada vez mais alto, até se tornar ensurdecedora.
Depois, não houve mais nada senão silêncio e uma escuridão misericordiosa.
A notícia da sova que Joana tinha levado espalhou-se pela aldeia. O cónego tinha batido na filha até a deixar à porta da morte, segundo se dizia, e tê-la-ia morto, se os gritos da mulher não tivessem atraído a atenção de alguns aldeões.
Tinham sido precisos três homens de forte estatura para o afastarem da criança.
Mas, não era a selvajaria do espancamento que provocava comentários. Essas coisas eram bastante comuns. Então, o ferreiro não tinha batido na mulher até ela cair, não lhe tinha dado pontapés no rosto até ela ter ficado com os ossos todos partidos porque estava farto da resmunguice dela? A pobre criatura tinha ficado desfigurada para toda a vida, mas não havia nada a fazer. Um homem era o senhor da sua própria casa, ninguém duvidava. A única lei que regia o seu direito absoluto a dispensar os castigos que ele considerava apropriados era aquela que limitava o tamanho da moca que ele podia usar. Ora, o cónego não tinha usado nenhuma moca.
O que era realmente interessante para os aldeões era o facto de o cónego ter perdido a cabeça. Uma emoção tão violenta era inesperada, improvável num homem de Deus - por isso, era natural que toda a gente se deleitasse a falar do caso. O cónego não dava tanto que falar desde que tinha levado uma mulher saxónica para a cama. Sussurravam em pequenos grupos, que se calavam abruptamente, quando o cónego se aproximava.
Joana não sabia nada disto. O cónego proibiu que alguém se aproximasse dela durante todo o dia seguinte à tareia. Joana ficou deitada no chão da casa, inconsciente, durante toda essa noite e todo o dia seguinte. A sujidade do chão em terra batida tinha-se-lhe colado à carne dilacerada.
Quando Gudrun foi autorizada a tratar dela, as feridas tinham infectado e ela estava com uma febre perigosa.
Gudrun cuidou dela com toda a solicitude. Limpou as feridas de Joana com água fresca e com vinho. Depois, com todo o cuidado, para não prejudicar ainda mais a sua pele, já em carne viva, aplicou-lhe uma cataplasma refrescante feita de folhas de amoreira.
Tudo culpa do grego, pensava Gudrun amargamente, enquanto fazia uma tisana quente e a dava a Joana, levantando-lhe a cabeça e dando-lhe o líquido na boca, gota a gota. Dar um livro à criança, encher a cabeça dela com ideias inúteis. Ela era uma rapariga, portanto, não tinha sido feita para estudar.
Devia ficar com ela, partilhar os usos ocultos e a língua do seu povo, ser o seu conforto e amparo quando ela fosse velha.
Maldita a hora em que o grego entrou nesta casa, a ira de todos os deuses se abata sobre ele.
Mesmo assim, Gudrun estava cheia de orgulho pela coragem manifestada pela sua filha. Joana tinha desafiado o pai com o heroísmo e a força dos seus antepassados saxónicos. Em tempos, Gudrun também já tinha sido assim forte e corajosa. Mas, os longos anos de humilhação e exílio numa terra estranha tinham apagado progressivamente a sua vontade de lutar. Pelo menos, corre-lhe o meu sangue nas veias, pensou ela, cheia de orgulho. Corre nas veias da minha filha a coragem do meu povo.
Parou para agarrar no pescoço de Joana, ajudando-a a engolir o líquido curativo. Põe-te boa, passarinho, pensou ela. Põe-te boa e volta para mim.
A febre desceu na manhã do nono dia. Joana acordou e viu Gudrun debruçada sobre ela.
- Mamã?
A sua própria voz soava-lhe aos ouvidos de uma forma estranha.
A mãe sorriu.
- Finalmente, voltaste para mim, passarinho. Cheguei a temer ter-te perdido.
A Joana tentou erguer-se, mas voltou a cair pesadamente sobre o colchão. A dor trespassou-a, trazendo-lhe más recordações.
- O livro?
O rosto de Gudrun entristeceu-se.
- O teu pai limpou as páginas e deu-as ao teu irmão para copiar não sei que novos disparates.
Então, tinha desaparecido.
Joana sentiu-se esquisita. Estava enjoada; queria dormir.
Gudrun estendeu-lhe uma malga com um líquido fumegante.
- Tens de comer para recuperar forças. Olha, fiz-te um caldo.
- Não. - Joana abanou a cabeça levemente. - Não quero nada.
Ela não queria recuperar as forças. Queria morrer. Que motivos havia para querer continuar a viver? Nunca se libertaria dos limites estreitos da vida em Ingelheim. A vida tinha-a encarcerado; não havia qualquer esperança de lhe poder fugir.
- Come um bocadinho - insistiu Gudrun. - E enquanto comes, vou cantar-te uma das velhas canções.
Joana virou a cara.
- Deixa essas loucuras para os padres. Nós temos os nossos segredos, não é, passarinho? Vamos voltar a partilhá-los, como fazíamos dantes.
Gudrun acariciou a cabeça de Joana carinhosamente.
- Mas, primeiro, tens de te pôr boa. Come um bocadinho de caldo. É uma receita da Saxónia, com fortes propriedades curativas.
Levou a malga aos lábios de Joana. Demasiado fraca para resistir, deixou que a mãe lhe metesse um pouco de líquido à boca. Era bom, estava quente, era reconfortante. Apesar de contra a sua própria vontade, começou a sentir-se um pouco melhor.
- Meu passarinho, meu coração, minha querida.
A voz de Gudrun acarinhava Joana suavemente. Voltou a chegar a malga aos lábios de Joana, que voltou a comer um pouco.
A voz da mãe elevou-se, cantando uma melodia saxónica. Embalada pelo som e pelos carinhos da mãe, Joana acabou por adormecer.
Uma vez passada a febre, o corpo robusto e jovem de Joana recuperou depressa. De um dia para o outro, levantou-se. As feridas tinham sarado bem, apesar de ser certo que as cicatrizes ficariam para o resto da sua vida. Gudrun lamentava-se por causa das cicatrizes, uns vincos compridos e escuros que transformavam as costas de Joana numa espécie de feia manta de retalhos, mas Joana não se importava. Aliás, não se importava com quase nada. Tinha perdido a esperança.
Limitava-se a existir.
Passava o tempo todo com a mãe, levantando-se ao nascer do Sol, para a ajudar a dar de comer aos porcos e às galinhas, para recolher os ovos, juntar lenha para a lareira e acartar pesados potes de água do poço. Depois, trabalhavam lado a lado, para prepararem as refeições diárias.
Um dia, estavam a fazer o pão, com os dedos a darem forma à massa pesada - naquela parte da terra dos francos, era raro utilizar fermento ou qualquer outra forma de levedura -, quando Joana perguntou, de repente:
- Porque haveis casado com ele?
A pergunta apanhou Gudrun desprevenida. Pouco depois, disse:
- Não imaginas o que foi para nós quando as tropas de Carlos chegaram.
- Sei o que fizeram ao vosso povo, Mamã. O que eu não consigo compreender é porque motivo, depois disso, haveis partido com um cónego - com ele.
Gudrun não respondeu.
Ofendi-a, pensou Joana. Agora, ela não me vai dizer.
- No Inverno - começou Gudrun a dizer lentamente. - estávamos a morrer à fome porque os soldados cristãos tinham queimado as colheitas juntamente com as nossas casas.
Ela olhou para além da Joana, como se estivesse a imaginar uma coisa distante.
- Comíamos tudo o que conseguíamos encontrar - ervas, cardos, até as sementes que encontrávamos no estrume dos animais. Estávamos à beira da morte, quando o teu pai e os outros missionários chegaram. Eram diferentes dos outros; não traziam espadas nem armas, e tratavam-nos como gente e não como animais. Deram-nos comer a troco da nossa promessa de que os ouviríamos pregar a palavra do Deus dos cristãos.
- Trocaram comida pela fé? - perguntou Joana. - Triste maneira de ganhar as almas das pessoas.
- Eu era jovem e impressionável, estava morta de fome, de medo e de miséria. Pensei que o Deus dos cristãos devia ser maior do que os nossos, senão, como teriam conseguido vencer-nos? O teu pai interessou-se especialmente por mim. Dizia que tinha muitas esperanças em mim porque, apesar de eu ter nascido pagã, ele tinha a certeza que eu tinha capacidade para compreender a Verdadeira Fé. Pela maneira como ele olhava para mim, eu sabia que ele me desejava. Quando me pediu para eu partir com ele, eu consenti. Era a oportunidade da minha vida, quando tudo em volta de mim era morte.
A voz dela transformou-se num sussurro.
- Não demorei muito a perceber o grande erro que tinha cometido.
Os seus olhos arrasaram-se de lágrimas. Joana abraçou-a.
- Não choreis, Mamã.
- Aprende com o meu erro - disse Gudrun firmemente - para não o repetires. Casar é abdicar de tudo - não só do teu corpo, mas também do teu orgulho, da tua independência, da tua própria vida. Percebes? Percebes?
Agarrou no braço de Joana, fixando-a com um olhar aflito.
- Atenta nas minhas palavras, filha, se queres ser feliz: nunca te entregues a um homem.
A carne macerada das costas de Joana arrepiou-se com a memória dos golpes dados pelo seu pai.
- Não, Mamã - prometeu ela solenemente. - Nunca o farei.
No Ostarmanoth, quando a brisa morna da Primavera tinha começado a acariciar a terra, permitindo que os animais fossem levados para o pasto, a monotonia foi quebrada pela chegada de um forasteiro. Foi numa quinta-feira - o dia de Thor, como Gudrun continuava a chamar-lhe, quando o cónego não estava perto para ouvir - e o ribombar do trovão desse deus ouvia-se à distância, quando Joana e Gudrun trabalhavam as duas na horta da família. Joana estava a arrancar urtigas e a aplanar os montículos de terra levantados pelas toupeiras, enquanto Gudrun seguia atrás dela, a traçar sulcos e a desfazer os torrões de terra com uma pesada tábua. Gudrun cantava, enquanto trabalhava, e contava histórias dos Antepassados.
Quando Joana respondia em saxónio, Gudrun ria de satisfação.
Joana tinha acabado de terminar uma fila, quando levantou os olhos e viu João, que se dirigia apressadamente na direcção do local onde elas se encontravam. Tocou no braço da mãe para a avisar; Gudrun viu o filho e as palavras saxónicas morreram nos seus lábios.
- Depressa - João estava sem fôlego por causa da corrida. - O pai quer-vos em casa. Depressa!
Pegou em Gudrun pelo braço.
- Cuidado, João - repreendeu-o Gudrun. - Estás a magoar-me. O que aconteceu? Há algum problema?
- Não sei.
João continuava a puxar a mãe pelo braço.
- Ele disse qualquer coisa sobre uma visita. Não sei quem. Mas, despachai-vos. Ele disse que me puxava as orelhas se eu não vos levasse imediatamente.
O cónego estava à espera deles à entrada da porta de casa.
- Demorastes muito - resmungou ele, quando elas chegaram.
Gudrun olhou para ele friamente. Pelos olhos do cónego passou um pequeno lampejo de irritação; mas disse, solenemente:
- Vai chegar um emissário. Da parte do Bispo de Dorstadt.
Fez uma pausa para criar mais expectativa.
- Vai e prepara uma refeição de jeito. Eu vou-me encontrar com ele na Catedral e depois trago-o para aqui.
Despediu-a com um aceno de mão.
- Despacha-te, mulher! Ele está quase a chegar.
Saiu, batendo com a porta. O rosto de Gudrun não tinha qualquer expressão.
- Começa a fazer o caldo - disse ela à Joana. - Eu vou buscar ovos.
Joana deitou água do pote num grande panelão em ferro que a família costumava utilizar para cozinhar e pô-lo ao lume.
Tirou algumas bagas de cevada seca do saco de lã, quase vazio, depois de um longo inverno, e deitou-as no recipiente.
Reparou, com surpresa, que as mãos tremiam de excitação. Há tanto tempo que não sentia nada assim.
Mas, um emissário de Dorstadt! Será que tinha alguma coisa a ver com ela? Será que, depois de tanto tempo, Asclépios tinha conseguido, finalmente, encontrar uma maneira de ela retomar os estudos?
Cortou uma fatia de carne de porco de salmoura e acrescentou-a ao caldo. Não, era impossível. Já tinha passado quase um ano desde que Asclépios tinha partido. Se ele tivesse conseguido combinar qualquer coisa, ela teria sabido havia muito. Era perigoso ter esperança. A esperança já quase a tinha destruído uma vez; não voltaria a fazer tal loucura.
Mesmo assim, não conseguiu acalmar a excitação quando, uma hora mais tarde, a porta se abriu. O pai entrou, seguido de um homem de cabelo escuro. Não era nada como ela tinha imaginado.
Tinha os traços rudes e pouco inteligentes de um colonus e vestia-se mais como um soldado do que como um professor. A sua túnica escarlate, com a insígnia do bispo, estava amarrotada e cheia do pó da viagem.
- Dais-nos a honra de cear connosco?
O pai de Joana apontou para o tacho ao lume.
- Obrigado, mas não posso.
Ele falava em vernáculo e não em latim, o que também a surpreendeu.
- Deixei o resto da escolta numa cella à entrada de Mainz - o caminho pela floresta era demasiado lento e estreito para dez homens a cavalo - e vim à frente, sozinho. Tenho de me juntar a eles esta noite; de manhã, iniciamos a nossa viagem de regresso a Dorstadt.
Desenrolou um pergaminho que trazia na sua bolsa e entregou-o ao cónego.
- Da parte de Sua Eminência, o Senhor Bispo de Dorstadt.
O cónego quebrou o selo cuidadosamente; o material do pergaminho quebrou-se, ao ser desenrolado. Joana observava o seu pai de perto, enquanto ele se esforçava por ler o que estava escrito. Leu-o até ao fim, depois, recomeçou, como se estivesse à procura de qualquer coisa que lhe tivesse escapado. Finalmente, levantou os olhos com os lábios contraídos de ira.
- O que significa isto? Disseram-me que a vossa mensagem era relativa a um assunto que me dizia respeito!
- E assim é. - O homem sorriu. - Na medida em que sois o pai da criança.
- O bispo não tem nada a dizer sobre o meu trabalho?
O homem encolheu os ombros:
- Tudo quanto eu sei, padre, é que devo acompanhar a criança até à escola de Dorstadt, como diz a carta.
Joana gritou, num arroubo súbito de emoção. Gudrun correu para ela e protegeu-a com os seus braços.
O cónego hesitou, olhando para o forasteiro. Subitamente, tomou uma decisão.
- Muito bem. É verdade que é uma bela oportunidade para a criança, apesar de a sua ajuda me fazer muita falta.
Voltou-se para o João.
- Junta as tuas coisas e despacha-te. Amanhã, partes para Dorstadt para começares os estudos na catedral, de acordo com a ordem expressa do bispo.
Joana suspirou. O João tinha sido chamado para estudar na escola? Como podia ser?
O forasteiro abanou a cabeça.
- Com todo o respeito, santo padre, penso que é suposto eu levar comigo uma menina. Uma menina chamada Joana.
Joana libertou-se dos braços da mãe.
- Eu sou a Joana.
O homem do bispo virou-se para ela. O cónego meteu-se imediatamente entre eles.
- Que disparate. É o meu filho João que o bispo quer. João, Joana. lapsus calami. Um lapso de escrita. Um simples erro da parte do amanuense do bispo, nada mais. Acontece muito, mesmo entre os melhores escribas.
O forasteiro olhou, hesitando.
- Não sei...
- Fazei uso da vossa cabeça, jovem. O que quereria o bispo de uma rapariga?
- Também estranhei - concordou o homem.
Joana ia começar a protestar, mas Gudrun puxou-a para trás e pôs sobre os lábios, em sinal de aviso.
O cónego prosseguiu:
- Além disso, o meu filho estuda as Escrituras desde o berço. Lê o Livro do Apocalipse para o nosso excelentíssimo convidado, João.
João empalideceu e começou a titubear.
- Acopa... Apocalypsis Jesu Christi quo... Quam dedit illi Deus palam fac sis...
O mensageiro fez um sinal impacientado para que ele parasse com a torrente incerta de palavras.
- Não há tempo. Temos de partir imediatamente, para eu chegar à cela antes que anoiteça.
Olhou ora para o João ora para a Joana, indeciso. Depois, voltou-se para Gudrun.
- Quem é esta mulher?
O cónego pigarreou.
- Uma pagã saxónica cuja alma eu tenho estado a aperfeiçoar, a trazer para Cristo.
O homem do bispo reparou nos olhos azuis de Gudrun, na elegância das suas formas e no cabelo dourado que saía da sua toca de linho branco. Fez um sorriso aberto, depois, dirigiu-se-lhe directamente.
- Sois a mãe das crianças?
Gudrun acenou silenciosamente. O cónego corou.
- O que dizeis, então? É o rapaz que o bispo quer ou a rapariga?
- Cão atrevido! - O cónego estava furioso. - Ousais duvidar da palavra de um servo de Deus?
- Acalmai-vos, santo padre. - O homem enfatizava sempre um pouco a palavra santo. - Deixai que vos lembre o vosso dever perante a autoridade que eu represento.
O cónego fulminou com o olhar o enviado do bispo.
O homem voltou a perguntar a Gudrun:
- É o rapaz ou a rapariga?
Joana sentiu os braços de Gudrun apertando-se ao seu redor, aconchegando-a a si. Houve uma longa pausa. Depois, ela ouviu a voz da mãe, uma voz musical e doce, cheia das vogais abertas saxónicas, que continuavam a denunciar que ela era estrangeira.
- Quem vós procurais é o rapaz - disse Gudrun. - Levai-o.
- Mamã!
Chocada com esta traição inesperada, Joana não conseguiu conter o choro.
O mensageiro do bispo acenou, satisfeito.
- Então, está decidido.
Dirigiu-se para a porta.
- Tenho de ir ver do meu cavalo. Tende o rapaz pronto o mais depressa possível.
- Não!
Joana tentou impedi-lo, mas Gudrun agarrou-a com força, murmurando em saxónio:
- Confia em mim, passarinho. É para teu bem, prometo-te.
- Não!
Joana lutava para se libertar. Era mentira. Isto era obra de Asclépios. Joana tinha a certeza. Ele não se tinha esquecido dela; tinha encontrado uma maneira para ela poder continuar, finalmente, aquilo que tinham iniciado juntos. Não era o João que ele tinha mandado chamar para estudar na escola. Estava tudo errado.
- Não!
Ela torceu-se, libertou-se e foi direita à porta. O cónego foi atrás dela, mas ela escapou-lhe. Saiu a correr atrás do mensageiro. Ouviu o pai a gritar dentro de casa, depois, ouviu a mãe a levantar a voz tensa, lacrimosa, em resposta.
Alcançou o homem, mesmo antes de ele chegar ao seu cavalo.
Agarrou-lhe a túnica e ele olhou para ela. Pelo canto do olho, Joana viu o pai a avançar para eles.
Não havia muito tempo. A mensagem dela tinha de ser convincente, inequívoca.
- Magna est veritas et praevalebit - disse ela.
Era uma passagem de Esdras, suficientemente obscura para ser reconhecida apenas por aqueles que eram versados nos escritos dos Santos Padres. A verdade é grande e prevalecerá. Ele era um homem do bispo, um homem da Igreja, certamente que a conhecia. E o facto de ela a conhecer, de falar latim, provaria que era ela a aluna que o bispo tinha mandado chamar.
- Lapsus calami non est - continuou ela em latim. - Não existe nenhum erro do copista. Eu sou a Joana; é a mim que eles querem.
O homem olhou para ela, com um olhar bondoso.
- O quê? O que é isto, olhos lindos? Que torrente de palavras!
Acariciou-lhe o queixo.
- Desculpa, menina, mas eu não falo a vossa língua saxónia. Apesar de, depois de ter visto a tua mãe, ter começado a pensar que é pena!
Abriu uma bolsa presa à sela e tirou uma guloseima.
- Toma um doce.
Ela ficou a olhar para a guloseima. O homem não tinha percebido uma palavra. Um filho da Igreja, o emissário do bispo, e não sabia? Como era possível?
Os passos do pai soaram mesmo atrás dela. O seu braço agarrou-a, magoando-a; depois, levantou-a do chão e levou-a para casa.
- Não! - gritou ela.
A grande mão do seu pai tapou-lhe o nariz e a boca com tanta força, que mal conseguia respirar. Ela lutou para se libertar.
Dentro de casa ele atirou com ela e ela, voando pelo ar, aterrou no chão.
- Não! - de repente, Gudrun tinha-se metido entre os dois. - Não lhe toqueis. - Havia na voz dela um tom que Joana nunca tinha ouvido. - Ou eu digo a verdade.
O cónego fitou-a sem querer acreditar. João apareceu à porta carregando um saco em linho cheio com as suas coisas.
Gudrun apontou para ele.
- O nosso filho precisa da vossa bênção antes de viajar.
O cónego continuou a fitá-la durante muito tempo. Depois, muito lentamente, voltou a cara para o seu filho.
- Ajoelha-te, João.
João ajoelhou-se. O cónego colocou a mão sobre a sua fronte.
- Ó Deus, que ordenastes a Abraão que deixasse a sua casa e que o protegestes em todas as suas viagens, encomendamo-vos este rapaz.
Através da janela, entrava um fio de luz do fim da tarde, iluminando o cabelo negro de João com uma luz abundante.
- Cuidai dele e providenciai para que receba tudo o que a sua alma e o seu corpo necessitarem... - A voz do cónego ganhava um ritmo melódico quando ele rezava.
De cabeça baixa, João olhou para Joana com uns olhos cheios de medo, suplicantes. Ele não quer ir, percebeu subitamente Joana. Claro! Porque não tinha reparado antes? Não tinha pensado naquilo que João sentia. Ele tem medo. Não é capaz de corresponder às exigências da escola e ele sabe-o muito bem.
Se ao menos eu pudesse ir com ele.
Na cabeça dela, começou-se a delinear um plano.
- e quando a peregrinação da vida tiver chegado ao fim - terminou o cónego - que ele chegue a salvo ao Reino dos Céus, por Cristo Jesus, Nosso Senhor. Ámen.
Quando a bênção terminou, João levantou-se. Apático, submisso, como uma ovelha antes do sacrifício, suportou os abraços da mãe e as últimas admonições do pai.
Mas, quando Joana se aproximou e o abraçou, ele agarrou-se a ela e começou a chorar.
- Não tenhas medo - murmurou ela, tranquilizadoramente.
- Basta! - disse o cónego. Pôs o braço por cima dos ombros do seu filho, acompanhando-o à porta. - Mantém a rapariga dentro de casa - ordenou ele a Gudrun.
Depois saíram. A porta fechou-se, chiando.
Joana correu para a janela e abriu-a. Viu o João a montar o cavalo por trás do emissário do bispo, com a sua simples túnica de lã a contrastar com o rico manto vermelho do forasteiro. O cónego ficou perto, com a sua figura escura desenhada contra o verde da paisagem. Partiram depois do último grito de despedida.
Joana saiu da janela. Gudrun ficou no meio da casa, a olhar para ela.
- Passarinho... - começou Gudrun, hesitante.
Joana passou por ela como se ela não existisse. Pegou na roupa para remendar e sentou-se junto à lareira. Precisava de pensar para se preparar. Não havia muito tempo e tinha tudo que ser planeado com todo o cuidado.
Seria difícil, mesmo perigoso. A ideia assustava-a, mas não interessava. Com uma certeza simultaneamente maravilhosa e aterradora, Joana sabia o que tinha a fazer.
Não é justo, pensava João, montado atrás do homem do bispo, olhando para a insígnia na sua túnica vermelha. Eu não quero ir.
Ele odiava o pai por causa disso. Procurou dentro da túnica o objecto que lá tinha colocado secretamente antes de ter saído. Os seus dedos tocaram na lâmina macia da faca - a faca em cabo de osso do seu pai, um dos seus tesouros.
Nos lábios de João desenhou-se um sorrizinho vingativo. O pai ia ficar furioso quando desse pela sua falta. Não interessava. Nessa altura, já o João estaria bem longe de Ingelheim, e então, o pai já não podia fazer nada. Era um pequeno triunfo, mas ele agarrava-se a ele, no meio da tristeza em que se encontrava.
Porque não mandou ele a Joana? João perguntava-se a si mesmo, zangado. Dentro dele, crescia um ressentimento sombrio.
É tudo culpa dela, pensava ele. Por causa de Joana, ele já tinha tido que suportar mais de dois anos de lições de Asclépios, aquele velho aborrecido e mal-humorado. Agora, ia ser mandado para a escola em Dorstadt, no lugar dela. Oh, era Joana que o bispo queria, João tinha a certeza. Tinha de ser a Joana. Ela é que era esperta, ela sabia grego e latim, ela já sabia ler Agostinho quando ele ainda nem sequer sabia os salmos.
Ele ter-lhe-ia perdoado isso e mais ainda. Afinal, ela era sua irmã.
Havia uma coisa que João não era capaz de lhe perdoar: Joana era querida da mamã. Ele tinha-as escutado muitas vezes a rirem-se e bem baixinho em saxónio, depois, paravam de repente, quando ele chegava. Elas pensavam que ele não tinha ouvido, mas tinha. A mãe nunca falava a Língua dos Antigos com ele. Porquê? João já se tinha feito a mesma pergunta amarga milhares de vezes. Será que elas julgavam que eu ia contar ao pai? Eu não ia... nem por nada deste mundo, que ele fizesse tudo, nem que ele lhe batesse.
Não é justo, voltava ele a pensar. Porque haveria ela de gostar mais de Joana do que dele? Eu sou o seu filho e toda a gente sabe que é melhor ter um filho do que uma filha inútil.
Joana nem sequer era como as outras raparigas. Não sabia coser, fiar e tecer nem metade do que sabiam as outras raparigas da idade dela. E depois, tinha aquele interesse por estudar, que toda a gente sabia que era contra a natureza. Até a mamã achava que havia qualquer problema com ela. As outras crianças da vila riam-se constantemente de Joana. Era embaraçoso tê-la por irmã; o João renegá-la-ia de bom grado, se pudesse.
Imediatamente depois de ter tido este pensamento, sentiu um rebate de consciência. Joana sempre tinha sido boa para ele, sempre tinha tomado o partido dele quando o pai se zangava, tinha mesmo chegado a fazer o trabalho dele, quando ele não era capaz de perceber. Ele estava-lhe grato pela ajuda dela - ela tinha-o salvo de muitas tareias - mas, ao mesmo tempo, tinha ciúmes. Era humilhante. Afinal, ele era o seu irmão mais velho. Era ele que tinha de tomar conta dela e não o contrário.
Agora, por causa dela, estava montado na mesma montada de um estranho, a caminho de um lugar que ele não conhecia e de uma vida que ele não queria. Imaginou a sua vida na escola, fechado numa sala terrível durante todo o dia, rodeado de pilhas de livros aborrecidos e horríveis.
Porque não podia o pai compreender que ele não queria ir? Eu não sou o Mateus; nunca serei bom nos estudos. Nem queria ser professor ou clérigo. Ele sabia o que queria ser: queria ser um guerreiro, um guerreiro no exército do imperador, lutando para submeter as hostes pagãs. Quem lhe tinha dado a ideia tinha sido Ulfert, o albardeiro, que tinha acompanhado o conde Hugo na primeira campanha imperial contra os saxónios. Que histórias maravilhosas lhe tinha contado o velho, sentado na sua oficina, com as ferramentas esquecidas, por momentos, os olhos iluminados pelas recordações daquela grande vitória!
- Como os tordos que esvoaçam sobre as vinhas, no Outono, roubando as uvas - João lembrava-se das palavras exactas que o velho Ulfert tinha usado quando lhe tinha contado -, voámos sobre a terra, com um canto sagrado nos lábios, trespassando os pagãos escondidos nas florestas, nos pântanos e nas valas, quer fossem homens, mulheres ou crianças. Não houve ninguém entre nós cujo broquel ou espada não tivesse ficado tinto de sangue naquele dia. Quando o Sol se pôs, não havia ninguém que não tivesse renunciado aos seus deuses e que, de joelhos, não tivesse jurado obediência eterna à Verdadeira Fé.
Depois, o velho Ulfert tinha ido buscar a sua espada, que ele tinha tirado, ainda quente, da mão de um dos pagãos mortos. O seu punho reluzia como gemas de vidro; a sua lâmina era de um dourado reluzente. As espadas dos francos eram em ferro, mas aquela era em ouro - um material inferior, segundo Ulfert lhe explicou, sem a solidez e precisão das armas dos francos, mas, mesmo assim, muito bonita. O coração de João tinha saltado ao vê-la. O velho Ulfert tinha-lha dado para a mão e João tinha-lhe pegado, sentindo o seu peso. A sua mão cabia no punho em gema, como se tivesse sido feito para ele.
Levantou a espada por cima da cabeça; ela cortou o ar com um som cujo ritmo se coadunava com o que lhe ia no sangue. Ele sabia que tinha nascido para ser um guerreiro.
Falava-se agora de uma nova campanha na Primavera. Talvez o conde Hugo voltasse a responder à convocatória do imperador.
Se assim fosse, João tinha pensado em ir com ele, independentemente do que o pai dissesse. Já tinha quase catorze anos, a idade de um homem. Muitos tinham ido para a guerra com a sua idade, até mesmo mais jovens. Ele fugiria, se fosse preciso, mas iria.
Claro que agora, que ele ia ficar aprisionado na escola de Dorstadt, isso seria difícil. Será que a notícia do novo recrutamento chegaria tão longe?, perguntava-se ele. Se chegasse, será que ele conseguiria fugir?
Essa ideia era perturbante, por isso, ele afastou-a do pensamento. Em vez disso, recordou-se do seu devaneio preferido. Estava na frente de batalha, o estandarte prateado do conde brilhava à sua frente, convidando-o a avançar.
Perseguia pagãos vencidos, que fugiam à sua frente, desesperados e aterrados. Os longos cabelos dourados das mulheres esvoaçavam ao vento. Ele massacrava-os habilidosamente com a sua longa espada, golpeando e matando, sem piedade, até que, finalmente, eles se lhe submeteram, arrependidos da sua cegueira e mostrando-se dispostos a aceitar a Luz.
João esboçou um sorriso sonhador. A batida regular dos cascos do cavalo marcavam o seu avanço pela floresta negra.
Ouviu-se um silvo, seguido de um ruído surdo.
- Unh.
O homem do bispo inclinou-se para trás. O seu ombro bateu no João, acordando-o.
- Então! - protestou João. Mas, o homem já tinha caído e o seu corpo pendente arrastou irresistivelmente o João da sela.
Caíram os dois ao chão. João caiu por cima do homem do bispo, imóvel onde caiu. Quando João se apoiou nas mãos para se levantar, os seus dedos tocaram numa coisa comprida, redonda e aguçada.
Era o resto de uma flecha, com penas amarelas na ponta. A ponta estava enterrada no peito do homem.
João pôs-se em pé, alerta. Do espesso arvoredo do outro lado do caminho, surgiu um homem, vestido andrajosamente. Trazia um arco na mão e um monte de setas de penas amarelas às costas.
Será que ele também me quer matar?
O homem dirigiu-se para ele. João olhou à volta, à procura de um caminho para fugir. O arvoredo era mais denso naquela parte da floresta; se ele corresse talvez conseguisse escapar ao atacante.
O homem já estava quase junto dele, suficientemente perto para o João ver a ameaça estampada nos seus olhos.
João tentou fugir, mas, era tarde de mais. O homem agarrou-o por um braço. João lutou, mas o homem, mais alto do que ele e bem constituído, agarrou-o com força, levantando-o ligeiramente, de tal forma que os seus pés mal chegavam ao chão.
João lembrou-se da faca. Com a mão que tinha livre, procurou dentro da túnica; os seus dedos trementes sentiram o cabo em osso, agarram-no e tiraram-na para fora. Puxou da faca e espetou-a de um único golpe. Excitado, sentiu que ela se enterrou na carne do homem, até à ponta do cabo, antes do João a retirar, com um pequeno torção. O homem praguejou e agarrou-se ao ombro ferido, largando o João.
João fugiu para a floresta. Os ramos aguçados rasgavam-lhe a roupa e o rosto, mas continuou a correr. Apesar do luar, estava escuro por baixo das copas das árvores. Olhando para trás para ver se estava a ser perseguido, João saltou para um arbusto com ramos baixos. Procurou o ramo mais alto e começou a subi-lo. O seu corpo jovem esgueirou-se rapidamente pelos ramos acima, parando apenas quando as hastes se tornaram demasiado fracas para suportarem o seu peso. Depois, ficou à espera. Um silvo, seguido de um ruído surdo.
Não se ouvia nada a não ser o restolhar das folhas. Um mocho piou duas vezes. O seu piar ecoava no silêncio. Depois, João ouviu passos através da floresta. Pegou na faca, sustendo a respiração, grato pelo facto de o seu manto ser castanho e o disfarçar tão bem na escuridão da noite.
Os passos estavam cada vez mais perto. João ouvia a respiração irregular do homem.
Os passos pararam mesmo por baixo dele.
Joana saiu da escuridão silenciosa da cabana para a noite cheia de luar. As formas dos objectos familiares agigantavam-se de uma maneira estranha, transformadas pelas sombras. Ela arrepiou-se, ao pensar nas histórias dos Waldleuten, espíritos malignos e duendes que assombravam a noite. Cingindo ao corpo o manto de áspero cânhamo cinzento, avançou na sombra, procurando na paisagem alterada a entrada para o caminho da floresta. Havia muita luz - só faltavam dois dias para a lua cheia - e ela encontrou num instante o velho carvalho, rachado em dois por um raio, que assinalava o caminho. Correu pelo campo fora, na direcção do carvalho.
Quando chegou à entrada da floresta, parou. Estava escuro, as árvores filtravam o luar, transformando-o em pálidos raios de luz. Olhou para trás, para a cabana. Banhada de luar, rodeada pelos campos e as cercas dos animais, parecia sólida, confortável, familiar. Pensou na sua cama confortável, nos cobertores provavelmente ainda mornos do calor do seu corpo.
Pensou na mamã, de quem nem sequer se tinha despedido. Deu um passo no sentido da casa, depois, parou. Tudo o que lhe interessava, tudo quanto ela queria, estava na direcção oposta.
Entrou na floresta. As árvores fechavam-se por cima da sua cabeça. O caminho estava cheio de pedras e arbustos, mas ela prosseguiu com determinação. Eram quinze milhas até à cella, e ela tinha de lá chegar antes da madrugada.
Procurou manter um passo certo, mas não era simples. Era difícil avançar; na escuridão, era fácil ir parar à berma do caminho, onde os ramos lhe roçavam na roupa e no cabelo. O caminho tornava-se cada vez mais difícil. Tropeçou várias vezes em pedras e em raízes partidas; caiu uma vez, magoando as mãos e os joelhos.
Ao fim de várias horas de caminho, o céu começou a clarear por cima das copas das árvores. Era quase madrugada. Joana estava exausta, mas apressou o passo, umas vezes, meio a andar, outras, correndo pelo caminho abaixo. Tinha de lá chegar antes de eles partirem. Tinha de o conseguir.
O pé esquerdo tropeçou em qualquer coisa. Ela tentou recuperar o equilíbrio, mas ia muito depressa. Caiu, aparando a queda, desajeitadamente, com os braços.
Ficou quieta, sem fôlego. Doía-lhe o braço direito, no sítio onde o ramo de uma árvore a tinha arranhado, mas, para além disso, não parecia ter-se magoado. Procurou sentar-se.
Ao seu lado, estava um homem deitado de costas para ela.
Estaria a dormir? Não. Teria acordado, quando ela caiu por cima dele. Tocou-lhe no ombro; ele rolou, ficando de costas.
Os olhos do emissário do bispo, morto, fitaram-na, vazios. Os seus lábios gelados estavam torcidos num esgar. A sua bela túnica, rasgada e ensanguentada. Faltava-lhe o dedo do meio da sua mão esquerda. Joana pôs-se de pé num salto.
- João! - gritou ela. Procurou nos arbustos e no solo à sua volta, com medo daquilo que poderia encontrar.
- Estou aqui. - Da escuridão, apareceu um rosto pálido. - Porque estás aqui? - perguntou ele. - O pai veio contigo?
- Não. Explico-te depois. Estás ferido? O que aconteceu?
- Fomos atacados. Um assaltante, penso eu, queria o anel de ouro do emissário. Eu cavalgava atrás dele, quando a seta o atingiu.
Joana não disse nada, mas apertou-o nos seus braços. Ele libertou-se do abraço.
- Mas, eu defendi-me. A sério! Os seus olhos brilharam com um entusiasmo estranho. - Quando ele veio atrás de mim, eu ataquei-o com isto! - mostrou-lhe a faca de cabo de osso do cónego. - Acertei-lhe no ombro, acho eu. Seja como for, isso imobilizou-o tempo suficiente para eu poder fugir!
Joana olhou para a lâmina tinta de sangue.
- A faca do pai.
O rosto do João tornou-se taciturno.
- Sim, tirei-lha. Porque não? Ele obrigou-me a vir embora... eu não queria.
- Está bem - disse a Joana com vivacidade. - Guarda-a. Temos de nos despachar, se queremos chegar à cella antes do nascer do dia.
- À cella? Mas, agora, eu não quero ir para Dorstadt. Depois do que aconteceu... - acenou na direcção do emissário morto - posso ir para casa.
- Não, João. Pensa bem. Agora que o pai sabe quais são as intenções do bispo, não vai permitir que tu fiques em casa. Há-de arranjar maneira de te mandar para a escola, mesmo que tenha de te levar pessoalmente. Além disso... - Joana apontou para a faca - quando chegássemos a casa, ele já teria descoberto que tu tinhas trazido isso.
João olhou perturbado. Era óbvio que não tinha pensado nisso.
- Vai correr tudo bem. Eu estarei lá contigo, vou ajudar-te.
Pegando-lhe na mão, disse:, - Anda.
De mãos dadas, sob o céu cada vez mais claro, as duas crianças dirigiram-se para a cella, onde esperava o resto dos homens do bispo.
Chegaram à cella ainda o Sol não se tinha levantado, mas os homens do bispo já estavam acordados, esperando impacientemente o regresso do seu companheiro. Quando Joana e João lhes contou o que tinha acontecido, os homens ficaram desconfiados.
Pegaram na faca com cabo em osso do João e examinaram-na cuidadosamente. Joana fez uma oração de acção de graças pelo facto de ter pensado em limpá-la no riacho da floresta, lavando-a de qualquer vestígio de sangue.
Os homens voltaram para trás, à procura do corpo do companheiro, levando Joana e João com eles; a descoberta da seta de penas amarelas confirmou a história das crianças. Mas, o que haviam de fazer com o corpo? Estava fora de questão levá-lo até Dorstadt, que ficava a um dia de viagem. Além disso, o sol primaveril tornava os dias muito quentes.
Acabaram por o enterrar na floresta, assinalando o local com uma cruz em madeira tosca. Joana fez uma oração sobre a sepultura, que impressionou os homens porque, tal como o seu companheiro, também eles não sabiam latim. Como estavam a contar em escoltar uma rapariga, inicialmente, os homens não queriam levar o João.
- Não temos montada para ele - disse o chefe -, nem comida. - Podemos montar os dois o mesmo cavalo - propôs Joana -, e partilhar a ração.
O homem abanou a cabeça negativamente.
- O bispo mandou-te chamar. Não faz sentido levar o teu irmão.
- O meu pai fez um acordo com o vosso companheiro - mentiu Joana. - Eu só poderia vir se o João me acompanhasse. Senão, o meu pai manda que eu volte para casa e vós passareis pelo aborrecimento de terdes de me acompanhar de regresso.
O homem franziu o sobrolho; depois de ter passado pelo desconforto de uma viagem tão longa, não lhe apetecia ter de a repetir.
Joana tentou de novo a sua sorte:
- Se isso acontecer, eu contarei ao bispo que procurei explicar a situação, mas que vós não me quisestes ouvir. Será que ele irá ficar contente de saber que o mal-entendido foi inteiramente culpa vossa?
O homem estava espantado. Nunca tinha ouvido uma rapariga a falar de uma maneira tão frontal. Agora já percebia porque o bispo queria vê-la; ela era uma curiosidade, não havia dúvida.
- Muito bem - assentiu ele, resmungando - o rapaz pode vir.
A viagem para Dorstadt foi muito cansativa porque os homens da escolta, desejosos por chegar a casa, cavalgaram noite e dia. Os rigores da viagem não incomodaram Joana; ela estava fascinada com a paisagem variada e o novo mundo que se abria diante dos seus olhos, cada dia que passava. Finalmente, estava livre, livre de Ingelheim e da sua existência limitada.
Passou por aldeiazinhas e por grandes povoações com a mesma satisfação, cheia de curiosidade e de espanto. Pelo contrário, João começou a ficar cada vez mais irritável por causa da falta de comida e de descanso. Joana tentava acalmá-lo, mas o seu mau humor ainda aumentava mais perante a solicitude bondosa da sua irmã.
Chegaram ao palácio episcopal à tarde do décimo dia de viagem. O guarda do palácio olhou desaprovadoramente para as duas crianças, com as suas vestes manchadas e rasgadas de camponeses, e mandou dar-lhes banho e vestir roupa lavada, antes de autorizar que fossem admitidas à presença do bispo.
Para Joana, habituada a duches rápidos no ribeiro que corria por trás da cabana, o banho foi uma experiência extraordinária. O palácio do bispo tinha banhos cobertos, com água quente, um luxo de que ela nunca tinha ouvido falar.
Ficou dentro de água quase uma hora, enquanto as criadas a esfregaram até a pele dela ficar rosada, quase em carne viva.
Mas, lavaram-lhe as costas com particular cuidado, olhando para as suas cicatrizes franzindo o sobrolho, em tom de reprovação. Lavaram-lhe o cabelo e enrolaram a sua farta cabeleira dourada em canudos à volta da cara. Depois, trouxeram-lhe uma bela túnica de linho verde. O tecido era tão macio, o corte tão fino que Joana quase não queria acreditar que tinha sido feito por mãos humanas. Quando já estava vestida, as mulheres levaram-na a ver-se a um espelho em ouro. Joana levantou o espelho e viu o rosto de uma estranha. Nunca tinha visto as suas próprias feições, excepto em fragmentos furtivos e reflectidos nas águas barrentas do tanque da aldeia.
Estava admirada com a nitidez da imagem no espelho.
Levantou-o, examinando-se rigorosamente.
Não era bonita, mas isso, já ela sabia. Não tinha nem a testa alta e nem o queixo delicado, nem os ombros miúdos, nem a silhueta tão apreciada por trovadores e amantes. Tinha um ar forte, saudável, arrapazado. Tinha as sobrancelhas demasiado espessas, o queixo demasiado firme, os ombros demasiado direitos para ser bonito, o cabelo - o cabelo da mamã - era lindo e os seus olhos eram bons - de um tom verde-acinzentado profundo, orlados com pestanas.
Encolheu os ombros e pousou o espelho. O bispo não tinha chamado por causa de ela ser bonita.
Trouxeram o João, igualmente elegante numa túnica e um manto de linho azuis. As duas crianças foram levadas ao intendente do palácio.
- Estão melhores - disse este, observando-as dos pés à cabeça. - Muito melhor. Muito bem, então, sigam-me.
Eles desceram um longo corredor cujas paredes estavam cobertas de tapeçarias ricamente trabalhadas a fio de ouro e prata. Joana sentia o coração a pulsar-lhe na garganta, nervosamente. Ia encontrar-se com o bispo.
Serei capaz de responder às suas perguntas? Será que ele me vai aceitar na escola? De repente, sentiu-se deslocada e insegura. Tentou lembrar-se de alguma coisa do que tinha estudado, mas a sua cabeça estava em branco. Quando pensou em Asclépios, na confiança que ele tinha demonstrado nela, ao arranjar este encontro, o estômago deu-lhe uma volta.
Pararam diante de uma enorme porta em carvalho. De dentro, vinha um barulho de vozes e de pratos. O intendente do palácio fez um sinal ao homem que estava à entrada e ele abriu a pesada porta.
A Joana e o João entraram no salão, depois, pararam, hesitantes. Estavam na sala perto de duzentas pessoas, sentadas em volta de mesas enormes, cheias de comida. Os pratos estavam repletos de todas as variedades de carne assada - capões, gansos, aves e várias coxas de veado - empilhadas sobre as mesas, ao alcance da mão dos convivas, que pegavam com as mãos em nacos de carne e os metiam na boca, limpando as mãos às mangas. No centro da mesa maior, meio devorada, mas ainda reconhecível, estava a cabeça enorme de um javali, envolvida em gordura. Havia sopas e pastéis, avelãs, figos, tâmaras, ameixas brancas e pretas e muitas outras iguarias que a Joana não foi capaz de identificar. Nunca tinha visto tanta comida em toda a sua vida.
- Uma canção! Uma canção!
Os copos em metal batiam sobre as mesas em madeira, de uma forma ritmada e insistente.
- Vá lá, Widukind, uma canção!
Um jovem alto, de pele branca, levantou-se, rindo.
- Ik gihorta data seggen dat sih urhettun aenon muo tin, hiltibraht enti hadubrant...
Joana estava surpreendida. O jovem cantava em tudesco, a língua comum - o cónego teria dito que era uma língua pagã.
- Ouvi contar, os guerreiros lutaram corpo a corpo, Hildebrand e Hadubrand, entre dois exércitos...
Os homens levantaram-se e associaram-se a ele, levantando os copos.
- ... atiraram um ao outro um monte de lanças aguçadas; lançaram-se um contra o outro, combateram até os seus escudos em madeira serem despedaçados...
Estranha canção para a mesa de um bispo. Joana olhou de lado para o João, mas ele estava a ouvir atentamente, com os olhos a brilhar de entusiasmo.
Com um grito exultante, os homens terminaram a canção. Houve um barulho de madeira a ranger, quando eles se sentaram, puxando os bancos para as mesas.
Levantou-se outro homem com um sorriso trocista.
- Ouvi falar de uma coisa que se levantou num recanto... -
Parou, na expectativa.
- Uma adivinha! - gritou alguém e a multidão manifestou a sua aprovação. - Uma das adivinhas do Haido! Sim! Sim! Vá lá.
O homem de nome Haido esperou até o barulho ter diminuído.
- Ouvi falar de uma coisa que se levantou na penumbra - repetiu ele - de uma coisa que incha e se levanta. As esposas mais afoitas não hesitam em pegar com a mão naquela maravilha sem ossos...
A multidão começou-se a rir.
- ... a filha do príncipe cobriu essa coisa com um pedaço de pano.
Os olhos risonhos de Haido olharam em torno da sala, desafiadoramente.
- O que é?
- Vê entre as pernas - gritou alguém - e já encontras a resposta certa!
A esta frase seguiram-se mais risos e uma quantidade de gestos obscenos. Joana estava espantada. Esta era a casa do bispo?
- Errado! - retorquiu Haido, divertido. - Estão todos errados!
- Então, qual é a resposta? A resposta? - As pessoas gritavam e batiam com os copos nas mesas.
Calou-se por um momento, para causar um efeito dramático.
- A Massa de pão! - anunciou ele, triunfalmente, e sentou-se enquanto uma onda de risos fazia tremer a sala.
Quando se fez silêncio, o intendente disse:
- Vinde comigo - e levou as duas crianças para o fundo da sala, onde se encontrava a mesa de honra, sobre um estrado. O bispo estava sentado no centro, ainda a rir, vestido com um magnífico manto em seda amarela, manchado de pingos de gordura e de vinho. O seu assento estava coberto com uma almofada para ser mais confortável.
Não era nada como a Joana tinha imaginado. Era um homem grande, pescoço largo; através da sua túnica em seda fina, percebia-se que o seu peito e os seus ombros eram musculosos. A sua grande barriga e o seu rosto vermelho eram de um homem que apreciava comida e vinho. Quando se aproximaram, ele inclinou-se e meteu um pedaço de carne na boca de uma mulher rechonchuda que se encontrava sentada ao seu lado. Ela engoliu-o, depois, segredou-lhe qualquer coisa ao ouvido e ambos riram.
O intendente do palácio aclarou a voz:
- Senhor, os homens voltaram de Ingelheim com a criança.
O bispo olhou para o intendente com um olhar vago.
- A criança? O quê? Que criança?
- Aquela que mandastes chamar, senhor. Uma candidata para a escola, penso eu. Recomendada pelo Gr...
- Sim, sim. - O bispo acenou com impaciência. - Já sei.
Tinha o braço colocado negligentemente por cima dos ombros da mulher. Olhou para a Joana e para o João.
- Então, Widukind, estou a ver a dobrar?
- Não, senhor. O cónego também mandou o filho. Chegaram juntos à cella e não queriam ser separados.
- Bem. - Pela sua cara, o bispo parecia estar divertido. - Que tal? Peço um e vêm dois. Se o imperador fosse tão generoso com os seus favores como este prelado do campo!
A mesa estalou de riso. Ouviram-se várias vozes, que diziam: Vejam bem! e Ámen!, O bispo esticou-se e arrancou uma perna de uma galinha assada. Depois, disse à Joana:
- És tão boa estudante como se diz?
Joana hesitou, sem saber bem o que dizer.
- Estudei muito, Eminência.
- Pah! Estudar!
O bispo bocejou e deu uma dentada na perna de galinha, com molho a escorrer.
- A escola está cheia de estúpidos que estudam, mas não sabem nada. O que sabes tu, minha filha?
- Sei ler e escrever, Eminência.
- Em tudesco ou em latim?
- Em tudesco, em latim e em grego.
- Grego! Ora, aí está uma coisa interessante. Nem sequer o Odo sabe grego, pois não, Odo?
Sorriu para um homem magro, sentado perto dele.
Odo abriu a boca num sorriso contrariado:
- É uma língua pagã, Senhor, uma língua de idólatras e hereges.
- Muito bem, muito bem - a língua do bispo enrolava-se-lhe. - Odo tem sempre razão, não é, Odo?
O clérigo suspirou:
- Sabeis bem, Eminência, que eu não aprovo esta vossa última ideia. É perigoso e ímpio permitir a uma mulher a entrada na escola.
Ouviu-se uma voz do fundo da sala:
- Ela ainda não é uma mulher, pelo que parece.
Voltou a ouvir-se um riso estrondoso, acompanhado por reparos inconvenientes.
Joana começou a sentir o rubor a subir-lhe da garganta até à face. Como era possível que estas pessoas se comportassem assim diante do bispo?
- Além disso, é inútil - continuou o homem de nome Odo, quando o barulho deixou de se ouvir. - As mulheres são por natureza incapazes de pensar.
Os seus olhos faiscaram na direcção de Joana, em ar de desprezo, depois, voltando-se para o bispo, disse:
- Os seus humores naturais, frios e húmidos, não são propícios para a actividade cerebral. Não conseguem compreender as ideias espirituais e morais mais elevadas.
Joana fixou o homem, sem querer acreditar.
- Já ouvi dizer isso - disse o bispo.
Sorriu para Odo com o ar de um homem que se estava a divertir imenso.
- Mas, então, como explicas os conhecimentos que a rapariga possui - o seu conhecimento de grego, por exemplo, que nem mesmo tu, Odo, dominas? - disse isto acentuando as palavras.
- Ela gabou-se das suas habilidades, mas não vimos nenhuma - suspirou Odo. - Sois crédulo, Senhor. O grego foi honesto ao relatar os feitos dela?
Isto era de mais. Primeiro, este homem detestável tinha-a insultado, atrevia-se a atacar Asclépios! Os lábios de Joana começavam a dar uma resposta zangada, quando foi surpreendida pelo olhar simpático de um cavaleiro de longos cabelos ruivos, sentado ao lado do bispo.
Fez-lhe ele sinal, silenciosamente. Ela hesitou, perturbada com a mensagem dos seus atraentes olhos de safira. Ele voltou-se para o bispo e segredou-lhe qualquer coisa. O bispo assentiu e dirigiu-se ao homem de rosto magro:
- Muito bem, Odo, faz-lhe um exame.
- Senhor?
- Faz-lhe um exame. Vê se ela está apta a estudar na escola.
- Aqui, senhor? Não me parece nada apro...
- Aqui, Odo. Porque não? Tiraremos todos proveito do exemplo.
Odo franziu as sobrancelhas. Virou-se para a Joana. O seu rosto olhava-a como se fosse um machado.
- Quicunque vult. O que significa?
Joana ficou surpreendida. Uma pergunta tão fácil? Talvez fosse truque. Talvez estivesse a querer apanhá-la desprevenida. Respondeu cautelosamente:
- É a doutrina que afirma que as três Pessoas da Trindade são consubstanciais. Que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
- Qual é a autoridade dessa doutrina?
- O primeiro Concílio de Niceia.
- Confessio Fidei. O que é?
- É uma doutrina falsa e perniciosa - a Joana sabia o que dizer, porque Asclépios tinha-a prevenido neste aspecto -, que afirma que o Cristo foi primeiro homem e só depois Deus, isto é, só depois de ter sido adoptado pelo Pai.
Perscrutou o rosto de Odo, mas era enigmático.
- Filius non proprius, sed adoptivus - acrescentou ela para ter a certeza.
- Em que consiste o erro desta heresia?
- Se Cristo se tornou Filho de Deus pela graça e não pela natureza, então tem de ser subordinado ao Pai. Isto é uma heresia e uma abominação - recitou Joana, conscienciosamente - porque o Espírito Santo procede não só do Pai, mas também do Filho; só existe um Filho e não é um filho adoptivo.
In utraque natura proprium eum et non adoptivum filium dei confitemur.
As pessoas em torno da mesa começaram a aplaudir.
- Litteratissima! - gritou alguém do outro extremo da sala.
- Uma raridade divertida, não é? - murmurou a voz de uma mulher, um pouco alto de mais, mesmo por trás de Joana.
- Bem, Odo - disse o bispo, prazenteiramente. - O que dizes tu? O grego tinha razão acerca da Joana ou não?
Odo parecia um homem que tinha acabado de provar vinagre.
- Parece que a criança tem algum conhecimento de teologia ortodoxa. Mesmo assim, isso não prova nada - falou com condescendência, como se estivesse a falar para uma criança difícil. - Algumas mulheres têm uma capacidade imitativa altamente desenvolvida, que lhes permite decorar e repetir as palavras dos homens e dar-lhe a aparência de um raciocínio. Mas, esta capacidade imitativa não deve ser confundida com o verdadeiro raciocínio, essencialmente masculino. Porque, como é bem sabido - a voz de Odo assumiu um tom autoritário porque, agora, estava em terreno que lhe era familiar - as mulheres são por natureza inferiores aos homens.
- Porquê? - a palavra saiu da boca de Joana antes que ela se tivesse, sequer, dado conta de que tinha falado.
Odo sorriu, com os lábios retesados em sinal de desagrado. Tinha o ar da raposa quando sabe que o coelho está encurralado.
- A tua ignorância, criança, revela-se nessa pergunta. De facto, o próprio São Paulo afirmou esta verdade, que as mulheres são inferiores aos homens na concepção, na posição e na vontade.
- Na concepção, na posição e na vontade? - repetiu Joana.
- Sim. - Odo falou lenta e distintamente, como se se estivesse a dirigir a uma idiota. - Na concepção porque Adão foi criado primeiro e Eva, depois; na posição porque Eva foi criada para servir Adão como companheira e auxiliar; na vontade porque Eva não foi capaz de resistir à tentação do Demónio e comeu da maçã.
Pelas mesas, as cabeças acenavam em assentimento. A expressão do bispo era grave. Ao seu lado, o cavaleiro ruivo não deu qualquer indício daquilo em que estava a pensar.
Odo sorriu afectadamente. Joana sentiu uma repulsa intensa por aquele homem. Ficou calada por momentos, coçando o nariz.
- Porque é a mulher inferior ao homem na concepção? - acabou ela por perguntar. - Pois, apesar de ter sido criada depois, foi feita do lado de Adão, enquanto Adão foi feito do pó.
Do fundo da sala, ouviram-se murmúrios.
- Em posição - as palavras fluíam, à medida que os pensamenntos perpassavam pela cabeça de Joana e ela prosseguia o seu raciocínio - a mulher deve ser preferida ao homem porque Eva foi criada dentro mas Adão foi criado fora dele.
Novo murmúrio vindo da audiência. O sorriso desapareceu do rosto de Odo.
Joana continuou, demasiado interessada no encadeamento do seu o raciocínio sem pensar no que estava a fazer:
- Quanto à vontade, a mulher deve ser considerada superior ao homem - esta era forte, mas, agora, já não havia retorno - porque comeu da maçã por amor ao conhecimento e ao estudo, enquanto Adão a comeu apenas porque ela lhe pediu.
O choque provocou um silêncio profundo na sala. Os lábios pálidos de Odo contraíram-se de cólera. O bispo olhava para a Joana como se não pudesse acreditar naquilo que acabava de ouvir.
Ela tinha ido longe de mais.
Há ideias que são perigosas.
Asclépios tinha-a avisado, mas ela tinha-se envolvido de tal forma na disputa que tinha esquecido o seu conselho. Aquele homem, Odo, tinha sido tão arrogante, tão mesquinho em humilhá-la diante do bispo. Ela tinha estragado a sua oportunidade de ir para a escola, sabia-o muito bem, mas não daria àquele homenzinho odioso a satisfação de a humilhar.
Ficou diante da mesa alta, de queixo levantado e brilhante.
O silêncio prolongava-se interminavelmente. Todos os olhos estavam concentrados no bispo, que continuava a fixar Joana, espantado. Depois, suavemente, escapou-se-lhe dos lábios um murmúrio surdo e brusco.
O bispo ria.
Ao seu lado, a mulher deu uma gargalhada nervosa. Então, toda a sala desatou a rir barulhentamente. As pessoas gritavam e batiam nas mesas e riam, riam tanto que as lágrimas lhes corriam pelas faces e eles tinham de as limpar às mangas.
Joana olhou para o cavaleiro ruivo. Ele sorria abertamente.
Ela fitou-o nos olhos e ele piscou-lhe o olho.
- Vá lá, Odo - disse o bispo, quando, finalmente, recuperou o fôlego - tens de admitir que a rapariga te venceu!
Odo olhou venenosamente para o bispo.
- E o rapaz, Eminência? Desejais que eu o examine também?
- Não, não. Também ficamos com ele, uma vez que a rapariga lhe é tão dedicada. Ficamos com ambos! É certo que a educação da rapariga foi um tanto - procurou a palavra certa - heterodoxa.
- Mas, é uma novidade. Precisamente aquilo de que a escola precisa. Odo, tens estudantes novos. Cuida bem deles!
Joana olhou para o bispo, chocada. O que é que ele queria dizer com aquilo? Será que Odo era o reitor da escola? Aquele que iria ensiná-la?
O que tinha ela feito?
Odo baixou o nariz para o bispo.
- É claro que haveis tratado dos aposentos para a criança. Ela não pode ficar nos aposentos dos rapazes.
- Ah... aposentos. - O bispo hesitou. - Vejamos...
- Senhor - interrompeu o cavaleiro ruivo. - A criança podia ficar em minha casa. Eu e a minha mulher temos duas filhas, que a receberão bem. Seria uma boa companhia para a minha Gisla.
A Joana olhou para ele. Era um homem jovem, com cerca de vinte e cinco anos de idade, forte, bem parecido, com um rosto afilado e de traços perfeitos, com uma barba bem tratada. O seu cabelo farto, de um tom estranhamente vermelho, estava apartado ao meio e os caracóis chegavam-lhe aos ombros. Os seus olhos de um azul intenso eram inteligentes e bondosos.
- Excelente, Geraldo. - O bispo deu-lhe uma pancada amigável nas costas. - Está combinado. A rapariga ficará convosco.
Apareceu um servo com um tabuleiro cheio de guloseimas. Os olhos de João abriram-se de espanto, quando viu tantos doces, cobertos de manteiga.
O bispo sorriu:
- Crianças, deveis ter fome, depois de uma viagem tão longa. Sentai-vos ao pé de mim. - Chegou-se mais para a mulher que se encontrava sentada ao seu lado, deixando um espaço vago entre ele e o cavaleiro ruivo.
Joana e João contornaram a mesa e sentaram-se. O próprio bispo lhes serviu os doces. João comeu avidamente, dando grandes dentadas nos doces, ficando com um bigode de pó branco por cima da boca.
O bispo virou a sua atenção para a mulher sentada ao seu lado. Bebiam do mesmo copo, rindo e ele acariciava-lhe o cabelo, despenteando-a. Joana fitou o prato de doces. Começou a comer um, mas enjoou-se com o açúcar. Queria ir-se embora dali, fugir do barulho, das pessoas desconhecidas e do comportamento estranho do bispo.
O cavaleiro ruivo chamado Geraldo disse-lhe:
- Tiveste um dia longo. Queres ir-te embora?
Joana acenou afirmativamente. Vendo que eles se levantavam João encheu a boca com mais um doce e levantou-se.
- Não, filho. - Geraldo pôs uma mão sobre o ombro do João.
João disse:
- Quero ir com ela.
- O teu lugar é aqui, com os outros rapazes. Quando terminar a ceia, o intendente mostra-te os teus aposentos.
João empalideceu, mas dominou-se e não disse nada.
- Mas que arma interessante! - disse Geraldo, apontando para a faca de cabo de osso, presa ao cinto do João. - Posso vê-la?
O João tirou-a do cinto e estendeu-a a Geraldo. Ele virou-a, admirou o trabalho do cabo. A lâmina brilhava, reflectindo as tochas que havia em torno da sala. Joana recordou-se de como ela tinha brilhado à luz da vela na cabana, antes de se ter abatido sobre o pergaminho do livro de Asclépios, apagando-o, destruindo-o.
- É muito bonita. O Rogério tem uma espada com um cabo semelhante. Rogério! - Geraldo chamou um jovem que estava sentado na sala ao lado. - Vem mostrar a tua espada a este jovem.
Rogério estendeu uma longa espada de aço com um punho trabalhado. João olhou para ela, com reverência.
- Posso tocar-lhe?
- Podes pegar-lhe, se quiseres.
- Terás uma espada - disse Geraldo - e um arco. E ainda uma lança, se tiveres força para ela. Diz-lhe, Rogério.
- Sim. Temos lições de combate e de manuseamento de armas todos os dias.
Os olhos do João expressaram surpresa e contentamento.
- Vês este risco na lâmina? Foi onde eu aparei um golpe de uma pesada espada do nosso mestre de armas, em pessoa!
- A sério? - João estava fascinado.
Geraldo disse à Joana:
- Vamos? Acho que o teu irmão não se importa que saiamos agora.
À porta, Joana virou-se para trás e olhou para o João. Com a espada sobre os joelhos, conversava animadamente com Rogério.
Ela sentiu uma estranha relutância em se separar dele. Tinham sido mais vezes rivais do que amigos, mas o João era a sua ligação a casa, a um mundo familiar e conhecido. Sem ele, ela estava sozinha.
Geraldo seguia à frente, pelo corredor. Era muito alto e as suas pernas compridas faziam-no andar depressa; a Joana teve de dar uma corrida para o apanhar.
Não falaram durante alguns minutos. Depois, Geraldo disse, de repente:
- Portaste-te bem lá dentro, com o Odo.
- Acho que ele não gosta de mim.
- Não, não gosta. Odo é muito cioso da sua dignidade, guarda-a como um homem guarda uma moeda quando já tem poucas.
Joana sorriu para Geraldo, simpatizando com ele. Num impulso, decidiu que ia confiar nele.
- Aquela era a... mulher do bispo?
Ela tropeçou na palavra, envergonhada. Toda a vida tinha pensado que o casamento dos seus pais era algo vergonhoso. Era um sentimento pueril, mal formulado e jamais admitido, mas muito profundo. Uma vez, observando que Joana era sensível a esta questão, Asclépios explicou-lhe que aqueles casamentos não eram raros entre o baixo-clero. Mas, um bispo...
- Mulher? Ah, referes-te à Theda. - Geraldo riu-se. - Não, o senhor meu bispo não é do género de se casar. Theda é uma das suas amantes.
Amantes! O bispo tinha amantes!
- Ficaste chocada. Não fiques. Fulgêncio - o senhor meu bispo - não é um homem piedoso. Herdou o título do tio, que foi bispo antes dele. Nunca foi ordenado e não tem qualquer pretensão à santidade, como deves ter reparado. Mas, verás que, apesar de tudo, é bom homem. Admira o saber, apesar de não ser instruído. Foi ele que fundou a escola.
Geraldo falava com ela abertamente, não como se ela fosse uma criança, mas sim como alguém que compreendia. Joana gostou disso. Mas, as suas palavras eram perturbantes. Seria correcto para um bispo, um príncipe da Igreja, viver assim? Ter... amantes? Era tudo tão diferente daquilo que ela esperava.
Chegaram aos portões de entrada do palácio. Pagens vestidos de seda vermelha abriram os grandes portões de carvalho; a luz das tochas da galeria desapareceu progressivamente na escuridão.
- Anda - disse Geraldo. - Sentir-te-ás melhor depois de uma noite de sono.
Dirigiu-se apressadamente para os estábulos.
Insegura, Joana seguiu-o na noite fria.
Geraldo apontou para a esquerda e Joana seguiu a direcção do seu braço. Ao longe, apenas conseguia vislumbrar o vulto escuro de um conjunto de construções recortadas contra o céu banhado de luar.
- Villaris, a minha casa... e, a partir de agora, também a tua.
Mesmo às escuras, Villaris era lindíssima. Situada, altivamente, no cimo de uma colina, aos olhos da Joana, era enorme. Era constituída por quatro possantes torres de madeira, ligadas por uma série de pátios e de esplêndidos pórticos em madeira. Geraldo e Joana passaram pelas robustas paliçadas em madeira que protegiam a entrada principal e por vários edifícios exteriores: uma cozinha, um forno, um estábulo, uma moagem e dois celeiros. Desmontaram do cavalo num pequeno pátio e Geraldo entregou a montada aos cuidados de um criado de estrebaria, que esperava por ele. Tochas de resina, colocadas a intervalos regulares, iluminaram o seu trajecto por um corredor comprido e sem janelas, ao longo de cujas grossas paredes em madeira estavam dispostas armas reluzentes: grandes espadas, lanças, azagaias, bestas e machados, lâminas pequenas, pesadas e de um único fio, como usavam os corajosos homens da infantaria franca. Passaram num segundo grande pátio, rodeado de pórticos cobertos e entraram na grande sala, propriamente dita, um espaço vasto, decorado com ricas tapeçarias. No centro da sala estava a mulher mais bela que Joana já tinha visto, além da sua própria mãe. Mas, enquanto Gudrun era alta e loura, esta mulher era baixa e franzina, com cabelo cor de ébano e uns grandes olhos escuros e altivos. Esses olhos encararam friamente a Joana, examinando-a com uma expressão que a inquietou.
- O que é isto? - perguntou ela abruptamente, quando se aproximaram.
Ignorando a sua rudeza, Geraldo respondeu:
- Joana, esta é a minha esposa, Richild, a senhora desta casa. Richild, apresento-te a Joana de Ingelheim, que chegou hoje para estudar na escola.
Joana fez uma vénia desajeitada, enquanto Richild a olhava com desprezo, antes de se dirigir a Geraldo.
- Na escola? É alguma brincadeira?
- Fulgêncio admitiu-a e ela vai ficar a residir aqui em Villaris durante os seus estudos.
- Aqui?
- Pode partilhar a cama com Gisla, que terá uma companhia sensata, para variar.
As sobrancelhas graciosas de Richild ergueram-se altivamente.
- Parece uma escrava.
Joana corou com o insulto.
- Enganas-te, Richild - repreendeu-a Geraldo, severamente - a Joana é uma convidada nesta casa.
Richild suspirou:
- Bem - tocou na túnica nova da Joana, em linho verde - pelo menos, parece estar asseada.
Fez um sinal a uma das criadas.
- Mostra-lhe o caminho para o quarto.
Sem dizer palavra, saiu da sala.
Mais tarde, deitada no colchão de palha macia, no andar de cima do dormitório, ao lado de Gisla, que ressonava (e que nem sequer acordou quando Joana se deitou ao lado dela), Joana pensou no irmão. Ao lado de quem estaria ele a dormir agora... se é que conseguia dormir? Ela não conseguia; a sua mente estava povoada de pensamentos e emoções perturbantes. Tinha saudades do ambiente da sua casa, especialmente, da sua mãe.
Queria que ela voltasse a abraçá-la, a acarinhá-la e a chamar-lhe passarinho. Não devia ter partido assim - em silêncio e zangada, sem uma palavra de despedida. Gudrun tinha-a traído diante do emissário do bispo, era verdade, mas a Joana sabia que ela o tinha feito por causa de a amar muito, porque não podia suportar ver a sua filha partir. Agora, talvez a Joana não voltasse a ver a sua mãe. Tinha aproveitado a oportunidade para fugir, sem pensar nas consequências. Não podia voltar para casa, era certo. O pai matá-la-ia por desobediência. Agora, o seu lugar era aqui, nesta terra estranha e inóspita e era aqui que ela ficaria, a bem ou a mal.
Mamã, pensou ela, olhando para a escuridão do quarto desconhecido, e uma lágrima começou a correr-lhe pela face.
A sala de aula, um compartimento pequeno e com as paredes em madeira ao lado da biblioteca da catedral, era fria e húmida mesmo nas tardes quentes de Outono. Joana adorava a sua frescura e o cheiro a pergaminho que impregnava o ar, um incentivo à exploração da vasta colecção de livros que ficava do outro lado da porta.
Havia uma pintura enorme a cobrir a parede da frente da sala. Representava uma mulher vestida com as longas vestes dos gregos. Na sua mão esquerda, tinha um par de tesouras, na mão direita, um chicote. A mulher representava a Sabedoria; as suas tesouras serviam para extirpar o erro e os falsos dogmas; o seu chicote, para castigar os estudantes preguiçosos. As sobrancelhas da Sabedoria eram muito juntas e os cantos da sua boca estavam inclinados para baixo, dando-lhe uma expressão severa. Os olhos escuros brilhavam na pintura, parecendo olhar para quem os observava. Era um olhar duro, imperativo. Odo tinha mandado fazer a pintura pouco depois de ter assumido o cargo de mestre de estudos.
- Bos mugit, equus hinnit, asinus rudit, elephans barrit...
Do lado esquerdo da sala, os estudantes menos avançados cantavam monotonamente, praticando formas verbais simples.
- As vacas mugem, os cavalos relincham, os burros zurram, os elefantes barrem...
Odo regia com a sua mão esquerda, estabelecendo o compasso do canto. Entretanto, os seus olhos percorriam a sala com uma atenção treinada, vigiando o trabalho dos outros estudantes.
Ludovico e Ebbo estavam ambos debruçados sobre um salmo. Era suposto estarem a decorá-lo, mas, pela posição das suas cabeças, quase juntas, dava a impressão que já não estavam concentrados no trabalho.
Sem deixar de marcar o ritmo do canto com a outra mão, bateu na nuca de ambos os rapazes com uma vara de madeira. Eles gritaram e voltaram a debruçar-se sobre as suas tábuas, modelos de concentração.
Perto, o João estava a estudar um capítulo de Donato. Era evidente que estava com grandes dificuldades. Lia lentamente, soletrando cada vogal e consoante a custo, parando frequentemente para coçar a cabeça, embaraçado por qualquer palavra desconhecida.
Sentada à parte dos outros - porque eles não tinham nada a ver com ela - Joana dedicava-se à tarefa que Odo lhe tinha dado, preparando uma cópia da vida de Santo António.
Trabalhava depressa: o seu estilete viajava pelo pergaminho com segurança e precisão. Não levantava os olhos e não se distraía nem por um segundo. A sua concentração era absoluta.
Odo disse pouco depois:
- Já chega por hoje. Este grupo - apontou para os novatos - está dispensado. O resto fica nos seus lugares até eu ter visto o seu trabalho.
Os novatos levantaram-se excitados, saindo tão depressa quanto o decoro lhes permitia. Os outros estudantes poisaram os seus estiletes e olharam para Odo, na expectativa, ansiosos por serem dispensados para gozarem a tarde quente.
Joana continuou debruçada sobre o seu trabalho.
Odo franziu o sobrolho. Tinha de admitir que o zelo da rapariga o tinha surpreendido. A sua mão estava morta por utilizar a vara nela, mas, até aqui, ela ainda não lhe tinha dado oportunidade. Parecia querer realmente aprender.
Odo dirigiu-se para a sua secretária e debruçou-se sobre ela. Ela parou de trabalhar, surpreendida, senão mesmo - seria possível? desapontada.
- Chamastes-me, senhor? Perdoai; estava concentrada no meu trabalho e não vos ouvi. - disse a Joana delicadamente.
Desempenha bem o seu papel, pensou Odo. Mas, não me engana.
Oh, ela fingia respeito e submissão sempre que ele se lhe dirigia, mas ele lia a verdade nos olhos dela. Na sua alma, ela troçava dele e desafiava-o. E isso, Odo não o toleraria.
Debruçou-se para examinar o trabalho dela, misturando os pedaços de pergaminho, em silêncio.
- A mão - disse ele - não é suficientemente perfeita. Aqui e aqui - apontou para o pergaminho com um longo dedo branco - não fazes as tuas letras suficientemente redondas. Criança, que explicação me dás para um trabalho tão descuidado?
Descuidado! Joana estava indignada. Tinha escrito dez páginas de glosa - muito mais do que qualquer outro estudante era capaz de fazer no dobro do tempo. O seu raciocínio era exacto e - nem mesmo Odo o podia negar. Ela tinha visto os seus olhos a brilharem, ao examinar uma passagem onde ela tinha utilizado elegantemente a forma conjuntiva.
Provocava-a. Queria que ela o desafiasse, que lhe respondesse como criatura arrogante e híbrida. Ele sabia que ela procurava violar a lei que Deus tinha imprimido no universo, usurpando a justa autoridade dos homens sobre ela.
Vá, incitava-a ele. Diz o que pensas. Se ela o fizesse, ele tinha o que queria. mas a Joana lutou consigo mesma para controlar as suas emoções. Ela sabia o que Odo estava a tentar fazer. Mas, por muito que a provocasse ela não lhe daria esse prazer. Não lhe daria motivo para a dispensar da escola.
Mantendo a voz baixa, respondeu num tom neutro:
- Não tenho desculpa, senhor.
- Muito bem - disse Odo. - Como castigo pela tua indolência vais copiar vinte e cinco vezes a passagem de Primeira a Timóteo, do capítulo segundo, versículos onze e doze, com uma letra certinha, antes de saíres.
Dentro da Joana fervia um ressentimento sombrio. Homem mau, de ideias curtas! Se ao menos ela pudesse dizer-lhe o que pensava dele!
- Sim, senhor. - Manteve os olhos baixos para ele não poder ler os seus pensamentos.
Odo estava desapontado. Mas a rapariga não aguentaria isto para sempre. Mais tarde ou mais cedo - a ideia fazia-o sorrir - desistiria. E, quando assim fosse, ele estaria à espera.
Deixou-a e foi ver dos outros estudantes.
Joana suspirou e pegou no seu estilete. Primeira a Timóteo, segundo capítulo, versículos onze e doze. Ela conhecia-o bastante bem; não era a primeira vez que Odo lhe tinha dado aquele castigo. Era uma citação de São Paulo: "Não autorizo que uma mulher ensine, nem domine um homem; ela deve ficar quieta e calada com a submissão que lhe é devida."
Estava a meio da cópia, quando começou a sentir que qualquer coisa não estava bem. Levantou os olhos. Odo tinha-se ido embora. Os rapazes estavam à porta, a falar uns com os outros.
Era estranho.
Normalmente, apressavam-se a sair, mal as lições terminavam.
Olhou para eles, inquieta. João estava à margem do grupinho, a ouvir.
Os olhos de ambos cruzaram-se e ele sorriu e acenou-lhe.
Ela devolveu-lhe o sorriso, depois, recomeçou a escrever.
Mas, um arrepiozinho de alarme levantou-lhe os cabelos na nuca. Será que os rapazes estavam a planear alguma coisa?
Arreliavam-na e atormentavam-na frequentemente - Odo não fazia nada para o impedir - e apesar de ela suportar tudo em silêncio, tinha um medo terrível das manigâncias deles.
Acabou as últimas linhas à pressa e levantou-se para sair.
Os rapazes estavam à porta. Ela sabia que estavam à espera dela. Levantou o queixo, determinada. O que quer que fosse que tivessem planeado, ela passaria por eles rapidamente e saíria.
O seu casaco estava pendurado num cabide em madeira perto da porta. Ignorando ostensivamente os rapazes, pegou no casaco, aconchegou-o ao pescoço e levantou o capuz.
Caiu-lhe na cabeça uma coisa pesada e húmida. Ela tirou imediatamente o capuz, mas não era capaz de retirar o que tinha na cabeça. O líquido pegajoso começou a escorrer. Ela tocou-lhe com os dedos, que ficaram sujos com uma substância espessa e viscosa. Goma arábica.
Um material comum nas salas de aula e nos scriptoria, e que, misturado com vinagre e carvão, era usado para fazer tinta.
Ela limpou a mão ao casaco, mas a goma arábica estava pegada.
Freneticamente, voltou a puxar o capuz e soltou um grito de dor: os cabelos estavam colados à parte de dentro.
O grito dela provocou uma explosão de hilaridade entre os rapazes. Ela dirigiu-se apressadamente para a porta. O grupo dividiu-se quando ela se aproximou, formando duas alas.
- Lusus naturae! - gritaram-lhe eles. - Aberração da natureza!
A meio da fila, ela viu o João. Estava-se a rir e a gritar insultos juntamente com os outros. Os seus olhos encontraram-se; ele corou e desviou o olhar.
Ela continuou a andar. Era tarde de mais quando reparou na peça de roupa azul perto do chão. Tropeçou e caiu desajeitadamente de lado.
O João, pensou ela. Foi ele que me fez tropeçar.
Levantou-se, estremecendo com a dor lateral de que foi acometida. A substância repelente escorria do capuz para a sua cara. Ela agarrou-a, tentando afastá-la dos olhos, mas era escusado. Escorreu gelatinosamente pelas suas sobrancelhas, para as pestanas, colando-lhe as pálpebras e impossibilitando-a de ver bem.
Os rapazes aproximaram-se, empurrando-a de um lado para o outro a ver se ela voltava a cair. Ela ouviu a voz de João entre eles, insultando-a. Através da espessa película que cobria os seus olhos, ela rodava vertiginosamente em padrões diferentes de luz e não era capaz de chegar até à porta.
Sentiu a picada súbita de uma lágrima.
Oh, não, pensou. É isso que eles querem - fazer-me chorar e pedir-lhes misericórdia, mostrar-lhes fraqueza para poderem troçar dela, dizendo que ela era uma rapariga cobarde.
Não terão esse prazer. Não lho darei.
Endireitou-se, controlando-se para não chorar. Esta atitude de controlo ainda os inflamou mais e eles começaram a bater-lhe com força. O aluno mais velho bateu-lhe violentamente na nuca.
O golpe fê-la cambalear e ela teve de se esforçar para se manter de pé.
Ouviu-se a voz de um homem a gritar à distância. Será que Odo tinha vindo, finalmente, pôr fim a isto?
- O que se passa aqui?
Desta vez, ela reconheceu a voz. Geraldo. Na voz dele havia um timbre que ela nunca tinha ouvido. Os rapazes afastaram-se dela tão de repente que ela quase voltou a cair.
Então Geraldo pôs o braço à volta dos seus ombros, amparando-a. Ela apoiou-se nele, reconhecida.
- Então, Bernardo. - Geraldo dirigiu-se ao rapaz maior, aquele que lhe tinha batido no pescoço. - Não foi ainda na semana passada que eu te vi na sala de armas, tentando fugir tão desesperadamente à espada do Eric, que não foste sequer capaz de desfechar um único golpe? E agora, vejo que não tens qualquer dificuldade em lutar, quando a tua rival é uma rapariga indefesa.
Bernardo titubeou uma explicação, mas Geraldo interrompeu-o:
- Podes dizer isso a Sua Senhoria, o bispo. Ele vai mandar-te chamar mal saiba disto. O que irá acontecer ainda hoje, acredita.
O silêncio em redor era absoluto. Geraldo pegou na Joana ao colo. Ela sentiu com alguma surpresa a força dos seus braços e das suas costas. Ele era tão alto e aprumado que ela nunca se tinha apercebido de que era tão forte. Ela afastou a cabeça para que a matéria pegajosa que a cobria não manchasse a sua túnica.
A meio caminho para a sua montada, Geraldo voltou-se para trás:
- E mais uma coisa. Pelo que vi, ela é mais valente do que vós. Sim, e mais esperta, também, apesar de ser uma rapariga.
Joana sentiu que as lágrimas lhe chegavam aos olhos. Nunca ninguém a tinha defendido assim, a não ser Asclépios.
Geraldo era... diferente.
Um botão de rosa cresce na escuridão. Não conhece o sol, mas procura vencer a escuridão em que se encontra, até que, um dia, as suas pétalas se abrem, finalmente. Então, a rosa desabrocha, abrindo as suas pétalas à luz.
Amo-o.
O pensamento atingiu-a de uma forma tão súbita que a perturbou. O que significaria isto? Ela não podia estar apaixonada por Geraldo. Ele era um nobre, um grande senhor e ela não passava da filha de um humilde cónego. Ele era um homem maduro, com vinte e cinco invernos, e a Joana sabia que ele pensava nela como numa criança, apesar de, na realidade, ela ter quase treze anos e, em breve, ser uma mulher crescida.
Além disso, ele tinha mulher.
A cabeça de Joana era um rodopio de emoções confusas.
Geraldo colocou-a em cima do cavalo e montou atrás dela. Os rapazes ficaram à porta, sem se atreverem a falar. Joana encostou-se aos braços de Geraldo, sentindo a sua força, apoiando-se nela.
- Agora - disse Geraldo, pondo o cavalo num galope brando -, vou levar-te para casa.
O conde Geraldo, grafio vir illuster desta região longínqua no Norte do império, colocou o seu alazão novo a galope ao aproximar-se de suas propriedades. O cavalo correspondeu imediatamente, impaciente por chegar ao estábulo quente e a um fardo de feno fresco. Ao lado, o cavalo que transportava Osdag, servo fiel de Geraldo, também apressou o passo, apesar do peso do veado abatido que transportava sobre o dorso lhe dificultar a marcha.
Tinha sido uma boa caçada. Numa extravagância - porque, habitualmente, uma caçada consistia num grupo de seis ou mais homens - Geraldo tinha saído apenas na companhia de Osdag e de dois cães de caça. Tinham tido sorte; encontraram logo pegadas de veado, que Osdag assinalou com a sua corneta de caça e examinou com um olhar treinado.
- Um veado - anunciou ele - e grande.
Seguiram-lhe as pegadas durante quase uma hora, até o avistarem numa pequena clareira. Geraldo levou o seu olifante de marfim aos lábios e soprou vários silvos em surdina. Os cães partiram em perseguição da presa. Não tinha sido fácil apanhar o animal, com dois homens e dois cães, mas acabaram por conseguir encurralá-lo e Geraldo tinha-o abatido com um único golpe de lança. Tal como Osdag tinha dito, era um grande e belo animal; com o Inverno a aproximar-se, traria um bom contributo para as provisões de Villaris.
Ainda a alguma distância, Geraldo viu a Joana sentada na relva. Mandou Osdag à frente para os estábulos e cavalgou na sua direcção. Tinha-se afeiçoado surpreendentemente à rapariga durante o último ano. Ela era estranha, não havia dúvidas - muito solitária, muito séria para a idade - mas tinha bom coração e uma inteligência que atraía Geraldo.
Aproximando-se do local onde Joana estava sentada, tão quieta como os relevos do portal de uma catedral, Geraldo desmontou do alão e mandou-o seguir à frente. Joana estava tão concentrada que só deu pela sua presença já ele estava a umas dez jardas dela. Então, ela levantou-se, corando. Geraldo estava divertido. Ela não era capaz de disfarçar - uma característica que Geraldo achava muito atraente, tão diferente da... daquilo a que ele estava habituado. Não havia qualquer dúvida de que ela estava apaixonada por ele.
- Estás muito pensativa - disse ele.
- Sim. - Ela levantou-se e aproximou-se para admirar o alazão. - Ele portou-se bem?
- Muito bem. É uma bela montada.
- Oh, sim.
Ela acariciou a crina brilhante do cavalo. Ela sabia apreciar um bom cavalo, talvez porque tinha crescido num lugar onde não os havia. Tanto quanto Geraldo sabia, a família dela vivia tão pobremente como quaisquer coloni, apesar de o pai ser cónego da Igreja.
O cavalo soprou-lhe ao ouvido e ela riu-se, encantada. Uma rapariga atraente, pensou Geraldo, apesar de não ser nenhuma beleza, Os seus olhos grandes e inteligentes eram profundos, as suas feições rudes e largas, assim como os seus ombros largos davam-lhe um ar arrapazado, que se acentuava ainda mais graças ao cabelo dourado, agora cortado, que lhe emoldurava o rosto, mal lhe chegando ao cimo das orelhas. Depois daquele episódio na escola, tinhham sido obrigados a cortar-lhe o cabelo curto; não tinha havido outra maneira para tirar a goma arábica que se tinha agarrado a todo o cabelo.
- Em que estás a pensar?
- Oh. Numa coisa que aconteceu hoje na escola.
- Conta-me.
Ela olhou para ele.
- É verdade que as crias da loba branca nascem mortas?
- O quê?
Geraldo estava acostumado às suas perguntas invulgares, mas esta era mais estranha do que invulgar.
- O João e os outros rapazes estavam a dizer isso. Vai haver uma caçada à loba branca, a da floresta de Annapes.
Geraldo abanou a cabeça afirmativamente.
- Sei qual é. Terrível e selvagem - caça sozinha, separada da matilha, e não tem medo de nada. No último Inverno, atacou um grupo de viajantes e levou uma criança pequena antes que alguém tivesse podido fazer fosse o que fosse.
Dizem que está com uma barriga cheia de crias - penso que estão a pensar matá-la antes de ela parir?
- Sim. O João e os outros estão entusiasmados porque Ebbo disse que o seu pai lhe prometeu que o levava na caçada.
- E então?
- Odo opôs-se terminantemente. Ele próprio trataria de desconvocar a caçada, segundo disse, porque a loba branca é um animal sagrado, uma manifestação viva da ressurreição de Cristo.
As sobrancelhas de Geraldo ergueram-se, cepticamente.
Joana continuou:
- As crias dela nascem mortas - disse Odo - e, então, o pai delas lambe-as durante três dias e três noites, até elas regressarem à vida. É um milagre tão raro e tão sagrado que nunca ninguém o viu.
- O que pensas tu disso? - perguntou Geraldo. Conhecia-a suficientemente bem para saber que ela teria alguma coisa a dizer.
- Eu perguntei como se sabe que isso é verdade, se nunca ninguém o viu.
Geraldo riu-se alto.
- Aposto que o teu mestre não gostou da pergunta!
- Não. Disse que era irreverente. E também não era lógica porque o momento da Ressurreição também nunca foi testemunhado, e, no entanto, ninguém duvida de que seja verdade.
Geraldo pôs a mão em cima do ombro de Joana.
- Deixa lá, criança.
Fez-se um silêncio, como se ela hesitasse em prosseguir. De repente, ela levantou os olhos, com o seu rosto jovem concentrado e muito sério.
- Como podemos ter a certeza de que a Ressurreição é uma realidade? Se nunca ninguém a testemunhou?
Ele ficou tão perturbado que deu um puxão nas rédeas e a montada estacou. Geraldo pôs uma mão sobre o seu flanco castanho, acalmando-o.
Como a maior parte dos nobres nesta região norte do império, proprietários ricos que tinham atingido a idade adulta sob o reinado do velho imperador Carlos, Geraldo, que era à moda antiga, era um cristão num sentido bastante vago do termo.
Assistia à missa, dava esmolas e tinha o cuidado de guardar as festas e as observâncias exteriores. Seguia os ensinamentos da doutrina da igreja que não interferiam com a execução dos seus direitos e deveres senhoriais e ignorava o resto.
Mas, conhecia o mundo e reconhecia perigo quando o via.
- Não perguntaste isso ao Odo!
- Porque não?
- Meu Deus!
Isto podia significar sarilho. Geraldo não gostava de Odo, o homenzinho de ideias mesquinhas e de espírito mais mesquinho ainda. Mas, este era exactamente o tipo de arma de que Odo precisava para embaraçar Fulgêncio e forçar Joana a sair da escola. Ou - nem queria pensar - pior ainda.
- O que disse ele?
- Não respondeu. Ficou muito zangado e... ralhou-me.
Ela corou.
Geraldo assobiou baixinho.
- Bom, o que esperavas? Já tens idade para saber que há perguntas que não se fazem.
- Porquê?
Os grandes olhos verdes-acinzentados, muito mais profundos e sensatos do que os das outras crianças, fixaram-no atentamente. Olhos pagãos, pensou Geraldo, olhos que nunca baixariam os olhos diante de um homem ou de Deus. Perturbava-o pensar o que eles teriam passado para se tornarem assim.
- Porquê? - voltou ela a perguntar, insistente.
- Porque não.
Ele estava irritado com a sua insistência. Às vezes, a inteligência da rapariga, que excedia em muito o seu crescimento físico, era inquietante.
Algo - seria dor ou fúria? - perpassou brevemente pelos olhos de Joana e, depois, desapareceu.
- Tenho de voltar para casa. A tapeçaria para a parede está quase pronta e a vossa esposa pode precisar de ajuda para a terminar.
Virou-se, para se ir embora, de queixo erguido.
Geraldo estava divertido. Tanto orgulho ferido numa menina tão jovem! A ideia de que Richild, a sua esposa, precisasse da ajuda de Joana para a tapeçaria era absurda. Ela já se tinha queixado frequentemente da falta de jeito de Joana para coser; o próprio Geraldo já tinha presenciado os esforços frustrados da rapariga para tentar que os seus dedos obedecessem, e tinha visto os pobres resultados do seu trabalho.
A sua irritação dissipou-se e ele disse:
- Não fiques ofendida. Se queres progredir neste mundo, tens de ter mais paciência com os teus superiores.
Joana olhou de lado para ele, atentando nas suas palavras, depois, virou a cabeça para trás e riu-se. O som era maravilhoso, gutural e musical, contagioso. Geraldo estava encantado. A rapariga era teimosa, zangava-se depressa, mas tinha um coração generoso e um raciocínio rápido. segurou-lhe no queixo.
- Não queria ser severo - disse ele. - É que, às vezes, tu surpreendes-me. És tão sensata nalgumas coisas e tão estúpida noutras.
Ela ia a começar a falar, mas ele colocou um dedo sobre os seus lábios.
- Não sei a resposta para a tua pergunta. Mas, sei que a própria pergunta é perigosa. Muitos diriam que uma ideia dessas é heresia. Percebes o que isso significa, Joana?
Ela abanou a cabeça gravemente.
- É uma ofensa a Deus.
- Sim. É isso e muito mais. Colocar uma pergunta dessas pode significar o fim das tuas esperanças, Joana, do teu futuro. Da... tua própria vida.
Pronto. Tinha-o dito. Os olhos verde-acinzentados olharam-no, resolutos. Não havia retrocesso. Ele tinha de lhe contar tudo.
- Há quatro invernos atrás, um grupo de viandantes foi apedrejado até à morte perto daqui, nos campos junto à catedral. Dois homens, uma mulher e um rapaz pouco mais velho do que tu és agora.
Ele era um soldado aposentado, um veterano das campanhas imperiais contra os bárbaros obodritas.
Ainda lhe subia o sangue ao rosto, só de pensar. A morte, mesmo nas suas formas mais terríveis, não tinha segredos para ele. Mas, horrorizava-o pensar naquela morte. Os homens estavam desarmados, e os outros dois... tinham demorado muito tempo a morrer. A mulher e a criança eram os que tinham sofrido mais porque os homens tinham tentado protegê-las com os seus corpos.
- Lapidados - os olhos da Joana abriram-se de espanto. - Mas, porquê?
- Eram arménios, membros de uma seita conhecida como os paulicianos. Iam a caminho de Aachen e tiveram a pouca sorte de passar por aqui precisamente depois de as vinhas terem sido atingidas por uma tempestade de granizo. Nessas alturas, as pessoas procuram encontrar um motivo para os seus problemas. Quando o procuraram, ali estavam eles - forasteiros e com um tipo de pensamento suspeito.
Tempertaru, foi assim que lhes chamaram, por causa de dizerem que eles tinham utilizado magia para desencadear uma violenta tempestade. Fulgêncio tentou defendê-los, mas eles foram interrogados e as suas ideias foram consideradas heréticas. Ideias, Joana - ele olhou-a com um olhar aflito - não muito diferentes da pergunta que colocaste hoje a Odo.
Ela ficou calada, olhando para longe. Geraldo não disse nada, dando-lhe tempo.
- Asclépios disse-me uma vez uma coisa parecida - acabou ela por dizer. - Algumas ideias são perigosas.
- Ele era um homem sensato.
- Pois era. - Os seus olhos suavizaram-se com a recordação.Vou ter mais cuidado.
- Está bem.
- Agora - disse ela - conta-me. Como podemos saber que a história da Ressurreição é verdadeira?
Geraldo riu, desarmado:
- Tu és incorrigível.
Ele despenteou-lhe o cabelo dourado tosquiado. Vendo que ela continuava à espera de uma resposta, acrescentou:
- Muito bem. Vou dizer-te o que penso.
Os olhos dela brilharam de interesse. Ele voltou a rir-se.
- Mas, agora não. Pistis precisa de descansar. Vem ter comigo antes das vésperas e, então, falaremos.
A admiração da Joana transpareceu-lhe, indisfarçável, nos olhos. Geraldo acariciou-lhe a face. Ela não passava de uma criança, mas era inegável que o tocava. Bem, o seu leito matrimonial era suficientemente frio, Deus o sabia, para que ele apreciasse o calor de um afecto tão inocente, sem que isso lhe pesasse muito na consciência.
O cavalo voltou a assoprar ao ouvido da Joana. Ela disse:
- Tenho uma maçã. Posso dar-lha?
Geraldo acenou afirmativamente.
- Pistis merece uma recompensa. Portou-se bem, hoje; um dia, há-de ser a melhor montada de caça.
Ela meteu a mão no seu saco e tirou uma maçãzinha verde. Chegou-a ao focinho do cavalo que a lambeu gentilmente, depois, engoliu-a. Quando ela retirou a mão, Geraldo viu uma mancha vermelha. Ela apercebeu-se de que ele tinha visto e procurou esconder a mão, mas ele apanhou-a e virou-a para a luz. Na palma da mão, havia um corte profundo, um pedaço de carne cortada e sangue seco.
- Odo? - disse Geraldo baixinho.
- Sim.
Ela gemeu quando ele tocou cuidadosamente nos limites da ferida. Era evidente que Odo tinha utilizado a vara mais do que uma vez e com bastante força; a ferida era profunda e precisava de ser tratada imediatamente, para não infectar.
- Temos de tratar disto imediatamente. Vai para casa; vou lá ter já.
Teve de se esforçar para manter uma voz firme. Ficou surpreendido com a intensidade das suas próprias emoções. Odo tinha todo o direito de a castigar. Aliás, tinha talvez sido melhor que ele o tivesse feito, porque, tendo vingado a sua cólera desta forma, era menos provável que levasse a questão adiante. Mesmo assim, a visão da ferida provocou em Geraldo uma fúria irracional. Teria desejado esganar Odo.
- Não é tão mau como parece. - Joana olhava-o atentamente com aqueles olhos inteligentes e profundos.
Geraldo voltou a examinar a ferida. Era funda, precisamente na parte mais sensível da mão. Qualquer outra criança teria chorado e gritado de dor. Ela não tinha dito uma palavra, nem sequer depois de ter sido interpelada.
No entanto, algumas semanas antes, quando lhe tinham cortado o cabelo para lhe tirar a goma arábica, tinha gritado e lutado como uma sarracena. Depois, quando Geraldo lhe perguntou porque tinha ela resistido daquela maneira, ela não foi capaz de dar uma explicação melhor do que dizer que o som das tesouras a cortar-lhe o cabelo a tinham assustado.
Uma rapariga estranha, não havia dúvida. Talvez fosse por isso que ele a achava interessante.
- Pai!
Dhuoda, a filha mais nova de Geraldo, corria pela colina abaixo, na direcção onde Joana e ele se encontravam, no meio das árvores. Eles esperaram que ela os apanhasse, corada e sem fôlego da corrida.
- Pai!
Dhuoda levantou os braços ansiosa e Geraldo pegou-lhe e levantou-a no ar, fazendo-a rodopiar, enquanto ela gritava exuberantemente. Quando ele achou que já bastava, poisou-a no chão.
Corada e excitada, Dhuoda puxou-o pelo braço.
- Oh, Pai, anda ver! A Lupa pariu cinco cachorros. Posso ficar com um, Pai? Pode dormir na minha cama?
Geraldo riu-se.
- Veremos. Mas, primeiro... - ele agarrou-a com força porque ela já se tinha virado para correr de volta a casa, à frente dele -, primeiro, leva a Joana para casa; ela tem a mão ferida e precisa de a tratar.
- A mão? Mostra-me - pediu ela à Joana, que levantou a mão com um sorriso magoado.
- Ooooooh. - Os olhos de Dhuoda abriram-se de fascínio horrorizado, ao ver a ferida. - Como foi?
- Ela conta-te no caminho para casa. - interrompeu Geraldo, impaciente. Ele não estava a gostar do aspecto da ferida; quanto mais cedo fosse tratada, melhor. - Despacha-te e faz como eu te disse.
- Sim, Pai. - Dhuoda disse para a Joana simpaticamente. - Dói muito?
- Não o suficiente para me impedir de chegar primeiro ao portão! - respondeu Joana e desatou a correr.
Dhuoda gritou de alegria e correu atrás dela. As duas raparigas subiram a colina juntas, rindo.
Geraldo ficou a olhar, sorrindo, mas os seus olhos estavam preocupados.
O Inverno chegou, assinalado indelevelmente na cabeça da Joana pela sua passagem para a idade adulta. Tinha treze anos e devia estar a contar com isso, mas, mesmo assim, apanhou-a de surpresa - o súbito aparecimento de uma nódoa castanha-escura na sua túnica de linho e uma dor forte na barriga. Apercebeu-se imediatamente do que se tratava - já tinha ouvido a sua mãe e as mulheres da casa de Geraldo a falarem sobre isso muitas vezes e tinha-as visto a lavarem os seus panos todos os meses. Joana falou com uma criada, que se apressou a trazer-lhe um monte de panos limpos, piscando o olho, como quem sabe, quando lhos entregou.
Joana detestava o que se estava a passar. Não só por causa da dor e do incómodo, mas também por causa do significado que aquilo tinha. Sentia-se traída pelo seu próprio corpo, que parecia estar a ganhar cada dia contornos novos e desconhecidos. Quando os rapazes da escola começaram a fazer reparos trocistas aos seus seios que cresciam, ela atou-os firmemente com pedaços de pano. Doía, mas valia a pena. O seu género tinha sido sempre uma fonte de infelicidade e frustração, desde que ela se lembrava, e ela pretendia lutar tanto quanto possível contra a emergência da prova da sua feminilidade.
Wintarmanoth trouxe um gelo terrível, que atingiu a terra como um punho de ferro. O frio era tanto que fazia bater os dentes. Os lobos e os outros predadores da floresta aproximaram-se da cidade mais do que nunca; eram poucos os aldeões que se atreviam a sair sem motivo muito forte.
Geraldo tentou convencer Joana a não ir à escola, mas não a conseguiu dissuadir. Todas as manhãs, excepto ao sábado, ela vestia um grosso manto de lã, enrolando-o ao corpo, de forma a não entrar o vento; depois, enrijecendo o corpo contra o frio, percorria as duas milhas até à catedral. Quando vieram os ventos serranos e frigidíssimos de Hornung, espalhando o frio pelos caminhos, Geraldo mandou selar um cavalo todos os dias para ele próprio levar e trazer a Joana da escola.
Apesar de a Joana ver o seu irmão na escola todos os dias, ele nunca mais lhe tinha falado. Continuava a ser tremendamente lento nos estudos, mas a sua arte no uso da espada e da lança tinham-lhe alcançado o respeito da parte dos outros rapazes e ele apreciava visivelmente a sua companhia.
Não desejava perder o seu recém-descoberto sentimento de pertença pelo facto de reconhecer uma irmã que era um embaraço. Afastava-se sempre que ela se aproximava.
As raparigas da cidade também se afastavam dela. Olhavam para a Joana com desconfiança, excluindo-a dos seus jogos e mexericos. Ela era uma aberração da natureza - tinha a inteligência de um homem, o corpo de uma mulher, não encaixava em lado nenhum; era como se pertencesse a um terceiro sexo, amorfo.
Ela não tinha companhia. Excepto a de Geraldo, é claro. Mas, Geraldo bastava. Joana ficava feliz só de estar perto dele, de falar, rir e conversar com ele sobre coisas de que não podia falar com mais ninguém no mundo.
Num dia frio, depois de ambos regressarem da escola, ele fez-lhe um sinal com a mão.
- Anda cá. - disse ele. - Quero mostrar-te uma coisa.
Levou-a através do grande vestíbulo de entrada no solar até ao pequeno escritório onde guardava os seus papéis. Pegou numa coisa comprida e rectangular e deu-lha.
Um livro! Um tanto velho e gasto, mas intacto. Em belas letras gravadas a ouro na capa de madeira estava escrito o título: De rerum natura.
De rerum natura. A grande obra de Lucrécio! Asclépios tinha-lhe falado muitas vezes da sua importância. Só existia uma cópia, segundo se dizia, guardada cuidadosamente na grande biblioteca de Lorsch. Mas, Geraldo estava a oferecer-lho tão naturalmente como se fosse um pedaço de carne.
- Mas, como...? - ela levantou os olhos curiosos para ele.
- O que está escrito pode ser copiado - respondeu ele com um sorriso cúmplice. - Pelo preço que custou, que foi bastante. O abade regateou bastante, dizendo que tinha poucos escribas. E, de facto, levou mais de dez meses a terminá-lo. Mas, aqui está. Não custou nem mais um denário do que vale.
Os olhos de Joana brilharam, quando apalpou a capa do livro.
Durante todos os meses em que tinha estudado na escola, nunca lhe tinha sido permitido trabalhar com textos como aquele. Odo tinha-a proibido terminantemente de ler as grandes obras dos clássicos da biblioteca da catedral, restringindo-a ao estudo dos textos sagrados, que, segundo ele dizia, eram mais adequados à sua mente feminina, fraca e impressionável.
Orgulhosa como era, não tinha deixado que ele visse como isso a desgostava. Vá, põe grades na tua biblioteca, pensou ela, desafiadora. Não podes pôr grades no meu pensamento. Mesmo assim, tinha ficado com uma fúria, sabendo os tesouros de conhecimento que estavam fora do seu alcance. Geraldo tinha reparado; ele parecia saber sempre o que ela estava a pensar e a sentir. Como poderia ela não o amar?
- Vá, lê-o - disse Geraldo. - E quando tiveres terminado, vem ter comigo e falaremos sobre o que tu estiveste a ler. O que ele diz vai-te interessar muito.
Os olhos de Joana abriram-se de espanto.
- Então...
- Sim. Já o li. Estás surpreendida?
- Sim. Quer dizer, não... mas...
As bochechas de Joana coraram, enquanto titubeava uma resposta. Ela não sabia que ele sabia ler em latim. Era raro os nobres e os senhores das terras saberem sequer ler e escrever. Era um intendente, um homem letrado, que geria os seus bens e redigia a correspondência necessária.
Naturalmente, Joana tinha pensado que...
Geraldo riu-se, divertindo-se com o seu embaraço.
- Não faz mal. Tu não podias saber. Eu estudei durante alguns anos na Escola Palatina, quando o velho imperador Carlos Magno ainda era vivo.
- Na Escola Palatina!
O nome era legendário. A escola fundada pelo imperador tinha algumas das melhores cabeças da época. O grande Alcuíno tinha sido professor naquela escola.
- Sim. O meu pai mandou-me para lá. Queria que eu fosse um estudioso. O trabalho era interessante e eu gostava bastante, mas era jovem e não tinha temperamento para levar uma vida tão sedentária. Quando o imperador convocou homens para lutarem contra os obodritas, eu fui, apesar de só ter treze anos. Estive ausente durante anos, talvez ainda estivesse, mas, entretanto, morreu o meu irmão mais velho e eu fui chamado a casa para tomar conta da herança que lhe pertencia.
Joana olhou para ele, pensativa. Ele era um estudioso, um homem de letras! Como era possível que ela não tivesse percebido? Ela devia ter adivinhado pela forma como ele falava com ela acerca dos seus estudos.
- Vá, vai-te embora - enxotou-a Geraldo amigavelmente -, já sei que não podes esperar. Ainda falta uma hora para a ceia. Mas, está atenta à campainha.
Joana correu pelas escadas acima, a caminho do dormitório que partilhava com Dhuoda e Gisla. Deitou-se na sua cama e abriu o livro. Leu lentamente, saboreando as palavras, parando ocasionalmente para tomar nota de uma frase ou raciocínio particularmente elegante. Quando a luz do quarto desapareceu, ela acendeu uma vela e continuou a trabalhar.
Continuou a ler, esquecendo-se completamente do tempo e teria perdido a ceia, se Geraldo não tivesse acabado por mandar uma criada chamá-la.
As semanas passaram depressa, cheias do entusiasmo que Joana e Geraldo punham no estudo em conjunto. Ao acordar, Joana pensava, impaciente, como haveria de fazer para que o tempo passasse, até ao fim das vésperas, quando, depois da ceia e das devoções devidas, ela e Geraldo podiam retomar a sua leitura de Lucrécio.
De rerum natura era uma revelação - um livro maravilhoso, cheio de conhecimento e de sabedoria. Lucrécio tinha dito que, para descobrir a verdade, bastava observar o mundo natural.
Era uma ideia que fazia todo o sentido no tempo de Lucrécio, mas que era extraordinária, senão mesmo revolucionária, no anno domini de 827. Mesmo assim, era uma filosofia que seduzia profundamente o tipo de mentes como a de Joana e de Geraldo.
De facto, foi por causa de Lucrécio que Geraldo capturou a loba branca.
Um dia, quando Joana regressou da escola, Villaris estava em alvoroço. Os cães da casa ladravam desesperadamente; os cavalos galopavam como loucos em torno do perímetro dos seus currais; toda a propriedade ecoava com sons ensurdecedores.No meio do pátio, Joana descobriu o motivo de tanta excitação.
Uma grande loba branca lutava, debatia-se e uivava furiosamente dentro das grades de uma gaiola oblonga. As grades da gaiola, construída em madeira com três polegadas de grossura, rangiam sob as investidas da besta em fúria. Geraldo e os seus homens cercavam a área, com as suas lanças e os seus arcos a postos, não fosse a criatura conseguir libertar-se.
Geraldo fez sinal a Joana para que ela se mantivesse longe.
Quando viu os estranhos olhos cor-de-rosa da loba, chispando de ódio, Joana deu consigo mesma a desejar que as grades resistissem. Depois de algum tempo, a loba cansou-se e ficou parada, com as pernas sólidas e a cabeça baixa, uivando. Geraldo baixou a lança e foi ter com Joana.
- Agora, vamos testar a teoria do Odo!
Durante a noite, ficaram os dois de vigília, determinados a não perder o momento do parto. Não aconteceu nada. A loba vagueava pela jaula e não mostrava sinais de parto iminente.
Já quase tinham começado a duvidar que a besta estava prenhe, quando, subitamente, ela entrou em trabalho de parto.
Aconteceu durante o turno de vigia de Joana. A loba levantava-se e deitava-se no chão, como se não conseguisse sentir-se confortável. Finalmente, começou a roncar e a ter contracções. Joana correu para ir chamar Geraldo e encontrou-o no solar com Richild. Dirigindo-se a eles como um torvelinho, Joana esqueceu-se dos cumprimentos normais.
- Vem depressa! Já começou!
Geraldo levantou-se imediatamente. Richild franziu o sobrolho e parecia que ia a dizer alguma coisa, mas não havia tempo a perder. Joana virou-lhe as costas e correu pela galeria coberta que dava acesso ao pátio principal. Geraldo, que tinha parado para pegar numa tocha, foi logo atrás dela.
Nenhum deles reparou na expressão de Richild, quando os viu partir.
Quando chegaram ao pátio, a loba estava em pleno trabalho de parto. Joana e Geraldo viram aparecer uma patinha, seguida de outra e depois uma cabecinha perfeita. Finalmente, com um último esforço, um corpinho negro escorregou para a palha no chão da jaula.
Joana e Geraldo aproximaram-se para o ver na escuridão da jaula.
O lobinho recém-nascido estava inerte, completamente coberto de placenta, por isso, eles mal conseguiam distinguir a cabeça da cauda.
A mãe cortou a placenta e comeu-a.
Geraldo levantou a tocha e aproximou-a das grades da jaula para se ver melhor. O recém-nascido parecia não estar a respirar.
A mãe entrou novamente em trabalho de parto. Já tinham passado alguns momentos e o recém-nascido continuava a não se mexer ou a dar qualquer sinal de vida.
Joana olhou para Geraldo desanimada. Era assim? Será que ele jazia ali inerte, à espera que o seu pai lhe instilasse a vida? Será que Odo, afinal, tinha razão?
Se tinha, então, eles tinham-no morto porque o tinham afastado do pai que lhe daria a vida.
A mãe voltou a uivar; saiu um segundo corpinho, caindo por cima do outro. O impacto sacudiu o primogénito, que se mexeu e chiou em sinal de protesto.
- Olha! - disseram os dois um para o outro e apontaram ao mesmo tempo, exultantes. Riram-se, contentes com o resultado da sua experiência.
Os dois cachorrinhos aproximaram-se da mãe para mamarem, mesmo antes de ela ter terminado de dar à luz o terceiro.
Juntos, Geraldo e Joana viram o nascimento desta nova família. As suas mãos procuraram-se uma à outra no escuro, encontrando-se e apertando-se em sintonia.
Joana nunca se tinha sentido tão perto de ninguém em toda a sua vida.
- Sentimos a vossa falta nas vésperas - disse Richild, acusadoramente, do pórtico. - É a noite de São Norberto, esqueceste-vos? É um fraco exemplo quando o senhor da casa não cumpre as sagradas devoções.
- Tinha mais que fazer - respondeu Geraldo friamente.
Richild começou a responder, mas a Joana interrompeu, excitada:
- Estivemos a ver a loba a parir as crias! Elas não nascem mortas, apesar do que as pessoas dizem - disse ela, exultante - Lucrécio tinha razão!
Richild ficou a olhar para ela como se ela fosse maluca.
- Tudo o que acontece na natureza tem uma explicação - continuou Joana -, estais a ver? Os cachorros nasceram vivos, sem qualquer necessidade de sobrenatural, tal como Lucrécio disse!
- Que conversa ímpia é essa? Criança, estás febril?
Geraldo meteu-se rapidamente entre elas.
- Vai-te deitar, Joana - disse ele, por cima do ombro dela - já é tarde.
Levou Richild pelo braço e meteu-a em casa.
Joana ficou onde estava, a ouvir a voz da Richild a ecoar, estridente, no ar calmo da noite.
- É o que dá educar uma rapariga acima das suas capacidades de aprender. Geraldo, tens de deixar de a encorajar nestas coisas aberrantes!
A Joana voltou lentamente para o seu quarto de dormir.
Depois de a loba ter parido as suas crias, mataram-na. Ela era perigosa. Já tinha atacado e levado uma criancinha e uma assassina daquelas não podia andar à solta. O último cachorro a nascer era fraco e sobreviveu apenas alguns dias. Mas, os outros dois cresceram, tornando-se cãezinhos robustos e vivos, cujas brincadeiras encantavam Joana e Geraldo. Um deles tinha o pêlo castanho e cinzento, típico dos lobos da floresta nesta parte da terra dos Francos; Geraldo ofereceu-o a Fulgêncio, que teve um prazer especial em o mostrar a Odo. O outro cachorro, o primogénito, tinha o pêlo branco e os olhos opacos e raros da sua mãe; ficaram com ele. Joana e Geraldo puseram-lhe o nome de Luke, em honra de Lucrécio, e o seu afecto pelo cachorro vivaço fortaleceu ainda mais os laços existentes entre eles.
Ia haver uma feira em São Dinis! A notícia era surpreendente - não havia uma feira ou mercado em todo o reino há mais anos do que as pessoas eram capazes de contar. Apesar disso, alguns dos mais velhos - como Burchard, o moleiro - lembravam-se de um tempo em que costumava haver duas ou três feiras por ano na terra dos francos. Era o que diziam, apesar de ser difícil de acreditar. É claro que tinha sido no tempo do imperador Carlos de boa memória e as estradas e pontes ainda estavam em bom estado, não havia ladrões e charlatães a assaltarem os caminhos, nem o terror selvagem dos escandinavos - Deus nos proteja! - a assolarem o país inesperadamente.
Agora, as estradas eram demasiado perigosas para que as feiras fossem rentáveis; os mercadores não se atreviam a transportar mercadorias valiosas por estradas sem segurança e as pessoas não tinham vontade de arriscar a vida em viagens.
Mesmo assim, ia haver uma feira. E seria de admirar que metade do que o arauto, que trouxera as notícias, tinha dito, fosse verdade. Haveria mercadores de Bizâncio, que traziam especiarias, sedas e brocados exóticos; mercadores venezianos com edredões de penas de pavão e peles verdadeiras; negociantes de escravos que traziam a sua carga humana de eslavos e saxónios; lombardos com sacos de sal empilhados dentro de navios com as suas velas laranja a brilharem com os signos do zodíaco e toda a espécie de divertimentos: trapezistas e acrobatas, contadores de histórias, momos, cães e ursos treinados.
São Dinis era longe dali - na realidade, ficava a umas cento e cinquenta milhas de Dorstadt, uma noite de viagem, por estradas sinuosas e rápidos. Mas, ninguém se importava com isso. Toda a gente que conseguisse arranjar um cavalo, uma mula ou até mesmo um pónei, iria.
A comitiva de Geraldo, própria de um conde, era grande. Quinze fideles de Geraldo, bem armados, iriam com ele a cavalo, assim como vários criados para servirem a família.
Joana iria e, por especial favor - Joana tinha a certeza que tinha sido ideia de Geraldo - o João também tinha sido convidado. Richild tinha preparado tudo cuidadosamente; tinha-se esforçado para que nada lhes faltasse em conforto e segurança durante a viagem. Há dias que as carruagens tinham sido levadas para o pátio do castelo e carregadas com provisões.
Na manhã da partida, Villaris agitava-se. Os criados corriam de um lado para o outro, alimentando e carregando os cavalos; o despenseiro e os moços de cozinha suavam ao forno, cuja alta chaminé exalava roldões de fumo; o ferreiro trabalhava furiosamente na forja, terminando uma quantidade de ferraduras, pregos e peças de carruagem suplentes. Os sons mais diversos misturavam-se numa tremenda confusão: as criadas gritavam umas com as outras, erguendo a voz acima dos gritos mais grossos e dos assobios dos valetes, as vacas mugiam e batiam com os cascos, enquanto eram mugidas, um burro sobrecarregado zurrava alto, em sinal de protesto contra a sua carga. A actividade levantava uma quantidade enorme de pó, que pairava no ar, iluminado pela luz do sol primaveril como se fosse ouro em pó.
Joana passeava pelo pátio, observando, impaciente e atenta, os últimos preparativos. Luke saltava à volta dela, com as orelhas levantadas e os olhos opalescentes brilhantes de ansiedade. Também ia, porque, segundo Geraldo tinha dito, o cachorro de seis meses de idade estava tão ligado a Joana que não havia forma de os separar. Joana riu-se e fez uma festa no pêlo de neve de Luke. Ele lambeu-lhe a palma da mão e sentou-se, de boca muito aberta, como se também se estivesse a rir.
- Se não tens mais nada que fazer se não estar a olhar, dá uma ajuda ao despenseiro.
Richild empurrou a Joana para a cozinha, onde o despenseiro fazia gestos frenéticos com as mãos cobertas de farinha. Tinha estado a pé durante toda a noite, a fazer biscoitos e empadas para a viagem.
A meio da manhã, o séquito preparou-se para partir. O capelão fez uma pequena oração para que os viajantes chegassem sãos e salvos ao seu destino e o cortejo de carruagens e cavalos saiu lentamente para a estrada. Joana ia no primeiro carro, atrás de Geraldo e dos seus homens, juntamente com Richild, Gisla e Dhuoda e as três raparigas da aldeia aias das senhoras. As mulheres recostaram-se nos bancos em madeira rija quando as rodas começaram a saltar sobre a estrada.
Luke corria ao lado do carro, vigiando Joana. Ela olhou para diante e viu o João a cavalgar com os homens, sentado confortavelmente num excelente jumento ruço.
Eu monto tão bem como ele, pensou Joana. Geraldo tinha passado muitas horas a ensiná-la a montar e, agora, ela era uma boa amazona.
Como se se tivesse apercebido subitamente de que estava a ser observado, João virou-se e sorriu-lhe de uma forma simultaneamente íntima e maliciosa. Depois, esporeou a montada e pôs-se a cavalgar ao lado de Geraldo. Começaram a falar um com o outro; Geraldo deitou a cabeça para trás e começou-se a rir.
Uma onda de ciúme invadiu o coração da Joana. O que teria João a dizer a Geraldo que o divertisse tanto? Não tinham nada em comum. Geraldo era um homem instruído, um erudito. O João não percebia nada dessas coisas. E, no entanto, cavalgava ao lado de Geraldo, falando com ele, rindo com ele, enquanto ela seguia numa miserável carroça.
Porque era uma rapariga. Não era a primeira vez que ela amaldiçoava o golpe do destino que a tinha feito mulher.
- É feio ficar a olhar, Joana.
Os olhos escuros de Richild olhavam desdenhosamente para Joana.
Joana desviou os olhos de Geraldo.
- Perdão, senhora.
- Mantém as tuas mãos cruzadas sobre o regaço - mandou Richild - e os olhos baixos, como é próprio de uma mulher composta.
Joana obedeceu-lhe.
- Um comportamento apropriado - continuou Richild - é uma virtude maior numa senhora do que saber ler - coisa que saberias se tivesses sido educada de forma conveniente.
Olhou para Joana friamente durante alguns momentos, antes de voltar a concentrar-se no seu bordado.
Joana olhava para ela pelo canto do olho. Como ela era bonita, segundo aquilo que na época era considerado como beleza: uma tez clara, austera, ombros estreitos. A sua pele leitosa esticava-se sobre uma testa altíssima, adornada por ricos cachos de espesso cabelo negro. Os seus olhos, protegidos por longas pestanas negras, eram de um castanho tão escuro que pareciam quase pretos. Joana sentiu inveja. Richild era tudo quanto ela não era.
- Anda, tens de nos ajudar a decidir - disse Gisla, a filha mais velha, à Joana. - Que vestido hei-de usar para a festa de casamento? - ria-se, excitada.
Gisla tinha quinze anos. Era menos de um ano mais velha do que Joana e já estava prometida ao conde Hugo, um nobre neustriano. Geraldo e Richild estavam satisfeitos porque a união era um bom arranjo. O casamento seria dali a seis meses.
- Oh, Gisla, tens tantas coisas bonitas.
E era verdade. Joana tinha ficado espantada com o tamanho do guarda-roupa de Gisla - suficiente para usar uma túnica diferente cada dia, se ela quisesse. Em Ingelheim, uma rapariga só tinha uma túnica, em lã grossa, se tivesse sorte, e que guardava ciosamente, porque tinha de durar muitos anos.
- Tenho a certeza de que o conde Hugo te vai achar bonita com qualquer uma.
Gisla voltou a rir-se. Tinha bom coração, mas não era muito inteligente. Começava a rir-se nervosamente cada vez que o nome do noivo era mencionado.
- Não, não - disse ela, sem fôlego. - Não te podes escapar assim tão facilmente. Ouve. A mãe acha que devo usar a azul, mas eu acho que devo usar a amarela. Anda, responde-me como deve ser.
Joana suspirou. Gostava de Gisla, apesar da sua futilidade e do seu comportamento tolo. Partilhavam a mesma cama desde a primeira noite em que Geraldo tinha trazido Joana do palácio do bispo, cansada e assustada. Gisla tinha recebido bem Joana, tinha sido gentil com ela e Joana tinha-lhe ficado eternamente grata. Mesmo assim, era inegável que aquela conversa com Gisla seria desesperante porque os seus interesses se confinavam a roupas, comida e homens. Nas últimas semanas, não tinha parado de falar do casamento, o que já começava a enervar toda a gente.
Joana sorriu, fazendo um esforço por ser simpática.
- Acho que devias usar a azul. Condiz com os teus olhos.
- A azul? A sério? - Gisla levantou as sobrancelhas. - Mas, a amarela tem um lindo galão à frente.
- Então, a amarela.
- Mas, a azul fica mesmo bem com os meus olhos. Talvez seja melhor. O que achas?
- Eu acho que se volto a ouvir falar nessa estúpida festa de casamento, começo a gritar - disse Dhuoda. Tinha nove anos de idade e tinha ciúmes da atenção que a irmã mais velha tinha atraído nas últimas semanas. - Quem é que quer saber a cor da túnica que tu vais usar!
- Dhuoda, esse reparo não é próprio de uma senhora.
Richild levantou os olhos do bordado para repreender a filha mais nova.
- Perdão - disse Dhuoda a Gisla, contristada.
Mas, mal a mãe desviou os olhos, mostrou a língua a Gisla, que sorriu, divertida.
Richild disse:
- Quanto a ti, Joana, não tens nada que dar opinião. Gisla usará o que eu achar melhor.
Joana corou com a repreensão, mas não disse nada.
- O conde Hugo é um homem muito elegante - disse Berta, uma das criadas.
Era uma rapariga corada de pouco mais de dezasseis invernos, nova no serviço, tendo sido trazida havia um mês para substituir uma rapariga que tinha morrido de tifo.
- É tão elegante na sua montada, com o casaco e as luvas de arminho.
Gisla riu-se encantada. Encorajada, Berta continuou:
- E, senhora, da maneira como ele olha para vós, não importa que túnica usais. Na noite de núpcias, ele depressa vo-la tirará!
Ela riu-se ruidosamente, satisfeita com a sua graça. Gisla ficou sufocada. As outras ficaram caladas, olhando para Richild.
Richild pousou o bordado, com os olhos ensombrados de ira.
- O que disseste? - perguntou ela num tom ameaçadoramente sério.
- Ah... nada, senhora - disse Berta.
- Oh, Mãe, de certeza que ela não tinha intenção... - Gisla tentou intervir em vão.
- Grosserias e obscenidades! Não as tolerarei na minha presença!
- Perdão, senhora - disse Berta, arrependida. Mas continuava a sorrir um pouco, não acreditando que Richild estivesse realmente zangada.
Richild estendeu o braço na direcção da parte de trás do carro.
- Fora.
- Mas, senhora! - disse Berta, compreendendo, finalmente, a dimensão do seu erro. - Eu não queria...
- Fora! - Richild foi inflexível. - Em penitência pela tua impudicícia, irás a pé o resto do caminho.
Era uma viagem difícil até São Dinis. Berta olhou para os seus pés, calçados com coturnos meios rotos. Joana teve pena dela. O seu reparo tinha sido desajeitado e impensado, mas a rapariga era jovem e nova no serviço e era óbvio que não tinha pretendido ofender ninguém.
- Recitarás alto o Pai-Nosso enquanto caminhas.
- Sim, senhora - disse Berta, resignada.
Saltou do carro, tomou posição ao seu lado e, pouco depois, começou a recitar.
- Pater Noster qui es in caelis...
Recitava numa lengalenga cuja estranha melodia acentuava as palavras erradas. Joana tinha a certeza que ela não sabia o que estava a dizer.
Richild regressou ao seu bordado. O seu cabelo negro brilhava ao sol, quando debruçou a cabeça sobre o seu tear. Os seus lábios estavam apertados, os olhos endurecidos pela fúria, quando meteu a agulha no tecido grosso.
É uma mulher infeliz, pensou Joana. Era difícil de compreender, uma vez que era casada com Geraldo. Mas, o casamento deles tinha sido arranjado e, apesar de muitos desses casamentos terem acabado por ser felizes, este não o era. Dormiam em camas separadas e, a acreditar nos comentários dos criados, não se conheciam como marido e mulher havia muitos anos.
- Queres montar?
Geraldo sorriu para ela do alto do seu garanhão. Na sua mão direita, segurava as rédeas de Boda, uma égua baia de que ele sabia que Joana gostava particularmente.
Joana corou, embaraçada pelo que estava a pensar. Estava tão perdida nos seus pensamentos que não tinha reparado que Geraldo tinha ido buscar Boda ao grupo de montadas e que a tinha trazido para junto da carruagem.
- Montar com os homens? - disse Richild. - Não o permitirei! Não seria próprio!
- Que disparate! - respondeu Geraldo. - Não tem mal nenhum e a rapariga quer montar, não queres, Joana?
- Eu... eu... - disse ela, desajeitadamente, apanhada de surpresa e sem vontade de ofender Richild ainda mais.
Geraldo levantou um sobrolho.
- Claro, se preferes ficar no carro...
- Não! - disse Joana rapidamente. - Por favor, adorava montar a Boda.
Levantou-se e estendeu os braços. Geraldo riu-se e pegou-lhe pelos pulsos, levantando-a no ar, até a sentar na sela.
Depois, mantendo os cavalos próximos um do outro, passou-a para o dorso da Boda.
Ela sentou-se na sela. Na carruagem, Gisla e Dhuoda olhavam surpreendidas e Richild com manifesta desaprovação. Geraldo parecia não ter reparado. Joana pôs Boda a trote e dirigiu-se rapidamente para a frente da fila.
O trote suave e ritmado da montada era um prazer, comparado com os solavancos da carruagem. Luke corria ao seu lado, com a cauda levantada, demonstrando um contentamento quase tão grande como o de Joana. Ela avançou para o lado de João, que não escondia o seu desagrado. Joana sorriu, bem disposta. A estrada para São Dinis, afinal, não seria assim tão longa.
Passaram um afluente do Reno sem qualquer dificuldade; a ponte era robusta e larga, tinha sido construída no tempo do imperador Carlos e continuava a ser conservada pelo senhor daquele condado. Mas o Mosel, a cujas margens chegaram no oitavo dia, apresentou-se como um problema porque a ponte estava em ruínas. As tábuas estavam podres e havia buracos, onde uma ou duas tábuas faltavam, tornando a passagem impossível. Tinha sido improvisada uma ponte artesanal, com barcos de madeira atados uns aos outros em fila; uma pessoa podia passar através delas. Mas, a ponte de barcas não era adequada para tanta gente e para tantos cavalos e carruagens carregadas de mercadorias. Geraldo e dois homens dirigiram-se para sul, ao longo da margem, à procura de um local de travessia. Voltaram uma hora depois, dizendo que, duas milhas mais abaixo, havia um sítio onde o rio se podia passar a vau.
A caravana voltou a partir, com os carros balançando perigosamente, ao pisarem o denso matagal da margem. As mulheres agarravam-se com ambas as mãos aos bordos dos carros para evitar serem atiradas para fora dos mesmos. Berta continuava a seguir a pé, com os lábios a moverem-se numa oração interminável. O cânhamo dos seus coturnos estava tão gasto que ela tinha começado a coxear; os seus dedos dos pés estavam inchados, as solas dos pés cortadas e a sangrar. Mesmo assim, Joana reparou que ela, de vez em quando, olhava de esguelha para Richild e as suas filhas e parecia ficar um tanto satisfeita ao vê-las saltar dentro do carro.
Por fim, chegaram ao vau. Geraldo e vários outros cavaleiros desceram primeiro ao rio para avaliarem a sua profundidade e se havia correntes. A água rodopiou rapidamente em torno deles; chegou-lhes à altura das suas vestes antes de começar a descer onde o leito do rio começava a inclinar-se para a margem do lado oposto.
Geraldo voltou para trás e fez sinal ao resto da caravana para que avançassem. Sem hesitar, Joana dirigiu-se para o rio, seguida de perto por Luke, que mergulhou e nadou em movimentos seguros e confiantes. Depois de um momento de hesitação, João e os outros foram atrás deles.
A água fria do Mosel cercou Joana. Ela arrepiou-se quando a humidade penetrou nas suas roupas e lhe atingiu a pele. Atrás dela, os carros começaram a descer lentamente para o rio, puxados pelas mulas renitentes. Berta lutava para se manter à tona, através da água fria, que lhe chegava quase aos ombros.
Ao olhar para trás, Joana viu que Berta estava com dificuldades.
Dirigiu-se para ela. A montada podia transportar ambas para o outro lado, sem qualquer problema. Não estava a mais de cinco pés dela, quando a rapariga desapareceu, imergindo na superfície da água a uma velocidade tal como se tivesse sido puxada pelos pés. Joana parou, sem saber o que fazer; depois, dirigiu a sua montada na direcção dos círculos de água, cada vez maiores, que assinalavam o local onde Berta tinha desaparecido.
- Para trás!
A mão do Geraldo agarrou as rédeas, fazendo parar a montada.
Partiu um grande ramo de um chorão que pendia, desmontou e caminhou lentamente para a margem, sondando o leito do rio a cada passo. À distância de um braço do local onde Berta tinha desaparecido, parou: o ramo tinha-se enterrado muito fundo.
- Um poço!
Tirou o manto e mergulhou.
De repente, instalou-se uma confusão tremenda. Os homens andavam para trás e para diante dentro de água, gritando instruções e batendo na água com varas. E Geraldo estava ali. Podiam estar a pisá-lo, a magoá-lo, como era possível que não o compreendessem?
- Parai! - gritou Joana, mas eles não lhe prestaram atenção.
Ela dirigiu-se a Egbert, chefe dos criados de Geraldo e agarrou-o firmemente pelo braço. - Parem! - disse ela.
Surpreendido, Egbert fez um gesto para a sacudir, mas ela dissuadiu-o com um olhar.
- Dizei-lhes que parem; ainda estão a fazer pior.
Ele fez sinal aos outros. Eles pararam, circundando o redemoinho e esperando num silêncio de morte.
Passou um minuto. Atrás deles, o primeiro carro chegou à outra margem e subiu para terra. Joana não reparou. Os seus olhos estavam pregados no local onde Geraldo tinha desaparecido.
O medo deixava-lhe as palmas das mãos húmidas. As rédeas escorregavam-lhe das mãos. A montada, pressentindo que havia problemas, estacou. Luke atirou a cabeça para trás e uivou.
- Deus Misereatur - rogou ela. - Deus, misericórdia. Pedi-me o sacrifício que for da Vossa vontade, mas permiti que ele se salve.
Dois minutos.
Era tempo de mais. Ele precisava de subir para respirar. Ela desmontou, entrando na água fria. Não sabia nadar, mas não parou para pensar nisso. Começou a chapinhar na direcção do poço. Luke saltou para a frente e para trás à sua frente, tentando impedi-la de avançar, mas ela passou-lhe à frente. Só pensava numa coisa, chegar a Geraldo, puxá-lo, salvá-lo.
Estava a meia jarda do poço, quando se ouviu um chapinhar e um barulho na água. Geraldo emergiu de repente e respirou fundo, com o cabelo vermelho colado à cara.
- Geraldo!
O grito exultante de Joana sobrepôs-se às vozes dos homens.
Geraldo virou-se para ela e acenou-lhe. Depois, respirou fundo, preparando-se para voltar a mergulhar.
- Vede!
O condutor da mula do primeiro carro apontou para um ponto no caudal do rio.
Uma espécie de corola azul apareceu à superfície e aproximou-se suavemente da margem oposta. O vestido da Berta era azul.
Eles voltaram a montar e desceram o rio. Berta flutuava de costas, presa em ramos e detritos que se tinham acumulado ao longo da margem. Os seus membros estavam afastados, como se estivessem desgarrados, e o seu rosto inerte exprimia uma impotência e um medo terríveis.
- Pegai nela - ordenou Geraldo bruscamente. - Levá-la-emos para a igreja de Prum para que tenha um funeral decente.
Joana começou a tremer violentamente, sem ser capaz de desviar os olhos de Berta. Morta, era tão parecida com Mateus - a mesma pele cinzenta, os olhos semicerrados, a boca retorcida.
De repente, Geraldo segurava-a nos braços, voltando-lhe a cabeça para o outro lado e apertando-a contra os seus ombros.
Ela fechou os olhos e apoiou-se nele. Os homens desmontaram e entraram na água; ela ouviu o restolhar suave do caniçal, quando eles libertaram o corpo de Berta.
- Ias à minha procura, não ias?
Perguntou Geraldo, murmurando-lhe ao ouvido. Falava admirado, como se tivesse acabado de se aperceber de tal.
- Sim - disse ela, sem levantar a cabeça do seu ombro.
- Sabes nadar?
- Não - reconheceu ela e sentiu que os braços de Geraldo a apertavam, enquanto permaneciam juntos perto da margem do rio.
Por trás deles, os homens transportavam lentamente o corpo de Berta para o carro. O capelão aproximou-se, de cabeça baixa, recitando uma oração pelos mortos. Richild não rezava com ele. A sua cabeça estava levantada, olhando para Joana e para Geraldo.
Joana libertou-se do abraço de Geraldo.
- O que foi? - O seu olhar estava cheio de afecto e preocupação.
Richild continuava a observá-los.
- N-nada. - Ele seguiu a direcção do seu olhar. - Ah.
E retirando suavemente um caracol de cabelo dourado que caía sobre o rosto de Joana, disse:
- Vamos ter com os outros?
Lado a lado, dirigiram-se para as carruagens. Depois, Geraldo afastou-se para falar com o capelão por causa do corpo.
Richild disse:
- Joana, vais connosco no carro durante o resto da viagem. Estarás mais segura aqui connosco.
Não valia a pena protestar. Joana subiu para o carro.
Os homens depositaram cuidadosamente o corpo de Berta num dos carros da retaguarda, afastando os sacos, para arranjar espaço. Uma criada da casa, uma mulher idosa, começou a gritar, debruçando-se sobre o corpo de Berta.
As mulheres começaram a carpir, como era tradicional nos funerais. Toda a gente esperava num silêncio respeitoso e embaraçado. Depois de um intervalo de tempo decente, o capelão aproximou-se e falou baixinho com a mulher. Ela levantou a cabeça; os seus olhos, loucos de desgosto e dor, fixaram-se em Richild.
- Vós! - gritou ela. - Fostes vós, senhora! Vós mataste-a! Ela era boa rapariga, a minha Berta, ter-vos-ia servido bem! A sua morte foi vossa culpa, senhora. Vossa culpa!
Dois dos criados de Richild agarraram a mulher rudemente e levaram-na, ainda gritando imprecações.
O capelão aproximou-se de Richild, juntando as mãos em sinal de contrição.
- É a mãe da Berta, senhora. O desgosto enlouqueceu a pobre mulher. Claro que a morte da filha foi um acidente. Um acidente trágico.
- Não foi um acidente, Wala - disse Richild, muito séria. - Foi a vontade de Deus.
Wala empalideceu.
- Claro, claro.
Enquanto capelão de Richild, um padre doméstico, privado, Wala tinha uma posição um pouco melhor do que a de um simples colonus; se lhe desagradasse, ela podia mandá-lo açoitar - ou, pior ainda, podia mandá-lo embora.
- Foi a vontade de Deus. A vontade de Deus, senhora, de certeza.
- Vai e fala com a mulher porque o seu desgosto deve ter posto a sua alma em perigo de morte.
- Ah, senhora! - Ele levantou as mãos brancas ao céu. - Que paciência celestial! Que caritas!
Ela despediu-o impacientemente e ele afastou-se, parecendo um homem que tinha acabado de ser libertado da forca a tempo.
Geraldo mandou partir e a caravana começou a mover-se ao longo da margem, na direcção da estrada para São Dinis. Atrás deles, no carro da retaguarda, os gritos da mãe transformaram-se progressivamente num soluçar insistente e de partir o coração. Os olhos de Dhuoda estavam cheios de lágrimas; Gisla tinha mesmo perdido o seu humor inquebrantável. Poderia alguém ser tão habilidoso a esconder as suas emoções ou será que ela era realmente tão fria como parecia? Será que não sentia qualquer peso na consciência pela morte da rapariga?
Richild olhou para ela. Joana desviou os olhos para que ela não lhe lesse os pensamentos.
Vontade de Deus? Não, senhora. Vontade vossa.
O primeiro dia da feira foi muito atarefado. As pessoas acorriam através do enorme portão em ferro que conduzia ao descampado em frente à Abadia de São Dinis - camponeses vestidos com bandelettes andrajosas e camisas de linho rude; nobres e fideles em túnicas de seda debruadas com enfeites em ouro, com as suas esposas pelo braço, cobertas elegantemente com mantos guarnecidos a pele e jóias; os lombardos e os aquitanos nas suas exóticas calças e botas bufonas. Joana nunca tinha visto uma aglomeração humana tão estranha e tão grande.
No campo, as barracas dos mercadores sucediam-se sem interrupção, com as suas mercadorias variadas dispostas numa mistura exuberante de cores e formas.
Havia mantos e capas de seda púrpura, penas de pavão, casacos de pele tingida, manjares raros, como amêndoas e passas e toda a espécie de aromas e especiarias, pérolas, gemas, prata e ouro. Continuavam a entrar mais mercadorias pelos portões, amontoadas em vagões ou em pilhas desordenadas, às costas dos comerciantes mais pobres, dobrados ao peso da carga. Muitos deles não iriam dormir nessa noite, com dores nos músculos forçados para além dos seus limites, mas, assim, evitavam os duros impostos, o rotaticum e o saumaticum, cobrados sobre as mercadorias transportadas em veículos de rodas e sobre bestas de carga.
Ao entrarem o portão, Geraldo disse à Joana e ao João:
- Abram as vossas mãos.
Colocou um denário em prata em cada uma das palmas estendidas.
- Gastem-nos bem.
Joana olhou para a moeda reluzente. Só tinha visto um denário uma vez ou duas e, mesmo dessas vezes, tinha sido à distância porque, em Ingelheim, os produtos eram trocados; mesmo o salário do pai, o dizimo cobrado aos camponeses da sua paróquia, era sempre entregue em mercadorias e provisões.
Um denário! Parecia uma fortuna desmedida.
Vaguearam pelos estreitos e apinhados corredores entre as barracas. Os vendedores expunham as suas mercadorias, os clientes regateavam os preços acaloradamente e artistas de todos os tipos - dançarinos, malabaristas, acrobatas, domadores de ursos e de macacos - faziam as suas habilidades.
O barulho dos inúmeros negócios, da galhofa e das discussões levadas a cabo em centenas de dialectos e línguas diferentes rodeavam-nos por todos os lados. Era fácil perder-se na multidão que se acotovelava. Joana deu a mão ao João - para sua surpresa, ele não protestou - e manteve-se junto a Geraldo. Luke seguia-os de perto, inseparável de Joana, como sempre. O pequeno grupo depressa se separou de Richild e dos outros, que andavam mais devagar. A meio da primeira fila de barracas, pararam e esperaram por eles. À sua esquerda, uma mulher gritava com dois mercadores que puxavam cada um deles por uma das pontas de um pedaço de linho para o medir com uma longa régua em madeira.
- Parai! - gritava a mulher. - Imbecis! Ides rasgá-lo!
De facto, parecia que os homens iam rasgar o tecido ao meio para ficar cada um deles com a parte maior.
Um pouco mais à frente, ouviam-se gritos e risos vindos de um grupo de gente reunido em círculo.
- Anda.
João puxou Joana pelo braço. Ela hesitou, não querendo deixar Geraldo, mas ele cedeu à vontade do João e levou-os, benevolentemente, naquela direcção.
Quando eles se aproximavam, ouviu-se outro grito. Joana viu um homem cair de joelhos no centro da clareira, apalpando o ombro, como se estivesse ferido. Levantou-se rapidamente e, então, Joana reparou que ele tinha na mão uma grande vara de vidoeiro. Estava outro homem no interior do círculo, armado de modo semelhante. Giravam um à volta do outro, agitando ferozmente as pesadas varas. Ouviu-se um guincho estranho e agudo, ao mesmo tempo que um porco salpicado de sangue correu freneticamente entre os dois homens, com as suas pernas atarracadas saltando como uma batedeira de manteiga. Os dois homens precipitaram-se para o porco, mas, em vão; aquele que tinha caído havia pouco deu um grito, quando apanhou um golpe nas partes baixas. A multidão ria-se a bandeiras despregadas.
João ria-se com os outros. Os seus olhos brilhavam de entusiasmo. Puxou a manga de um camponês baixo e marcado pelas bexigas, que estava ao lado deles.
- O que se passa? - perguntou ele, excitado.
O homem sorriu-lhe e os buracos na sua cara aumentaram ao esticar da pele.
- Então, andam atrás de um porco, rapaz, estás a ver? Aquele que o matar, leva-o para casa para o comer.
Estranho, pensou Joana, enquanto olhava para os dois homens em competição por uma recompensa. Vibravam as suas varas com força, mas os seus golpes não acertavam, eram imprecisos, acertando no ar ou um no outro com mais frequência do que no desgraçado porco. Havia qualquer coisa estranha na aparência do homem que estava à sua frente. Ela olhou com mais atenção e reparou numa brancura leitosa no lugar das pupilas. Agora, o outro homem virou-se para ela; os seus olhos pareciam normais, mas o seu olhar era vago, fixo e perdido no espaço.
Os homens eram cegos.
Um outro golpe atingiu o seu alvo e o homem dos olhos leitosos desequilibrou-se, agarrando a cabeça. João deu um salto, batendo palmas e rindo alto com o resto da multidão. Os seus olhos brilhavam com um entusiasmo estranho.
Joana virou-se.
- Psst! Menina!
Uma voz chamava-a. Do lado oposto, um vendedor acenava-lhe.
Ela deixou o João a divertir-se com aquele combate bizarro, e dirigiu-se para a barraca do homem, diante da qual se encontrava uma mesa comprida com uma quantidade de objectos religiosos. Havia crucifixos em madeira e medalhas de todos os tamanhos e feitios, assim como relíquias sagradas de vários santos populares naquela região: uma madeixa de cabelo de São Willibrord, uma unha de São Romaric, dois dentes de São Waldetrudis e um pedaço do vestido da virgem-mártir Santa Genoveva.
O homem tirou um frasquinho da sua saca em pele.
- Sabeis o que está aqui dentro?
Falava tão baixo que ela quase não o conseguia ouvir, com o barulho que havia à sua volta. Ela abanou a cabeça.
- Gotas de leite - falava ainda mais baixo - da Santa Virgem Mãe.
Joana ficou perplexa. Grande tesouro! Aqui? Deveria estar guardado nalgum grande mosteiro ou catedral.
- Um denário - disse o homem.
Um denário! Ela apalpou a moeda em prata que tinha no bolso.
O homem estendeu-lhe o frasquinho e ela pegou-lhe. Sentiu a sua superfície fresca na mão. Teve um lampejo da expressão de Odo se ela voltasse com uma relíquia daquelas para a catedral.
O homem sorriu, estendendo a mão, ansioso por lhe arrancar uma moeda.
Joana hesitou. Porque haveria este homem de vender um tesouro tão grande por aquele preço? Qualquer abadia ou catedral que precisasse de uma relíquia sagrada para ser venerada pelos peregrinos estaria disposta a dar uma fortuna por ela.
Ela tirou a tampa ao frasquinho e espreitou para dentro dele. A meio do tubo via-se uma gota pálida de leite, brilhando suavemente à luz do sol. Joana tocou-lhe com a ponta do dedo mindinho. Depois, levantou os olhos, olhando à sua volta. Riu-se, chegou o frasco aos lábios e bebeu.
O homem sobressaltou-se.
- Sois campónia? - o seu rosto estava contorcido de raiva.
- Delicioso - disse Joana, tapando o frasco e devolvendo-lho. - Parabéns à vossa cabra.
- Vós... vós... - o homem espumava, incapaz de encontrar palavras para exprimir a sua fúria e a sua frustração.
Por momentos, parecia que ia dar a volta à mesa e correr atrás dela. Ouviu-se um rosnar surdo; Luke, que até ali tinha estado sentado sossegadamente, colocou-se à frente de Joana, com o focinho enrugado, levantado dos lados, mostrando uma fila de dentes brancos ameaçadores.
- O que é isso? - o vendedor estacou fixando os olhos brilhantes de Luke.
- Isto - disse uma voz por trás de Joana - é um lobo.
Era Geraldo. Ele tinha chegado sorrateiramente durante a conversa com o vendedor. Estava descontraído, com os braços caídos, o corpo relaxado, mas os seus olhos eram ameaçadores.
O vendedor afastou-se, murmurando qualquer coisa entredentes.
Geraldo pôs o braço por cima dos ombros da Joana e levou-a dali, chamando Luke, que ainda voltou a ladrar ao vendedor e depois correu para os apanhar.
Geraldo não disse nada. Caminharam juntos em silêncio, com a Joana a apressar o passo para conseguir acompanhar as suas longas passadas.
- Está zangado, pensou ela, ao mesmo tempo que o seu bom humor se extinguia tão rapidamente como uma lareira abafada.
O pior era que ela sabia que ele tinha razão. Ela tinha sido descuidada com o vendedor. Não lhe tinha ela prometido que teria mais cuidado? Porque tinha sempre que fazer perguntas e desafiar? Porque não era capaz de aprender que algumas ideias são perigosas?
Talvez eu seja campónia.
Ouviu um ruído abafado; Geraldo ria-se.
- A cara do homem quando levantaste o frasco e bebeste! Nunca me hei-de esquecer! - apertou-a num abraço caloroso -, Ah, Joana, és a minha pérola! Mas, diz-me, como sabias que não era leite da Virgem?
Joana sorriu, aliviada.
- Desconfiei logo, porque se aquilo fosse realmente sagrado porque seria tão barato? E porque tinha o vendedor a cabra presa atrás da barraca, onde ninguém a podia ver? Se a tinha recebido como paga por um negócio, que necessidade tinha de a ter escondida?
- É verdade. Mas, tu bebeste mesmo daquilo - Geraldo voltou a dar uma gargalhada - deves ter reparado em mais qualquer coisa.
- Sim. Quando destapei o frasco, o leite não estava coalhado, estava fresco, como se fosse daquela manhã; ora, o leite da Virgem teria mais de oitocentos anos.
- Ah - Geraldo sorriu, com as sobrancelhas levantadas, desafiando-a - mas talvez seja a sua grande santidade que o mantém puro e incorruptível.
- É verdade - admitiu Joana. - Mas, quando toquei no leite, ainda estava quente! Talvez uma coisa assim tão santa pudesse permanecer incorruptível, mas, porque haveria de estar quente?
- Bem visto - disse Geraldo, elogiosamente. - O próprio Lucrécio não teria feito melhor!
Joana sorriu. Como gostava de lhe agradar!
Tinham caminhado quase até ao fim da fila de barracas, onde a grande cruz de São Dinis assinalava os limites da feira, protegendo a santa tranquilidade dos irmãos da abadia. Era ali que os mercadores de pergaminhos tinham montado as suas barracas.
- Olha!
Geraldo foi o primeiro a vê-los. Apressaram-se na sua direcção, para examinarem a mercadoria, que era de muito boa qualidade. Os vellum, em particular, eram extraordinários: o reverso da pele era perfeitamente liso. Joana nunca tinha visto um vellum tão branco; o outro lado era mais amarelado, como era normal, mas os orifícios da raiz dos pêlos eram tão pequenos e baixos, que quase não se viam.
- Deve ser um prazer escrever em folhas destas! - exclamou Joana, apalpando-os cuidadosamente.
Geraldo chamou imediatamente um dos mercadores.
- Quatro folhas - pediu ele e Joana sorriu, extasiada com a sua prodigalidade. Quatro folhas! Era o suficiente para um códex inteiro!
Enquanto Geraldo pagava a sua mercadoria, a atenção de Joana recaiu sobre umas folhas de pergaminho que pareciam rasgadas e colocadas desalinhadamente no fundo da barraca. As pontas das folhas estavam rasgadas e escritas, manchadas e obliteradas nalguns sítios por horríveis manchas castanhas. Ela aproximou-se para poder ler melhor e corou de excitação.
Vendo o seu interesse, o mercador aproximou-se.
- Tão jovem e já tem tanto jeito para o negócio - disse ele untuosamente. - As folhas são velhas, como vedes, mas ainda servem bem. Vede!
Antes de ela poder dizer fosse o que fosse, ele pegou num objecto comprido e achatado e raspou a página com ele, apagando várias letras.
- Parai! - Joana falou asperamente, lembrando-se de um outro pedaço de pergaminho e de uma outra faca. - Parai!
O vendedor olhou para ela com curiosidade.
- Não vos afligeis, menina, é apenas um escrito pagão - e apontou orgulhosamente para a página. - Estais a ver? Bela e limpa, pronta para poder ser escrita!
Levantou o instrumento para voltar a mostrar a habilidade, mas Joana agarrou-lhe a mão.
- Dou-vos um denário por ele - disse ela com firmeza.
O homem fingiu sentir-se insultado.
- Eles valem três denários, pelo menos.
Joana tirou a moeda do bolso e estendeu-lha.
- Um - repetiu ela. - É tudo o que tenho.
O vendedor hesitou, olhando para ela pensativamente.
- Muito bem - disse ele, de mau humor -, levai-os.
Joana deu-lhe a moeda e pegou no precioso pergaminho, antes que ele mudasse de ideias. Correu ao encontro de Geraldo.
- Olha! - disse ela, excitada.
Geraldo olhou para as páginas.
- Não percebo as letras.
- Está escrito em grego - explicou Joana - e é muito antigo. Um tratado de engenharia, penso eu. Estás a ver os diagramas?
Apontou para uma das páginas e Geraldo observou os desenhos.
- Uma espécie de mecanismo hidráulico - o seu interesse era o de uma criança. - Fascinante. És capaz de traduzir o texto?
- Sou.
- Então, talvez eu seja capaz de o construir.
Sorriram um para o outro, dando início a uma nova conspiração.
- Pai!
A voz de Gisla atravessou o ruído da multidão. Geraldo virou-se, à procura dela. Ele era mais alto do que todos os outros; ao sol, o seu espesso cabelo vermelho brilhava como ouro. O coração de Joana saltou-lhe no peito ao olhar para ele. És a minha pérola, tinha dito ele. Agarrou os pergaminhos com força, observando-o, apreciando aquele momento.
- Pai! Joana! - Gisla apareceu finalmente, furando pelo meio da multidão, seguida de um dos criados da casa, com os braços carregados de compras.
- Andei à tua procura por todo o lado! - protestou ela suavemente. - O que tens aí?
Joana começou a explicar, mas Gisla sorriu com um gesto de impaciência.
- Oh, mais um dos teus tolos livros velhos. Olha o que eu descobri - disse ela. Desdobrou um pedaço de tecido colorido. - Para o meu vestido de casamento. Não é perfeito?
O tecido brilhava enquanto Gisla o segurava. Examinando-o mais de perto, Joana viu que era bordado com esplêndidos fios de ouro e de prata.
- É espantoso. - disse ela com sinceridade.
Gisla riu-se.
- Eu sei! - sem esperar pela resposta, pegou em Joana pelo braço e dirigiu-se para uma barraca um pouco mais adiante. - Oh, olha - disse ela - um leilão de escravos! Vamos ver!
- Não.
Joana recuou. Tinha visto os mercadores de escravos passarem por Ingelheim, com a sua carga humana atada com cordas grossas. Muitos deles eram saxónios, como a sua mãe.
- Não - voltou ela a dizer e não se mexeu.
- És uma tola! - Gisla puxava Joana, brincalhona. - Não passam de pagãos. Não têm sentimentos, pelo menos, não como nós.
- O que estará aqui? - disse Joana, ansiosa por distraí-la.
Levou Gisla para uma pequena barraca, no fim da fila. Era escura e estava fechada. Luke deu uma volta pelas suas paredes, cheirando-as com curiosidade.
- Que estranho - disse Gisla.
Numa tarde de sol, com o negócio em efervescência por todo lado, aquela barraca escura e silenciosa era uma coisa estranha. Curiosa, Joana bateu gentilmente na porta fechada.
- Entrai - disse uma voz rouca vinda do interior.
Gisla deu um salto, mas não recuou. As duas meninas deram a volta à barraca e puxaram cautelosamente a porta em madeira prensada, que rangeu ao abrir para trás. Uma torrente de sol infiltrou-se na escuridão.
Entraram. Havia um cheiro estranho na barraca, enjoativo e doce, como mel fermentado. No centro da barraca, uma pequena figura - uma velha, vestida apenas com uma túnica solta e escura - estava sentada de pernas cruzadas. Parecia inacreditavelmente idosa, talvez tivesse mais de setenta invernos; quase não tinha cabelo, apenas uns pequenos fios brancos e finos no alto da cabeça, que tremia constantemente, como se ela sofresse de sezões. Mas, os seus olhos penetravam na escuridão, alerta, concentrando-se intensamente em Joana e Gisla.
- Lindas pombinhas - crocitou ela - tão belas e tão jovens. O que quereis da Velha Baltilda?
- Só queríamos... - Joana hesitou, procurando em vão uma explicação. O olhar da mulher era perturbador.
- Ver o que se vende aqui - disse Gisla.
- O que há para vender? O que há para vender? - cacarejou a velha. - Uma coisa que quereis, mas que nunca possuireis.
- O quê? - perguntou Gisla.
- Uma coisa que já é vossa, apesar de ainda não a terdes - a mulher riu-se para elas com uma boca desdentada. - Uma coisa que não tem preço e que, no entanto, pode ser comprada.
- O que é? - perguntou Gisla, impaciente com os enigmas da velha.
- O futuro. - Os olhos da velha brilharam na escuridão. - O vosso futuro, minha pombinha. Tudo o que será e ainda não é.
- Oh, tu és uma cartomante! - Gisla bateu palmas, satisfeita por ter desvendado o mistério. - Quanto queres?
- Um soldo.
Um soldo! Era o preço de uma boa vaca leiteira ou de um par de bons carneiros!
- É muito caro.
Gisla estava agora nas suas sete quintas, confiante e segura de si, como um cliente arguto a tentar fazer negócio.
- Um obole - ofereceu ela.
- Cinco denários - contrapôs a velha.
- Dois. Um por cada uma.
Gisla tirou as moedas do bolso e mostrou-as à mulher.
A velha hesitou, depois, pegou nas moedas, e fez sinal às raparigas para que elas se sentassem no chão perto dela. Elas sentaram-se; a mulher tomou a mão forte e jovem de Joana nas suas mãos trementes e examinou-a com um ar estranho. Ficou calada durante muito tempo; depois, começou a falar:
- Bela quimera, sois o que não sereis; o que sereis não é o que sois.
Isto não fazia muito sentido, a não ser que quisesse dizer apenas que ela seria em breve uma mulher adulta. Mas, então, porque lhe tinha a velha chamado bela quimera?
Baltilda continuou:
- Aspirais àquilo que é proibido.
Joana ficou surpreendida e a velha apertou-lhe mais a mão.
- Sim, bela quimera, vejo o desejo secreto do vosso coração. Não sofrereis desilusão. Sereis grande, maior do que sonhais e sofrereis mais do que imaginais.
Baltilda largou a mão de Joana e virou-se para Gisla, que piscou o olho a Joana, como quem diz não foi engraçado?
A velha pegou nas mãos de Gisla com as suas unhas curvas e compridas em torno das unhas macias e rosadas de Gisla.
- Casar-vos-eis em breve e casareis bem - disse ela.
- Sim! - Gisla riu-se. - Mas, velha senhora, não vos paguei para me dizerdes o que eu já sei. A união será feliz?
- Não mais do que a maior parte delas, mas também não menos - disse Baltilda.
Gisla levantou os olhos ao tecto num desespero trocista.
- Sereis esposa, mas nunca mãe - grasnou Baltilda, balançando ao ritmo das palavras, com uma voz cantada, melódica.
O sorriso de Gisla desvaneceu-se.
- Então, serei estéril?
- O vosso futuro é sombrio e vazio. - A voz de Baltilda subiu de tom, tornando-se um lamento. - Conhecereis a dor, a confusão e o medo.
Gisla ficou petrificada como um pardal hipnotizado pelo olhar de uma cobra.
- Basta!
Joana tirou a mão de Gisla das mãos da velha.
- Vem comigo - disse ela.
Gisla obedeceu como uma criança.
Fora da barraca, Gisla começou a chorar.
- Não sejas tola - consolou-a Joana - a velha era louca, não lhe ligues. Não existe ponta de verdade nestas cartomâncias.
Gisla estava inconsolável. Fartou-se de chorar; por fim, Joana levou-a às barracas de guloseimas, onde compraram figos açucarados e se empanturraram, até Gisla se sentir um pouco melhor.
Nessa noite, quando contaram a Geraldo o que se tinha passado, ele ficou furioso.
- Agora temos feitiçaria? Joana e Gisla, amanhã vão levar-me a essa barraca. Tenho umas coisas a dizer a uma velha que mete medo a jovens. Entretanto, Gisla, não ligues a um disparate desses. Porque tiveste a ideia de procurar um conselho desses?
E disse à Joana, em tom de desaprovação:
- Esperava que, pelo menos tu, tivesses outro comportamento.
Joana aceitou a censura. Mesmo assim, uma parte dela queria acreditar nos poderes de Baltilda. A velha não tinha dito que ela realizaria um desejo secreto? Se tinha razão, então Joana alcançaria grandeza, apesar de não passar de uma rapariga, apesar daquilo que toda a gente considerava ser possível.
Mas, se Baltilda tinha razão quanto ao futuro de Joana, então, também tinha razão quanto ao de Gisla.
Quando voltaram à barraca com Geraldo, no dia seguinte, ela estava vazia. Ninguém lhes soube dizer para onde a velha tinha ido.
Em Winnemanoth, Gisla casou-se com o conde Hugo. Tinha sido um pouco difícil encontrar uma data adequada para a consumação imediata do casamento. A Igreja proibia relações maritais aos domingos, às quartas e sextas-feiras, assim como nos quarenta dias que antecediam a Páscoa, nos oito dias a seguir ao Pentecostes e nos cinco dias anteriores a tomar a comunhão ou na véspera de grandes festas ou dias de guarda. Ao todo, era proibido ter relações sexuais cerca de duzentos e vinte dias do ano; considerando estes dias, assim como as regras mensais de Gisla, não havia muitos dias por onde escolher. Mas, acabaram por marcar o casamento para o décimo quarto dia do mês, uma data que agradou a todos, menos à Gisla, que estava ansiosa pelas festividades.
Por fim, chegou o grande dia. Toda a casa se levantou antes da aurora, para servir Gisla. Primeiro, ajudaram-na a vestir a túnica interior de mangas compridas, em linho amarelo. Por cima desta, vestiram-lhe uma túnica nova resplandecente, feita do pano enfeitado a fios de prata e ouro que tinham comprado na feira de São Dinis. Caía-lhe dos ombros até ao chão em pregas graciosas, que rematavam nas mangas largas, a partir dos cotovelos. Ataram-lhe às ancas uma cintura pesada, enfeitada com pedras da sorte - ágatas para a guardar da febre, giz para a defender do mau-olhado, calcedónias para a fertilidade, jaspe para um bom parto. Por fim, cobriram-lhe a cabeça com um véu fino em seda. Cobria-a até ao chão, tapando-lhe os ombros e ocultando completamente o seu cabelo castanho-avermelhado. Com o seu vestido de noiva, mal podendo mexer-se ou sequer sentar-se, com medo de o amarrotar, parecia um pássaro exótico, pensou Joana, caçado, preparado e pronto para ser trinchado.
A mim, nunca tal me acontecerá, jurou Joana. Ela não queria casar, apesar de, dali a sete meses, ir fazer quinze anos, uma idade mais do que casadoira. Dali a três anos, era uma velha.
Ela não compreendia por que motivo as raparigas da sua idade tinham tanta pressa em casar porque o casamento mergulhava a mulher imediatamente num estado de servidão permanente. O marido tinha um controlo absoluto sobre os bens e propriedades da sua esposa, sobre os seus filhos e até sobre a sua vida.
Depois de ter suportado a tirania do pai, Joana tinha decidido que nunca voltaria a dar a ninguém um tal poder sobre ela.
Gisla, uma criatura simples, foi para o casamento cheia de entusiasmo, corada e a rir nervosamente. O conde Hugo, magnífico na sua capa debruada a arminho, esperava-a no pórtico da catedral. Ela aceitou a sua mão e ficou orgulhosamente de pé, enquanto Wido, o intendente de Villaris, enumerava publicamente as terras, servos, animais e bens que Gisla trazia como dote. Depois, a comitiva entrou na catedral, onde Fulgêncio esperava diante do altar para dizer a missa solene do casamento.
- Quod Deus conjunxit homo non separet.
As palavras em latim saíam titubeantes da boca de Fulgêncio. Ele tinha sido militar antes de herdar o episcopado. Tinha começado a estudar muito tarde, pelo que nunca conseguiu dominar as formas latinas.
- In nomine Patria et Filia...
Joana sorriu quando Fulgêncio deu a bênção, confundindo as declinações, de maneira que, em vez de dizer em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, disse Em nome da Pátria e da Filha.
Ao terminar a bênção, Fulgêncio, visivelmente aliviado, começou a falar tudesco.
- Que esta mulher seja amável como Raquel, fiel como Sara, fértil como Lia - pousou delicadamente a mão sobre a cabeça de Gisla. - Que ela dê à luz muitos filhos varões para honrar a casa do seu esposo.
Joana viu os ombros de Gisla tremerem e apercebeu-se de que ela estava a controlar o riso.
- Que ela imite o comportamento de um cão, com o coração e os olhos sempre no seu senhor; mesmo que o dono lhe bata e o apedreje, o cão segue-o, abanando a cauda.
Isto pareceu de mais a Joana, mas Fulgêncio olhava para Gisla com uma expressão bondosa e afectiva, pelo que era óbvio que não a queria ofender.
- Por isso - continuou ele - uma mulher deve ter um amor perfeito e indestrutível pelo seu marido.
Voltou-se para o conde Hugo.
- Que este homem seja valente como David, sábio como Salomão, forte como Sansão. Que as suas propriedades aumentem tanto quanto a sua fortuna. Que ele seja um senhor justo para a sua senhora, nunca lhe administrando mais castigos do que aqueles que ela merece. Que viva para ver os seus filhos varões honrarem o seu nome.
Começaram a trocar os votos. O conde Hugo prometeu primeiro, depois colocou um anel de turquesa bizantina no dedo anelar de Gisla, no qual se encontra a veia que vai para o coração.
Depois, foi a vez de Gisla. Joana ouvia Gisla recitar os seus votos de casamento. O seu tom de voz era sonoro e feliz, sem que pela sua mente passasse qualquer dúvida, parecendo que o futuro estava assegurado.
O que me reserva o futuro?, pensou Joana.
Não podia continuar na escola para sempre - quanto muito, poderia ficar mais três anos. Começou a sonhar acordada, imaginando-se a ensinar numa das grandes escolas das catedrais, em Reims, talvez, ou mesmo na Escola Palatina, passando os dias a explorar a sabedoria dos antigos com mentes tão ansiosas e curiosas como a sua. Sonhar acordada era sempre agradável.
Mas - a ideia atingiu-a como uma seta - isso significaria ter de deixar Villaris. Deixar Geraldo.
Ela sabia que teria de deixar Villaris um dia. Mas, nos últimos meses, tinha afastado esse pensamento, contentando-se em viver o presente, em gozar quotidianamente da companhia de Geraldo.
Olhou para ele. Tinha um perfil sólido e bem talhado, alto e forte; o seu cabelo ruivo caía em caracóis até aos ombros.
O homem mais belo que eu já vi, pensou ela, não pela primeira vez.
Como se lesse o seu pensamento, ele virou-se na sua direcção. Os seus olhares cruzaram-se. Algo na sua expressão - uma doçura, uma ternura momentânea - a perturbou. Antes que ela tivesse sequer a certeza de que tinha acontecido, o olhar já tinha desaparecido, mas a sua ternura permaneceu.
Não tenho motivo para me preocupar, pensou ela. Não é preciso decidir nada agora.
Três anos era muito tempo.
Podia acontecer muita coisa em três anos.
Na semana seguinte, Joana encontrou Geraldo à sua espera no pórtico, quando ela voltou da escola.
- Vem comigo.
O seu tom de voz indicava que ele tinha uma surpresa para ela. Aproximou-se dela e dirigiu-se para o portão exterior.
Depois de passarem pelo portão em madeira, seguiram pela estrada ao longo de várias milhas, depois viraram subitamente na direcção da floresta e mergulharam nela, emergindo pouco depois numa pequena clareira, no meio da qual se encontrava uma cabana. Como estava desabitada, estava em ruínas. Mas, em tempos, devia ter sido o refúgio de um homem livre porque as paredes de adobe ainda pareciam firmes e a porta era em madeira sólida. Lembrou a Joana a sua casa de Ingelheim, apesar de esta cabana ser muito mais pequena e de o seu tecto estar podre.
Pararam diante dela.
- Espera aqui. - disse Geraldo.
Joana olhou com curiosidade, enquanto ele deu uma volta ao edifício, regressando depois e ficando ao lado dela, de frente para a porta.
- Olha - disse Geraldo com uma solenidade fingida.
Levantando as mãos acima da cabeça, bateu sonoramente as palmas três vezes.
Não aconteceu nada. Joana olhou interrogativamente para Geraldo, que fixava a cabana, na expectativa. Era evidente que seria suposto acontecer alguma coisa. Mas, o quê?
A porta em madeira começou a abrir-se lentamente, rangendo primeiro, devagar, depois mais depressa, mostrando o interior escuro da cabana. A Joana espreitou para dentro da cabana. Não havia lá ninguém. A porta tinha-se mexido sozinha.
Espantada, a Joana olhou para a porta. Passaram dúzias de perguntas pela sua mente, mas, só conseguiu formular uma:
- Como?
Geraldo ergueu os olhos para o céu numa piedade simulada.
- Milagre.
Joana bufou.
Ele riu-se.
- Então, feitiçaria.
Olhou para ela desafiadoramente, gozando a brincadeira.
Joana aceitou o desafio. Dirigiu-se para a porta e examinou-a.
- És capaz de a fechar? - perguntou ela.
Geraldo voltou a erguer as mãos. Bateu as palmas três vezes.
Depois de uma pausa, a porta rangeu e começou a fechar-se.
Joana acompanhou-a enquanto ela se fechava, estudando-a. As pesadas ombreiras em madeira eram macias e estavam bem feitas - não havia sinal de nada fora do comum. Também não havia nada de estranho no puxador em madeira. Examinou as dobradiças. Eram em ferro comum. Era desesperante. Não conseguia perceber o que fazia mover a porta.
A porta já se tinha fechado quase completamente. Era um mistério.
- Então?
Os olhos anil de Geraldo brilhavam de divertimento.
Joana hesitou, contrariada por perder o jogo.
Quando estava prestes a admitir a derrota, ouviu qualquer coisa, o som de um fio a roçar vindo de algures por cima da cabeça dela.
Primeiro, não conseguiu localizá-lo; o barulho era familiar e estranho, ao mesmo tempo.
Depois, reconheceu-o. Água. O som de água a correr.
Disse, excitada:
- O mecanismo hidráulico! O do manuscrito da feira de São Dinis! Construíste-o!
Geraldo riu-se.
- Adaptei-o. Porque foi desenhado para puxar água, não para abrir e fechar portas!
- Como funciona?
Geraldo mostrou-lhe o mecanismo, escondido mesmo por cima do telhado da cabana, a dez passos da porta, motivo pelo qual ela não o tinha visto. Mostrou-lhe como funcionava o complicado sistema de alavancas, roldanas e contrapesos, ligados a duas correntes em ferro presas ao interior da porta, quase invisíveis. Geraldo tinha activado o sistema puxando uma corda, quando tinha dado a volta à cabana.
- Espantoso! - disse ela, quando ele acabou de explicar. - Faz outra vez.
Agora que ela tinha percebido como o engenho funcionava, queria vê-lo a trabalhar.
- Não posso. Teria de ir buscar mais água.
- Então, vamos buscá-la - disse ela. - Onde estão os cântaros?
Geraldo riu-se.
- És incorrigível!
Apertou-a num abraço afectuoso. O seu peito era rijo e firme, os seus braços fortes apertavam-na. Joana sentiu-se a derreter por dentro.
Ele soltou-a abruptamente.
- Vamos, então - disse ele bruscamente. - Os cântaros estão ali.
Levaram os cântaros vazios para o ribeiro, a um quarto de milha dali, encheram-nos e trouxeram-nos de volta, encheram o recipiente, depois voltaram para ir buscar mais. Fizeram o mesmo percurso três vezes e, à terceira vez, começaram a sentir-se um pouco tontos. O sol estava quente, o ar cheio de promessas primaveris e as suas cabeças cheias de excitação por causa do seu empreendimento e da alegria que sentiam na companhia um do outro.
- Geraldo, olha! - disse Joana, metendo-se na água fresca até aos joelhos.
Quando ele chegou ao pé dela, ela começou a atirar-lhe água do cântaro, molhando a parte da frente da sua túnica.
- Meu diabinho! - disse ele.
Ele encheu o seu cântaro e começou a molhá-la também.
Continuaram a molhar-se um ao outro, numa agitação de borrifos, até que Joana foi atingida por um chapão de água do cântaro de Geraldo, precisamente no momento em que se tinha inclinado para encher o dela. Desequilibrou-se, escorregou e caiu desamparada dentro de água. A água fria fechou-se por cima da cabeça dela e, por uns momentos, ela entrou em pânico, sem conseguir pôr-se em pé sobre os seixos escorregadios do leito do rio.
Então, os braços de Geraldo puxaram-na e levantaram-na.
- Já te agarrei, Joana, já te agarrei.
A sua voz, perto do ouvido dela, era quente e reconfortante.
Joana sentiu que o seu corpo tremia todo àquela cadência.
Agarrou-se a ele. As suas roupas molhadas colaram-se umas às outras, moldando os seus corpos unidos numa inequívoca intimidade.
- Amo-te - disse ela, simplesmente. - Amo-te.
- Oh, minha querida, minha menina perfeita - murmurou Geraldo a custo, e os seus lábios colaram-se aos dela e ela beijou-o, numa paixão alimentada pela súbita expressão de emoções controladas durante tanto tempo.
O ar parecia murmurar ao ouvido de Joana. Geraldo, cantava ele. Geraldo.
Nenhum deles sabia que, por trás da copa das árvores, no cimo da colina, alguém estava a observá-los.
Odo ia a caminho de Héristal para retribuir uma visita ao seu tio, um dos santos irmãos daquela abadia, quando a sua mula se tinha desviado do caminho, atrás de um monte de erva que lhe pareceu especialmente suculento. Ele amaldiçoou a mula, puxou pelas rédeas e deu-lhe vergastadas, mas ela era teimosa e ele não a conseguiu dissuadir. Não tinha outro remédio senão deixar a estrada e seguir aquela estúpida besta.
Foi então que, ao baixar os olhos, na direcção do rio, viu.
Uma mulher instruída nunca é casta. Palavras de São Paulo ou seriam de Jerónimo? Não interessava. Odo sempre tinha acreditado nelas e agora tinha a prova diante dos seus olhos!
Odo deu uma pancadinha no flanco da mula. Hoje à noite, vais ter ração reforçada, pensou ele. Depois, reconsiderou. A comida era cara e, além disso, o animal só tinha sido um instrumento de Deus.
Odo apressou-se a regressar à estrada. A sua visita tinha de esperar. Primeiro, tinha de ir a Villaris.
Pouco depois, já se avistavam as torres de Villaris.
Excitado como estava, tinha caminhado mais depressa do que era costume. Passou pelo portão e foi saudado por um guarda.
Odo retribuiu o cumprimento:
- Levai-me à senhora Richild - ordenou ele. - Tenho de falar com ela imediatamente.
Geraldo retirou os braços de Joana do seu pescoço e afastou-se.
- Anda - disse ele, com a voz embargada pela emoção. - Temos de regressar.
Estonteada pelo amor, Joana dirigiu-se a ele, para o abraçar novamente.
- Não - disse Geraldo com firmeza. - Tenho de te levar para casa, enquanto ainda sou capaz.
Joana olhou para ele, confusa.
- Não... me desejas?
Baixou a cabeça antes de ele responder.
Geraldo levantou-lhe o queixo suavemente, obrigando-a a olhar para ele.
- Desejo-te mais do que alguma vez desejei uma mulher.
- Então, porquê...?
- Pelo amor de Deus, Joana! Eu sou um homem e tenho desejos de homem. Não me tentes para além dos meus limites!
Geraldo parecia quase zangado. Vendo que ela ia começar a chorar, suavizou o tom da sua voz.
- O que queres que eu faça, meu amor? Que te faça minha amante? Ah, Joana, eu tomava-te já aqui se pensasse que isso te ia fazer feliz. Mas, ditaria a tua ruína, não vês?
Os olhos anil de Geraldo retinham os dela numa ordem. Era tão belo que lhe cortava a respiração. Tudo o que ela queria era que ele voltasse a tomá-la nos seus braços. Ele acariciou o seu cabelo dourado. Ela queria falar, mas a sua voz sumiu-se. Respirou fundo, tentando controlar as suas emoções, cheia de vergonha e de frustração.
- Anda.
Geraldo pegou na mão de Joana, escondendo-a na sua, ternamente. Ela não protestou quando ele a levou de volta ao caminho. Sem dizerem palavra, de mãos dadas, regressaram a Villaris, percorrendo as milhas que os separavam de casa.
- Senhora Richild, condessa de Villaris - anunciou o arauto, quando Richild entrou soberanamente na sala de audiências do bispo.
- Eminência. - fez uma vénia graciosa.
- Senhora, sede bem-vinda - disse Fulgêncio. - Que novas me trazeis do vosso senhor? Queira Deus que não lhe tenha acontecido nenhum infortúnio durante a sua viagem?
- Não, não.
Agradou-lhe encontrá-lo tão transparente. Claro que ele devia estar curioso acerca do motivo da sua visita! Devia ter pensado que, como o Geraldo já tinha partido havia cinco dias, já podia ter encontrado algum infortúnio em estradas perigosas.
- Não recebemos nenhuma má notícia, Eminência, nem esperamos ouvir. Geraldo levou vinte homens com ele, bem armados e bem guarnecidos; ele não iria correr riscos pelo caminho, para mais, indo em missão imperial.
- Já ouvimos dizer. Foi como missus... à Westphalia, não foi?
- Sim. Para resolver uma disputa por casa de wergeld. Também havia algumas questões de propriedade para serem resolvidas. Estará ausente mais um dia ou dois.
O tempo de que preciso, pensou ela, precisamente o tempo de que preciso.
Falaram um pouco de assuntos locais - a falta de cereais no moinho, a reparação do telhado da catedral, da quantidade de bezerros nascidos. Richild tinha o cuidado de observar as cortesias necessárias e nada mais. Sou rebento de melhor cepa do que ele. Era bom recordar-lho, antes de entrar no assunto da sua visita. Era óbvio que ele não suspeitava de nada. Ainda bem; a surpresa seria a sua aliada nesta empreitada.
Por fim, ela achou que tinha chegado o momento.
- Vim pedir-vos ajuda para uma questão doméstica.
Ele pareceu lisonjeado.
- Querida senhora, terei muito gosto em ajudar. Qual a natureza da vossa dificuldade?
- É a Joana. Já não é uma criança; ela... - Richild escolheu as palavras cuidadosamente - atingiu agora a idade adulta. Já não é próprio continuar a viver em nossa casa.
- Compreendo - disse Fulgêncio, apesar de não parecer. Bem, penso que poderemos arranjar outra resid...
- Arranjei um casamento vantajoso - interrompeu Richild. Com o filho de Bodo, o ferrador. É um bom rapaz, abastado, e será ferreiro quando o pai morrer - ele não tem mais filhos.
- Isso apanha-me de surpresa. A rapariga expressou alguma inclinação para o casamento?
- Certamente não é a ela que compete decidir. É um casamento muito melhor do que ela teria direito de esperar. A sua família é pobre como os coloni e os seus modos estranhos deram-lhe alguma... reputação.
- Talvez - respondeu o bispo amavelmente. - Mas ela parece dedicada aos estudos. E é evidente que não poderia continuar a ir à escola se casasse com o filho do ferreiro.
- Foi por isso que vim. Como fostes vós que decidistes chamá-la para a escola, tereis de ser vós a dar autorização para que ela seja dispensada.
- Compreendo - voltou ele a dizer, apesar de continuar a parecer que não estava a compreender. - E o que pensa o conde acerca do casamento?
- Ele ainda não sabe. Esta oportunidade surgiu agora.
- Bem, então - Fulgêncio parecia aliviado. - Esperaremos que ele regresse. Certamente, não há necessidade de nos precipitarmos.
Richild insistiu:
- Pode perder-se esta oportunidade. O rapaz está renitente - parece que se apaixonou por uma das raparigas da cidade - mas, claro que eu tratarei de fazer com que o casamento constitua um benefício para ele. O seu pai e eu já chegámos a um acordo quanto ao dote. Agora, o rapaz diz que cumprirá a vontade do pai - mas, ele é jovem e de disposição instável. É melhor que o casamento seja já.
- Mesmo assim...
- Recordo-vos, Eminência, que sou a senhora de Villaris e que a rapariga foi colocada sob a minha tutela. Sou perfeitamente capaz de tomar uma decisão na ausência do meu esposo. De facto, estou em melhor posição para o fazer.
Para dizer a verdade, a preferência que Geraldo tem pela rapariga tolda o seu juízo quando se trata de assuntos relacionados com ela.
- Compreendo - disse Fulgêncio e, desta vez, compreendeu-o bem de mais.
Richild apressou-se a dizer:
- A minha preocupação é estritamente monetária, como compreendeis. Geraldo gastou uma pequena fortuna a comprar livros para a rapariga - uma despesa inútil, uma vez que ela não tem futuro como intelectual. Alguém tem de olhar pelo futuro dela; ora, foi isso que eu fiz. Tendes de concordar que o casamento é bom.
- Sim - admitiu Fulgêncio.
- Bem. Então, concordais em a dispensar?
- As minhas desculpas, querida senhora, mas a minha decisão tem de esperar pelo regresso do conde. Asseguro-vos que discutirei a questão com ele. E com a rapariga. Pois, apesar de o casamento ser... vantajoso, como dizeis, não quero comprometê-la com ele contra a sua vontade. Se o casamento se revelar agradável a todos, procederemos imediatamente.
Ela começou a falar, mas ele interrompeu-a:
- Sei que pensais que o casamento poderá ficar comprometido se não for consumado imediatamente. Mas, perdoai-me, senhora, eu não posso concordar. Um dia, ou mesmo um mês, fazem pouca diferença.
Ela voltou a tentar protestar, mas ele voltou a interrompê-la.
- Estou decidido. Não vale a pena prosseguir esta conversa.
As suas faces arderam com o insulto. Louco presunçoso! Quem pensa ele que é para me dar ordens? A minha família frequentava os palácios reais enquanto a sua ainda trabalhava no campo!
Ela olhou-o sem pestanejar.
- Muito bem, Eminência, se é essa a vossa decisão, eu tenho de a aceitar.
Começou a calçar as suas luvas de montar, como se estivesse a preparar-se para sair.
- A propósito - o seu tom era deliberadamente casual - acabei de receber uma carta do meu primo, Sigismundo, bispo de Troyes.
O rosto do bispo mostrou um respeito lisonjeador.
- Um grande homem, um grande homem.
- Sabeis que ele presidirá ao sínodo que irá reunir-se em Aachen neste Verão?
- Já ouvi dizer.
Agora que ela tinha deixado de o pressionar, ele voltou à sua atitude jovialmente descontraída.
- É possível que também tenhais ouvido dizer qual será o tema principal da discussão nessa reunião?
- Gostaria de saber - respondeu ele delicadamente, sem se aperceber aonde ela queria chegar.
- Certas... irregularidades - ela lançou a armadilha com cuidado - na conduta do episcopado.
- Irregularidades?
Ele não percebeu o que ela queria dizer. Ela tinha de ser mais directa.
- O meu primo pensa levantar a questão dos votos episcopais, especialmente - e olhou-o directamente nos olhos - do voto de castidade.
Ele empalideceu.
- Ah sim?
- Parece que ele tenciona fazer disso um dos grandes temas do sínodo. Reuniu provas acerca dos episcopados francos, que ele considera muito perturbantes. Mas, ele não conhece tão bem os episcopados nesta parte do império, portanto, tem de confiar em testemunhas locais. Nesta carta, ele pede-me expressamente que partilhe com ele alguma informação que eu possa ter sobre o vosso episcopado, Eminência.
Ela utilizou o título com desprezo evidente e ficou contente ao vê-lo tremer.
- Tencionava responder-lhe agora - continuou ela, suavemente - mas, os pormenores do enxoval da rapariga têm-me mantido muito ocupada. Aliás, os planos para a festa de casamento tornar-me-iam impossível responder-lhe. Claro que, agora, que o casamento vai ser adiado...
Deixou o raciocínio em suspenso.
Ele ficou como uma pedra, calado, prudente. Ela ficou um pouco surpreendida. Ele era mais esperto do que ela pensava.
Houve apenas uma coisa que o traiu. No fundo dos seus olhos sonolentos e papudos, havia uma centelhazinha inegável de medo.
Richild sorriu.
Joana estava sentada numa pedra, preocupada e triste. Luke, deitado à sua frente, colocou a cabeça no seu colo, olhando-a fixamente com os seus olhos opalescentes.
- Também tens saudades dele, não é? - disse ela, coçando gentilmente o pêlo do lobo branco.
Se não fosse o Luke, ela estava completamente sozinha.
Geraldo já tinha partido havia uma semana. Joana sentia a sua falta com uma dor quase física que a surpreendia. Podia colocar a mão sobre o local exacto do peito onde a dor era mais aguda; era como se o seu coração lhe tivesse sido retirado do peito, desfeito, e tivesse sido substituído.
Ela sabia por que motivo ele tinha partido. Depois do que se tinha passado entre eles junto ao rio, ele teve de partir.
Precisavam de estar um tempo afastados para arrumarem as ideias e deixarem arrefecer a paixão. Ela compreendia, mas o seu coração revoltava-se.
Porquê?, perguntava-se ela a si mesma milhares de vezes. Porque tem de ser assim? Richild não amava Geraldo, nem ele a amava.
Discutia consigo mesma, ensaiando os argumentos a favor desta situação, tentando convencer-se de que era melhor assim, mas acabava sempre por voltar àquele que era um facto inalterável: ela amava Geraldo.
Abanou a cabeça, furiosa consigo própria. Se Geraldo era suficientemente forte para fazer isto por ela, como poderia ela não o ser? O que não podia ser alterado tinha de ser suportado. Concentrou-se numa nova resolução: quando Geraldo voltasse, tudo seria diferente. Bastar-lhe-ia estar perto dele, falar e rir com ele, como tinham feito sempre... antes.
Seriam como mestre e pupilo, padre e freira, irmão e irmã. Ela apagaria da memória os seus braços em redor dela, os seus lábios nos dela...
Wido, o intendente, aproximou-se subitamente.
- A senhora quer falar contigo.
Joana seguiu-o, passando pelo portão, a caminho do pátio, com o Luke a correr ao seu lado. Quando chegaram ao corredor interior, Wido apontou para Luke:
- O lobo, não.
Richild não gostava de cães e proibiu que eles entrassem em casa, como nas outras mansões.
Joana ordenou a Luke que ele se deitasse e esperasse no pátio.
O guarda levou-a através do pórtico coberto, para o salão grande, cheio de servos que preparavam a refeição da tarde.
Prosseguiram a caminho do terraço, onde Richild esperava.
- Mandastes-me chamar, senhora?
- Senta-te.
Joana ia a sentar-se numa cadeira que estava ali, mas Richild mandou-a sentar num banco em madeira, junto a uma pequena escrivaninha. Joana sentou-se.
- Vais escrever uma carta.
Tal como todas as outras senhoras nobres nesta região do Império, Richild também não sabia ler nem escrever. Wala, o capelão de Villaris, normalmente, era o seu escriba. Wido também sabia escrever um pouco e, por vezes, servia Richild nesta tarefa.
Então, porque me terá ela mandado chamar a mim?, pensou Joana.
Richild bateu com o pé impacientemente. Com um ar entendido, Joana observou as penas que se encontravam sobre a mesa e escolheu a mais afiada. Pegou numa folha de pergaminho fresco, mergulhou a pena no tinteiro e acenou a Richild.
- De Richild, condessa, senhora de Villaris - ditou Richild.
Joana escreveu rapidamente. O som da pena a esgravatar ecoou no silêncio de morte da sala.
- Ao cónego de Ingelheim, saudações.
Joana levantou os olhos.
- Para o meu pai?
- Continua - ordenou Richild num tom que indicava que não toleraria perguntas. - A vossa filha, Joana, tendo atingido quase quinze anos de idade, estando, portanto, em idade casadoira, não será autorizada a prosseguir os seus estudos na escola.
Joana parou imediatamente de escrever.
- Como tutora da rapariga e zelando pelo seu bem-estar - continuou Richild, tencionando prosseguir o ditado - arranjei um casamento vantajoso com Iso, filho do ferreiro da cidade, um homem próspero. O casamento ocorrerá dentro de dois dias. Os termos do acordo são os seguintes...
Joana levantou-se de um salto, fazendo cair o banco.
- Porque fazeis isto?
- Porque assim o decidi - havia um sorrizinho malévolo nos lábios de Richild. - E porque posso fazê-lo.
Ela sabe, pensou Joana. Ela sabe de Geraldo e de mim. O sangue subiu-lhe ao rosto tão rapidamente que ela pensou que a sua pele ia arder.
- Sim, Geraldo contou-me tudo acerca do interludiozinho ridículo à beira-rio - Richild riu-se divertidamente. - Acreditaste mesmo que os teus beijos desajeitados lhe tinham agradado? Rimo-nos deles nessa mesma noite.
Joana estava demasiado chocada para responder.
- Estás surpreendida? Não devias estar. Pensaste que eras a primeira? Minha querida, és apenas a última conta no longo colar de conquistas de Geraldo. Não o devias ter levado tão a sério.
Como sabe ela o que se passou entre nós? O Geraldo contou-lhe? Joana sentiu de repente um frio como se tivesse sido exposta a uma corrente de ar.
- Não o conheceis - disse ela com firmeza.
- Sou a sua esposa, criança insolente.
- Não o amais.
- Não - admitiu ela. - Mas, também não tenciono ser... incomodada por uma insignificante filha de coloni!
Joana tentou organizar os seus pensamentos.
- Não podeis fazer isto sem a aprovação do bispo Fulgêncio. Foi ele que me trouxe para a escola; não me podeis tirar dela sem a sua autorização.
Richild deu-lhe para a mão uma folha de pergaminho com o selo de Fulgêncio.
Joana leu-a rapidamente, depois, voltou a lê-la mais devagar, para ter a certeza de não ter cometido um erro. Não havia dúvida: Fulgêncio tinha suspendido os seus estudos na escola. O documento tinha também a assinatura de Odo. Joana imaginava o prazer que lhe devia ter dado fazer aquela assinatura.
O coração de Richild rejubilava ao ver Joana a ler. A arrogante insignificanciazinha estava a descobrir como era insignificante. E disse:
- Não vale a pena continuar a discutir. Senta-te e acaba a carta para o teu pai.
Joana respondeu em tom de desafio:
- Geraldo não vos deixará fazer isto.
- Criança tola, foi ideia dele.
Joana pensou rapidamente.
- Se o casamento é ideia de Geraldo, porque haveis esperado a sua partida para o arranjar?
- Geraldo é demasiado... mole. Faltou-lhe a coragem para te dizer. Já o vi fazer o mesmo com outras. Pediu-me que eu resolvesse o problema. E foi o que eu fiz.
- Não acredito em vós - Joana recuou, lutando para reter as lágrimas. - Não acredito em vós.
Richild suspirou.
- O assunto está arrumado. Terminas a carta ou tenho de chamar Wala?
Joana rodopiou e saiu da sala. Antes de ter chegado ao salão, ouviu a campainha de Richild a tocar, chamando o seu capelão.
Luke estava à espera onde ela o tinha deixado. Joana caiu de joelhos ao lado dele. O seu corpo aconchegou-se ao dela afectuosamente, colocando a cabeça sobre os seus ombros. A sua presença reconfortante ajudou a acalmar a efervescência de emoções que Joana sentia.
Não posso entrar em pânico. É isso que ela quer.
Tinha de pensar, planear o que havia de fazer. Mas, o seu pensamento rodopiava e voltava sempre ao mesmo.
Geraldo.
Onde está ele?
Se ele estivesse aqui, Richild nunca teria podido fazer isto. A não ser que ela esteja a dizer a verdade e o casamento tenha sido mesmo ideia do Geraldo.
Joana afastou o pensamento de traição. Geraldo amava-a; nunca permitiria que ela casasse contra a sua vontade com um homem que nem sequer conhecia.
Talvez voltasse a tempo de o impedir. Talvez...
Não. Ela não podia deixar que o seu futuro estivesse dependente de um golpe da sorte. O pensamento de Joana, embotado pelo choque e o medo, continuava suficientemente lúcido para compreender isto.
Geraldo não deve voltar nas próximas duas semanas, o casamento ocorrerá daqui a dois dias.
Ela tinha de se livrar daquela situação. Não podia levar aquele casamento por diante.
O bispo Fulgêncio. Tenho de ir ter com ele, falar com ele, convencê-lo de que este casamento não pode acontecer.
Joana tinha a certeza que Fulgêncio não tinha assinado aquele documento de bom grado. Ele já tinha demonstrado que gostava de Joana, através de pequenas delicadezas, e que ficava satisfeito com o seu aproveitamento na escola - especialmente porque era um espinho no coração de Odo.
Richild deve ter algum poder sobre ele para ter conseguido que ele concordasse com isto.
Se a Joana falasse com ele, talvez o convencesse a desmarcar o casamento - ou, pelo menos, a adiá-lo, até que Geraldo regressasse.
Talvez ele não me receba. Por muito que tivesse sido forçado a aceitar o casamento, teria relutância - talvez até vergonha - em a receber agora. Se ela pedisse uma audiência, ser-lhe-ia negada, provavelmente.
Sufocou o medo, forçando-se a si mesma a pensar logicamente.
No domingo, Fulgêncio vai celebrar o pontifical. Entrará em procissão na catedral. Aproximar-me-ei dele e, se for preciso, arrojar-me-ei aos seus pés. Não me interessa. Ele há-de parar e ouvir-me-á; eu obrigá-lo-ei a fazê-lo.
Olhou para o Luke:
- Será que vai resultar, Luke? Será que bastará para me salvar?
Ele inclinou a cabeça, num tom interrogativo, como se estivesse a tentar compreender. Era um gesto que divertia sempre o Geraldo. Joana abraçou o lobo branco, enterrando a cara no pêlo alto do seu pescoço.
Os notários e os outros clérigos vinham à frente, numa procissão solene a caminho da catedral. Atrás deles, a cavalo, vinham os membros do clero, diáconos e subdiáconos, todos esplendorosos. Odo cavalgava entre eles, vestido com paramentos castanhos, com uma expressão altiva e desagradável.
Quando viu a Joana, junto ao grupo de pedintes e peticionários à espera do bispo, os seus lábios esboçaram um sorriso malévolo.
Por fim, apareceu o bispo, vestido de seda branca, montando um corcel magnífico ajaezado de carmesim. Imediatamente atrás, seguiam os altos dignitários do palácio episcopal: o tesoureiro, o camareiro-mor e o encarregado das esmolas. A procissão parou e os pedintes andrajosos formaram imediatamente um círculo à sua volta, pedindo esmolas em nome de Santo Estêvão, patrono dos indigentes. O responsável pelas esmolas distribuía esmolas entre eles.
Joana aproveitou para se aproximar do local onde o bispo esperava, com o cavalo a bater com os cascos no chão, impaciente.
Caiu de joelhos.
- Eminência, ouvi a minha súplica...
- Já sei do que se trata - disse o bispo sem olhar para ela - já tratei do assunto. Não vou ouvir esta peticionária.
Esporeou o cavalo, mas Joana levantou-se e agarrou-se às rédeas, fazendo-o parar.
- Este casamento será a minha ruína - ela falava depressa e baixinho para que ninguém ouvisse. - Se não podeis fazer nada para o impedir, pelo menos, podeis, pelo menos, adiá-lo por um mês?
Ele fez menção de prosseguir, mas Joana continuava a segurar as rédeas. Dois dos guardas precipitaram-se sobre ela e tê-la-iam tirado dali se o bispo não lhes tivesse feito um sinal com a mão.
- Um dia? - pediu Joana. - Peço-vos, Eminência, dai-me um dia!
Mortificada, porque tinha decidido mostrar-se forte, começou a soluçar.
Fulgêncio era um homem fraco, com muitos pecados, mas o seu coração não era duro. Os seus olhos encheram-se de simpatia, enquanto se baixava para acariciar o cabelo dourado de Joana.
- Minha filha, não te posso ajudar. Tens de te resignar ao teu destino que, afinal, é natural para uma mulher - debruçou-se e sussurrou. - Mandei tirar informações acerca do rapaz que será teu marido. É um homem simples; não terás dificuldade em suportar a tua sorte.
Fez sinal aos guardas, que retiraram as rédeas das mãos de Joana e a empurraram para o meio da multidão. Abriu-se uma ala para ela passar. Ao fazê-lo, tentando esconder as suas lágrimas, Joana ouviu os aldeões a rirem-se baixinho.
No meio da multidão, viu João. Foi ter com ele, mas ele virou-lhe as costas.
- Vai-te embora! - gritou ele. - Odeio-te!
- Porquê? O que fiz eu?
- Sabes muito bem o que fizeste!
- João, o que se passa? O que aconteceu?
- Tenho de deixar Dorstadt! - gritou ele. - Por tua causa!
- Não percebo.
- O Odo disse-me: tu não pertences aqui. - João imitou a entoação nasalada do mestre de escola. - Só te deixámos ficar por causa da tua irmã.
Joana estava chocada. Tinha estado tão envolvida no seu próprio dilema que não tinha pensado nas suas consequências para o João. Ele era um estudante fraco; eles só tinham ficado com ele por causa da sua forte ligação a ela.
- Este casamento não é uma escolha minha, João.
- Tu sempre estragaste a minha vida e, agora, estás a fazê-lo outra vez!
- Não ouviste o que eu acabei de dizer ao bispo?
- Não me interessa! É tudo culpa tua. É sempre tudo por tua culpa!
Joana estava atónita.
- Tu detestas estudar. Porque estás preocupado se te mandarem embora da escola?
- Tu não compreendes - ele olhou por cima do ombro dela. Nunca compreendes. Joana virou-se e viu os rapazes da escola a conversarem uns com os outros. Um deles, apontou para eles e segredou qualquer coisa aos outros, ao que todos começaram a rir-se.
Então, eles já sabem, pensou Joana. Claro. Odo não teve qualquer respeito pelos sentimentos de João. Olhou para o irmão, com pena. Devia ter sido difícil, quase insuportável, separar-se dos seus amigos por causa dela. Tinha-se juntado a eles contra ela, muitas vezes. Mas, Joana compreendia porquê. João nunca tinha querido senão ser aceite, ser acolhido.
- Vais ficar bem, João - disse ela, docemente. - Agora, és livre de voltar para casa.
- Livre? - João soltou uma gargalhada amarga. - Livre como um monge!
- O que queres dizer com isso?
- Tenho de ir para o mosteiro de Fulda! O pai mandou instruções ao bispo pouco depois de nós termos chegado. Se eu não conseguisse progredir na escola, tinha de ir para a irmandade de Fulda!
Então era esta a origem da fúria do João. Uma vez aceite na irmandade, não poderia sair. Nunca poderia ser um soldado, nem cavaleiro do exército imperial, como ele sonhava.
- Talvez ainda haja uma solução - disse Joana. - Podemos voltar a pedir ao bispo. Talvez se formos os dois a pedir-lhe, ele...
O seu irmão fulminou-a com o olhar, procurando palavras para exprimirem o que sentia.
- Quem... quem me dera que nunca tivesses nascido!
Virou-lhe as costas e fugiu.
Profundamente abatida, Joana regressou a Villaris.
Joana sentou-se perto da ribeira onde ela e Geraldo se tinham beijado algumas semanas antes. Parecia que tinha passado uma eternidade desde então. Olhou para o Sol; faltava apenas uma ou duas horas para a hora sexta. Por essa altura, no dia seguinte, ela estaria casada com o filho do ferreiro.
A não ser que...
Observou a linha de árvores que marcava o limite da mata. A floresta que rodeava Dorstad era tão densa e extensa que uma pessoa podia esconder-se nela dias ou semanas a fio, sem ser descoberta. Geraldo regressava dali a um ou dois dias. Será que ela conseguiria sobreviver até lá?
A floresta era perigosa; havia animais selvagens e auroques e... lobos. Ela lembrou-se da violência selvagem da mãe de Luke, quando se atirou contra as grades da jaula, com os dentes afiados brilhando ao luar.
Levo o Luke comigo, pensou ela. Ele proteger-me-á e ajudar-me-á a arranjar comida. O jovem lobo era já um lesto caçador de coelhos e de outras presas abundantes naquela época do ano.
O João, pensou ela. E o João? Ela não podia fugir sem lhe dizer.
Ele pode vir comigo! Claro! Era uma solução para os problemas dos dois. Ficavam juntos na floresta, à espera que Geraldo voltasse. Geraldo havia de tratar de tudo, não só no que lhe dizia respeito a ela, mas também ao seu irmão.
Tinha de falar com o João. Dizer-lhe para ele se encontrar com ela na floresta, naquela noite, para trazer o seu arco e a sua flecha e a sua besta.
Era um plano desesperado. Mas, ela estava desesperada.
Encontrou Dhuoda no quarto. Apesar de só ter dez anos, ela era uma rapariga alta, bem desenvolvida para a idade. A sua semelhança com a sua irmã Gisla era iniludível. Saudou Joana, excitada.
- Acabei de ouvir! Amanhã, é o dia do teu casamento!
- Não se eu o conseguir evitar - respondeu Joana rudemente.
Dhuoda ficou surpreendida. Gisla estava tão ansiosa, quando foi do seu casamento.
- Então, ele é feio! - a sua face brilhou com um horror infantil - É desdentado? Tem escrófula?
- Não. - Joana não conseguiu deixar de sorrir. - É jovem e normal, segundo me dizem.
- Então, porque...
- Não tenho tempo para te explicar, Dhuoda - disse Joana, apressadamente. - Vim pedir-te um favor. És capaz de guardar um segredo?
- Sim, claro! - Dhuoda aproximou-se dela, curiosa.
Joana tirou do bolso um pedaço de pergaminho enrolado.
- Esta carta é para o meu irmão, João. Leva-Lho à escola. Eu podia lá ir, mas estão à minha espera no terraço para provar uma túnica nova para o casamento. És capaz de fazer isso por mim?
Dhuoda ficou a olhar para o pedaço de pergaminho. Tal como a sua mãe e a sua irmã, também ela não sabia ler nem escrever.
- O que diz aqui?
- Não te posso dizer, Dhuoda. Mas é importante, muito importante.
- Uma mensagem secreta! - o seu rosto corou de excitação.
- A escola fica só a duas milhas daqui. Podes ir e vir numa hora, se te despachares.
Dhuoda pegou no pergaminho.
- Volto em menos tempo do que isso!
Dhuoda passou a correr pelo pátio principal, procurando evitar os criados e valetes que enchiam o local àquela hora do dia. A ideia da aventura espevitou-a. Sentia o frio macio do pergaminho na mão e teve pena de não poder ler o que ali estava escrito. A sabedoria de Joana enchia-a de admiração.
Esta aventura misteriosa era uma mudança bem-vinda na monotonia do seu quotidiano em Villaris. Além disso, estava contente de poder ajudar a Joana. Joana era sempre simpática com ela; explicava-lhe todo o tipo de coisas interessantes - ao contrário da mamã, que perdia a paciência e se zangava com tanta facilidade.
Estava quase no portão de saída, quando ouviu um grito.
- Dhuoda!
A voz da mamã. Dhuoda continuou, como se não tivesse ouvido, mas, quando ia a passar pelo portão, o porteiro agarrou-a e obrigou-a a esperar.
Ela virou-se para a mãe.
- Dhuoda! Onde vais?
- A parte nenhuma.
Dhuoda escondeu o pergaminho atrás das costas. Richild apercebeu-se do movimento rápido e desconfiou.
- O que é isso?
- N-nada - titubeou Dhuoda.
- Dá-me isso.
Richild estendeu a mão imperativamente.
Dhuoda hesitou. Se desse à mãe o pergaminho, trairia o segredo que Joana lhe tinha confiado. Se desobedecesse...
A mãe olhou para ela, com os olhos exprimindo ira. Ao olhar para aqueles olhos, Dhuoda compreendeu que não tinha alternativa.
Na última noite antes do casamento de Joana, Richild insistiu que ela dormisse num quartinho perto da sua própria câmara - um privilégio reservado, normalmente, apenas a crianças doentes ou à sua aia favorita. Era uma honra especial concedida à noiva, segundo tinha dito Richild, mas Joana tinha a certeza que ela apenas queria vigiá-la. Não importava.
Quando Richild adormecesse, Joana podia esgueirar-se do quarto tão facilmente como se estivesse no dormitório.
Ermentrude, uma das criadas, entrou no quartinho, trazendo uma malga de vinho tinto com especiarias.
- Da parte da senhora Richild - disse ela - para vos presentear nesta noite.
- Não quero - Joana afastou a malga. Não aceitava favores de uma inimiga.
- Mas, a senhora Richild disse para eu ficar aqui enquanto o bebeis e para levar a malga comigo.
Ermentrude desejava fazer tudo quanto lhe mandavam, uma vez que só tinha doze anos e era nova no serviço da casa.
- Então, bebe-o tu - disse Joana, irritada. - Ou derrama-o para o chão. Richild nunca virá a saber.
O rosto de Ermentrude iluminou-se. Não lhe tinha ocorrido fazer aquilo.
- Sim, menina. Obrigado, menina.
Virou-se para se ir embora.
- Um momento.
Joana voltou a chamá-la, reconsiderando. A malga estava cheia de um vinho aromático, espesso, brilhando na luz nocturna. Se queria sobreviver de noite na floresta, ia precisar de todo o sustento que conseguisse. Não podia permitir-se gestos de um orgulho tolo. Pegou na malga e bebeu o líquido de um trago. Ficou com a marca do líquido da malga em torno dos lábios e com um sabor estranho na boca. Limpou-a com a manga, depois devolveu a malga a Ermentrude que saiu apressadamente.
Joana apagou a vela e deitou-se no escuro, à espera. O colchão de penas envolveu-a com uma maciez que lhe era estranha; estava acostumada à palha simples da sua cama, no dormitório. Antes queria que Richild a tivesse deixado dormir na sua própria cama, ao lado de Dhuoda. Não a tinha visto desde que lhe tinha entregado a mensagem. Ela tinha ficado toda a tarde enclausurada nos aposentos de Richild, rodeada de criadas ocupadas a arranjar o seu vestido de noiva e a juntar as roupas e pertences que iriam com ela, como dote.
Será que Dhuoda tinha entregado a mensagem ao João? Não podia ter a certeza. Esperaria pelo João na clareira da floresta; se ele não viesse, ela e Luke partiriam sozinhos.
Ouviu a respiração profunda e lenta de Richild, no quarto ao lado. Esperou mais um quarto de hora para ter a certeza de que ela estava a dormir. Depois, levantou-se, esgueirou-se silenciosamente de entre os cobertores.
Entrou no quarto de Richild. Ela estava deitada imóvel, respirando regular e profundamente. Joana passou junto à parede, saindo pela porta.
Mal saiu, os olhos de Richild abriram-se.
Joana deslocou-se em silêncio através das salas, até chegar ao pátio exterior. Respirou fundo, sentindo-se um pouco tonta.
Estava tudo silencioso. Havia um único guarda, encostado à parede, perto do portão, com a cabeça caída sobre o peito, ressonando. A sombra de Joana avolumou-se grotescamente sobre a terra, ao luar. Mexeu a mão e um gesto gigantesco imitou-a.
Joana assobiou baixinho para chamar o Luke. O guarda mexeu-se. Luke não apareceu. Mantendo-se na sombra, dirigiu-se para o canto onde Luke costumava dormir; não queria correr o risco de acordar o guarda, com o barulho.
De repente, sentiu que o chão lhe fugia debaixo dos pés.
Sentiu uma náusea e agarrou-se, estonteada, a um poste.
Benedicite. Não posso ficar doente agora.
Lutando contra as tonturas, atravessou o pátio. Viu Luke no canto oposto. O jovem lobo estava deitado de lado, com os seus olhos opalescentes a olharem, cegos, para a Lua e com a língua pendente fora da boca. Ela baixou-se para lhe tocar e sentiu o seu corpo frio por baixo do macio pêlo branco. Os seus olhos caíram num pedaço de carne abocanhada, caído no chão. Ficou a olhar para ele, espantada. Pousou uma mosca no sangue húmido que rodeava a carne. Ficou ali, a beber, depois, levantou voo, deu umas voltas no ar e caiu subitamente no chão. Não voltou a mexer-se.
Joana começou a sentir um silvo agudo nos ouvidos. Parecia que o ar ondulava à sua volta. Recuou, voltando-se para começar a correr, mas o chão voltou a fugir-lhe debaixo dos pés, acabando por se levantar, ao seu encontro.
Não sentiu os braços que a levantaram do local onde ela caiu e a levaram outra vez para dentro.
O ranger das rodas mantinha um ritmo melancólico, acompanhado pelo bater dos cascos dos cavalos, enquanto a carruagem avançava na direcção da catedral, levando Joana para a missa do seu casamento.
Tinha sido acordada à força naquela manhã, demasiado tonta para se aperceber do que se estava a passar. Com os sentidos embotados, deixou que as criadas, que giravam à sua volta, lhe vestissem o vestido de noiva e a penteassem.
Mas, os efeitos da droga estavam a passar e Joana começou a recuperar a memória. Foi o vinho, pensou ela. Richild pôs qualquer coisa no vinho. Joana pensou em Luke, jazendo frio e sozinho na noite. A garganta apertou-se-lhe. Tinha morrido sem consolo e companhia; Joana esperava que ele não tivesse sofrido muito. Devia ter dado prazer a Richild envenenar a sua carne; ela sempre o tinha detestado porque sentia que ele representava a ligação existente entre Geraldo e Joana.
Richild seguia no carro, à frente. Estava magnificamente vestida com uma túnica de seda azul, com o cabelo preto enrolado elegantemente em torno da cabeça e preso com uma tiara em prata com esmeraldas encrostadas. Ela era bonita.
Porque não me matou a mim também?, pensou a Joana lentamente.
Sentada num carro que se aproximava cada vez mais da catedral, doente no corpo e no coração, com Geraldo longe e sem maneira de fugir, Joana antes queria que ela o tivesse feito.
As rodas batiam barulhentamente no piso irregular do pátio da catedral e o cocheiro fez sinal para mandar parar os cavalos. Apareceram imediatamente dois criados de Richild. Com uma solenidade de circunstância, ajudaram Joana a sair do carro.
Junto da catedral, tinha-se juntado uma multidão enorme. Era a Festa dos Primeiros Mártires, um feriado religioso, assim como a missa do casamento de Joana e toda a cidade se tinha reunido para a ocasião.
À frente da multidão, Joana reparou num rapaz alto, rude, ossudo, junto aos seus pais. O filho do ferreiro. Reparou na sua expressão taciturna e no seu abatimento. Quer-me tanto para esposa como eu o quero para esposo. Porque haveria de querer?
O seu pai empurrou-o; ele aproximou-se de Joana e ofereceu-lhe o braço. Ela aceitou-o e ficaram lado a lado, enquanto Wido, o intendente de Richild, leu a lista do dote de Joana.
Joana olhou na direcção da floresta. Agora, já não podia correr e esconder-se lá. A multidão rodeava-a e os homens de Richild estavam junto dela, vigiando-a.
Entre os curiosos, Joana viu Odo. Junto dele, estavam os rapazes da escola, a cochichar, como costume. João não estava com eles. Ela procurou na multidão e encontrou-o do outro lado, ignorado pelos seus companheiros. Agora, estavam ambos sozinhos, só se tinham um ao outro. Os olhos dela procuraram-no, oferecendo-lhe conforto. Surpreendentemente, ele não desviou os olhos e retribuiu-lhe o olhar, com um rosto que manifestava sofrimento.
Tinham sido estranhos um ao outro durante muito tempo, mas, naquele momento, voltavam a estar os dois juntos, irmão e irmã, unidos numa compreensão mútua. Joana manteve os olhos fixos nele, sem querer quebrar o frágil elo que os unia.
O intendente acabou a leitura. A multidão aguardava, na expectativa. O filho do ferreiro levou Joana para a catedral.
Richild e a sua comitiva seguiram atrás deles, seguidos pelos aldeões.
Fulgêncio estava à espera diante do altar. Quando Joana e o rapaz se aproximaram, ele mandou-os sentar. Primeiro, seria celebrada a missa solene, depois, a do casamento.
- Omnipotens sempiterne Deus qui me peccatoris.
Como costume, Fulgêncio titubeava o latim, mas Joana mal reparou. Ele fez sinal a um acólito para que ele preparasse o ofertório e começou a oração de oblação.
- Suscipe sanctum Trinitas...
Ao seu lado, o filho do ferreiro baixou a cabeça reverentemente. Joana tentou rezar também, baixando a cabeça e balbuciando as palavras, mas não havia substância para a forma; dentro dela, só havia um enorme vazio.
Começou o momento da mistura da água com o vinho.
- Deus qui humanae substantiae...
As portas da catedral abriram-se com um estrondo. Fulgêncio abandonou a sua luta com a missa em latim e olhou para a entrada, incrédulo. Joana virou a cabeça, tentando descobrir a origem desta intromissão sem precedentes. Mas, as pessoas atrás dela tapavam-lhe a visão.
Depois, viu-o. Uma criatura enorme, com a aparência de um homem, mas um palmo mais alto do que qualquer outro homem, a contraluz, à entrada da porta. A sua sombra projectava-se na escuridão interior. O seu rosto não tinha expressão, parecia feito em metal. Os seus olhos estavam tão escondidos nas suas órbitas que Joana mal os conseguia ver. No cimo da cabeça, tinha cornos dourados.
Do meio da multidão, ouviu-se uma mulher gritar.
Woden, pensou Joana. Há muito que tinha deixado de acreditar nos deuses de sua mãe, mas aquele era Woden, tal como a mãe o tinha descrito, subindo a nave central.
Veio salvar-me?, pensou ela.
Quando ele se aproximou, ela viu que o rosto metálico e os cornos eram uma máscara, parte de um complicado elmo de combate. A criatura era um homem, não era um deus. Saía-lhe uma longa cabeleira loura encaracolada do seu elmo, caindo-lhe sobre os ombros.
- Normandos! - gritou alguém.
O intruso continuou sem parar. Ao chegar ao altar, levantou uma pesada espada, de dois gumes, e desfechou-a brutalmente na tonsura de um dos clérigos assistentes. O homem caiu, com o sangue espirrando do buraco onde tinha estado a sua cabeça.
Caiu tudo no caos. À volta de Joana, toda a gente gritava e procurava fugir. Joana foi arrastada pela multidão, entalada de tal forma entre corpos que se debatiam, que os seus pés deixaram de tocar o chão. A onda de aldeões aterrorizados dirigiu-se para a porta, depois, parou abruptamente.
A saída estava bloqueada por outro intruso, vestido para o combate, como o primeiro, mas trazendo um machado, em vez de uma espada.
A multidão hesitou. Joana ouviu gritar lá fora e, depois, apareceram à porta mais normandos - pelo menos, uma dúzia.
Vieram a correr direitos à multidão, soltando gritos medonhos e brandindo machados em ferro enormes.
Os aldeões lutavam e passavam uns por cima dos outros para fugirem aos golpes assassinos. Joana foi empurrada por trás e caiu ao chão. Sentiu que lhe passavam por cima das costas e levantou os braços para proteger a cabeça. Alguém lhe pisou a mão direita com toda a força e ela gritou:
- Mamã! Ajuda-me! Mamã!
Lutando para se libertar de ser esmagada, rastejou até chegar a um canto livre. Olhou para o altar e viu Fulgêncio cercado de normandos. Lutava com eles, brandindo a grande cruz de madeira que estava por trás do altar, que ele tinha arrancado da parede. Balançava-a com força, ao mesmo tempo que os seus atacantes avançavam e recuavam, tentando atingi-lo com as espadas, mas sem conseguirem entrar no círculo da sua defesa. Fulgêncio desferiu um golpe num normando que fez com que ele voasse para o outro lado do coro.
Ela rastejou no meio do barulho e do fumo - havia fogo? - à procura do João. À sua volta, ouviam-se gritos lancinantes, gritos de guerra e gemidos de dor e terror. O chão estava coberto de cadeiras viradas e de corpos a escorrer sangue.
- João - chamou ela.
Ali, o fumo era mais espesso; ardiam-lhe os olhos e não conseguia ver bem.
- João!
Mal ouvia a sua voz, no meio da confusão.
Sentiu uma corrente de ar passar-lhe pelas costas. Atirou-se para o lado, instintivamente. A lâmina do normando, que tinha sido apontada ao seu pescoço, fez-lhe apenas um golpe na face.
O golpe atirou-a ao chão, onde ela se contorceu de dores, com a mão na cara.
O normando ficou diante dela, com um brilho assassino nos seus olhos azuis. Ela recuou, tentando fugir, mas foi em vão.
O normando levantou a espada para desferir o golpe final.
Joana protegeu a cabeça com os braços, virando a cara para o lado.
O golpe não veio. Ela abriu os olhos para ver a espada a cair das mãos do seu agressor. O sangue corria-lhe dos cantos da sua boca, enquanto ele caía lentamente no chão. Por trás dele, estava João, segurando a lâmina ensanguentada da faca de cabo de osso do seu pai.
Os seus olhos brilhavam com um entusiasmo estranho.
- Trespassei-lhe o coração! Viste? Ele ia matar-te!
Ela ficou horrorizada.
- Vão matar-nos a todos! - agarrou-se a João. - Temos de fugir, temos de nos esconder!
Ele libertou-se dela.
- Apanhei outro. Ele veio direito a mim com um machado, mas eu cortei-lhe a garganta.
Joana procurava desesperadamente um sítio para se esconder.
A alguns passos dela, havia um oratório. A sua fachada em madeira esculpida estava coberta de painéis representando a vida de São Germano. E era oco. Talvez tivesse espaço suficiente...
- Depressa - gritou ela para o João - anda!
Puxou pela manga da sua túnica para ele se baixar ao seu lado. Fazendo-lhe sinal para que a seguisse, rastejou na direcção do oratório. Sim! Havia espaço suficiente para se esconderem.
Estava escuro. Passava apenas um fio de luz por uma pequena fenda na junção dos painéis.
Ela escondeu-se num canto, encolhendo as pernas para que João também coubesse. Mas, ele não apareceu. Ela rastejou novamente para a saída e espreitou.
A alguns passos dela, viu-o debruçado sobre o corpo do normando que ele matara. Estava a puxar as roupas ao homem, como se estivesse à procura de qualquer coisa.
- João! - gritou ela. - Aqui! Depressa!
Ele olhou para ela, com um olhar enlouquecido, com as mãos ainda a mexerem no normando. Ela não se atreveu a voltar a gritar, com medo de revelar o precioso esconderijo. Depois, ele soltou um grito triunfante e levantou-se, com a espada do normando na mão.
Ela fez-lhe sinal para que ele viesse ter com ela. Ele levantou a espada, saudando-a, e fugiu.
Hei-de ir ter com ele? Aproximou-se da abertura.
Alguém - uma criança? - gritou perto dela. Um urro tremendo, que ecoou no ar, e, depois, cessou repentinamente. O medo apoderou-se dela e ela recuou. A tremer, espreitou pela nesga entre os painéis, à procura de João.
Travava-se um combate mesmo à sua frente. Ela ouvia o som de metal a bater em metal, viu de relance um pedaço de tecido amarelo, o reluzir de uma espada erguida. Um corpo caiu pesadamente. A luta prosseguiu, deslocando-se um pouco para o lado e ela olhou pela nave abaixo, na direcção da entrada da catedral. As amplas portas continuavam entreabertas, forçadas pelo amontoar grotesco de corpos.
Os normandos estavam a remover as suas vítimas da entrada, deslocando-as para o lado direito da catedral.
A entrada ficou desimpedida.
Agora, disse ela para si mesma. Corre para a porta. Mas, não era capaz de se mexer; os seus membros estavam bloqueados.
Apareceu um homem perto do seu estreito campo de visão.
Parecia tão louco e desgrenhado, que, por momentos, ela não reconheceu que se tratava de Odo. Ele cambaleava na direcção da porta, arrastando a perna esquerda. Tinha a grande Bíblia do altar-mor apertada nos braços.
Já estava quase a chegar à porta quando dois escandinavos o interceptaram. Ele enfrentou os seus atacantes, brandindo a Bíblia, como se ela o protegesse de espíritos malignos. Uma espada pesada cortou o livro e acertou-lhe directamente no peito. Ele ficou por momentos atónito, segurando as duas metades do livro nas mãos. Depois, caiu para trás e não se mexeu mais.
Joana escondeu-se no escuro. Ouvia gritos de moribundos por todos os lados. Enrolada sobre si mesma, enterrou a cabeça nos braços. Sentia as batidas apressadas do seu coração nos ouvidos.
Os gritos cessaram.
Ela ouviu os normandos chamarem-se uns aos outros na sua língua gutural. Ouviu-se um grande ruído de madeira a partir.
Inicialmente ela não compreendeu o que estava a acontecer; depois, apercebeu-se de que eles estavam a despojar a catedral dos seus tesouros. Os homens riam e gritavam. Estavam eufóricos.
Não demoraram muito a terminar o saque. A Joana ouviu-os gemer ao peso dos seus despojos. As suas vozes ressoavam à distância.
Hirta como uma estátua, ela sentou-se no escuro e pôs o ouvido à escuta. Estava tudo sossegado. Dirigiu-se para a entrada do oratório e meteu a cabeça de fora.
A catedral estava destruída. Os bancos tinham sido derrubados, as tapeçarias tinham sido arrancadas das paredes, as imagens estavam quebradas no chão. Não havia sinais dos normandos.
Havia corpos por todo o lado, amontoados de forma caótica. A alguns passos dela, no cimo das escadas que conduziam ao altar, jazia Fulgêncio, junto à grande cruz em madeira. Ela estava partida e cheia de sangue. Junto dele, jaziam os corpos de dois normandos com os crânios esmagados dentro dos seus elmos. Joana moveu-se, saindo de dentro do oratório.
No canto oposto, mexeu-se qualquer coisa. Joana voltou a fugir da luz.
Um pedaço de roupa torceu-se, libertando-se da pilha de corpos.
Tinha sobrevivido alguém!
Uma jovem levantou-se, de costas para Joana. Tremendo, começou a cambalear em direcção à porta.
O seu vestido dourado estava rasgado e ensanguentado e o seu cabelo solto caía-lha sobre os ombros em caracóis arruivados.
- Gisla!
Joana chamou-a e ela virou-se, cambaleando em direcção ao oratório.
Ouviu-se um súbito explodir de gargalhadas fora da catedral.
Gisla ouviu e virou-se para fugir, mas era tarde de mais. Um
grupo de normandos entrou pela porta. Caíram sobre Gisla com um grito triunfante, levantando-a no ar, acima das suas cabeças.
Levaram-na para ao pé do altar e prenderam-na pelos pulsos e os tornozelos. Ela torcia-se violentamente, tentando libertar-se. O homem mais alto levantou-lhe a túnica, cobrindo-lhe a cara e caiu em cima dela. Gisla gritou. O homem agarrou os seus seios com as mãos. Os outros riam-se e gritavam, encorajando-o, enquanto ele a violava. Joana tapou a boca com a mão para não gritar.
O normando levantou-se e deu o lugar a outro. Gisla estava imóvel no chão. Um dos homens pegou-lhe pelos cabelos e torceu-os, para a obrigar a reagir.
Um terceiro apossou-se dela e um quarto; depois, abandonaram-na, enquanto colocavam vários sacos daquilo que tinham pilhado junto à porta.
Ouviu-se o tilintar do metal quando os moveram; os sacos deviam estar cheios de tesouros pilhados em várias catedrais.
Tinha sido por causa disso que tinham voltado atrás.
Antes de partirem, um dos homens voltou à procura de Gisla, puxou-a, ainda imóvel e sem oferecer resistência, e colocou-a ao ombro, como um saco de cereais.
Saíram pela porta grande.
Escondida dentro do oratório, Joana ouvia apenas o silêncio que ressoava na catedral.
A luz que entrava pela fisga do oratório projectava grandes sombras. Há horas que não se ouvia nada. Joana mexeu-se e arrastou-se pela passagem estreita.
O altar-mor ainda estava de pé, apesar de ter sido despojado de todos os seus adornos a ouro. Joana debruçou-se sobre ele, olhando à sua volta. A sua túnica nupcial estava manchada de sangue - seria dela? Não sabia dizer. A face latejava-lhe de dor. A custo, começou a vaguear entre os cadáveres amontoados, à procura.
Deparou com o ferreiro e o seu filho numa pilha de cadáveres perto da porta. Estavam abraçados, como se se tivessem tentado proteger um ao outro. Morto, o rapaz parecia mais baixo e mais velho. Umas horas antes, estava ao seu lado na catedral, alto, robusto e cheio de vigor juvenil. Agora, já não há casamento, pensou Joana. Na véspera, aquele pensamento tê-la-ia enchido de um alívio e uma alegria profundas, agora, só sentia um enorme vazio. Deixou-o jazendo ao lado do seu pai e continuou à procura.
Encontrou João a um canto, com a mão ainda agarrando uma espada normanda. A sua nuca tinha sido esmagada com o golpe de uma espada, mas, a violência da sua morte não tinha deixado qualquer marca no seu rosto. Os seus olhos azuis estavam límpidos e abertos, a sua boca um pouco entreaberta, naquilo que parecia ser um sorriso.
Tinha morrido como um soldado.
Ela correu, aos tropeções, na direcção da porta e puxou-a, para a abrir. O painel caiu porque os normandos tinham partido os gonzos com os seus machados. Saiu e respirou o ar fundo e doce em grandes golfadas, libertando-se do fedor da morte. Estava tudo deserto. O fumo subia em rolos lentos por cima dos telhados que, ainda naquela manhã, constituíam um burgo em torno da catedral.
Dorstadt estava em ruínas.
Não havia vivalma. Ninguém tinha sobrevivido. Estavam todos reunidos na catedral para a missa.
Ela olhou para ocidente. Por cima das árvores que lhe ofuscavam a visão, subia uma grossa coluna de fumo, escurecendo o céu.
Villaris.
Tinham-na queimado.
Ela sentou-se no chão e tapou a cara com as mãos para aliviar a sua ferida.
Geraldo.
Ela precisava que ele falasse com ela, que a consolasse, que fizesse com que o mundo voltasse a ser reconhecível. Olhando para o horizonte com os olhos semicerrados, tinha uma vaga esperança de que ele aparecesse, que viesse ao seu encontro montado no Pistis, com o cabelo vermelho adejando ao vento como um estandarte.
Tenho de esperar por ele. Se ele volta e não me encontra, pensa que eu fui levada pelos normandos, como a pobre Gisla.
Mas, eu não posso ficar aqui. Olhou ao seu redor, receosa, observando a paisagem destruída. Não havia sinais dos normandos. Tinham partido? Ou será que iriam regressar, à procura de mais despojos?
E se eles me encontram? Ela tinha visto a compaixão que uma mulher indefesa podia esperar deles.
Onde havia de se esconder? Dirigiu-se para as árvores que assinalavam o início da floresta que circundava a cidade, primeiro, lentamente, depois, a correr. Começou a soluçar; a cada passo, esperava que aparecesse uma mão a agarrá-la pelas costas, virando-a, forçando-a a enfrentar as máscaras hediondas dos normandos. Quando alcançou a segurança das árvores, atirou-se para o chão.
Passado um grande bocado, obrigou-se a levantar-se. Era noite. A floresta em torno dela era escura e ameaçadora. Ouviu um restolhar de folhas e encolheu-se, cheia de medo.
Os normandos podiam andar por perto, acampados naquelas florestas.
Tinha de fugir de Dorstadt e arranjar maneira de avisar Geraldo do local para onde tinha ido.
Mamã. Tinha saudades da mãe, mas não podia ir para casa. O pai nunca lhe tinha perdoado. Se ela voltasse agora, com a notícia da morte do único filho varão que lhe restava, ele iria vingar-se nela, era certo.
Se eu não fosse uma rapariga. Se eu...
Lembrar-se-ia daquele momento para o resto da sua vida, perguntando-se sempre qual teria sido a força, boa ou má, que tinha guiado os seus pensamentos.
Mas, agora, não tinha tempo para pensar. Era a sua única oportunidade. Talvez não voltasse a haver outra.
O Sol vermelho brilhava no horizonte. Ela tinha de agir rapidamente.
Encontrou o João deitado, tal como o tinha deixado, estirado no interior escuro da catedral. O seu corpo estava mole e não ofereceu resistência, quando ela o virou de lado. Ainda não tinha chegado à rigidez da morte.
- Perdoa-me - murmurou ela, ao despir João do seu manto.
Quando terminou, tapou-o com o manto que tinha despido.
Fechou-lhe os olhos docemente e colocou-o numa posição o mais decente que lhe foi possível. Levantou-se, esticando os braços, adaptando-se ao peso e à sensação causada pelas suas novas vestes. Não eram assim tão diferentes das suas, excepto nas mangas, que eram apertadas nos pulsos. Apalpou a faca de cabo de osso que tinha tirado do cinto do João.
A faca do pai. Era velha, com o cabo em osso escurecido e gasto, mas a lâmina era afiada.
Dirigiu-se ao altar. Tirando a touca, colocou o cabelo sobre o altar. Ele espalhou-se por cima da pedra macia, quase branco à luz pálida.
Levantou a faca.
Lenta e deliberadamente, começou a cortar.
Na penumbra, um jovem saiu pela porta da catedral em ruínas, perscrutando a paisagem com os seus olhos cinzento-esverdeados. A Lua levantava-se num céu estrelado.
Por trás dos edifícios destruídos, brilhava ao luar uma estrada para ocidente, emergindo da escuridão.
A figura esgueirou-se furtivamente da sombra da catedral.
Ninguém tinha sobrevivido para ver quando Joana se apressou pela estrada, em direcção ao grande mosteiro de Fulda.
A sala estava apinhada e barulhenta, cheia de gente que tinha vindo dos arredores da pequena cidade da Westphalia para assistir ao processo de mallus. Acotovelavam-se, arrastando com os pés a palha seca que tinha sido colocada sobre o chão em terra batida para absorver os restos de cerveja, escarros e excrementos de animais que se encontravam por baixo. O cheiro a gente invadia o ar quente e abafado. Mas, ninguém reparava porque estes cheiros eram habituais na casa dos francos. Além disso, as atenções da multidão estavam concentradas noutra coisa: no conde frígio ruivo que tinha sido enviado para julgar e conceder justiça em nome do imperador.
Geraldo virou-se para Frambert, um dos sete scabini encarregados de o assistirem no seu trabalho.
- Quantos faltam ainda?
O mallus tinha-se reunido ao romper da aurora; a tarde já ia a meio e eles tinham procedido ao seu trabalho durante mais de oito horas. Os seus homens apoiavam-se sobre as suas espadas, cansados, por trás da mesa à qual Geraldo estava sentado. Ele tinha trazido vinte dos seus melhores homens para prevenir.
Depois da morte do imperador Carlos, o Império tinha caído no caos; a posição dos missi imperiais era cada vez mais precária. Por vezes, eram confrontados com o desafio descarado dos senhores ricos e poderosos das localidades, homens que não estavam habituados a ver a sua autoridade posta em causa. A lei não valia nada se não pudesse ser cumprida; por isso é que Geraldo tinha levado tantos homens, apesar de isto ter significado deixar Villaris apenas com um punhado de defensores.
Mas, as fortes paliçadas em madeira eram garantia suficiente contra as depredações de assaltantes solitários e de larápios, a única ameaça à paz e segurança daquelas paragens, havia muitos anos.
Frambert verificou a lista de queixosos, escrita num rolo de pergaminho com oito polegadas de largura e quinze pés de comprimento.
- Mais três, por hoje, senhor - disse Frambert.
Geraldo suspirou enfadado. Estava cansado e esfomeado; a sua paciência para lidar com a torrente interminável de acusações, contestações e queixas insignificantes era muito pouca. Quem lhe dera estar em Villaris, com a Joana. Joana. Como sentia a sua falta - a sua voz rouca, o seu riso aberto, os seus olhos verde-acinzentados fascinantes, que o olhavam com uma inteligência e um amor enormes. Mas, não podia pensar nela. Afinal, tinha sido por isso que tinha aceitado servir como missus - para se afastar dela, dando-lhe tempo de recuperar o controlo sobre a intensidade ingovernável de emoções que se tinham avolumado dentro dele.
- Chamai o caso seguinte, Frambert - ordenou Geraldo, pondo termo aos seus pensamentos errantes.
Frambert desenrolou o pergaminho e leu alto, esforçando-se por se fazer ouvir sobre o murmúrio da multidão.
- Abo queixa-se do seu vizinho Hunaldo, acusando-o de lhe ter sido infiel e de lhe ter ficado com o seu gado, sem lhe dar a devida recompensa.
Geraldo abanou a cabeça, em sinal de que sabia do que se tratava. A situação era muito comum. Naqueles tempos iletrados, raro era o proprietário que possuía registos escritos dos seus haveres; a ausência destes registos deixava campo aberto para todos os tipos de ladroagem e de fraudes.
Hunaldo, um homem grande e corado, ricamente vestido de linho escarlate, avançou, para negar a acusação.
- Os animais são meus. Trazei-me o relicário.
Apontou para a caixa de relíquias sobre a mesa.
- Perante Deus - fez uma pausa dramática, levantando as mãos ao Céu - juro a minha inocência sobre estes ossos sagrados.
- As vacas são minhas, senhor, não de Hunaldo, como ele bem sabe - respondeu Abo, um homenzinho cujo comportamento discreto e o traje simples contrastava com o de Hunaldo. - Hunaldo pode jurar o que quiser; a verdade não muda.
- O quê, Abo, tu pões em causa o juramento diante de Deus? - ripostou Hunaldo.
A sua voz assinalava o tom exacto da indignação piedosa, mas Geraldo apercebeu-se da arrogância que ela escondia.
- Vede, senhor conde, isto é blasfémia!
- Tendes alguma prova de que os animais são vossos? - perguntou Geraldo a Abo.
A pergunta era bastante invulgar; a noção de testemunho ou de apresentação de provas não existia no país dos Francos.
Hunaldo olhou intrigado para Geraldo. O que estava este estranho conde frígio a tentar fazer?
- Prova? - essa era nova; Abo teve de pensar um pouco. Bem, Berta - é a minha mulher - pode dizer os nomes de cada um deles e os meus quatro filhos também porque os conhecem desde que eles nasceram. Podem dizer-vos quais as que são difíceis de ordenhar e quais os que preferem forragem a erva. - Veio-lhe à ideia mais uma coisa. - Levai-me junto deles e deixai que eu os chame; eles virão imediatamente ao meu encontro porque conhecem o som da minha voz e o toque da minha mão.
Nos olhos de Abo flamejou uma pequenina esperança.
- Que disparate! - explodiu Hunaldo. - Deverá este tribunal preferir as acções irreflectidas de animais estúpidos às leis sagradas dos Céus? Exijo um julgamento justo por compurgação. Trazei o relicário e deixai-me jurar!
Geraldo coçou a barba, pensativo. Hunaldo era o acusado; estava no direito de requerer o juramento. Deus não permitiria que ele jurasse falso com uma mão sobre o relicário sagrado, pelo menos, assim o dizia a lei.
O imperador dava muita importância a tais provas, mas Geraldo tinha as suas dúvidas. Havia homens que, mais preocupados com as vantagens sólidas deste mundo do que com os terrores vagos e abstractos do próximo, não hesitavam em mentir. Se fosse preciso, eu próprio o faria, pensou Geraldo, se o que estivesse em causa fosse suficientemente importante.
Ele juraria falso sobre uma carrada de relíquias para proteger a segurança de alguém que ele amasse.
Joana. A imagem dela voltou a emergir irresistivelmente na sua mente e ele fez um esforço por a afastar. Teria muito tempo para tais pensamentos quando o trabalho do dia estivesse terminado.
- Senhor - Frambert sussurrou ao seu ouvido - eu posso testemunhar a favor de Hunaldo. Ele é um bom homem, generoso, e esta queixa contra ele é falsa.
Por baixo da mesa, sem que a multidão visse, Frambert brincava com um anel magnífico, uma ametista encrostada em prata, gravada com a figura de uma águia.
Fê-lo rodar no dedo para que Geraldo pudesse ver como reluzia.
- Ah, sim, um homem muito generoso. - Frambert tirou o anel do dedo. - Hunaldo quis que eu vos dissesse que isto é vosso. Um gesto de apreço pelo vosso apoio.
Sorria levemente.
Geraldo pegou no anel. Era uma peça magnífica, a melhor peça que ele já tinha visto. Manipulou-a, admirando o seu peso e o trabalho perfeito do seu artesão.
- Obrigado, Frambert - disse ele, com firmeza. - Isto facilita a minha decisão.
Frambert abriu-se num sorriso conspirativo.
Geraldo virou-se para Hunaldo.
- Desejais submeter-vos ao julgamento de Deus?
- Sim, senhor.
Hunaldo estava cheio de segurança, depois de ter testemunhado a troca entre Geraldo e Frambert. O servo com o relicário avançou, mas Geraldo mandou-o parar.
- Procuraremos o julgamento de Deus através do judicium aquae ferventis.
Hunaldo e Abo não perceberam; tal como os outros na sala, eles também não sabiam latim.
- Kesselfang - traduziu Geraldo.
- Kesselfang!
Hunaldo empalideceu; não tinha pensado nisso. O processo da água a ferver era uma forma bastante conhecida de julgamento, mas há muitos anos que não era utilizada naquela parte do Império.
- Trazei um caldeirão - ordenou Geraldo.
Fez-se um silêncio profundo durante alguns momentos. Depois, a sala irrompeu num caos de murmúrios e movimentações. Houve vários scabini que se apressaram a sair para procurarem um caldeirão com água já a ferver nas casas mais próximas.
Voltaram alguns minutos depois, trazendo um caldeirão em ferro negro, com a profundidade de um braço de um homem, cheio de água quente. Puseram-no no chão no meio da sala, com a água a fumegar e a borbulhar.
Geraldo manifestou-se satisfeito. Dado o talento de Hunaldo para o suborno, o caldeirão podia ser mais pequeno.
Hunaldo franziu o sobrolho.
- Senhor conde, eu protesto! - o medo tinha-o tornado indiferente às aparências. - E o anel?
- Foi exactamente o que eu pensei, Hunaldo.
Geraldo segurou o anel, de forma a que todos o vissem, depois atirou-o para o caldeirão.
- Por sugestão do acusado, este anel será o instrumento do julgamento de Deus.
Hunaldo engoliu em seco. O anel era pequeno e escorregadio; era extremamente difícil de encontrar. Mas, ele não podia recusar o julgamento sem admitir a sua culpa e devolver as vacas a Abo - e elas valiam bem mais de setenta soldos.
Amaldiçoou o conde estrangeiro, tão inexplicavelmente imune aos benefícios de uma troca de favores que tinham caracterizado a sua relação com outros enviados. Respirou fundo e mergulhou o braço no caldeirão.
A sua face contorceu-se de dor, quando a água a ferver lhe queimou a pele. Procurou freneticamente o anel dentro do caldeirão. Escapou-lhe dos lábios um urro de desespero quando ele lhe escorregou da mão. Os seus dedos torturados apressavam-se na busca e - graças a Deus! - apanhou-o.
Levantou a mão trazendo o anel.
- Aaaaaaah.
A multidão soltou um murmúrio de espanto, quando viram o braço de Hunaldo. Já se estavam a começar a formar bolhas sobre a superfície vermelha da sua pele.
- Dez dias - anunciou Geraldo - será o tempo que durará o julgamento de Deus.
Houve um rebuliço entre a multidão, mas não se ouviu qualquer protesto. Toda a gente conhecia a lei: se as feridas das mãos e dos braços de Hunaldo se curassem dentro de dez dias, estava provada a sua inocência e o gado era seu. Se não, ele seria declarado culpado de roubo e o gado seria devolvido ao seu legítimo dono, Abo.
Pessoalmente, Geraldo duvidava que as feridas sarassem em tão pouco tempo. Era essa a sua ideia porque ele não tinha dúvida de que Hunaldo era culpado daquele crime. E se as feridas de Hunaldo sarassem no período de tempo estipulado - bem, o processo fá-lo-ia pensar duas vezes antes de voltar a roubar o gado do seu vizinho. Era uma justiça dura, mas era aquela que a lei permitia e era melhor do que nada. Lex dura, sed lex. Os estatutos imperiais eram os únicos pilares sobre os quais se apoiava a lei nestes tempos conturbados; se se passasse por cima deles, quem sabe que ventos intempestivos soprariam pelo país, derrubando tanto fracos como poderosos.
- Chama o próximo caso, Frambert.
- Aelfric acusa Fulrad de recusar pagar o preço de sangue estipulado por lei.
O caso parecia bastante simples. O filho de Fulrad, Tenbert, um rapaz de dezasseis anos, tinha morto uma jovem, uma das coloni de Aelfric. O crime em si não estava em discussão, mas sim o preço de sangue. As leis imperiais acerca do wergeld eram precisas e diferentes para cada um, segundo o seu nível, a sua fortuna, idade e sexo.
- A culpa foi dela - disse Tenbert, um rapaz alto e ossudo, com a pele sardenta e uma expressão insolente. - Ela não passava de uma colona; não devia ter resistido.
- Ele violou-a - explicou Aelfric. - Apareceu quando ela andava a vindimar na minha vinha e embeiçou-se por ela. Ela era uma coisinha bonita com apenas doze invernos - ainda uma criança, na realidade - e não compreendeu. Pensou que ele lhe queria fazer mal. Como não se lhe submeteu de livre vontade, ele bateu-lhe brutalmente.
Ouviu-se um longo murmúrio entre a multidão; Aelfric fez uma pausa, para que ficasse registado.
- Ela morreu no dia seguinte, espancada e inchada, a chamar pela mãe.
- Não tendes de que vos queixar - interrompeu Fulrad, o pai de Tenbert, exaltado. - Eu não paguei o wergeld na semana seguinte? Cinquenta soldos em ouro, uma soma generosa. E a rapariga não passava de uma colona!
- A rapariga morreu; não volta a vindimar. E a mãe dela, uma das minhas melhores tecedeiras, está tão desgostosa que já não serve para nada. Exijo o wergeld justo: cem soldos em ouro.
- Um ultraje!
Fulrad abriu os braços, apelando:
- Senhor, com o que lhe dei, Aelfric pode comprar vinte vacas leiteiras - que toda a gente sabe que valem mais do que uma pobre rapariga, a sua mãe e um tear juntos!
Geraldo franziu as sobrancelhas. Este regateio sobre preço de sangue era repelente. A rapariga tinha mais ou menos a mesma idade de Dhuoda, filha de Geraldo. A ideia deste jovem rude e desagradável a forçá-la era grotesca. Claro que estas coisas estavam sempre a acontecer - qualquer colona que conseguisse chegar aos catorze anos com a sua virgindade intacta ou tinha tido uma sorte extraordinária, ou era feia, ou ambas as coisas. Geraldo não era ingénuo, sabia como era o mundo, mas isso não significava que lhe agradasse.
Sobre a mesa à sua frente estava um grande códex encadernado em pele, com o selo imperial. Nele estavam escritas as velhas leis do Império, a Lex Salica, assim como a Lex Carolina, que incluía revisões e adições ao código legal do imperador Carlos. Geraldo conhecia a lei e não precisava do livro.
Mesmo assim, consultou-o solenemente; a sua presença impressionava sempre os litigantes e a sentença que ele ia dar requeria toda a sua autoridade.
- O código sálico é muito claro neste ponto - acabou ele por dizer. - Cem soldos é o wergeld legal pela colona.
Fulrad praguejou alto. Aelfric sorriu.
- A rapariga tinha doze anos de idade - continuou Geraldo. Portanto, tinha chegado à idade fértil. Por lei, o seu preço de sangue tem de ser triplicado para trezentos soldos em ouro.
- O quê? O tribunal enlouqueceu? - gritou Fulrad.
- A soma - prosseguiu Geraldo, impassível - deve ser paga da seguinte forma: duzentos soldos para Aelfric, o senhor legal da rapariga, e cem para a família da vítima.
Agora, foi a vez de Aelfric se sentir ultrajado.
- Cem soldos para a família dela? - disse ele, incrédulo. - Para coloni? Eu sou o senhor da propriedade; o wergeld da rapariga é meu por direito!
- Estais a tentar arruinar-me? - interrompeu Fulrad, demasiado absorvido nos seus próprios problemas para se comprazer com o desagrado do seu inimigo. - Trezentos soldos é quase o preço de sangue de um guerreiro! De um padre! - dirigiu-se agressivamente para a mesa a que Geraldo estava sentado. - Talvez, mesmo de um conde?
A ameaça na sua voz era iniludível.
A multidão murmurou, alarmada, quando uma dúzia de homens de Fulrad se aproximaram. Estavam armados de espadas e pareciam ser homens habituados a usá-las.
Os homens de Geraldo avançaram também, levando as mãos às espadas, prontos a puxarem por elas. Geraldo conteve-os com um gesto.
- Em nome do imperador - disse Geraldo, com uma voz afiada como a lâmina de uma faca - a sentença neste caso está dada e recebida.
Os seus frios olhos azuis olharam para Fulrad.
- Chamai o próximo caso, Frambert.
Frambert não respondeu. Tinha-se escapado do seu lugar e estava escondido debaixo da mesa.
Passou um tempo num silêncio tenso, durante o qual o murmúrio inquieto da multidão acalmou completamente.
Geraldo recostou-se na sua cadeira, aparentando uma total segurança e à-vontade, mas com a mão direita pousada negligentemente sobre a sua espada, com os dedos apalpando o aço frio.
De repente, praguejando, Fulrad virou-se. Agarrando rudemente em Tenbert pelo braço, arrastou-o para a porta. Os homens de Fulrad seguiram-os, com a multidão a abrir alas para os deixar passar. Ao saírem a porta, Fulrad deu uma sapatada na cabeça de Tenbert. O grito de dor do rapaz ecoou na sala e a multidão explodiu num riso rouco, aliviado.
Geraldo sorriu. Se sabia alguma coisa acerca da natureza humana, Tenbert preparava-se para apanhar uma tareia. Talvez lhe servisse de lição ou talvez não. Fosse como fosse, já não adiantava nada para a rapariga assassinada. Mas, a sua família receberia uma parte do seu wergeld. Com ele, podiam comprar a sua liberdade e construir uma vida melhor com os filhos que tinham ficado e com os filhos dos seus filhos.
Geraldo fez sinal aos seus homens; eles voltaram a embainhar as suas espadas e regressaram às suas posições por trás da mesa do tribunal.
Frambert saiu de debaixo da mesa e voltou a ocupar o seu lugar com um ar de dignidade atingida. Estava pálido e a sua voz tremeu ao ler o último caso.
- Ermoin, o moleiro, e a sua mulher queixam-se da sua filha, dizendo que ela, contrariando a sua ordem expressa, casou voluntariamente com um escravo.
A multidão voltou a abrir alas para deixar passar um casal idoso, de cabelo grisalho, patrícios vestidos com belas vestes - testemunho do sucesso de Ermoin no seu negócio. Atrás deles, vinha um jovem, vestido com uma túnica usada e velha de escravo e, por fim, uma jovem, que entrou com a cabeça baixa, modestamente.
- Senhor, - Ermoin falou sem esperar que lhe dessem a palavra - olhai para a nossa filha, Hildegarda, a alegria dos nossos velhos corações, a única filha que sobreviveu dos oito que tivemos. Foi educada com demasiada brandura, senhor - como ficámos a saber, para desgosto nosso. Pois pagou o nosso amor com uma desobediência e ingratidão obstinadas.
- Que reparação buscais neste tribunal? - perguntou Geraldo.
- Ora, uma decisão, senhor - disse Ermoin, surpreendido. - A roca ou a espada. Ela tem de escolher, como manda a lei.
Geraldo fícou sério. Na sua carreira como missus nunca tinha presidido a um caso daqueles; não desejava testemunhar outro.
- A lei, como dizeis, legisla nestas circunstâncias. Mas, parece muito dura, especialmente para alguém educado de uma forma tão... branda. Não existe outra forma?
Ermoin percebeu onde ele queria chegar. Podia ser pago o preço de um homem, o rapaz podia ser libertado da escravidão, tornado um homem livre.
- Não, senhor - abanou a cabeça negativamente, com veemência.
- Muito bem - disse Geraldo, resignado.
Não havia forma de o evitar. Os pais da rapariga conheciam a lei e iriam insistir no terrível procedimento, até ao fim.
- Trazei uma roca - ordenou Geraldo. - E Hunric - apontou para um dos homens - empresta-me a tua espada.
Ele não queria usar a sua; nunca tinha atingido carne indefesa, nem nunca o faria, enquanto fosse sua.
Houve alguns momentos de confusão e perturbação, enquanto foram procurar uma roca nas imediações.
A rapariga levantou os olhos quando a trouxeram. O seu pai falou-lhe num tom severo e ela baixou imediatamente os olhos.
Mas, naquele breve momento, Geraldo viu o seu rosto, de relance. Ela era bela - tinha grandes olhos de cornalina, mergulhados num mar de pele branca e fina, sobrancelhas delicadas, lábios docemente redondos. Geraldo compreendia a irritação do pai: com um rosto daqueles, a rapariga podia ter conquistado o coração de um grande senhor, até de um nobre, aumentando a fortuna da família.
Geraldo pousou uma mão sobre a roca; com a outra, levantou a espada.
- Se Hildegarda escolher a espada - disse Geraldo alto para que todos ouvissem - o seu marido, o escravo Romualdo, morrerá imediatamente. Se escolher a roca, então, tornar-se-á ela própria escrava.
Era uma escolha terrível. Uma vez, Geraldo tinha visto uma outra rapariga, não tão bela, mas igualmente jovem, enfrentar o mesmo dilema. Tinha escolhido a espada e ficou a ver, enquanto o homem que ela amava era chacinado diante dos seus olhos. Mas, o que poderia ela ter feito? Quem escolheria livremente a humilhação, não só para si, mas também para os seus filhos e todas as gerações futuras da sua sucessão?
A rapariga ficou em silêncio, imóvel. Quando Geraldo explicou o julgamento, ficou à mesma impassível.
- Compreendeis o significado da escolha que tendes de fazer? perguntou-lhe Geraldo com gentileza.
- Compreende, senhor - disse Ermoin, apertando o braço da filha. - Ela sabe exactamente o que tem de fazer.
Geraldo já o sabia. A cooperação da filha tinha sido assegurada através de ameaças e maldições, talvez até, de forma violenta.
Os guardas que ladeavam o jovem agarraram-lhe os braços, para evitar que ele tentasse fugir. Ele deitou-lhes um olhar furioso. Tinha um rosto interessante - com sobrancelhas cerradas, coberto com um cabelo desalinhado, mas tinha olhos inteligentes, um maxilar bem feito e um nariz belo e forte; parecia ter sangue dos antigos romanos.
Podia ser um escravo, mas era corajoso. Geraldo fez sinal aos guardas para que o largassem.
- Vamos, menina! - disse Geraldo à rapariga. - Está na hora.
O pai segredou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Ela abanou a cabeça e ele largou-lhe o braço e empurrou-a para a frente.
Ela levantou a cabeça e olhou para o jovem. O amor indisfarçável que os seus olhos demonstravam surpreendeu Geraldo.
- Não!
O pai da rapariga tentou impedi-la, mas, era tarde de mais.
Com os olhos fixos no marido, ela aproximou-se, sem hesitar, da roca, sentou-se e começou a fiar.
Ao regressar a Villaris no dia seguinte, Geraldo pensou no que tinha acontecido. A rapariga tinha sacrificado tudo: a família, a fortuna e mesmo a liberdade. O amor que tinha visto no seu rosto lançou fogo à sua imaginação e levou-o para caminhos que ele não compreendia completamente. Tudo o que sabia, com uma convicção que punha tudo o resto de lado, era aquilo que ele queria - aquela pureza e intensidade emocional que fazia com que tudo o resto parecesse uma sombra, insignificante. Não era demasiado tarde para ele; certamente, não era demasiado tarde. Ele tinha só vinte e nove anos - talvez já não fosse um jovem, mas, ainda estava no apogeu das suas forças. Nunca tinha amado a sua esposa, Richild, e ela nunca tinha fingido que o amava. Ele sabia muito bem que ela não sacrificaria sequer um pente por causa dele. O casamento deles tinha sido um casamento de fortunas e famílias preparado cuidadosamente. Era assim que devia ser e, até há pouco, Geraldo nunca tinha querido mais. Quando, depois do nascimento de Dhuoda, Richild tinha anunciado que não queria mais filhos, ele tinha aceite o seu desejo sem qualquer sensação de perda.
Não tinha tido dificuldades em encontrar parceiras com vontade de partilhar prazeres fora do leito matrimonial. Mas agora, por causa da Joana, tudo tinha mudado. Imaginou-a, o seu belo cabelo dourado em torno da face, os seus olhos verde-acinzentados, tão sérios que pareciam fazê-la mais velha do que era na realidade. A forma como a queria, que ultrapassava o simples desejo, torturava-lhe o coração. Nunca tinha conhecido ninguém como ela. A sua inteligência rara, a sua determinação em desafiar e pôr em questão as ideias que os outros aceitavam como verdades imutáveis, enchiam-no de admiração. Não podia falar com ninguém como falava com ela.
Podia confiar-lhe tudo, incluindo a sua própria vida.
Seria fácil fazer dela sua amante - o seu último encontro na margem do rio não tinha deixado dúvida disso. Mas, ao contrário do que seria de esperar, ele tinha-se retraído, à espera de mais qualquer coisa, apesar de, naquela altura, não saber o quê.
Agora, sabia.
Quero que ela seja minha esposa.
Seria difícil e dispendioso, sem dúvida, libertar-se de Richild, mas isso não importava. Joana será minha esposa, se quiser. Quando tomou esta resolução, sentiu-se em paz.
Respirou fundo, aspirando os aromas ricos e excitantes da floresta primaveril, sentindo-se feliz e vivo como não se sentia havia anos.
Estavam muito perto de casa. Havia uma nuvem baixa e negra pairando no ar que impedia Geraldo de ver Villaris. Joana estava lá, à espera dele. Impaciente, pôs Pistis a galope.
Havia um cheiro desagradável no ar, que lhe entrou pelo nariz.
Fumo.
A nuvem sobre Villaris era fumo.
Então, começaram a galopar pela floresta, sem se importarem com os ramos que se agarravam aos seus cabelos e às suas vestes. Chegaram à clareira e pararam abruptamente, estarrecidos.
Villaris tinha desaparecido.
Por baixo da nuvem de fumo que subia lentamente em espiral, apenas restava um monte de escombros e cinzas daquilo que era a casa que tinham deixado duas semanas antes.
- Joana! - gritou Geraldo. - Dhuoda! Richild!
Teriam fugido ou estavam mortas, soterradas por baixo do monte de escombros fumegantes?
Os seus homens ajoelharam-se no meio das cinzas, procurando identificar qualquer coisa - um pedaço de tecido, um anel, uma tiara. Alguns deles, começaram a chorar ao remexerem as cinzas, tal era o medo que tinham de encontrar de repente aquilo que procuravam.
Por baixo de um monte de vigas chamuscadas, num canto, Geraldo viu uma coisa que lhe provocou um aperto no coração.
Era um pé. Um pé humano.
Correu e começou a afastar as vigas, agarrando-as com as mãos, até elas começarem a sangrar, sem que ele se apercebesse. Lentamente, o corpo que estava por baixo delas começou a aparecer. Era o corpo de um homem, de tal forma carbonizado que as suas feições estavam praticamente irreconhecíveis, mas, pelo amuleto que tinha ao pescoço, Geraldo apercebeu-se de que se tratava de Andulfo, um dos guardas. Na sua mão direita, tinha uma espada. Geraldo baixou-se para lha tirar, mas, os dedos do homem recusaram-se a largá-la. O calor do fogo tinha derretido o punho, fundindo a carne e o ferro um no outro.
Andulfo tinha morrido a lutar. Mas, com quem? Ou com o quê?
Geraldo olhou em redor com o olhar experiente de um soldado.
Não havia sinais de acampamento, não tinham ficado para trás nenhumas armas ou objectos que lhes permitissem perceber o que se tinha passado. A floresta ao redor estava silenciosa, na brisa da tarde primaveril.
- Senhor!
Os seus homens encontraram os corpos de mais dois guardas.
Tal como Andulfo, também eles tinham morrido em combate, tendo ainda as armas nas mãos. A descoberta levou-os a prosseguirem a busca, mas em vão. Não havia sinais de vida.
Onde estão todos? Tinham deixado duas vintenas de pessoas em Villaris. Elas não podiam ter desaparecido todas, sem quaisquer vestígios de ossos ou sangue.
O coração de Geraldo batia com uma esperança louca. Joana estava viva, tinha de estar viva. Talvez estivesse perto, escondida na floresta com os outros que tinham desaparecido.
Ou talvez tivessem fugido para a cidade!
Montou Pistis de um salto, chamando os seus homens.
Dirigiram-se para a cidade a galope, abrandando apenas quando chegaram às ruas vazias, desertas.
Geraldo e os seus homens espalharam-se em reconhecimento pela longa fila de casas silenciosas. Geraldo levou Worad e Amalwin e dirigiu-se para a catedral. As pesadas portas em madeira de carvalho pendiam dos gonzos partidos. Inquietos, os homens desmontaram e aproximaram-se, de espadas em riste. Ao subir as escadas, Geraldo escorregou numa coisa viscosa. Na soleira da porta, havia uma poça de sangue escuro, formada pelo sangue que escorria lentamente do lado de dentro da porta.
Geraldo entrou.
Por momentos, a escuridão do interior obscureceu-lhe a visão. Depois, começou a ver melhor.
Atrás dele, Amalwin começou com vómitos. Geraldo sentiu um vómito a subir-lhe na garganta, mas engoliu-o, controlando-se.
Tapou a boca e o nariz com as mangas e avançou pela nave central da igreja. Era difícil evitar tropeçar no monte de corpos espalhados. Ouviu Worad e Amalwin a praguejarem, ouviu o som da sua própria respiração rápida e fraca. Continuou, como se estivesse a sonhar, avançando entre os despojos humanos, à procura.
Perto do altar-mor, encontrou os membros da sua casa. Estava ali Wala, o capelão, e Wido, o intendente. Irminon, a criada de quarto, estava perto, com os seus braços sem vida ainda a segurarem o seu bebé morto. Worad, o seu marido, deu um grito quando a encontrou. Caiu de joelhos e abraçou-os, apesar das suas feridas e do sangue.
Geraldo afastou-se. Os seus olhos caíram numa jóia em esmeraldas e prata que lhe era familiar. A tiara de Richild.
Ela jazia junto dela, com o seu cabelo negro espalhado sobre o corpo como se fosse uma mortalha. Ele pegou na tiara e ia a colocar-lha no cabelo. Quando tocou na cabeça de Richild, ela virou-se grotescamente, depois rolou lentamente para longe do corpo.
Horrorizado, Geraldo recuou. O seu pé pisou outro corpo e ele quase caiu. Olhou para o chão. Aos seus pés, estava Dhuoda, com o corpo retorcido como se tivesse tentado fugir aos golpes dos seus agressores. Com um gemido de dor, Geraldo caiu de joelhos ao lado do corpo da filha. Tocou-a docemente, acariciando o seu belo e macio cabelo de criança, dispondo os seus membros de forma a que ela ficasse numa posição menos grotesca. Beijou-lhe a face e passou a sua mão sobre os seus olhos vazios, fechando-os. Estava tudo errado. Deveria ter sido ela a prestar-lhe aquela última homenagem a ele.
Com um pressentimento sinistro, levantou-se e continuou a sua busca cruel através dos corpos espalhados. Joana devia estar ali algures, entre os outros, tinha de a encontrar.
Atravessou a nave, fixando todos os rostos frios e mortos, reconhecendo em cada um deles as feições de um companheiro, de um vizinho ou de um trabalhador. Mas, não encontrou Joana.
Será que ela tinha conseguido escapar, miraculosamente?
Seria possível? Geraldo mal se atrevia a ter esperança.
Recomeçou a procurar.
- Senhor! Senhor!
Fora da catedral, ouviam-se vozes aflitas. Geraldo chegou à porta quando o resto dos homens se aproximaram, a cavalo.
- Normandos, senhor! Ao pé do rio! A carregarem as suas embarcações...
Mas, Geraldo já tinha saído, correndo na direcção de Pistis.
Galoparam a toda a brida em direcção ao rio. Os cascos dos seus cavalos ribombavam na terra seca do caminho. Não pensaram na surpresa que poderiam ter, entorpecidos pela dor, só pensavam em vingar-se.
Depois de uma curva, viram um navio comprido e bem equipado, com uma grande proa em madeira com a forma de uma cabeça de dragão, com uma grande boca e longos dentes. A maior parte dos normandos já tinha embarcado, mas ainda havia um grupo na margem, a guardarem o navio, enquanto era carregado o resto dos despojos.
Com um grande grito de guerra, Geraldo avançou, erguendo a sua espada. Os seus homens seguiram-no de perto. Os normandos apeados deitaram-se à água ou puseram-se a correr em todas as direcções, vários foram pisados pelos cascos dos cavalos.
Geraldo ergueu a sua azagaia, apontando ao normando que estava mais perto, um gigante de barba amarela, com um elmo dourado.
O gigante virou-se, levantou o seu escudo e a azagaia caiu sobre ele, fazendo um barulho surdo.
De repente, o ar encheu-se de setas, os normandos ripostavam. Pistis empinou-se furiosamente, depois, tombou, atingida num olho por uma seta. Geraldo saltou para o chão, mas caiu mal, ferindo-se na perna esquerda. Desembainhou a espada e correu, coxeando, na direcção do gigante, que procurava arrancar a azagaia do seu escudo. Geraldo pôs o pé na ponta da azagaia, atirando-a ao chão, e puxou o escudo do normando para baixo, atirando-o para longe. O gigante olhou para Geraldo, surpreendido, e levantou o seu machado, mas, era tarde de mais, de um só golpe, Geraldo trespassou-lhe o coração. Sem esperar sequer que ele caísse, Geraldo rodopiou e atingiu outro normando, rachando-lhe a cabeça. Os salpicos de sangue mancharam o rosto de Geraldo e ele pestanejou para conseguir ver. Estava no centro da luta. Levantou a sua espada, golpeando tudo à sua volta, desesperadamente, deixando explodir as emoções que tinha controlado nas últimas horas, num delírio de morte e de sangue.
- Estão a fugir! Estão a fugir!
Os gritos dos seus homens soaram aos ouvidos de Geraldo, ele olhou para a margem e viu o navio com cabeça de dragão a levantar ferro, com a sua vela vermelha desfraldada ao vento.
Os normandos fugiam.
Um cavalo baio, sem cavaleiro, dançava nervosamente a alguns passos dele. Geraldo montou-o. O cavalo entrou em pânico, mas Geraldo dominou-o. O cavalo virou-se rapidamente e cavalgou para a margem. Com um grito para que os homens o seguissem, Geraldo cavalgou pela água dentro. Da sela, pendia uma lança por usar. Geraldo pegou nela e atirou-a com uma força tal que quase foi projectado por cima do pescoço do cavalo. A lança cortou o ar com a sua ponta em metal brilhando ao sol e caiu na água, perto da mandíbula do dragão.
No navio, ouviu-se uma explosão de risos. Os normandos insultavam-nos na sua língua áspera. Dois deles levantaram no ar uma trouxa dourada para se divertirem. Só que não era uma trouxa: era uma mulher que pendia no meio deles, inanimada, uma mulher de cabelo castanho.
- Gisla! - gritou Geraldo, desesperado, ao reconhecê-la.
O que fazia ela ali? Devia estar em casa, a salvo, com o marido.
Levantando um pouco a cabeça, Gisla gritou:
- Pai! Paaaaaai!
O grito dela ressoou nas fímbrias do seu ser.
Geraldo esporeou o cavalo, mas ele relinchou e recuou, recusando-se a avançar nas águas profundas. Ele golpeou-o com a espada nos flancos traseiros, para o obrigar a obedecer, mas, isso só serviu para o assustar ainda mais, saltou furiosamente, de patas levantadas. Um cavaleiro menos treinado teria sido projectado, mas Geraldo aguentou-se com determinação, lutando para dobrar o cavalo à sua vontade.
- Senhor! Senhor!
Os homens de Geraldo rodearam-no, agarrando as rédeas e puxando-o para trás.
- Não vale a pena, senhor! - Grifo, o lugar-tenente de Geraldo falou-lhe alto ao ouvido. - Não podemos fazer mais nada.
As velas vermelhas do navio normando tinham começado a flutuar, enfunando-se, à medida que o navio deslizava rapidamente, afastando-se da margem. Não havia forma de o perseguir, não havia barcos, mesmo que Geraldo e os seus homens soubessem navegá-los, a arte da navegação há muito que tinha sido esquecida na terra dos francos.
Entorpecido, Geraldo deixou que Grifo levasse o cavalo para a margem. O grito de Gisla continuava a ressoar nos seus ouvidos. Paaaaaai! Estava perdida, irremediavelmente perdida.
Havia relatos de jovens que tinham sido levadas durante as incursões cada vez mais frequentes dos normandos ao longo da costa do Império, mas Geraldo nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado...
Joana! O pensamento atingiu-o com a força de uma seta, roubando-lhe a respiração. Também a tinham levado! Os pensamentos desordenados de Geraldo rodopiavam, procurando outra possibilidade, mas não lhe surgiu nenhuma. Os bárbaros tinham raptado Joana e Gisla, tinham-nas roubado para as fazerem passar por horrores inenarráveis, e não havia nada, nada a fazer para as salvar.
Os seus olhos caíram num normando morto. Saltou do cavalo, pegou no machado de cabo comprido que o morto ainda tinha na mão e começou a golpear o cadáver. O corpo mutilado saltava a cada golpe. O elmo dourado partiu-se, mostrando o rosto imberbe de um rapazinho, mas Geraldo continuava a golpear, levantando o machado uma e outra vez. O sangue espirrava por todos os lados, manchando as suas vestes.
Dois dos seus homens aproximaram-se para o deter, mas Grifo fê-los recuar.
- Não - disse ele baixinho. - Deixem-no estar.
Geraldo acabou por largar o machado e caiu de joelhos cobrindo o rosto com as mãos. O sangue quente cobria-lhe as mãos, colando-as uma à outra. Começaram a subir-lhe soluços pela garganta, e ele nem sequer procurou resistir. Chorou copiosamente e sem vergonha.
Colmar, 24 de Junho de 833
O Campo das Mentiras
Anastácio desviou as pesadas cortinas que tapavam a entrada da tenda do Papa e entrou sorrateiramente.
Gregório, o quarto com o mesmo nome a ocupar o Trono de São Pedro, ainda estava a rezar, ajoelhado numa almofada de seda diante da bela figura de Cristo em marfim que ocupava o lugar de honra na sua tenda. A figura tinha sobrevivido incólume à perigosa viagem por estradas e pontes arruinadas, através das altas e traiçoeiras passagens dos Alpes.
Impressionava tanto, nesta tenda montada em terra de Francos, como na segurança e conforto da capela privada de Gregório, no Palácio de Latrão.
- Deus illuminatio mea, Deus optimus et maximus - rezava Gregório, com o rosto iluminado pela devoção.
Observando silenciosamente da porta, Anastácio perguntava-se se alguma vez teria sido tão sincero na sua fé. Talvez dantes, quando era pequeno. Mas, a sua inocência tinha morrido no dia em que o seu tio Teodoro tinha sido assassinado diante dos seus olhos, no Palácio de Latrão.
- Olha - tinha-lhe dito o pai, então - e aprende.
Anastácio tinha visto e tinha aprendido - tinha aprendido a esconder os seus verdadeiros sentimentos por trás de uma máscara de boas maneiras, tinha aprendido a manipular e enganar, mesmo a trair, se fosse necessário. E essa ciência tinha-se revelado proveitosa. Com dezanove anos, Anastácio já era vestiarius - o homem mais jovem que alguma vez já tinha chegado a um cargo tão elevado. Arsénio, o seu pai, tinha muito orgulho nele. Anastácio tencionava torná-lo ainda mais orgulhoso.
- Cristo Jesus, dai-me a sabedoria de que necessito neste dia - continuava Gregório. - Mostrai-me o caminho para impedir esta guerra ímpia e para reconciliar os filhos rebeldes com o imperador, seu pai.
Será possível que ele ainda não se tenha apercebido daquilo que vai acontecer hoje? Anastácio não podia crer. O Papa era tão inocente! Anastácio só tinha dezanove anos, menos de metade da idade de Gregório, mas sabia muito mais do mundo do que ele.
Ele não serve para Papa, pensou Anastácio, como já tinha pensado outras vezes. Gregório era uma alma piedosa, não havia dúvida, mas a piedade era uma virtude fora de moda. O homem tinha uma natureza mais adequada para a clausura do que para a corte papal, cujas políticas subtis estariam sempre fora do seu alcance. O que estaria o imperador Luís a pensar quando pediu a Gregório para fazer a longa viagem entre Roma e o Império dos Francos, para servir de mediador nesta crise?
Anastácio tossiu discretamente para atrair a atenção de Gregório, mas ele estava perdido em oração, fixando a imagem de Cristo com um olhar extasiado.
- Está na hora, Santidade.
Anastácio não hesitou em interromper as devoções do Papa. Gregório estava a rezar havia mais de uma hora e o imperador estava à espera.
Surpreendido, Gregório olhou à sua volta e, ao ver Anastácio abanou a cabeça em sinal de assentimento, benzeu-se e levantou-se, alisando a paenula púrpura em forma de sino que trazia por cima da dalmática papal.
- Vejo que procurastes apoio na imagem de Cristo, Santidade - disse Anastácio, ajudando Gregório a ajustar o pallium. - Eu também já senti o seu poder.
- Sim. É magnífico, não é?
- De facto. Especialmente, a beleza da sua cabeça, grande em proporção ao corpo. Lembra-me sempre a Primeira Epístola aos Coríntios: E a cabeça de Cristo é Deus. Uma expressão gloriosa da ideia de que Cristo combina na Sua pessoa ambas as naturezas, divina e humana.
Gregório sorriu aprovadoramente.
- Penso que nunca tinha ouvido esse pensamento expresso de uma forma tão correcta. Sois um belo vestiarius, Anastácio, a eloquência da vossa fé é uma inspiração.
Anastácio estava satisfeito. Um elogio destes da parte do Papa poderia significar outra promoção - a nomenclator, talvez, ou até mesmo primicerius. Ele era jovem, era verdade, mas estas altas honrarias não estavam fora da sua ambição.
Aliás, não eram senão estádios passageiros no caminho para a única ambição que Anastácio tinha na vida: vir ele próprio a ser Papa, um dia.
- Vós lisonjeais-me, Senhor - disse Anastácio, esperando que as suas palavras soassem com modéstia. - É a perfeição da escultura e não as minhas palavras inadequadas, que merece o vosso louvor.
Gregório sorriu.
- Ditas com verdadeira humilitas.
Pôs a mão em cima do ombro de Anastácio, afectuosamente, e disse com gravidade:
- É obra de Deus o que vamos fazer hoje, Anastácio.
Anastácio observou o rosto do Papa. Ele não desconfia de nada. Ainda bem. Era óbvio que Gregório continuava a acreditar que podia ser mediador de paz entre o imperador e os seus filhos, sem saber que havia um acordo secreto, preparado cuidadosa e silenciosamente por Anastácio, seguindo as instruções exactas do seu pai.
- A madrugada do dia de amanhã verá uma nova paz nesta terra conturbada - disse Gregório.
Isso é verdade, pensou Anastácio, apesar de a paz não ser aquela que desejais.
Se tudo corresse como planeado, na manhã do dia seguinte o Imperador acordaria para descobrir que as suas tropas tinham desertado de noite, deixando-o indefeso perante os exércitos dos seus filhos. Tinha sido tudo combinado e pago, nada daquilo que Gregório dissesse ou fizesse nesse dia interessaria minimamente.
Mas, era importante que a mediação papal ocorresse como planeado. A negociação com Gregório iria impedir o imperador de desconfiar e iria distrair a sua atenção nesta conjuntura crucial.
Era sensato encorajar Gregório.
- O que ides fazer hoje é da maior importância, Santidade - disse Anastácio - Deus aprová-lo-á e aprovar-vos-á.
Gregório assentiu:
- Eu sei, Anastácio. Agora, mais do que nunca.
- Gregório, o Pacificador, assim vos chamarão, Gregório, o Grande!
- Não, Anastácio - disse Gregório, desaprovadoramente - se eu for bem sucedido, será obra de Deus, não minha. O futuro do Império, do qual depende a segurança de Roma, está em jogo, hoje. Se formos bem sucedidos, será apenas graças à Sua ajuda.
A fé abnegada de Gregório fascinava Anastácio, que a considerava uma aberração da natureza, semelhante a possuir seis dedos numa mão. Gregório era um homem genuinamente humilde, pensou Anastácio -, mas também, tendo em conta os seus parcos talentos, tinha todos os motivos para ser humilde.
- Acompanhai-me à tenda do imperador - disse Gregório. Gostaria que estivésseis presente quando eu falar com ele.
Está tudo a correr às mil maravilhas, pensou Anastácio.
Quando tudo estivesse acabado, bastava-lhe regressar a Roma e esperar. Quando Lothar fosse coroado imperador no lugar do seu pai, ele saberia como recompensar Anastácio pelo que ele tinha feito aqui.
Gregório dirigiu-se para a entrada da tenda.
- Vinde, então. Vamos fazer o que deve ser feito.
Dirigiram-se para o campo aberto cheio de tendas e estandartes do exército imperial. Custava a crer que, na manhã seguinte, todo o tumulto colorido de actividade tivesse desaparecido. Anastácio tentou imaginar a cara de Luís, quando saísse da sua tenda e descobrisse que os campos diante dos seus olhos estavam vazios.
Passaram pela guarda real e chegaram à tenda imperial. À porta, Gregório parou para murmurar a última oração.
- Verba mea auribus percipe, Domine...
Anastácio olhava impacientemente, enquanto os lábios carnudos, quase femininos, de Gregório murmuravam silenciosamente o salmo número cinco:
- ... intende voci clamoris mei, rex meus et Deus meus...
Louco piedoso. Naquele momento, o desprezo de Anastácio pelo Papa era tão profundo que ele teve de fazer um esforço por manter um tom de voz respeitador.
- Vamos, então, Senhor?
Gregório levantou a cabeça.
- Sim, Anastácio, estou pronto.
Fulda
Sob o luar que preludiava a madrugada, os irmãos de Fulda desciam as escadas e caminhavam serenamente numa única fila através do pátio interior, a caminho da igreja, com as suas túnicas cinzentas confundindo-se com a escuridão. O único som que quebrava o silêncio profundo era o chinelar tranquilo das suas sandálias em pele, os próprios melros só acordariam muitas horas mais tarde. Os irmãos entraram no coro e, com a segurança de um velho hábito, dirigiram-se para os seus lugares para a celebração da vigília.
O irmão João Anglicus ajoelhou-se como os outros, dobrando os joelhos num movimento inconsciente, habitual para encontrar a posição mais confortável no chão de terra batida.
Domine labia mea aperies... Começaram com um versículo, depois, percorreram o salmo número três, segundo a forma estipulada na bendita regra de São Bento.
João Anglicus gostava do primeiro ofício do dia. A estrutura imutável da cerimónia deixava o seu espírito livre para vaguear, enquanto os lábios pronunciavam as palavras habituais. Havia vários irmãos a cabecearem com sono, mas João Anglicus sentia-se maravilhosamente acordado, com todos os sentidos despertos e alerta para o pequeno mundo iluminado pelas chamas trémulas das velas, rodeado da firmeza reconfortante daquelas paredes.
O sentimento de pertença, de comunidade era particularmente forte a esta hora da noite. Os contornos nítidos da luz do dia, que expunham tão rapidamente as personalidades, gostos e desgostos, lealdades e deslealdades de cada um, submergiam nas sombras mudas e no ressoar uníssono das vozes dos irmãos, abafadas e melódicas no ar tranquilo da noite.
Te Deum laudamus... João Anglicus cantava a Aleluia com os outros, com as suas cabeças redondas e calvas tão indistintas como sementes num saco.
Mas, João Anglicus não era como os outros. João Anglicus não pertencia a esta irmandade distinta e de renome. Não era por causa de nenhum defeito da mente ou de carácter. Tinha sido um golpe do destino ou de um Deus cruel e indiferente que tinha posto João Anglicus irremediavelmente à parte dos outros. João Anglicus não pertencia aos irmãos de Fulda porque João Anglicus, nascido Joana de Ingelheim, era uma mulher.
Tinham passado quatro anos desde que ela se tinha apresentado ao portão da abadia disfarçada como se fosse o seu irmão João. Chamaram-lhe Anglicus, por causa de o pai dela ser inglês e ela depressa se distinguiu mesmo entre esta irmandade de eruditos, poetas e intelectuais de elite.
As qualidades mentais que, como mulher, lhe tinham alcançado humilhação e desprezo, aqui eram apreciadas por todos. O seu brilhantismo, o seu conhecimento da Escritura e a argúcia de raciocínio nas disputas académicas tornaram-se motivo de orgulho para a comunidade. Ela era livre - não, encorajada - para trabalhar até ao limite das suas capacidades. Entre os noviços, ela foi rapidamente promovida a seniorus, isto deu-lhe ainda maior liberdade de acesso à famosa biblioteca de Fulda - uma colecção enorme de mais de trezentos e cinquenta manuscritos, incluindo uma colecção extraordinariamente requintada de autores clássicos - Suetónio, Tácito, Virgílio, Plínio, Marcelino, entre outros. Ela rodeava-se de pilhas de rolos, num transporte de prazer. Estava ali todo o conhecimento do mundo, segundo parecia, e era todo dela, se ela quisesse.
Tendo-a encontrado um dia a ler um tratado de São Crisóstomo, o prior José ficou surpreendido ao descobrir que ela sabia grego, conhecimento que nenhum outro irmão possuía.
Disse ao abade Rábano, que a colocou imediatamente a trabalhar na tradução da excelente colecção de tratados de medicina em grego, que a abadia possuía, estes incluíam cinco dos sete livros de aforismos de Hipócrates, o Tetrabiblios completo de Aécio, assim como fragmentos de obras de Dribásio e de Alexandre de Trales. O irmão Benjamim, médico da comunidade, ficou tão impressionado com o trabalho de Joana que a tornou sua assistente. Ensinou-lhe a cultivar e colher as plantas medicinais do jardim e a usar as suas diversas propriedades curativas: funcho para a obstipação, mostarda para a tosse, cerefólio para as hemorragias, absinto e folhas de salgueiro para a febre.
No jardim de Benjamim havia remédios para todos os males humanos possíveis e imaginários. Joana ajudava-o a fazer as diversas cataplasmas, purgas, infusões e curativos que eram baluartes da medicina do mosteiro e acompanhava-o à enfermaria para cuidar dos doentes. Era um trabalho fascinante, perfeitamente adequado ao seu espírito inquisitivo e analítico. Passava os dias ocupada e a trabalhar, entre os seus estudos e o trabalho com o irmão Benjamim, assim como entre os sinos que tocavam regularmente sete vezes ao dia, chamando a confraria para as orações canónicas. Havia uma liberdade e um poder nesta existência masculina que ela nunca tinha experimentado antes e Joana achava que gostava daquilo, gostava muito.
- Talvez não devesse estar a contar-te estas coisas todas porque vão fazer inchar a tua cabeça até o capuz deixar de lhe servir - tinha acabado de lhe dizer no dia anterior o bisbilhoteiro do velho Hatto, o porteiro, sorrindo, divertido para ela perceber que ele estava só a brincar. - Mas, ontem, ouvi o padre abade dizer ao prior José que tu tinhas a melhor cabeça da irmandade e que, um dia, trarias grandes honras a esta casa.
As palavras da velha cartomante da feira de São Dinis ecoaram nos ouvidos da Joana: Conhecerás uma glória muito para além das tuas expectativas., Seria isto que ela queria dizer?
A mulher tinha-lhe chamado quimera e tinha dito: És aquilo que não serás, o que tu serás é diferente daquilo que és. Isso é verdade, pensou Joana, apalpando a pequena mancha sem cabelo no alto da sua cabeça, quase escondida pelos espessos caracóis de cabelo dourado que a rodeava. O seu cabelo - o cabelo da sua mãe - era a única coisa de que Joana se envaidecia. Apesar disso, tinha ficado contente por ele ter sido rapado. A sua tonsura de monge, assim como a fina cicatriz deixada na sua cara pela espada normanda, reforçavam o seu disfarce masculino - um disfarce do qual dependia a sua vida.
Quando chegou a Fulda, cada dia era uma preocupação para ela porque não sabia se iria surgir um aspecto novo e inesperado da rotina monástica que desmascarasse subitamente a sua identidade. Esforçou-se por imitar os modos masculinos, mas tinha medo de se revelar em dezenas de pequenas coisas, apesar de nunca ninguém ter reparado.
Felizmente, a regra beneditina tinha sido estabelecida cuidadosamente, de forma a proteger a modéstia de todos os membros da comunidade, desde o abade ao mais humilde dos irmãos. O corpo, vaso pecaminoso, tinha de estar o mais escondido possível.
O longo e amplo hábito beneditino permitia-lhe disfarçar bastante bem as suas formas femininas, no entanto, como precaução suplementar, ela ligava o peito com faixas de linho grosso. A Regra de São Bento estipulava explicitamente que os irmãos dormissem vestidos e não mostrassem senão as mãos e os pés, mesmo nas noites mais quentes de Heuvimanoth. Eram proibidos os banhos, excepto para os doentes. Até mesmo as necessaria, latrinas comunitárias, preservavam a modéstia da irmandade, através de divisórias entre todos os assentos em pedra fria.
Quando adoptou pela primeira vez o seu disfarce, na estrada entre Dorstadt e Fulda, Joana aprendeu a estancar o sangramento mensal com uma cataplasma espessa de folhas absorventes, que enterrava depois. Na abadia, nem sequer era necessário tomar esta precaução. Limitava-se a deitar as folhas sujas pelos buracos fundos e escuros da necessaria, onde se misturavam indistintamente com outros excrementos.
Toda a gente em Fulda pensava que ela era um rapaz. Uma vez estabelecido o género de uma pessoa, ninguém pensava mais nisso, tinha concluído Joana. Ainda bem que era assim, porque a descoberta da sua verdadeira identidade significaria certamente a morte.
Foi esta certeza que a impediu de tentar contactar Geraldo, inicialmente. Não havia ninguém em quem pudesse confiar para lhe mandar uma mensagem e não havia forma de poder sair dali.
Como noviça, era observada de perto todas as horas do dia e da noite.
Tinha ficado acordada horas a fio no seu dormitório estreito, atormentada pela dúvida. Mesmo que conseguisse falar com Geraldo, será que ele a queria? Quando tinham estado juntos pela última vez, na margem do rio, ela tinha desejado que ele fizesse amor com ela - corava com a recordação - mas ele tinha-se recusado. Depois, a caminho de casa, ele tinha-se mostrado distante, quase como se estivesse zangado. Depois, tinha aproveitado a primeira oportunidade para se ir embora.
Não o devias ter levado tão a sério, tinha dito Richild. És apenas a última conta na longa cadeia de conquistas de Geraldo.
Será que Richild tinha razão? Na altura, não tinha conseguido acreditar, mas, talvez ela estivesse a dizer a verdade.
Seria absurdo arriscar tudo, incluindo a própria vida, para contactar um homem que não a queria ou que talvez nunca a tivesse querido. E, no entanto...
Estava em Fulda havia três meses quando testemunhou algo que a ajudou a tomar a sua decisão. Ia a passar pelo pátio com um grupo de noviços, seus colegas, dirigindo-se para o mosteiro, quando uma discussão acesa perto do portão do porteiro lhe chamou a atenção. Viu uma escolta de homens a cavalo a passarem, seguidos por uma senhora, vestida sumptuosamente com uma túnica em seda amarela, tão elegante e direita na sua sela como uma estátua de mármore. Era bonita, as suas feições eram delicadas e redondas e a sua pele branca estava enquadrada por um cabelo castanho, brilhante, que caía em catadupas, mas os seus olhos escuros e inteligentes tinham um ar misteriosamente triste.
- Quem é? - perguntou Joana intrigada.
- É Judite, a esposa do Visconde de Walfair - respondeu o irmão Rudolfo, o mestre de noviços. - Uma mulher instruída.
Dizem que sabe ler e escrever latim como um homem.
- Deo, juva nos - benzeu-se o irmão Gailo, amedrontado. - É uma bruxa?
- Tem reputação de ser muito piedosa. Até escreveu um comentário sobre a vida de Ester.
- Abominação - disse o irmão Tomás, um dos outros noviços. Era um jovem simples, com cara de melão, queixo pontiagudo e olhos pestanudos. Tomás estava convencido da superioridade da sua virtude e aproveitava todas as oportunidades para a exibir. - Uma grande violação da natureza. O que pode uma mulher, uma criatura de vis paixões, saber destas coisas? Deus castigá-la-á, certamente, pela sua arrogância.
- Já o fez - respondeu o irmão Rudolfo - porque, apesar de o visconde precisar de um herdeiro, a sua senhora é estéril. No mês passado, voltou a dar à luz outro bebé morto.
O cortejo de cavaleiros passou diante da igreja da abadia.
Joana viu Judite desmontar e aproximar-se da porta da igreja, caminhando solenemente e trazendo uma vela na mão.
- Não deveis ficar a olhar, irmão João - repreendeu-a Tomás, piedosamente.
Era frequente ele querer ficar bem visto aos olhos do irmão Rudolfo, à custa dos seus companheiros noviços.
- Um bom monge deve manter os olhos castamente baixos diante de uma senhora - disse ele, citando a regra, com ares de santo.
- Tens razão, Irmão - replicou Joana - Mas, nunca vi uma senhora como ela, com um olho azul e outro castanho.
- Não disfarces o teu pecado com a falsidade, irmão João. A senhora tem ambos os olhos castanhos.
- E como sabes tu isso, Irmão - perguntou Joana astuciosamente - se não olhaste para ela?
Os outros noviços começaram-se a rir. Até o irmão Rudolfo não foi capaz de disfarçar um sorriso.
Tomás olhou para Joana. Ela tinha-o feito passar por tolo e ele não era pessoa de esquecer uma injúria daquelas.
A sua atenção concentrou-se no irmão Hildwin, o sacristão, que correu a entrepor-se entre Judite e a igreja.
- A paz esteja convosco, senhora - disse ele, em franco vernáculo.
- Et cum spiritu tuo - respondeu ela docemente, num latim perfeito.
O irmão Hildwin voltou a dirigir-se a ela em vernáculo, propositadamente:
- Se desejais comida ou alojamento, estamos prontos a receber-vos e à vossa comitiva. Vinde, eu próprio vos acompanharei à hospedaria para visitantes distintos e informarei o nosso senhor Abade da vossa chegada. Ele quererá saudar-vos pessoalmente, não tenho dúvida.
- Sois muito gentil, Padre, mas eu não necessito de hospitalitas - voltou ela a responder em latim. - Desejo apenas acender uma vela na igreja, pelo meu bebé morto. Depois, seguirei o meu caminho.
- Ah! Então, é meu dever como sacristão desta igreja, informar-vos, filha, de que não podeis passar por estas portas enquanto ainda estiverdes - ele procurou a palavra adequada - impura.
Judite corou, mas não perdeu a compostura:
- Eu conheço a lei, Padre - disse ela, calmamente. - Esperei os trinta e três dias prescritos, após o parto.
- O bebé que destes à luz era uma menina, não era? - disse o irmão Hildwin com ar condescendente.
- Sim.
- Então, o tempo de... impureza... é mais longo. Não podeis entrar no recinto sagrado desta igreja senão sessenta e seis dias após o nascimento da criança.
- Onde está isso escrito? Não li essa lei.
- Nem é adequado que o tenhais feito, sendo uma mulher.
Joana começou a indignar-se com a afronta. Recordando-se daquilo por que ela própria tinha passado, sentiu a vergonha da humilhação por que Judite estava a passar. A instrução, a inteligência e a origem da senhora não valiam nada. O pedinte mais vil, mais ignorante e mais sujo podia entrar na igreja para rezar, mas Judite não podia, porque era impura.
- Voltai para casa, filha - continuou o irmão Hildwin - e rezai na vossa própria capela pela alma do vosso bebé por baptizar. Deus tem horror àquilo que é contrário à natureza.
Deixai a pena e pegai num fuso, que é um objecto apropriado à actividade feminina, arrependei-vos da vossa soberba e Ele retirará o fardo que vos impôs.
O rubor espalhou-se pelo rosto de Judite.
- Este insulto não ficará sem resposta. O meu marido saberá dele e não ficará satisfeito.
Tratou-se de uma tentativa de salvar a face porque a autoridade temporal do Visconde de Walfair não tinha qualquer peso ali, como ela bem sabia. De cabeça erguida, virou as costas e dirigiu-se para a sua escolta, que a aguardava.
Joana afastou-se do pequeno grupo de noviços.
- Dai-me a vela, senhora - disse ela, levantando a mão - eu acendê-la-ei por vós.
Pelos belos olhos negros de Judite perpassaram surpresa e desconfiança. Seria mais uma tentativa para a humilhar?
Durante um momento, as duas mulheres ficaram a olhar uma para a outra, Judite, o epítome da beleza feminina, na sua túnica dourada, com o seu cabelo comprido emoldurando o seu rosto, numa nuvem, e Joana, a mais alta das duas, com um ar arrapazado, sem qualquer adorno, com um simples hábito de monge.
Algo nos olhos verde-acinzentados que se cruzaram com os dela com tamanha intensidade persuadiu Judite. Sem uma palavra, colocou a vela na mão estendida de Joana. Depois, voltou a montar e atravessou o portão.
Joana acendeu a vela diante do altar, tal como tinha prometido. O sacristão estava furioso.
- Que descaramento intolerável! - disse ele.
E, nessa noite, para grande deleite do irmão Tomás, Joana foi obrigada a fazer jejum para expiar a sua falta.
Depois deste episódio, Joana decidiu que ia esquecer Geraldo. Nunca poderia ser feliz vivendo a existência limitada de uma mulher. Além disso, pensou ela, a sua relação com Geraldo não era o que ela pensava. Ela era apenas uma criança, inexperiente e ingénua, o seu amor tinha sido uma ilusão romântica nascida da solidão e da carência. Geraldo nunca a tinha amado, senão, não a teria deixado.
Aegra amans, pensou ela. Virgílio tinha toda a razão: o amor era uma forma de doença. Alterava as pessoas, fazia com que elas se comportassem de uma forma estranha e irracional.
Ela estava contente de ter acabado com aquilo. Nunca te entregues a um homem. Voltou a lembrar-se das palavras da mãe.
Tinha-as esquecido no fervor da sua paixão infantil. Agora, apercebia-se de como tinha tido sorte em escapar ao destino da sua mãe. Tantas vezes repetiu isso a si própria, que acabou por acreditar.
Os irmãos estavam reunidos na sala capitular, sentados nas gradines - filas de assentos em pedra ao longo das paredes da sala - por ordem de antiguidade. O capítulo era a assembleia mais importante do dia, à excepção dos ofícios porque era onde se tratava dos assuntos temporais da comunidade e onde se discutiam as questões relativas à gestão, aos dinheiros, às nomeações e aos litígios. Era também ali que os irmãos que tinham infringido a regra deviam confessar as suas faltas e receber as suas penitências, ou arriscarem-se a serem acusados pelos outros.
Joana ia sempre para o capítulo com um certo nervosismo.
Será que se tinha revelado inadvertidamente através de alguma palavra ou gesto incautos? Se a sua verdadeira identidade se revelasse alguma vez, seria ali que ela ficaria a sabê-lo.
O encontro começava sempre com a leitura de um capítulo da Regra de São Bento, o livro de regras monásticas que orientava a vida espiritual e administrativa da comunidade no dia-a-dia.
A regra era lida do princípio ao fim, um capítulo por dia, de forma que, ao longo de um ano, os irmãos ouviam-na na íntegra.
Depois da leitura e da bênção, o abade Rábano perguntou:
- Irmãos, tendes faltas a confessar?
Antes de ele ter terminado as palavras de exortação, o irmão Thedo levantou-se de um salto.
- Padre, eu tenho uma falta a confessar.
- De que se trata, Irmão? - perguntou o abade Rábano com um ar ligeiramente enfadado. O irmão Thedo era sempre o primeiro a acusar-se das suas faltas.
- Pequei na prática opus manuum. Adormeci no scriptorium, enquanto copiava a vida de Santo Amândio.
- Outra vez? - o abade Rábano ergueu uma sobrancelha.
Thedo baixou a cabeça humildemente.
- Padre, sou pecador e indigno. Peço-vos que me imponhais a pena mais dura.
O abade Rábano suspirou:
- Muito bem. Ficarás dois dias de penitência de pé em frente à igreja.
Os irmãos sorriram de esguelha. O irmão Thedo já tinha feito tantas vezes penitência à porta da igreja, que já parecia fazer parte da decoração, como uma coluna viva de remorso.
Thedo ficou desiludido.
- Sois demasiado caridoso, Padre. Peço autorização para fazer penitência durante uma semana por causa de ter cometido uma falta de tal gravidade.
- Deus não aceita o orgulho, Thedo, mesmo no sofrimento. Lembra-te disso, enquanto pedes o Seu perdão para as tuas outras faltas.
A reprimenda acertou em cheio. Thedo corou e sentou-se.
- Há outras faltas a confessar? - perguntou Rábano.
O irmão Hunric levantou-se.
- Cheguei duas vezes atrasado ao ofício da noite.
O abade Rábano acenou com a cabeça afirmativamente. O atraso de Hunric tinha sido notado, mas, como ele tinha admitido a falta e não tentou escondê-la, a sua penitência seria leve.
- Até ao dia de São Dinis, ficarás de vigília durante a noite.
O irmão Hunric baixou a cabeça. A Festa de São Dinis era dali a dois dias, nas duas noites seguintes, ele tinha de ficar acordado, a observar a evolução da Lua e as estrelas no céu para poder determinar com a maior exactidão possível a chegada da oitava hora da noite, para acordar os irmãos para a celebração da vigília. Estas vigílias eram essenciais para a observância estrita do ofício da noite porque o Sol era a única maneira de medir a passagem do tempo, e, como era evidente, não ajudava nada quando estava escuro.
- Durante a tua vigília - prosseguiu Rábano - ficarás de joelhos em oração incessante, sobre um monte de urtigas para te lembrares bem da tua indolência e para que isso te impeça de agravar a tua falta, voltando a adormecer.
- Sim, Padre Abade.
O irmão Hunric aceitou a penitência sem rancor. Para uma ofensa tão grave, o castigo podia ter sido muito pior.
Seguiram-se vários irmãos, que confessaram faltas tão insignificantes como partir pratos no refeitório, erros de escrita, enganos na oração, e todos receberam as respectivas penitências com humildade.
Quando terminaram, o abade Rábano fez uma pausa para ter a certeza de que ninguém mais desejava confessar-se. Depois, disse:
- Foram cometidas mais algumas infracções à regra? Que aqueles que falarem o façam para bem da alma dos seus irmãos.
Era esta a parte da reunião que Joana temia. Percorrendo as filas de irmãos, os seus olhos caíram no irmão Tomás. Os seus olhos pestanudos estavam a olhar para ela com uma hostilidade inequívoca. Ela mexeu-se no seu lugar, pouco à vontade. Será que ele vai acusar-me de alguma coisa?
Mas, Tomás não fez qualquer movimento para se levantar. O irmão Odilo, que estava sentado na fila de assentos mesmo por trás dele, levantou-se.
- No dia de jejum da sexta-feira, vi o irmão Hugo colher uma maçã do pomar e comê-la.
O irmão Hugo levantou-se, nervoso.
- Padre, é verdade que colhi uma maçã porque o trabalho de arrancar as ervas daninhas é duro e, de repente, eu senti uma grande fraqueza nas pernas. Mas, Santo Padre, eu não comi a maçã, só lhe dei uma dentadinha para recuperar forças, para poder continuar a opus mannum.
- A fraqueza da carne não é desculpa para a violação da regra - respondeu o abade Rábano severamente. - É uma provação mandada por Deus para testar a fortaleza de alma do fiel. Tal como Eva, a mãe do pecado, também tu não resististe à provação, irmão - uma falta grave, especialmente porque não procuraste ser tu a confessá-la. Em penitência, jejuarás uma semana e renunciarás a todas as pitanças até à Epifania.
Uma semana de fome e nada de pitanças - as pequenas guloseimas suplementares que acompanhavam a espartana dieta monástica constituída por verduras, leguminosas e, de vez em quando, peixe - até muito para além da Missa de Cristo! Esta última parte seria especialmente dura de suportar porque era durante esta época sagrada que as ofertas de comida chegavam à abadia, provenientes de toda a região, quando os cristãos, sentindo-se culpados, se preocupavam com o bem-estar das suas almas imortais. Bolos de mel, empadões, galinhas assadas e outras indulgências raras e maravilhosas, agraciavam brevemente as mesas da abadia. O irmão Hugo olhou maldosamente para o irmão Odilo.
- Mais - prosseguiu o abade Rábano - em sinal de gratidão pela atenção prestada pelo irmão Odilo ao teu bem-estar espiritual, prostrar-te-ás diante dele esta noite e lavar-lhe-ás os pés com humildade e reconhecimento.
O irmão Hugo baixou a cabeça. Faria, evidentemente, o que o abade Rábano lhe tinha ordenado, mas Joana duvidava que se sentisse agradecido. Os actos de penitência eram mais fáceis de cumprir do que o arrependimento de coração.
- Há mais faltas que necessitem de ser reveladas? - perguntou o abade Rábano. Como ninguém respondeu, ele disse, com gravidade:
- Desgosta-me participar que existe entre nós alguém que é culpado do pior de todos os pecados, um crime detestável aos olhos de Deus que está nos Céus...
O coração da Joana deu um salto, alarmado.
- ... a quebra do voto sagrado feito a Deus.
O irmão Gottschalk pôs-se de pé num salto.
- Foi o meu pai que fez o voto, não fui eu! - disse ele, com a voz a tremer.
Gottschalk era um jovem três ou quatro anos mais velho do que Joana, com cabelo escuro encaracolado e uns olhos tão fundos nas suas órbitas que pareciam duas nódoas negras. Tal como Joana, também ele era um oblato, que o seu pai, um nobre saxónio, tinha oferecido ao convento, em criança. Agora, que era adulto, queria sair.
- É lícito a um cristão dedicar o seu filho a Deus - disse o abade Rábano, num tom severo. - Essa oferta não pode ser retirada sem pecado grave.
- Não será que é igualmente pecado obrigar um homem a viver contra a sua natureza e a sua vontade?
- Se um homem não se arrepender, Ele brandirá a Sua espada - disse o abade Rábano, com voz forte. - Ele quebrou o Seu voto e preparou-se. Ele preparou-lhe os instrumentos de morte.
- Isso é uma tirania e não a verdade! - gritou Gottschalk apaixonadamente.
- Opróbrio! Pecador! Envergonhai-vos, Irmão!
O coro de assobios dos irmãos era pontuado por gritos insultuosos.
- Meu filho, a tua desobediência colocou a tua alma imortal em perigo grave - disse o abade Rábano solenemente. - Só existe um remédio para essa doença - nas justas e terríveis palavras do Apóstolo: Tradere hujusmodi hominem in interitum carnis, ut spiritussalvussit in diem Domini - tal homem tem de ser entregue para que a sua carne seja destruída, de modo a que o seu espírito ainda possa salvar-se no dia do Senhor.
A um sinal de Rábano, dois decani juniores, irmãos encarregados da disciplina monástica, pegaram em Gottschalk e empurraram-no para o meio da sala. Ele não ofereceu resistência e eles fizeram-no ajoelhar, arrancando-lhe as roupas, desnudando-lhe as nádegas e as costas. O irmão Germar, deão dos diáconos, foi buscar uma vara de salgueiro grossa, que se encontrava num canto da sala para aquele fim. Era uma vara comprida, com cordas com nós grossos na extremidade.
Colocando-se a jeito, levantou a vara e desferiu um golpe nas costas de Gottschalk. O som da chicotada ecoou na assembleia silenciosa.
As cicatrizes nas costas de Joana arrepiaram-se. A carne tem as suas próprias recordações, mais agudas do que as da mente.
O irmão Germar voltou a levantar a vara e a desfechá-la ainda com mais força. O corpo de Gottschalk vacilou, mas ele cerrou os lábios, recusando-se a dar ao abade Rábano a satisfação de o ouvir gritar. A vara voltou a erguer-se e a descer, a subir e a descer e Gottschalk continuava a não ceder.
Depois das habituais sete chicotadas, o irmão Germar baixou o braço. O abade Rábano, furioso, fez-lhe sinal para que ele continuasse. Com um ar surpreendido, o irmão Germar obedeceu.
Mais três chicotadas, quatro, cinco e depois ouviu-se um estalo horrível, quando a vara atingiu um osso. Gottschalk atirou a cabeça para trás e gritou - um grande grito, terrível, dilacerante, vindo do fundo do seu ser. O som lancinante ecoou, depois, deu lugar a um choro convulsivo.
O abade Rábano acenou com a cabeça, satisfeito, e fez sinal ao irmão Germar para ele parar. Quando levantaram Gottschalk e o levaram da sala, melhor, o arrastaram, Joana viu uma coisa branca a brilhar nas suas costas ensanguentadas. Era uma costela de Gottschalk que tinha perfurado completamente a carne.
A enfermaria estava mais vazia do que o costume porque o dia estava quente e ameno, e os idosos e os doentes crónicos tinham sido levados para apanharem um pouco de sol.
O irmão Gottschalk jazia na cama da enfermaria, meio inconsciente, com as suas feridas abertas a tingirem os lençóis de sangue. O irmão Benjamim, o médico, estava debruçado sobre ele, tentando estancar o sangue com a ajuda de algumas ligaduras em linho, já completamente ensopadas.
Levantou os olhos para a Joana, quando ela entrou.
- Ainda bem que chegaste. Dá-me algumas ligaduras da prateleira.
Joana apressou-se a fazer o que ele lhe tinha pedido. O irmão Benjamim desenrolou as ligaduras velhas, atirou-as para o chão e aplicou as novas. Ao fim de algum tempo, também estas estavam já ensopadas.
- Ajuda-me a virá-lo - disse Benjamim. - Da maneira como ele está deitado, o osso continua a retalhar-lhe a carne. Temos de voltar a colocar a costela no seu lugar, senão, ele não pára de sangrar.
Joana deu a volta à cama, colocando as suas mãos de forma a que bastasse um movimento rápido para devolver o osso ao lugar.
- Calma - disse Benjamim. - Apesar de ele estar meio inconsciente, vai doer-lhe muito. Quando eu disser, Irmão. Um, dois, três!
Joana exerceu o efeito de tracção, enquanto o irmão Benjamim puxava. Ele voltou a sangrar, depois, o osso desapareceu por baixo da carne rasgada.
- Deo, juva me! - Gottschalk levantou a cabeça, numa prece torturada, depois, perdeu os sentidos.
Eles estancaram o sangue e limparam as feridas de Gottschalk.
- Bem, irmão João, o que devemos fazer a seguir? - perguntou o irmão Benjamim à Joana, depois de terem acabado.
Ela respondeu rapidamente:
- Talvez aplicar um unguento... de artemísia, misturado com um pouco de poejo. Ensopar algumas ligaduras em vinagre e aplicá-las como emplastros curativos.
- Muito bem - Benjamim estava satisfeito. - Aplicaremos também um pouco de ligústica para evitar infecções.
Trabalharam lado a lado, preparando a solução, envolvidos pelo cheiro intenso das ervas acabadas de cortar, que pairava sobre as suas cabeças. Quando as ligaduras estavam impregnadas e prontas, Joana deu-as ao irmão Benjamim.
- É a tua vez de as colocares - disse ele.
Depois, pôs-se à parte, a apreciar como o seu jovem aprendiz apertou firmemente os horríveis pedaços de carne e colocou as ligaduras de uma forma correcta.
Aproximou-se para observar o paciente. As ligaduras tinham sido aplicadas de uma forma perfeita. Na realidade, ele não teria feito melhor. Mesmo assim, não gostava do aspecto do irmão Gottschalk. A sua pele, fria e flácida, quando tocada, estava branca como algodão acabado de colher. A sua respiração era irregular e a sua pulsação, que mal se apanhava, estava perigosamente rápida.
Vai morrer, concluiu o irmão Benjamim, desgostoso, e, logo a seguir, pensou: o padre abade vai ficar furioso. Rábano tinha-se excedido no capítulo e tinha consciência disso, a morte de Gottschalk serviria tanto como recriminação quanto como embaraço. E se a notícia chegasse ao rei Luís... bem, nem mesmo os abades estavam livres de serem censurados e despedidos.
O irmão Benjamim começou a pensar no que havia de fazer mais. A sua farmacopeia era inútil porque não podia administrar nada por via oral, nem sequer água para compensar os líquidos perdidos, enquanto o seu paciente estivesse inconsciente.
A voz de João Anglicus despertou-o dos seus devaneios.
- Devo acender a lareira e colocar algumas pedras a aquecer?
Benjamim olhou para o seu assistente surpreendido. Pôr pedras aquecidas e embrulhadas em flanela à volta do paciente era um procedimento médico habitual no Inverno, quando o frio podia ser superior às forças de um homem doente, mas, agora, nos últimos dias quentes do Outono...?
- O tratado de Hipócrates sobre as feridas - recordou-lhe Joana.
Ela tinha-lhe dado a sua tradução da brilhante obra do médico grego, havia apenas alguns meses.
O irmão Benjamim franziu o sobrolho. Ele gostava de ser médico e, dentro dos conhecimentos médicos limitados da época, era um bom médico. Mas, não era nenhum inovador, sentia-se mais à vontade com os remédios seguros, conhecidos, do que com ideias e teorias novas.
- O choque provocado por ferimentos graves - continuou Joana, mal conseguindo conter a impaciência. - Segundo Hipócrates, pode matar um homem com um frio penetrante.
- É verdade que já vi homens morrerem de repente, depois de terem sido feridos, apesar de as suas feridas não parecerem ser mortais - disse o irmão Benjamim, lentamente. - Deus vult, pensei eu, vontade de Deus...
O rosto inteligente do jovem João Anglicus irradiava expectativa, esperando permissão para agir.
- Está bem - concedeu o irmão Benjamim - acende a lareira, não é provável que faça qualquer mal ao irmão Gottschalk e pode ser que lhe faça bem, como diz o médico pagão.
Sentou-se num banco, grato por poder descansar as suas pernas que sofriam de artrite, enquanto o seu enérgico assistente corria pela sala para acender o lume e colocar as pedras sobre as brasas.
Quando as pedras já estavam quentes, Joana embrulhou-as em pedaços de flanela grossa e colocou-as cuidadosamente à volta de Gottschalk.
Pôs as duas pedras maiores por baixo dos pés dele, de forma a que estes ficassem um pouco elevados, tal como Hipócrates recomendava. Por fim, cobriu tudo com um cobertor em lã para manter o calor.
Pouco depois, as pálpebras de Gottschalk abriram-se, gemeu e começou a mexer-se. O irmão Benjamim aproximou-se da cama. A pele de Gottschalk tinha recuperado um tom rosado, saudável, e ele estava a respirar melhor. Tomando-lhe o pulso, verificou rapidamente que ele revelava um batimento forte e regular do coração.
- Deus seja louvado.
O irmão Benjamim suspirou, aliviado. Sorriu para João Anglicus, que se encontrava do lado oposto da cama. Ele tem dom, pensou o irmão Benjamim, com um orgulho quase paternal, ligeiramente tingido de inveja. O rapaz desde o princípio que se tinha revelado de um brilhantismo promissor - por isso é que Benjamim o tinha convidado para seu assistente - mas, nunca tinha esperado que ele fosse tão longe tão rapidamente.
Em apenas alguns anos, João Anglicus dominava as competências que o irmão Benjamim tinha levado uma vida inteira para adquirir.
- Tens o dom da cura, irmão João - disse ele com benevolência. - Hoje, foste mais longe do que o teu velho mestre, em breve, já não terei nada a ensinar-te.
- Não digas isso - respondeu Joana, desgostosa porque gostava muito de Benjamim. - Sei muito bem que ainda tenho muito que aprender.
Gottschalk voltou a gemer. Os seus lábios retorceram-se, deixando os dentes à mostra.
- Ele está a começar a sentir dores - disse o irmão Benjamim.
Apressou-se a fazer uma poção com vinho tinto e salva, na qual deitou umas gotas de sumo de papoila. Um preparado daqueles exigia o maior cuidado porque aquilo que administrado em pequenas quantidades fornecia um alívio abençoado para as dores mais insuportáveis, também podia matar. A diferença dependia apenas da habilidade do médico.
Quando terminou, o irmão Benjamim deu a taça a transbordar a Joana, que a levou à cama e a ofereceu a Gottschalk. Ele afastou-a, orgulhoso, apesar de aquele simples movimento o ter levado a soltar um grito de dor.
- Bebe, Irmão - insistiu Joana, gentilmente, e levou a taça aos lábios de Gottschalk.
- Tens de melhorar, se queres ganhar algum dia a tua liberdade - acrescentou ela num murmúrio conspirativo.
Gottschalk lançou-lhe um olhar surpreendido. Deu alguns goles, depois, começou a beber rápida e avidamente, como um homem que chega a um poço depois de caminhar durante um dia inteiro ao sol.
De repente, ouviu-se uma voz autoritária por trás deles:
- Não coloqueis a vossa esperança em ervas e poções.
Voltando-se, Joana viu o abade Rábano, acompanhado de um grupo de irmãos. Ela pousou a taça e levantou-se.
- O Senhor concede a vida aos homens e torna-os saudáveis. Só a oração pode devolver a saúde a este pecador.
O abade Rábano fez sinal aos irmãos, que rodearam a cama, silenciosamente.
O abade Rábano orientou-os na oração pelo doente. Gottschalk não se juntou a eles. Ficou imóvel, com os olhos fechados, como se estivesse a dormir, apesar de a Joana saber que, pela maneira como respirava, ele não estava a dormir.
O corpo dele sarará, pensou ela, mas não a sua alma ferida.
Joana teve pena do jovem monge. Ela compreendia a sua recusa teimosa em se submeter à tirania de Rábano porque se lembrava muito bem da sua própria luta titânica contra o seu pai.
- Oremos e agradeçamos a Deus.
A voz do abade Rábano elevava-se acima da dos outros irmãos.
Joana associou-se ao louvor a Deus, mas, interiormente, deu também graças ao pagão Hipócrates, adorador de ídolos, cujos ossos já se tinham transformado em pó muitos anos antes de Cristo ter nascido, mas cuja ciência tinha atravessado o tempo para curar um dos Seus filhos.
- As feridas estão a fechar muito bem - confirmou Joana a Gottschalk depois de ter retirado as ligaduras e de ter desnudado as suas costas para o observar.
Tinham passado duas semanas desde o dia da sua flagelação e a costela partida já tinha solidificado e os rebordos irregulares das feridas estavam a fechar bem - apesar de, tal como tinha acontecido com ela, também Gottschalk fosse ficar para sempre com as marcas do seu castigo.
- Estou-te grato pelo trabalho que tens tido, Irmão - respondeu Gottschalk -, mas, mais cedo ou mais tarde, vai voltar a ficar tudo na mesma porque é apenas uma questão de tempo até ele me mandar castigar outra vez.
- Só o provocarás se o enfrentares directamente. Uma abordagem mais discreta será melhor para ti.
- Desafiá-lo-ia, nem que fosse a última coisa que fizesse. Ele é mau - exclamou ele.
- Já pensaste em dizer-lhe que lhe entregarás a parte da terra a que tens direito, em troca da tua liberdade? - perguntou-lhe Joana.
Um oblato era sempre oferecido a um mosteiro juntamente com uma oferta de terra bastante substancial, se, depois, o oblato renunciasse aos seus votos, a terra ser-lhe-ia devolvida.
- Pensas que não lhe fiz já essa oferta? - respondeu Gottschalk. - Não é a terra que lhe interessa, sou eu, ou melhor, a minha submissão, de corpo e alma. E isso, ele nunca terá, nem que me mate.
Então, era uma medição de forças entre ambos! Gottschalk nunca venceria. Era melhor sair dali antes que acontecesse alguma coisa terrível.
- Tenho pensado no teu problema - disse Joana. - No mês que vem há um sínodo em Mainz. Os bispos da Igreja estarão todos presentes. Se submeteres uma petição reclamando a tua libertação, eles terão de a analisar - e a sua vontade sobrepor-se-á à do abade Rábano.
Gottschalk respondeu, num tom triste:
- O sínodo nunca contrariará a vontade do grande Rábano Mauro. Ele tem demasiado poder.
- Não seria a primeira vez que o poder de abades e mesmo de arcebispos seria vencido - argumentou Joana. - E tu tens um argumento forte pelo facto de teres sido oferecido como um oblato quando eras criança, antes de teres atingido a idade da razão. Eu fiz uma pesquisa na biblioteca e encontrei algumas passagens de Jerónimo que coadjuvarão um argumento desse tipo.
Joana puxou de um rolo de pergaminho que tinha escondido no hábito.
- Aqui está. Vê por ti mesmo - eu assentei tudo.
Os olhos escuros de Gottschalk iluminaram-se, ao ler. Levantou os olhos para ela, entusiasmado.
- É brilhante! Nem mesmo uma dúzia de rábanos podiam refutar uma argumentação tão bem construída!
Mas, os seus olhos voltaram a toldar-se.
- Mas... não tenho possibilidade de apresentar isto diante do sínodo. Ele nunca me dará autorização para me ausentar, nem que seja de dia, e muito menos para ir a Mainz.
- Burchard, o mercador de tecidos, pode levar a missiva por ti. Ele vem cá regularmente, por causa dos seus negócios. Eu conheço-o bem porque ele vem à enfermaria buscar um remédio para a sua mulher, que sofre de dores de cabeça. É um bom homem e podemos confiar que ele leva a petição a Mainz.
Gottschalk perguntou, desconfiado:
- Porque fazes isto? Joana encolheu os ombros:
- Um homem deve ser livre de viver a vida que escolhe. - E, para si própria, acrescentou, e o mesmo deveria poder fazer uma mulher.
Correu tudo como planeado. Quando Burchard veio à enfermaria buscar o remédio para a sua mulher, Joana entregou-lhe a petição, que ele meteu dentro do seu alforge, por uma questão de segurança.
Algumas semanas mais tarde, a abadia recebeu uma visita inesperada de Otgar, bispo de Trier. Depois das saudações formais no pátio, o bispo pediu uma audiência com o abade, nos seus aposentos.
As notícias que o bispo trazia eram espantosas: Gottschalk foi dispensado dos seus votos. Podia deixar Fulda quando quisesse.
Ele decidiu partir imediatamente, uma vez que não desejava permanecer nem mais um momento do que o necessário sob o olhar maligno de Rábano. Não havia problemas em fazer as malas, apesar de ter vivido toda a sua vida no mosteiro, Gottschalk não tinha nada que pudesse levar consigo porque um monge não podia ter quaisquer bens pessoais. O irmão Anselmo, o cozinheiro, arranjou um saco de comida para os primeiros dias de caminho, e foi tudo.
- Para onde vais? - perguntou Joana.
- Para Speyer - respondeu ele. - Tenho lá uma irmã casada, posso ficar uns tempos com ela. Depois... não sei.
Tinha lutado pela liberdade durante tanto tempo e com tão pouca esperança que não tinha parado para pensar o que faria se a conseguisse alcançar. Nunca tinha conhecido outra vida que não fosse a monástica, a sua rotina segura e previsível fazia parte dele, da mesma forma que a respiração. Apesar de ser demasiado orgulhoso para o admitir, Joana percebeu nos seus olhos que ele se sentia inseguro e tinha medo.
Os irmãos não se reuniram para uma despedida formal porque Rábano o tinha proibido. Apenas Joana e alguns outros irmãos, cuja opus mannum os fez terem de passar pelo pátio naquele momento, estavam presentes para ver Gottschalk a sair o portão, finalmente, um homem livre. Joana ficou a vê-lo a descer a rua. A sua figura esguia e alta foi-se sumindo, até desaparecer no horizonte.
Será que ele iria ser feliz? Joana esperava que sim. Mas, parecia um homem fadado para desejar sempre aquilo que não podia ter, para escolher para si próprio o caminho mais pedregoso e mais difícil. Ela iria rezar por ele, assim como por todas as outras almas tristes e atribuladas que tinham de percorrer sozinhas o caminho da sua vida.
No Dia de Todos os Santos, a irmandade de Fulda congregava-se no pátio para a separatio leprosorum, a liturgia solene que separava os leprosos do resto da sociedade. Naquele ano, tinham sido identificados na zona de Fulda sete daqueles desgraçados, quatro homens e três mulheres. Um deles era um jovem com cerca de catorze anos, ainda pouco marcado pelos sinais da doença; outro, era uma idosa de mais de sessenta anos cujos olhos sem pálpebras, a boca sem lábios e as mãos sem dedos atestava um estádio avançado da doença. Estavam todos cobertos com trapos negros e tinham sido reunidos no pátio, onde tinham formado um pequeno grupo.
A irmandade aproximou-se numa procissão solene. À frente, vinha o abade Rábano, vestido com toda a pompa, como era digno de um abade. À sua direita, vinha José, o prior, e à sua esquerda, o bispo Otgar. Atrás deles, vinha o resto da irmandade, por ordem de idades.
Dois irmãos leigos terminavam a procissão, puxando uma carroça cheia de terra do cemitério.
- Proíbo-vos de entrardes em qualquer igreja, moinho, padaria, mercado ou qualquer outro local de reunião. - O abade Rábano dirigia-se aos leprosos com toda a solenidade. - Proíbo-vos de usardes as estradas e caminhos comuns. Proíbo-vos de vos aproximardes de qualquer pessoa, sem tocardes os vossos sinos, em sinal de aviso. Proíbo-vos de tocar em crianças ou de lhes dar seja o que for.
Uma das mulheres começou a chorar. Tinha duas manchas de humidade na parte da frente da sua túnica de lã velha, à altura do peito. Uma mãe que amamenta, pensou Joana. Onde está o seu bebé? Quem irá tomar conta dele?
- Proíbo-vos de comerdes ou beberdes em companhia de alguém que não seja leproso, como vós - prosseguiu o abade Rábano. - Proíbo-vos de lavardes alguma vez as vossas mãos ou a vossa cara ou quaisquer outros objectos de vosso uso na margem do rio ou de qualquer fonte ou ribeiro. Proíbo-vos de conhecimento carnal com vossos esposos ou de qualquer outra pessoa. Proíbo-vos de gerarem filhos ou de os alimentardes.
O choro angustiado da mulher intensificou-se. As lágrimas corriam-lhe pela face ulcerada.
- Como vos chamais?
O abade Rábano dirigiu-se à mulher em vernáculo, com uma irritação mal disfarçada. O irromper inesperado das suas emoções estava a perturbar a simetria bem ordenada da cerimónia com a qual Rábano tinha esperança de impressionar o bispo. De facto, parecia que Otgar não tinha vindo a Fulda apenas para dar a notícia da dispensa de Gottschalk, mas também para observar e fazer um relatório da forma como Rábano governava a abadia.
- Madalgis - soluçou a mulher, em resposta. - Por favor, senhor, deixai-me voltar para casa porque tenho quatro órfãos à espera do seu jantar.
- O Céu se encarregará dos inocentes. Haveis pecado, Madalgis, e Deus castigou-vos - explicou Rábano com uma paciência teatral, como se estivesse a falar com uma criança. - Não deveis chorar, mas sim agradecer a Deus porque na vida que há-de vir, sofrereis menos.
Madalgis ficou fora de si, como se duvidasse se tinha ouvido bem. Depois, o seu rosto retorceu-se e recomeçou a chorar, mais alto ainda, com o rosto vermelho desde o pescoço até à raiz dos cabelos.
Estranho, pensou Joana.
Rábano virou as costas à mulher.
- De profundis clamavi ad te, Domine... - começou a oração pelos mortos. A irmandade acompanhou-o em uníssono.
Joana repetia as palavras mecanicamente, com os olhos postos em Madalgis.
Quando a oração terminou, Rábano passou para a parte final da cerimónia, na qual cada leproso seria separado do mundo.
Colocou-se diante do primeiro, o rapaz de catorze anos, com poucos sinais da doença.
- Sis mortuus mundo, vivens iterum Deo - disse o abade Rábano. - Estais morto para o mundo e vivo aos olhos de Deus.
Fez um sinal ao irmão Magenard, que enterrou uma pá na carroça, retirou um pouco de terra do cemitério e a atirou ao rapaz, sujando-lhe as roupas e o cabelo.
A cerimónia repetiu-se cinco vezes, terminando sempre com a terra a ser atirada. Quando chegou à vez de Madalgis, ela tentou fugir, mas os dois irmãos leigos taparam-lhe a passagem. Rábano fitou-a, com o sobrolho carregado.
- Sis mortuus mundo, vivens iter...
- Um momento! - gritou Joana.
O abade Rábano calou-se. Toda a gente se virou na direcção da interrupção inusitada.
Com todos os olhos postos nela, Joana avançou em direcção a Madalgis e examinou-a com um olhar rápido. Depois, virou-se para o abade:
- Padre, esta mulher não é leprosa.
- O quê? - Rábano esforçava-se por conter a sua cólera para que o bispo não a visse.
- Estas lesões não são devidas a lepra. Vede como a sua pele muda de cor, alimentada pelo sangue que se encontra por baixo dela. Esta infecção de pele não é infecciosa; pode ser curada.
- Se ela não é leprosa, então o que provocou estas úlceras? perguntou Rábano.
- Podem ter sido provocadas por várias coisas. É difícil dizer sem outros exames. Mas, seja qual for a sua origem, uma coisa é certa: não é lepra.
- Deus assinalou esta mulher com a manifestação visível do pecado. Não devemos desafiar a Sua vontade!
- Ela está marcada, mas não com a lepra - respondeu Joana com firmeza. - Deus deu-nos o conhecimento para discernirmos entre aqueles que Ele escolheu para carregarem este fardo e aqueles que Ele não escolheu. Será que Ele ficará satisfeito se condenarmos a uma morte em vida alguém que Ele próprio não escolheu?
Era um argumento inteligente. Consternado, Rábano reparou que os outros ficaram tocados por ele.
- Como sabemos se interpretaste correctamente a vontade de Deus? - argumentou ele. - Será o teu orgulho tão grande que sejas capaz de lhe sacrificar a tua irmandade? - porque para socorreres esta mulher, podes colocar-nos a todos em grande perigo.
Esta afirmação levantou um burburinho de preocupação. Nada, a não ser os inimagináveis tormentos do Inferno, inspirava mais horror, repulsa e medo do que a lepra.
Madalgis lançou-se aos pés de Joana, soltando um grito.
Tinha seguido a discussão sem compreender porque tanto Joana como Rábano tinham falado em latim, mas tinha-se conseguido aperceber de que Joana intercedia a seu favor e que a disputa não estava a correr bem.
Joana pousou a mão sobre o seu ombro, tanto para a acalmar, como para a fazer calar.
- Ninguém mais na irmandade tem de correr qualquer risco, para além de mim próprio. Com a vossa permissão, Padre, irei com ela para sua casa, levando os medicamentos necessários.
- Sozinho? Com uma mulher? - Rábano ergueu as sobrancelhas, com um horror piedoso. - João Anglicus, talvez a tua intenção seja inocente, mas és um jovem, sujeito às vis paixões da carne, por isso, como teu pai espiritual, é meu dever proteger-te.
Joana abriu a boca para responder, depois, fechou-a, frustrada. Ninguém estava mais a salvo da tentação com uma mulher do que ela, mas não havia forma de o poder explicar a Rábano.
A voz rouca do irmão Benjamim soou por trás dela:
- Eu acompanharei o irmão João. Sou velho, há muito que passou o tempo de ter essas tentações. Padre, podeis confiar no irmão João, quando ele diz que a mulher não é leprosa porque, se ele fala com tanta certeza, é porque tem razão. A sua competência nestes assuntos é muito grande.
Joana lançou-lhe um olhar agradecido. Madalgis agarrou-se a ela. Os seus gritos foram temperados por um choro silencioso, reconfortado pela Joana.
O abade Rábano hesitou. O que ele queria era dar uma valente reprimenda a João Anglicus pela sua desobediência presunçosa.
Mas, o bispo Otgar estava a ver, Rábano não podia parecer intransigente ou impiedoso.
- Muito bem - disse ele, contrariado. - Irmão João, depois das vésperas, tu e o irmão Benjamim acompanhareis esta pecadora e fareis o que pode ser feito em nome de Deus para a curar do seu mal.
- Obrigado, Padre - disse Joana.
Rábano fez o sinal da cruz sobre eles.
- Que Deus, na Sua bondade misericordiosa, vos proteja do mal.
A mula transportando os sacos de medicamentos caminhava vagarosa e calmamente, indiferente ao sol poente. A cabana de Madalgis ficava a cerca de cinco milhas de caminho; a este passo lento, teriam de se esforçar muito para conseguirem chegar antes de escurecer.
Joana bateu na mula, impaciente. Para a satisfazer, a mula deu cinco ou seis passos mais rápidos, depois, regressou confortavelmente ao seu passo original.
Enquanto caminhavam, Madalgis falava com a energia nervosa que se segue frequentemente a um grande susto. Joana e Benjamim ficaram a saber toda a sua triste história. Apesar de parecer pobre, ela não era nenhuma colona, mas sim uma mulher livre cujo marido tinha obtido o título de independência a troco de uma herdade com cerca de doze hectares. Após a sua morte, ela tentou sustentar a família trabalhando ela própria na terra, mas este esforço heróico tinha sido truncado abruptamente pelo seu vizinho, o senhor Rathold, que cobiçava a próspera propriedade. O senhor Rathold tinha chamado a atenção do abade Rábano para os trabalhos de Madalgis, que a proibiu, sob pena de excomunhão, de voltar a fazer fosse o que fosse.
- É sacrilégio uma mulher fazer o trabalho de um homem - tinha-lhe dito ele.
Para não morrer à fome, Madalgis viu-se obrigada a vender a propriedade e a sua casa ao senhor Rathold por muito menos do que ela valia, recebendo em troca apenas alguns soldos e uma pequena cabana numa povoação próxima, com um pedacinho de pastagem para as suas vacas.
Ela tinha começado a fazer queijo, assim, tinha conseguido garantir uma subsistência mínima, trocando os frutos do seu trabalho por outra comida e outras coisas necessárias.
Quando avistou a sua casa, Madalgis gritou de contentamento e correu à frente, desaparecendo rapidamente no seu interior.
Joana e o irmão Benjamim entraram alguns minutos mais tarde e descobriram-na quase submersa por uma confusão de crianças, todas rindo, chorando e falando ao mesmo tempo. Ao verem os dois monges entrar, as crianças gritaram assustadas e rodearam Madalgis para a protegerem, temendo que ela lhes fosse levada.
Madalgis falou com eles e eles voltaram a sorrir, apesar de observarem os dois estranhos com curiosidade.
Entrou uma mulher com dois bebés ao colo. Fez uma vénia respeitosa aos dois monges, depois, apressou-se a entregar uma das crianças a Madalgis, que lhe pegou, alegremente, e lhe deu o peito, que ela começou a sugar esfomeada. A outra mulher parecia uma senhora de mais de cinquenta anos, mas Joana reparou que, embora a sua face estivesse marcada pelas preocupações, não era assim tão velha -. talvez não tivesse mais de vinte e nove ou trinta anos.
Ela tem amamentado o bebé de Madalgis juntamente com o seu, compreendeu Joana. Reparou, com pena, no peito caído e no abdómen inchado da mulher e no tom pálido pouco saudável da sua pele. Joana já tinha visto aqueles sintomas: as mulheres tinham frequentemente o primeiro filho com treze ou catorze anos e, daí para a frente, viviam num estado de gravidez permanente, trazendo ao mundo um bebé atrás de outro com uma regularidade terrível. Não era raro uma mulher ter vinte ou trinta gravidezes durante a sua vida - apesar de, inevitavelmente, algumas terminarem rapidamente em aborto.
Quando uma mulher chegava à mudança de idade - se é que vivia até lá chegar porque o parto implicava riscos consideráveis - o seu corpo estava gasto, o seu espírito abatido pela exaustão. Joana tomou nota mentalmente para não se esquecer de fazer um tónico de raiz de carvalho e de salva para fortalecer a mulher contra o Inverno que se aproximava.
Madalgis trocou algumas palavras com o seu filho mais velho, um rapazote de doze ou treze anos. Ele dirigiu-se para a porta e voltou pouco depois com uma fatia de pão e um pedaço de queijo raiado de azul, que ofereceu à Joana e ao irmão Benjamim. O irmão Benjamim pegou no pão, mas recusou o queijo porque era óbvio que ele tinha bolor. Joana também teve nojo do queijo, mas para agradar ao rapaz, partiu um pedacinho e meteu-o na boca. Para sua surpresa, ele sabia muito bem - era rico, aromático, espantosamente saboroso - muito melhor do que qualquer queijo que aparecia nas mesas em Fulda.
- Mas, é delicioso!
O rapaz sorriu.
- Como te chamas? - perguntou-lhe ela.
- Arn - respondeu ele timidamente.
Enquanto comia, Joana observou o ambiente. A casa de Madalgis era uma cabana pequena, sem janelas, feita em ripas cruzadas, cobertas com lama e revestida com palha e folhas.
Havia grandes rachas nas paredes, através das quais entrava, agora, o ar frio da noite, levantando o fumo do lume térreo. A um canto, havia um curral para os animais; dali a um mês, Madalgis traria para ali as suas vacas, para o Inverno - prática comum entre os pobres. Assim, não só protegia o seu precioso sustento, como também traria uma bem precisa fonte suplementar de calor para aquecer a casa. Infelizmente, para além do calor do seu corpo, os animais também traziam doenças: carraças, moscas, mosquitos e uma série de outros vermes, que se entranhavam na palha que cobria o chão e nas enxergas. Os mais pobres andavam sempre cobertos de mordidas e infecções, facto documentado nas igrejas locais, cujas paredes apresentavam representações de Job, com o corpo coberto de úlceras, raspando as chagas com uma faca.
Alguns - e Joana suspeitava que Madalgis era um deles - desenvolviam fortes e estranhas alergias às mordidas dos insectos. A sua pele inchava em grandes chagas que, irritadas pelas roupas de tecido grosseiro e pela lã suja, acabavam por infectar.
Mas, o teste ao diagnóstico de Joana tinha de esperar, porque, agora, estava completamente escuro. Amanhã, pensou Joana, antes de adormecer, começamos amanhã.
No dia seguinte, limparam a pequena cabana de cima a baixo.
A palha velha que cobria o chão foi retirada e o chão em terra foi completamente varrido. As enxergas foram queimadas e substituídas por enxergas em palha nova. Até mesmo o telhado em colmo, que tinha começado a apodrecer com a idade, foi substituído.
A parte mais difícil era convencer Madalgis a tomar um banho. Como todos os outros, ela limitava-se a lavar regularmente a cara, as mãos e os pés, mas, a ideia de uma imersão total era-lhe estranha, aliás, considerava-a mesmo perigosa.
- Vou apanhar gripe e vou morrer! - gritou ela.
- Morres, se não o fizeres - respondeu Joana com firmeza. - A existência de um leproso é a morte em vida.
Os ventos frios de Herbistmanoth tinham tornado demasiado frio o ribeiro que corria por trás do prado para tomar banho.
Tiveram de ir buscar água e aquecê-la ao lume para, depois, a deitarem no tanque da roupa. Enquanto os dois monges lhe viravam as costas, Madalgis entrou no tanque, apesar de contrariada e lavou-se com sabão e água.
Depois do banho, Madalgis vestiu uma túnica nova lavada, que Joana tinha pedido ao irmão Conrad, o despenseiro, prevendo que ia ser necessária. Em linho fino, não era suficientemente quente para Madalgis passar o Inverno, mas era muito mais macia e menos irritante para a pele do que a lã.
Depois de lavada, com a casa liberta de vermes e brilhando do telhado até ao chão, Madalgis começou imediatamente a melhorar. As suas lesões secaram e ela começou a mostrar sinais de cura.
O irmão Benjamim estava extasiado.
- Tinhas razão! - disse ele a Joana. - Não é lepra! Temos de voltar e mostrar aos outros!
- Mais alguns dias - disse Joana, prudentemente. - Não pode haver qualquer dúvida de que ela está curada, quando regressarmos.
- Mostra-me outra. - pediu Arn.
Joana sorriu. Nos últimos dias tinha ensinado ao rapaz o método clássico de computação digital, de Beda, e ele tinha-se mostrado um estudante apto e esforçado.
- Primeiro, tens de me mostrar que te lembras daquilo que eu já te ensinei. O que representa isto?
Ela levantou os últimos três dedos da sua mão esquerda.
- As unidades - disse o rapaz, sem hesitação.
- E estes - levantou o polegar esquerdo e o dedo indicador - são decimais.
- Muito bem. E na mão direita?
- Estes representam as centenas e estes, os milhares. - Levantou os dedos adequados para exemplificar.
- Muito bem, escolhe dois números.
- Doze, que é a minha idade. E... - pensou durante alguns momentos - trezentos e sessenta e cinco, que é o número de dias de um ano! - disse ele, orgulhoso em mostrar mais outra coisa que tinha aprendido.
- Doze vezes trezentos e sessenta e cinco. Vejamos... - os dedos de Joana moveram-se rapidamente, mostrando o total. - São quatro mil, trezentos e oitenta.
Arn bateu as palmas, encantado.
- Experimenta tu - disse Joana, repetindo a operação mais devagar para que ele tivesse tempo de imitar cada um dos seus gestos. Depois, mandou-o repeti-los sozinho.
- Excelente! - disse ela, depois de ele o ter feito.
Arn sorriu, encantado com o jogo e com o elogio. Depois, o seu rostinho ficou sério.
- Até onde sois capaz de contar? - perguntou ele. - Podeis fazê-lo com uma centena e um milhar? Com... um milhar e outro milhar? Joana acenou que sim. - Toca no peito assim... vês?
Isto faz dezenas de milhar. E se tocares na tua coxa, assim, obténs centenas de milhar. Portanto - os seus dedos voltaram a mexer-se - mil e cem vezes duas mil e trezentas é... dois milhões, quinhentos e trinta mil!
Os olhos de Arn abriram-se de espanto. Os números eram tão grandes que ele nem sequer conseguia imaginá-los.
- Mostrai-me outro! - pediu ele.
A Joana riu-se. Gostava de ensinar o rapaz porque ele absorvia o conhecimento sofregamente. Lembrava-lhe ela própria, quando criança. Que pena que esta chispa de inteligência esteja destinada a extinguir-se na escuridão da ignorância, pensou ela.
- Se eu conseguisse tratar de tudo - disse ela -, gostarias de estudar na escola da abadia? Podias continuar a aprender lá - não só números, mas também a ler e a escrever.
- A ler e a escrever? - repetiu Arn, maravilhado.
Estas habilidades extraordinárias estavam reservadas a sacerdotes e a grandes senhores, não a pessoas como ele.
Perguntou, ansiosamente:
- Tenho de me tornar monge?
Joana estava divertida. Arn tinha a idade em que os rapazes começam a desenvolver um forte interesse pelo sexo oposto, a ideia de uma vida de castidade era compreensivelmente aberrante para ele.
- Não - disse ela. - Estudarias na Escola Externa, a que é para estudantes leigos. Mas isso quereria dizer que tinhas de sair de casa e ir viver para a abadia. E tinhas de estudar muito porque o professor é muito rigoroso.
Arn não hesitou um momento que fosse.
- Oh, sim! Sim, por favor!
- Muito bem. Amanhã, regressamos a Fulda. Eu falarei com o professor.
- Finalmente! - o irmão Benjamim suspirou de alívio.
À sua frente, onde a estrada pedregosa se fundia com o horizonte, erguiam-se as muralhas cinzentas de Fulda, enquadradas pelas duas torres da igreja da abadia.
O pequeno grupo de viajantes tinha passado por uma viagem cansativa desde a cabana de Madalgis e a humidade tinha agravado o reumatismo de Benjamim, transformando cada passo num tormento.
- Já falta pouco - disse Joana. - Daqui a uma hora, podereis pôr os pés à lareira num quarto quente.
À distância, o repicar dos sinos anunciava a chegada deles - ninguém se aproximava das portas de Fulda sem ser anunciado.
Ao ouvir os sinos, Madalgis apertou nos braços o seu bebé, nervosa. Tinha sido difícil a Joana e ao irmão Benjamim convencerem-na a regressar à abadia, mas, ela tinha acabado por concordar, mas só com a condição de os filhos a poderem acompanhar.
A irmandade estava reunida no pátio para os receber, alinhados cerimoniosamente por ordem de importância, com o abade Rábano de cabelo grisalho e majestosamente de pé, à frente.
Madalgis encolheu-se com medo, escondendo-se por trás de Joana.
- Aproxima-te - disse Rábano.
- Está tudo bem, Madalgis - tranquilizou-a Joana. - Faz como o padre abade te diz.
Madalgis avançou e ficou de pé, a tremer, no meio de estranhos. Um suspiro de espanto perpassou as fileiras dos irmãos, quando a viram. Os nódulos abertos e ulcerosos e as lesões tinham desaparecido, à excepção de algumas marcas secas e a fechar, a pele bronzeada do seu rosto e dos seus braços estava limpa e lisa, cheia de saúde. Não havia qualquer dúvida: mesmo o mais inexperiente podia dizer que a mulher que estava diante de si não era leprosa.
- Ó maravilhoso sinal da graça! - exclamou o bispo Otgar em louvor. - Tal como Lázaro, ela foi trazida da morte para a vida!
A irmandade reuniu-se em círculo, empurrando o pequeno grupo de viajantes, triunfalmente, na direcção da igreja.
O facto de Joana ter curado Madalgis foi considerado nada menos do que um milagre. Fulda encheu-se de louvores a João Anglicus. Quando o irmão Aldwin, um dos irmãos mais velhos e um dos dois padres da comunidade, morreu durante o sono, a irmandade não tinha muitas dúvidas acerca de quem lhe devia suceder.
Mas, o abade Rábano era de uma opinião diferente. João Anglicus tinha uma natureza demasiado frontal e presunçosa para o seu gosto. Rábano preferia o irmão Tomás, que, apesar de se saber que era menos brilhante, era muito mais previsível - qualidade que Rábano apreciava.
Mas, a decisão cabia ao bispo Otgar. O bispo sabia que Gottschalk tinha estado à beira da morte por causa de ter sido castigado, acontecimento que se reflectiu negativamente no prestígio de Rábano. Se Rábano preterisse João Anglicus a favor de um irmão menos qualificado, podiam levantar-se questões acerca do seu serviço na abadia. E se o rei recebesse um relatório negativo acerca dele, ele podia ser retirado da abadia - o que era impensável. Era melhor ser prudente na escolha de quem seria padre, pensou Rábano - pelo menos, de momento.
Anunciou no capítulo:
- Como vosso pai espiritual, o direito de nomeação de um padre de entre vós pertence-me. Depois de muita oração e reflexão, decidi escolher um irmão habilitado para o cargo em virtude dos seus grandes conhecimentos: o irmão João Anglicus.
Ouviu-se um murmúrio de aprovação entre a irmandade. Joana corou de excitação. Eu, padre! Ser admitida aos mistérios sagrados, administrar os santos sacramentos!
Tinha sido a ambição do pai para Mateus e, depois de Mateus ter morrido, para João. Que ironia se essa ambição acabasse por se concretizar através da sua filha!
Sentado do outro lado da sala, o irmão Tomás olhou, sombriamente, para Joana. Este sacerdócio é meu, pensou ele, amargamente. Fui eu o escolhido de Rábano, não foi o que ele disse há umas semanas atrás?
O facto de João Anglicus ter curado a mulher leprosa tinha mudado tudo. Era ultrajante. Madalgis não era ninguém, era uma serva, ou pouco mais. Que diferença fazia se ela tivesse ido para a leprosaria, vivido ou morrido? Tanto fazia!
Que o prémio fosse para João Anglicus era uma humilhação amarga. Tomás tinha-o detestado desde o princípio - odiava a sua rapidez de raciocínio, que ele tinha sentido na pele tantas vezes, odiava o à-vontade com que ele dominava as suas lições. Essas coisas não tinham sido fáceis para Tomás. Ele tivera de estudar como um escravo para aprender as fórmulas latinas e decorar os capítulos da regra. Mas, o que faltava a Tomás em brilhantismo tinha ele em persistência e no esforço que punha nas práticas piedosas. Quando terminava as refeições, tinha o cuidado de poisar a sua faca e o seu garfo perpendicularmente, em homenagem à Santa Cruz. Nunca bebia o seu vinho de uma vez, como os outros, mas em três golos de cada vez, reverentemente, numa piedosa ilustração do milagre da Trindade. João Anglicus não se preocupava com tais actos de devoção.
Tomás olhou para o seu rival, com um ar tão angelical com o seu cabelo dourado. Que o Inferno o consuma nas suas chamas, a ele e ao ventre maldito que o gerou!
O refeitório ou sala de jantar dos monges era uma sala com quarenta pés de largura e cem pés de comprimento, amplo, para acomodar ao mesmo tempo os trezentos e cinquenta irmãos de Fulda. Com sete janelas altas na parede sul e seis na parede norte, voltadas na direcção da luz do Sol ao longo de todo ano, era uma das salas mais agradáveis do mosteiro. As amplas vigas de madeira e as traves-mestras que suportavam as vigas ostentavam pinturas coloridas com cenas da vida de São Bonifácio, patrono de Fulda, estas contribuíam para aumentar a impressão de brilho e luz, pelo que a sala, tanto agora, nos dias frios e curtos do Heilagmanoth, como nos dias de Verão, era um espaço acolhedor e agradável.
Era a hora nona e os irmãos estavam reunidos no refeitório para jantar, a primeira das duas refeições quotidianas. O abade Rábano estava sentado a uma comprida mesa em forma de U, cujo centro se encontrava do lado da parede oriental.
Estava rodeado de doze irmãos à sua esquerda e doze irmãos à sua direita, representando os apóstolos de Cristo. Sobre as longas mesas encontravam-se pratos simples com pão, legumes e queijo. Os ratos corriam pelo chão de terra batida, por baixo da mesa, à procura de migalhas caídas.
De acordo com a Regra de São Bento, os irmãos tomavam sempre as suas refeições sem falarem uns com os outros. O silêncio rigoroso só era quebrado pelo tilintar do metal das facas e dos copos e pela voz do leitor da semana, que ficava de pé, no púlpito, lendo uma passagem dos Salmos ou da Vida dos Padres.
- Tal como o corpo mortal necessita de comida terrena - gostava de dizer o abade Rábano - assim também a alma deve prover ao seu sustento espiritual.
A regula taciturnitis - ou regra do silêncio - era um ideal elogiado por todos, mas respeitado por poucos. Os irmãos tinham engendrado um esquema complicado de gestos e expressões faciais através das quais comunicavam durante as refeições.
Era possível desenvolver longas conversas através deste sistema, especialmente quando o leitor era fraco, como era o caso naquele dia. O irmão Tomás lia com uma voz lenta e com tanto sotaque que se perdia completamente a cadência poética dos Salmos, para obviar às suas poucas capacidades, Tomás lia alto. A sua voz feria os ouvidos da irmandade. O abade Rábano pedia frequentemente ao irmão Tomás para ler, preferindo-o aos leitores do mosteiro mais capacitados porque, como ele dizia, uma voz demasiado doce convida o demónio a entrar no coração.
- Pssst.
Um bichanar abafado chamou a atenção de Joana. Levantando os olhos do seu prato, viu o irmão Adalgar a fazer-lhe sinais do outro lado da mesa.
Ele levantou quatro dedos. O número simbolizava um capítulo da Regra de São Bento, um veículo frequente para este tipo de comunicação fraterna, que favorecia as referências enigmáticas e as circunlocuções.
Joana recordou-se das frases iniciais do capítulo quarto: Omnes supervenientes hospites tamquam Christus suscipiantur, dizia ele. Que todos os que chegam sejam recebidos como Cristo.
Joana percebeu imediatamente o que o irmão Adalgar queria dizer. Tinha chegado uma visita a Fulda - alguém importante, ou o irmão Adalgar não se teria dado ao trabalho de o mencionar. Fulda recebia para cima de doze visitantes por dia, ricos e pobres, peregrinos bem vestidos e peregrinos andrajosos, viajantes cansados que vinham porque sabiam que ninguém os mandaria embora, que, ali, encontrariam repouso, abrigo e comida por alguns dias, antes de continuarem o seu caminho.
A curiosidade de Joana aguçou-se.
- Quem? - perguntou ela, silenciosamente, erguendo um pouco as sobrancelhas.
Nesse momento, o abade Rábano fez sinal e os irmãos levantaram-se da mesa todos ao mesmo tempo, alinhados por ordem de antiguidade. Ao saírem do refeitório, o irmão Adalgar foi ter com ela.
- Parens - murmurou ele e apontou para ela. - Parentes teus.
Joana seguiu a irmandade, saindo do refeitório com o passo calmo e comedido, assim como com a expressão plácida, adequada a um monge de Fulda. Não havia nada na sua expressão exterior que traísse a sua profunda agitação.
Será que o irmão Adalgar tinha razão? Será que algum parente seu tinha vindo a Fulda? A sua mãe ou o seu pai? Parens, tinha dito Adalgar, o que podia significar uma coisa ou a outra. E se fosse o pai dela? Não esperaria encontrá-la a ela, mas sim ao seu irmão, João. Joana ficou assustada com este pensamento.
Se o pai descobrisse a sua impostura, de certeza que a denunciaria logo.
Mas, talvez fosse a sua mãe. Gudrun não trairia o seu segredo. Ela compreenderia que essa revelação custaria a vida a Joana.
Mamã. Há dez anos que Joana não a via e, quando se separaram, tinha sido difícil. De repente, Joana desejou mais do que tudo ver o rosto familiar e amado de Gudrun, desejou abraçá-la e que ela a abraçasse, ouvi-la falar no ritmo cadenciado da Língua Antiga.
O irmão Samuel, o irmão hospitaleiro, interceptou-a, quando ela ia a sair do refeitório.
- Estás dispensado das tuas obrigações desta tarde, veio alguém para te visitar.
Dividida entre a esperança e o medo, Joana não disse nada.
- Não fiques tão sério, Irmão, não é o Diabo que vem buscar a tua alma imortal.
O irmão Samuel riu-se com vontade. Era um homem de bom coração, jovial, amigo de gracejos e de graças. O abade Rábano tinha-o castigado anos a fio por causa das suas qualidades pouco espirituais, mas, tinha acabado por desistir e por o nomear hospitaleiro, uma função cujas tarefas mundanas de receber e cuidar dos visitantes se adequava perfeitamente ao irmão Samuel.
- Está aqui o teu pai - disse Samuel alegremente, satisfeito por dar uma boa notícia. - Está à tua espera no jardim.
O medo estilhaçou a máscara de impassibilidade de Joana. Ela recuou, abanando a cabeça:
- Não irei vê-lo. Eu... eu não posso.
O sorriso desapareceu dos lábios do irmão Samuel.
- Ora, Irmão, não pode ser. O teu pai viajou desde Ingelheim até aqui para falar contigo.
Ela tinha que encontrar uma explicação.
- As coisas não estão bem entre nós. Nós... discutimos... quando eu saí de casa.
O irmão Samuel passou o braço pelo seu ombro:
- Eu compreendo - disse ele, num tom condescendente. Mas, ele é teu pai e veio de muito longe. Será uma obra de caridade falar com ele, nem que seja só por breves momentos.
Incapaz de encontrar um argumento contra isto, Joana ficou em silêncio.
O irmão Samuel tomou o seu silêncio por aquiescência.
- Anda. Vou levar-te até ele.
- Não! - ela sacudiu o braço com que ele a abraçava.
O irmão Samuel estava espantado. Esta não era forma de se dirigir ao hospitaleiro, um dos sete ofícios da abadia aos quais se devia obediência.
- O teu espírito está perturbado, Irmão - disse ele asperamente. - Precisas de orientação espiritual. Discuti-lo-emos no capítulo de amanhã.
O que posso fazer?, pensou Joana consternada. Seria difícil, se não mesmo impossível, esconder do pai a sua verdadeira identidade. Mas, uma discussão no capítulo seria catastrófica.
Não havia desculpa para o seu comportamento. Se se descobrisse a sua desobediência, como tinha sido descoberta a de Gottschalk...
- Nonnus, perdoa - disse ela, utilizando o título de respeito devido a um irmão mais velho - a minha falta de temperança e de humildade. Apanhaste-me de surpresa e, na minha confusão, esqueci o meu dever para contigo. Peço-te perdão, com toda a humildade.
Era uma boa desculpa. O ar sério do irmão Samuel dissolveu-se num sorriso, ele não era homem para guardar ressentimentos.
- Estás perdoado, Irmão. Anda. Iremos juntos para o jardim.
Enquanto saíam do mosteiro, passando pelos armazéns de víveres, pelo moinho e a estufa de secagem, Joana avaliava rapidamente as suas hipóteses.
Da última vez que o pai a tinha visto, ela era uma criança de doze anos. Tinha mudado muito nos dez anos seguintes. Talvez ele não a reconhecesse. Talvez...
Chegaram ao jardim com os seus canteiros semeados em filas rectilíneas - treze ao todo. O número tinha sido escolhido cuidadosamente para simbolizar a sagrada congregação de Cristo e dos Doze na Última Ceia. Cada canteiro tinha exactamente sete pés de largura, isso também tinha um significado, uma vez que sete era o número de dons do Espírito Santo, o que simbolizava a plenitude de todas as coisas criadas.
O seu pai estava ao fundo do jardim, de costas para eles, entre canteiros de mastruço e de cerefólio. O seu corpo atarracado, o seu pescoço grosso e a posição resoluta foram imediatamente familiares a Joana. Ela escondeu bem a sua cabeça dentro do capuz volumoso, de maneira a cobrir bem o cabelo e, tanto quanto possível, o rosto.
Ao ouvir os seus passos a aproximarem-se, o cónego virou-se.
O seu cabelo escuro e as suas sobrancelhas fartas, que tinham despertado, em tempos, tanto terror a Joana, estavam completamente grisalhos.
- Deus tecum - o irmão Samuel deu um empurrãozinho encorajador à Joana. - Deus esteja contigo.
Depois, deixou-os.
O seu pai atravessou o jardim hesitante. Era mais baixo do que ela pensava, ela reparou, com surpresa, que ele utilizava uma bengala para se apoiar. Quando ele se aproximou, Joana virou-se e, sem falar, fez-lhe sinal para que ele a acompanhasse. Levou-o do sol do meio-dia, que brilhava a pique, para a capela sem janelas que ficava junto ao jardim, onde a escuridão era mais segura. Uma vez lá dentro, esperou que ele se sentasse num banco. Depois, sentou-se ela própria na outra ponta do banco, de cabeça baixa, de forma a que o capuz lhe escondesse o perfil.
- Pater Noster qui es in caelis, sanctificatur nomen tuum...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades