



Biblio VT





A ÁRVORE DO PÁTIO
No Pátio da Fonte, o Sol de Março brilhava através das jovens folhas de freixos e ulmeiros, a água erguia-se e voltava a tombar através de sombras e luz clara. Ao redor daquele pátio sem cobertura, erguiam-se quatro altos muros de pedra. Para além deles havia salas e outros pátios, passagens, corredores, torres e, finalmente, as pesadas muralhas exteriores da Casa Grande de Roke, capazes de suportar qualquer assalto bélico ou terremoto ou mesmo o próprio mar, pois não eram construídas apenas com pedra mas também de indisputável magia. Porque Roke é a Ilha dos Sages, onde é ensinada a arte mágica. E a Casa Grande é a escola e o centro da feitiçaria. E o centro da Casa é esse pequeno pátio, bem dentro das muralhas, onde a água da fonte dança e as árvores se erguem sob a chuva, o sol ou a luz das estrelas.
A árvore mais próxima da fonte, uma vetusta sorveira brava, fizera estalar e erguer o pavimento de mármore com as suas raízes. Veios de um musgo verde-claro enchiam as fendas, irradiando do trecho relvado que rodeava o tanque. Sentado sobre a ligeira elevação de mármore e musgo, um jovem seguia com o olhar a queda do jacto central da fonte. Era já quase um homem, mas ainda um rapaz. Era esguio, vestia ricamente e o seu rosto dir-se-ia moldado em bronze dourado, de tão finamente modelado e tão imóvel.
Por detrás dele, a uns cinco metros talvez, sob as árvores no outro extremo do pequeno relvado central, estava, ou parecia estar, um homem. Era difícil ter a certeza naquela alternância vacilante entre sombra e luz morna. Mas claro que estava, um homem vestido de branco, de pé e imóvel. Tal como o rapaz observava a fonte, assim o homem observava o rapaz. Para além do sussurrar das folhas e do correr da água no seu incessante cantar, não havia som nem movimento algum.
O homem avançou. Um sopro de vento agitou a sorveira e fez mover as suas folhas acabadas de abrir. O rapaz pôs-se em pé de um salto, ligeiro e sobressaltado. Voltou-se para o homem e fez-lhe uma reverência, dizendo:
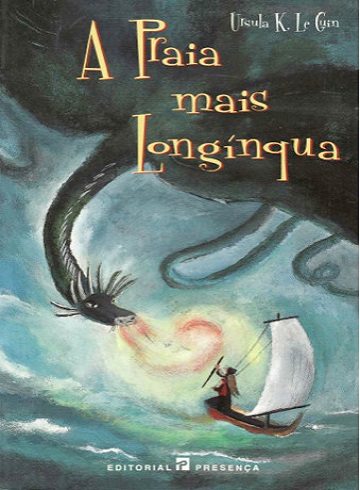
— Meu Senhor Arquimago.
O homem parou em frente dele, uma figura baixa, direita e vigorosa, envergando um manto com capuz, de lã branca. Acima das dobras do capuz, deitado para trás, o seu rosto era de um tom escuro avermelhado, de nariz adunco como bico de falcão e com uma face marcada de velhas cicatrizes. Os olhos eram brilhantes e intensos. Porém, quando falou, a sua voz era suave.
— É um sítio muito agradável para se estar, o Pátio da Fonte — disse. E logo, prevendo as desculpas do rapaz, acrescentou: — A tua viagem foi longa e não descansaste. Torna a sentar-te.
Ajoelhou no rebordo branco do tanque e estendeu a mão para o anel de gotas brilhantes que caíam da bacia mais alta da fonte, deixando que a água lhe escorresse entre os dedos. O rapaz voltou a sentar-se sobre as lajes erguidas e, durante um minuto, nenhum deles falou. Por fim, o Arquimago pronunciou:
— Tu és o filho do Príncipe de Enlad e das Enlades, herdeiro do Principado de Morred. Não há patrimônio mais antigo em toda Terramar, nem mais belo. Vi os pomares de Enlad na Primavera e os telhados dourados de Berila... Como te chamam?
— Chamam-me Arren.
— Essa deve ser uma palavra no dialeto da tua terra. E o que significa na nossa fala comum?
— Espada — respondeu o rapaz.
O Arquimago assentiu com um aceno de cabeça. De novo se fez silêncio e depois, sem atrevimento, mas também sem timidez, o rapaz comentou:
— Julgava que o Arquimago soubesse todas as línguas. — O homem abanou a cabeça, os olhos postos na fonte. — E todos os nomes...
— Todos os nomes? Só Segoy, que pronunciou a Primeira Palavra, e assim ergueu as ilhas das profundezas do mar, conhecia todos os nomes. É claro que — e o olhar brilhante e intenso pousou no rosto de Arren —, se eu precisasse de conhecer o teu nome verdadeiro, conhecê-lo-ia. Mas não preciso. Chamar-te-ei Arren e eu sou Gavião. Mas diz-me, como foi a tua viagem até aqui?
— Demasiado longa.
— Tiveste ventos contrários?
— Os ventos sopraram favoravelmente, mas as novas que te trago nada têm de favorável, Senhor Gavião.
— Pois conta-as, então — disse gravemente o Arquimago, se bem que, ao mesmo tempo, parecesse estar apenas a fazer a vontade a uma criança impaciente. E, enquanto Arren falava, voltou a olhar para a límpida cortina de gotas de água que caía da bacia superior para a inferior, não como se não escutasse, antes como se ouvisse algo mais que as palavras do rapaz.
— Como sabes, meu Senhor, o príncipe meu pai é versado em feitiçaria, sendo como é da estirpe de Morred e tendo passado um ano aqui, em Roke, na sua juventude. Tem pois algum poder e saber, embora só raramente faça uso das suas artes, dado que está mais voltado para a administração e ordenamento do seu reino, o governo das cidades e os assuntos de comércio. As frotas da nossa ilha navegam para ocidente, chegando mesmo à Estrema Oeste, de onde trazem safiras, peles de boi e estanho. Ora, no princípio deste Inverno, um comandante voltou à nossa cidade de Berila com uma história que acabou por chegar aos ouvidos do meu pai, de maneira que mandou vir o homem para que a contasse pessoalmente.
O rapaz falava depressa e com segurança. Via-se que fora educado por gente cortês e civilizada, e não se lhe notava o constrangimento habitual nos jovens.
— O comandante — prosseguiu ele —, contou que na ilha de Narveduen, que fica a umas quinhentas milhas a ocidente de nós segundo as rotas dos navios, deixara de haver magia. Ali, contou ele, os encantamentos não tinham poder e as palavras de feitiçaria estavam esquecidas. O meu pai perguntou-lhe se seria por todos os feiticeiros e bruxas terem deixado a ilha, ao que ele respondeu que não, que havia por lá alguns que tinham sido feiticeiros, mas já não faziam encantamentos, nem que fossem coisa tão mínima como um esconjuro para remendar uma chaleira ou encontrar uma agulha perdida. E o meu pai perguntou se as pessoas em Narveduen não estavam consternadas e, mais uma vez, o comandante respondeu que não, e que pareciam indiferentes ao fato. E a verdade, acrescentou ainda, é que a doença alastra-se entre eles, e a colheita de Outono foi escassa, e mesmo assim continuavam a não se inquietar. Disse — eu estava lá quando ele falou com o meu pai — disse assim: «Eram como gente doente, como um homem a quem tivessem anunciado que iria morrer dentro de um ano e que dissesse a si próprio que não era verdade, que iria viver para sempre. Andam para ali» disse ele, «sem verem o mundo.» Quando outros comerciantes regressaram, também eles repetiram a história, segundo a qual Narveduen se tornara uma terra pobre e perdera a arte da feitiçaria. Mas tudo isto não passava de meras histórias da Estrema, que são sempre estranhas, e só o meu pai lhes prestou atenção. Depois, no Ano Novo, pelo Festival dos Cordeiros que realizamos em Enlad, quando as mulheres dos pastores vêm à cidade, trazendo os primogênitos dos rebanhos, o meu pai encarregou o feiticeiro Rut de dizer os encantamentos de desenvolver sobre os cordeiros. Mas Rut regressou ao nosso salão muito angustiado, deitou por terra o bordão e disse: «Senhor, não consigo dizer os encantamentos.» O meu pai interrogou-o, mas ele não conseguia dizer senão: «Esqueci as palavras e como tecê-las.» De modo que o meu pai foi até à praça do mercado, disse ele próprio os encantamentos e o festival pôde ser completado. Mas vi-o voltar ao palácio nessa tarde, com um aspecto sombrio e fatigado, e confiou-me: «Disse as palavras, mas não sei se tinham algum significado.» E a verdade é que há problemas com os rebanhos esta Primavera, com as ovelhas a morrer de parto, e muitos cordeiros natimortos e alguns deles são... disformes.
Aqui, a voz fluente e animada do rapaz baixou subitamente de tom. E, ao pronunciar a palavra, fez um esgar e engoliu em seco.
— Eu vi alguns deles — acrescentou, fazendo uma pausa. Depois prosseguiu: — O meu pai acredita que este caso, e a história de Narveduen, mostram que há coisa má em ação na nossa região do mundo. E desejaria obter o conselho dos Sages.
— O fato de te ter enviado prova que esse desejo é urgente — disse o Arquimago. — És o seu único filho e a viagem de Enlad a Roke não é curta. Tens algo mais a dizer?
— Apenas histórias das velhotas que vivem nas colinas.
— E o que contam as velhotas das colinas?
— Que todas as previsões que as bruxas fazem, ao lerem a sina no fumo e nos charcos de água, lhes falam de desastres, e que os filtros de amor falham. Mas isso é gente sem verdadeiro saber em feitiçaria.
— Ler a sina e fazer filtros de amor são coisas de pouca monta, mas vale a pena ouvir o que dizem as velhotas. Bem, podes ter a certeza de que a tua mensagem será discutida pelos Mestres de Roke. Mas, Arren, eu não sei que conselho poderão dar a teu pai. Porque Enlad não é o primeiro território de onde nos chegam tais novas.
A viagem de Arren desde o Norte, passando para além da grande Ilha de Havnor e cruzando o Mar Interior até Roke fora a primeira que fizera. Só naquelas últimas e poucas semanas lhe fora dado ver terras que não pertencessem à sua própria pátria, o que lhe dera uma consciência da distância e da diversidade, forçando-o a reconhecer que havia um vasto mundo para lá das belas colinas de Enlad e muita gente nesse mesmo mundo. Ainda não se habituara a pensar em termos de tal vastidão, pelo que levou algum tempo a compreender. Mas então perguntou: Mais, onde? algo desanimado, pois tivera a esperança de regressar a Enlad com uma cura rápida para aquele mal.
— Primeiro, na Estrema Sul — informou o Arquimago. — Mais recentemente, também na parte sul do Arquipélago, em Uothort. Os homens dizem que já se não pratica magia em Uothort. É difícil ter-se a certeza. Há muito que essa terra é rebelde e dada à pirataria. Diz-se que dar ouvidos a um comerciante meridional é dá-los a um mentiroso. Porém a história que contam é sempre a mesma. Que, lá, secaram as fontes da magia.
— Mas aqui, em Roke...
— Aqui, em Roke, ainda não sentimos nada disso. Aqui estamos defendidos contra as tempestades, a mudança e todo o tipo de má sorte. Porventura, demasiado bem defendidos. Mas diz-me, Príncipe, que farás agora?
— Voltarei a Enlad quando puder levar a meu pai alguma indicação clara sobre a natureza deste mal e como remediá-lo.
Uma vez mais o Arquimago o olhou e desta feita, apesar de toda a sua educação, Arren baixou a vista. Fê-lo sem saber porquê, já que não havia vestígios de inimizade naqueles olhos escuros que o fitavam. Antes se mostravam imparciais, calmos e compassivos.
Em Enlad, todos respeitavam o seu pai e ele era o filho de seu pai. Nenhum homem o olhara alguma vez assim, não como Arren, Príncipe de Enlad e filho do Príncipe Soberano, mas apenas como Arren. Não lhe agradava pensar que temia o olhar do Arquimago, mas não conseguia sustentá-lo. Era como se alargasse o mundo ainda mais ao seu redor e agora não só Enlad ficara reduzida a uma coisa insignificante, como também ele próprio, de tal modo que, aos olhos do Arquimago, era apenas uma pequena figura, muito pequena, num vasto cenário de terras rodeadas pelo mar e sobre as quais impendia uma escuridão.
Quedou-se sentado, apanhando pedacinhos do musgo que crescia nas fendas das lajes de mármore, e por fim disse, ouvindo a própria voz, que só nos últimos dois anos engrossara, soar aguda e rouca:
— E farei o que me ordenares.
— O teu dever é para com o teu pai e não para comigo — disse o Arquimago.
Continuava a fitar Arren e o rapaz ergueu então os olhos para ele. Ao fazer o seu ato de submissão esquecera-se de si próprio e agora via o Arquimago. Via o maior feiticeiro de toda Terramar, o homem que tapara o Poço Negro de Fundaur e arrancara o Anel de Erreth-Akbe dos Túmulos de Atuan, que construíra o dique de Nepp com os seus alicerces nas profundezas do oceano, o navegante que conhecia os mares desde Astowell até Selidor, o único Senhor de Dragões ainda vivo. E ali estava ajoelhado junto a uma fonte, um homem baixo e que já não era jovem, um homem de voz calma e olhos tão profundos como o entardecer.
Arren pôs-se de pé para logo ajoelhar, precipitada e formalmente, sobre ambos os joelhos.
— Meu Senhor — pronunciou, gaguejante —, permite que te sirva.
A sua segurança desaparecera, tinha o rosto corado e a voz tremia-lhe na garganta.
Trazia à cinta uma espada, numa bainha de couro novo e muito trabalhada com enfeites de vermelho e ouro. A própria espada, porém, era muito simples, com um punho em cruz, de bronze prateado, muito gasto. Sempre com a mesma precipitação, Arren desembainhou-a e estendeu o punho para o Arquimago, como o faz um vassalo para o seu suserano.
Mas o Arquimago não estendeu a mão para tocar o punho da espada. Limitou-se a olhá-lo e depois para Arren, e disse:
— Essa espada é tua, não minha. E tu não és vassalo de homem algum.
— Mas o meu pai disse-me que eu devia permanecer em Roke até saber que mal é este e talvez adquirir alguma mestria... não tenho talento, nem penso ter qualquer poder, mas houve magos entre os meus antepassados... se de algum modo eu pudesse aprender a ser-te útil...
— Antes de serem magos — retorquiu o Arquimago —, os teus antepassados foram reis.
Ergueu-se e, aproximando-se de Arren com passadas firmes e silenciosas, tomou a mão do rapaz e fê-lo levantar-se.
— Agradeço-te a oferta de me servires — disse — e embora a não aceite agora, talvez o venha a fazer, quando tivermos obtido conselho sobre estes assuntos. A oferta de um espírito generoso não deve ser recusada levianamente. Nem deve ser descuidadamente posta de lado a espada do filho de Morred!... E agora vai. O moço que aqui te trouxe providenciará para que comas e te banhes e descanses. Vai lá.
E empurrou Arren levemente entre as omoplatas com uma familiaridade que ninguém antes tomara com ele e que o jovem príncipe teria levado a mal vinda de qualquer outra pessoa. Porém, o toque do Arquimago foi para ele como um frêmito de exultação. Porque Arren fora tomado de paixão.
Ele fora um rapaz ativo, adorando jogos, retirando orgulho e prazer dos talentos do corpo e do espírito, dotado para os seus deveres de cerimônia e governo, que não eram leves nem simples. No entanto, nunca se entregara totalmente a coisa alguma. Tudo lhe chegara facilmente às mãos e ele tudo fizera facilmente. Fora tudo sempre como um jogo e também como jogo encarara o afeto. Mas, agora, o que nele havia de mais profundo fora desperto, não por um jogo ou sonho, mas pela honra, o perigo, a sabedoria, por um rosto marcado de cicatrizes, uma voz calma e uma mão escura que, sem cuidar do poder que empunhava, segurava o bordão de teixo que ostentava perto da empunhadura, em prata embutida na madeira negra, a Runa Perdida dos Reis.
E assim é dado de uma só vez o primeiro passo para fora da infância, sem olhar em frente ou para trás, sem cautelas e sem a mínima reserva.
Esquecendo as despedidas corteses, Arren apressou o passo em direção à porta, desajeitado, radiante, obediente. E Gued, o Arquimago, quedou-se a vê-lo afastar-se.
Gued ficou ainda por algum tempo junto à fonte, debaixo da sorveira, e depois ergueu o rosto para o céu lavado pelo Sol. «Um tão amável mensageiro, para tão más novas», disse a meia voz, como se falasse com a fonte. Esta não lhe deu atenção, continuando antes a falar na sua própria língua de prata e, por algum tempo mais, ele a escutou. Depois, dirigindo-se para outra entrada que Arren não vira e que na verdade poucos olhos teriam descortinado por muito perto que dela estivessem, chamou:
— Mestre Porteiro.
Logo apareceu um homem pequeno e de idade incerta. Jovem não era, pelo que forçoso seria chamar-lhe velho, mas a palavra não lhe assentava bem. Tinha um rosto seco e da cor do marfim, com um sorriso agradável que lhe cavava longos sulcos curvos nas faces.
— O que se passa, Gued? — perguntou.
Isto porque estavam sós e ele era uma das sete pessoas no mundo que sabiam o nome do Arquimago. As outras eram: o Mestre dos Nomes de Roke; Óguion, o Silencioso, feiticeiro de Re Albi que, há muito tempo, na Montanha de Gont, dera a Gued esse nome; a Dama Branca de Gont, Tenar do Anel; um feiticeiro de aldeia, em Iffish, chamado Vetch; também em Iffish, a mulher de um carpinteiro, mãe de três raparigas, ignorante de tudo o que fosse feitiçaria mas cheia de sabedoria em outras coisas, e a quem chamavam Mil-em-Rama; e finalmente, do outro lado de Terramar, no extremo mais afastado a ocidente, dois dragões, Orm Embar e Keilessine[1].
— Temos de nos reunir esta noite — disse o Arquimago. — Vou falar com o Configurador. E contatarei com Kurremkarmerruk, a ver se ele põe de parte as suas listas, deixa os alunos descansados por uma noite e vem ter conosco em espírito, se não puder ser em carne e osso. Encarregas-te dos outros?
— Claro — respondeu o Porteiro com um sorriso e desapareceu. E depois também o Arquimago desaparecera e só ficou a fonte a falar consigo própria, toda serenidade e sem cessar, à luz do Sol do princípio de Primavera.
Algures para ocidente da Casa Grande de Roke, e freqüentes vezes também para sul dela, é onde geralmente se avista o Bosque Imanente. Não tem lugar nos mapas nem há vereda que o alcance, a não ser para aqueles que conhecem o caminho até ele. Mas mesmo os noviços, as gentes da vila e os camponeses o podem ver, sempre a uma certa distância, um bosque de árvores altas cujas folhas, mesmo na Primavera, apresentam uma sugestão de ouro no verde das suas folhas. E consideram — os noviços, os vilãos, os fazendeiros — que o Bosque se desloca para um e outro lado da mais mistificadora maneira. Mas aí enganam-se, pois o Bosque não se move. As suas raízes são as raízes do ser. É tudo o resto que se move.
Vindo da Casa Grande, Gued caminhou através dos campos. Tirou o seu manto branco, pois o Sol estava no zênite. Um camponês que lavrava a encosta castanha de uma colina ergueu o braço numa saudação e Gued correspondeu com gesto idêntico. No ar, ergueram vôo pequenos pássaros, cantando. Nos alqueives e ao lado das estradas a erva-fagulha estava a acabar de florir. Lá no alto, um falcão descreveu no céu um vasto círculo. Gued relanceou o olhar para cima e voltou a erguer o braço. Com as penas a sussurrar no vento, a ave caiu do alto, direta ao pulso que se lhe oferecia, rodeando-o com as suas garras amarelas. Não era nenhum simples gavião, mas um grande falcão Ender de Roke, um falcão pesqueiro com as asas listadas de branco e castanho. Olhou de lado o Arquimago, com um olho redondo, de um dourado claro, depois fez estalar o bico adunco e voltou a olhá-lo, mas agora de frente, com ambos os seus olhos redondos e de um dourado claro.
— Destemido — disse-lhe o Arquimago na língua da Criação. O grande falcão bateu as asas e firmou melhor as garras, sempre a fitá-lo.
— Vai pois, irmão, irmão destemido.
O fazendeiro, lá longe na encosta da colina, parara a observar a cena. Certa vez, no Outono anterior, vira o Arquimago acolher uma ave selvagem no seu pulso e logo, no momento seguinte, não vira homem algum, mas sim dois falcões a subirem no vento.
Porém, desta vez, separaram-se enquanto o lavrador os olhava e a ave subiu alto nos ares ao passo que o homem prosseguia o seu caminho pelos campos enlameados.
Gued chegou assim à vereda que conduzia ao Bosque Imanente, uma vereda que seguia sempre a direito, independentemente do modo como o tempo e o mundo se contorciam ao seu redor, e, tomando por ela, em breve se encontrava sob a sombra das árvores.
Os troncos de algumas delas eram enormes. Ao vê-los era finalmente possível acreditar que o Bosque nunca se movia. Eram como torres de tempos imemoriais, cinzentas com o passar dos anos, e as suas raízes eram como as raízes das montanhas. E no entanto destas, as mais antigas, algumas havia que poucas folhas ostentavam, que tinham ramos mortos. Não eram imortais. Entre as gigantes, cresciam árvores novas, altas e vigorosas, com belas copas de rica folhagem, e ainda outras que eram como plantas de viveiro, frágeis varinhas folhudas, pouco mais altas que uma garotinha.
O solo sob as árvores era macio e rico, com as folhas apodrecidas de todos os anos. Ali cresciam fetos e pequenas plantas próprias das zonas arborizadas, mas não havia senão uma única espécie de árvore, espécie que não tinha nome na língua Hardic de Terramar. Sob os seus ramos o ar cheirava a terra e a fresco, deixando um gosto na boca como o da água pura de nascente.
Numa clareira feita anos antes pela queda de uma árvore enorme, Gued encontrou o Mestre das Configurações, que vivia no interior do Bosque e só raramente ou nunca o abandonava. O seu cabelo era de um amarelo de manteiga, pois não era arquipelaguiano. Desde que o Anel de Erreth-Akbe fora restaurado, os bárbaros de Kargad tinham cessado as suas pilhagens e estabelecido alguns tratados de comércio e paz com as Terras Interiores. Não eram gente amigável e mantinham-se à parte. Mas de vez em quando lá sucedia que um jovem guerreiro ou o filho de um mercador vinha para ocidente sozinho, atraído pelo amor da aventura ou ansiando por aprender feitiçaria. Um desses fora o Mestre das Configurações que, dez anos antes, ainda um jovem selvagem de Karego-At, de espada à cinta e emplumado de vermelho, chegara a Gont numa manhã chuvosa e dissera ao Porteiro num Hardic imperioso e reduzido, «Vim aprender!». E agora ali estava, na luz de um ouro esverdeado sob as árvores, um homem alto e claro de compleição, com longos cabelos louros e estranhos olhos verdes, o Mestre das Configurações de Terramar.
Era bem possível que também ele soubesse o nome de Gued mas, a ser esse o caso, nunca o pronunciou. Ambos se cumprimentaram em silêncio.
— O que estás aí a olhar? — perguntou o Arquimago. E o outro respondeu:
— Uma aranha.
Entre duas longas folhas da erva que crescia na clareira, uma aranha fizera a sua teia, um círculo delicadamente suspenso. Os fios prateados refletiam a luz do Sol. No centro esperava a aranha, uma coisa de um negro acinzentado, pouco maior que a pupila de um olho.
— Também ela é uma configuradora — disse Gued, analisando a artística teia.
— O que é o mal? — perguntou o homem mais novo.
A teia redonda, com o seu centro negro, parecia observá-los a ambos.
— Uma teia que nós, homens, tecemos — respondeu Gued.
Naquele bosque não havia canto de aves. Estava silencioso e quente à luz do meio-dia. Ao redor deles erguiam-se as árvores e as sombras.
— Veio notícia de Narveduen e de Enlad. A mesma.
— Sul e Sudoeste. Norte e Noroeste — disse o Configurador, sem deixar de fitar a teia redonda.
— Viremos aqui esta noite. Este é o melhor lugar para o conselho.
— Não tenho conselho a dar.
O Configurador olhava agora para Gued e os seus olhos esverdeados eram frios.
— Tenho medo — acrescentou. — Há um temor. Há temor nas raízes.
— Verdade — assentiu Gued. — Temos de voltar os olhos para as nascentes profundas, penso eu. Demasiado tempo nos deleitamos com a luz do Sol, gozando-o nessa paz que o Anel, ao ser restaurado, nos trouxe, levando a cabo pequenas coisas, pescando em águas baixas. Mas esta noite temos de interrogar as profundezas.
E assim deixou o Configurador sozinho, fitando ainda a aranha na erva ensoalhada.
Na orla do Bosque, onde as folhas das árvores se estendiam para fora, sobre um solo comum, sentou-se com as costas apoiadas a uma poderosa raiz, o bordão deitado sobre os joelhos. Fechou os olhos como para repousar e lançou um envio do seu espírito por sobre as colinas e campos de Roke, para norte, até ao cabo avassalado pelo mar onde se ergue a Torre Isolada.
— Kurremkarmerruk — pronunciou ele em espírito. E o Mestre dos Nomes ergueu os olhos do espesso volume com nomes de raízes e ervas, de folhas e sementes e pétalas que estava a ler aos seus pupilos, dizendo: — Estou aqui, meu Senhor.
Depois aquele velho grande e magro, de cabeleira branca sob o seu capuz escuro, pôs-se a escutar. E os estudantes, sentados às suas escrivaninhas na sala da torre, ergueram a vista para ele e logo se entreolharam.
— Irei — disse Kurremkarmerruk e, inclinando de novo a cabeça para o livro, prosseguiu: — Ora a pétala da flor do alho-mágico tem um nome, que é iebera, e o mesmo quanto à sépala, que é partonat. E caule e folha e raiz têm cada um seu nome...
Mas sob a sua árvore o Arquimago Gued, que sabia todos os nomes do alho-mágico, recolheu o seu envio e, estendendo mais confortavelmente as pernas e mantendo os olhos fechados, acabou por se deixar adormecer sob a luz do Sol entrecortada pelas sombras das folhas.
OS MESTRES DE ROKE
É à Escola de Roke que os rapazes que mostram inclinação para a feitiçaria são enviados, de todas as Ilhas Interiores de Terramar, para aprender as mais altas artes da magia. Ali se tornam peritos nas várias formas de feitiçaria, aprendendo nomes, runas, talentos e encantamentos, e ainda o que se deve e não deve fazer e porquê. E ali, após longa prática, se mão, mente e espírito se desenvolvem a par, podem ser nomeados feiticeiros e receber o bordão do poder. Só em Roke se formam os verdadeiros feiticeiros.
Dado que há mágicos e bruxas em todas as ilhas e que o uso da magia é tão necessário às suas gentes como o pão e tão agradável como a música, a Escola de Feitiçaria é altamente considerada. Os nove magos que são os Mestres da Escola são encarados como iguais aos grandes príncipes do Arquipélago. O seu chefe, o guardião de Roke, o Arquimago, não é comparável a homem algum, a não ser o Rei de Todas as Ilhas, e mesmo isso só por um tributo de fidelidade, uma dádiva do coração, pois nem sequer um rei poderia obrigar tão extraordinário mago a reger-se pela lei comum, se outra fosse a sua vontade. E no entanto, mesmo nos séculos em que não houve reis, os Arquimagos de Roke mantiveram o seu preito e serviram essa lei comum. Tudo em Roke se fazia como se fizera durante muitas centenas de anos. Aquele parecia ser um lugar livre de qualquer perturbação e o riso dos rapazes ressoava pelos pátios ecoantes, ao longo dos largos e frios corredores da Casa Grande.
O guia de Arren pelos meandros da Escola era um rapaz entroncado cujo manto se apertava no pescoço com um fecho de prata, o testemunho de que cumprira o noviciado e era um mágico comprovado, estudando agora para obter o seu bordão. Chamavam-lhe Risco «porque», contava ele, «os meus pais tinham já seis filhas e a sétima criança, dizia o meu pai, tinha sido uma jogada de risco contra o Destino». Era um companheiro agradável, rápido de cabeça e de língua. Em qualquer outra ocasião, Arren ter-se-ia divertido com o seu humor, mas naquele dia tinha o espírito demasiado ocupado. A verdade é que nem lhe prestou muita atenção. E Risco, no seu natural desejo de que lhe reconhecessem a existência, começou a aproveitar-se da distração do hóspede. Contou-lhe fatos estranhos acerca da Escola, e depois estranhíssimas mentiras acerca da Escola, e a tudo isso Arren dizia «Sim, sim», ou «Estou a ver», até que Risco acabou por o tomar por um real idiota.
— É claro que aqui não se cozinha — disse ele, enquanto encaminhava Arren através das enormes cozinhas de pedra, animadas com o rebrilhar dos caldeirões de cobre, o estalar dos cutelos e o cheiro ativo e pungente das cebolas cortadas. — Isto é só teatro. Quando chegamos ao refeitório, cada um faz aparecer por magia o que quer comer. Também se poupa bastante na lavagem da louça.
— Sim, sim, estou a ver — disse Arren, delicadamente.
— É claro que os noviços que ainda não aprenderam os encantamentos se fartam de perder peso nos primeiros meses. Mas acabam por aprender. Temos cá um rapaz de Havnor que está constantemente a ver se consegue galinha assada, mas saem-lhe sempre papas de milho. Parece que não consegue aprender encantamentos acima das papas de milho. Mas ontem conseguiu também bacalhau seco, juntamente com as papas.
Risco já estava a ficar rouco com tanto esforço para levar o hóspede a demonstrar incredulidade. Desistiu e calou-se.
— De onde... de que terra é o Arquimago? — perguntou Arren, sem sequer olhar para a grandiosa galeria que iam atravessando, toda ela gravada nas paredes e no teto abobadado com a Árvore das Mil Folhas.
— De Gont — informou Risco. — Foi pastor de cabras, lá.
E então, perante aquele simples fato, conhecido de tantos, o rapaz de Enlad voltou-se para Risco e olhou-o com desaprovadora descrença.
— Um cabreiro?
— É o que são os gontianos na sua maioria, a não ser que se tornem piratas ou mágicos. Eu não disse que ele era um cabreiro agora, percebes?
— Mas como é possível um cabreiro vir a ser Arquimago?
— Do mesmo modo que um príncipe! Vindo a Roke e sobrepondo-se a todos os Mestres, roubando o Anel em Atuan, navegando pelo Passo do Dragão, sendo o maior dos feiticeiros desde Erreth-Akbe... Pois que de outra maneira havia de ser?
Saíram da galeria pela porta norte. O entardecer estendia-se, morno e claro, sobre as colinas estriadas pelos sulcos do arado e os telhados da Vila de Thwil, e ainda sobre a baía para além desta. Ali pararam a conversar e Risco disse:
— É claro que isso foi já há muito tempo. Desde que foi nomeado Arquimago, não tem feito grande coisa. Nunca fazem. Limitam-se a ficar em Roke a vigiar o Equilíbrio, penso eu. E agora já está muito velho.
— Velho? Com que idade?
— Oh, quarenta ou cinqüenta.
— Já o viste?
— Claro que já o vi — proferiu Risco secamente. O real idiota parecia ser também um realíssimo esnobe.
— Muitas vezes?
— Não. Ele está quase sempre sozinho. Mas quando cheguei a Roke vi-o, no Pátio da Fonte.
— Foi onde eu falei hoje com ele — disse Arren.
O seu tom de voz levou Risco a encará-lo e logo a dar-lhe uma resposta mais completa.
— Foi há três anos. E eu estava tão assustado que, para falar a verdade, nem sequer olhei bem para ele. Claro que eu era muito novo. Mas é difícil ver as coisas distintamente naquele sítio. O que eu recordo melhor é a sua voz... e a fonte a correr. — E, após um momento, acrescentou: — E ele tem mesmo o sotaque gontiano.
— Se eu fosse capaz de falar com dragões na língua deles — comentou Arren — pouco me havia de importar com o meu sotaque.
Perante isto, Risco voltou a olhá-lo com alguma aprovação e perguntou:
— Vieste aqui para entrar na escola, príncipe?
— Não. Trazia uma mensagem do meu pai para o Arquimago.
— Enlad é um dos Principados da Realeza, não é?
— Enlad, Ilien e Way. Havnor e Éa, em tempos, mas a linhagem dos descendentes reais desapareceu nessas terras. Ilien traça a descendência desde Gemal Nascido-do-Mar através de Maharion que foi Rei de Todas as Ilhas. Way, desde Akambar pela Casa de Xélieth. Enlad, a mais antiga, desde Morred através do seu filho, Serriadh e da Casa de Enlad.
Arren recitou estas genealogias com um ar sonhador, como um erudito capaz de, enquanto disserta, ter a mente voltada para outro assunto.
— Achas que veremos de novo um rei em Havnor durante a nossa vida?
— Nunca pensei muito nisso.
— Em Ark, onde eu nasci, as pessoas pensam nisso. Sabes, agora, desde que a paz foi estabelecida, fazemos parte do Principado de Ilien. E foi há quê, há dezessete ou dezoito anos que o Anel da Runa do Rei foi devolvido à Torre dos Reis, em Havnor. As coisas ainda andaram melhor por um bocado, nessa altura. Mas agora estão pior que nunca. Já era tempo de haver outra vez um rei no trono de Terramar que empunhasse o Signo da Paz. As gentes estão fartas de guerras e assaltos, de mercadores que exorbitam nos preços e de príncipes que exorbitam nos impostos, e de toda a confusão de poderes sem regra. Roke guia, mas não pode governar. A Harmonia está aqui, mas o Poder devia estar nas mãos de um rei.
Risco falava com verdadeiro interesse, posta de parte toda a jocosidade, e a atenção de Arren foi finalmente desperta.
— Enlad é uma terra rica e pacífica — disse ele, lentamente. — Nunca se meteu nessas rivalidades. Ouvimos falar de perturbações noutras terras. Mas não se sentou rei algum no trono em Havnor desde a morte de Maharion. Há oito centenas de anos. Será que o território aceitaria realmente um rei?
— Sim, se viesse em paz e em força. Se Roke e Havnor lhe reconhecessem o direito ao trono.
— E há uma profecia a cumprir, não é assim? Maharion disse que o rei seguinte seria um mago.
— O Mestre Chantre é havnoriano e interessa-se pelo assunto. E há já três anos que anda a encher-nos os ouvidos com as palavras que Maharion disse. Herdará o meu trono aquele que tiver atravessado, vivo, a terra da sombra e alcançado as longínquas praias do dia.
— Portanto, um mago.
— Sim, pois só um feiticeiro ou mago pode caminhar entre os mortos na terra da sombra e regressar. Se bem que eles não a atravessem. Pelo menos, sempre falam dela como se tivesse um único limite e, para lá dele, não houvesse fim. O que serão então as longínquas praias do dia? Mas assim reza a profecia do Último Rei e, portanto, alguém nascerá um dia para a cumprir. E Roke reconhecê-lo-á, e a ele se unirão as armadas e os exércitos e as nações. E então haverá de novo majestade no centro do mundo, na Torre dos Reis em Havnor. A alguém assim eu juntar-me-ia. Sim, serviria um verdadeiro rei com todo o meu coração e toda a minha arte.
Assim falou Risco e depois riu e encolheu os ombros, não fosse Arren achar que ele falara com demasiada emoção. Mas Arren olhou-o amigavelmente, ao mesmo tempo que pensava: «Ele sentiria para com o rei o mesmo que eu sinto para com o Arquimago.»
E, em voz alta, disse:
— Um rei precisaria de homens como tu junto de si.
Ali se quedaram ambos, cada um entregue aos seus próprios pensamentos mas, mesmo assim, como companheiros, até que um gongo retiniu na Casa Grande, por detrás deles.
— Pronto! — exclamou Risco. — Sopa de lentilhas e cebolas para esta noite. Vem daí.
— Pareceu-me ouvir-te dizer que não cozinhavam — disse Arren, ainda sonhadoramente, enquanto o seguia.
— Oh, às vezes... por engano...
O jantar nada tinha a ver com magia, mas muito com sustância. Depois de comer, foram dar uma caminhada pelos campos, sob o azul leve do crepúsculo.
— Este é o Cabeço de Roke — informou Risco, quando começaram a subir uma colina arredondada. A erva orvalhada roçava-lhes as pernas e lá de baixo, dos terrenos alagadiços do rio Thwilburn, chegava até eles o coro dos pequenos sapos que acolhiam assim os primeiros calores e as noites estreladas, a tornarem-se já mais pequenas.
Havia um mistério naquele solo. E Risco disse, suavemente:
— Este foi o primeiro monte a elevar-se acima do mar, quando foi pronunciada a Primeira Palavra.
— E será o último a desaparecer, quando todas as coisas forem anuladas — concluiu Arren.
— Portanto, um bom sítio para se estar — disse Risco, a libertar-se da sensação de temor e respeito. Mas logo bradou, atônito: — Repara! O Bosque!
Para sul do Cabeço, revelava-se uma grande luz sobre a terra, como um nascer de Lua, mas esta, delgada, estava já a pôr-se para ocidente, além do cimo do monte. E naquela luz havia um tremeluzir, como o movimento de folhas ao vento.
— Que é aquilo?
— Vem do Bosque... os Mestres devem lá estar. Dizem que se iluminou assim, com um clarão como o do luar, quando eles se reuniram para escolher o Arquimago, há cinco anos. Mas porque se estarão a reunir agora? Será por causa das novas que trouxeste?
— Talvez seja — respondeu Arren.
Risco, excitado e pouco à vontade, quis voltar para a Casa Grande, a ver se ouvia alguma indicação do que poderia pressagiar o Concílio dos Mestres. Arren acompanhou-o, mas olhando muitas vezes para trás, para aquele estranho resplandecer, até que a encosta do monte a ocultou e apenas restaram a lua nova, já a pôr-se, e as estrelas da Primavera.
Mais tarde, sozinho na cela de pedra que lhe servia de quarto de dormir, Arren estava deitado, mas de olhos abertos. Toda a sua vida dormira numa cama, sob peles macias. Mesmo na galera de vinte remos que o trouxera de Enlad, tinham proporcionado ao seu jovem príncipe maior conforto que aquilo — uma enxerga de palha sobre o chão de pedra nu e um cobertor de feltro esfarrapado. Mas não dava por nada disso. «Eis-me no centro do mundo», pensava. «Os Mestres falam entre si no local sagrado. Que irão fazer? Tecerão uma grande magia para salvar a magia? Será verdade que a feitiçaria está a morrer no mundo? Haverá um perigo capaz de ameaçar a própria Roke? Vou ficar aqui. Não voltarei a casa. Preferia varrer o quarto dele que ser um príncipe em Enlad. Será que me vai aceitar como noviço? Mas talvez deixe de haver o ensino da arte mágica e nunca mais se aprendam os nomes-verdadeiros das coisas. O meu pai tem o dom da feitiçaria, mas eu não. Talvez esteja mesmo a desaparecer do mundo. E no entanto eu desejaria ficar perto dele, ainda que perdesse o seu poder e a sua arte. Mesmo se nunca o visse. Mesmo se não voltasse a dizer-me uma palavra que fosse.»
Mas a sua ardente imaginação arrastou-o para mais longe ainda e tanto que, daí a pouco, se via uma vez mais face a face com o Arquimago, de novo no pátio sob a grande sorveira, e o céu estava carregado, a árvore sem folhas, a fonte silenciosa. E ele dizia, «Meu Senhor, a tempestade está sobre nós, mas mesmo assim ficarei contigo e servir-te-ei», e o Arquimago sorriu-lhe... Mas aqui falhou-lhe a imaginação, pois nunca vira aquele escuro rosto sorrir.
De manhã, ao levantar-se, sentiu que ontem fora um rapaz e hoje era um homem. Estava pronto para tudo. Mas, quando o inesperado aconteceu, ficou boquiaberto.
— O Arquimago deseja falar contigo, Príncipe Arren — disse um noviço muito jovem que lhe surgiu à porta e, depois de esperar um momento, deitou a correr dali para fora antes que Arren recuperasse do espanto o suficiente para lhe responder.
Ao acaso, desceu a escada da torre e encaminhou-se pelos corredores de pedra em direção ao Pátio da Fonte, sem saber muito bem para onde devia ir. No corredor, veio ter com ele um homem já de idade, sorrindo de uma forma que lhe desenhava profundos sulcos nas faces, rodeando-lhe a boca do nariz ao queixo. Era o mesmo que, no dia anterior, o acolhera à porta da Casa Grande, quando ele chegara vindo do porto, e lhe exigira que dissesse o seu nome-verdadeiro, antes de entrar.
— Vem por aqui — disse o Mestre Porteiro.
As salas e passagens naquela parte do edifício estavam silenciosas, vazias das Correrias e barulheira dos rapazes que animavam o resto. Ali sentia-se a vetusta idade das paredes. O encantamento com que as antigas pedras tinham sido assentadas era ali palpável. A espaços, havia runas gravadas nas paredes, em sulcos profundos, algumas embutidas de prata. Arren aprendera com o seu pai as Runas de Hardic, mas destas nenhuma conhecia, embora algumas parecerem deter um significado que ele quase sabia, ou soubera e não conseguia recordar bem.
— Ora aqui estamos, rapaz — disse o Porteiro que não dava valor a títulos como Senhor ou Príncipe. Arren seguiu-o até a uma divisão comprida e com um teto baixo travejado, tendo de um lado uma lareira de pedra onde ardia lenha, cujas chamas se refletiam no chão de carvalho, e do outro janelas pontiagudas que deixavam entrar a luminosidade fria e suave do nevoeiro. Em frente da lareira estava um grupo de homens. Todos o olharam quando entrou, mas Arren só teve olhos para um deles, o Arquimago. Então estacou, fez uma reverência e quedou-se emudecido.
— Estes, Arren, são os Mestres de Roke — disse o Arquimago —, sete dos nove. O Mestre das Configurações não abandona o seu Bosque e o dos Nomes está na sua torre, a trinta milhas para norte. Todos eles sabem o que te trouxe aqui. Meus senhores, este é o filho de Morred.
Aquela frase não provocou em Arren qualquer orgulho, mas apenas uma espécie de temor. Orgulhava-se da sua linhagem, mas pensava em si próprio apenas como um herdeiro de príncipes, um dos da Casa de Enlad. Morred, de quem essa casa descendia, morrera há dois mil anos. Os seus feitos eram assunto de lendas e não do mundo atual. Assim, era como se o Arquimago o tivesse nomeado filho do mito, herdeiro de sonhos.
Não se atreveu a erguer os olhos para os rostos dos oito magos. Pregou a vista na base do bordão do Arquimago, com a sua ponteira de ferro, e sentiu o latejar do sangue a ecoar-lhe nos ouvidos.
— Vamos, tomemos juntos o pequeno almoço — propôs o Arquimago, e conduziu-os a uma mesa posta por baixo das janelas. Havia leite e cerveja azeda, pão, manteiga fresca e queijo. Arren sentou-se com eles e com eles comeu.
Passara toda a sua vida entre nobres, senhores de terras e ricos mercadores. O salão do seu pai, em Berila, estava sempre cheio deles. Homens que tinham muito, que compravam e vendiam muito, que eram ricos dos bens do mundo. Comiam carne, bebiam vinho e falavam bem alto. Muitos contestavam, muitos adulavam, quase todos pretendiam obter alguma coisa. Apesar de jovem, Arren aprendera bastante sobre os modos e as dissimulações da humanidade. Mas nunca estivera entre homens como estes. Comiam pão, falavam pouco e os seus rostos eram calmos. Se pretendiam alguma coisa, não era para eles próprios. E no entanto eram homens de grande poder, pois também isso Arren reconhecia.
Gavião, o Arquimago, sentara-se à cabeceira da mesa e parecia escutar o que se dizia, mas ao seu redor havia como um silêncio e ninguém lhe dirigia a palavra. Também Arren foi deixado em sossego e assim teve tempo para recuperar o sangue-frio. A sua esquerda estava o Porteiro e à direita um homem de cabelo grisalho, com um aspecto bondoso, que acabou por lhe dizer:
— Nós somos camponeses, Príncipe Arren. Nasci na parte oriental de Enlad, junto à Floresta de Aol.
— Já cacei nessa floresta — respondeu Arren e durante algum tempo conversaram sobre as florestas e vilas da Ilha dos Mitos, pelo que Arren se sentiu confortado ao recordar a sua terra natal.
Acabada a refeição, voltaram a reunir-se junto da lareira, sentando-se uns e ficando outros de pé, e fez-se um silêncio breve.
— A noite passada — disse o Arquimago — reunimo-nos em conselho. Longamente se falou e, no entanto, nada resolvemos. Gostaria agora de vos ouvir dizer, à luz da manhã, se mantendes ou negais o vosso parecer desta noite.
— O fato de nada termos resolvido — disse o Mestre das Ervas, um homem entrançado e de pele escura, com olhos tranqüilos —, é já por si um parecer. No Bosque encontram-se configurações, mas nós apenas encontramos discussões.
— Isso aconteceu simplesmente porque não conseguimos ver bem a configuração — disse o mago grisalho de Enlad, Mestre da Mudança. — Não sabemos o suficiente. Boatos de Uothort, notícias de Enlad. Novas estranhas e que deviam ser bem consideradas. Mas parece-me desnecessário edificar um grande medo sobre tão pequeno fundamento. O nosso poder não fica ameaçado só porque alguns mágicos esqueceram os seus encantamentos.
— O mesmo digo eu — pronunciou-se um homem delgado e de olhar arguto, o Mestre Chave-do-Vento. — Pois não temos nós todos os nossos poderes? Não continuam as árvores do Bosque a crescer e a dar folhas? Não obedecem as tormentas do céu à nossa palavra? Quem poderá temer pela arte da feitiçaria que é a mais antiga de todas as artes do homem?
— Homem algum — disse o Mestre da Invocação, jovem, alto e de voz profunda, com um rosto nobre e escuro —, homem algum, poder algum, pode impedir a ação da feitiçaria nem silenciar as palavras do poder. Porque elas são as próprias palavras da Criação e aquele que as conseguisse silenciar poderia devolver o mundo ao nada.
— Sim, e aquele que o pudesse fazer não estaria em Uothort nem em Narveduen — disse o Mestre da Mudança. — Estaria aqui, às portas de Roke, e o fim do mundo estaria próximo! Ainda não chegamos a tal.
— E, no entanto, algo está errado — contrapôs outra voz e todos o olharam. O peito vasto, sólido como uma arca de carvalho, estava sentado junto ao lume e a voz brotava dele suave e afinada como as notas de um grande sino. Era o Mestre Chantre.
— Onde está o rei que devia haver em Havnor? Roke não é o coração do mundo. A torre sim, aquela onde foi colocada a espada de Erreth-Akbe e onde se ergue o trono de Serriadh, de Akambar, de Maharion. Há oitocentos anos que o coração do mundo está vazio! Temos a coroa, mas não o rei para a usar. A Runa Perdida, a Runa do Rei, a Runa da Paz, foi-nos restituída. Mas será que temos paz? Que um rei suba ao trono e então teremos paz. E até nas mais longínquas Estremas os mágicos praticarão as suas artes sem perturbação nas suas mentes, e haverá ordem e uma estação para todas as coisas.
— Concordo — disse o Mestre de Mão, um homem pequeno e ágil, modesto de aspecto mas com olhos límpidos e argutos. — Estou contigo, Chantre. O que haverá de extraordinário em que a feitiçaria se desencaminhe, quando o mesmo acontece a tudo o resto? Se todo o rebanho fugir, será que a nossa ovelha negra ficará junto ao curral?
Perante isto, o Porteiro riu, mas não disse uma palavra.
— Então, para todos vós — disse o Arquimago —, dir-se-ia que nada há de muito errado. Ou, se há, tal se deve a que as nossas terras estão desgovernadas ou mal governadas, de modo que todas as artes e altos talentos dos homens sofrem por negligência. Até aí, concordo. Na verdade, é porque o Sul já quase de todo abandonou um comércio pacífico que temos de depender de boatos. E quem haverá recebido novas seguras da Estrema Oeste, para além do que soubemos de Narveduen? Se houvesse barcos a navegar para lá e para cá em segurança, como antigamente, se as nossas terras de Terramar estivessem bem ligadas entre si, poderíamos saber como vão as coisas nos mais remotos locais e, assim, agir. E penso que agiríamos, sim! Porque, senhores, quando o Príncipe de Enlad nos diz que pronunciou as palavras da Criação num esconjuro e, ao dizê-las, não entendeu o que significavam, quando o Mestre das Configurações diz que há medo nas raízes e nada mais adianta, teremos aqui uma base assim tão pequena para a nossa ansiedade? Quando a tempestade começa, não é mais que uma nuvenzinha no horizonte.
— Tu tens o sentido das coisas tenebrosas, Gavião — disse o Mestre Porteiro. — Sempre tiveste. Diz-nos o que te parece que esteja errado.
— Não sei. Há um enfraquecimento do poder. Há falta de resolução. Há um escurecer do Sol. Sinto, senhores... sinto como se nós, que estamos aqui sentados a falar, tivéssemos todos sido feridos mortalmente. E enquanto falamos e voltamos a falar, o nosso sangue vai-nos escorrendo suavemente das veias...
— E preferias erguer-te e fazer algo.
— Preferia — disse o Arquimago.
— Bom — comentou o Porteiro —, serão os mochos capazes de impedir o falcão de voar?
— Mas onde poderias ir? — perguntou o Mestre da Mudança, ao que o Chantre respondeu:
— Procurar o nosso rei e conduzi-lo ao seu trono!
O Arquimago olhou intensamente o Chantre, mas limitou-se a responder:
— Iria para onde houvesse problemas.
— Para sul ou para ocidente — especificou o Mestre Chave-do-Vento.
— E para norte ou oriente, se necessário fosse — acrescentou o Porteiro.
— Mas tu és necessário aqui, meu Senhor — contrapôs o Mestre da Mudança. — Em vez de ires às cegas procurar entre gente hostil sobre mares estranhos, não seria mais sensato ficar aqui, onde toda a magia é forte, e descobrir pelas tuas artes que mal ou desordem é este?
— As minhas artes não me aproveitam — respondeu o Arquimago. E algo havia na sua voz que os forçou a todos a fitá-lo, graves e de olhar apreensivo. — Eu sou o Guardião de Roke e não é de ânimo leve que deixarei Roke. Desejaria que a vossa recomendação e a minha fossem a mesma. Mas, de momento, não é de esperar que isso aconteça. A decisão tem de ser minha. E devo partir.
— Com essa decisão nos conformamos — disse o Mestre da Invocação.
— Mais, partirei sozinho. Vós sois o Concílio de Roke e o Concílio não deve ser dividido. Contudo, alguém levarei comigo, se ele quiser vir. — E olhou para Arren. — Ontem, ofereceste-te para me servir. E na noite passada o Mestre das Configurações disse: «Não é por acaso que alguém vem até às costas de Roke. E não é por acaso que o portador destas novas é um filho de Morred.» E não teve mais palavra alguma para nos dizer durante toda a noite. Pergunto-te pois, Arren. Virás comigo?
— Irei, meu Senhor — respondeu Arren com a garganta seca.
— Decerto que o príncipe, teu pai, não te deixaria expores-te a este perigo — disse o Mestre da Mudança com alguma rispidez. E logo para o Arquimago: — O rapaz é muito novo e pouco sabedor de feitiçaria.
— Eu tenho anos e esconjuros que chegam para nós dois — retorquiu Gavião secamente. — Arren, o que diria o teu pai?
— O meu pai deixar-me-ia ir.
— Como podes sabê-lo? — inquiriu o Mestre da Invocação. Arren não sabia onde lhe pediam que fosse, nem quando, nem porquê. Estava confuso e envergonhado perante aqueles homens graves, diretos e terríveis. Se tivesse tido tempo para pensar, não teria dito uma palavra que fosse. Mas não havia tempo para pensar. O Arquimago perguntara-lhe: «Virás comigo?». Assim, respondeu:
— Ao enviar-me aqui, o meu pai disse-me: «Temo que um tempo de trevas esteja prestes a cair sobre o mundo, um tempo de perigo. Por isso te envio a ti, em vez de qualquer outro mensageiro, porque tu és capaz de ajuizar se deveríamos pedir o auxílio da Ilha dos Sages neste assunto, ou oferecer-lhes o auxílio de Enlad.» Portanto, se for necessário, para isso aqui me encontro.
Ao dizer isto, viu que o Arquimago sorria. Embora fosse um sorriso breve, havia nele grande doçura.
— Estão a ver? — disse para os sete magos. — Poderiam os anos ou a magia acrescentar alguma coisa a isto?
Arren sentiu que o olhavam aprovadoramente, mas ainda com uma expressão como de quem pondera ou duvida. E o Mestre da Invocação, com as suas sobrancelhas arqueadas a unirem-se num enrugar de testa, disse:
— Não entendo isto, meu Senhor. Que estejas determinado a partir, sim. Há cinco anos que aqui estás enjaulado. Mas, antes, sempre estavas sozinho. Sempre partiste sozinho. Porquê, agora, acompanhado?
— Antes, nunca precisei de auxílio — disse o Gavião, com um traço de ameaça ou ironia na voz. — E agora encontrei um companheiro à altura.
Desprendia-se dele algo de perigoso e o Mestre da Invocação não voltou a falar, embora mantivesse a testa enrugada.
Mas o Mestre das Ervas, de olhos pacíficos e tez escura como um sábio e paciente boi, ergueu-se do seu lugar em todo o seu monumental volume.
— Vai, meu Senhor — disse. — Vai e leva o rapaz. A nossa confiança vai contigo.
Um a um, todos os outros assentiram silenciosamente e, sozinhos ou aos pares, foram saindo, até que dos sete apenas ficou o Mestre da Invocação.
— Ouve, Gavião — disse. — Não é minha intenção questionar a tua decisão. Direi apenas que, se tens razão, se há desequilíbrio e o perigo de um grande mal, então uma viagem para Uothort, ou para a Estrema Ocidental, ou até aos confins do mundo, nunca será suficientemente longe. Poderás levar este companheiro até onde talvez tenhas de ir? E será isso justo para ele?
Estavam afastados de Arren e o Mestre da Invocação mantivera a voz baixa, mas o Arquimago falou abertamente:
— É justo.
— Não estás a dizer-me tudo o que sabes — contrapôs o Mestre da Invocação.
— Se eu soubesse, falaria. Nada sei, mas suponho muito.
— Deixa-me ir contigo.
— Alguém tem de guardar as portas.
— O Mestre Porteiro faz isso...
— Não são apenas as portas de Roke. Fica. Fica e vigia a madrugada a ver se nasce clara, e vigia as muralhas de pedra a ver quem as atravessa e para onde se voltam os seus rostos. Há uma brecha, Thórione, há uma fenda, uma ferida, e é isso o que vou procurar. Se me perder, então talvez tu a encontres. Mas espera. Ordeno-te que esperes por mim.
Exprimia-se agora na Antiga Fala, a língua da Criação em que se lançam todos os verdadeiros encantamentos e da qual dependem todos os grandes atos de magia. Mas muito raramente é usada em conversação, exceto entre dragões. O Mestre da Invocação não discutiu nem protestou mais. Antes, vergando a sua elevada estatura numa reverência, cumprimentou tanto o Arquimago como Arren e saiu.
A lenha estalava na lareira. Não havia qualquer outro ruído. Fora das janelas, o nevoeiro acumulava-se, informe e sombrio.
O Arquimago tinha o olhar fito nas chamas, parecendo ter esquecido a presença de Arren. O rapaz mantinha-se a uma certa distância da lareira, sem saber se devia retirar-se ou esperar que o mandassem embora, irresoluto e algo desolado, sentindo-se de novo como uma pequena figura num espaço escuro, perturbante e ilimitado.
— Iremos primeiro à Cidade de Hort — disse o Gavião, voltando as costas ao fogo. — É ali que se reúnem todas as novas vindas da Estrema Sul, por isso talvez encontremos uma pista. O teu barco ainda te espera na baía. Fala com o mestre de bordo e ele que leve uma mensagem a teu pai. Creio que deveríamos partir tão breve quanto possível. Amanhã, ao romper do dia. Vai ter às escadas junto do alpendre onde se guardam os barcos.
— Meu Senhor, o que é... — a voz embargou-se-lhe por um momento. — O que é que procuras?
— Não sei, Arren.
— Mas então...
— Então como poderei procurá-lo? Também não sei isso. Talvez o que for me procure a mim.
Descobriu os dentes num meio sorriso para Arren, mas o seu rosto permaneceu rígido como ferro sob a luminosidade cinzenta das janelas.
— Meu Senhor — disse Arren, e a sua voz era agora segura —, é certo que descendo da linhagem de Morred, se é que podemos estar certos do traçado de tão antiga linhagem. E se puder servir-te, considerarei ser essa a maior oportunidade e honra da minha vida, pois nada há que mais desejasse fazer. Só temo que me julgues algo mais do que realmente sou.
— Talvez — comentou o Arquimago.
— Não tenho grandes dons ou talentos. Sei esgrimir com a espada curta e com a nobre. Sei governar um barco. Conheço as danças da corte e as danças dos camponeses. Sou capaz de aplacar uma zanga entre cortesãos. Sei lutar corpo a corpo. Sou um mau arqueiro mas tenho perícia no jogo da péla. Sei cantar e tocar a harpa e o alaúde. E é tudo. Não há mais nada. Que utilidade poderei eu ter para ti? O Mestre da Invocação estava certo...
— Ah, deste por isso, não foi? Tem ciúmes. Reclama o privilégio de uma lealdade mais antiga.
— E de um talento maior, meu Senhor.
— Preferias então que o levasse a ele e ficasses tu para trás?
— Não! Mas temo...
— Temes o quê?
As lágrimas chegaram aos olhos do rapaz.
— Não estar à altura do que esperas de mim — respondeu.
O Arquimago voltou-se de novo para o fogo.
— Senta-te, Arren — disse ele, e o rapaz foi ocupar o assento de pedra ao canto da lareira. — Não pensei que fosses um feiticeiro ou um guerreiro ou qualquer coisa de perfeito. O que és não o sei, embora tenha ficado satisfeito por poderes governar um barco... O que virás a ser ninguém o sabe. Mas uma coisa sei de ciência certa. És o filho de Morred e de Serriadh.
Arren manteve o silêncio por algum tempo. E finalmente disse:
— Isso é verdade, meu senhor. Mas...
O Arquimago permaneceu calado e Arren teve de acabar a frase.
— Mas não sou Morred. Sou apenas eu próprio.
— Não tens orgulho na tua linhagem?
— Sim, tenho orgulho nela porque fez de mim um príncipe. É uma responsabilidade, uma coisa de que temos de nos mostrar dignos...
O Arquimago assentiu com um movimento rápido de cabeça.
— Era isso o que eu pretendia dizer. Renegar o passado é renegar o futuro. Um homem não faz o seu destino, aceita-o ou renega-o. Se as raízes do freixo são fracas, ele não ostentará coroa.
Perante estas palavras, Arren ergueu os olhos, sobressaltado, porque o seu nome-verdadeiro, Lebánnen, significava freixo. Mas o Arquimago não dissera o seu nome.
— As tuas raízes vão fundo — prosseguiu ele. — Tens o vigor e precisas de espaço, espaço para crescer. E por isso te ofereço, em vez de uma viagem segura até Enlad, uma viagem insegura para um destino desconhecido. Não precisas de vir, a escolha é tua. Mas ofereço-te a escolha. Porque estou cansado de lugares seguros, e de telhados, e de ter paredes à minha volta.
Calou-se abruptamente, relanceando o espaço ao seu redor com um olhar penetrante, mas cego para o que o cercava. Arren entendeu a profunda inquietação do homem e temeu-se dela. Mas o medo aguça a alegria e foi com um sobressalto do coração que ele respondeu:
— Meu Senhor, escolho ir contigo.
Arren deixou a Casa Grande com o coração e o espírito cheios de um espanto maravilhado. Dizia a si próprio que era feliz, mas a palavra não parecia ser a adequada. Disse a si próprio que o Arquimago o considerara forte, um homem com um destino a cumprir, e que estava orgulhoso de tal louvor. Mas não estava orgulhoso. Porque não? O mais poderoso feiticeiro em todo o mundo dissera-lhe: «Amanhã navegaremos até à beira do desastre» e ele assentira com um baixar de cabeça e viera. Não deveria então estar orgulhoso? Mas não estava. Sentia apenas aquele espanto maravilhado.
Desceu as ruas íngremes e coleantes da Vila de Thwil, encontrou o mestre do seu navio no cais e disse-lhe:
— Parto amanhã com o Arquimago para Uothort e para a Estrema Sul. Diz ao príncipe meu pai que, logo que seja dispensado do seu serviço, voltarei para Berila.
O comandante do navio tomou um ar contrafeito e obstinado, pois bem calculava como o Príncipe de Enlad iria receber o portador de tais notícias, e disse:
— Príncipe, terei de levar alguma coisa escrita pela vossa mão acerca deste assunto.
Considerando justa a pretensão, Arren afastou-se rapidamente dali — sentia que tudo devia ser feito de imediato — e encontrou uma lojinha estranha onde comprou pedra de tinta, pincel e uma folha de papel macio, espesso como feltro. Apressou-se depois a regressar ao cais e sentou-se no paredão para escrever aos pais. Mas quando imaginou a mãe segurando aquele pedaço de papel, lendo a carta, assaltou-o uma angústia. Era uma mulher paciente e jovial, mas Arren sabia ser ele próprio a base e fundamento da sua alegria e como ela ansiava pelo seu pronto regresso. Não havia palavras que a pudessem consolar de uma longa ausência. A carta que escreveu foi seca e breve. Assinou-a com a runa-da-espada, selou-a com um pouco de breu que tirou de um caldeiro de calafate ali à mão e entregou-a ao mestre do navio. Mas logo lhe bradou: «Espera!», como se o barco estivesse para partir naquele mesmo instante e correu pelas ruas empedradas acima até à tal estranha lojinha. Teve dificuldade em encontrá-la porque havia algo de enganoso nas ruas de Thwil, quase como se as voltas a dar fossem outras de cada vez que as percorria. Mas por fim lá conseguiu chegar à rua certa e entrou como uma seta na loja, desviando as fiadas de contas de barro vermelho que ornamentavam a entrada. Ao comprar a tinta e o papel, olhara para um tabuleiro cheio de fivelas e broches, e reparara num destes, em prata e com o feitio de uma rosa-brava. Ora Rosa era precisamente o nome da sua mãe.
— Quero comprar aquilo! — disse ele no seu jeito apressado e soberano.
— Trabalho em prata antigo, da Ilha de O. Vejo que é apreciador das velhas artes — disse o lojista, olhando, não para a elegante bainha, mas para o punho da espada de Arren. — Custa quatro moedas de marfim.
Arren pagou o preço algo elevado sem discutir. Trazia na bolsa muitas das fichas de marfim que são usadas como dinheiro nas Terras Interiores. A idéia de enviar um presente à mãe era-lhe agradável. O ato de o comprar, também. E, ao deixar a loja, colocou a mão sobre a esfera que encimava o punho da espada, com uma certa arrogância.
O pai dera-lhe aquela espada na véspera da sua partida de Enlad. Recebera-a solenemente e usara-a, como se usá-la fosse um dever, mesmo a bordo do navio. Orgulhava-se de lhe sentir o peso na cinta, e o peso da sua grande antigüidade no espírito. Pois aquela era a espada de Serriadh, que fora filho de Morred e Elfarran. Não havia nenhuma outra mais antiga no mundo, exceto a espada de Erreth-Akbe, que fora colocada a encimar a Torre dos Reis em Havnor. A espada de Serriadh nunca fora posta de lado nem guardada no tesouro, mas sempre usada. E no entanto os séculos não a tinham gasto nem enfraquecido, porque fora forjada com um grande poder de encantamento. A sua história dizia que nunca fora desembainhada, nem nunca o poderia ser, exceto ao serviço da vida. Nunca se deixaria brandir com propósitos sanguinários, de vingança ou de ambição, nem em qualquer guerra que tivesse por fim o lucro. Dela, o grande tesouro da sua família, recebera Arren o seu nome de usar. Arrendek fora ele chamado em criança, «a pequena Espada».
Não se servira da espada, nem o seu pai antes dele, nem o seu avô. Por muito tempo houvera paz em Enlad.
E agora, naquela rua da estranha vila da Ilha dos Sages, o punho da espada não lhe pareceu familiar ao tocar-lhe. Era incômodo e frio na sua mão. Pesada, a espada dificultava-lhe a marcha, agarrava-se a ele. E o espanto maravilhado que sentira estava ainda nele, mas tornara-se uma coisa fria. Voltou ao cais a entregar a jóia ao mestre do navio para que a levasse à mãe e despediu-se dele, desejando-lhe uma viagem de regresso segura. Voltando costas, lançou o manto por cima da bainha que guardava a antiga e inflexível arma, aquela coisa mortífera que herdara. E já não sentia qualquer arrogância.
— Que estou eu a fazer? — perguntava-se, enquanto ia subindo as ruas estreitas, agora sem se apressar, em direção àquela quase fortaleza que era a Casa Grande, acima da vila. — Porque não volto eu a casa? Porque vou em busca de algo que não entendo, na companhia de um homem que não conheço?
E não encontrava resposta para estas dúvidas.
A CIDADE DE HORT
No escuro que precede a alvorada, Arren envergou as roupas que lhe tinham dado, vestuário de marinheiro, usado mas limpo, e apressou-se a atravessar as salas silenciosas da Casa Grande até à porta oriental, talhada em corno e em dente de dragão. Ali, o Mestre Porteiro deixou-o sair e indicou-lhe o caminho, com um leve sorriso. O rapaz seguiu pela rua superior da vila e desceu depois um caminho que conduzia ao alpendre onde se guardavam os barcos da Escola, a sul das docas de Thwil, seguindo a costa da baía. Mal conseguia distinguir o caminho. Árvores, telhados, colinas, tudo se erguia como massas obscuras no meio da obscuridade. O ar escuro estava totalmente parado e muito frio. Tudo permanecia quieto, tudo se mantinha remoto e obscuro. Só para oriente, por sobre o negrume do mar, se distinguia uma fraca linha clara. O horizonte, momentaneamente a inclinar-se em direção ao Sol invisível.
Chegou aos degraus que conduziam ao alpendre. Não estava ali ninguém, nada se movia. Embora suficientemente aquecido dentro do seu volumoso casaco de marinheiro e gorro de lã, teve um calafrio, enquanto aguardava, no escuro, de pé sobre os degraus de pedra.
Os alpendres dos barcos erguiam-se negros acima do negro da água. E de repente, de lá de dentro, veio um som mortiço e cavo, uma pancada ecoante que se repetiu por três vezes. Arren sentiu os cabelos eriçarem-se-lhe. Uma sombra comprida deslizou silenciosamente para a água. Era um barco que se aproximou suavemente do molhe. Arren correu pelos degraus abaixo até ao molhe e saltou para dentro do barco.
— Põe-te ao leme — disse o Arquimago, uma figura flexível, quase uma sombra apenas, à proa. — Mantém o barco firme enquanto eu iço a vela.
Estavam já em plena água, com a vela a abrir-se no mastro como uma asa, sob a luz nascente.
— Este vento de oeste que nos vai poupar de remar para fora da baía é um presente de despedida do Mestre Chave-do-Vento, tenho a certeza. Cuidado com o barco, rapaz, olha que ele é ligeiro a obedecer! Ora, pois. Um vento de oeste e uma manhã de céu limpo no primeiro dia da Primavera.
— Este barco é o Vê-longe? — perguntou Arren que ouvira falar do barco do Arquimago em canções e histórias.
— É, sim — respondeu o outro, ocupado com os cabos. O barco encabritou-se e virou de bordo com o avivar do vento. Cerrando os dentes, Arren esforçou-se por o manter na rota.
— É verdade que o barco é ligeiro a obedecer, mas parece-me um pouco voluntarioso, Senhor.
O Arquimago riu-se.
— Deixa-o ir como lhe apetece. Também ele é sábio. Mas, escuta, Arren — e fez uma pausa, ajoelhando-se no banco para olhar o rapaz de frente. — Agora, nem eu sou Senhor, nem tu és Príncipe. Eu sou um mercador chamado Falcão e tu és o meu sobrinho, a quem ando a ensinar as coisas do mar, chamado Arren. E vimos de Enlad. De que povoação? Tem de ser uma grande, não se dê o caso de depararmos com um citadino.
— Temíar, na costa sul? Fazem comércio com todas as Estremas.
O Arquimago aprovou com um aceno de cabeça.
— Mas — disse Arren cautelosamente —, tu não tens bem o sotaque de Enlad.
— Bem sei. Tenho o sotaque de Gont — disse o companheiro e riu-se, erguendo os olhos para leste, onde crescia a claridade do dia. — Mas acho que posso tomar de empréstimo o que preciso de ti. Viemos, pois de Temíar no nosso barco, o Golfinho, e eu não sou Senhor, nem mago, nem Gavião, mas... então como é que me chamam?
— Falcão, meu Senhor.
E logo Arren mordeu o lábio.
— Ensaia, sobrinho — disse o Arquimago. — É preciso ensaiar. Toda a vida nunca foste outra coisa senão um príncipe. Ao passo que eu fui muitas coisas e a última de todas, talvez a menor de todas, Arquimago... Vamos para sul em busca de pedra emmel, esse material azul de que se fazem talismãs. Sei que o apreciam em Enlad. Com eles fazem amuletos contra as dores reumáticas, entorses, torcicolos e deslizes de língua.
Passado um instante, Arren riu-se e, ao levantar a cabeça, o barco foi erguido por uma grande vaga e ele viu perante si o rebordo do Sol sobre a orla do oceano, um súbito clarão dourado.
De pé, o Gavião apoiava-se ao mastro, pois o pequeno barco saltava sobre o mar picado, e, encarando o nascer do Sol do equinócio da Primavera, cantou. Arren não conhecia a Antiga Fala, a língua dos feiticeiros e dos dragões, mas escutou louvor e regozijo nas palavras, além de que havia nelas um forte ritmo como de marcha, semelhante ao subir e descer das marés ou ao equilíbrio de dia e noite, seguindo-se um ao outro para sempre. Gaivotas gritavam no vento, as praias da Baía de Thwill deslizaram para trás deles à direita e à esquerda, e finalmente entraram nas longas vagas, plenas de luz, do Mar Interior.
A viagem não é muito longa entre Roke e a Cidade de Hort, mas passaram três noites no mar. O Arquimago tivera grande urgência em partir mas, uma vez que o fizera, mostrou-se mais que paciente. Os ventos passaram a contrários logo que se afastaram do tempo mágico de Roke, porém ele não invocou um vento de magia para a vela, como o teria feito qualquer fazedor de tempo. Em vez disso, gastou horas a ensinar Arren como governar o barco com vento forte de proa, no mar povoado de rochedos a leste de Issel. Na segunda noite choveu, a chuva agreste e fria de Março, mas ele não teceu esconjuro algum para a manter afastada. Na noite seguinte, encontravam-se eles fora da entrada para o Porto de Hort, numa escuridão calma, fria e enevoada, Arren pensou em tudo isso e reparou que, no breve tempo passado desde que o conhecera, o Arquimago não fizera magia absolutamente nenhuma.
Mas era um marinheiro incomparável. Arren aprendera mais ao navegar com ele durante três dias que nos dez anos que passara a remar e a entrar em regatas na Baía de Berila. E mago e marinheiro não estão assim tão distantes um do outro. Ambos trabalham com os poderes do céu e do mar, vergam grandes ventos ao uso nas suas mãos, reúnem o que estava afastado. Arquimago ou Falcão, mercador dos mares, eram quase a mesma coisa.
Era um homem bastante calado, se bem que de perfeito bom humor. Não havia falta de jeito de Arren que o irritasse. Era um bom companheiro. Não poderia haver melhor camarada de bordo, pensava Arren. Mas era capaz de se enfronhar nos seus próprios pensamentos e permanecer em silêncio durante horas a fio. Depois, quando voltava a falar, havia aspereza na sua voz e o seu olhar trespassava Arren. Isso não enfraquecia o afeto que o rapaz tinha por ele, mas talvez reduzisse o quanto dele gostava. Era um pouco assustador. Talvez o Gavião tivesse sentido isso, porque, nessa noite de nevoeiro ao largo das praias de Uothort, começou a falar a Arren, com bastantes interrupções, acerca de si próprio.
— Não me agrada ir encontrar-me outra vez entre as pessoas, amanhã — começou. — Tenho andado a fingir que sou livre... Que não há nada de errado no mundo. Que não sou Arquimago, nem sequer um mágico. Que sou Falcão de Temíar, sem responsabilidades nem privilégios, não devendo nada a ninguém...
Fez uma pausa e, daí a pouco, continuou:
— Tenta escolher cuidadosamente, Arren, quando as grandes escolhas tiverem de ser feitas. Quando eu era novo, tive de escolher entre a vida de ser e a vida de fazer. E lancei-me à segunda como a truta se lança à mosca. Mas cada coisa que fazes, cada ato teu, liga-te a ele e às suas conseqüências, obriga-te a agir de novo, e de novo ainda. E então é muito raro que alcances um espaço, ou um tempo como este, entre um ato e outro, quando podes parar e simplesmente ser. Ou tentar saber, ao fim e ao cabo, quem és.
Mas como podia um tal homem, cogitou Arren, estar em dúvida em relação a quem ou o que era? Sempre acreditara que tais dúvidas estavam reservadas aos jovens, que não tinham feito nada ainda.
O barco balançava na vasta e fria escuridão.
— É por isso que gosto do mar — soou a voz do Gavião no meio daquele negrume.
Arren compreendia-o, mas os seus próprios pensamentos corriam para diante, como o tinham feito durante todos aqueles três dias e noites, para a sua demanda, a finalidade do seu navegar. E como o companheiro estava disposto finalmente a falar, perguntou-lhe:
— Achas que iremos encontrar na Cidade de Hort o que procuramos?
O Gavião sacudiu a cabeça, talvez significando que não, ou talvez que não sabia.
— Poderá tratar-se de uma espécie de pestilência, uma praga, que vai indo de terra em terra, que faz mirrar as colheitas, os rebanhos e o espírito dos homens?
— Não. Uma pestilência é uma deslocação da grande Harmonia, do próprio Equilíbrio. Isto é diferente. Há nele o fedor do mal. Nós podemos sofrer quando a harmonia das coisas se restaura a si própria, mas não perdemos a esperança, nem renunciamos à arte, nem esquecemos as palavras da Criação. Nada há na Natureza que não seja natural. Isto não é uma restauração da harmonia, mas a corrupção dela. Só uma criatura é capaz de fazer tal.
— Um homem? — sugeriu Arren.
— Nós, homens.
— Mas como?
— Por um desmesurado desejo de vida.
— De vida? Mas então é errado querer viver?
— Não. Mas quando ansiamos por alcançar poder sobre a vida, riqueza infinita, segurança inatacável, imortalidade, então o desejo torna-se avidez. E se o saber se alia a essa avidez, então nasce o mal. E o equilíbrio do mundo vacila, a ruína começa a pesar fortemente na balança.
Arren quedou-se a cismar sobre isto durante algum tempo e depois disse:
— Achas então que é um homem o que buscamos?
— Um homem, sim, e mago. É isso que penso.
— Mas eu julgava, a partir do que o meu pai e os professores me ensinaram, que as grandes artes de feitiçaria estavam dependentes da Harmonia, do Equilíbrio das coisas, e não podiam ser usadas para o mal.
— Essa — replicou o Gavião com uma certa ironia — é uma questão a debater. Infindáveis são as discussões dos magos... Não há ilha em Terramar onde não se saiba de uma bruxa que lança sortilégios impuros, mágicos que usam a sua arte para alcançar riquezas. Mas há mais. O Senhor do Fogo, que tentou desfazer a escuridão e parar o Sol ao meio-dia, era um grande mago. Até Erreth-Akbe teve dificuldade em vencê-lo. O Inimigo de Morred era semelhante a esse. Onde chegava, cidades inteiras dobravam o joelho perante ele, exércitos por ele combatiam.
O encantamento que teceu contra Morred era tão poderosa que, mesmo quando ele foi abatido, não houve processo de a fazer parar e a Ilha de Soléa foi devastada pelo mar e todos que estavam nela pereceram. Esses foram homens em quem a grande força e o grande poder serviram o desejo do mal e dele se alimentaram. E não sabemos se a feitiçaria que serve uma melhor finalidade demonstrará ser a mais forte. Temos esperança.
Há uma certa tristeza ao encontrar esperança onde esperávamos certeza. Arren deu por si a desejar ver-se longe de tão gélidos discursos. Passados uns instantes, disse:
— Estou a ver porque dizes que só os homens fazem o mal, julgo eu. Até os tubarões são inocentes, pois matam porque têm de matar.
— E é por isso que nada nos pode resistir. Só há uma coisa no mundo que pode resistir a um homem de ruim coração. É outro homem. Na nossa vergonha está a nossa glória. Porque só o nosso espírito, que tem capacidade para o mal, tem também a de o aniquilar.
— Mas, e os dragões? — interpôs Arren. — Não fazem grande mal? Serão eles inocentes?
— Ah, os dragões! Os dragões são avarentos, insaciáveis, traiçoeiros. Não têm piedade nem remorso. Mas haverá mal neles? Quem sou eu para julgar os atos dos dragões?... São mais sábios que os homens. Passa-se com eles o mesmo que com os sonhos, Arren. Nós, homens, sonhamos sonhos, praticamos magia, fazemos bem, fazemos mal. Os dragões não sonham. Eles são sonhos. Não praticam magia porque ela é a sua essência, o seu ser. Os dragões não fazem, são.
— Em Serilune — disse Arren —, está a pele de Bar Oth, morto por Keor, Príncipe de Enlad, há já trezentos anos. Desde esse dia, nenhum dragão voltou a aparecer em Enlad. Eu vi a pele de Bar Oth. É pesada como ferro e tão grande que se a estendessem, diz-se, cobriria toda a praça do mercado de Serilune. Os dentes são tão compridos como o meu antebraço. E no entanto dizem que Bar Oth era um dragão jovem, ainda não completamente desenvolvido.
— Há em ti um desejo — interpôs o Gavião — de ver dragões, não é assim?
— É.
— O seu sangue é frio e venenoso. Não deves olhá-los nos olhos. São mais antigos que o homem... — Ficou em silêncio durante algum tempo e depois prosseguiu: — E ainda que eu venha a esquecer ou a lamentar tudo o que alguma vez fiz, mesmo assim recordaria que certa vez vi os dragões voando alto no vento, ao pôr do Sol, por sobre as ilhas ocidentais. E isso me contentaria.
Ambos se quedaram então em silêncio e não havia som algum, a não ser o segredar da água e do barco, nem luz. E foi assim que finalmente, ali sobre as águas profundas, adormeceram.
Na névoa clara da manhã entraram no Porto de Hort, onde uma centena de embarcações estava atracada ou a largar. Barcos de pesca, lagosteiros, traineiras, barcos mercantes, duas galeras de vinte remos, uma grande de sessenta remos a necessitar de grandes reparações e alguns veleiros esguios e compridos, ostentando altas velas triangulares, destinadas a captar as brisas mais elevadas nas quentes calmarias da Estrema Sul.
— Aquele é um navio de guerra? — perguntou Arren, quando iam a passar por uma das galeras de vinte remos, ao que o companheiro respondeu:
— A ajuizar pelas manilhas de correntes no porão, é um transporte de escravos. Na Estrema Sul vendem-se homens.
Arren ponderou o assunto durante uns momentos e depois foi à caixa dos apetrechos e dela retirou a sua espada que embrulhara cuidadosamente e ali arrumara na manhã da partida. Destapou-a e ficou-se indeciso, segurando a espada embainhada com ambas as mãos, o cinto pendendo dela, a balançar.
— Esta não é uma espada de mercador marítimo — disse por fim. — A bainha é demasiado luxuosa.
O Gavião, ocupado com o leme, lançou-lhe um olhar de relance.
— Usa-a, se quiseres.
— Achei que podia ser uma sábia atitude.
— Para uma espada, acho que essa é bem sábia — comentou o companheiro, o olhar alerta para a passagem através da baía atravancada de embarcações. — Essa não é uma espada que tem relutância em ser usada?
Arren acenou que sim.
— É isso que dizem. E no entanto já matou. Matou homens. — E baixou os olhos para o punho esguio, gasto das mãos que o tinham segurado. — Ela sim, mas eu não. Faz-me sentir como um idiota. É muito mais velha que eu, demasiado... Acho que me ficarei pela faca — concluiu. E, voltando a embrulhar a espada, lançou-a para o fundo da caixa dos apetrechos. No seu rosto lia-se perplexidade e raiva.
O Gavião nada disse naquele momento, mas daí a pouco perguntou:
— Não te importas de pegar agora nos remos, rapaz? Vamos para aquele molhe ali, junto às escadas.
A Cidade de Hort, um dos Sete Grandes Portos do Arquipélago, erguia-se a partir da sua barulhenta orla marítima pelas encostas de três íngremes montes, numa confusão de cor. As casas eram de barro e rebocadas a vermelho, laranja, amarelo ou branco. Cobriam-nas telhas de um vermelho purpúreo. Arvores pendick em flor formavam densas massas de um vermelho escuro ao longo das ruas superiores. Toldos garridos, às riscas, estendiam-se de telhado a telhado, dando sombra a estreitas praças de mercado. Os cais rebrilhavam com a luz do Sol. E as ruas que partiam da orla marítima eram como fendas escuras, cheias de sombras, gente e ruído.
Depois de terem amarrado o barco, o Gavião inclinou-se junto de Arren como se verificasse o nó e disse:
— Arren, há gente em Uothot que me conhece bastante bem, de maneira que quero que me olhes com atenção, para me poderes reconhecer.
E quando se endireitou não havia cicatriz alguma no seu rosto. O seu cabelo era agora completamente grisalho, tinha o nariz largo e um tanto arrebitado e, em vez de um bordão de teixo da sua altura, segurava uma varinha de marfim que guardou dentro da camisa.
— Nã me conheces? — perguntou a Arren com um largo sorriso e falando com o sotaque de Enlad. — Sará que nunca viste o tê tio antes?
Na corte de Berila, Arren vira feiticeiros mudar as feições quando mimavam o Feito de Morred e sabia que se tratava apenas de ilusão. Assim, manteve o sangue-frio e foi capaz de dizer:
— Ora pois que sim, mê ti Falcão!
Mas, enquanto o mago regateava com um guarda do porto o que este pedia para manter em doca e guardar o barco, Arren continuou a olhá-lo, para ficar bem certo de o reconhecer realmente. E ao olhar, a transformação começou a perturbá-lo mais em vez de menos. Era demasiado completa. Aquele não era de modo algum o Arquimago, não era sábio guia nem chefe coisa nenhuma. A paga do guarda do porto permaneceu alta e, ao pagar, o Gavião não parou de resmungar, nem mesmo quando se afastou com Arren.
— Este é um teste à minha paciência — dizia. — Ter de pagar àquele ladrão barrigudo para me guardar o barco! E isto quando um encantamento teria feito muito melhor trabalho! Mas pronto, é o que me custa o disfarce... E até me esqueci de falar como deve ser, não foi mê sobrinho?
Iam caminhando por uma rua garrida, fedorenta e cheia de gente, ladeada por lojas que pouco mais eram que barracas e cujos donos permaneciam à entrada, rodeados por montes e grinaldas de mercadorias, proclamando em altos brados a beleza e barateza dos seus tachos, camisas, chapéus, pás, alfinetes, bolsas, chaleiras, cestos, ganchos de fogão, facas, cordas, ferrolhos, roupa de cama e toda e qualquer outra espécie de quinquilharia e tecidos.
— Isto é uma fera?
— Hãe! — fez o homem do nariz abatatado, inclinando a cabeça grisalha.
— Se isto é uma fêra, mê tio?
— Fêra? Nã, nã. Cá aqui, fazem isto o ano todo. Guarde lá os seus pastéis de pêxe, santinha, que eu já matê o bicho.
Entretanto, já Arren tentava livrar-se de um homem com um tabuleiro de pequenas vasilhas de cobre, que se lhe colara aos calcanhares, lamuriando:
— Comprai, experimentai, meu jovem e belo senhor, não vos vão deixar mal, dar-vos-ão um hálito tão suave como as rosas de Numima, e as mulheres encantar-se-ão convosco, experimentai meu jovem senhor do mar, meu jovem príncipe...
De imediato, o Gavião interpôs-se entre Arren e o bufarinheiro, perguntando:
— Que talismãs são esses?
— Não são talismãs! — choramingou o homem, encolhendo-se perante ele. — Eu não vendo talismãs, mestre do mar! Só uns xaropes para suavizar o hálito depois da bebida ou da raiz de hádzia... só xaropes, grande príncipe!
E agachou-se completamente nas pedras da rua, com o seu tabuleiro de frasquinhos a tinir e a chocalhar, e alguns deles mesmo a inclinarem-se de tal maneira que uma gota do líquido espesso que tinham dentro, rosa ou púrpura, escorreu para fora do gargalo.
Sem mais palavras o Gavião virou costas e seguiu em frente com Arren. Em breve as pessoas começavam a ser menos e as lojas tornaram-se de uma pobreza confrangedora, uns casinhotos ostentando como única mercadoria, este um punhado de pregos tortos, aquele uma mão de almofariz partida e aqueloutro uma velha escova de cardar. Esta pobreza desagradou menos a Arren que o resto. No lado mais rico da rua sentira-se chocado, sufocado, pela pressão das coisas a serem vendidas e das vozes a gritarem-lhe que comprasse, comprasse. E acima de tudo chocara-o a abjeção do bufarinheiro. Recordou as frescas e brilhantes ruas da sua cidade setentrional. Em Berila, nenhum homem se teria humilhado assim perante um estranho.
— Esta é uma gente baixa! — comentou.
— Por aqui, mê sobrinho — foi tudo o que obteve como resposta do companheiro. Voltaram para uma passagem entre paredes altas, vermelhas e sem janelas, que corriam ao longo da encosta, e atravessaram uma entrada em arco, engalanada com velhas e esfarrapadas flâmulas, saindo de novo para a luz do Sol num largo íngreme, outra praça de mercado, a abarrotar de tendas e quiosques, enxameada de gente e de moscas.
Ao longo dos lados do largo havia uma série de homens e mulheres, sentados ou deitados no chão, imóveis. As suas bocas tinham um estranho aspecto enegrecido, como se tivessem sido feridos, e ao redor dos seus lábios as moscas juntavam-se aos magotes como montes de uvas passas.
— Tantos... — soou a voz do Gavião, em tom baixo e precipitado, como se também ele tivesse sofrido um choque. Mas quando Arren olhou, havia apenas o rosto vulgar e bonacheão do robusto mercador Falcão, vazio de quaisquer preocupações.
— O que se passa com esta gente?
— Hádzia! Acalma e entorpece, deixando que o corpo se liberte da mente. E a mente vagueia livremente. Mas quando regressa ao corpo precisa de mais hádzia... E a ânsia cresce e a vida é curta, porque essa coisa é um veneno. Primeiro vem uma tremura, mais tarde paralisia e depois a morte.
Arren olhou para uma mulher que estava sentada com as costas apoiadas numa parede aquecida pelo sol. Erguera a mão como se tencionasse afastar as moscas da cara, mas a mão fez um movimento circular e sacudido, como se ela se tivesse esquecido completamente da sua intenção inicial e o movimento resultasse apenas de um repetido estremecer dos músculos. O gesto era como um encantamento vazio de todo o sentido, um esconjuro sem significado.
O Gavião olhava também para ela, inexpressivamente.
— Vem daí! — disse.
E abriu caminho através da praça e até uma tenda sombreada por um toldo. Riscas de cores avivadas pelo sol, verde, laranja, limão, carmim e azul, alongavam-se sobre tecidos, xales e cintos entretecidos em exposição, e dançavam, refletidas como um sem-fim de clarões nos pequenos espelhos que enfeitavam a alta e emplumada cabeleira da mulher que vendia a mercadoria exposta. Era grande, forte e forte era também a sua voz.
— Sedas, cetins, linhos, peles, feltros, lãs, velos de ovelha de Gont, gazes de Saul, sedas de Lorbanery! Ei, homens do Norte, larguem esses casacões. Não vêem o sol que faz? E que tal isto para levar às vossas raparigas lá na longínqua Havnor? Olhem-me para isto, seda do Sul, fina como a asa de uma borboleta de Maio!
Com mãos destras, abrira uma peça de seda finíssima, cor-de-rosa e salpicada com fios de prata.
— Nã, senhora, nã somos noivos de rainhas — disse o Falcão. Mas logo a voz da mulher se ergueu como um trovão.
— E então com que é que vestem as vossas mulheres, com serapilheira? Lona de velas? Gente mesquinha que não compra um pecinha de seda para uma pobre mulher que enregela nas neves eternas lá do Norte! Então e que tal este velo de Gont, para a ajudar a aquecer nas noites frias de Inverno?
E lançou por cima do balcão um grande quadrado de um pano creme e castanho, tecido com o pêlo sedoso das cabras das ilhas setentrionais. O falso mercador estendeu a mão, apalpou-o e teve um sorriso.
— Ei, és algum gontiano? — fez a voz retumbante e a cabeleira, agitando-se, lançou mil pontos coloridos a girar por cima do toldo e dos tecidos.
— Isto é trabalho das Andrades — retorquiu o Falcão. — Estás a ver. A largura do dedo só apanha quatro fios da urdideira. Os de Gont têm seis ou mais. Mas diz-me cá. Deixaste de fazer magia para vender quinquilharias? Quando por aqui passei, há uns anos, vi-te a tirar labaredas das orelhas às pessoas e depois transformavas as labaredas em pássaros e sinos dourados. Era um negócio bem melhor que este.
— Isso não era negócio nenhum — disse a enorme mulher e, por um instante, Arren notou os seus olhos, duros e firmes como ágatas, olhando-o e ao Falcão lá de dentro do brilho e agitação das suas penas oscilantes e relampejantes espelhos.
— Ah, mas se era bonito aquilo de tirar fogo das orelhas — insistiu o Falcão num tom de voz obstinado mas simplório.
— Tinha pensado em mostrá-lo aqui ao mê sobrinho.
— Pois, pois. Mas olha cá — disse a mulher, menos asperamente, apoiando os gordos braços castanhos e o vasto peito sobre o balcão. — Nós já não fazemos esses truques. As pessoas não estão interessadas. Perceberam como eram feitos. Agora, estes espelhos, estou a ver que te lembras dos meus espelhos — e sacudiu a cabeça, fazendo rodopiar os pontinhos de luz em volta deles de forma entontecedora. — Pois pode-se confundir o espírito de um homem com os reflexos dos espelhos e com palavras e ainda com outros truques de que não te vou falar, até ele pensar que vê o que não vê, o que não está ali. Como as labaredas e os sinos dourados, ou os fatos com que eu costumava enfeitar os marinheiros, tecido de ouro com diamantes do tamanho de abrunhos, e lá iam eles todos pimpões como se fossem o Rei de Todas as Ilhas... Mas eram truques, ilusões. É possível iludir os homens. São como galinhas encantadas por uma cobra, ou por um dedo em frente do bico. E os homens são como as galinhas. Mas depois, no fim, percebem que foram iludidos, entontecidos, de maneira que se zangam e deixam de ter prazer com tais coisas. Foi assim que me voltei para este negócio e talvez que nem todas as sedas sejam sedas, nem todos os velos gontianos, mas de qualquer maneira duram... lá isso, duram! São coisas de verdade e não simples mentiras e ar como os fatos de pano de ouro.
— Bem, bem — fez o Falcão —, quer então dizer que já não há ninguém em toda a Cidade de Hort que tire fogo das orelhas, nem faça mágicas como costumavam?
Perante estas últimas palavras, a mulher franziu o cenho, endireitou-se e começou a enrolar o velo com todo o cuidado.
— Aqueles que ainda querem mentiras e visões mastigam hádzia — informou secamente.
Com um aceno de cabeça, indicou as figuras imóveis ao redor do largo e acrescentou:
— Fala com aqueles, se quiseres.
— Mas havia mágicos, aqueles que invocavam os ventos para os homens do mar e lançavam esconjuros de boa sorte sobre os carregamentos. Esses também se viraram para outros negócios?
Mas a mulher, subitamente furiosa, interrompeu-o com a sua voz retumbante.
— Há um mágico, se o quiseres. Um dos grandes, um feiticeiro com bordão e tudo. Estás a vê-lo ali? Navegou com o próprio Egre, invocando ventos e encontrando galeras bem pejadas, dizia ele, mas era tudo mentiras e por fim o Capitão Egre deu-lhe a recompensa merecida. Decepou-lhe a mão direita. E agora para ali está, como podes ver, com a boca cheia de hádzia e a barriga de vento. Ar e mentiras! Ar e mentiras! É tudo o que há nessa tua magia, Comandante Bode!
— Pronto, pronto, senhora —, disse o Falcão com impenitente brandura. — E estava só a perguntar.
A mulher voltou-lhes as amplas costas com um grande remoinhar de reflexos e ele desandou dali, com Arren ao lado.
Mas era um desandar com um propósito e que os levou até perto do homem que a mulher indicara. Estava sentado de encontro a uma parede e com o olhar perdido no vácuo. O rosto escuro e barbudo fora belo em tempos. O coto enrugado do punho jazia nas pedras do chão, sob a luz quente e brilhante do Sol, um símbolo de vergonha.
Havia uma certa agitação nas tendas por detrás deles, mas Arren não conseguia desviar os olhos do homem, preso por um fascínio relutante.
— Era realmente um feiticeiro? — perguntou em voz muito baixa.
— É talvez aquele a quem chamavam Lebre e era fazedor de vento ao serviço do pirata Egre. Eram famosos ladrões... Ei! Afasta-te, Arren!
Um homem, a correr a toda a velocidade e saindo do meio das tendas, por pouco não chocava contra ambos. Outro veio a trotar atrás do primeiro, vergado ao peso de um grande tabuleiro dobradiço, cheio de cordões, fitas e rendas. Uma das tendas veio abaixo com estrondo. Toldos estavam a ser enrolados ou retirados à pressa. Gente às molhadas empurrava-se ou lutava por todo o espaço do mercado. Erguiam-se vozes, vociferando, gritando. E acima de todas elas destacava-se a gritaria ensurdecedora da mulher com o toucado de espelhos. Arren vislumbrou-a brandindo uma espécie de pau ou vara contra uma data de homens, afugentando-os com grandes golpes a varrer, como um espadachim encurralado. Se se tratava de alguma discussão que degenerara em motim, um ataque por uma quadrilha de ladrões ou a luta entre dois grupos rivais de vendilhões, ninguém saberia dizê-lo. Havia gente a correr com braçadas de mercadorias que podiam ter sido fruto de roubo ou arrebanhadas pelos proprietários para as salvar da pilhagem. Havia lutas à faca e ao soco, e zaragatas por todo o largo.
— Por ali — disse Arren, apontando para uma rua lateral, perto deles, que conduzia para fora do largo. Deu uns passos em direção a essa rua, pois era evidente que o melhor era saírem dela o mais depressa possível, mas o companheiro agarrou-lhe o braço. Arren olhou para trás e viu que o homem chamado Lebre estava a esforçar-se por se pôr de pé. Quando se ergueu, ficou um momento a oscilar e logo, sem sequer olhar em volta, começou a caminhar ao longo das paredes que limitavam o largo, arrastando por elas a sua única mão como para se guiar ou segurar.
— Não o percas de vista! — disse o Gavião. E seguiram ambos no seu encalço. Ninguém os molestou, nem ao homem que seguiam, e daí a um minuto estavam fora do largo do mercado, encosta abaixo, no silêncio de uma rua estreita e tortuosa.
Por cima deles, os sótãos das casas quase se juntavam sobre a rua, reduzindo a claridade. A seus pés, a pedras estavam escorregadias de água e imundícies. O Lebre avançava a boa velocidade, se bem que continuasse a roçar a mão pelas paredes, como um cego. Tinham de se manter perto dele não fossem perdê-lo nalgum cruzamento. De súbito, Arren sentiu-se tomado pela excitação da caçada. Todos os seus sentidos estavam despertos, tal como estariam numa caçada ao veado, nas florestas de Enlad. Via nitidamente o rosto de cada pessoa por quem passavam e aspirava o doce fedor da cidade, um cheiro a lixo, incenso, carne morta e flores. Ao abrirem caminho através de uma rua larga e cheia de gente, ouviu o rufar de um tambor e viu de relance uma fileira de homens e mulheres nus, cada um acorrentado ao que lhe estava mais próximo pelo pulso e pela cintura, o cabelo eriçado a cair-lhes para a cara. Uma brevíssima visão e já tinham desaparecido, enquanto ele se esgueirava atrás do Lebre por um lance de degraus deitando para uma praça estreita, vazia à exceção de um pequeno grupo de mulheres a dar à língua junto a uma fonte.
Foi aí que o Gavião alcançou o Lebre e lhe pôs a mão no ombro, perante o que o homem se encolheu como se o tivessem queimado, recuando assustado, e se acolheu sob a maciça entrada de uma porta. Ficou-se ali a tremer, fitando-os com o olhar desvairado dos fugitivos.
— És tu aquele a quem chamam Lebre? — perguntou o Gavião, falando com a sua própria voz que era áspera na qualidade, mas suave na entoação. O homem nada respondeu, parecendo não atender ou não ouvir. — Preciso de uma coisa de ti — continuou o Gavião, mais uma vez sem obter resposta. — Estou disposto a pagar por ela.
Houve uma lenta reação.
— Marfim ou ouro?
— Ouro.
— Quanto?
— O feiticeiro sabe qual o valor do seu encantamento.
O rosto do Lebre estremeceu e alterou-se, adquirindo vida por um instante, tão depressa que se diria tremular, e logo voltando a nublar-se de vazio.
— Foi-se tudo — disse —, tudo...
Um ataque de tosse fê-lo dobrar-se ao meio e cuspir negro. Quando se voltou a endireitar, quedou-se passivo e trêmulo, parecendo ter esquecido de que estavam a falar.
Uma vez mais Arren o fitava, fascinado. O recesso em que o homem se encontrava era formado por duas figuras gigantescas, flanqueando a entrada, estátuas cujo pescoço se vergava ao peso de um frontão triangular e cujos corpos de músculos tensos só parcialmente se destacavam da parede, como se tivessem tentado lutar para sair da pedra e entrar na vida, só incompletamente o conseguindo. A porta que guardavam era de madeira podre segura pelos gonzos. A casa, em tempos um palácio, era agora uma ruína. Os rostos carrancudos e protuberantes dos gigantes estavam lascados e cobertos de liquens. Entre aquelas duas poderosas figuras, o homem chamado Lebre parecia ainda mais inerme e frágil, de olhos tão mortiços como as janelas da casa vazia. Levantando o braço mutilado entre ele e o Gavião, lamuriou:
— Dá qualquer coisinha a um pobre estropiado, senhor... O mago fez uma careta de vergonha ou dor. Arren sentiu que, por um momento, lhe vira o rosto verdadeiro sob o disfarce. Voltando a pôr a mão sobre o ombro do Lebre, o Gavião pronunciou algumas palavras, suavemente, na língua dos feiticeiros que Arren não entendia.
Mas o Lebre entendeu. Com a sua única mão agarrou-se ao Gavião e gaguejou:
— Tu ainda podes falar... falar... Vem comigo, anda...
O Arquimago olhou de relance para Arren e fez um aceno afirmativo.
Por ruas íngremes, desceram até um dos vales entre as três colinas da Cidade de Hort. A medida que iam descendo, os caminhos iam-se tornando mais estreitos, escuros e sossegados. O céu era uma tira pálida entre os beirais acima das suas cabeças e as paredes das casas, de ambos os lados, eram úmidas e frias. Ao fundo daquela espécie de garganta corria um rio, fedorento como um esgoto a céu aberto. Entre pontes em arco, apinhavam-se casas ao longo das margens. O Lebre virou para a escura entrada de uma dessas casas, desaparecendo como uma vela que um sopro tivesse apagado. Seguiram-no.
Os degraus da escada sem luz estalavam e oscilavam debaixo dos seus pés. Ao cimo das escadas o Lebre abriu uma porta com um empurrão e puderam então ver onde estavam. Era um quarto vazio, com uma enxerga de palha a um canto e uma janela sem vidros, entaipada, que deixava entrar uma tênue claridade poeirenta.
O Lebre voltou-se para encarar o Gavião e de novo lhe segurou o braço. Os seus lábios agitaram-se e por fim, gaguejante, disse:
— Dragão... dragão...
O Gavião olhou-o também, firmemente, mas sem uma palavra.
— Não consigo falar — disse o Lebre e, soltando o braço do Gavião, agachou-se no soalho vazio, a chorar.
O mago ajoelhou junto dele e falou-lhe suavemente na Antiga Fala. Arren deixou-se ficar junto à porta fechada, com a mão sobre o punho da faca. A luz cinzenta e o quarto empoeirado, as duas figuras ajoelhadas, o suave e estranho som da voz do mago, falando na língua dos dragões, tudo se ligava entre si como sucede nos sonhos, sem relação com o que acontece fora deles ou com o passar do tempo.
Lentamente, o Lebre voltou a erguer-se. Limpou o pó dos joelhos com a sua única mão e escondeu o braço mutilado atrás das costas. Olhou em volta, olhou para Arren. Agora via aquilo para que estava a olhar. Arren permaneceu de pé junto à porta, de guarda. Mas, com a simplicidade de alguém que carecera de mobiliário durante toda a sua infância, o Gavião sentou-se, de pernas cruzadas, no soalho nu.
— Conta-me como perdeste a tua arte e a linguagem da tua arte — instou.
Durante algum tempo o Lebre não deu resposta. Começou a bater com o braço mutilado de encontro à coxa, de modo impaciente, sacudido, e por fim disse, forçando-se a pronunciar as palavras em frases bruscas e soltas.
— Eles cortaram a minha mão. Não posso tecer os encantamentos. Cortaram a minha mão. O sangue correu, até secar.
— Mas isso foi depois de teres perdido o teu poder, Lebre. De outro modo não podiam ter-te feito tal coisa.
— Poder...
— Sim, o poder sobre os ventos e as ondas e os homens. Chamava-los pelos seus nomes e eles obedeciam-te.
— Sim. Lembro-me de estar vivo — disse o homem numa voz suave e rouca. — E conhecia as palavras e os nomes...
— E agora, estás morto?
— Não. Vivo. Vivo. Só que dantes eu era um dragão... Não, não estou morto. Durmo por vezes. O sono está muito perto da morte, toda a gente sabe disso. Os mortos caminham nos sonhos, toda a gente sabe disso. Vêm vivos até nós e dizem-nos coisas. Saem da morte para dentro dos sonhos. Há uma maneira, um caminho. E se prosseguires até chegares suficientemente perto, há um caminho de volta, todo um caminho. Todo um caminho. Podes encontrá-lo se souberes onde procurar. E se estiveres disposto a pagar o preço.
— Que preço é esse? — e a voz do Gavião flutuava no ar sombrio como a sombra de uma folha a cair.
— A vida, o que havia de ser? Que podes tu comprar com a vida, senão vida?
O Lebre balançava-se para trás e para diante na sua enxerga, com um brilho matreiro, inquietante, nos olhos.
— Bem vês — prosseguiu ele —, podem cortar-me a mão. Podem cortar-me a cabeça. Não interessa, porque eu posso encontrar o caminho de volta. Sei onde procurar. Só homens de poder lá podem ir.
— Feiticeiros, queres tu dizer?
— Sim.
O Lebre hesitou, como se tentasse, por várias vezes, pronunciar a palavra. Mas não conseguiu dizê-la.
— Homens de poder — acabou por repetir. — E têm... têm de renunciar a ele. De pagar.
Depois quedou-se ensimesmado, como se a palavra «pagar» tivesse enfim despertado associações e ele houvesse compreendido que estava a oferecer informações em vez de as vender. Não foi possível arrancar-lhe mais nada, nem sequer as insinuações vagas e gaguejadas acerca de um «caminho de volta» que o Gavião parecia considerar significativas. Assim, pouco demorou para o mago se levantar.
— Bom, meias respostas sempre são melhores que resposta nenhuma e o mesmo se passa com o pagamento.
E, hábil como um prestidigitador, fez saltar uma moeda de ouro para cima da enxerga, em frente do Lebre.
O Lebre deitou-lhe a mão. Olhou a moeda e depois fitou o Gavião e Arren com movimentos espasmódicos da cabeça.
— Esperem — gaguejou. Logo que a situação se alterara, perdera-lhe o controlo e agora o seu espírito tateava em busca do que pretendia dizer.
— Esta noite — disse por fim. — Esperem. Esta noite. Vou ter hádzia.
— Não preciso disso.
— Para te mostrar... Para te mostrar o caminho. Esta noite. Eu levo-te. Eu mostro-te. Tu podes lá chegar porque tu... tu és...
E voltou a tentar encontrar a palavra até que o Gavião disse:
— Eu sou um feiticeiro.
— Sim, isso! De maneira que podemos... podemos lá chegar. Ao caminho. Quando eu sonho. No sonho. Percebes? Eu levo-te. Vais comigo até... ao caminho.
O Gavião deixou-se ficar em silêncio, imóvel e meditativo, no meio da sala sombria.
— Talvez — acabou por dizer. — Se viermos, estaremos aqui ao anoitecer.
Depois voltou-se para Arren que logo abriu a porta, ansioso por sair dali para fora.
A rua escura, fria e úmida, parecia tão clara como um jardim depois do quarto do Lebre. Dirigiram-se para a parte alta da cidade pelo caminho mais curto, uma íngreme escadaria de pedra entre paredes de casas cobertas de hera. Arren aspirava e expelia o ar como um leão marinho.
— Áque! — fez ele. — Vais voltar ali?
— Bem, irei, se não conseguir obter a mesma informação de uma fonte menos arriscada. Não me admirava que nos armasse uma cilada.
— Mas tu não estás defendido contra ladrões e assim?
— Defendido? — fez o Gavião. — Que queres tu dizer? Achas que ando por aí embrulhado em encantamentos como uma velhota com medo do reumatismo? Não tenho tempo para isso. Oculto a minha cara verdadeira para ocultar a nossa demanda e é tudo. Nós podemos tomar conta um do outro. Mas a verdade é que não vamos conseguir manter-nos afastados do perigo nesta jornada.
— Claro que não — disse Arren rigidamente, furioso, ferido no seu orgulho. — Também não era isso que eu pretendia.
— Pois tanto melhor — replicou o mago, inflexível, mas mesmo assim com uma espécie de bom humor que apaziguou a zanga de Arren. E o certo é que ele ficara sobressaltado com a sua própria. Nunca pensara em falar assim ao Arquimago. Mas depois aquele era e não era o Arquimago, cuja voz era umas vezes a de um homem e outras a de outro, um estranho, alguém que não era de fiar.
— O que ele te disse faz algum sentido? — perguntou Arren, pois não lhe agradava nada ter de voltar àquele quarto sombrio por cima do rio fedorento. — Todas aquelas frioleiras acerca de estar vivo e morto, e de voltar com a cabeça cortada?
— Não sei se faz sentido. Eu queria falar com um feiticeiro que tivesse perdido o poder. Ele diz-me que não o perdeu, mas o deu... que o trocou. Mas por quê? Vida por vida, foi o que ele disse. Poder por poder. Não, não o entendo, mas vale a pena ouvi-lo.
O calmo raciocínio do Gavião envergonhou Arren anda mais. Considerou-se petulante e nervoso, como uma criança. O Lebre fascinara-o, mas agora que o fascínio se quebrara sentia uma espécie de enjôo doentio, como se tivesse comido alguma coisa estragada. Decidiu não voltar a falar até ter controlado o seu temperamento e, no momento seguinte, pousou mal o pé nos degraus desgastados, escorregou e recuperou o equilíbrio raspando a pele das mãos nas pedras.
— Amaldiçoada seja esta cidade nojenta! — lançou, enraivecido. E o mago replicou secamente:
— Não me parece que precise de ser amaldiçoada.
Havia realmente algo de errado na Cidade de Hort, de errado no próprio ar, pelo que se podia pensar muito seriamente que estava debaixo de uma maldição. E no entanto não se tratava de uma presença de qualquer espécie, antes de uma ausência, de um enfraquecimento de todas as qualidades, como uma doença que em breve infectasse também o espírito de qualquer visitante. Até o calor do Sol da tarde era doentio, demasiado pesado para Março. As praças e ruas agitavam-se de atividade e comércio, mas não havia ordem nem prosperidade. As mercadorias eram más, os preços altos e os mercados não eram seguros, nem para negociantes nem para compradores, pois estavam cheios de ladrões e quadrilhas de vadios. Poucas mulheres se viam nas ruas e as poucas que havia andavam em grupos. Era uma cidade sem lei nem governo. Falando com as pessoas, Arren e o Gavião em breve descobriram que não havia realmente conselho de cidadãos, presidente do município ou senhor na Cidade de Hort. Alguns dos que costumavam governar a cidade tinham morrido, outros resignado e outros ainda sido assassinados. Vários chefes lideravam os vários bairros da cidade, os guardas do porto ocupavam-se do embarcadouro e enchiam as algibeiras, e por aí adiante.
A cidade já não tinha centro algum. As pessoas, apesar de toda a sua febril atividade, pareciam não ter finalidade alguma. Dir-se-ia que os artesãos tinham perdido a vontade de trabalhar bem. Até os ladrões roubavam porque era tudo o que sabiam fazer. Todo o burburinho e brilho de um grande porto de mar estava presente, à superfície, mas em redor de tudo isso sentavam-se os comedores de hádzia, imóveis. E abaixo da superfície as coisas não pareciam totalmente reais, nem sequer os rostos, os sons, os cheiros. De vez em quando era como se se apagassem, durante aquela longa e quente tarde, enquanto o Gavião e Arren caminhavam pelas ruas, falando com este e com aquele. E apagavam-se realmente. Os toldos às riscas, as sujas pedras do chão, as paredes coloridas e toda a vivacidade do ser se perdia, deixando a cidade como algo visto em sonhos, vazia e lúgubre, sob a luz nevoenta do Sol.
Só no ponto mais alto da cidade, aonde se dirigiram para descansarem um pouco ao fim da tarde, houve uma interrupção naquela sensação doentia de sonho acordado.
— Esta não é uma cidade que dê sorte — dissera Gavião algumas horas atrás. E agora, após horas de um vaguear sem destino e de infrutíferas conversas com estranhos, tinha um ar cansado e carrancudo. O seu disfarce tinha-se desgastado um pouco e, através do rosto ilusório de mercador, descortinava-se uma certa dureza, um certo tom escuro. Arren não fora capaz de se libertar da sua irritabilidade da manhã. Sentaram-se na relva áspera do topo do monte, sob a folhagem de um bosque de árvores pendick, de folhas escuras e cheias de botões vermelhos, alguns dos quais já estavam abertos. Dali nada viam da cidade, para além dos telhados, descendo em múltiplos degraus até ao mar. A baía abria largamente os seus braços, de um azul-escuro e baço sob a neblina primaveril, apontando para o ar do horizonte. Não se viam linhas de demarcação nem fronteiras. Ficaram de olhos fitos naquele imenso espaço azul e a mente de Arren clareou, abrindo-se para receber e celebrar o mundo.
Quando foram beber a um pequeno ribeiro ali perto, que corria límpido sobre rochas castanhas, vindo da sua fonte nalgum jardim principesco na colina atrás deles, bebeu a longos haustos e meteu completamente a cabeça debaixo da água fria. Depois levantou-se e declamou os versos do Feito de Morred que diziam:
Louvadas são as Fontes de Xélieth, a harpa argêntea das águas, Mas abençoado seja em meu nome e para sempre este rio que apaziguou a minha sede!
O Gavião riu-se e também Arren riu. Sacudiu a cabeça como um cão e fez saltar em chuva brilhante a água dos cabelos, que voou clara na última luz dourada do Sol.
Mas tiveram de deixar o bosque e voltar a descer para as ruas da cidade. Depois de arranjarem de cear numa tenda que vendia bolos de peixe gordurosos, já a noite pesava no ar. A escuridão penetrava cedo nas ruelas estreitas.
— O melhor é irmos, rapaz — disse o Gavião.
— Para o barco? — perguntou Arren. Mas sabia que não se iam dirigir para o barco, e sim para a casa sobre o rio, para o terrível quarto, vazio e cheio de pó.
O Lebre esperava por eles à entrada da casa.
Acendeu uma candeia de azeite para lhes iluminar a subida pela negra escada. A minúscula chama tremia constantemente na mão do homem, lançando vastas e rápidas sombras pelas paredes acima.
Tinha arranjado outro saco de palha para os visitantes se sentarem, mas Arren escolheu antes um lugar no chão nu, junto à porta. Esta abria-se para fora e, para a guardar, ele deveria antes ter-se sentado no exterior, mas aquele vestíbulo escuro como breu era mais que o que ele podia suportar, além de que queria manter um olho no Lebre. A atenção do Gavião, provavelmente também os seus poderes, iam estar voltados para o que o Lebre tinha para lhe dizer ou mostrar. Cabia a Arren ficar atento a alguma velhacaria.
O Lebre estava agora mais direito e tremia menos, além de que limpara a boca e os dentes. De princípio, embora excitadamente, falou de maneira razoavelmente sensata. A luz da candeia, os seus olhos eram tão escuros que, como os dos animais, pareciam não ter branco. Discutiu vivamente com o Gavião, instando com ele para que comesse hádzia.
— Eu quero levar-te, levar-te comigo. Temos de seguir pelo mesmo caminho. Não falta muito para que eu vá, estejas pronto ou não. Tens de tomar a hádzia para me seguires.
— Acho que posso seguir-te.
— Não onde eu vou. Isto não é... de deitar encantamentos. — Não parecia capaz de dizer as palavras «feiticeiro» ou «feitiçaria». — Eu sei que tu és capaz de ir até ao... ao lugar, tu sabes, a parede. Mas não é por aí. É um caminho diferente.
— Se tu fores, posso seguir-te.
O Lebre sacudiu a cabeça. O seu belo rosto, agora uma ruína do que fora, estava afogueado. Olhava freqüentemente para Arren, como a incluí-lo na conversa, embora apenas falasse para o Gavião.
— Ouve. Há duas espécies de homens, não há? A nossa e o resto. Os... os dragões e os outros. Gente sem poder e só meia viva. Esses não contam. Não sabem o que sonham. Têm medo do escuro. Mas os outros, os senhores dos homens, não têm medo de penetrar na escuridão. Nós temos a força.
— Desde que saibamos os nomes das coisas.
— Mas os nomes, lá, não contam... aí é que está, aí é que está! Não é o que fazes, o que sabes, que precisas. Os encantamentos não servem de nada. Tens de esquecer isso tudo, deixar ir. E aí é que comer hádzia ajuda. Esquecemos os nomes, deixamos para trás a forma das coisas e vamos direitos à realidade. Agora já falta muito pouco para eu ir e, se queres saber para onde, devias fazer como eu te digo. E eu digo como ele diz. Tens de ser um senhor de homens para seres um senhor da vida. Tens de descobrir o segredo. Eu podia dizer-te o seu nome, mas o que é um nome? Um nome não é real, o real, o real para sempre. Os dragões não podem ir até lá. Os dragões morrem. Todos morrem. Esta noite comi tanta que nunca vais conseguir acompanhar-me. Não há vendas nos meus olhos. Onde eu me perco, podes guiar-me. Lembras-te qual é o segredo? Lembras-te? Não há morte. Não há morte... não! Acabou-se a cama suada, o caixão a apodrecer, acabou-se, nunca mais. O sangue seca como o rio seco e desaparece. Não há medo. Não há morte. Os nomes foram-se e as palavras e o medo, tudo se foi. Mostra-me onde é que eu me perco, mostra-me, senhor...
E assim prosseguiu num êxtase de palavras meio sufocadas que era como o entoar de um encantamento, mas onde não havia encantamento, nem unidade, nem sentido. Arren escutava, escutava, esforçando-se por compreender. Se ao menos pudesse compreender! O Gavião devia fazer como ele dizia e tomar a droga, pelo menos desta vez, para finalmente descobrir de que estava o Lebre a falar, o mistério que ele não queria ou não podia revelar. Senão, que estavam eles ali a fazer? Mas afinal (e Arren desviou os olhos do rosto extático do Lebre para o outro perfil) talvez o mago já tivesse compreendido... Duro como pedra, aquele perfil. Falcão, o mercador, desaparecera, fora olvidado. Era o mago, o Arquimago, que estava ali agora. A voz do Lebre não era já senão um trautear indistinto e, de pernas cruzadas, balançava o corpo para trás e para diante. O seu rosto tomara um ar desvairado, a boca amolecera. De frente para ele, à luz tênue mas firme da lamparina pousada no chão entre eles, o outro não dizia palavra, mas estendera o braço e pegara na mão do Lebre, como que a segurá-lo. Arren não o vira estender o braço. Havia vazios na ordem dos acontecimentos, vazios de inexistência... sonolência, devia ter sido. Por certo teriam passado horas, devia ser perto da meia-noite. Se adormecesse, seria também ele capaz de seguir o Lebre no seu sonho e chegar ao lugar, ao caminho secreto? Talvez pudesse. Agora parecia-lhe bem possível. Mas tinha de guardar a porta. Ele e o Gavião quase não tinham falado disso, mas estavam ambos cientes de que, ao fazê-lo voltar ali de noite, o Lebre poderia ter planejado alguma emboscada. Ele fora pirata, conhecia ladrões. Nada haviam combinado, mas Arren sabia que tinha de estar de guarda porque, enquanto fizesse aquela estranha viagem do espírito, o mago estaria indefeso. Mas, como um idiota, deixara a sua espada no barco e de que lhe poderia servir a faca se aquela porta de repente se abrisse por detrás dele? Mas isso não iria acontecer. Ele podia estar atento, à escuta. O Lebre já deixara de falar. Os dois homens mantinham um silêncio absoluto. Toda a casa estava em silêncio. Ninguém poderia subir aqueles degraus bamboleantes sem fazer algum ruído. E, se ouvisse barulho, ele podia falar, soltar um brado de aviso. Então o transe quebrar-se-ia, o Gavião voltar-se-ia para se defender e a Arren com o raio terrível que é a ira de um feiticeiro... Quando Arren se sentara junto da porta, o Gavião olhara-o, apenas um relance, com aprovação. Aprovação e confiança. Ele era o guarda. Não haveria perigo se permanecesse atento. Mas era difícil. Era difícil continuar a vigiar aqueles dois rostos, à pequena pérola de luz que era a chama da candeia entre eles, no chão. E agora silenciosos ambos, imóveis ambos, de olhos abertos mas sem verem a luz nem o quarto cheio de pó, sem verem o mundo, mas sim algum outro mundo de sonho ou de morte... Continuar a vigiá-los sem tentar segui-los...
E ali, na vasta, na seca escuridão, alguém se erguia, com um gesto de chamamento. Vem, disse ele, o alto senhor das sombras. Na sua mão segurava uma chama minúscula, não maior que uma pérola, e estendeu-a para Arren, oferecendo vida. Lentamente, Arren deu um passo em direção a ele, obedecendo.
LUZ DE MAGIA
Seca, a sua boca estava seca. E havia um sabor a poeira na sua língua, os seus lábios estavam cobertos de poeira.
Sem levantar a cabeça do chão, observou o jogo das sombras. Havia as sombras grandes que se moviam e inclinavam, aumentavam e encolhiam, e outras menos nítidas que corriam rápidas pelas paredes, pelo teto, troçando das outras. Havia uma sombra a um canto e uma sombra no chão, e nenhuma delas se movia.
A nuca começou a doer-lhe. Ao mesmo tempo, o que via tornou-se claro no seu espírito, como um só relâmpago, cristalizado num instante. O Lebre desabado a um canto com a cabeça nos joelhos, o Gavião estendido de costas, um homem ajoelhado sobre o Gavião, outro deitando moedas de ouro para dentro de uma bolsa, um terceiro de pé, a observar. O terceiro segurava uma lanterna numa das mãos e uma adaga na outra. A adaga de Arren.
Se falavam, não os ouvia. O que ouvia eram os seus próprios pensamentos, que lhe diziam o que fazer de imediato e sem hesitações. E logo lhes obedeceu. Rastejou em frente, muito lentamente, uns dois ou três pés, lançou a mão esquerda e apoderou-se da bolsa, pôs-se em pé de um salto e correu para as escadas soltando um grito rouco. Mergulhou escada abaixo na cega escuridão sem falhar um degrau, sem sequer os sentir debaixo dos pés, como se voasse. Irrompeu porta fora e penetrou, correndo a toda a velocidade, no escuro da noite.
Contra o fundo de estrelas, as casas erguiam-se como vultos negros. A luz das estrelas refletia-se tenuemente no rio, para a sua direita e, embora não conseguisse ver para onde o levavam as ruas, pelo menos dava pelos cruzamentos e podia virar e tornar mais difícil a perseguição. Porque o tinham seguido. Podia ouvi-los atrás de si, não muito longe. Estavam descalços e era mais fácil ouvir-lhes a respiração ofegante que as passadas. Se tivesse tido tempo, teria rido. Sabia finalmente o que era ser a caça em vez do caçador, a presa em vez do chefe da perseguição. Era estar só e estar livre. Obliquou para a direita e, baixando a cabeça, esquivou-se por uma ponte de parapeitos altos, deslizou para uma rua lateral, virou uma esquina, de volta à margem do rio e ao longo desta por um bocado, logo atravessando outra ponte. Os seus sapatos ressoavam nas pedras do chão, único som que se ouvia em toda a cidade. Fez uma pausa junto ao apoio da ponte para se descalçar mas os atacadores estavam cheios de nós e não despistara os perseguidores. A lanterna brilhou por um segundo do outro lado do rio. O som dos pés, abafado, pesado, rápido, aproximava-se. Não conseguia afastar-se deles. Só podia correr mais depressa, seguir em frente, manter-se adiante e afastá-los daquele quarto poeirento, lá longe...
Tinham-lhe tirado o casaco, juntamente com a adaga, e estava em mangas de camisa, leve e quente, a cabeça a andar à roda, e a dor na nuca a tornar-se aguda, cada vez mais aguda, com cada passada, e corria, e continuava a correr... A bolsa incomodava-o. Deitou-a subitamente para o chão e uma moeda de ouro saltou lá de dentro, batendo nas pedras com um tilintar sonoro.
— Aí vai o vosso dinheiro! — gritou, a voz rouca e arfante.
Continuou a correr. E de repente a rua acabou. Nem ruas laterais, nem estrelas à sua frente, um beco sem saída. Sem parar, voltou para trás e correu de encontro aos seus perseguidores. A lanterna balançou-lhe furiosamente à frente dos olhos e, enquanto se aproximava dos outros correndo, lançou-lhes um brado de desafio.
Havia uma lanterna, balançando para a frente e para trás diante dele, um tênue ponto de luz numa grande massa ondulante, cinzenta. Observou-a por muito tempo. Tornou-se mais vaga e, por fim, uma sombra passou diante dela e, depois de ter passado, a luz desaparecera. Durante um bocado lamentou a ausência da luz. Ou talvez se lamentasse a si próprio, porque sabia que tinha de acordar, agora.
A lanterna, extinta, balançava ainda contra o mastro onde estava pendurada. Um tambor ressoava. Remos rangiam pesadamente, regularmente. A madeira do navio estalava e gemia como uma centena de pequenas vozes. Um homem lá em cima, à proa, gritou qualquer coisa para os marinheiros por detrás dele. Os homens acorrentados com Arren no porão da popa mantinham-se em silêncio. Cada um tinha um anel de ferro em volta da cintura e algemas nos pulsos, e ambas essas prisões estavam ligadas por uma corrente pesada e curta às do homem seguinte. O cinto de ferro estava também acorrentado a uma pulseira no cavername do navio, de modo que o prisioneiro podia sentar-se ou acocorar-se, mas não pôr-se de pé. Estavam demasiado apertados para se poderem deitar, amontoados no pequeno porão da carga. Arren encontrava-se junto à escotilha da frente. Se levantasse muito a cabeça, os olhos ficar-lhe-iam ao nível do convés, entre porão e amurada, com uns dois pés de largura.
Da noite anterior, pouco recordava para além da perseguição e do beco sem saída. Lutara, fora deitado abaixo com uma pancada e tinham-lhe atado os braços, assim o levando para qualquer lado. Ouvira falar um homem que tinha uma voz estranha, murmurante. Houvera um lugar como uma forja, o fogo a lançar labaredas vermelhas... Não conseguia lembrar-se bem. Mas sabia que estava num navio de escravos e que fora aprisionado para ser vendido.
Aquilo não tinha grande significado para ele. A sede que sentia era demasiada. Doía-lhe o corpo, a cabeça. Quando o Sol nasceu, a luz foi como lanças de dor nos seus olhos.
Mais tarde, a meio da manhã, deram um quarto de pão a cada um e um longo sorvo de água de uma botija de couro, que um homem de rosto feroz e rude lhes chegou aos lábios. A apertar-lhe o pescoço, trazia uma tira larga de couro, como uma coleira de cão, com tachas de ouro, e quando Arren o ouviu falar reconheceu a voz fraca, estranha, sibilante.
A bebida e o alimento aliviaram-lhe momentaneamente os males do corpo e aclararam-lhe o cérebro. Olhou pela primeira vez os rostos dos seus companheiros de escravidão, três na sua fila e quatro logo atrás. Alguns estavam sentados, com as cabeças apoiadas nos joelhos erguidos. Um tombara para o lado, doente ou drogado. O que estava junto de Arren era um indivíduo de uns vinte anos, de cara larga e achatada. Arren perguntou-lhe:
— Para onde é que nos levam?
O outro olhou para ele — entre as caras de ambos não havia nem um pé de distância — e arreganhou os dentes, encolhendo os ombros, e Arren julgou que ele quisesse dizer que não sabia. Mas depois ele contorceu os braços algemados como se pretendesse fazer algum gesto e abriu muito a boca para mostrar, no sítio onde a língua deveria ter estado, apenas um coto enegrecido.
— Deve ser Xaul — disse um por detrás de Arren. E logo outro:
— Ou o Mercado em Amrane.
E então o homem com a coleira, que parecia estar em todo o lado do navio ao mesmo tempo, debruçou-se sobre o porão, sibilando:
— Calem-se se não querem ir todos servir de isco para os tubarões.
Imediatamente, todos se calaram. Arren pôs-se a tentar imaginar esses lugares, Xaul, o Mercado de Amrane. Negociavam em escravos, aí. Expunham-nos em frente dos compradores, sem dúvida, como os bois ou os carneiros que se vendiam na Praça do Mercado, em Berila. E também iria estar ali, com as suas correntes. Alguém o compraria e o levaria para casa, e depois dar-lhe-iam uma ordem. E ele recusar-se-ia a obedecer. Ou obedeceria para depois tentar fugir. E, de uma maneira ou de outra, acabaria por ser morto. Não é que a sua alma se rebelasse perante a idéia da escravidão, pois estava demasiado enjoado e aturdido para isso. Era simplesmente porque sabia que não seria capaz de o suportar. Que, daí a uma semana ou duas, morreria ou seria morto. E embora visse e aceitasse isso como um fato, atemorizava-o, de modo que parou de pensar no que se seguiria. Baixou os olhos para as tábuas negras e imundas do porão, entre os pés, e sentiu o calor do sol nos seus ombros nus e a sede a secar-lhe a boca, a estreitar-lhe de novo a garganta.
O Sol pôs-se. Veio a noite, clara e fria. Surgiram nítidas as estrelas. O tambor ressoava como um bater lento de coração, marcando as remadas pois não corria uma aragem. E agora o frio tornara-se a desgraça maior. As costas de Arren conseguiam um pouco de calor das pernas dobradas do homem atrás dele e, no seu flanco esquerdo, do mudo ao seu lado, que permanecia sentado e Corcovado, resmungando um ritmo feito de grunhidos e sempre na mesma nota. Os remadores foram rendidos. O tambor voltou a soar. Arren ansiara pela escuridão, mas agora não conseguia dormir. Tinha os ossos doridos e não podia mudar de posição. Estava para ali sentado, dolorido, trêmulo, de boca seca, erguendo os olhos para as estrelas que se moviam no céu com um sacão a cada impulso dos remadores, deslizavam de volta aos seus lugares, ficavam paradas, davam novo sacão, deslizavam, paravam... O homem da coleira e um outro estavam entre o porão da popa e o mastro. A pequena lanterna, balouçando no mastro, brilhava um pouco entre eles e destacava-lhes as cabeças e os ombros em silhueta.
— Nevoeiro, ó meu bexiga de porco — soou a voz fraca e odiosa do homem da coleira. — E o que é que o nevoeiro vem fazer nos Estreitos do Sul, nesta altura do ano? Sorte maldita!
O tambor reboava. As estrelas saltavam, deslizavam, paravam. Ao lado de Arren, o homem sem língua teve um estremecimento de todo o corpo e, levantando a cabeça, lançou um grito de pesadelo, um ruído terrível, informe.
— Cala-te, aí! — rugiu o segundo homem junto do mastro. O mudo voltou a estremecer e calou-se, mastigando em seco.
Sub-repticiamente, as estrelas deslizaram para o nada.
O mastro tremulou e desapareceu. Dir-se-ia que uma coberta cinzenta e fria caíra sobre as costas de Arren. O tambor falhou uma pancada e depois voltou a soar, mas mais lento.
No meio do nevoeiro, não havia sensação de movimento em frente. Só o balanço e os puxões dos remos. O pulsar do tambor soava abafado. Fazia um frio úmido. A névoa, condensando-se nos cabelos de Arren, escorreu-lhe para os olhos. Tentou apanhar as gotas com a língua e aspirou o ar úmido pela boca aberta para apaziguar a sede. Mas só conseguiu ficar a bater os dentes. O metal gelado de uma corrente balançou-lhe de encontro a uma anca e queimou como fogo onde tocara. Ouviu-se uma pancada do tambor, depois outra, depois parou.
Fez-se silêncio.
— Mantém a batida! Que é que se passa? — rugiu a voz rouca e sibilante, à proa. Não houve resposta.
O navio balançou um pouco no mar calmo. Para lá das amuradas, indistintas, nada havia. Vazio. Algo raspou contra o flanco do navio. Naquele estranho silêncio de morte, naquela escuridão, o ruído soou forte.
— Encalhamos — segredou um dos prisioneiros. Mas o silêncio cerrou-se sobre a sua voz.
O nevoeiro tornou-se claro como se uma luz desabrochasse no seu seio. Arren viu nitidamente as cabeças dos homens acorrentados junto dele, as minúsculas gotas de umidade a brilharem-lhes nos cabelos. O navio voltou a balançar e ele esticou-se até onde as correntes o permitiam, estendendo o pescoço, para ver mais para a frente, no navio. O nevoeiro brilhava sobre o convés como a luz por trás de nuvens delgadas, frio e resplandecente. Os remadores estavam imóveis, como estátuas. Havia tripulantes no meio do navio, com os olhos a brilhar ligeiramente. Sozinho, a bombordo, erguia-se um homem, e era dele que vinha a luz, do seu rosto, das suas mãos e do bordão que ardia como prata derretida.
Aos pés do homem resplandecente, agachava-se uma forma escura.
Arren quis falar mas não pôde. Envolto naquela majestade de luz, o Arquimago veio até ele e ajoelhou no convés. Arren sentiu o toque da sua mão, ouviu-lhe a voz. Sentiu as grilhetas dos pulsos, do corpo, soltarem-se. Por todo o porão se ouviu um matraquear de correntes tombando. Mas ninguém se moveu. Só Arren tentou pôr-se de pé, mas não conseguiu, anquilosado pela longa imobilidade. Mas a mão do Arquimago segurou-lhe o braço com vigor e, graças a essa ajuda, conseguiu arrastar-se para fora do porão e enrodilhar-se no convés.
O Arquimago afastou-se a passos lentos e o esplendor enevoado refletiu-se nos rostos imóveis dos remadores. Depois parou junto ao homem que se agachara junto à amurada de bombordo.
— Eu não castigo — soou a voz severa e nítida, fria como a fria luz de magia no meio do nevoeiro. — Mas em defesa da justiça, Egre, tomarei a responsabilidade de fazer isto: ordeno que a tua voz emudeça até ao dia em que encontres uma palavra que valha a pena dizer.
Voltou junto de Arren e ajudou-o a pôr-se de pé.
— Vem daí, rapaz — disse. E, com o seu auxílio, Arren lá conseguiu avançar mancando e, meio descer, meio cair, para dentro do barco que balançava sob o flanco do navio, o Vê-longe, a vela semelhante a uma asa de borboleta noturna entre a névoa.
No seio do mesmo silêncio, daquela calma mortal, a luz desapareceu e o barco, virando, deslizou para longe do costado do navio. Quase de golpe, a galé, a indistinta lanterna no mastro, os remadores imóveis, o volumoso bojo negro, tudo se fora. Arren julgou ouvir vozes soltando brados mas o som era tênue e em breve se perdia. Um pouco mais longe, o nevoeiro começou a rarefazer-se e a esfarrapar-se, levado pelo vento no escuro da noite. Saíram dele sob as estrelas e, tão silencioso como a borboleta a que se assemelhara, o Vê-longe voou por sobre o mar e através da noite sem nuvens.
O Gavião cobrira Arren com cobertores, deu-lhe água e sentou-se com a mão sobre o ombro do rapaz quando este de súbito deitou a chorar. O Gavião nada disse mas o toque da sua mão infundia brandura e segurança. Lentamente, o bem-estar apoderou-se de Arren com o calor, o movimento suave do barco, o apaziguar do coração.
Ergueu os olhos para o companheiro. Não havia vestígios de qualquer esplendor no seu rosto escuro. Mal lhe distinguia as feições, contra as estrelas.
O barco prosseguia veloz, levado por um encantamento. Como que surpreendidas, as ondas sussurravam ao longo dos seus flancos.
— Quem era o homem da coleira?
— Deixa-te estar quieto. É um ladrão dos mares, Egre. Usa aquela coleira para esconder uma cicatriz de quando certa vez lhe abriram a garganta. Ao que parece, o seu comércio decaiu da pirataria para a escravatura. Mas desta vez foi deitar a mão à cria do urso.
Na voz seca, tranqüila, havia um ligeiro tom de satisfação.
— Como me encontraste?
— Feitiçaria, suborno... Perdi algum tempo, porque não queria que se soubesse que o Arquimago e Guardião de Roke andava a farejar pelas vielas sórdidas da Cidade de Hort. Continuo a desejar ter podido manter o meu disfarce. Mas tive de encontrar este homem e depois aquele, e quando finalmente descobri que o barco dos escravos tinha zarpado antes de nascer o dia, perdi a paciência. Peguei no Vê-longe, chamei-lhe o vento para a vela, pois o dia era de calmaria, e grudei os remos de todos os navios que havia no porto às portinholas... por um bocado. Como poderão explicar aquilo, se a feitiçaria é tudo mentiras e ar, é problema deles. Mas com a pressa e a raiva com que ia não dei pelo navio de Egre e ultrapassei-o, porque ele tinha derivado para leste da direção sul, a fugir aos escolhos. Tudo o que fiz neste dia foi mal feito. Não dá sorte, a Cidade de Hort... Bom, acabei por fazer um esconjuro de encontrar e lá dei com o navio na escuridão. E agora não era altura de dormires?
— Eu estou bem. Sinto-me muito melhor. — Uma ligeira febre sobrepusera-se à friagem de Arren e sentia-se realmente bem, com o corpo mole mas a mente correndo rápida de uma coisa para outra. — Levaste muito tempo a acordar? E o que aconteceu ao Lebre?
— Acordei com o nascer do dia. E ainda bem que tenho a cabeça dura. Há um inchaço e um lanho atrás da minha orelha que parece um pepino aberto ao meio. E quanto ao Lebre, deixei-o no sono da droga.
— Descuidei a minha guarda...
— Mas não por teres adormecido.
— Não. — Arren hesitou. — Foi... foi...
— Tu ias à minha frente, eu vi-te — disse o Gavião enigmaticamente. — E então eles entraram à socapa, bateram-nos na cabeça como a cordeiros no matadouro, deitaram mão ao ouro, às roupas em bom estado e ao escravo que podiam vender, e foram-se. Era a ti que eles queriam, rapaz. No Mercado de Amrane ias valer o preço de uma quinta.
— Mas eles não me bateram com força suficiente. Acordei. E bem os fiz correr. E ainda espalhei pela rua tudo o que eles tinham roubado, antes de me caçarem.
Os olhos de Arren brilharam.
— Acordaste enquanto eles ainda lá estavam... E fugiste? Porquê?
— Para os levar para longe de ti. — A surpresa que sentira na voz do Gavião ferira subitamente o orgulho de Arren e acrescentou violentamente: — Pensei que era a ti que queriam apanhar. E que eram capazes de te matar. Deitei a mão ao saco do ouro para eles me seguirem, gritei e fugi. E eles foram mesmo atrás de mim.
— Sim... era de esperar! — E foi o único comentário do Gavião. Nem uma palavra de elogio, embora se deixasse ficar a cogitar por um bocado. Depois disse: — E não te passou pela cabeça que eu podia já estar morto?
— Não.
— Assassinar primeiro e roubar depois é a maneira mais segura.
— Não pensei em tal coisa. Só pensei em afastá-los para longe de ti.
— Porquê?
— Porque tu podias ser capaz de nos defender, de nos livrar aos dois daquilo, se tivesses tempo para acordar. Ou, pelo menos, para te livrares a ti. Eu estava de guarda e eu descuidei a minha guarda. Quis compensar a minha falha. Tu és aquele a quem eu estava a guardar. Tu é que interessas. Vou contigo para te guardar, ou o que for que precises... mas tu é que nos tens de guiar, de chegar seja lá onde for que temos de ir e emendar o que está errado.
— Achas isso? — disse o mago. — Também eu pensei isso... até à noite passada. Julguei que tinha um seguidor, mas fui eu que te segui, meu rapaz.
A sua voz soava com frieza e talvez um pouco de ironia. Arren ficou sem saber o que dizer. A verdade é que estava totalmente confuso. Pensara que a sua falha ao cair no sono, ou num transe, encontraria reparação na sua proeza de atrair os larápios para longe do Gavião. Mas agora parecia que esta última tivesse sido uma ação idiota, enquanto ter entrado em transe na pior altura fora maravilhosamente inteligente.
— Lamento, meu Senhor — disse ele finalmente, com lábios não pouco hirtos e a vontade de chorar de novo difícil de controlar —, não ter correspondido ao que esperavas de mim. E tu que me salvaste a vida...
— E tu a minha, quem sabe? — disse bruscamente o mago. — Quem sabe? Eram muito capazes de me ter cortado o pescoço antes de se irem embora. Não se fala mais nisso, Arren. Estou satisfeito por estares comigo.
Dirigiu-se então ao caixote das provisões, acendeu o pequeno fogão a carvão e atarefou-se a fazer qualquer coisa. Arren permaneceu deitado, a olhar as estrelas, e as suas emoções aquietaram-se, a sua mente parou de correr. E percebeu então que aquilo que fizera e aquilo que não fizera não iria ser avaliado pelo Gavião. Ele fizera o que fizera e o Gavião aceitava-o como feito. «Eu não castigo», dissera ele, friamente, a Egre. E também não recompensava. Mas viera em socorro de Arren a toda a pressa, libertando o poder da sua magia em favor dele. E voltaria a fazê-lo. Era alguém de quem se podia depender.
Merecia todo o afeto que Arren tinha por ele, e toda a confiança. Porque o fato é que ele confiava em Arren. O que Arren fazia estava certo.
E ali estava ele de volta, entregando a Arren um púcaro de vinho a fumegar de quente.
— Toma. Talvez isto te ponha a dormir. Mas tem cuidado, não queimes a língua.
— De onde é que veio o vinho? Nunca vi um odre a bordo...
— Há mais coisas no Vê-longe do que o que se vê de perto — retorquiu o Gavião, voltando a sentar-se junto dele, e Arren ouviu-o rir, breve e quase silenciosamente, no escuro.
Arren soergueu-se para beber o vinho. Era muito bom, restaurando o corpo e o espírito. Depois perguntou:
— Para onde vamos agora?
— Para oeste.
— E onde foste com o Lebre?
— Para dentro das trevas. Eu nunca o perdi, mas ele estava perdido. Vagueava junto às fronteiras exteriores, na aridez infindável do delírio e do pesadelo. A sua alma soltava gritos de ave naqueles lúgubres lugares, como uma gaivota gritando ao longe, no mar. Ele não é guia. Sempre esteve perdido. Apesar de toda a ciência em feitiçaria que possuía, nunca viu o caminho perante si porque só a si se via.
Arren não compreendeu tudo aquilo, nem o queria compreender, naquele momento. Fora conduzido um pouco até dentro dessas «trevas» de que os feiticeiros falavam e não o queria recordar. Nada tinha a ver consigo. Na realidade, nem queria adormecer, não fosse vê-las de novo em sonhos e àquela figura escura, uma sombra segurando uma pérola, sussurrando-lhe: «Vem.»
— Meu Senhor — disse, a sua mente a desviar-se rápida para um outro assunto —, porque...
— Dorme! — impôs o Gavião, algo exasperado.
— Não consigo dormir, Senhor. Estava a pensar porque foi que não libertaste os outros escravos.
— Libertei. Não deixei ninguém a ferros naquele navio.
— Mas os homens de Egre tinham armas. Se os tivesses posto a ferros a eles...
— Pois, se os tivesse posto a ferros? Eram apenas seis. Os remadores eram escravos e estavam acorrentados, como tu. Egre e os seus homens talvez já estejam mortos ou acorrentados pelos outros para serem vendidos como escravos. Mas eu deixei-os livres para lutar ou negociar. Eu não faço escravos.
— Mas sabias que eram má gente...
— E então devia ser como eles? Deixar que os seus atos comandassem os meus? Não farei as escolhas deles por eles, nem permitirei que façam as minhas por mim!
Arren ficou em silêncio, a ponderar naquilo. Daí a pouco, em voz suave, o mago disse:
— Estás a ver, Arren, que uma ação não é, como julgam os jovens, igual a uma pedra que se apanha e atira, e acerta ou falha, e acabou-se. Mas quando a pedra é apanhada, a terra fica mais leve e mais pesada a mão que a segura. Ao ser atirada, os percursos das estrelas reagem. E onde ela embate ou cai, o universo é modificado. A harmonia do todo depende de cada ação. Os ventos e o mar, os poderes da água e da terra e da luz, tudo o que eles fazem, e tudo o que os animais e as coisas verdes fazem, é bem feito e feito acertadamente. Todos esses agem de acordo com o Equilíbrio. Desde o temporal e a voz da grande baleia até à queda de uma folha seca e ao vôo de um mosquito, tudo o que fazem é feito dentro da harmonia do todo. Mas nós, na medida em que temos poder sobre o mundo e uns sobre os outros, temos de aprender a fazer o que a folha e a baleia e o vento fazem por sua própria natureza. Temos de aprender a manter a harmonia. Porque temos inteligência, não devemos agir na ignorância. Porque podemos escolher, não devemos agir irresponsavelmente. Quem sou eu — ainda que tenha o poder para o fazer — para punir e recompensar, brincando com os destinos dos homens?
— Mas então — disse o rapaz, enrugando a testa para as estrelas —, devemos manter a harmonia não fazendo nada? Com certeza que um homem tem de agir, mesmo sem conhecer todas as conseqüências dos seus atos, se queremos que alguma coisa se faça.
— Está descansado. Para os homens é muito mais fácil agir do que absterem-se de agir. Iremos continuar a fazer o bem e a fazer o mal... Mas se houvesse de novo um rei que nos governasse a todos e se ele procurasse o conselho de um mago, como nos tempos passados, e fosse eu esse mago, dir-lhe-ia: Meu Senhor, não faças nada por ser correto ou digno de louvor ou nobre fazê-lo; não faças nada por parecer que é bom fazê-lo; faz apenas o que tiveres de fazer e que não possas fazer de nenhuma outra maneira.
Havia algo na sua voz que levou Arren a virar-se para o observar enquanto falava. Julgou que a radiação luminosa estivesse outra vez a brilhar-lhe no rosto, ao ver o nariz de falcão, a face marcada pelas cicatrizes, os olhos escuros e intensos. E Arren olhava-o com afeto, mas também com temor, pensando, «Ele está muito longe, acima de mim.» E no entanto, ao olhá-lo, tomou finalmente consciência de que não se tratava da luz de magia, do frígido esplendor de feitiço, que se espalhava, sem sombras, em cada linha e plano do rosto do homem, mas luz, luz propriamente dita. A manhã, o comum alvorecer do dia. Havia um poder maior que o do mago. E os anos não tinham sido mais meigos para o Gavião que para outro homem qualquer. Aquelas linhas eram rugas da idade e, à medida que a luz se ia tornando mais forte, tanto mais cansado ele parecia. Bocejou...
E assim, olhando, interrogando-se, ponderando, Arren adormeceu enfim. Mas o Gavião ficou sentado junto dele vendo a manhã chegar e o dia nascer, como alguém que estudasse um tesouro em busca de algo errado nele, uma gema defeituosa, uma criança doente.
SONHOS NO MAR
Já para o fim da manhã, o Gavião retirou o vento mágico da vela e deixou que o barco seguisse com o vento do mundo, que soprava suavemente para sul e ocidente. Longe, para a direita, os cumes da meridional Uothort deslizaram e ficaram para trás, tornando-se pequenos e azulados, como ondas de névoa acima das ondas.
Arren acordou. O Sol rebrilhava à luz dourada e quente do meio-dia, água sem fim sob infinita luz. A popa do barco, o Gavião estava sentado, nu, à exceção de um pano a cingir-lhe os rins e de uma espécie de turbante feito de pano das velas. Cantava suavemente, batendo com as palmas das mãos no banco como se este fosse um tambor, num ritmo leve e monótono. A canção que entoava não era nenhum encantamento de feitiço, nem nenhum cântico ou Feito de heróis ou reis, mas uma cantilena cadenciada feita de palavras sem sentido, tal a que um rapaz poderia cantar ao pastorear cabras pelas longas, longas tardes de Verão, sozinho, nos altos cumes de Gont.
Da superfície do mar saltou um peixe que deslizou pelo ar ao longo de muitos metros, sustentado por uma espécie de pás rígidas e brilhantes, semelhantes às asas das libélulas.
— Estamos na Estrema Sul —, disse o Gavião depois de terminada a sua cantilena. — É uma estranha parte do mundo, esta, onde o peixe voa e o golfinho canta, segundo dizem. Mas a água tem uma temperatura agradável para nadar e eu tenho um entendimento com os tubarões. Lava de ti o toque do caçador de escravos, rapaz.
Arren sentia todos os músculos doridos e, a princípio, não teve grande vontade de se mexer. Além disso, não tinha muita prática de natação porque os mares de Enlad são agrestes e é necessário lutar com eles em vez de neles nadar, de modo que o nadador em breve fica exausto. Este mar mais azul era frio ao primeiro mergulho, mas logo delicioso. As dores abandonaram-no. Bateu fortemente com as pernas na água junto ao flanco do Vê-longe como uma jovem serpente marinha. O Gavião juntou-se a ele, nadando com braçadas mais firmes. Dócil e protetor, o Vê-longe aguardava-os, de asas brancas sobre a água cintilante. Um peixe saltou do mar para o ar. Arren perseguiu-o. O peixe mergulhou, voltou a saltar, nadando no ar, voando no mar, perseguindo-o. Dourado e flexível, o rapaz brincou e boiou na água e na luz, até o Sol tocar o mar. E escuro e seco, com a economia de gestos e a sóbria energia da idade, o homem nadou, e manteve o barco na sua rota, e montou um toldo de pano de vela, e observou o rapaz e o peixe com imparcial ternura.
— Para onde vamos? — perguntou Arren ao lusco-fusco, depois de ter comido vorazmente carne de salmoura e pão duro, e já a sentir-se de novo sonolento.
— Lorbanery — respondeu o Gavião. E as suaves sílabas formaram a última palavra que Arren ouviu essa noite, de modo que os seus sonhos do primeiro sono se entreteceram ao redor dela. Sonhou que caminhava por sobre amontoados de um tecido de cores pálidas, panos e fios rosa, ouro e azul, e sentiu um prazer insensato. Alguém lhe disse: «Estes são os campos de seda de Lorbanery, onde nunca se faz escuro.» Mas mais tarde, na parte derradeira da noite, quando as estrelas do Outono brilham no céu da Primavera, sonhou que se encontrava numa casa em ruínas. Por toda a parte havia pó e grinaldas de teias em farrapos, cobertas de poeira. As pernas de Arren ficaram enredadas nas teias que ondularam até à sua boca, às narinas, impedindo-o de respirar. E o mais horrível era ele saber que a alta sala em ruínas era aquela mesma onde tinha tomado o pequeno almoço com os Mestres, na Casa Grande, em Roke.
Acordou consternado, com o coração a bater descompassadamente e as pernas apertadas de encontro a um banco. Soergueu-se, tentando libertar-se do mau sonho. Para leste não havia ainda luz, mas sim um como que diluir do escuro. O mastro estalava. A vela, ainda tensa com a brisa de nordeste, brilhava frouxamente, alta e indistinta, por cima dele. Na popa, o seu companheiro dormia num sono profundo e silencioso. Arren estendeu-se de novo e dormitou até que o dia claro o acordou de novo.
Nesse dia o mar estava mais azul e mais calmo que alguma vez imaginara que pudesse ser, com a água tão serena e límpida que nadar nela era quase como deslizar ou flutuar nos ares. Que estranho era, como um sonho.
Pelo meio-dia, perguntou:
— Os feiticeiros dão muita importância aos sonhos?
O Gavião estava a pescar. Tinha os olhos fixos na linha, cheio de atenção. Após um longo silêncio, inquiriu:
— Porquê?
— Estava a pensar se alguma vez haveria neles verdade.
— Certamente.
— Podemos acreditar no que predizem?
Mas um peixe tinha picado na linha do mago e, dez minutos mais tarde, depois de ele ter trazido para bordo o almoço, um belo cantariz de um azul-prateado, a pergunta fora esquecida de todo.
A tarde, enquanto preguiçavam debaixo do toldo, disposto de modo a defendê-los do sol premente, Arren perguntou:
— O que vamos procurar em Lorbanery?
— Aquilo que procuramos — retorquiu o Gavião. Depois de deixar passar um bocado, Arren voltou à carga.
— Em Enlad, conhecemos uma história acerca do rapaz cujo professor era uma pedra.
— Ah, sim? E que foi que o rapaz aprendeu?
— A não fazer perguntas.
O Gavião soltou uma fungadela, como quem tenta sufocar uma risada e ergueu o tronco.
— Está bem, pronto! — condescendeu. — Se bem que eu prefira só falar quando sei de que é que estou a falar. Porque é que já se não faz magia na Cidade de Hort e em Narveduen, e talvez por todas as Estremas? É isto que pretendemos saber, não é assim?
— É.
— Conheces o velho ditado As regras não são as mesmas, nas Estremas? Os homens do mar usam-no mas é um ditado de feiticeiro e significa que a própria feitiçaria depende do lugar. Um verdadeiro encantamento em Roke pode não passar de palavras em Iffish. Nem em toda a parte é recordada a linguagem da Criação. Aqui uma palavra, além outra. E o tecer de encantamentos está por sua vez entretecido com a água e a terra, os ventos e o cair da luz do lugar onde são lançadas. Certa vez naveguei muito longe para leste, tão longe que nem o vento nem a água se vergavam às minhas ordens, porque ignoravam os seus nomes-verdadeiros. Ou, o mais certo, eu é que os ignorava.
E, após uma breve pausa, o Gavião prosseguiu: — O mundo é muito vasto e o Alto Mar estende-se para além de todo o conhecimento. E há mundos para lá do mundo. Por sobre esses abismos de espaço e na longuíssima extensão de tempo, duvido que alguma palavra que se possa dizer mantenha, em todo o lado e para sempre, o seu peso de significado e o seu poder. A não ser que se tratasse daquela Primeira Palavra que Segoy pronunciou, fazendo tudo, ou a Palavra Final, que ainda não foi nem será dita enquanto não tiverem tornado de novo ao nada todas as coisas... Assim, mesmo dentro deste mundo de Terramar, das pequenas ilhas que conhecemos, há diferenças, mistérios e mudanças. E o local menos conhecido e mais cheio de mistérios é a Estrema Sul. Poucos foram os feiticeiros das Terras Interiores que tenham vindo junto destas gentes. Não vêem com bons olhos os feiticeiros, ou assim se julga, porque têm o seu próprio gênero de magia. Mas o que se ouve dizer a esse respeito é vago e pode acontecer que a arte mágica nunca tenha sido bem conhecida ali, nem plenamente compreendida. Se assim for, seria facilmente eliminada por alguém determinado a fazê-lo, enfraquecendo mais depressa que a nossa magia das Terras Interiores. E então chegar-nos-iam aos ouvidos notícias do malogro da magia no Sul. Porque a disciplina é o canal em que correm fortes e profundas as nossas ações. Onde não há um sentido de direção, os feitos dos homens tornam-se superficiais, transviam-se e perdem-se. É assim que aquela mulher gorda dos espelhos perdeu a sua arte e pensa que nunca a teve. É assim que o Lebre toma a sua hádzia e pensa que chegou mais longe que os maiores magos, quando mal entrou nos campos dos sonhos e está já perdido... Mas onde será que ele pensa que está a ir? O que procura? O que foi que lhe engoliu a feitiçaria? Já tivemos que nos chegasse da Cidade de Hort, penso eu, pelo que prosseguiremos para sul, até Lorbanery, para ver o que lá fazem os feiticeiros, para descobrir o que quer que seja que temos de descobrir... Chega-te, como resposta?
— Sim, mas...
— Então, deixa a pedra sossegada por um bocado! — encrespou o mago. E deixou-se ficar sentado junto ao mastro, sob a sombra amarelada, levemente luminosa, do toldo, fitando ao longe o mar para ocidente, enquanto o barco velejava suavemente para sul, através da tarde. Assim ficou, ereto e imóvel. As horas foram passando. Arren nadou por duas vezes, deslizando silenciosamente da proa do barco para a água, porque não queria cortar a linha daquele olhar sombrio que, dirigindo-se para ocidente por cima das águas, parecia ver para além da linha brilhante do horizonte, para lá do azul do ar, para lá dos limites da luz.
O Gavião acabou por abandonar finalmente o seu silêncio e falou, mas não mais que uma palavra de cada vez. A educação de Arren ensinara-o a dar-se rapidamente conta do mau humor disfarçado por cortesia ou por reserva. Sabia que o coração do companheiro estava pesado. Não fez mais perguntas. Só ao cair da tarde, inquiriu:
— Se eu cantar, perturbo os teus pensamentos?
Fazendo um esforço para parecer jovial, o Gavião replicou:
— Isso depende do canto.
Sentado, com as costas apoiadas ao mastro, Arren cantou. A sua voz já não era aguda e doce como quando o mestre de música do Paço de Berila o ensinara anos atrás, dedilhando as harmonias na sua harpa. Agora, os tons mais altos da sua voz eram algo roucos e os baixos tinham a ressonância de uma viola, sombrios e nítidos. Cantou o Lamento para o Encantador Branco, o canto que Elfarran compôs quando soube da morte de Morred e ficou esperando a sua. Não é muitas vezes que esse canto é entoado, nem frivolamente. O Gavião escutou a voz jovem, forte e segura, mas triste, elevando-se entre o céu vermelho e o mar, e as lágrimas vieram-lhe aos olhos, cegando-os.
Depois do canto terminado, Arren quedou-se em silêncio por algum tempo. Só depois começou a cantar melodias menores, mais ligeiras, suavemente, contrariando a grande monotonia do ar parado, do erguer e baixar das águas, da luz moribunda com a chegada da noite.
Quando parou de cantar tudo estava quieto. O vento amainara completamente, as vagas eram pequenas, a madeira e as cordas mal rangiam. O mar jazia calado e sobre ele, uma a uma, iam aparecendo as estrelas. Para sul, com um brilho penetrante, surgiu uma luz amarela que lançou como que um chuveiro e fagulhas de ouro através da superfície da água.
— Olha! Um farol! — E, um minuto depois: — Poderá ser uma estrela?
O Gavião fitou a luz durante algum tempo e finalmente pronunciou-se:
— Penso que seja a estrela Gobárdon. Só é possível avistá-la na Estrema Sul. Gobárdon significa Coroa. Kurremkarmerruk ensinou-nos que, navegando ainda mais para sul descobriríamos, uma por uma, mais oito estrelas sobre o horizonte e abaixo de Gobárdon, formando uma grande constelação, dizem uns que na forma de um homem a correr, outros que na da Runa Ágnen. A Runa do Acabar.
Observaram-na ambos, enquanto se erguia do impaciente horizonte marítimo, lançando o seu brilho firme.
— Cantaste o canto de Elfarran — comentou o Gavião — como se conhecesses a sua dor e a quisesses dar a conhecer a mim também... Entre todas as histórias de Terramar, foi essa que sempre me prendeu mais. A grande coragem de Morred contra o desespero. E Serriadh que nasceu para lá do desespero, o rei afável. E ela, Elfarran. Quando fiz o maior mal que alguma vez pratiquei, foi para a sua beleza que julguei voltar-me. E vi-a. Por um instante, vi Elfarran[2].
Um arrepio gelado percorreu as costas de Arren. Engoliu em seco e permaneceu silencioso, olhando a esplêndida e atormentada estrela, no seu amarelo topázio.
— Qual dos heróis é o teu preferido? — quis saber o mago.
E Arren, após ligeira hesitação, respondeu: — Erreth-Akbe.
— Por ter sido o maior?
— Porque poderia ter dominado toda a Terramar e escolheu não o fazer, e seguiu sozinho e sozinho morreu, combatendo o dragão Orm nas praias de Selidor.
Por algum tempo, deixaram-se simplesmente ficar sentados, cada um seguindo o fio dos seus pensamentos, e depois Arren perguntou, olhando ainda a amarela Gobárdon:
— É então verdade que os mortos podem ser trazidos de novo à vida e levados a falar com os vivos, por magia?
— Pelos esconjuros de Invocação. Está no nosso poder. Mas quase nunca é feito e duvido que alguma vez o seja ajuizadamente. Nesse aspecto o Mestre da Invocação está de acordo comigo. Ele não usa nem ensina o Saber de Paln, onde se contêm esses esconjuros. O maior deles foi feito por alguém a quem chamavam o Mago Cinzento de Paln, há mil anos. Ele invocou os espíritos dos heróis e dos magos, mesmo o de Erreth-Akbe, para que aconselhassem os Senhores de Paln nas suas guerras e governo. Mas o conselho dos mortos não aproveita aos vivos. Horas más caíram sobre Paln, o Mago Cinzento foi expulso e morreu sem nome.
— É então uma coisa perversa?
— Eu chamar-lhe-ia antes uma incompreensão. Uma incompreensão da vida. A morte e a vida são a mesma coisa. Como os dois lados da minha mão, a palma e as costas. E contudo a palma e as costas não são as mesma coisa... Não podem ser separadas, mas também não misturadas.
— Então, hoje, ninguém usa esses esconjuros?
— Conheci apenas um homem que os usava a seu bel-prazer, sem lhes calcular o risco. Porque são arriscados, perigosos, mais que qualquer outra magia. Eu disse que a vida e a morte são como os dois lados da minha mão, mas a verdade é que não sabemos qual é a vida nem qual é a morte. Reivindicar o poder sobre o que não compreendemos não é sábio, nem é provável que o seu fim seja bom.
— Quem era esse homem que os usou? — perguntou Arren. Nunca vira o Gavião tão disposto a responder a perguntas, daquela maneira calma e pensativa. E ambos encontravam um consolo naquele seu discorrer, por muito sombrio que fosse o assunto.
— Vivia em Havnor. Consideravam-no apenas um mágico, mas, em poder inato, era um grande mago. Ganhava dinheiro com a sua arte, mostrando a quem quer que lhe pagasse o espírito que quisesse ver, mulher, marido ou filho mortos, enchendo a sua casa com sombras inquietas de séculos passados, as belas mulheres do tempo dos Reis. Inclusive, vi-o invocar da Terra Árida o meu próprio e velho mestre que fora Arquimago na minha juventude, Nemmerle, apenas como um mero truque para divertir os ociosos. E aquela grande alma veio ao chamado, como um cão a pôr-se ao lado do dono. Então enchi-me de ira e desafiei-o — eu não era Arquimago, então — dizendo: «Tu obrigas os mortos a vir a tua casa. Virás comigo à deles?» E obriguei-o a acompanhar-me à Terra Árida, embora ele se me opusesse com toda a sua vontade, e mudasse a sua forma e, por fim, quando nada surtiu efeito, chorasse em altos brados.
— Mataste-o, então? — sussurrou Arren, dominado pela narrativa.
— Não! Obriguei-o a seguir-me até à terra dos mortos e a regressar comigo. Ele tinha medo. Aquele que invocava com tanta facilidade os mortos tinha mais medo da morte, da sua própria morte, que qualquer outro homem que eu tenha conhecido. Junto ao muro de pedras... Mas já te disse mais do que um noviço devia saber. E tu nem sequer um noviço és.
Através do escuro do crepúsculo, os olhos penetrantes cruzaram-se com os de Arren por um momento, confundindo-o.
— Mas deixemos — retomou o Arquimago. — Há pois um muro de pedras em certo local na fronteira. É através dele que um espírito vai para a morte, e através dele pode um homem vivo ir e voltar de novo, se for um mago... Esse homem de quem te falo agachou-se junto ao muro de pedras, do lado dos vivos, e tentou resistir à minha vontade, mas não pôde. Agarrou-se às pedras com ambas as mãos e praguejou e gritou. Nunca vi um medo como aquele. Angustiou-me com a sua própria angústia. E por aí devia eu ter compreendido que agira mal. Mas estava possuído de raiva e vaidade. Porque ele era muito forte e eu desejava provar que o era ainda mais.
— O que fez ele depois, quando voltaram?
— Rojou-se no chão e jurou que não mais voltaria a usar o Saber Palniano. Beijou-me a mão e ter-me-ia morto se se atrevesse. Deixou Havnor e foi para ocidente, talvez para Paln. Ouvi dizer, anos mais tarde, que tinha morrido. Tinha o cabelo branco quando o conheci, se bem que tivesse os braços fortes e compridos e fosse rápido como um lutador. Mas o que é que me levou a falar dele? Nem sequer consigo lembrar-me do nome que tinha.
— Do seu nome-verdadeiro?
— Não! Desse lembro-me...
Fez uma pausa e, durante o tempo de três batidas do coração, manteve um silêncio sepulcral. Depois, numa voz alterada, tateante, disse:
— Chamavam-lhe Cob, em Havnor.
Estava já demasiado escuro para se lhe poder ver a expressão. Arren apenas deu pelo movimento quando o Gavião se voltou e olhou a estrela amarela, agora mais alta acima das vagas e lançando sobre elas um trilho quebrado de ouro, delgado como uma teia de aranha.
Após longo silêncio, o Arquimago voltou a falar:
— Estás a ver? Não é só em sonhos que damos por nós a enfrentar o que está para vir naquilo que há muito esquecemos, nem a dizer o que parece disparatado porque não lhe descortinamos o significado.
LORBANERY
Vista à distância de dez milhas de água iluminada pelo Sol, Lorbanery era verde, verde como o musgo claro junto ao rebordo de uma fonte. Já perto, o verde dividia-se em folhas, troncos de árvore, sombras, estradas e casas, e os rostos e roupas das pessoas, e poeira, e tudo aquilo que se reúne para constituir uma ilha habitada pelo homem. Mas ainda assim, por sobre tudo isto, continuava verde. Porque cada parcela de terreno que não servia para construir ou caminhar estava dedicada às pequenas árvores harbah, com suas copas redondas, e de cujas folhas se alimentam as pequenas lagartas que fazem a seda que é transformada em fio e tecida pelos homens, mulheres e crianças de Lorbanery. Ao lusco-fusco, o ar enche-se de pequenos morcegos cinzentos que se alimentam das pequenas lagartas. Comem muitas, mas permitem-lhes que o façam e não as matam. É que os tecelões da seda consideram um ato de muito mau presságio matar os morcegos das asas cinzentas. Porque, dizem eles, se os seres humanos vivem das lagartas, por certo que também os pequenos morcegos têm esse direito.
As casas eram muito curiosas, com pequenas janelas distribuídas ao acaso e telhados cobertos com ramos de harbah, todos verdes de musgo e liquens. Fora uma ilha rica, para uma ilha das Estremas, o que era ainda visível nas casas bem pintadas e bem providas do necessário, nas grandes rodas de fiar e nos teares em cabanas e oficinas, nos cais de pedra do pequeno porto de Sosara, onde várias galeras mercantes podiam atracar. Mas não havia galeras no porto. A pintura das casas estava desbotada, não havia mobílias novas e, na sua maior parte, rodas e teares estavam parados, cobertos de pó e com teias de aranha entre pedal e pedal, entre urdidura e bastidor.
— Mágicos? — espantou-se o regedor de Sosara, um homem de pequena estatura, com uma cara tão dura e castanha como as solas dos seus pés descalços. — Não há mágicos em Lorbanery. Nem nunca os houve.
— Quem havia de dizer? — comentou o Gavião em tom admirado. Estava sentado em companhia de oito ou nove aldeãos, bebendo vinho de bagas de harbah, uma colheita aguada e amarga. Tivera de lhes dizer que viera à Estrema Sul em busca de pedra emmel, mas não se disfarçara nem ao companheiro, à exceção do fato de Arren ter deixado a espada escondida no barco, como de costume, e de o bordão do Gavião, se é que o trazia consigo, não estar à vista. A princípio, os aldeãos tinham-se mostrado carrancudos e hostis e estavam dispostos a ficarem de novo carrancudos e hostis a qualquer momento. Só graças à esperteza e autoridade do Gavião fora possível forçá-los a uma aceitação de má vontade.
O mago tentou nova abordagem.
— Grandes homens devem ter aqui para tratar de árvores. O que fazem eles quando há uma geada fora de tempo nos pomares?
— Nada — respondeu um homem magricela que se sentava no fim da fila de aldeãos. Estavam todos em linha, com as costas encostadas à parede da estalagem, sob o beirai do telhado de ramagens. Logo à frente dos seus pés nus, as gotas grossas e suaves da chuva de Abril tamborilavam na terra.
— O problema está mais na chuva e não na geada — esclareceu o regedor. — Apodrece os casulos das lagartas. Não há homem nenhum que vá fazer parar a chuva. Nem nunca houve.
Havia no homem uma beligerância sempre que se falava de mágicos e de bruxedos. Mas alguns dos outros pareciam mais dispostos a falar do assunto.
— Nunca costumava chover nesta altura do ano — adiantou um deles — quando o velhote estava vivo.
— Quem? O velho Mildi? Pois sim, mas não está vivo. Está morto — repontou o regedor.
— Costumávamos chamar-lhe o Pomareiro — recordou o homem magro.
— Sim, era isso. Chamávamos-lhe o Pomareiro — apoiou um outro.
E o silêncio desceu sobre eles, como a chuva.
Dentro da janela da estalagem, que só tinha uma divisão, sentara-se Arren. Descobrira um velho alaúde pendurado na parede, um alaúde de braço comprido e três cordas, como os que costumam tocar na Ilha da Seda, e o jovem pusera-se a brincar com o instrumento, tentando tirar dele alguma música, mas pouco mais ruído fazendo que o tamborilar da chuva no telhado.
— Nos mercados da Cidade de Hort — voltou o Gavião à carga — vi venderem tecido, dizendo que era seda de Lorbanery. Algum era seda. Mas nenhuma era seda de Lorbanery.
— As estações têm sido más — lamentou o magricela. — Há quatro, não, há cinco anos.
— Cinco anos, exatamente, desde a véspera do Dia dos Alqueives — acrescentou um velhote que parecia mastigar as palavras e falava num tom presunçoso. — Desde que o velho Mildi morreu, sim, que ele morreu, sim senhor, e nem perto estava da idade que eu tenho agora. Pois, e morreu na véspera do Dia dos Alqueives, tal e qual.
— A escassez faz subir os preços — interpôs o regedor. — Por um rolo de semifina tingida de azul recebemos agora o que costumávamos receber por três.
— Se recebermos. Qu’é dos barcos? E o azul é falsificado — contrariou o magricela, dando assim origem a uma discussão que durou meia hora acerca da qualidade das tinturas que usavam nas grandes oficinas de tinturaria.
— Quem faz as tinturas? — perguntou o Gavião. E logo rebentou nova disputa. O que dela ressaltou foi que todo o processo de tinturaria estivera a cargo de uma família cujos membros se diziam realmente feiticeiros. Mas se alguma vez o tinham sido, haviam perdido a arte e ninguém mais a tinha encontrado, como acentuou azedamente o homem escanzelado. Porque todos, exceto o regedor, estavam de acordo em que os famosos corantes azuis de Lorbanery e o inimitável carmesim, o chamado «fogo de dragão» usado pelas rainhas em Havnor há muito tempo atrás, já não eram o que tinham sido. Algo deles se perdera. A culpa era lançada para cima das chuvas fora de tempo, dos pigmentos ou dos refinadores das tinturas.
— Ou dos olhos — largou o magricela — de gente que não é capaz de distinguir entre o azul autêntico e lama azul.
E abriu muito os olhos para o regedor. Mas, como este não aceitasse o desafio, remeteram-se de novo ao silêncio.
O vinho aguado parecia servir apenas para lhes tornar mais azedo o temperamento e os seus rostos estavam carrancudos. O único som que se ouvia agora era o rumorejar da chuva nas incontáveis folhas dos pomares do vale, o sussurro do mar lá ao fundo da rua e o murmúrio do alaúde no interior escuro da estalagem.
— Será que esse rapazinho com ares de donzela que veio contigo sabe cantar? — perguntou o regedor.
— Sabe, sim, sabe cantar. Arren! Canta-nos alguma coisa, rapaz.
— Não consigo que este alaúde saia do modo menor — respondeu Arren, sorrindo, da janela. — Quer lamentar-se. E então o que querem os meus anfitriões ouvir?
— Qualquer coisa nova — resmungou de mau modo o regedor.
O alaúde soltou um breve trilo. O rapaz já lhe tinha tomado o jeito.
— Talvez isto seja novo, aqui — aventou ele. E logo cantou:
Pelos brancos estreitos de Soléa e o inclinar dos ramos vermelhos que baixaram as flores sobre a sua cabeça inclinada, vergada ao peso da sua dor pelo amado perdido, pelo ramo vermelho e o ramo branco e o sofrer sem fim eu te juro, Serriadh, filho de minha mãe e de Morred, recordar o mal que te foi feito para sempre, para sempre.
Quedaram-se imóveis e silenciosos, com seus rostos amargos, seus corpos e mãos marcados pelo trabalho árduo. Quedaram-se assim no morno e chuvoso crepúsculo meridional e ouviram aquela canção, semelhante ao grito do cisne cinzento dos frios mares de Éa, anelante, dolorido. E imóveis, silenciosos, permaneceram ainda por algum tempo depois que o canto acabou.
— É uma música estranha — aventurou um deles, pouco seguro.
E logo outro, de novo seguro quanto à absoluta centralidade da ilha de Lorbanery em relação a todo o tempo e todo o espaço, acrescentou:
— A música dos estranhos é sempre estranha e tristonha.
— Dêem-nos uma amostra da vossa — propôs o Gavião. — A mim também não me desagradava ouvir uma quadra alegre. O rapaz só sabe cantar coisas de antigos heróis já mortos.
— Farei isso — aquiesceu o último que falara. Tossicou um pouco e começou a cantar qualquer coisa acerca de um barril de vinhaça, forte e de raça, e vá que não cansa, vamos à dança! Mas ninguém o acompanhou no refrão e o «vamos à dança» saiu-lhe chocho.
— Já ninguém sabe cantar — disse, raivosamente. — A culpa é da gente nova, sempre a variar e a mudar a maneira de fazer as coisas, e sem querer ouvir as velhas cantigas.
— Não é isso — contrariou o magricela. — Já ninguém sabe é nada de nada. Já não há coisa nenhuma que ande direita.
— Pois, pois, pois — arquejou o mais velho. — Acabou-se a sorte. Isso é que foi. Acabou-se a sorte.
Depois disto não houve muito a dizer. Os aldeãos foram-se indo embora aos dois e aos três, até que só ficaram o Gavião fora da janela e Arren do lado de dentro. E, por fim, o Gavião riu-se. Mas não era uma risada alegre.
A tímida mulher do estalajadeiro veio fazer-lhes umas camas no chão e foi-se embora, e eles acomodaram-se para dormir. Mas as altas traves da sala eram morada de morcegos. Toda a noite os morcegos andaram dentro e fora, voando pelas janelas sem vidraças e soltando guinchos muito agudos. Só ao amanhecer regressaram todos e se aquietaram, tomando cada um o aspecto de uma pequena, simples e cinzenta embalagem, pendendo de uma trave de cabeça para baixo.
Terá sido talvez a agitação dos morcegos que tornou o sono de Arren pouco tranqüilo. Havia já muitas noites que ele não dormia em terra firme. O seu corpo desabituara-se daquela imobilidade do chão de maneira que, quando caía no sono, vinha-lhe a insistente sensação de estar a balançar, a balançar... até que o mundo caía de debaixo dele e o rapaz acordava com um tremendo sobressalto. Quando finalmente conseguiu adormecer, sonhou que estava acorrentado no porão do navio dos escravos. Havia outros acorrentados como ele, mas estavam todos mortos. Acordou mais que uma vez desse sonho, lutando por se libertar, mas assim que voltava a adormecer logo reentrava nele. Por fim, pareceu-lhe que estava totalmente só no navio, mas ainda acorrentado, de modo a não se poder mover. E então uma voz lenta e estranha falou-lhe ao ouvido, dizendo: «Solta as tuas cadeias. Solta as tuas cadeias.» Tentou mover-se e conseguiu. Pôs-se de pé. Estava algures numa charneca, vasta e imprecisa, sob um céu pesado. Havia horror na terra e no ar espesso, uma enormidade de horror. Aquele lugar era de medo, era o próprio medo. E ele estava ali e não havia caminhos. Tinha de encontrar o seu rumo, mas não havia caminhos, e ele era mínimo, como uma criança, como uma formiga, e o local era enorme, infindável. Tentou andar, tropeçou, acordou.
O medo estava dentro dele, agora que tinha acordado e já não estava dentro do medo. Mas nem por isso deixara de ser enorme, infindável. Sentiu-se sufocado pela negra escuridão da sala e procurou as estrelas no quadrado impreciso que era a janela mas, embora a chuva tivesse parado, não havia estrelas. Deixou-se ficar deitado, desperto, e sentia medo, e os morcegos voavam dentro e fora com as suas silenciosas asas de couro. Por vezes, ouvia as suas finas vozes mesmo no limite da audição.
A manhã nasceu clara e levantaram-se cedo. O Gavião pôs-se a perguntar por pedra emmel com grande convicção. Embora nenhum dos aldeãos soubesse o que era tal coisa, todos tinham teorias sobre a pedra emmel e discutiam-nas entre eles. E o Gavião escutava, embora o que pretendia ouvir nada tivesse a ver com a pedra emmel. Finalmente, ele e Arren enveredaram por um caminho que lhes foi indicado pelo regedor, em direção às pedreiras de onde se extraía o pó de tingir azul. Mas, a certa altura do caminho, o Gavião desviou-se.
— Deve ser esta a casa — calculou. — Disseram que a tal família de tintureiros e mágicos desacreditados vivia nesta estrada.
— Irá servir de alguma coisa falar com eles? — duvidou Arren que se lembrava demasiado bem do Lebre.
— Há um centro para esta má sorte — disse o mágico, rispidamente. — Há um lugar por onde a sorte se esgota. Preciso de alguém que me guie até lá.
E seguiu caminho, pelo que Arren não teve outro remédio senão acompanhá-lo.
A casa ficava desviada do caminho, no meio dos seus próprios pomares, um belo edifício de pedra, mas tanto ele como todo o terreno adjacente há muito que não eram devidamente cuidados. Casulos de bichos-da-seda por apanhar pendiam, desbotados, entre os ramos por podar e o chão, por baixo, estava cheio de lagartas e borboletas mortas. Ao redor da casa, sob as árvores muito juntas, havia um odor de podridão e, ao aproximarem-se dela, Arren recordou o horror que o tinha invadido na noite anterior.
Antes mesmo que alcançassem a porta, esta abriu-se de repelão e cá para fora saltou uma mulher de cabelos grisalhos, de olhos arregalados e raiados de vermelho, aos berros:
— Fora daqui, amaldiçoados sejam, ladrões, caluniadores, cretinos, aldrabões, bastardos! Saiam, fora, desandem! Que a má sorte vos caia em cima para sempre!
O Gavião estacou, parecendo algo confuso, e ergueu rapidamente a mão num gesto curioso. E disse uma única palavra:
— Desvia!
Perante isto, a mulher parou de gritar e olhou fixamente para ele.
— Porque é que fizeste isso?
— Para desviar a tua maldição.
Ela olhou-o ainda um bocado e por fim, com voz rouca, perguntou:
— Estrangeiros?
— Vindos do Norte.
Ela então aproximou-se. Ao princípio, Arren estivera tentado a rir-se dela, daquela velha a guinchar à porta de casa, mas de mais perto apenas sentiu vergonha. Estava imunda e mal vestida, o seu hálito era fedorento e nos seus olhos havia um terrível véu de dor.
— Não tenho poder para amaldiçoar — confessou. — Não tenho poder. — Imitou o gesto que o Gavião fizera e perguntou: — Ainda se faz isso, lá de onde vêm?
Ele assentiu com um aceno de cabeça. Observou-a frontalmente e ela retribuiu-lhe o olhar. Por fim, o seu rosto começou a contorcer-se e a mudar, e ela perguntou:
— Onde está o pau?
— Eu não o mostro aqui, irmã.
— Não, nem deves. Afasta-te da vida. É como o meu poder. Também me afastava da vida. De maneira que o perdi. Perdi todas as coisas que sabia, todas as palavras e nomes. Saíram em fiozinhos, como se fossem de teia de aranha, para fora dos meus olhos e da minha boca. Há um buraco no mundo por onde a luz o está a deixar sair. E as palavras vão com a luz. Não sabias disto? O meu filho fica o dia inteiro sentado a olhar para o escuro, à procura do buraco que há no mundo. Diz que poderia ver melhor se fosse cego. Já não tem o jeito para tintureiro. Nós éramos os Tintureiros de Lorbanery. Vê!
Sacudiu-lhes perante os olhos os seus braços magros, musculosos, manchados até ao ombro com uma mistura indistinta, às faixas, de indeléveis tinturas.
— Nunca me vai sair da pele — acrescentou ela — mas o espírito está lavado. Não segura as cores. Quem são vocês?
O Gavião nada disse. Uma vez mais, o seu olhar se cruzou com o da mulher e o susteve. E Arren, a um lado, observava a cena, constrangido.
De repente, a mulher estremeceu e disse num sussurro:
— Eu conheço-te...
— Assim é. Os que se assemelham conhecem-se, irmã. Estranha coisa era ver como ela tentava afastar-se do mago, aterrorizada, querendo escapar-lhe, e ao mesmo tempo ansiava por dele se aproximar, como se quisesse ajoelhar aos seus pés. Ele pegou-lhe na mão e manteve-a nas suas.
— Desejarias ter o teu poder de volta, os talentos, os nomes? Posso dar-te.
— Tu és o Grande Homem — sussurrou ela. — Tu és o Rei das Sombras, o Senhor do Lugar Tenebroso...
— Não, não sou. Não sou rei algum. Sou um homem, um mortal, teu irmão e teu semelhante.
— Mas tu não morrerás?
— Morrerei.
— Mas voltarás e viverás para sempre.
— Eu não. Nem homem algum.
— Então tu não és... não és o Grande Homem no meio das trevas — concluiu ela, olhando-o um pouco de soslaio, com menos temor. — Mas és um Grande. Há então dois? Qual é o teu nome?
O rosto severo do Gavião abrandou por um momento.
— Isso não te posso dizer — pronunciou ele suavemente.
— Vou dizer-te um segredo. — A mulher endireitara-se, olhando-o agora de frente, e havia na sua voz, na sua postura, o eco de uma antiga dignidade. — Eu não quero viver e viver e viver para sempre. Antes queria ter de volta os nomes das coisas. Mas todos se foram. Os nomes já não interessam. Já não há segredos. Queres saber o meu nome?
Os olhos encheram-se de luz, os seus punhos cerraram-se e ela inclinou-se para a frente, sussurrando:
— O meu nome é Ákaren. E logo bradou muito alto:
— Ákaren! Ákaren! O meu nome é Ákaren! Agora todos sabem o meu nome secreto, o meu nome verdadeiro, e não há segredos, e não há verdade, e não há morte... morte... morte!
Exclamou a palavra, soluçando, a saliva a saltar-lhe dos lábios.
— Sossega, Ákaren!
Ela sossegou. Lágrimas corriam-lhe pelas faces sujas, atravessadas pelas farripas do seu cabelo cinzento, solto.
O Gavião tomou nas mãos aquele rosto enrugado, babujado de lágrimas, e muito levemente, muito ternamente, beijou-lhe os olhos. Ela ficou imóvel, de olhos fechados. Depois, aproximando os lábios do seu ouvido, o mago disse algumas palavras na Antiga Fala, beijou-a uma vez mais e baixou as mãos.
Ela abriu uns olhos límpidos e fitou-o por uns momentos, com um olhar pensativo e surpreso. Assim olha a sua mãe uma criança acabada de nascer, assim uma mãe olha o seu filho. Depois, voltou costas lentamente, dirigiu-se para a porta de casa, entrou e fechou-a atrás de si, sempre em silêncio, sempre com a mesma expressão de surpresa no rosto.
Em silêncio, o mago voltou costas e de novo se encaminhou para a estrada. Arren seguiu-o, sem se atrever a fazer a mínima pergunta. Mas a certa altura o mago parou, ainda dentro do mal tratado pomar, e disse:
— Tomei o nome dela e dei-lhe um novo. E assim, de certo modo, a fiz voltar a nascer. Não havia qualquer outra ajuda ou esperança para ela.
A sua voz soava tensa e sufocada.
— Ela era uma mulher de poder — prosseguiu. — Não uma simples bruxa ou fazedora de poções, mas uma mulher de arte e perícia, usando o seu saber para criar beleza, uma mulher nobre e venerável. Era isso a sua vida. E tudo foi deitado a perder.
De súbito, voltou-se, encaminhou-se para os estreitos carreiros do pomar e ali ficou junto ao tronco de uma árvore, de costas para Arren.
O rapaz esperou por ele sob a luz do Sol, quente e ponteada pelas sombras das folhas. Sabia que o Gavião estava envergonhado de o sobrecarregar com a sua comoção. E, na realidade, nada havia que Arren pudesse fazer ou dizer. Mas o seu coração ia totalmente para o companheiro, não já com aquele primeiro ardor romântico, aquela adoração, mas dolorosamente, como se um elo tivesse sido arrancado ao mais profundo dele e forjado na forma de inquebrável laço. Porque nesse afeto que agora sentia havia compaixão, sem a qual o afeto é como o aço não temperado, e não forma um todo, e não é duradouro.
Por fim, o Gavião voltou para junto dele por sob a sombra verde do pomar. Nem um nem outro trocou uma palavra, e caminharam lado a lado. Já fazia calor. A chuva da noite anterior secara e os seus passos na estrada faziam erguer a poeira. A princípio, o dia parecera desolado e insípido a Arren, como que infectado pelos sonhos que tivera. Mas agora dava-lhe prazer a mordedura do sol e o alívio da sombra, agradava-lhe caminhar assim, sem ter de matutar em qual seria o destino a seguir.
E ainda bem que assim foi, porque nada conseguiram com a caminhada. A tarde passou-se a falar com os homens que extraíam o minério que dava os corantes e a regatear o preço de uns bocados do que eles diziam ser pedra emmel. No penoso caminho de regresso, com o Sol que declinava a bater-lhes na cabeça e no pescoço, o Gavião fez notar:
— Isto é malaquite azul. Mas também duvido que saibam a diferença em Sosara.
— Esta gente aqui é estranha — comentou Arren, aproveitando a deixa. — É a mesma coisa com tudo. Não sabem a diferença entre um artesão e um tecedor de encantamentos, entre artesanato e as artes mágicas. É como se não tivessem traços, diferenças, cores, claramente na cabeça. Para eles tudo é o mesmo. E tudo é cinzento.
— Assim é — concordou o mago, Pensativamente. Foi seguindo por um bocado de estrada, a cabeça encolhida entre os ombros, como um falcão. Embora de baixa estatura, caminhava com largas passadas. Finalmente perguntou: — O que achas que lhes falta?
Sem hesitar, Arren respondeu:
— Alegria de viver.
— Assim é — confirmou uma vez mais o Gavião, aceitando a afirmação de Arren e ponderando-a durante algum tempo. — Estou satisfeito — prosseguiu finalmente — por seres capaz de pensar por mim, rapaz... Porque eu sinto-me fraco e estúpido. Tenho estado com o coração dolorido desde esta manhã, desde que falamos com essa que era Ákaren. Não gosto de desperdícios nem de destruição. Não quero um inimigo. Se tenho de ter um inimigo, não quero ter de o procurar, de o encontrar, de o defrontar... Se é preciso ir à caça, o prêmio devia ser um tesouro e não uma coisa detestável e detestada.
— Um inimigo, meu Senhor? — interrogou Arren. O Gavião fez que sim com a cabeça.
— Quando ela falou do Grande Homem, do Rei das Sombras?... E o mago voltou a assentir, acrescentando:
— Creio que sim. Creio que teremos de dar, não com um lugar, mas com uma pessoa. Isto é o mal, o mal, o que se passa nesta ilha, esta perda de talento e de orgulho, esta falta de alegria, este desperdício. Isto é obra de uma vontade má. Mas uma vontade que nem sequer se dirige para aqui, que nem sequer dá por Ákaren ou Lorbanery. O rastro que seguimos é um rastro de destruição, como se seguíssemos uma carroça desgovernada montanha abaixo e a víssemos provocar uma avalancha.
— Não poderia ela... Ákaren... dizer-te mais acerca desse inimigo? Quem é e onde está, ou o que é?
— Já não, rapaz — esclareceu o mago em voz suave mas onde havia uma tristeza fria. — Sem dúvida que teria podido. Na sua loucura ainda havia magia. A bem dizer, a sua loucura era a sua magia. Mas não pude forçá-la a responder-me. A dor que sofria era demasiada.
E continuou a caminhar, com a cabeça como que recolhida entre os ombros, ele próprio sofrendo, e desejando evitar, alguma grande dor.
Arren voltou-se para trás, ao ouvir uns passos apressados na estrada. Um homem seguia-os a correr, ainda a uma boa distância mas aproximando-se rapidamente. A poeira da estrada e o seu longo e hirsuto cabelo desenhavam auréolas vermelhas em seu redor na luz do poente e a sua longa sombra como que saltava e cabriolava fantasticamente ao longo dos troncos e carreiros dos pomares, junto à estrada.
— Ouçam! — gritava. — Parem! Encontrei-o! Encontrei-o! Numa última corrida, alcançou-os. A mão de Arren dirigiu-se primeiro para o sítio onde poderia ter estado o punho da sua espada, depois para o sítio onde estivera a faca que tinha perdido e depois cerrou-se em punho, tudo em metade de um segundo. Carregou o sobrolho e avançou. O homem era uma cabeça mais alto que o Gavião e tinha uns ombros muito largos. Ofegante, tresvariado, de olhos bravios, um louco.
— Encontrei-o! — continuava a repetir, enquanto Arren, tentando dominá-lo com uma voz e uma atitude severas, ameaçadoras, dizia:
— Que queres tu?
O homem tentou rodeá-lo e alcançar o Gavião, mas Arren voltou a pôr-se em frente dele.
— Tu és o Tintureiro de Lorbanery — pronunciou o Gavião.
Então Arren sentiu que tinha sido um tolo, tentando proteger o companheiro, e desviou-se para um lado. Porque perante as seis palavras pronunciadas pelo mago, o louco parou de ofegar e cessou o gesto de agarrar as suas mãos, grandes e manchadas. Os seus olhos aquietaram-se. Fez que sim com a cabeça.
— Eu era o tintureiro — confirmou —, mas agora já não consigo tingir.
Depois olhou o Gavião de soslaio e arreganhou os dentes numa espécie de sorriso, sacudindo a cabeleira ruiva e empoeirada. Finalmente, disse:
— Tu tiraste o nome da minha mãe. Agora não a conheço, nem ela me conhece a mim. Ainda gosta de mim que chegue, mas deixou-me. Está morta.
O coração de Arren apertou-se mas viu que o Gavião se limitava a sacudir ligeiramente a cabeça, dizendo:
— Não, não. Ela não está morta.
— Mas virá a estar. Morrerá.
— É verdade. Essa é uma conseqüência de se estar vivo — confirmou o mago.
O Tintureiro pareceu considerar a frase durante um minuto e logo veio direito ao Gavião, agarrou-o pelos ombros e inclinou-se sobre ele. O movimento fora tão rápido que Arren não o pôde impedir, mas como se aproximou bastante, conseguiu ouvi-lo ciciar:
— Encontrei o buraco na escuridão. O Rei estava junto dele. É o Rei que o vigia, que o governa. Tinha uma pequena chama, uma velazinha, na mão. Ele soprou-a e apagou-se. Voltou a soprá-la e acendeu-se! Acendeu-se!
O Gavião não protestou por ser agarrado, nem por lhe ciciarem em cima da cara, limitando-se a perguntar:
— Onde estavas quando viste isso?
— Na cama.
— A sonhar?
— Não.
— Através da parede?
— Não — respondeu o Tintureiro, num tom subitamente sóbrio e como que pouco à vontade. Largou os ombros do mago e afastou-se dele um passo. — Não, eu... eu não sei onde está. Encontrei-o, mas não sei onde.
— Pois isso é que eu gostava de saber — adiantou o Gavião.
— Posso ajudar-te.
— Como?
— Tu tens um barco. Vieste até cá nele e vais seguir. Irás para oeste? É esse o caminho. O caminho para o lugar onde ele sai. Tem de haver um lugar, um lugar aqui, porque ele está vivo — não são só os espíritos, os fantasmas, que passam por cima do muro, não é assim — tu não podes trazer nada por cima da parede a não ser almas, mas isto é o corpo. Isto é a carne imortal. Eu vi a chama erguer-se na escuridão perante o seu sopro, a chama que estava extinta. Eu vi isso.
O rosto do homem transfigurara-se, uma beleza selvagem a desenhar-se nele sob a luz alongada, de um ouro avermelhado.
— Eu sei que ele venceu a morte — prosseguiu. — Sei isso. Entreguei a minha magia para saber isso. Fui um feiticeiro, em tempos! E tu sabes que é assim e vais até lá. Leva-me contigo.
A mesma luz brilhava sobre o rosto do Gavião, mas deixou-o imutável, severo.
— Estou a tentar ir até lá! — precisou ele.
— Deixa-me ir contigo!
O Gavião teve um breve aceno afirmativo de cabeça.
— Se estiveres pronto, quando partirmos... — pronunciou, tão friamente como antes.
O Tintureiro afastou-se dele mais um passo e quedou-se a observá-lo, com a exaltação do seu rosto a desaparecer lentamente até ser substituída por uma expressão estranha, pesada. Era como se o pensamento racional se estivesse a esforçar por atravessar a tempestade de palavras, sentimentos e visões que o confundiam. Finalmente, voltou costas sem uma palavra e deitou a correr de volta pela estrada, através da névoa de poeira que não assentara ainda no seu rasto. Arren soltou um longo suspiro de alívio.
O Gavião também suspirou, mas não como se o seu coração estivesse mais tranqüilo.
— Bem — resumiu. — Estradas estranhas terão estranhos guias. Continuemos.
Arren pôs-se a caminhar ao seu lado e perguntou:
— Não vais levá-lo conosco, pois não?
— Isso depende dele.
Com um relampejar de raiva no seu íntimo, Arren pensou: «Depende de mim, também.» Mas nada disse em voz alta, e continuaram a caminhar juntos, em silêncio.
No seu regresso a Sosara não foram bem acolhidos. Numa ilha pequena como Lorbanery, tudo se fica a saber logo que acontece e sem dúvida que os tinham visto desviarem-se para a Casa do Tintureiro e falarem com o louco na estrada. O estalajadeira serviu-os com maus modos e a mulher parecia temê-los de morte. Ao entardecer, quando os homens da aldeia vieram sentar-se debaixo do beiral da estalagem, deram muito bem a entender que não falariam com os estranhos, tentando mostrar-se muito espertos e jocosos entre eles. Mas não tinham grande esperteza a demonstrar e em breve se lhes esgotava a alegria. Ficaram todos calados durante muito tempo e, por fim, o regedor perguntou ao Gavião:
— Encontraram as vossas pedras azuis?
— Encontrei algumas pedras azuis — replicou o mago delicadamente.
— Com certeza que terá sido o Sopli a mostrar-vos o sítio onde procurá-las, não?
Ah-ah-aha, fizeram os outros homens perante este extraordinário exemplo de ironia.
— E Sopli seria quem? O homem do cabelo ruivo?
— Sim, o maluco. Foste visitar a mãe dele esta manhã.
— Andava à procura de um feiticeiro — explicou o feiticeiro. O homem magricela, que estava sentado mesmo ao pé dele, cuspiu para o chão e perguntou:
— Para quê?
— Pensei que talvez descobrisse alguma coisa acerca do que procuro.
— As pessoas vêm a Lorbanery em busca de seda — contrapôs o regedor. — Não vêm à procura de pedras. Nem de amuletos. E também não de braços a agitarem-se e algaraviadas e truques de mágicos. Aqui vive gente honesta que faz trabalho honesto.
— É mesmo assim. Ele tem razão — aprovaram os outros.
— E não queremos aqui outro gênero de gente, gente de terras estranhas que vêm cheirar e meter-se nas nossas coisas.
— E mesmo assim. Ele tem razão — voltou o coro.
— Se houvesse por aí um feiticeiro que não fosse maluco, nós até lhe dávamos um emprego honesto nas oficinas, mas esses nunca sabem como se faz trabalho honesto.
— Talvez soubessem, se houvesse algum — repontou o Gavião. — As vossas oficinas estão vazias, os pomares não são tratados e a seda que há nos vossos armazéns há anos que foi fiada. Que fazem vocês aqui, em Lorbanery?
— Tratamos daquilo que nos diz respeito — lançou bruscamente o regedor, mas o magricela intrometeu-se, muito excitado: — Porque não vêm os navios, diz-nos lá! Que andam eles a fazer na Cidade de Hort? É porque o nosso trabalho tem sido inferior?
Mas logo foi interrompido por furiosas negativas. Puseram-se a gritar uns com os outros, levantaram-se de um salto, o regedor sacudiu o punho fechado em frente do nariz do Gavião e outro puxou de uma faca. Tinham ficado todos como loucos. Arren pôs-se de pé num ápice e olhou para o Gavião, esperando vê-lo erguer-se, envolto na majestade da luz de mago, e emudecê-los a todos com o seu poder revelado. Mas não o fez. Limitou-se a deixar-se ficar sentado, a olhar de uns para os outros e a escutar as suas ameaças. E, pouco a pouco, acalmaram-se, como se lhes fosse tão impossível manter a raiva como a boa disposição. A faca foi embainhada, as ameaças transformaram-se em risos de desdém. Começaram a ir embora como cães depois de uma briga de cães, uns com ar pomposo, outros esgueirando-se furtivamente. Quando se viram os dois sós, o Gavião levantou-se, entrou na estalagem e tomou um longo trago de água da bilha junto à porta. Depois disse para Arren:
— Anda, rapaz. Isto para mim já chega.
— Vamos para o barco?
— Exatamente.
Colocou duas rodelas de prata, das usadas em comércio, no parapeito da janela, para pagar o alojamento, e pegou na trouxa das suas roupas. Arren sentia-se cansado e sonolento. Porém, olhou ao redor para a sala da estalagem, abafada e tétrica, e com todo aquele movimento nas traves do teto dos morcegos inquietos, pensou na noite anterior passada ali e seguiu o Gavião com toda a boa vontade. Pensou também, enquanto desciam a única e escura rua de Sosara, que partindo naquela altura se iam livrar do louco, Sopli. Mas quando chegaram ao porto, lá estava ele no cais à espera.
— Ora aí estás tu — acolheu-o o mago. — Entra lá no barco, se sempre queres vir.
Sem uma palavra, Sopli desceu para dentro do barco e agachou-se junto ao mastro, como um grande cão abandonado. Perante isto, Arren rebelou-se e bradou:
— Meu Senhor!
O Gavião voltou-se para ele e assim ficaram, frente a frente, sobre o cais acima do barco.
— Nesta ilha — prosseguiu Arren — são todos loucos, mas pensei que tu não fosses. Para que o levas?
— Levo-o como guia.
— Um guia! Para uma loucura ainda maior? Para a morte por afogamento, ou com uma faca cravada nas costas?
— Para a morte, sim, mas por que caminho, não sei.
Arren falara com ardor e, embora o Gavião lhe tivesse respondido calmamente, havia algo como um tom de ferocidade na sua voz. Não estava habituado a que lhe questionassem as ações. Porém, desde que Arren o tentara proteger do louco na estrada e vira como era vã e desnecessária essa proteção, o rapaz sentia uma amargura, e todo aquele emergir de devoção que experimentara de manhã se corrompera e desgastara. Era incapaz de proteger o Gavião. Não lhe era permitido tomar quaisquer decisões. Não podia sequer, ou não lhe era também permitido, compreender a natureza daquela demanda. Ia sendo simplesmente arrastado para ela, inútil como uma criança. Mas ele não era uma criança.
— Não desejaria travar-me de razões contigo, meu Senhor — pronunciou, tão friamente quanto lhe foi possível. — Mas isto... isto está para lá do razoável!
— Está, sim. Está para lá de tudo o que é razoável. Porque vamos onde a razão não pode levar-nos. Virás também, ou não?
Lágrimas de raiva brotaram dos olhos de Arren.
— Eu disse que viria contigo e te serviria. Não vou faltar à minha palavra.
— Isso é bom — anuiu o mago severamente e fez um movimento como para voltar costas. Mas encarou Arren de novo e prosseguiu: — Eu preciso de ti, Arren. E tu precisas de mim. Porque te direi agora que acredito ser este o caminho que deves seguir, não por obediência ou lealdade para comigo, mas porque era teu para o seguires mesmo antes de alguma vez me teres visto. Teu antes mesmo de teres posto pé em Roke. Teu antes de partires de Enlad. Não podes voltar atrás.
Entretanto, a sua voz não se suavizara e Arren retorquiu, com igual severidade.
— E como havia eu de voltar atrás, sem barco, neste fim de mundo?
— Isto, o fim do mundo? Não, esse fica mais longe. Talvez ainda lá cheguemos.
Arren limitou-se a fazer uma inclinação de cabeça e saltou para dentro do barco. O Gavião soltou a amarra e chamou um vento leve para a vela. Logo que se afastaram das vagas e vazias docas de Lorbanery, o vento começou a soprar, frio, diretamente do escuro Norte. A Lua ergueu-se prateada do mar chão à frente deles, rodando-lhes para a esquerda quando viraram para sul, a costear a ilha.
O LOUCO
O louco, o Tintureiro de Lorbanery, permanecia feito num molho de encontro ao mastro, os braços apertando os joelhos e a cabeça pendendo. A luz do luar, a sua massa de cabelo hirsuto parecia negra. O Gavião enrolara-se num cobertor e deixara-se adormecer na popa do barco. Nem um nem outro se movia. Arren ia sentado à proa. Jurara a si próprio vigiar toda a noite. Se o mago resolvera concluir que o seu lunático passageiro não se iria deitar a ele ou a Arren durante a noite, que lhe fizesse muito bom proveito. Porém, Arren tiraria as suas próprias conclusões e tomaria as suas próprias responsabilidades.
Mas a noite era muito longa e muito sossegada. O luar, imutável, escorria sobre o mundo. Enrodilhado junto ao mastro, Sopli ressonava longamente, suavemente. E foi suavemente que Arren deslizou para o sono. Acordou uma vez, com um sobressalto, e viu a Lua um quase nada mais alta. Então desistiu da guarda a que só por orgulho se obrigara, tomou uma posição mais confortável e deixou-se adormecer.
Voltou a sonhar como, ao que parecia, sempre lhe acontecia naquela viagem e, a princípio, os sonhos eram fragmentários mas estranhamente doces e tranqüilizadores. No lugar onde estava o mastro do Vê-longe, ergueu-se uma árvore com grandes braços de folhagem em arco. Cisnes guiavam o barco, voando em frente dele com largas arremetidas das asas poderosas. Muito ao longe, sobre o mar verde berilo, brilhava uma cidade de torres brancas. Depois, Arren estava numa dessas torres, subindo os degraus que a percorriam em espiral, correndo por eles acima com ligeireza e ardor. Estas cenas alteravam-se e voltavam a surgir e conduziam a outras que passavam sem deixar vestígios. Mas, de súbito, Arren estava de novo na luz crespuscular, temível e baça, da charneca e o horror foi crescendo dentro dele até não o deixar respirar. Mas seguiu em frente, porque tinha de seguir em frente. Depois de muito tempo, compreendeu que seguir em frente ali era descrever um círculo e voltar de novo às suas próprias pegadas. E no entanto tinha de sair, de se libertar. Foi-se tornando cada vez mais urgente fazê-lo. Começou a correr. Enquanto corria, os círculos começaram a estreitar e o solo a inclinar-se. Ia a correr no escuro que se adensava, mais depressa, cada vez mais depressa, ao redor da beira interior de um poço, beira que se ia afundando num enorme remoinho que tudo sugava para a escuridão lá em baixo. E, logo que entendeu isso, o seu pé escorregou e ele caiu.
— O que aconteceu, Arren?
O Gavião falava-lhe, lá da popa. Um amanhecer cinzento parecia manter imóveis céu e mar.
— Nada.
— Foi o pesadelo?
— Nada.
Arren estava frio e com o braço direito dolorido pois tivera-o preso debaixo de si. Fechou os olhos, a defendê-los da luz que ia aumentando e pensou: «Ele dá a entender isto e mais aquilo, mas nunca me vai dizer claramente para onde vamos, nem porquê e nem porque deveria eu ir até lá. E agora arrasta este louco conosco. Mas quem será mais doido, o lunático ou eu, por vir com ele? Eles os dois talvez se entendam um ao outro. Agora, são os feiticeiros que estão loucos, disse Sopli. E eu que já podia estar em casa, em casa, no Paço de Berila, no meu quarto de paredes trabalhadas e tapetes vermelhos no chão e um fogo na lareira, acordando para ir, junto com o meu pai, à caça com falcão. Porque vim eu com ele? Porque foi que ele me trouxe? Porque o caminho é meu para o seguir, diz ele, mas isso é conversa de feiticeiros, fazendo com que as coisas pareçam grandes com o uso de grandes palavras. Mas o significado das palavras está sempre noutro lado qualquer. Se tenho algum caminho que devo seguir é o da minha casa, e não andar a vaguear sem sentido através das Estremas. Tenho deveres a cumprir em casa e estou a furtar-me a eles. Se ele pensa realmente que há algum inimigo da feitiçaria em ação, porque veio ele sozinho, comigo? Podia ter trazido outro mago para o ajudar... cem magos. Podia ter trazido um exército de guerreiros, uma frota de navios. E assim que se enfrenta um grande perigo, enviando contra ele um velho e um rapaz num barco? Isto não passa de loucura. Ele próprio está louco. É como ele disse, busca a morte. Busca a morte e quer levar-me com ele. Mas eu não sou louco, nem velho. Não vou morrer. Não irei com ele.»
Soergueu-se sobre um cotovelo, olhando para lá da proa. A Lua, que se erguera diante deles ao deixarem a Baía de Sosara, estava de novo diante deles, a pôr-se. Para trás, a leste, ia surgindo o dia, baço e triste. Não havia nuvens, mas uma espécie de neblina alta, pálida e doentia. Mais para diante no dia, o Sol tornou-se quente mas brilhava velado, sem esplendor.
Durante todo o dia costearam Lorbanery, baixa e verde à sua direita. Um vento ligeiro soprou de terra e enfunou-lhes a vela. A brisa esmoreceu. O Gavião chamou o vento mágico para a vela e, como um falcão solto do pulso, o Vê-longe arrancou e voou em frente ardorosamente, deixando para trás a Ilha da Seda.
Sopli, o Tintureiro, ficara acocorado no mesmo sítio todo o dia, claramente atemorizado pelo barco e pelo mar, enjoado e desditoso. Mas por fim falou, roucamente:
— Vamos para oeste?
O homem, de costas para a proa, tinha o Sol poente diretamente em frente dos olhos. Mas o Gavião, que era paciente com as suas mais estúpidas perguntas, acenou que sim.
— Para Obehol? — insistiu o outro.
— Obehol fica a oeste de Lorbanery.
— Muito, muito para oeste. Talvez o lugar seja aí.
— Como é ele, o lugar?
— Como hei de eu saber? Como é que podia vê-lo? Não é em Lorbanery! Procurei-o durante anos, quatro, cinco anos, no escuro, à noite, fechando os olhos, com ele sempre a chamar Vem, vem, mas eu não podia ir. Eu não sou senhor de feiticeiros para poder encontrar os caminhos na escuridão. Mas há um lugar onde ir com luz, à luz do Sol, também. Era isso que Mildi e a minha mãe não conseguiam entender. Continuavam a procurar no escuro. Depois o velho Mildi morreu e a minha mãe perdeu o tino. Esqueceu-se dos encantamentos que usamos para tingir e foi isso que lhe afetou o juízo. Ela queria morrer, mas eu disse-lhe que esperasse. Espera até que eu encontre o lugar. Tem de haver um lugar. Se os mortos podem voltar à vida no mundo, tem de haver um lugar no mundo onde isso acontece.
— Os mortos estão de volta à vida?
— Julguei que soubesses essas coisas — resmungou Sopli depois de uma pausa e olhando de soslaio para o Gavião.
— Procuro sabê-las.
Sopli nada disse. O mago olhou subitamente para ele, um olhar direto e dominador, embora mantivesse um tom de voz afável ao perguntar:
— Procuras uma maneira de viver para sempre, Sopli?
Por um momento, Sopli sustentou-lhe o olhar, mas logo escondeu a cabeça hirsuta, de um vermelho-acastanhado, nos braços, agarrando os tornozelos com as mãos, e pôs-se a balançar um pouco para a frente e para trás. Ao que parecia, era aquela a posição que adotava quando estava assustado. E quando a tomava não falava nem dava atenção a nada que se dissesse. Desesperado e entediado, Arren afastou-se dele. Com poderiam continuar, com Sopli, durante dias ou semanas, num barco de dezoito pés de comprimento? Era como compartilhar o mesmo corpo com uma alma doente...
O Gavião veio até junto de Arren à proa e colocou um joelho na amurada, espraiando a vista pelo pálido anoitecer. Depois comentou:
— O espírito do homem é de boa estirpe.
A isto, Arren não deu resposta, mas perguntou friamente:
— O que é Obehol? Nunca ouvi tal nome.
— Só sei o nome e o lugar nos mapas, mais nada... Mas olha, além. As companheiras de Gobárdon!
A grande estrela cor de topázio estava agora mais alta no céu, a sul, e por baixo dela, mesmo a rasar o mar indistinto, brilhavam uma estrela branca para a esquerda e uma branco-azulada para a direita, formando um triângulo.
— Têm nomes?
— O Mestre dos Nomes não sabia. Talvez as gentes de Obehol e Uélloguy tenham nomes para elas. Não sei. Navegamos agora para estranhos mares, Arren, sob o Signo do Acabar.
O rapaz não respondeu, olhando com uma espécie de aversão para as estrelas brilhantes e sem nome, acima das águas sem fim.
À medida que iam navegando para oeste, dia após dia, o calor da Primavera setentrional espraiava-se sobre as águas e o céu permanecia límpido. E no entanto parecia a Arren que havia algo de baço na luz, como se passasse obliquamente através de vidro. O mar estava morno quando nadava, trazendo pouco refrigério. A comida salgada não tinha sabor. Não havia frescura nem brilho em nada, a não ser à noite, quando as estrelas esplendiam com um fogo maior do que alguma vez nelas vira. E ao dormir, sonhava. E era sempre o sonho da charneca ou do poço, ou de um vale encerrado entre falésias ou de uma longa estrada a descer sob um céu baixo. E sempre a luz difusa, o terror que o tomava e o inútil esforço para fugir.
Nunca falou disto ao Gavião. Nem lhe falava de nada que fosse importante, referindo-se apenas aos pequenos incidentes diários da viagem. E o Gavião, por quem se tinha sempre de puxar, permanecia normalmente em silêncio.
Arren compreendia agora como tinha sido idiota ao confiar-se de corpo e alma àquele homem irrequieto e reservado, que se deixava levar por impulsos e não fazia o mínimo esforço para controlar a sua vida, nem sequer para a salvar. Porque agora entrara nele um desejo de morte. E isso, pensava Arren, porque não se atrevia a encarar a sua própria derrota, a derrota da feitiçaria como um grande poder entre os homens.
Tornara-se já claro, para aqueles que os conheciam, que não eram assim tantos os segredos dessa arte mágica de que o Gavião, e todas as gerações de feiticeiros e mágicos, tirara muita fama e poder. Não ia afinal muito além de usar o vento e o tempo, de conhecer as ervas que curavam e da demonstração talentosa de uma série de ilusões como névoas e luzes e mudanças de aspecto, que podiam deixar o ignorante boquiaberto, mas não passavam de meros truques. A realidade não ficava mudada. Nada havia na magia que conferisse ao homem verdadeiro poder sobre outros homens. Nem servia de nada contra a morte. Os magos não viviam mais tempo que os homens comuns. Nem todas as suas palavras secretas juntas conseguiam adiar por uma hora a chegada da morte.
Mesmo em assuntos de pouca monta, não valia a pena contar com a magia. O Gavião era sempre avaro quanto ao emprego das suas artes. Navegavam com o vento do mundo sempre que era possível, pescavam para comer e poupavam a água, como quaisquer outros marinheiros. Após quatro dias passados a velejar em ziguezague contra um teimoso vento de proa, Arren perguntou-lhe se não poderia invocar algum vento de feição para a vela e, ao vê-lo negar-se com um movimento de cabeça, perguntou:
— Porquê?
— Porque não iria pedir a um homem doente que entrasse numa corrida — respondeu o Gavião —, nem poria mais uma pedra sobre um dorso já sobrecarregado.
Não ficara claro se falava de si próprio ou do mundo em geral. Mas as suas respostas eram sempre dadas de má vontade e difíceis de compreender. Era aí, pensava Arren, que estava o verdadeiro fulcro da feitiçaria. Deixar entrever profundos significados sem dizer nada de nada, e conseguir que não fazer nada de nada parecesse o supra-sumo da sabedoria.
Arren tentara ignorar Sopli, mas era impossível. E, de qualquer modo, não tardou muito que não fizesse uma espécie de aliança com o louco. Porque Sopli não era tão louco, ou não tão simplesmente louco como o seu cabelo emaranhado e modo fragmentado de falar o faziam parecer. A verdade é que a maior loucura dele era o medo da água. Entrar num barco fora um ato de desesperada coragem e nunca chegou realmente a libertar-se do seu pavor. Mantinha a cabeça o mais baixo possível para não ter de ver a água ondulando e batendo no barco ao seu redor. Pôr-se de pé no barco deixava-o tonto e tinha de se agarrar ao mastro. Da primeira vez que Arren decidiu nadar e mergulhou da proa, Sopli soltou um brado de horror e, quando Arren voltou a subir para o barco, o pobre homem estava verde com o choque que sofrera.
— Julguei que te tinhas deitado a afogar — explicou. E Arren não pôde deixar de se rir.
Nessa tarde, enquanto o Gavião estava sentado a meditar, sem dar por nada e nada ouvindo, Sopli foi-se aproximando de Arren, agarrando-se cautelosamente aos bancos, e perguntou-lhe em voz baixa:
— Tu não queres morrer, pois não?
— Claro que não.
— Mas ele quer — segredou Sopli, com um leve desviar do maxilar inferior na direção do Gavião.
— Porque dizes isso?
Arren falara num tom altivo, que aliás era natural nele, e Sopli aceitou-o com naturalidade, embora fosse dez ou quinze anos mais velho que o rapaz. Replicou pois com pronta delicadeza, se bem que no seu costumeiro modo fragmentário de falar.
— Ele quer ir até ao lugar secreto. Mas eu não sei porquê. Ele não quer... Ele não acredita na... na promessa.
— Qual promessa?
Sopli lançou-lhe um olhar agudo com algo da sua perdida humanidade nos olhos. Mas a vontade de Arren era mais forte. Então, respondeu-lhe, em voz muito baixa:
— Tu sabes. Vida. A vida eterna.
Um grande arrepio percorreu todo o corpo de Arren. Recordou os seus sonhos, a charneca, o poço, as falésias, a luz difusa. Era a morte. Era o horror da morte. Era da morte que ele tinha de fugir, de encontrar o caminho. E na soleira da porta de entrada erguia-se a figura coroada de sombras, estendendo para ele uma luz não maior que uma pérola, a cintilação da vida imortal.
Pela primeira vez, Arren cruzou o olhar com o de Sopli. Os seus olhos eram castanhos-claros, muito límpidos. Neles viu que compreendera enfim e que Sopli compartilhava da sua compreensão.
— Ele — sussurrou o Tintureiro, com o seu movimento de maxilar na direção do Gavião —, ele não quer abandonar o nome. Mas ninguém pode passar para o outro lado levando o nome. A passagem é demasiado estreita.
— Já a viste?
— No escuro, na minha mente. Mas não chega. Quero chegar lá. Quero vê-la. No mundo, com os meus olhos. E se eu... se eu morresse e não conseguisse encontrar a passagem, o lugar? A maior parte das pessoas não a consegue encontrar. Nem sequer sabe que existe. Só alguns de nós temos o poder. Mas é difícil, porque é preciso entregar o poder para chegar lá... Acabam-se as palavras. Acabam-se os nomes. É demasiado difícil para a mente. E quando se... morre, a mente... morre.
Cada vez que ia a pronunciar a palavra, interrompia-se. Mas prosseguiu:
— Quero saber que posso voltar. Quero lá estar. Do lado da vida. Quero estar vivo, estar seguro. Odeio... odeio esta água...
E o Tintureiro juntou os membros como uma aranha quando cai e encolheu a cabeça ruiva e hirsuta entre os ombros, para ocultar a vista do mar.
Mas Arren não voltou a evitar falar com ele depois disso, sabendo que Sopli partilhava com ele não só a sua visão, mas também o seu medo. E que, na pior das hipóteses, Sopli o poderia ajudar contra o Gavião.
E continuavam a navegar, lentamente, nas calmas e constantes brisas, para o Oeste, onde o Gavião pretendia que Sopli os guiasse. Mas Sopli não os guiava, ele que nada sabia do mar, nunca vira um mapa, nunca estivera num barco e temia a água com um temor pânico. Era o mago que os guiava e, deliberadamente, os desviava da boa direção. Arren via isso agora, bem como o motivo para tal. O Arquimago sabia que eles e outros como eles buscavam a vida eterna, que esta lhes tinha sido prometida ou para ela eram atraídos, e a poderiam encontrar. No seu orgulho, no seu presunçoso orgulho de Arquimago, temia não fossem eles consegui-la. Invejava-os, temia-os e não permitiria que houvesse homem algum superior a ele. Decidira navegar para o Alto Mar para lá de todas as terras até que de todo se tivessem perdido e não mais pudessem regressar ao mundo e ali morressem de sede. Pois ele próprio preferia morrer, para os impedir de alcançar a vida eterna.
De vez em quando, lá surgia um momento em que o Gavião falava a Arren de qualquer pequeno assunto tendo a ver com o manejo do barco, ou nadava com ele no mar morno, ou lhe dava boa-noite sob as grandes estrelas, momentos em que todas estas idéias pareciam ao rapaz serem os mais completos disparates. Olhava para o companheiro, via-o como era, o rosto duro, severo e paciente, e então pensava: «Este é o meu senhor e o meu amigo.» E parecia-lhe inacreditável ter duvidado. Mas, um pouco mais tarde, voltava a duvidar e ele e Sopli trocavam olhares, precavendo-se um ao outro contra o inimigo comum.
Todos os dias o Sol brilhava quente mas baço. A sua luz era como um lustro por sobre o lento ondulado do mar. A água era azul, azul o céu sem mudança nem tonalidades. As brisas sopravam e morriam, e eles viravam a vela para as captar e continuavam a deslizar rumo a lado nenhum.
Certa tarde levantou-se enfim um ligeiro vento de feição. E, perto do pôr do Sol, o Gavião apontou para cima, chamando-lhes a atenção com um «Olhem!». Lá no alto, acima do mastro, uma fila de gansos marinhos descrevia como que uma runa negra, traçada através do céu. Os gansos voavam para oeste e, seguindo na sua esteira, o Vê-longe chegou no dia seguinte à vista de uma grande ilha.
— É isso — exclamou Sopli. — Aquela terra. Temos de ir ali.
— O lugar que procuras é lá?
— Sim. Temos de aproar ali. Não podemos ir mais longe que isto.
— Esta terra deve ser Obehol. Para lá dela, na Estrema Sul, há uma outra ilha, Uélloguy. E na Estrema Oeste há ilhas que ficam ainda mais para ocidente que Uélloguy. Tens a certeza, Sopli?
O Tintureiro de Lorbanery irou-se e voltou-lhe aos olhos a expressão fugidia, mas não falou disparatadamente, achou Arren, como quando tinham conversado com ele pela primeira vez, já há tantos dias, em Lorbanery.
— Sim, sim. Temos de aproar aqui. Já fomos longe quanto basta. O lugar que procuramos é este. Queres que jure que o conheço? Queres que o jure pelo meu nome?
— Não podes — atalhou o Gavião, em voz dura, olhando par cima, para Sopli, que era mais alto que ele. O Tintureiro erguera-se, segurando-se firmemente ao mastro, para olhar a terra de que se aproximavam. — Não o tentes, Sopli.
O louco contorceu o rosto num esgar de raiva ou dor. Olhou as montanhas, azuis da distância, a estenderem-se diante do barco, por sobre a trêmula e ondulante planície do mar, e insistiu:
— Trouxeste-me como guia. Este é o lugar. Temos de aproar aqui.
— Fá-lo-íamos de qualquer maneira, porque precisamos de água — finalizou o Gavião e dirigiu-se para o leme.
Sopli foi sentar-se no seu lugar junto ao mastro a resmungar. Arren ouviu-o dizer «Juro pelo meu nome. Pelo meu nome», muitas vezes e, de cada vez que o dizia, voltava a fazer o esgar de raiva ou dor.
Aproximaram-se da ilha aproveitando um vento de norte e costearam-na em busca de uma baía ou outro local de desembarque, mas a rebentação açoitava trovejante, sob a luz do Sol, toda a costa norte. Para o interior, verdes montanhas aqueciam-se àquela luz, cobertas de arvoredo até aos cumes.
Rodeando um cabo, chegaram finalmente à vista de uma profunda baía em forma de crescente e com praias de areia muito branca. Aqui as ondas avançavam calmamente, o seu ímpeto quebrado pelo cabo, e um barco podia aproar. Não se via sinal de vida humana nem na praia nem nas florestas acima dela. Não tinham avistado um barco, um telhado, uma réstia de fumo. A brisa ligeira abrandou assim que o Vê-longe entrou na baía. Tudo estava quieto, silencioso, quente. Arren pegou nos remos e o Gavião, no leme. O único som que se ouvia era o roçar dos remos nos toletes. Os cumes verdes agigantavam-se acima da baía, encerrando-a. O Sol estendia panos de luz, branca de tão quente, sobre a água. Arren ouviu o sangue ressoar-lhe nos ouvidos. Sopli abandonara a segurança do mastro e agachara-se na proa, agarrado às pranchas, de olhos fitos a esquadrinhar a terra. O rosto escuro, marcado de cicatrizes, do Gavião brilhava de suor como se o tivesse molhado com óleo. O seu olhar oscilava constantemente entre a rebentação baixa e as escarpas ocultas pela folhagem acima dela.
— Agora — comandou ele para Arren e para o barco. Arren deu três grandes remadas e, ligeiramente, o Vê-longe deslizou pela areia acima. O Gavião pulou para fora a empurrar o barco bem para cima, aproveitando o último impulso das ondas. Ao estender as mãos para empurrar, tropeçou e quase caiu, encostando-se à popa para se equilibrar. Com poderoso esforço, arrastou o barco de novo para trás, sobre o refluxo da vaga, e saltou para dentro quando a embarcação como que pairava entre mar e terra.
— Rema! — arquejou ele e deixou-se cair sobre joelhos e mãos, a escorrer água e tentando recuperar o fôlego. Tinha na mão uma lança, uma lança de arremesso com ponta de bronze e dois pés de comprimento. Onde a fora ele arranjar? Outra lança surgiu enquanto Arren se debruçava estupefato sobre os remos. Embateu de lado contra um banco, estilhaçando a madeira, e ressaltou às cambalhotas. Nas escarpas baixas sobre a praia, debaixo das árvores, moviam-se figuras, lançando dardos e logo se agachando. O ar era percorrido por ligeiros assobios ou zunidos. Arren meteu subitamente a cabeça entre os ombros, vergou o dorso e pôs-se a remar com poderosos impulsos. Duas remadas para deixar os baixios, outra para voltar o barco e logo para longe dali.
Sopli, à proa do barco e por detrás das costas de Arren, pôs-se a gritar. Os braços de Arren foram subitamente agarrados de tal modo que os remos saltaram para fora de água. O punho de um deles bateu-lhe na boca do estômago, deixando-o por momentos cego e sem fôlego.
— Volta para trás! Volta para trás! — gritava Sopli. De súbito o barco saltou sobre a água e balançou. Arren, que conseguira voltar a agarrar os remos, voltou-se furioso. Sopli não estava no barco.
Em redor deles, a água profunda da baía ondulava e rebrilhava à luz do Sol.
Como que entorpecido, Arren olhou de novo para trás de si e depois para o Gavião, acocorado à popa.
— Além! — indicou o mago, apontando para um lado, mas nada se via, apenas o mar e o rebrilhar do sol. Uma lança, atirada com um pau de arremesso, falhou o barco por algumas jardas, entrou na água sem ruído e desapareceu. Arren deu mais dez ou doze fortes remadas, depois ciou e olhou uma vez mais o Gavião. As mãos e o braço esquerdo do mago estavam manchados de sangue e ele segurava um pedaço de pano de vela dobrado contra o ombro. A lança com a sua ponta de bronze jazia no fundo do barco. Afinal não a estivera a segurar nas mãos quando Arren a vira pela primeira vez. Estivera, sim, cravada no cavado do ombro, onde a ponta mergulhara. E agora o Gavião esquadrinhava a água entre eles e a praia branca, onde algumas figuras minúsculas saltavam e pareciam ondular na reverberação. Por fim, disse:
— Segue.
— Sopli...
— Não voltou à superfície.
— Afogou-se? — perguntou Arren incredulamente. O Gavião limitou-se a um aceno de cabeça afirmativo. Arren remou até a praia não ser mais que uma linha branca abaixo das florestas e dos grandes cumes verdes. O Gavião permaneceu ao leme, segurando o chumaço de vela de encontro ao ombro mas sem lhe prestar atenção.
— Foi uma lança que o atingiu? — quis saber Arren.
— Não. Saltou.
— Mas ele... ele não sabia nadar. Tinha medo da água!
— Sim, um medo mortal. Mas queria... Queria chegar a terra.
— Porque foi que nos atacaram? Que gente é aquela?
— Devem ter-nos tomado por inimigos. És capaz de me dar aqui uma ajuda por um bocado?
Arren viu então que o pano que ele segurava contra o ombro estava ensopado e de um vermelho-vivo. A lança atingira-o entre a articulação do ombro e a clavícula, rasgando uma das grandes veias, pelo que sangrava abundantemente. Seguindo as indicações do Gavião, Arren rasgou tiras de uma camisa de linho e lá se arranjou o melhor possível para lhe ligar a ferida. O Gavião pediu-lhe então a lança e, depois de Arren lha ter colocado sobre os joelhos, pousou a mão direita sobre a ponta, comprida e estreita como uma folha de salgueiro e feita de bronze toscamente martelado, e pareceu querer falar mas, passado um minuto, sacudiu a cabeça.
— Não me restam forças para esconjuros — admitiu. — Mais tarde. Não haverá problema. Achas que nos podes levar para fora desta baía, Arren?
Em silêncio, o rapaz voltou para os remos. Curvou o dorso a iniciar a tarefa e em breve, pois havia energia no seu corpo esguio e ágil, conseguiu trazer Vê-longe para fora do crescente da baía, entrando no mar aberto. Sobre as águas estendia-se a longa calma do meio-dia da Estrema. A vela pendia inerte. O Sol ofuscava através de um véu de neblina e os altos cumes pareciam abanar e tremular no grande calor. O Gavião estendera-se no fundo do barco, com a cabeça encostada ao banco junto do leme. Estava muito quieto, os lábios e as pálpebras semiabertos. Arren não gostou de lhe olhar o rosto, pelo que preferiu fitar o mar por sobre a popa. A neblina do calor ondulava por cima das águas, como se houvesse véus de teia de aranha a serem tecidos por todo o céu. Os braços tremiam-lhe de cansaço, mas continuou a remar.
— Para onde nos levas? — perguntou o Gavião roucamente, erguendo um pouco o tronco. Arren virou-se para trás e viu o crescente da baía encurvando mais uma vez os seus braços verdes em redor do barco, a linha branca da praia mesmo em frente e a massa das montanhas lá por cima, no ar. Sem dar por isso, tinha feito rodar o barco de volta para a ilha.
— Não consigo remar mais — confessou, arrumando os remos e indo agachar-se na proa. Não conseguia deixar de pensar que Sopli estava atrás dele no barco, junto ao mastro. Tinham passado muitos dias juntos e a sua morte fora demasiado súbita, demasiado insensata, para ser entendida. Nada se conseguia entender.
O barco oscilava sobre a água, a vela pendia bamba da verga. A maré, começando a entrar na baía, virou lentamente o flanco do Vê-longe até ficar paralelo ao fluxo da corrente e foi-o impelindo, a pouco e pouco, cada vez mais para dentro, em direção à distante linha branca da praia.
— Vê-longe — pronunciou meigamente o mago, dizendo ainda uma ou duas palavras na Antiga Fala. E, suavemente, o barco balançou, voltou a proa para o largo e deslizou por sobre o mar ardente, afastando-se dos braços da baía.
Mas, lenta e suavemente, em menos de uma hora deixou de navegar e a vela voltou a pender, inerte. Arren olhou para trás e viu o companheiro, deitado como antes, mas a sua cabeça descaíra um pouco e tinha os olhos fechados.
Todo aquele tempo, Arren sentira crescer dentro de si um horror pesado e doentio que o impedia de agir como se mantivesse o seu corpo e o seu espírito envolvidos em delgados fios. Nele não havia coragem que se erguesse para combater o medo. Só uma espécie de mole ressentimento contra o que lhe coubera em sorte.
Não devia deixar o barco ir à deriva ali, perto daquelas costas rochosas de uma terra cuja gente atacava os estranhos. Isto estava claro no seu espírito, mas não tinha grande significado. Que devia ele fazer em vez disso? Levar o barco de volta a Roke à força de remos? Estava perdido, perdido para lá de qualquer esperança, na vastidão da Estrema. Nunca poderia trazer o barco de volta ao longo daquelas semanas de viagem até uma terra amiga. Só com a orientação do mago o conseguiria fazer. E o Gavião estava ferido e impotente, tão súbita e incoerentemente como Sopli morrera. O seu rosto estava mudado, de um tom amarelado e as feições frouxas. Podia estar a morrer. Arren pensou que talvez devesse levá-lo para debaixo do toldo, para o defender do sol, e dar-lhe água, Os homens que perdiam sangue precisavam de beber. Mas já há dias que a água era pouca. O barril estava quase vazio. E, também, o que interessava? Não havia nada que valesse a pena, que servisse de alguma coisa. A sorte esgotara-se.
Passaram as horas, o Sol dardejava sobre eles os seus raios e o calor cinzento envolvia Arren por todos os lados. Deixou-se ficar sentado, imóvel.
Um leve sopro de frescura passou-lhe pela fronte. Levantou os olhos. Era o entardecer e o Sol já estava baixo, o ocidente de um vermelho baço. O Vê-longe movia-se lentamente ao sabor de uma brisa de leste, contornando as costas escarpadas, cobertas de arvoredo, de Obehol.
Arren foi até à popa do barco e ocupou-se do companheiro, preparando-lhe uma enxerga debaixo do toldo e dando-lhe água a beber. Fez estas coisas apressadamente, afastando os olhos da ligadura que precisava de ser mudada, pois a ferida não cessara totalmente de sangrar. O Gavião, na languidez da fraqueza, não falou. Mesmo ao beber avidamente, os olhos cerraram-se e ele voltou a adormecer, pois essa era a sua maior sede. Remeteu-se de novo ao silêncio e, quando ao escurecer a brisa amainou, não houve vento mágico que a substituísse e o barco ficou a balançar na água calma, levemente ondulante. Mas agora as montanhas que se erguiam altaneiras para a direita surgiam negras contra um céu coalhado de estrelas e, por muito tempo, Arren quedou-se a olhá-las. Os desenhos que formavam pareciam-lhe familiares, como se já antes os tivesse visto, como se os tivesse conhecido toda a sua vida.
Quando se deitou para dormir, ficou voltado para sul e ali, bem alto no céu e sobre o mar vazio, ardia a estrela Gobárdon. Mais abaixo, havia as duas que com ela formavam um triângulo e, abaixo dessas, tinham surgido mais três em linha reta, formando um triângulo maior. Depois, libertando-se das líquidas planícies de branco e prata, mais duas se lhes seguiram ainda, à medida que a noite passava. Estas eram amarelas como Gobárdon, embora menos brilhantes, obliquando da direita para a esquerda a partir do lado direito da base do triângulo. Ali estavam pois oito das nove estrelas que se dizia deverem formar a figura de um homem ou a runa Hardic, Ágnen. Para os olhos de Arren não havia semelhança alguma com uma figura humana na disposição das estrelas, a não ser que, como sucede com as figuras das constelações, estivesse estranhamente distorcida. Mas a runa era evidente com o braço em gancho e o traço a cruzar, tudo menos o pé, o último toque a completá-la, a estrela que não despontara ainda.
Esperando por ela, Arren adormeceu.
Quando acordou, de madrugada, o Vê-longe derivava para mais longe de Obehol. Uma névoa ocultava as costas e toda a ilha menos os cumes das montanhas, névoa que se ia diluindo numa leve neblina por sobre as águas violentas do Sul, tornando difusa as últimas estrelas.
Olhou para o companheiro. O Gavião respirava irregularmente como quando a dor se move logo abaixo da superfície do sono, mas sem a romper. Tinha o rosto empergaminhado e velho sob a luz fria e sem sombra. Olhando-o, Arren viu um homem em quem não restava já poder algum, nem feitiçaria, nem energia, nem sequer juventude, nada. Ele não salvara Sopli, nem desviara a lança de si próprio. Trouxera-os para o meio do perigo e não os salvara. Agora Sopli estava morto, ele a morrer e Arren morreria também. Pelo erro daquele homem. E em vão, para nada.
E assim Arren olhou para ele com os olhos do desespero e nada viu.
Não se agitou nele a memória da fonte sob a sorveira brava, nem da branca luz de magia no navio dos escravos no meio do nevoeiro, nem dos tristes pomares da Casa dos Tintureiros. E também não despertou nele qualquer orgulho ou obstinação da vontade. Observou a alvorada a estender-se sobre o mar calmo, onde apenas uma lenta ondulação corria, da cor de ametistas pálidas e tudo lhe era como um sonho, pálido, sem firmeza nem vigor de realidade. E no mais profundo do sonho e do mar, nada havia. Uma ausência, um vazio. Não havia profundidade.
O barco foi-se movendo em frente irregular e lentamente, ao capricho do vento. Lá atrás, os cumes de Obehol iam-se reduzindo, silhuetas negras contra o Sol nascente, e daí soprava o vento, levando o barco para longe de terra, para longe do mundo, direito ao mar aberto.
OS FILHOS DO ALTO MAR
Perto do meio daquele dia, o Gavião agitou-se e pediu água. Depois de beber, perguntou:
— Para onde vamos?
Realmente, a vela estava panda acima dele e o barco mergulhava como uma andorinha na longa ondulação.
— Para oeste, ou norte quarta a noroeste.
— Tenho frio — queixou-se o Gavião. O Sol caía a pique, enchendo o barco de calor.
Arren não respondeu.
— Tenta manter o rumo para oeste. Uélloguy, a oeste de Obehol. Aproa aí. Precisamos de água.
O rapaz continuou a olhar em frente, por sobre o mar vazio.
— O que se passa, Arren? Ele nada disse.
O Gavião tentou sentar-se e, não o conseguindo, alcançar o seu bordão que estava junto da caixa dos aprestos. Mas ficava fora de alcance e, quando o mago voltou a tentar falar, as palavras não lhe passaram pelos lábios secos. O sangue voltou a brotar sob a ligadura ensopada e coberta com uma crosta, desenhando-lhe no peito como uma pequena teia de aranha carmesim. O mago inspirou com força e fechou os olhos.
Arren lançou-lhe um olhar, mas sem sentir fosse o que fosse, e não por muito tempo. Foi para a vante e retomou a sua posição agachada à proa, os olhos fixos em frente. O vento leste, que soprava agora constante sobre o mar, era seco como um vento do deserto. Já só havia dois ou três quartilhos de água no barril e, no espírito de Arren, eram para o Gavião, não para ele próprio. Nunca lhe ocorrera beber daquela água. Deitara linhas de pesca por cima da amurada, porque aprendera depois de terem saído de Lorbanery que o peixe cru satisfaz tanto a fome como a sede. Mas nunca havia nada nas linhas. Não interessava.
O barco movia-se sobre o deserto de água. Por cima do barco, lentamente, mas mesmo assim acabando por ganhar a corrida por toda a largura do céu, também o Sol se movia de oriente para ocidente.
Certa vez, Arren pensou ver uma elevação azulada a sul, que tanto podia ter sido terra como nuvem. O barco havia horas que singrava um pouco para noroeste. O rapaz não tentou virar de bordo e velejar em ziguezague, antes deixou o barco seguir. A terra podia ser ou não ser real. Não interessava. Para ele toda a vasta e incendiada glória de vento e luz e oceano era indistinta e falsa.
A escuridão veio, depois a luz, e o escuro, e a luz, como pancadas de tambor na tela tensamente esticada do céu.
Por sobre a amurada do barco deixou pender a mão para dentro de água. Por um instante foi o que viu, vividamente. A sua mão de um esverdeado pálido sob a água viva. Inclinou-se e sugou a umidade dos dedos. Era amarga, queimando-lhe dolorosamente os lábios, mas voltou a fazê-lo. Então sentiu-se agoniado e inclinou-se para vomitar mas apenas um pouco de bílis lhe queimou a garganta. Não havia mais água para dar ao Gavião e Arren temia chegar junto dele. Deitou-se, cheio de arrepios apesar do calor. Tudo era silêncio, secura e brilho. Um brilho terrível. Tapou os olhos, a escondê-los da luz.
Estavam de pé no barco, três deles, os corpos angulosos e magros como varas, de grandes olhos, semelhantes a garças escuras ou grous. As suas vozes eram finas, como o trilar de pássaros. Arren não os compreendia. Um ajoelhou-se junto dele com uma bexiga escura sobre o braço e verteu qualquer coisa para a boca do rapaz. Era água. Arren bebeu avidamente, engasgou-se, voltou a beber até a água se esgotar do recipiente. Depois olhou em volta e pôs-se de pé com esforço, perguntando:
— Onde está ele? Onde está ele?
Porque no Vê-longe, com ele, estavam apenas os três esguios estranhos.
Olharam-no sem o compreender.
— O outro homem — rouquejou o rapaz, cuja garganta arranhada e lábios ressequidos mal conseguiam formar as palavras —, o meu amigo.
Um deles, entendendo-lhe a aflição senão as palavras, pousou-lhe a mão delgada no braço, apontou com a outra.
— Ali — pronunciou, tranqüilizador.
Arren olhou. E viu, para a frente e para norte do barco, algumas muito juntas e outras dispersas até muito longe no mar, jangadas. Tantas jangadas que faziam lembrar as folhas de Outono caídas na superfície de um charco. Erguendo-se pouco acima da água, havia uma ou duas cabinas ou cabanas em cada uma, perto do centro, e várias ostentavam mastros erguidos. Como folhas flutuavam, erguendo-se e baixando muito suavemente sobre a vasta ondulação do oceano. As ruas de água brilhavam como prata entre elas e, acima, pairavam alto grandes nuvens de chuva, violeta e ouro, escurecendo o oeste.
— Ali — repetiu o homem, apontando para uma grande jangada perto do Vê-longe.
— Vivo?
Todos o olharam e, por fim, um deles compreendeu.
— Vivo. Está vivo.
Perante isto Arren começou a chorar, um soluçar seco, e um dos homens pegou-lhe no pulso com a sua mão alongada e forte, ajudando-o a sair do Vê-longe e a passar para uma jangada a que o barco fora amarrado. A jangada era tão grande e flutuava tão bem, que nem levemente mergulhou com o peso de ambos. O homem conduziu Arren até ao lado oposto, enquanto um dos outros estendia um croque, cuja ponta era formada com um dente curvo de tubarão-baleia e puxava para mais perto uma jangada próxima, até poderem atravessar de uma para a outra com um simples passo. Ali, levou Arren até ao abrigo ou cabina, que era aberta de um lado e fechada dos outros três com biombos de tecido.
— Deita-te — instou-o o homem e, a partir daí, Arren não teve consciência de mais nada.
Estava deitado de costas, completamente estendido, olhando um grosseiro teto verde salpicado de pequenos pontos de luz. Julgou-se nos pomares de macieiras de Semermaine, onde os príncipes de Enlad passam o Verão, nas colinas atrás de Berila. Pensou estar deitado na espessa erva de Semermaine, olhando a luz do Sol que se coava entre os ramos das macieiras.
Passado um bocado, ouviu o bater e marulhar da água nas zonas ocas do fundo da jangada, as finas vozes do povo das jangadas, falando uma língua que era o Hardic vulgar do Arquipélago, mas muito alterado nos sons e nos ritmos, pelo que se tornava difícil de compreender. E soube então onde estava. Longe, para lá do Arquipélago, para lá da Estrema, para lá de todas as ilhas, perdido na imensidão do Alto Mar. Mas mesmo assim permaneceu imperturbável, tão confortavelmente deitado como se fosse realmente na erva dos pomares da sua terra natal.
Um pouco depois, pensou que devia levantar-se e assim o fez, vendo que o seu corpo estava muito emagrecido e a pele crestada pelo Sol. Quanto às pernas, tremiam-lhe um bocado mas ainda podiam prestar serviço. Desviou a cortina tecida que formava as paredes do abrigo e saiu para a tarde. Chovera enquanto ele dormia. A madeira da jangada, grandes troncos cortados à esquadria e aplanados, bem juntos e calafetados, estava escura da água e o cabelo daquela gente delgada, seminua, escorria liso e negro da chuva. Mas metade do céu estava claro, onde o Sol se erguia a oeste e as nuvens derivavam agora para o longínquo nordeste em amontoados de prata.
Um dos homens aproximou-se de Arren, cautelosamente, parando a uns passos dele. Era franzino e baixo, não muito mais alto que um rapaz de doze anos. Tinha os olhos rasgados, grandes e escuros. Trazia uma lança com ponta de marfim, farpada.
Arren dirigiu-se-lhe.
— Devo a minha vida a ti e ao teu povo.
O homem fez uma inclinação de cabeça.
— Podes levar-me junto do meu companheiro?
Voltando-se, o homem das jangadas ergueu a voz num grito agudo e penetrante, como o chamamento de uma ave marinha. Depois, sentou-se sobre os calcanhares como se à espera e Arren imitou-o.
As jangadas tinham mastros, embora aquela onde se encontravam não tivesse o seu erguido. Nesses mastros podiam hastear-se velas, pequenas se comparadas com a largura da jangada. As velas eram de um material castanho, nem tela nem linho, mas uma substância fibrosa que não parecia ter sido tecida, antes compactada batendo-a, tal como é feito o feltro. Uma jangada a cerca de um quarto de milha dali soltou a vela da cruzeta e aproximou-se lentamente, afastando as outras jangadas do caminho com croques ou varas, até ficar ao lado daquela onde Arren se encontrava. Quando havia apenas três pés de água entre uma e outra, o homem ao lado de Arren ergueu-se e, com uma passada descuidada, atravessou. Arren fez o mesmo e aterrou desajeitadamente a quatro patas. Não tinha nem restos de elasticidade nos joelhos. Voltou a pôr-se de pé e deu com o homenzinho a olhá-lo, não divertido mas com sinais de aprovação. A compostura de Arren merecera-lhe obviamente respeito.
A jangada onde agora estavam era maior e mais elevada em relação à água que qualquer outra, feita de toros com quarenta pés de comprimento e quatro ou cinco de lado, enegrecidos e amaciados com o uso e o tempo. Havia estátuas de madeira estranhamente esculpidas erguidas junto dos vários abrigos ou recintos disseminados por toda ela e, aos quatro cantos, aprumavam-se mastros altos, coroados por tufos de penas de aves marinhas. O guia levou-o até ao mais pequeno dos abrigos e ali estava o Gavião, deitado e a dormir.
Arren sentou-se dentro do abrigo. O seu guia regressou à outra jangada e ninguém o veio incomodar. Passada uma hora ou duas, uma mulher trouxe-lhe comida, uma espécie de caldeirada com pedaços de uma coisa verde e transparente lá dentro, um pouco salgada mas boa. E uma pequena chávena de água, bafenta e com um gosto a pez do calafetado da barrica. Pela maneira como ela lhe entregou a água, percebeu que era um tesouro que lhe dava, uma coisa a ser respeitada. E, assim, foi respeitosamente que a bebeu, sem pedir mais, embora pudesse ter bebido facilmente dez vezes aquela quantidade.
O ombro do Gavião fora ligado com perícia. O mago estava mergulhado num sono profundo e sossegado. E, quando acordou, os seus olhos estavam límpidos. Olhou para Arren e fez o seu sorriso doce e alegre, sempre tão inesperado no seu rosto duro. E Arren voltou a sentir vontade de chorar. Pousou a sua mão na do Gavião e permaneceu em silêncio.
Um dos homens do povo das jangadas aproximou-se deles e acocorou-se à sombra de um grande abrigo ali perto. Dir-se-ia ser uma espécie de templo, com um desenho quadrangular e de grande complexidade acima da entrada e as ombreiras feitas de toros esculpidos em forma de baleias cinzentas mergulhando. Este homem era pequeno e magro como os outros, com a compleição de um rapaz, mas as suas feições eram fortemente marcadas pelo tempo. Envergava apenas uma tanga mas a dignidade revestia-o amplamente.
— Ele tem de dormir — aconselhou. E Arren, deixando o Gavião, aproximou-se dele.
— Tu és o chefe deste povo — afirmou, pois sabia reconhecer um príncipe quando o via.
— Sou — confirmou o homem, com um simples aceno de cabeça. Arren colocou-se em frente dele, ereto e imóvel. Finalmente, os olhos escuros do homem fixaram os dele e o homem observou: — Tu também és um chefe.
— Sou — respondeu Arren. Gostaria muito de entender como era que o homem das jangadas o sabia, mas permaneceu impassível e acrescentou: — Mas sirvo o meu Senhor, que além está.
O chefe do povo das jangadas disse algo que Arren não compreendeu de todo. Certas palavras tão deformadas que eram irreconhecíveis ou nomes que não conhecia. Depois perguntou:
— Porque vieste a Balatrane?
— Em busca...
Mas Arren não sabia o quanto devia dizer, nem sequer o que dizer. Tudo o que acontecera, e a razão da sua demanda, pareciam coisas sucedidas há muito e confundiam-se no seu cérebro. Por fim, acrescentou:
— Viemos até Obehol. Fomos atacados quando aproamos a terra. O meu senhor foi ferido.
— E tu?
— Eu não fui ferido — respondeu Arren. E aí a fria compostura que aprendera na sua meninice na corte foi-lhe de grande auxílio. — Mas houve... houve qualquer coisa como uma loucura. Alguém que viajava conosco deitou-se a afogar. Havia um medo...
Interrompeu-se e quedou silencioso.
O chefe observou-o por momentos com os seus olhos negros, opacos. Finalmente, concluiu:
— Então foi o acaso que vos trouxe aqui.
— Sim. Ainda estamos na Estrema Sul?
— Estrema? Não. As ilhas... — O chefe moveu a sua mão esguia e negra num arco, não mais que um quarto da rosa-dos-ventos, de norte a leste. — As ilhas estão além — explicou. — Todas as ilhas. — Depois, mostrando toda a vastidão vespertina das águas perante eles, de norte, passando o oeste e até ao sul, disse: — O mar.
— De que terra és tu, Senhor?
— De nenhuma. Nós somos os Filhos do Alto Mar.
Arren fitou-lhe o rosto perspicaz. Olhou em volta para a grande jangada com o seu templo e os seus altos ídolos, cada um esculpido numa só árvore, grandes figuras de deuses reunindo golfinho, peixe, homem e ave marinha. Olhou as pessoas ativamente entregues às suas tarefas, tecendo, esculpindo, pescando, cozinhando em plataformas elevadas, cuidando de bebês. Olhou as outras jangadas, setenta no mínimo, espalhadas pela água num grande círculo, talvez com uma milha de diâmetro. Era uma cidade, com o fumo a erguer-se em finas colunas nas casas distantes e as vozes das crianças soando agudas no vento. Era uma cidade e, sob o seu solo, era o abismo.
— Nunca vão a terra? — inquiriu o rapaz em voz baixa.
— Uma vez por ano. Vamos até à Duna Longa. Aí cortamos madeira e reparamos as jangadas. Isso é no Outono e depois seguimos as baleias cinzentas para norte. No Inverno separamo-nos e cada jangada segue sozinha. Na Primavera vimos a Balatrane e reunimo-nos. Nessa altura há muitas idas e vindas entre jangadas, há casamentos e celebramos a Longa Dança. Estas são as Estradas de Balatrane e, daqui, a grande corrente até vermos as Muito Grandes, as baleias cinzentas, voltando para norte. Seguimo-las então regressando finalmente às praias de Emáh na Duna Longa, por um breve tempo.
— Isso é imensamente extraordinário, Senhor — admirou-se Arren. — Nunca ouvi falar de um povo como o vosso. A minha terra é muito longe daqui. Mas também lá, na Ilha de Enlad, dançamos a Longa Dança na véspera do pleno Verão.
— Vós bateis os pés sobre a terra, dançando em segurança — comentou secamente o chefe. — Nós dançamos sobre o mar profundo.
Ao fim de algum tempo, perguntou:
— Como se chama ele, o teu Senhor?
— Gavião — respondeu Arren.
O chefe repetiu as sílabas mas era evidente que nada significavam para ele. E foi isso, mais que qualquer outra coisa, que fez Arren compreender que a história era verdadeira, que aquela gente vivia no mar ano após ano, no Alto Mar para além de qualquer terra ou cheiro vindo de terra, para lá do vôo das aves de terra, fora do conhecimento dos homens.
— A morte estava nele — pronunciou o chefe gravemente. — Tem de dormir. Volta para a jangada da Estrela. Depois te mandarei chamar.
Ergueu-se. Embora perfeitamente seguro de si próprio, aparentemente não estava muito seguro quanto ao que Arren seria, se o havia de tratar como seu igual ou como um rapaz. Arren preferia a segunda alternativa, naquela situação, e aceitou que o mandassem embora, mas então deparou-se com um problema pessoal. As jangadas tinham derivado de novo, afastando-se uma da outra, e havia agora entre ambas umas cem jardas de água acetinada e encrespada.
O Chefe dos Filhos do Alto Mar dirigiu-se a ele mais uma vez, brevemente.
— Nada — incitou ele.
Arren deixou-se cair desajeitadamente na água. A sua frescura era agradável sobre a pele queimada pelo Sol. Nadou até à outra jangada e içou-se para ela, dando com um grupo de cinco ou seis crianças e adolescentes que o observavam com indisfarçável interesse. Uma menininha muito pequena comentou:
— Nadas como um peixe preso no anzol.
— Então como devia eu nadar? — quis saber Arren, algo humilhado mas com delicadeza. Aliás, como poderia ele ser rude para um ser humano tão pequeno? Parecia uma estatueta de ébano polido, frágil, delicada.
— Assim! — gritou ela. E mergulhou como uma foca na cintilante e líquida turbação das águas. Só passado um longo tempo e a uma distância improvável voltou ele a ouvir o seu grito estrídulo, a ver a cabeça negra e lustrosa acima da superfície.
— Anda — desafiou um rapaz que seria provavelmente da idade de Arren, embora de altura e compleição não parecesse ter mais de doze. Era um jovem de feições graves e que tinha um caranguejo azul tatuado a toda a largura das costas. Mergulhou e todos mergulharam, mesmo o miúdo que teria uns três anos. De maneira que Arren teve de fazer o mesmo e lá mergulhou, tentando não fazer saltar muita água.
— Como uma enguia — bradou o rapaz, emergindo junto ao ombro de Arren.
— Como um golfinho — lançou uma bela rapariga com um belo sorriso, e desapareceu nas profundezas.
— Como eu! — guinchou o pequenino de três anos, boiando na água para cima e para baixo como uma garrafa vazia.
E assim, naquele entardecer até ser escuro, e por todo o longo e dourado dia seguinte e nos dias que se lhe seguiram, Arren nadou, falou e trabalhou com a gente jovem da jangada da Estrela. E de todos os acontecimentos da sua viagem, desde aquela manhã do equinócio em que ele e o Gavião deixaram Roke, aquele pareceu-lhe de certa maneira o mais estranho. Porque nada tinha a ver com tudo o que antes acontecera, tanto na viagem como em toda a sua vida. E menos ainda com o que estava ainda para vir. A noite, deitando-se para dormir juntamente com os outros, sob as estrelas, pensou: «E como se eu estivesse morto e esta fosse uma outra vida, aqui à luz do Sol, para além da orla do mundo, entre os filhos e as filhas do mar...»
Antes de adormecer, olhava para o longínquo Sul, procurando a estrela amarela e o desenho da Runa do Acabar, mas via sempre e apenas Gobárdon e a parte menor do triângulo grande, porque nasciam agora mais tarde e ele não conseguia manter os olhos abertos até que a figura se libertasse por completo do horizonte. De noite e de dia, as jangadas derivavam para sul, mas não havia mudança alguma no mar porque o sempre mutável nunca se altera nesse mudar. As grandes chuvas de Maio passaram ao largo e à noite as estrelas brilhavam, todo o dia brilhava o Sol.
Arren sabia que a vida deles não podia ser sempre vivida naquela paz de sonho. Perguntou como era o Inverno e falaram-lhe das longas chuvas e da alterosa ondulação, das jangadas solitárias, cada uma separada de todas as outras, à deriva e mergulhando no cavado das ondas, através do cinzento e da escuridão, semana após semana, após semana. No Inverno anterior, durante uma tempestade que durou todo um mês, tinham visto ondas tão altas que eram «como nuvens de trovoada» diziam, pois nunca tinham visto montanhas. Do dorso de uma onda via-se a seguinte, imensa, a milhas de distância, correndo enorme para eles. Quis saber se as jangadas podiam navegar em tais mares, ao que lhe responderam que sim, mas nem sempre. Na Primavera, quando voltavam a reunir-se nas Estradas de Balatrane, havia sempre duas jangadas que faltavam, ou três, ou seis...
Casavam-se muito jovens. Caranguejo-azul, o rapaz tatuado com o animal seu homônimo, e a bela rapariga Albatroz eram marido e mulher, embora ele apenas tivesse dezessete anos e ela fosse dois anos mais nova. Havia muitos casamentos assim entre jangadas. Viam-se muitos bebês a gatinhar ou a ensaiar os primeiros passos por todas as jangadas, atados aos quatro postes do abrigo central por longas trelas, e todos gatinhando lá para dentro à hora de maior calor, para dormirem em grupos remexidos. As crianças mais velhas cuidavam das mais pequenas e homens e mulheres dividiam igualmente o trabalho. Todos tinham o seu turno para apanhar as grandes algas marinhas de folhas castanhas, o nilgu das Estradas, franjadas como fetos e com cem pés de comprimento. Todos trabalhavam juntos para compactar o nilgu até obterem o tecido, ou entrançando as fibras ásperas para fazer cordas e redes. Ou a pescar e a secar o peixe, ou a fazer ferramentas do marfim de baleia, e todas as outras tarefas das jangadas. Mas havia sempre tempo para nadar e conversar, e nunca a indicação da altura em que uma tarefa teria de estar terminada. Não havia horas. Apenas dias inteiros, inteiras noites. Depois de alguns dias e algumas noites assim, parecia a Arren que tinha vivido na jangada tempos sem conta, e Obehol era um sonho, e o que ficara para trás sonhos mais vagos ainda e, em algum outro mundo, ele vivera em terra e fora um príncipe, em Enlad.
Quando foi finalmente chamado de novo à jangada do chefe, o Gavião olhou-o por momentos e comentou:
— Pareces aquele Arren que eu vi no Pátio da Fonte, esguio como uma foca dourada. Dás-te bem com a vida daqui, rapaz.
— Assim é, meu Senhor.
— Mas onde é esse aqui? Deixamos lugares para trás de nós. Navegamos para fora dos mapas... Há muito tempo, ouvi falar do Povo das Jangadas, mas tomei-o por mais uma lenda da Estrema Sul, uma fantasia sem substância. E afinal fomos socorridos por essa fantasia, as nossas vidas foram salvas por um mito.
Falava sorrindo, como se também ele tivesse compartilhado dessa vida agradável e sem tempo sob a luz do Verão. Mas o seu rosto permanecia desolado e nos seus olhos havia um negrume que nenhuma luz aliviava. Arren viu esse negrume, essa desolação, e enfrentou-os.
— Eu traí... — começou ele, parou, continuou: — Traí a tua confiança em mim.
— Como assim, Arren?
— Lá... em Obehol. Quando, por uma vez, tiveste necessidade de mim. Estavas ferido e precisavas da minha ajuda. Eu nada fiz. O barco ia à deriva e deixei-o. Sofrias e nada fiz por ti. Vi terra... vi terra e nem sequer tentei mudar o rumo ao barco...
— Está calado, rapaz — ordenou o mago e com tanta firmeza que Arren não pôde deixar de obedecer. E logo acrescentou: — Diz-me o que pensaste nessa altura.
— Nada, meu Senhor... nada! Pensei que não servia de nada fazer fosse o que fosse. Pensei que a tua magia se perdera... não, que nunca existira. Que me tinhas iludido. — O suor brotou do rosto de Arren e teve de se forçar a falar, mas continuou. — Tive medo de ti. Tive medo da morte. Tive tanto medo que não podia olhar para ti, porque podias estar a morrer. Não conseguia pensar em nada, a não ser que havia... que havia uma maneira de eu não morrer, se a conseguisse descobrir. Mas a vida continuava sempre a esgotar-se, como se houvesse uma grande ferida e o sangue corresse dela... tal como tu tinhas. Mas aquilo estava em tudo. E não fiz nada, nada, a não ser tentar esconder-me do horror de morrer.
E parou porque dizer a verdade em voz alta era insuportável. Não fora a vergonha que o fizera parar, mas o medo, o mesmo medo. Sabia agora porque lhe parecia uma outra vida ou um sonho, irreal, aquela vida tranqüila no mar e sob o Sol nas jangadas. Era porque ele sabia, no mais fundo de si, que a realidade estava oca, sem vida nem calor, sem cor nem som, sem sentido. Não havia cumes nem profundezas. Todo esse jogo encantador de forma e luz e cor no mar e nos olhos dos homens não passava disso. Um jogo de ilusões num vácuo superficial.
Tudo passava e apenas ficavam a ausência de forma e o frio. Nada mais.
O Gavião fitara-o e Arren baixara os olhos para evitar os dele. Mas, inesperadamente, houve uma pequena voz de coragem ou troça que falou dentro dele. Era uma voz arrogante e impiedosa e dizia: «Covarde! Covarde! Até isto vais deitar fora?»
E assim, ergueu os olhos por um grande esforço da vontade e encarou o companheiro.
O Gavião estendeu a mão e agarrou a de Arren num aperto firme, de modo que pelo olhar e pela carne estavam em contato. E o mago pronunciou o nome-verdadeiro de Arren, que nunca dissera: «Lebánnen.» E voltando a pronunciá-lo, prosseguiu:
— Lebánnen, isto existe. E tu existes. Não há segurança e não há fim. A palavra tem de ser ouvida em silêncio. E é necessário que haja escuridão para podermos ver as estrelas. A dança é sempre dançada por cima do lugar vazio, por cima do terrível abismo.
Arren cerrou os punhos e inclinou a fronte até a apertar de encontro à mão do mago.
— Traí-te — voltou Arren a dizer. — Trair-te-ei de novo e a mim próprio. Não há força suficiente em mim!
— Há, sim. Há força suficiente em ti. — A voz do mago era suave mas, sob a suavidade, havia aquela mesma dureza que se erguera no mais profundo da vergonha de Arren e o troçara. — O que amas continuarás a amar. O que decidires fazer levarás a cabo. Tu és um portador de esperança, alguém em quem confiar. Mas dezessete anos são fraca armadura contra o desespero... Considera, Arren. Recusar a morte é recusar a vida.
— Mas eu procurei a morte... a tua e a minha! — Arren ergueu a cabeça e fitou o Gavião. — Como Sopli que se deitou a afogar.
— Sopli não procurava a morte. O que pretendia era fugir dela e da vida. Procurava segurança, um fim para o medo... para o medo da morte.
— Mas há... há um caminho. Há um caminho para lá da morte. De volta à vida. E é isso... é isso que eles procuram. O Lebre e Sopli, aqueles que foram feiticeiros. É isso que nós procuramos. Tu... tu melhor que todos deves saber... deves saber desse caminho...
A vigorosa mão do mago continuava sobre a dele.
— Mas não sei — afirmou o Gavião. — Sim, sei o que eles julgam procurar. Mas sei que se trata de uma mentira. Escuta-me, Arren. Tu morrerás. Não viverás para sempre. Nem nenhum homem, nem nenhuma coisa. Nada é imortal. Mas só a nós é dado saber que morreremos. E essa é uma grande dádiva, a dádiva da consciência de si. Porque temos apenas aquilo que sabemos que devemos perder, que estamos dispostos a perder... Essa consciência de si que é o nosso tormento, e o nosso tesouro, e a nossa humanidade, não perdura. Altera-se, desaparece, uma onda no mar. Quererias que o mar parasse e as marés cessassem para salvares uma única onda, para te salvares a ti próprio? Abdicarias do talento das tuas mãos, da paixão do teu coração, da luz do nascer e do pôr do Sol, em troca de segurança para ti... de segurança para sempre? É isso que tentam fazer em Uothort e em Lorbanery e noutros lados ainda. Essa é a mensagem que aqueles que sabem como ouvir ouviram: Se negares a vida podes negar a morte e viver para sempre!... E essa mensagem, Arren, eu não a ouço, porque não quero ouvi-la. Não aceitarei o conselho do desespero. Sou surdo. Sou cego. Tu és o meu guia. Tu, na tua inocência e na tua coragem, na tua insensatez e na tua lealdade, tu és o meu guia. A criança que envio à minha frente para o meio da escuridão. É o teu medo e a tua dor que sigo. Achaste que eu era duro contigo, Arren, mas nunca soubeste quão duro. Uso o teu afeto como um homem usa uma vela, queimando-a, queimando-a totalmente para iluminar os seus passos. E temos de prosseguir. Temos de prosseguir. Temos de percorrer todo o caminho. Temos de chegar a esse lugar onde o mar seca e a alegria se esgota, o lugar para onde te atrai o teu terror mortal.
— E onde fica ele, meu Senhor?
— Não sei.
— Não posso guiar-te até lá. Mas irei contigo.
O olhar do mago pousado sobre ele era sombrio, insondável.
— Mas se eu voltasse a falhar, a trair-te...
— Confio em ti, filho de Morred. E ambos se quedaram em silêncio.
Acima deles, os ídolos esculpidos oscilavam muito ligeiramente contra o azul do céu meridional. Corpos de golfinho, asas fechadas de gaivota, rostos humanos com olhos abertos feitos de conchas.
O Gavião pôs-se de pé, o corpo hirto pois estava ainda longe da cura completa da sua ferida.
— Estou cansado de ficar sentado — comentou. — Vou ficar gordo nesta inatividade.
Pôs-se a caminhar ao longo da jangada e Arren acompanhou-o. Enquanto andavam, conversaram um pouco. Arren contou ao Gavião como passava os dias, disse-lhe quem eram os seus amigos entre o povo das jangadas. Mas a agitação do Gavião era maior que as suas energias, e estas em breve se esgotaram. Parou junto a uma rapariga que estava a fiar nilgu na sua roca atrás da casa das Muito Grandes, pedindo-lhe que fosse procurar o chefe para lhe vir falar, e depois regressou ao abrigo. E ali veio o chefe do povo das jangadas, cumprimentando-o com grande cortesia, a que o mago correspondeu. E sentaram-se os três nos tapetes de pele de foca malhada.
— Tenho pensado — começou o chefe, lentamente e com cortês solenidade —, nas coisas que me contaste. De como os homens pensam em regressar da morte para os seus próprios corpos e, ao fazê-lo, esquecem o culto dos deuses e descuram os seus corpos e enlouquecem. Isto é má coisa e uma grande loucura. E pensei também, que temos nós a ver com isso? Nada temos a ver com outros homens, com as suas ilhas e costumes, os seus fazeres e desfazeres. Nós vivemos no mar e as nossas vidas ao mar pertencem. Não temos a esperança de as salvar e também não procuramos perdê-las. A loucura não chega aqui. Nós não vamos a terra, nem o povo de terra vem junto de nós. Quando eu era novo, falávamos às vezes com homens que vinham em barcos até à Duna Longa, quando lá estávamos para cortar os toros das jangadas e construir os abrigos de Inverno. Muitas vezes vimos veleiros de Ohol e Ueluei (era assim que ele chamava a Obehol e Uélloguy) seguindo as baleias cinzentas no Outono. E muitas vezes seguiram as nossas jangadas, porque nós conhecemos as estradas e locais de encontro das Muito Grandes no mar. Mas isso foi tudo o que eu alguma vez vi do povo da terra e, agora, já não aparecem. Talvez tenham todos enlouquecido e lutado entre si. Dois anos atrás, na Duna Longa, do lado norte voltado para Ueluei, vimos durante três dias o fumo de um grande incêndio. E se assim foi, o que é isso para nós? Nós somos os Filhos do Alto Mar. Seguimos os costumes do mar.
— E no entanto, ao verem o barco de um homem de terra à deriva, vieram até ele — comentou o mago.
— Alguns de nós disseram que não era sensato fazê-lo e teriam deixado o barco ir à deriva até ao fim do mar — retorquiu o chefe, na sua voz aguda e impassível.
— Não foste um deles.
— Não. Eu disse, sejam embora gente da terra, mesmo assim os ajudaremos. Foi o que se fez. Mas nada temos a ver com os vossos empreendimentos. Se há uma maré de loucura entre o povo da terra, é ao povo da terra que cabe dar-lhe remédio. Nós seguimos a estrada das Muito Grandes. Não podemos ajudar-vos na vossa demanda. Enquanto desejarem permanecer entre nós, serão bem-vindos. Já não faltam muitos dias para a Longa Dança. Depois rumamos para norte, seguindo a corrente de leste que, no final do Verão, nos trará novamente de volta aos mares junto da Duna Longa. Se quiserdes ficar conosco e curar-vos dos vossos males, estará bem. Ou se quiserdes levar o vosso barco e seguir o vosso rumo, bem estará igualmente.
O mago agradeceu-lhe e o chefe ergueu-se, magro e aprumado como uma garça, e deixou-os sós.
— Na inocência não há força que prevaleça contra o mal — considerou o mago, algo amargamente. — Mas há força para o bem... Penso que ficaremos com eles ainda algum tempo, até que me cure desta fraqueza.
— Isso é sensato — concordou Arren. A debilidade física do Gavião tinha-o chocado e comovido. E determinara proteger o mago contra a sua própria energia e urgência, insistindo em que esperassem pelo menos até que ele se libertasse da dor de que padecia antes de prosseguirem.
O mago olhou-o, um pouco espantado com o cumprimento. Sem reparar, Arren continuou:
— Esta gente é bondosa. Parecem estar livres daquela doença da alma que tinham na Cidade de Hort e nas outras ilhas. Talvez não haja ilha alguma onde tivéssemos sido ajudados e acolhidos como fomos por este povo perdido.
— És bem capaz de ter razão.
— E como é agradável a vida que levam no Verão...
— Sem dúvida. Se bem que comer peixe frio durante toda uma vida e nunca ver uma pereira em flor ou saborear a água de uma fonte natural, acabaria por ser cansativo!
Arren regressou pois à jangada da Estrela, trabalhou, nadou e repousou ao sol com os outros jovens, conversou com o Gavião no fresco da tarde e dormiu sob as estrelas. E os dias foram passando e foi-se aproximando a celebração da Longa Dança, na véspera do pleno Verão, e as jangadas foram derivando lentamente para sul nas correntes do Alto Mar.
ORM EMBAR
Durante toda a noite, a noite mais curta do ano, arderam archotes nas jangadas que estavam reunidas num grande círculo sob um céu coalhado de estrelas, acendendo sobre o mar um anel de fogo. O povo das jangadas dançou, sem usar tambor nem flauta nem outra música que não fosse o ritmo dos pés nus sobre as grandes jangadas balançantes, e as agudas vozes dos seus chantres trilando lamentosamente na vastidão do seu lugar de residência, o mar. Não havia Lua nessa noite e os corpos dos dançarinos viam-se indistintamente à luz das estrelas e dos archotes. De vez em quando, um deles brilhava no ar, como um peixe a saltar fora de água, ao passar de uma para outra jangada. Longos saltos e elevados, com os jovens competindo entre si, tentando dar a volta ao anel de jangadas e dançar em todas elas, voltando à primeira antes de raiar o dia.
Arren dançou com eles, pois a Longa Dança é celebrada em todas as ilhas do Arquipélago, embora possam variar os passos e as canções. Mas, quando a noite já ia avançada e muitos dos dançarinos abandonaram a dança e se sentaram para ver ou dormitar, e as vozes dos cantores enrouqueceram, foi com um grupo dos rapazes que davam os grandes saltos até à jangada do chefe e ali ficou, enquanto eles continuavam.
O Gavião estava sentado, juntamente com o chefe e as suas três mulheres, perto do templo. Entre as baleias esculpidas que formavam a entrada, estava um chantre cuja voz não enfraquecera em toda a noite. Incansável, continuava a cantar, tamborilando os dedos no tombadilho de madeira para marcar o ritmo.
— O que está ele a cantar? — perguntou Arren ao mago, porque não conseguia acompanhar as palavras, todas longamente sustentadas, com trilos e estranhas interrupções nas notas.
— É sobre as baleias cinzentas e o albatroz e a tempestade... Eles não sabem as canções dos heróis e dos reis. Aqui não conhecem o nome de Erreth-Akbe. Antes, cantou acerca de Segoy e como ele criou as terras no meio do mar e é tudo o que recordam da tradição dos homens. Mas o resto é sempre sobre o mar.
Arren pôs-se a escutar e ouviu o cantor imitar o grito silvante do golfinho, tecendo a sua canção à volta dele. Observou o perfil do Gavião contra o fundo de fogo dos archotes, negro e firme como uma rocha, viu o brilho líquido nos olhos das mulheres do chefe que conversavam em tons suaves, sentiu o longo e lento ondular da jangada no mar calmo e, gradualmente, deixou-se deslizar para o sono.
Acordou repentinamente. O chantre silenciara-se. E não só aquele que estava mais perto, mas todos os outros, nas jangadas perto e longe. As agudas vozes tinham-se extinguido pouco a pouco como um trilar longínquo de aves marinhas e tudo era silêncio.
Arren olhou por cima do ombro para leste, esperando ver o nascer do dia. Mas só viu a Lua muito em baixo, acabada de nascer, dourada entre as estrelas do Verão.
Depois, olhando para sul, avistou, muito alto, a amarela Gobárdon e abaixo dela as oito companheiras, desta vez até à última, formando a Runa do Acabar, nítida e ardente, acima do mar. E, voltando-se para o Gavião, viu o rosto escuro encarando essas mesmas estrelas.
— Porque paraste? — estava o chefe a perguntar ao cantor. — Ainda não nasceu o Sol, nem sequer é madrugada.
O homem gaguejou e respondeu:
— Não sei.
— Continua a cantar! A Longa Dança não chegou ao fim.
— Não sei as palavras — lamentou-se o chantre e a sua voz alteou-se como se estivesse aterrorizado. — Não consigo cantar. Esqueci a canção.
— Canta outra, então!
— Não há mais canções. Tudo acabou — gritou o chantre e inclinou-se para a frente até ficar de gatas no convés. E o chefe olhava-o, atônito.
As jangadas balançavam sob os archotes crepitantes, todas em silêncio. O silêncio do oceano envolvera o pequeno frêmito de vida e luz que havia sobre elas, e engolira-o. Nenhum dançarino se movia.
Pareceu então a Arren que o esplendor das estrelas se ofuscava e, no entanto, não surgira ainda a claridade do dia a leste. Um horror desceu sobre ele e pensou: «Não haverá nascer do Sol. Não haverá dia.»
O mago pôs-se de pé. Ao fazê-lo, uma tímida luz, branca e rápida, correu ao longo do seu bordão, ardendo mais nítida sobre a runa que estava inscrita a prata na madeira.
— A dança não chegou ao fim — disse —, nem a noite. Arren, canta.
Arren teria respondido «Não posso, Senhor!», mas, em vez disso, olhou as nove estrelas a sul, inspirou profundamente e cantou. A sua voz era fraca e rouca a princípio mas foi-se tornando mais forte à medida que ele cantava, e a canção era essa mais antiga das canções, sobre a Criação de Éa, e a harmonia entre a escuridão e a luz, e o fazer das verdes terras por aquele que pronunciou a primeira palavra, o Mais Antigo Senhor, Segoy.
Antes que a canção terminasse, o céu empalidecera para um azul-acinzentado e nele só a Lua e Gobárdon brilhavam ainda debilmente. Os archotes sibilavam ao vento do amanhecer. Então, terminada a canção, Arren silenciou-se. E os dançarinos que se tinham reunido ao seu redor para escutar, regressaram silenciosamente, passando de jangada em jangada, às suas, enquanto a luz se ia avivando a oriente.
— Essa é uma boa canção — admitiu o chefe. Mas a sua voz era insegura, embora se esforçasse por manter a impassibilidade. — Não estaria bem pôr fim à Longa Dança antes de estar completa. Vou mandar açoitar os chantres indolentes com chicotes de nilgu.
— Melhor será que os confortes — contrariou Gavião. Estava ainda de pé e o seu tom era firme. — Nenhum cantor escolhe o silêncio. Vem comigo, Arren.
Voltou-se para se dirigir ao abrigo e Arren dispôs-se a segui-lo. Mas a estranheza daquela madrugada estava longe de ter acabado, pois, nesse preciso momento, com a orla do mar a leste a tornar-se branca, veio voando de norte uma grande ave. Voava tão alto que as suas asas captavam a luz do Sol que não brilhava ainda sobre o mundo e, ao bater, traçavam riscos de ouro no ar. Arren soltou um brado, apontando-a. O mago olhou para cima, sobressaltado, mas logo o seu rosto tomou uma expressão intensa e exultante e a sua voz ergueu-se bem alto, dizendo «Nam hiethá arv Gued arkvaissá!», o que significa, na Fala da Criação, «se procuras Gued, aqui o tens».
E como uma sonda dourada que alguém tivesse deixado cair, com asas estendidas e erguidas para o alto, vastíssimo e trovejando nos ares, com garras que poderiam ter agarrado um boi como se fosse um rato e uma espiral de fogo fumegante a brotar-lhe das longas narinas, o dragão desceu sobre a jangada como um falcão sobre a presa.
Do povo das jangadas ergueu-se um clamor. Alguns acachaparam-se nos conveses, outros lançaram-se à água e outros ainda ficaram de pé e imóveis, olhando, num espanto que ultrapassava o medo.
O dragão pairou acima deles. Talvez noventa pés teria ele de ponta a ponta das suas vastas e membranosas asas que rebrilhavam à recente luz do Sol como fumo salpicado de ouro, e o comprimento do seu corpo não era menor, mas sinuoso, Corcovado como o de um galgo, armado de garras como um lagarto e coberto de escamas como as das serpentes. Percorria-lhe a estreita espinha uma fila de dardos recurvos, como espinhos de roseira no formato, mas, na corcova do dorso com três pés de altura, e diminuindo depois de tal forma que o último, na extremidade da cauda, não seria mais comprido que a lâmina de uma pequena faca. Esses espinhos eram cinzentos e as escamas do dragão eram cor de aço, mas havia neles uma cintilação dourada. Tinha os olhos verdes e fendidos.
Levado pelo temor pela sua gente a esquecer o temor pela sua própria segurança, o chefe do povo das jangadas saiu do seu abrigo armado com um arpão como os que usavam na caça à baleia. Era maior do que ele e terminava numa grande ponta de marfim farpado. Equilibrando-o no braço pequeno e musculoso, correu em frente para conseguir o ímpeto necessário ao lançamento para o cimo, em direção ao ventre estreito do dragão, onde a malha de escamas era menos densa, suspenso acima da jangada. Arren, arrancado à sua estupefação, viu-o e, mergulhando sobre ele, agarrou-lhe o braço e caíram ambos em monte, de embrulhada com o arpão.
— Queres irritá-lo com as tuas ridículas picadas de alfinete? — arquejou. — Deixa primeiro que o Senhor de Dragões fale!
O chefe, que ficara quase sem fôlego, arregalou estupidamente os olhos para Arren e para o mago e para o dragão. Mas não pronunciou palavra. E então o dragão falou.
Nenhum dos que ali estavam, a não ser Gued a quem ele se dirigia, o podia compreender, pois os dragões falam unicamente na Antiga Fala, que é a sua língua. A voz era suave e sibilante, quase como a de um gato quando se assanha, mas ribombante, e havia nela uma música terrível. Quem quer que ouvisse aquela voz tinha de se imobilizar e escutar.
O mago respondeu em poucas palavras e de novo o dragão falou, pairando acima dele com asas que mal se moviam. Tal como, pensou Arren, uma libélula se mantém parada no ar.
Depois o mago respondeu com uma única palavra, «Mémeass», que significa «irei», erguendo o seu bordão de teixo. As fauces do dragão abriram-se e delas se escapou uma espiral de fumo, semelhante a um longo arabesco. As asas douradas bateram com um ruído de trovão, fazendo um grande vento que cheirava a queimado e, girando o corpo enorme, voou poderosamente para norte.
Nas jangadas tudo era agora sossego, apenas se ouvindo o ligeiro e agudo trilar e um ou outro queixume das crianças, que as mulheres tentavam aquietar. Homens saíam do mar e subiam para bordo, algo envergonhados. E os archotes, esquecidos, continuavam a arder sob os primeiros raios de Sol.
O mago voltou-se para Arren. Havia na sua expressão um brilho que podia ser alegria ou pura cólera, mas falou calmamente.
— Agora é tempo de ir, rapaz. Faz as tuas despedidas e vem.
Voltou costas para agradecer ao chefe e se despedir dele, após o que saiu da grande jangada e atravessou três outras, pois se encontravam ainda estreitamente unidas para a dança, até chegar àquela a que estava amarrado o Vê-longe. O barco seguira a cidade de jangadas no seu longo e lento derivar para sul, balançando, vazio, na sua esteira. Mas os Filhos do Alto Mar tinham enchido o barril com a água da chuva que recolhiam e reposto o seu armazenamento de provisões, querendo assim honrar os seus hóspedes, pois muitos deles acreditavam que o Gavião fosse uma das Muito Grandes que tivesse tomado a forma de um homem ao invés da de uma baleia. Quando Arren se juntou a ele, já o mago içara a vela. O rapaz soltou a amarra e pulou para dentro do barco, e nesse mesmo instante a embarcação afastou-se da jangada com a vela a enfunar-se como sob vento forte, embora só soprasse a brisa do amanhecer. Inclinou-se lateralmente ao virar e tomou velocidade, dirigindo-se para norte na esteira do dragão, leve como uma folha soprada pelo vento.
Quando Arren olhou para trás, viu a cidade das jangadas qual uma pequena dispersão de pauzinhos e pedaços de madeira a flutuar, que eram os abrigos e os postes dos archotes. E em breve também esses desapareciam na deslumbrante luz da manhã sobre a água. O Vê-longe voava em frente. Quando a proa mordia as ondas, fazia voar uma espuma límpida como cristal e o vento do seu progresso lançava para trás o cabelo de Arren e obrigava-o a semicerrar os olhos.
Nenhum vento do mundo poderia ter feito navegar aquele pequeno barco tão rapidamente, a não ser uma tempestade, e essa tê-lo-ia provavelmente afundado nas suas vagas. Aquele não era vento algum do mundo, mas a palavra e o poder do mago que o lançavam em frente tão célere.
O mago permaneceu muito tempo de pé junto ao mastro, de olhar atento. Finalmente foi sentar-se no seu velho lugar, junto à cana do leme, repousando uma das mãos sobre ela, e fitou Arren.
— Aquele era Orm Embar — esclareceu —, o Dragão de Selidor, da linhagem daquele grande Orm que deu a morte a Erreth-Akbe e às suas mãos morreu.
— E andava à caça, Senhor? — perguntou Arren, pois não estava certo se o mago falara ao dragão acolhendo-o ou ameaçando-o.
— Sim, à caça de mim. E o que os dragões caçam, encontram. — Soltou uma breve gargalhada. — E aí está uma coisa que eu não teria acreditado se alguém ma contasse. Que um dragão recorresse a um homem, a pedir socorro. E mais que todos eles, aquele! Não é o mais velho, embora seja muito velho, mas é o mais poderoso da sua espécie. Não esconde o seu nome, como os dragões e os homens têm de fazer. Não teme que ser algum possa alcançar domínio sobre ele. Nem é dado a iludir, à maneira dos seus semelhantes. Há muito tempo, em Selidor, deixou-me viver e disse-me uma grande verdade. Disse-me como poderia ser reencontrada a Runa dos Reis. A ele devo ter encontrado o Anel de Erreth-Akbe. Mas nunca pensei vir a pagar tal dívida, a um tal credor!
— E o que pede ele?
— Que o deixe mostrar-me o caminho que busco — respondeu o mago, mais taciturnamente. E, após uma pausa, continuou: — Ele disse: «A ocidente há um outro Senhor de Dragões. Trabalha continuamente para a nossa destruição e o seu poder é maior que o nosso.» E eu disse-lhe: «Maior mesmo que o teu, Orm Embar?», ao que ele retorquiu: «Mesmo que o meu. Preciso de ti. Dá-te pressa.» E, assim intimado, obedeci.
— Não sabes mais que isso?
— Virei a saber.
Arren enrolou a corda de amarração, guardou-a e tratou de outras pequenas tarefas de bordo, mas durante todo esse tempo uma excitada tensão vibrava nele como a corda de um arco esticada, tal como vibrou na sua voz quando finalmente falou.
— Este é melhor guia que os outros! O Gavião olhou-o e riu.
— Tens razão — concordou. — Desta vez não perderemos o rumo, creio eu.
E assim iniciaram aqueles dois a sua grande corrida através do oceano. Mais de mil milhas separavam, por mares que nenhum mapa contém, o povo das jangadas e a ilha de Selidor que, entre todas as terras de Terramar, é a que mais longe fica a este. Os dias sucederam-se, erguendo-se brilhantes do horizonte claro e mergulhando no ocidente vermelho, e sob o arco dourado do sol e o prateado rodar das estrelas o barco singrou para norte, sozinho no mar.
Por vezes, as nuvens de trovoada do pino do Verão acumulavam-se ao longe, lançando sombras púrpura sobre o horizonte. E então Arren via o mago erguer-se e, com a voz e o gesto, chamar aquelas nuvens para que se aproximassem e deixassem tombar a sua chuva sobre o barco. E os raios saltavam entre as nuvens, o trovão lançava o seu bramido. Mas o mago continuava de pé, a mão erguida, até que a chuva desabasse sobre ele e sobre Arren e para dentro dos recipientes que tinham preparado, e também para dentro do barco e sobre o mar, esmagando as vagas com a sua violência. E ele e Arren arreganhavam os dentes de prazer, pois comida tinham que chegasse, embora à justa, mas de água precisavam. E o esplendor furioso da tempestade que obedecia à palavra do mago encantava-os.
Arren admirava-se com aquele poder que o companheiro usava agora com tanto à vontade e certa vez fez-lhe notar:
— Quando começamos a nossa viagem, não costumavas fazer encantamentos.
— A primeira lição que aprendemos em Roke, e a última, é Faz o que for necessário. E nada mais!
— Então as lições entre uma e outra devem consistir em aprender o que é necessário.
— Acertaste. É necessário considerar a Harmonia. Mas quando a própria Harmonia se quebra... então temos de considerar outras coisas. E acima de tudo, rapidez.
— Mas como é possível que todos os feiticeiros do Sul... e por toda a parte agora... até os chantres das jangadas... todos tenham perdido a sua arte, mas tu manténs a tua?
— Porque eu nada desejo, para além da minha arte — respondeu o Gavião. E, um pouco depois, acrescentou mais animadamente: — E se tiver de a perder em breve, vou usá-la o melhor possível enquanto durar.
Na verdade, havia agora nele uma espécie de alegre disposição de espírito, um puro prazer no seu talento, que Arren, tendo-o visto sempre tão cuidadoso, não adivinhara. A mente do mágico deleita-se com truques, o mago é um brincalhão. O disfarce do Gavião na Cidade de Hort, que tanto perturbara Arren, para ele fora um jogo. E um jogo bem simples para alguém que não só podia transformar o rosto e a voz a seu bel-prazer, mas também o seu corpo e o próprio ser, tornando-se à sua escolha um peixe, um golfinho, um falcão. E certa vez disse: «Olha, Arren. Vou mostrar-te Gont», e mandara-o olhar para a superfície da água no barril que acabara de abrir e estava cheio até acima. Muitos simples mágicos podem fazer uma imagem surgir no espelho-de-água e assim ele o fizera. Um grande pico, engrinaldado de nuvens, erguendo-se de um mar cinzento. E então a imagem mudou e Arren viu distintamente uma escarpa daquela ilha montanha. Era como se ele fosse uma ave, uma gaivota ou um açor, pairando no vento de terra e olhando através desse vento para a escarpa que se erguia alguns dois mil metros acima da rebentação. Na sua parte superior, via-se uma casa pequena.
— Ali é Re Albi — explicou o Gavião —, onde vive o meu mestre Óguion, aquele que há muito tempo aquietou o terremoto. Cuida das suas cabras, colhe ervas e mantém o seu silêncio. Pergunto-me se ainda vagueará pela montanha. Está já muito velho. Mas eu saberia, de certeza saberia, mesmo agora, se Óguion morresse... — Não havia certeza na sua voz. Por um momento, a imagem oscilou como se a própria escarpa estivesse a aluir. Mas depois voltou a ficar nítida, bem como a voz do mago. — Ele costumava subir sozinho para as florestas no fim do Verão e no Outono. E foi assim que pela primeira vez me apareceu, era eu um pirralho numa aldeia da montanha, e me deu o meu nome. E, com ele, a minha vida.
A imagem do espelho-de-água era agora como se o observador fosse um pássaro por entre os ramos da floresta espreitando prados iluminados pelo sol e encostas íngremes, sob a rocha e a neve do cume, depois, para o outro lado, uma estrada inclinada que descia para uma escuridão verde, salpicada de dourado.
— Não há silêncio como o silêncio daquelas florestas — murmurou o Gavião, uma saudade na voz.
A imagem desvaneceu-se e nada ficou a não ser o disco ofuscante do Sol do meio-dia a refletir-se na água do barril.
— Pronto — concluiu o Gavião, olhando Arren com uma expressão estranha, maliciosa. — Aí tens. Se eu alguma vez pudesse voltar para lá, nem tu me conseguirias seguir.
Havia terra em frente, baixa e azulada na luz do entardecer, como um banco de nevoeiro.
— Será Selidor? — perguntou Arren e o seu coração bateu mais depressa. Mas o mago respondeu:
— Obb, julgo, ou Djéssadge. Ainda nem chegamos a meio do caminho, rapaz.
Nessa noite atravessaram o estreito entre aquelas duas ilhas. Não viram quaisquer luzes, mas havia um cheiro acre de fumo no ar, tão pesado que os pulmões lhes ficaram a arder de o respirar. Quando o dia rompeu e olharam para trás, a ilha oriental, Djéssadge, parecia queimada e negra até tão longe quanto conseguiam avistar para o interior e, acima dela, pairava uma bruma azul e baça.
— Queimaram os campos — desolou-se Arren.
— Sim. E as aldeias também. Já antes senti o cheiro deste fumo.
— Mas então são selvagens, aqui no Ocidente?
O Gavião sacudiu a cabeça.
— Lavradores, aldeãos...
Arren demorou o olhar sobre a negra ruína da terra e as árvores ressequidas dos pomares em silhueta contra o céu, e o seu rosto endureceu.
— Mas que mal lhes fizeram as árvores? — perguntou, revoltado. — Terão eles de punir a erva pelos seus próprios erros? Os homens são selvagens, capazes de deitar fogo a uma terra só porque têm uma discórdia com outros homens.
— Não têm quem os guie — fez notar o Gavião. — Não há rei. E os homens dignos de ser reis, como os dignos de ser feiticeiros, todos se desviaram das coisas do mundo para dentro das suas mentes, e buscam a porta através da morte. Foi assim que aconteceu no Sul e penso que o mesmo se passe aqui.
— E isto é obra de um só homem... aquele de quem o dragão falou? Não parece possível.
— E porque não? Se houvesse um Rei das Ilhas, seria um só homem. E seria ele a governar. Um só homem pode tão facilmente destruir como governar, ser Rei ou Anti-Rei.
Havia uma vez mais na sua voz aquele tom de malícia ou desafio que despertou a irritação de Arren.
— Um rei — repontou ele — tem servidores, soldados, mensageiros, lugares-tenentes. Governa através dos que o servem. Onde estão os servidores desse... Anti-Rei?
— Nas nossas mentes, rapaz. Nas nossas mentes. O traidor, o íntimo eu. O eu que brada Quero viver. O mundo que arda desde que eu possa viver! A pequena alma traidora que há em nós, no escuro, como o verme na maçã. Fala-nos a todos. Mas só alguns o compreendem. Os feiticeiros e mágicos. Os cantores, os criadores. E os heróis, aqueles que querem ser eles próprios. Sermos o nosso próprio eu é uma coisa rara e cheia de grandeza. Sermos o nosso eu para sempre... Não será melhor ainda?
Arren olhou frontalmente para o Gavião.
— Sei o que me dirias. Que não é melhor. Mas diz-me porquê. Eu era uma criança quando iniciamos esta viagem, uma criança que não acreditava na morte. Julgas-me ainda uma criança, mas aprendi alguma coisa. Não muito, talvez, mas alguma coisa. Já aprendi que a morte existe e que estou destinado a morrer. Mas não aprendi a regozijar-me com esse conhecimento, a dar boa acolhida à minha morte ou à tua. Se amo a vida, não deverei por isso mesmo odiar o seu fim? Porque não haveria de desejar a imortalidade?
O mestre de esgrima em Berila fora um homem de uns sessenta anos, baixo, calvo e frio. Arren antipatizara com ele durante anos, embora soubesse que era um extraordinário esgrimista. Mas um dia, no treino, surpreendera a guarda do mestre era baixo e quase o desarmara. E nunca mais esquecera a expressão de felicidade, incrédula, incongruente, que brilhara de súbito no rosto frio do mestre, a esperança, a alegria, como que dizendo: «Um igual. Finalmente, um igual!» A partir desse momento, o mestre de esgrima treinara-o impiedosamente e, sempre que esgrimiam, o mesmo inexorável sorriso surgia no rosto do mestre, abrindo-se tanto mais quanto Arren aumentava a sua pressão sobre ele. E esse mesmo sorriso estava agora no rosto do Gavião, o brilho do aço à luz do Sol.
— Porque não havias de desejar a imortalidade? Como podias deixar de o fazer? Todas as almas a desejam e a saúde dessas almas está na energia do seu desejo. Mas, acautela-te. Porque tu és um daqueles que seriam capazes de alcançar o seu desejo.
— E então?
— Então, isto. Um falso rei governando, as artes do homem esquecidas, o cantor sem língua, o olhar cego. Isto! Esta maligna influência, esta praga sobre as terras, esta ferida que tentamos curar. Há duas coisas, Arren, duas coisas que formam uma: o mundo e a sombra, a luz e a escuridão. Os dois pólos da Harmonia. A vida surge da morte e a morte da vida. Porque se opõem, anseiam uma pela outra, uma à outra dão vida e constantemente renascem. E com elas tudo renasce, a flor da macieira como a luz das estrelas. Na vida há morte. Na morte, renascer. O que é então a vida sem morte? Vida sem mudança, sempre durando, eterna? E isso que é senão morte, morte sem renascer?
— Mas se tanto depende disso, meu Senhor, então, se a vida de um homem pudesse destruir a Harmonia do Todo, por certo que isso não é possível... não seria permitido...
Interrompeu-se, confuso.
— Quem permite? Quem proíbe?
— Não sei.
— Nem eu. Mas sei quanto mal um homem, uma vida, pode causar. Demasiado bem o sei. E sei-o porque o causei. Fiz o mesmo mal no mesmo delírio de orgulho. Abri a porta entre os dois mundos, uma fenda apenas, apenas uma pequena fenda, só para mostrar que era mais forte que a própria morte... Eu era novo e nunca me deparara com a morte, tal como tu... E foi necessário o poder do Arquimago Nemmerle, a sua mestria e a sua vida, para cerrar aquela porta. Podes ver na minha cara a marca que essa noite deixou em mim. Mas, a ele, matou-o[3]. Ah, sim. A porta entre a luz e a escuridão pode ser aberta, Arren. É preciso ser muito forte, mas pode fazer-se. Porém, quanto a voltar a fechá-la, isso já é outra história.
— Mas, meu Senhor, aquilo de que falas por certo que é diferente disto...
— Porquê? Porque eu sou um homem bom? — E aquela frieza de aço, do olho do falcão, estava outra vez na expressão do mago. — O que é um homem bom, Arren? Será um homem bom aquele que não faria o mal, que não abriria uma porta para a escuridão, que não tivesse escuridão em si próprio? Olha com mais atenção, rapaz. Olha um pouco mais longe. Vais precisar do que aprenderes para ires onde tens de ir. Olha para dentro de ti próprio! Não ouviste uma voz dizer Vem? Não a seguiste?
— Sim, fiz isso. Eu... eu não esqueci. Mas pensei... pensei que aquela voz era... a dele.
— E era, era a dele. E era a tua. Como poderia ele falar-te, com os mares de permeio, senão com a tua própria voz? Como sucede que ele chame aqueles que sabem como ouvir, os magos e os criadores e os que procuram, que atendem à voz dentro deles? E como sucede que não me chame a mim? É porque eu não o escuto. Não mais voltarei a ouvir aquela voz. Tu nasceste para o poder, Arren, tal como eu. Poder sobre os homens, sobre as almas dos homens. E isso que é senão poder sobre a vida e a morte? És jovem, encontras-te na fronteira das possibilidades, na zona de sombra, no reino do sonho, e ouves a voz que te diz Vem. Mas eu, eu que sou velho, que fiz o que tinha de fazer, que me ergui sob a luz do dia encarando a minha própria morte, o fim de todas as possibilidades, eu sei que há um único poder que é real e digno de se possuir. E esse é o poder, não de tomar, mas de aceitar.
Djéssadge ficara já bem para trás deles, um borrão azul no mar, uma mancha.
— Então, eu sou seu servidor — concluiu Arren.
— És. E eu o teu.
— Mas quem é ele, afinal? O que é ele?
— Um homem, julgo eu... tal como tu e eu.
— Aquele homem de quem falaste uma vez, o feiticeiro de Havnor, aquele que invocava os mortos. Poderá ser esse?
— Pode muito bem ser. Havia nele grande poder e todo se dirigia no sentido de negar a morte. E ele conhecia os Grandes Esconjuros do Saber de Paln. Eu era jovem e tolo quando usei esse saber e atraí o desastre sobre mim próprio. Mas se um homem já de idade, e forte, o usasse, sem cuidar das conseqüências, poderia atrair o desastre sobre todos nós.
— Mas não te disseram que esse homem havia morrido?
— Sim — assentiu o Gavião. — Foi o que me disseram. E a conversa ficou por ali.
Nessa noite o mar estava cheio de fogo. As vagas cortantes lançadas para trás pela proa do Vê-longe e o movimento de cada peixe através da superfície da água, tudo estava vivamente contornado a luz. Arren ia sentado com um braço por cima da borda do barco e a cabeça apoiada no braço, observando aquelas curvas e volutas de prateada radiância. Meteu a mão dentro de água e, ao voltar a erguê-la, a luz escorreu suavemente dos seus dedos.
— Olha — exclamou ele. — Eu também sou feiticeiro.
— Esse dom, não o tens — replicou o companheiro.
— E de que grande ajuda serei para ti sem ele — lamentou Arren, olhando o rebrilhar inquieto das ondas —, quando encontrarmos o nosso inimigo.
Porque ele tivera a esperança — desde o princípio a tivera — de que a razão que levara o Arquimago a escolhê-lo a ele e só a ele para aquela viagem fora ter algum poder inato, vindo do seu antepassado Morred, que na mais desesperada necessidade, na hora mais negra, se revelaria. E assim se ia salvar e ao seu senhor e a todo o mundo, do inimigo. Mas ultimamente voltara a encarar uma vez mais essa esperança e fora como se a visse a uma grande distância. Era como lembrar-se de quando era um rapazinho e tivera o ardente desejo de experimentar pôr a coroa de seu pai, e de como chorara quando o tinham proibido. Esta esperança de agora era tão despropositada, tão infantil, como esse desejo de outrora. Não havia magia nele. Nunca haveria.
O momento viria talvez, realmente, em que ele poderia, em que deveria, usar a coroa de seu pai e governar como Príncipe de Enlad. Mas isso parecia bem pequena coisa agora, e o seu lar um pequeno palácio, e tão remoto. Não havia nisto deslealdade. O que sucedera é que a sua lealdade se tornara maior, já que se fixara num modelo maior e numa esperança mais vasta. Aprendera também a sua própria fraqueza e, por ela, aprendera a medir a sua força. E soube que era forte. Mas de que servia essa força se não tinha dádiva ainda, ainda nada a oferecer ao seu senhor para além do seu serviço e do seu constante afeto? Para onde se encaminhavam, seria isso bastante?
O Gavião limitou-se a lembrar-lhe:
— Para vermos a luz de uma vela, temos de a levar para um lugar escuro.
E Arren tentou encontrar reconforto nestas palavras, mas não as achou muito reconfortantes.
Na manhã seguinte, quando acordaram, o ar estava cinzento, tal como cinzenta estava a água. Acima do mastro o céu aclarava para um azul opalino, porque o nevoeiro era baixo. Para homens do Norte, como Arren de Enlad e Gavião de Gont, o nevoeiro era tão bem-vindo como um velho amigo. Suavemente, envolveu o barco de modo que não conseguiam ver muito longe e, para eles, era como estarem numa sala familiar depois de muitas semanas de espaço brilhante e estéril, de vento soprando. Regressavam ao clima que lhes era familiar e estariam agora, talvez, à latitude de Roke.
Cerca de setecentas milhas a leste dessas águas envoltas em nevoeiro por onde velejava o Vê-longe, a luz do Sol brilhava clara sobre as folhas das árvores do Bosque Imanente, sobre a coroa verde do Cabeço de Roke e nos altos telhados de ardósia da Casa Grande.
Numa divisão da torre sul, a sala de trabalho de um mago, atravancada de retortas e alambiques e frascos bojudos de gargalo curvo, fornalhas com espessas paredes e pequenas lamparinas de aquecer, tenazes, foles, estantes, alicates, tubos, um milhar de caixas e frasquinhos e jarros com tampas marcadas com runas Hardic ou mais secretas ainda, e todos esses acessórios da alquimia, de soprar o vidro, de refinar metais e das artes de curar, nessa sala e entre mesas e bancadas enormemente pejadas, estavam o Mestre da Mudança e o Mestre da Invocação de Roke.
O Mestre da Mudança, de cabelo grisalho, segurava nas mãos uma grande pedra, semelhante a um diamante por lapidar. Era um cristal de rocha, vagamente colorido de ametista e rosa bem no seu interior, mas transparente como água. No entanto, quando o olhar deparava com essa nitidez, encontrava a ausência dela e nem reflexo nem imagem do que era real ao seu redor, mas apenas planos e profundezas cada vez mais longínquos, cada vez mais fundos, até ser levado para dentro de um sonho e não encontrar caminho de saída. Aquela era a Pedra de Xélieth. Por muito tempo estivera na posse dos príncipes de Way, por vezes como uma mera bugiganga no seu tesouro, outras como um amuleto para adormecer, outras ainda para algum fim mais funesto, dado que aqueles que olhavam durante muito tempo e sem compreensão para a infinda profundidade daquele cristal podiam enlouquecer. O Arquimago Guencher de Way, na sua vinda para Roke, trouxera consigo a Pedra de Xélieth porque, nas mãos de um mago, ela detinha a verdade.
Porém, a verdade varia com o homem.
E assim, o Mestre da Mudança, segurando a pedra e olhando através da sua superfície desigual, cheia de bojos, para as infindas profundezas, com a sua cor pálida, o seu cintilar, falou em voz alta para descrever o que via.
— Vejo a terra, como se estivesse de pé sobre o Monte Onn, no centro do mundo, e visse tudo a meus pés, até à mais longínqua ilha da mais longínqua Estrema e ainda para além. E tudo é nítido. Vejo navios nas rotas de Ilien e os fogos dos lares em Torheven e os telhados desta torre em que estamos. Mas, para além de Roke, nada. Nem terras a sul, nem terras a oeste. Não consigo ver Uothort onde deveria estar, nem ilha alguma da Estrema Oeste, mesmo tão próxima como Pendor. E Osskil e Ebosskil onde estão? Há uma névoa sobre Enlad, uma mancha cinzenta, como uma teia de aranha. De cada vez que olho, mais ilhas desapareceram e o mar onde estavam vejo-o vazio e uniforme, tal como era antes da Criação... — e a voz faltou-lhe na última palavra como se lhe chegasse aos lábios com dificuldade. Voltou a colocar a pedra no seu suporte de marfim e afastou-se. No seu rosto bondoso havia uma grande fadiga.
— Diz-me o que vês — pediu ele ao Mestre da Invocação e este, erguendo o cristal nas mãos, foi-o rodando lentamente como se procurasse uma entrada para a visão na grosseira superfície vidrada.
Por longo tempo segurou o cristal, olhando-o intensamente. Mas por fim também ele o pousou, pronunciando-se:
— Mestre da Mudança, pouco vejo. Fragmentos, vislumbres, mas nada que forme um todo.
O Mestre dos cabelos grisalhos cerrou os punhos.
— E isso, já por si, não é estranho?
— Como assim?
— É muitas vezes que os teus olhos ficam cegos? — bradou o Mestre da Mudança, como enraivecido. — Pois não vês que há... — e a voz falhou-lhe várias vezes antes de conseguir voltar a falar. — Não vês que há uma mão sobre os teus olhos, tal como há uma mão sobre a minha boca?
— Tu estás extenuado, meu senhor — limitou-se o outro a comentar.
— Invoca a Presença da Pedra.
E, embora ele se controlasse, a voz do Mestre soava abafada.
— Porquê?
— Porquê? Porque eu te peço.
— Ora vamos, Mestre da Mudança, estarás a desafiar-me? Como rapazes em frente do covil de um urso? Seremos nós crianças?
— Sim! Perante o que eu vejo na Pedra de Xélieth, sou uma criança... uma criança assustada. Invoca a Presença da Pedra. Terei de te implorar, meu Senhor?
— Não — respondeu o Mestre da elevada estatura. Mas franziu o cenho e virou costas ao homem mais velho. Depois, abrindo muito os braços no gesto grandioso que inicia os encantamentos da sua arte, ergueu a cabeça e pronunciou as sílabas da invocação. À sua voz, uma luz cresceu no interior da Pedra de Xélieth. A sala escureceu ao seu redor, as sombras adensaram-se. E quando as sombras se tornaram bem espessas, com a pedra a brilhar intensamente, ele trouxe ambas as mãos até ao cristal, ergueu-o até à altura do rosto e fitou o seu brilho.
Permaneceu em silêncio durante algum tempo e, finalmente, falou.
— Vejo as Fontes de Xélieth — pronunciou suavemente. — Os pequenos charcos e as bacias e as quedas de água, as cavernas gotejantes com cortinas de água prateadas e onde crescem fetos em bancos de musgo, o ondulado das areias, o saltar e correr das águas, o brotar de nascentes profundas da terra, o mistério e a doçura da fonte, da nascente...
De novo silenciou e assim se manteve por algum tempo, o rosto pálido como prata sob a luz da pedra. E logo soltou um grande brado sem palavras e, deixando cair o cristal com estrondo, caiu ele próprio de joelhos, o rosto escondido nas mãos.
Não havia sombras. A luz do Verão enchia a sala atravancada. A grande pedra jazia sob uma mesa, no pó e no lixo, incólume.
O Mestre da Invocação estendeu cegamente a mão, agarrando-se à do outro como uma criança. Inspirou profundamente e, finalmente, ergueu-se, apoiando-se um tanto no Mestre da Mudança, e acabou por dizer, com lábios trêmulos e um sorriso hesitante:
— Não voltarei a aceitar os teus desafios, meu senhor.
— O que viste tu, Thórione?
— Vi as fontes. Vi-as afundarem-se, e as correntes secarem e os lábios das nascentes da água abrirem-se. E por baixo tudo era negro e seco. Tu viste o mar antes da Criação mas eu vi... vi o que vem depois... vi a Anulação. — Passou a língua pelos lábios secos. — Quem dera que o Arquimago aqui estivesse.
— E a mim, quem dera estarmos lá com ele.
— Mas onde? Não há ninguém que o consiga encontrar. — E o Mestre da Invocação olhou as janelas através das quais se via o céu azul, sereno. — Não há envio que chegue junto dele, não há invocação que o alcance. Está por lá onde viste um mar vazio. Dirige-se para o lugar onde as nascentes secam. Está onde as nossas artes de nada valem... E, no entanto, mesmo agora, haverá talvez esconjuros que o poderiam alcançar, alguns dos que são parte do Saber de Paln.
— Mas esses são esconjuros com que os mortos são trazidos para o meio dos vivos.
— Alguns levam os vivos para o meio dos mortos.
— Não estás a pensar que ele esteja morto, ou estás?
— Penso que ele se encaminha para a morte e que está a ser atraído para ela. E que todos nós o estamos também. O nosso poder está a abandonar-nos, e também a nossa força, a nossa esperança e boa fortuna. As nascentes estão a secar.
Por momentos o Mestre da Mudança voltou para ele o olhar e o rosto perturbado.
— Não tentes comunicar com ele, Thórione — aconselhou por fim. — Ele sabia o que ia procurar muito antes que nós o soubéssemos. Para ele o mundo é qual esta Pedra de Xélieth. Ele olha-o e vê o que existe e o que tem de existir... Não podemos ajudá-lo. Os grandes esconjuros tornaram-se muito perigosos e, entre todos, o maior perigo vem desse Saber de que falaste. Temos de nos manter firmes tal como ele nos ordenou e cuidar das muralhas de Roke e da lembrança dos Nomes.
— Assim é — concordou o Mestre da Invocação. — Mas tenho de considerar tudo isto.
E saiu da sala da torre, caminhando algo rígido e erguendo bem a nobre e escura cabeça.
Na manhã do dia seguinte, o Mestre da Mudança foi procurá-lo. Entrando no seu quarto depois de bater em vão à porta, foi dar com ele estendido ao comprido no chão de pedra, como se tivesse sido lançado para trás por violenta pancada. Tinha os braços muito abertos como que no gesto da invocação, mas as suas mãos estavam frias e os olhos abertos nada viam. Embora o Mestre da Mudança se ajoelhasse ao seu lado e o chamasse com toda a sua autoridade de mago, dizendo o seu nome-verdadeiro, Thórione, por três vezes, permaneceu imóvel. Não estava morto, mas havia nele apenas a vida necessária para lhe fazer bater muito lentamente o coração e lhe insuflar um pouco de ar nos pulmões. O Mestre da Mudança segurou-lhe as mãos nas suas e murmurou:
— Ah, Thórione, obriguei-te a olhar para dentro da Pedra. A culpa disto é minha!
Depois, saindo apressadamente dali, foi dizendo em voz alta a todos que encontrava, Mestres e discípulos:
— O inimigo está no meio de nós, penetrou em Roke, a bem defendida, e feriu a nossa força em pleno coração!
E embora fosse um homem de grande bondade, o seu aspecto era tão desvairado e frio que todos os que o viram o temeram.
— Cuidem do Mestre da Invocação — ordenou. — Se bem que, quem invocará de volta o seu espírito se ele, o mestre da sua arte, se foi?
Dirigiu-se para o seu próprio quarto e todos se afastaram para o deixar passar.
Mandou-se chamar o Mestre das Ervas e da Cura. Ordenou que deitassem Thórione, o Invocador, sobre o leito e o cobrissem com cobertas quentes. Mas não fez qualquer infusão de ervas medicinais, nem cantou qualquer dos cantos que ajudam o corpo doente ou a mente perturbada. Estava com ele um dos seus pupilos, um rapaz novo que ainda não chegara a mágico, mas que era já uma promessa nas artes de curar, e que lhe perguntou:
— Mestre, não há nada que se possa fazer por ele?
— Deste lado da parede, não — retorquiu o Mestre das Ervas. Depois, lembrando-se de com quem falava, explicou: — Ele não está doente, meu rapaz. Mas ainda que isto fosse uma febre ou doença do corpo, não sei se o nosso saber seria de muita valia. Ultimamente, dir-se-ia não haver grande valor nas minhas ervas. E, embora eu diga as palavras dos nossos encantamentos, não há virtude nelas.
— Isso é como o que disse ontem o Mestre Chantre. Interrompeu-se a meio de um cântico que nos estava a ensinar e disse: «Não sei o que este cântico significa.» E saiu da sala. Alguns dos rapazes riram-se, mas para mim foi como se o chão me tivesse fugido debaixo dos pés.
O Mestre das Ervas olhou o rosto franco e inteligente do rapaz e depois, desviando a vista para baixo, o rosto do Mestre da Invocação, frio e rígido.
— Ele há de voltar para nós — afirmou. — E os cânticos não serão esquecidos.
Nessa noite, o Mestre da Mudança deixou Roke. Ninguém viu sob que aspecto e de que modo partiu. Dormia num quarto cuja janela dava para um jardim. De manhã, a janela estava aberta e ele fora-se. Pensaram que se teria transformado, usando o seu próprio talento de mudança de forma, numa ave ou animal, ou mesmo numa névoa ou vento, pois não havia forma ou substância que não estivesse ao alcance da sua arte, e assim tivesse voado de Roke, talvez em demanda do Arquimago. Alguns, sabendo como aquele que altera a sua forma pode tornar-se presa dos seus próprios esconjuros se houver algum erro de talento ou vontade, temeram por ele, mas nada disseram dos seus temores.
E assim se tinham perdido três dos Mestres para o Concílio dos Sages. Com o passar dos dias e sem chegar notícia do Arquimago, e o Mestre da Invocação deitado como morto, o Mestre da Mudança sem voltar, foi-se avolumando na Casa Grande uma sensação de frio e pessimismo. Os rapazes murmuravam entre eles e alguns falavam em abandonar Roke, pois não estavam a ensinar-lhes o que tinham ali vindo aprender.
— Talvez — aventou um deles — fossem tudo mentiras logo à partida, estas artes e estes poderes secretos. De todos os Mestres, só o Mestre de Mao ainda faz os seus truques e esses, todos sabemos, não passam de ilusão. E agora os outros escondem-se ou recusam-se a fazer seja o que for, porque os seus truques foram desvendados.
Um outro que o ouvia acrescentou:
— Ora, e o que é a feitiçaria? O que é essa arte mágica senão um espetáculo de aparências? Alguma vez salvou um homem da morte ou lhe deu longa vida, sequer? Com certeza que, se os magos tivessem o poder que dizem possuir, viveriam todos para sempre!
E ele e o outro rapaz deram em relatar as mortes dos grandes magos, de como Morred fora morto em combate, e Nereguer pelo Mago Cinzento, e Erreth-Akbe por um dragão, e Guencher, o último Arquimago, por mera doença, na sua cama, como qualquer homem. Alguns dos rapazes ouviam com agrado, porque tinham corações invejosos. Mas outros ouviam e sentiam-se infelizes.
Durante todo este tempo, o Mestre das Configurações manteve-se sozinho no Bosque Imanente, sem deixar que ninguém lá entrasse.
Mas o Mestre Porteiro, embora raramente o vissem, não mudara. Não havia sombra nos seus olhos. Sorria e mantinha as portas da Casa Grande prontas para o regresso do seu senhor.
O PASSO DO DRAGÃO
Nos mares mais afastados da Estrema Oeste, esse Senhor da Ilha dos Sages, acordando perro e dolorido, dentro de um pequeno barco e numa manhã fria e clara, endireitou-se até ficar sentado e bocejou. E após um momento, apontando para norte, disse ao seu companheiro, que bocejava também:
— Olha, além! Duas ilhas, estás a vê-las? São as mais a sul das ilhas do Passo do Dragão.
— Tens os olhos de um falcão, meu Senhor — comentou Arren, espreitando com olhos ensonados por sobre o mar e nada vendo.
— E portanto sou o Gavião — concluiu o mago. A sua disposição era ainda jovial, parecendo ter deitado para trás das costas agouros e maus prenúncios. — Não consegues avistá-las?
— Vejo gaivotas — confessou Arren, depois de esfregar os olhos e pesquisar todo o horizonte azul-acinzentado em frente do barco.
O mago riu.
— Será que mesmo um falcão conseguiria ver gaivotas a vinte milhas de distância?
Quando o brilho do Sol aumentou por cima das brumas a leste, as minúsculas pintas rodopiantes que Arren observava pareceram faiscar, como pó de ouro agitado dentro de água ou grãos de poeira num raio de sol. E Arren compreendeu então que eram dragões.
Quando Vê-longe finalmente se aproximou das ilhas, Arren pôde ver os dragões subindo e rodando céleres no vento matinal e o seu coração alçou-se com eles às alturas, numa alegria, uma alegria de plenitude, que era quase dor. Toda a glória da mortalidade estava naquele vôo. A sua beleza era feita de terrível força, extrema selvageria e o dom da razão. Porque aquelas eram criaturas pensantes, com língua própria e uma antiga sabedoria. No desenho do seu vôo, havia uma harmonia intensa, fruto da vontade.
Arren não falou, mas pensou: «Venha o que vier, não importa. Vi a dança dos dragões no vento da manhã.»
Por vezes o desenho desunia-se, os círculos quebravam-se e, freqüentemente, um dragão ou outro lançava em vôo, saindo das narinas, uma longa fita de fogo que se encurvava e perdurava no ar, repetindo a curvatura e o brilho do longo e arqueado corpo do dragão. Vendo isto, o mago avisou:
— Estão enraivecidos. Dançam a sua raiva no vento. E quase a seguir acrescentou:
— Agora é que estamos na boca do lobo.
Porque os dragões tinham avistado a pequena vela sobre as ondas e, primeiro um, logo outro, arrancaram-se ao turbilhão da sua dança e vieram, de corpo estendido e voando ao mesmo nível no ar, remando com as grandes asas, direitos ao barco.
O mago olhou para Arren que ia à cana do leme, pois as ondas eram altas e contrárias. O rapaz segurava-a com mão firme, embora tivesse os olhos no bater daquelas asas. Parecendo satisfeito com o que vira, o Gavião voltou-se de novo para a frente e, de pé junto ao mastro, deixou que o vento mágico abandonasse a vela. Depois ergueu o bordão e falou bem alto.
Ao som da sua voz e perante as palavras da Antiga Fala, alguns dos dragões rodaram para o lado a meio do vôo, dispersando-se e regressando às ilhas. Outros interromperam o vôo mas ficaram a pairar, as garras das suas patas dianteiras, semelhantes a espadas, ainda saídas mas em suspenso. Um deles, descendo até bastante baixo sobre a água, voou lentamente na direção deles e, em duas batidas de asas, estava por cima do barco. A cota de malha do seu ventre quase roçava o mastro. Arren viu a carne enrugada e sem escamas entre o interior da articulação do ombro e o peito, que, juntamente com os olhos, são as únicas zonas vulneráveis do dragão, salvo se estiver poderosamente encantada a lança que o fira. O fumo que lhe saía em rolos da longa boca, inçada de dentes, quase o sufocou e, com ele, veio um fedor a carne podre que o obrigou a retrair-se e quase vomitar.
A sombra enorme passou. Mas logo voltou, tão baixo como antes e, desta vez, Arren sentiu o sopro de fornalha do seu fogo, antes do fumo. E voltou a ouvir a voz do Gavião, sonora e violenta. O dragão passou por cima deles. E então todos se foram, voando numa fila de volta às ilhas, como cinzas incandescentes numa rabanada de vento.
Arren retomou o fôlego e limpou a testa, coberta de suor frio. Ao olhar o companheiro, viu que o cabelo se tinha tornado branco. O sopro do dragão queimara e encrespara as pontas dos pêlos. E o pesado tecido da vela estava chamuscado e castanho de um dos lados.
— Tens a cabeça um tanto ou quanto chamuscada, rapaz.
— Também a tua, Senhor.
O Gavião passou a mão pelo cabelo, surpreendido.
— E é verdade! Ora que insolência. Mas eu não quero pendências com estas criaturas. Parecem enlouquecidas ou desnorteadas. Nem falaram. Nunca encontrei dragão que não falasse antes de atacar, quanto mais não fosse para atormentar a presa... Mas agora temos de prosseguir. Não os olhes nos olhos, Arren. Se necessário for, desvia a cara. Vamos navegar com o vento do mundo. Está a soprar bem de sul e talvez precise das minhas artes para outras coisas. Mantém o barco neste rumo.
O Vê-longe seguiu em frente e em breve tinha à sua esquerda uma ilha distante e, à direita, as ilhas gêmeas que primeiro tinham avistado. Estas erguiam-se em falésias baixas e toda a rude pedra estava branca com os excrementos dos dragões e das andorinhas-do-mar, de cabeça preta, que faziam destemidamente os seus ninhos entre eles.
Os dragões tinham voado bem para cima e, lá no alto, descreviam círculos como costumam fazer os abutres. Nem um voltou a mergulhar sobre o barco. Por vezes lançavam brados de uns para os outros, agudos e roucos através dos abismos do ar, mas se havia palavras nos seus gritos, Arren não conseguia distingui-las.
O barco dobrou um pequeno promontório e o rapaz viu, na costa, o que por alguns momentos tomou por uma fortaleza em ruínas. Era um dragão. Uma das negras asas estava dobrada e presa debaixo do seu corpo e a outra estendia-se, vasta, por sobre a areia e até dentro do mar, onde o movimento das vagas lhe imprimia um ligeiro movimento de vaivém, como uma caricatura de vôo. O longo corpo de serpente jazia a todo o comprimento sobre rocha e areia. Uma das patas dianteiras desaparecera, a armadura de escamas e a carne haviam sido arrancadas da grande arcada das costelas e a barriga fora rasgada e aberta, de modo que a areia por muitas jardas em volta estava negra com o sangue venenoso do dragão. E no entanto a criatura vivia ainda. Tão forte é a vida nos dragões que só um poder igual de feitiçaria os pode matar rapidamente. Os olhos verde-ouro estavam abertos e, quando o barco passou por ele, a cabeça alongada e enorme moveu-se um pouco e, com um som áspero e sibilante, jorrou-lhe das narinas vapor, de envolta com borrifos de sangue.
A praia entre o dragão moribundo e a beira do mar estava marcada e revolta dos pés e pesados corpos dos da sua espécie, e as suas entranhas, pisadas, misturavam-se com a areia.
Nem Arren nem o Gavião falaram enquanto não se viram bem afastados daquela ilha e navegando ao longo do canal, incansavelmente agitado, do Passo do Dragão, cheio de recifes e pináculos e formações rochosas, em direção às ilhas setentrionais daquele duplo arquipélago. Só então o Gavião se pronunciou:
— Espetáculo maligno era aquele — e a sua voz soou triste e fria.
— Mas eles... eles comem-se uns aos outros?
— Não. Tanto como nós. Mas alguma coisa os enlouqueceu. A fala foi-lhes retirada. Esses que falaram antes que o homem falasse, que são mais antigos que qualquer outro ser vivo, os Filhos de Segoy, foram levados ao terror mudo das feras. Ah! Keilessine! onde te levaram as tuas asas? Terás então vivido para veres a tua raça aprender o que é a vergonha?
A sua voz reboava como um gongo de aço e ele ergueu o olhar para o alto, a esquadrinhar o céu. Mas os dragões tinham ficado para trás, voando em círculos, agora mais baixos, acima das ilhas rochosas e a praia manchada de sangue, e mais acima nada havia para além do céu azul e do Sol do meio-dia.
Não existia então homem vivo que tivesse navegado pelo Passo do Dragão, ou sequer o tivesse visto, exceto o Arquimago. Há algo mais de vinte anos, navegara por toda a sua extensão, de leste para oeste e depois outra vez, de volta. Para um navegador, era um pesadelo e um portento. A água era um labirinto de canais azuis e baixios verdes e, por entre eles, pela mão, a palavra e o mais vigilante cuidado, ele e Arren foram escolhendo o caminho para o barco, por entre rochedos e recifes. Alguns destes eram baixos, totalmente ou quase submersos pelo movimento das vagas. Cobertos com anêmonas, cracas e as longas fitas dos sargaços, assemelhavam-se a monstros marinhos, com conchas ou sinuosos. Outros erguiam-se como falésia ou pináculo bem acima do mar, e estes eram como arcos e semiarcos, torres esculpidas, fantásticas formas de animais, dorsos de urso ou cabeças de serpente, todos enormes, deformados, difusos, como se a vida se agitasse, semiconsciente, na pedra. As ondas batiam neles com um som que era como um respirar, e estavam encharcados com a espuma branca e amarga. Numa dessas rochas, vista de sul, eram perfeitamente discerníveis os ombros curvados e a maciça e nobre cabeça de um homem, inclinado em profundo pensar acima do oceano. Mas depois de o barco a ter ultrapassado, olhando para trás do norte, todo o aspecto humano desaparecera e as rochas maciças revelavam uma caverna em que o mar subia e descia, provocando um trovejar estrondeante e cavo. Parecia soar uma palavra, uma sílaba, naquele som. E ao progredirem, os ecos enganosos diminuíram e a sílaba soou mais claramente, levando Arren a perguntar:
— Há uma voz naquela caverna?
— A voz do mar.
— Mas ela pronuncia uma palavra.
O Gavião escutou, relanceando o olhar por Arren e desviando-o depois para a caverna.
— E a ti como te soa?
— Como se pronunciasse o som ahm.
— Na Antiga Fala, isso significa o início, ou há muito tempo. Mas a mim soa-me ohb que é uma forma de dizer o fim... Ei, atenção aí à frente! — terminou abruptamente, no mesmo momento em que Arren o avisava: — Banco de areia!
E, embora o Vê-longe escolhesse o seu caminho como um gato, por entre os perigos, ficaram ocupados com o governo do barco por algum tempo e, lentamente, a caverna para sempre trovejando a sua enigmática palavra ficou para trás.
Depois a água tornou-se mais profunda e eles saíram de entre aquela fantasmagoria dos rochedos. A sua frente agigantava-se uma ilha que era como uma torre. As suas falésias eram negras e constituídas por muitos cilindros ou grandes pilares comprimidos uns contra os outros, com rebordos direitos e superfícies planas, erguendo-se trezentos pés acima da água.
— Aquela é a Fortaleza de Keilessine — informou o mago. — Foi esse o nome que os dragões lhe deram quando aqui estive, há muito tempo.
— Quem é o Keilessine?
— O mais antigo...
— E foi ele que construiu este lugar?
— Não sei. Nem sei se foi construído. Nem a idade que ele, Keilessine, tem. E digo «ele» mas nem sequer isso sei... Para Keilessine, Orm Embar é como um garotinho de um ano. E tu e eu somos como efêmeras, esses insetos que nascem e morrem no mesmo dia.
Com o olhar, esquadrinhou as tremendas paliçadas e Arren mirou-as apreensivo, imaginando como um dragão poderia deixar-se cair daquele rebordo negro e longínquo e estar sobre eles quase ao mesmo tempo que a sua sombra. Mas nenhum dragão surgiu. Passaram lentamente através das águas calmas no sopé do rochedo, nada mais ouvindo que o murmúrio e o ecoar das ondas embatendo, na sombra, contra as colunas de basalto. A água ali era profunda, sem recife nem rochedo. Arren ocupou-se da navegação, enquanto o Gavião, de pé na proa, observava as falésias e o céu límpido em frente deles.
O barco saiu enfim da sombra da Fortaleza de Keilessine para a luz do final da tarde. Tinham chegado ao outro lado do Passo do Dragão. O mago ergueu a cabeça, como alguém que avista enfim o que esperava ver e, através daquele grande espaço dourado em frente deles, veio, sobre as suas douradas asas, o dragão Orm Embar.
Arren ouviu o Gavião bradar-lhe: Aro Keilessine? Calculou o que significaria mas não conseguiu entender nada da resposta do dragão. E no entanto, ao ouvir a Antiga Fala, parecia-lhe sempre que estava a ponto de compreender, quase a compreender, como se fosse uma língua que esquecera, não uma que nunca conhecera. Ao falá-la, a voz do mago era muito mais clara que quando falava Hardic, e parecia criar uma espécie de silêncio ao seu redor, tal como o faz o mais suave dos toques num grande sino. Mas a voz do dragão soava como um gongo, a um tempo profundo e estrídulo, ou como o som ciciante dos címbalos.
Arren ficou-se a observar o companheiro, ali de pé na estreita proa do barco, falando com a monstruosa criatura que pairava acima dele e enchia metade do céu. E uma espécie de regozijo orgulhoso se apoderou do coração do rapaz, ao ver quão pequena coisa é um homem, quão frágil e quão terrível. Porque o dragão poderia arrancar a cabeça dos ombros do homem com um só golpe do seu pé armado de garras, assim como esmagar e afundar o barco do mesmo modo que uma pedra afunda uma folha que flutua na água, se apenas o tamanho importasse. Mas o Gavião era tão perigoso como Orm Embar e o dragão bem o sabia.
O mago voltou a cabeça para ele e chamou:
— Lebánnen!
E o rapaz ergueu-se e aproximou-se, muito embora não quisesse aproximar-se nem mais um passo daquelas fauces de quinze pés e dos olhos verde-ouro, longos e de pupilas fendidas, que ardiam sobre ele, suspensos no ar.
O Gavião nada lhe disse, mas colocou-lhe uma mão no ombro e voltou a falar brevemente para o dragão.
— Lebánnen — disse a enorme voz, sem vestígio de emoção nela. — Agni, Lebánnen!
Arren levantou os olhos mas a pressão da mão do mago no seu ombro fê-lo recordar e ele evitou a fixidez dos olhos verde-ouro.
Não era capaz de falar a Antiga Fala mas não era nenhum tolo.
— Orm Embar, Senhor e Dragão, eu te saúdo — pronunciou ele claramente, tal como um príncipe saúda outro.
Fez-se um silêncio e o coração de Arren bateu com força e estremeceu. Mas o Gavião, de pé a seu lado, sorriu.
Depois disto o dragão voltou a falar e o Gavião replicou. E o diálogo pareceu a Arren muito longo. Mas finalmente e de súbito tudo acabou. O dragão ergueu vôo com um bater de asas que por pouco virava o barco e afastou-se. Arren olhou para o Sol e verificou que não parecia mais próximo do ocaso que antes. O tempo não fora realmente longo. Mas o rosto do mago estava com a cor de cinzas molhadas e os seus olhos cintilaram quando se virou para o rapaz. Sentou-se na borda da proa.
— Bem jogado, rapaz — apreciou ele roucamente. — Não é coisa fácil... falar com dragões.
Arren tratou então de arranjar comida porque não tinham tomado qualquer alimento durante todo o dia. E o mago não voltou a falar até terem satisfeito a fome e a sede. Nessa altura já o Sol ia baixo no horizonte, embora naquelas latitudes setentrionais, e não muito depois do meio do Verão, anoitecesse tarde e lentamente.
— Bem — exclamou ele por fim —, Orm Embar disse-me, à maneira dele, muita coisa. Diz que aquele que buscamos está e não está em Selidor... É difícil para um dragão falar claramente. As suas mentes não são claras. E mesmo quando um deles resolve falar verdade a um homem, o que raras vezes acontece, não sabe como um homem vê a verdade. Portanto, perguntei-lhe: «Tal como o teu pai Orm está em Selidor?» Porque, como sabes, foi ali que Orm e Erreth-Akbe morreram no seu combate. E ele respondeu-me: «Não e sim. Irás encontrá-lo em Selidor, mas não em Selidor.» E aqui o Gavião fez uma pausa, meditando, enquanto mastigava uma côdea de pão duro. Por fim, continuou: — Talvez ele pretendesse dizer que, embora o homem não esteja em Selidor, mesmo assim terei de lá ir para o encontrar. Talvez... Perguntei-lhe então o que sabia sobre os outros dragões. E contou-me que esse homem tem andado entre eles, e não os teme porque, se o matarem, ele volta do meio dos mortos, no seu corpo e vivo. Assim, temem-no como uma criatura que está fora da natureza. O medo que lhe têm dá às artes de feitiçaria dele um poder sobre os dragões e ele retira deles a Fala da Criação, deixando-os presa da sua própria natureza selvagem. E é por isso que se entredevoram ou sacrificam as suas próprias vidas mergulhando nos mares... uma morte abominável para a serpente de fogo, o animal do vento e do fogo. E então perguntei-lhe: «Onde está o teu senhor, Keilessine?» e tudo o que me respondeu foi: «No Oeste», o que poderia significar que Keilessine voou para longe em demanda de outras terras, que segundo os dragões ficam mais longe do que barco algum jamais navegou, ou talvez não signifique nada disso.
Mais uma vez fez uma pausa, ponderando, e depois prosseguiu:
— Então, tendo eu acabado as minhas perguntas, fez ele as suas, dizendo: «Voei sobre Kaltuel, ao voltar para o Norte, e sobre as Portas de Torin. Em Kaltuel vi aldeões a matar um bebê num altar de pedra, e em Ingat vi um feiticeiro morto pelos seus conterrâneos que lhe atiravam pedras. Será que irão comer o bebê?
Que achas tu, Gued? E irá o feiticeiro regressar da morte e atirar pedras aos conterrâneos?» Pensei que ele me pretendesse troçar e estive prestes a encolerizar-me, mas não havia troça nas suas palavras. Ele continuou: «As coisas perderam o sentido. Há um buraco no mundo e o mar está a escoar-se por ele. A luz está a escoar-se. Vamos ficar abandonados em terra seca. Não haverá mais falar, nem mais morrer.» E foi assim que entendi finalmente o que ele me queria dizer.
Mas Arren não o entendeu e, além disso, estava profundamente perturbado. Porque o Gavião, ao repetir as palavras do dragão, referira-se a si próprio pelo seu nome-verdadeiro, iniludivelmente. E isso trouxe involuntariamente à memória de Arren aquela atormentada mulher de Lorbanery bradando «O meu nome é Ákaren!» Se os poderes da feitiçaria, e da música, da fala, da confiança, estavam a enfraquecer e a murchar entre os homens, se um pavor insensato se estava a apoderar deles de tal modo que, tal como os dragões privados de razão, se voltassem uns contra os outros numa febre de destruição, se tudo isto fosse assim, poderia o seu senhor escapar-lhe? Seria ele suficientemente forte?
E o mago não parecia forte, ali sentado, debruçando-se sobre a sua ceia de pão e peixe fumado, com o cabelo cinzento e chamuscado, e as mãos débeis, o rosto cansado.
E no entanto o dragão temera-o.
— O que é que te consome, rapaz?
A ele, só podia responder com a verdade.
— Meu Senhor, disseste o teu nome.
— Ah, isso. Esqueci-me que ainda não o tinha feito antes. É que vais precisar do meu nome-verdadeiro se formos onde temos de ir. — Mastigando a comida, ergueu os olhos para Arren. — Pensaste que eu tinha ficado senil e andava para aí a balbuciar o meu nome, como velhos de olhos lacrimosos que já deixaram para trás juízo e vergonha? Ainda não, rapaz, ainda não!
— Não — ecoou Arren, tão confuso que nada mais conseguiu dizer. Estava muito fatigado. O dia fora muito longo e cheio de dragões. E o caminho em frente era cada vez mais escuro.
— Arren — chamou suavemente o mago. E logo: — Não. Lebánnen. Para onde vamos não há como nos ocultarmos. Lá, todos usam os seus próprios nomes-verdadeiros.
— Não é possível ferir os mortos — comentou Arren sombriamente.
— Mas não é só aí, não é só na morte, que os homens ostentam os seus nomes-verdadeiros. Aqueles que mais feridos podem ser, os mais vulneráveis, aqueles que deram amor e não o voltaram a tirar, esses dizem os seus nomes-verdadeiros. Os que têm um coração fiel, os que dão vida... Mas tu estás esgotado, rapaz. Deita-te e dorme. Agora a única coisa que há para fazer é manter a rota toda a noite. E, de manhã, veremos a última ilha do mundo.
Na sua voz havia uma insuperável suavidade. Arren enroscou-se na proa e o sono foi-o tomando quase de imediato. Ouviu o mago começar um canto suave, quase só um murmúrio, não na língua Hardic mas nas palavras da Criação. E quando começava enfim a recordar o que as palavras significavam, mesmo antes de as compreender, caiu num sono profundo.
Silenciosamente, o mago arrumou o pão e a carne, verificou as linhas de pesca, pôs tudo nos seus lugares dentro do barco e depois, segurando o cabo de comandar a vela e sentando-se atrás do banco, fez o vento mágico soprar forte no pano. Infatigável, o Vê-longe lançou-se para norte, uma flecha sobre as águas.
O mago baixou a vista para Arren. O rosto adormecido do rapaz estava iluminado de vermelho e ouro pelo longo crepúsculo, o cabelo hirsuto agitava-se sob o vento. O aspecto suave, à vontade, principesco do rapaz que se sentara junto à fonte da Casa Grande, alguns meses atrás, desaparecera. Aquele era um rosto mais magro, mais duro e muito mais enérgico. Mas não era menos belo.
— Não encontrei ninguém que me acompanhasse no caminho — disse Gued, o Arquimago, em voz alta, dirigindo-se ao rapaz adormecido ou ao vento vazio. — Ninguém, senão tu. E tu tens de seguir o teu caminho, não o meu. E no entanto a tua realeza será, em parte, também minha. Porque eu conheci-te primeiro! Conheci-te primeiro! Hão de louvar-me por isso nos dias vindouros mais do que por qualquer coisa que eu tenha feito de mágico... Se houver dias vindouros. Porque primeiro temos nós dois de atingir o ponto de equilíbrio, o próprio fulcro do mundo. E se eu tombar, tu tombarás comigo e tudo o resto... Por algum tempo, por algum tempo. Não há escuridão que dure para sempre. E mesmo lá, há estrelas... Ah, mas como gostaria de te ver coroado em Havnor, e a luz do Sol brilhando sobre a Torre da Espada e no Anel que eu trouxe para ti de Atuan, dos escuros túmulos, eu e Tenar, ainda antes que tivesses nascido[4]!
E então riu e, voltando-se para olhar o Norte, disse para si próprio na língua comum:
— Um cabreiro a pôr o herdeiro de Morred no seu trono! Será que nunca vou aprender?
Pouco depois, sentado com a corda segura na mão e vigiando a vela panda, avermelhada pela última luz a ocidente, mais uma vez falou, suavemente.
— Não desejaria estar em Havnor e nem mesmo em Roke. É altura de esquecer o poder. De largar os velhos brinquedos e seguir em frente. É altura de voltar a casa. Veria Tenar. Veria Óguion e falaria com ele antes que morra, na sua casa sobre a escarpa de Re Albi. Anseio por caminhar na montanha, na montanha de Gont, pelas florestas, no Outono quando as folhas brilham. Não há reino que se compare às florestas. É tempo de lá voltar, em silêncio, sozinho. E talvez aí eu aprendesse finalmente o que nenhuma ação ou arte ou poder me pode ensinar, o que nunca aprendi.
Todo o céu a ocidente se incendiara num furor e numa glória de vermelho, e o mar tornara-se carmesim e a vela por cima dele brilhante como sangue. E depois a noite veio vindo calmamente. Durante toda essa noite, o rapaz dormiu enquanto o homem vigiava, o olhar fixo em frente, na escuridão. Não havia estrelas no céu.
SELIDOR
De manhã, ao acordar, Arren viu perante o barco, indistintas e baixas, estendendo-se ao longo do ocidente azul, as costas de Selidor.
No Paço de Berila havia velhos mapas, feitos nos dias dos Reis, quando mercadores e exploradores tinham navegado até ali vindos das Terras Interiores e as Estremas eram melhor conhecidas. Um grande mapa do Norte e do Ocidente fora reproduzido em mosaico sobre duas paredes da sala do trono do Príncipe, com a Ilha de Enlad a ouro e cinzento acima do trono. Arren viu-o com os olhos da mente tal como o vira mil vezes na sua juventude. A norte de Enlad ficava Osskil e a oeste desta Ebosskil e a sul dessas Semel e Paln. Aí acabavam as Terras Interiores e nada mais havia para além do mosaico de um pálido verde-azulado do mar vazio, enfeitado aqui ou acolá com um minúsculo golfinho ou uma baleia. Depois, enfim, além da esquina onde a parede norte se unia à ocidental, via-se Narveduen e, para lá desta, outras três pequenas ilhas. E então de novo o mar vazio, sempre e sempre. Até que mesmo na beira da parede, onde acabava o mapa, estava Selidor e, para além desta, nada.
Conseguia recordá-la vivamente, a sua forma encurvada com uma grande baía mesmo no centro, abrindo por estreita passagem para leste. Não tinham ainda vindo tão para norte, mas dirigiam-se agora para uma angra profunda situada no cabo mais meridional da ilha e, com o Sol ainda baixo na névoa matinal, chegaram a terra.
E assim terminou a sua grande travessia, desde as Estradas de Balatrane até à Ilha Ocidental. A quietude da terra era-lhes estranha quando, depois de trazerem o Vê-longe até à praia, caminharam depois de tanto tempo sobre um solo firme.
Gued subiu uma duna baixa, coroada de erva, cuja crista se inclinava por sobre um íngreme flanco, onde as raízes duras da erva prendiam a areia em cornijas. Quando alcançou o cimo, quedou-se parado, olhando para ocidente e para norte.
Arren ficara no barco a calçar os sapatos, que não usara durante muitos dias. Tirou em seguida a espada da caixa dos aprestos e colocou-a à cinta, desta vez sem dúvidas no seu espírito se o devia fazer ou não. Depois subiu até junto de Gued para observar a terra.
As dunas continuavam para o interior, por cerca de meia milha, e depois havia lagoas, onde cresciam abundantemente a junça e os caniços, e para além destas avistavam-se colinas de um castanho-amarelado, baixas e ermas, a perder de vista. Bela e desolada era Selidor. Em lado algum se via a marca do homem, do seu trabalho ou habitação. Não se avistavam animais e os lagos cheios de canaviais não eram habitados por bandos de gaivotas, nem gansos bravos, nem qualquer outra ave.
Desceram o lado da duna voltado para o interior e a elevação de areia isolou-os do ruído da rebentação e do som do vento, tudo ficando silencioso.
Entre a primeira duna e a seguinte havia um pequeno vale de areia limpa, abrigado, com o Sol da manhã a iluminar a vertente da duna a ocidente.
— Lebánnen — chamou o mágico, pois agora usava o nome-verdadeiro de Arren. — Não pude dormir a noite passada e tenho de o fazer agora. Fica comigo e vigia.
Estendeu-se ao Sol, porque a sombra era fria, pôs um braço sobre os olhos, soltou um suspiro e adormeceu. Arren sentou-se junto dele. Nada mais conseguia ver que as vertentes brancas do valezinho e a erva da duna inclinando-se no topo contra o azul enevoado do céu e o Sol amarelo. Não se ouvia qualquer som para além do murmúrio abafado da ressaca e, por vezes, um sopro de vento que fazia mover um pouco os grãos de areia com um fraco sussurrar.
Arren viu o que poderia ter sido uma águia a voar muito alto, mas não era uma águia. Descreveu um círculo, inclinou-se para a terra e veio por ali abaixo com aquele silvo trovejante e agudo de umas asas douradas bem abertas. Aterrou no cimo da duna sobre as enormes garras. Contra o Sol, a grande cabeça era negra, com clarões de fogo.
O dragão rastejou um pouco pela vertente abaixo e falou.
— Agni Lebánnen.
Pondo-se de pé entre ele e Gued, Arren respondeu:
— Orm Embar.
E segurava na mão a espada nua.
Agora não lhe parecia pesada. O punho macio, usado, adaptava-se confortavelmente à sua mão, pertencia ali. A lâmina saíra da bainha ligeira e ansiosa. O seu poder, a sua idade, estavam do seu lado, pois agora sabia que uso lhe dar. Era a sua espada.
O dragão voltou a falar mas Arren não conseguiu compreender. Volveu os olhos para trás, para o seu companheiro adormecido, a quem todo aquele reboliço e trovejante ruído não conseguira despertar e, voltando-se para o dragão, disse:
— O meu Senhor está cansado. Dorme.
Perante isto, Orm Embar acabou de rastejar, serpenteante, até ao fundo do pequeno vale. No chão era pesado, não leve e livre como a voar, mas mesmo assim havia uma sinistra graciosidade no lento pousar dos seus grandes pés armados de garras e o curvar da sua cauda eriçada de espinhos. Uma vez cá em baixo, juntou as pernas sob o corpo, ergueu a enorme cabeça e ficou imóvel, qual um dragão esculpido no elmo de algum guerreiro. Arren estava consciente da presença dos seus olhos amarelos, a menos de dez pés dele e do leve cheiro a queimado que parecia pairar em seu redor. Mas não era nenhum fedor de carne morta. Seco e metálico, harmonizava-se com os cheiros do mar e da areia salgada, um cheiro limpo e bravio.
O Sol erguendo-se iluminou os flancos de Orm Embar que pareceram arder como se ele fosse um dragão feito de ferro e fogo.
E Gued continuava a dormir, sossegadamente, tão consciente da presença do dragão como um lavrador do seu cão.
Assim se passou uma hora e Arren, com um sobressalto, deu com o mago sentado ao lado dele.
— Já estás tão habituado aos dragões, que lhes adormeces entre as patas? — riu Gued e bocejou. Depois, levantando-se, falou a Orm Embar na língua dos dragões.
Antes de responder, também Orm Embar bocejou, talvez por sonolência ou talvez por rivalidade, e esse foi um espetáculo a que poucos terão assistido e vivido para recordar, as filas de dentes branco-amarelados tão longos e afiados como espadas, a língua bifurcada, vermelha, em fogo, com um comprimento que era duas vezes a estatura de um homem, a fumegante caverna da sua garganta.
Orm Embar falou e Gued estava prestes a responder-lhe, quando ambos se voltaram para olhar Arren. Tinham ouvido, claro no silêncio, o roçar cavo do aço na bainha. Arren olhava para a beira da duna, por detrás da cabeça do mago, e tinha a espada a postos na mão.
Lá no alto, de pé, brilhantemente iluminado pela luz do Sol, com o vento fraco a agitar-lhe levemente o vestuário, estava um homem. Permanecia imóvel como uma figura esculpida, à exceção daquele ligeiro estremecer da orla e do capuz do leve manto que envergava. O seu cabelo era longo e negro, caindo numa massa de caracóis lustrosos. Tinha os ombros largos e era alto, um homem forte e de boa figura. O seu olhar parecia dirigir-se, por sobre eles, para o mar. Sorriu.
— Orm Embar eu conheço — soou a voz do homem. — E a ti também te conheço, embora tenhas envelhecido desde a última vez que te vi, Gavião. Dizem-me que és agora Arquimago. Tornaste-te grande, ao mesmo tempo que velho. E trazes contigo um jovem servo. Sem dúvida um aprendiz de mago, um desses que aprendem a sabedoria na Ilha dos Sages. Que fazem os dois aqui, tão longe de Roke e das invulneráveis muralhas que protegem os Mestres de todo o mal?
— Há uma brecha em muralhas maiores que essas — retorquiu Gued, agarrando o bordão com ambas as mãos e olhando o homem. — Mas não quererás vir até nós em carne e osso, para que possamos saudar alguém a quem tão longamente procuramos?
— Em carne e osso? — repetiu o homem, voltando a sorrir. — Mas terá a carne, o corpo, meras coisas de magarefe, uma tal importância entre dois magos? Não, encontremo-nos antes mente com mente, Arquimago.
— Isso, creio, não é possível. Rapaz, embainha a tua espada. Isto não passa de um envio, uma aparência, não é homem real. Tanto valeria esgrimir contra o vento. Em Havnor, quando o teu cabelo era branco, chamavam-te Cob. Mas esse era apenas um nome de usar. Como te havemos de chamar quando te encontrarmos?
— Chamar-me-ás Senhor — volveu a alta figura sobre a duna.
— Assim seja, e que mais?
— Rei e Mestre.
Perante isto, Orm Embar silvou, um som alto e hediondo, e os seus enormes olhos faiscaram. Porém, desviou a cabeça do homem e quedou-se agachado no seu rasto, como se não conseguisse mover-se.
— E onde deveremos ir ao teu encontro e quando?
— No meu domínio e quando me agradar.
— Muito bem.
E, erguendo o seu bordão, Gued moveu-o ligeiramente na direção do homem alto... e este desapareceu, como quando se sopra a chama de uma vela.
Arren ficou de olhos arregalados e o dragão ergueu-se a toda a altura sobre as quatro pernas arqueadas, com as escamas a soar como correntes de ferro sobre pedra e os lábios a arreganharem-se, descobrindo os dentes. Porém, o mago limitou-se a voltar a apoiar-se no bordão.
— Era apenas um envio. Uma representação ou imagem do homem. Pode ouvir e falar, mas não há poder nela, salvo o que o nosso temor lhe possa conferir. E nem sequer é verdadeira na aparência, a não ser que aquele que a envia assim queira. Não vimos o aspecto que ele tem agora, penso eu.
— E julgas que esteja perto?
— Os envios não passam por cima de água. Ele está em Selidor. Mas Selidor é uma grande ilha, mais larga que Roke ou Gont e quase tão comprida como Enlad. Poderemos ter de o procurar durante muito tempo.
E então o dragão falou. Gued escutou-o e depois voltou-se para Arren.
— Assim falou o Senhor de Selidor: «Regressei à minha própria terra e não a deixarei. Encontrarei o Anulador e trá-lo-ei perante ti, para que juntos o possamos extinguir.» E não te disse eu já que aquilo que os dragões caçam, encontram?
Ditas estas palavras, Gued pôs um joelho em terra perante a grande criatura, tal como um vassalo ajoelha perante o seu suserano, e agradeceu-lhe na sua própria língua. O sopro do dragão, tão próximo, era quente sobre a sua cabeça inclinada.
Orm Embar arrastou a massa escamosa do seu corpo uma vez mais pela duna acima, bateu as asas e ergueu vôo.
Gued sacudiu a areia das vestes e comentou para Arren:
— Ora aí me viste tu ajoelhar. E talvez me vejas ajoelhar uma outra vez, antes do fim.
Arren não perguntou ao companheiro o que pretendia dizer com aquilo. No longo tempo passado na sua companhia, aprendera que havia sempre um motivo para o mago manter a reserva. No entanto, não lhe deixou de parecer que havia um mau presságio naquelas palavras.
Atravessaram a duna de volta à praia, para verificarem se o barco estava bem acima de onde a maré ou uma tempestade o podiam alcançar e também para dele retirarem mantos para a noite e a comida que ainda lhes sobrara. Gued demorou-se um minuto junto à delgada proa que o levara sobre estranhos mares tantas vezes, tão longe. Pousou nela a mão, mas não teceu qualquer encantamento nem pronunciou palavra. Depois, internaram-se de novo na ilha, para norte, em direção às colinas.
Caminharam todo o dia e, à noite, acamparam junto a um rio que corria serpenteante em direção aos lagos e charcos repletos de juncos. Embora se estivesse no pino do Verão, o vento soprava glacial, vindo do ocidente, das lonjuras infindas e sem terras do mar aberto. Uma neblina velava o céu e não se viam cintilar as estrelas sobre aquelas colinas onde nunca brilhara fogo de lar ou luz de janela.
Noite escura, Arren acordou. A pequena fogueira que tinham acendido apagara-se, mas a Lua, declinando para oeste, iluminava a terra com uma luz nublada e cinzenta. No vale cavado pelo rio e na encosta da colina via-se uma grande multidão de gente, todos imóveis, todos silenciosos, os rostos voltados para Gued e para Arren. A luz da Lua não se refletia nos seus olhos.
Sem se atrever a falar, Arren colocou a mão sobre o braço de Gued. O mago acordou e ergueu o tronco, perguntando:
— O que há?
Depois seguiu o olhar fixo de Arren e também ele viu aquela gente silenciosa.
Todos, tanto mulheres como homens, envergavam roupas escuras. Os seus rostos não eram claramente discerníveis àquela fraca luz, mas pareceu a Arren que, entre aqueles que se encontravam mais perto deles, no vale, do lado de lá do pequeno rio, havia alguns que conhecia, embora não conseguisse dizer os seus nomes.
Gued ergueu-se, deixando tombar o manto. O seu rosto, o cabelo e a camisa tinham um brilho pálido de prata, como se a luz da Lua se juntasse ao redor dele. Num gesto largo, estendeu um braço e exclamou:
— Ó vós que haveis vivido, ide livres! Eu quebro o elo que vos prende: Anvassa mane harw pennodathe!
Durante um momento ainda permaneceu imóvel aquela multidão de gente silenciosa. Depois, lentamente, viraram costas, parecendo encaminhar-se para o escuro cinzento, e desapareceram.
Gued sentou-se e inspirou profundamente. Olhando para Arren, colocou a mão sobre o ombro do rapaz e o seu toque era quente e firme.
— Não há nada que temer, Arren — sossegou-o ele, suavemente e um pouco trocista. — Eram apenas os mortos.
Arren fez que sim com a cabeça, embora estivesse a bater os dentes e se sentisse gelado até aos ossos.
— Como é que... — começou ele, mas o maxilar e os lábios não lhe obedeciam ainda. Porém Gued compreendeu a pergunta não formulada.
— Vieram à invocação dele. É isto o que ele promete, vida eterna. Ao seu chamado, podem regressar. A sua ordem têm de caminhar sobre as colinas da vida, embora não consigam fazer mover sequer uma folha de erva.
— E ele? Está então também morto?
Gued sacudiu a cabeça, refletindo.
— Os mortos não podem invocar os mortos de volta ao mundo. Não, ele tem os poderes de um vivo. E mais ainda... Mas se alguém pensou que o podia seguir, foi enganado. Porque ele mantém o seu poder para si próprio. Ele representa o Rei dos Mortos. E não só dos mortos... Mas estes eram apenas sombras.
— Não sei porque as temo — murmurou Arren, envergonhadamente.
— Teme-os porque temes a morte. E com razão. Porque a morte é terrível e deve ser temida — contrapôs o mago.
Deitou nova lenha na fogueira e soprou as brasas ocultas sob a cinza. Um pequeno clarão luminoso desabrochou nos ramos de arbustos, uma grata luz para Arren.
— E também a vida é terrível — prosseguiu Gued — e deve ser temida e louvada.
Recostaram-se ambos, envolvendo-se nos mantos. Durante algum tempo permaneceram em silêncio. E finalmente Gued falou gravemente.
— Lebánnen, não sei quanto tempo ainda nos irá ele importunar aqui com envios e com sombras. Mas sabes onde teremos de ir, no fim.
— Para a terra da escuridão.
— Sim, para o meio deles.
— Agora já os vi. Irei contigo.
— É a fé em mim que te move? Podes confiar no meu afeto, mas não confies na minha força. Porque julgo ter encontrado o meu igual.
— Irei contigo.
— Mas se for derrotado, se o meu poder ou a minha vida se esgotarem, não poderei guiar-te de volta. E não podes regressar sozinho.
— Regressarei contigo.
Perante estas palavras, Gued exclamou:
— Entras na idade adulta pela porta da morte.
E depois pronunciou aquela palavra ou nome por que o dragão por duas vezes se referira a Arren, dizendo-a muito baixo.
— Agni... Agni Lebánnen.
Depois não voltaram a falar e o sono acabou por os tomar de novo e assim ficaram, deitados junto à sua pequena e em breve extinta fogueira.
Na manhã seguinte prosseguiram caminho, dirigindo-se para noroeste. Esta fora decisão de Arren e não de Gued que lhe dissera:
— Escolhe o nosso caminho, rapaz. Para mim, todos os caminhos são iguais.
Não se apressaram, dado que não havia uma meta para eles, esperando algum sinal de Orm Embar. Seguiram a cadeia de colinas mais baixa e mais exterior, quase constantemente à vista do mar. A erva era seca e curta, para sempre agitada pelo vento. As colinas erguiam-se cor de ouro e desoladas à sua direita e, à esquerda, estendiam-se os charcos de água salgada e o mar ocidental. Certa vez, avistaram cisnes voando, muito para longe a sul. Mas, durante todo aquele dia, não avistaram qualquer outro ser vivo. E ao longo desse dia foi crescendo em Arren uma espécie de cansaço do temor, daquele esperar pelo pior. A impaciência e uma ira baça o foram tomando. E, após horas de silêncio, exclamou:
— Esta terra está tão morta como a própria terra da morte!
— Não digas tal coisa — cortou cerce o mago. Deu alguns passos e depois prosseguiu, a voz mudada: — Olha para esta terra. Olha em teu redor. Este é o teu reino, o reino da vida. Esta é a tua imortalidade. Olha para as colinas, as colinas mortais. Não duram para sempre. As colinas com a erva viva sobre elas, com os cursos de água correndo... Em todo o mundo, em todos os mundos, em toda a imensidade do tempo, não há nenhum outro igual a cada um destes rios, erguendo-se, frios, do interior da terra onde olhar algum os vê, correndo através da luz do Sol e do escuro da noite até ao mar. Profundas são as fontes da vida, mais profundas que a vida, que a morte...
Silenciou mas, nos seus olhos, ao olhar Arren e as colinas iluminadas pelo Sol, havia um grande amor, doloroso e sem palavras. E Arren viu isso e, ao vê-lo, viu-o a ele, viu-o pela primeira vez na sua totalidade, tal como ele era.
— Não consigo exprimir em palavras o que quero dizer — desconsolou-se Gued.
Mas Arren recordou aquela primeira hora no Pátio da Fonte, o homem que se ajoelhara junto à água correndo da fonte e a alegria, tão límpida com essa água recordada, irrompeu dentro de si. E, olhando o companheiro, disse:
— Dei o meu afeto ao que é digno de afeto. Não é esse o reino e a imperecível nascente?
— Assim é, rapaz — aquiesceu Gued, suave e dolorosamente. Continuaram a caminhar, juntos e em silêncio. Mas Arren via agora o mundo pelos olhos do companheiro e viu o esplendor vivo que se revelava ao redor deles, na terra desolada e silente, como que pelo poder de um encantamento que se sobrepusesse a todas as outras, em cada folha da erva curvada pelo vento, em cada sombra, em cada pedra. Também assim alguém, ao encontrar-se pela última vez num lugar que lhe é querido antes de uma viagem sem regresso, o vê inteiramente na sua totalidade, real e adorável, como nunca antes o vira e como nunca o voltará a ver.
Com o entardecer, linhas compactas de nuvens ergueram-se de ocidente, trazidas do mar por fortes ventos, e como que se incendiaram perante o Sol, tingindo-o de vermelho enquanto se punha. Andando a recolher lenha para a fogueira num vale plano, àquela luz vermelha, Arren ergueu os olhos e viu um homem de pé, a escassos dez pés de distância. O rosto do homem tinha um aspecto vago e estranho, mas Arren reconheceu-o, o Tintureiro de Lorbanery, Sopli, que estava morto.
Atrás dele perfilavam-se outros, todos com rostos tristes e parados. Pareciam falar, mas Arren não conseguia ouvir as palavras, apenas uma espécie de sussurro que o vento de oeste arrastava consigo. Alguns aproximaram-se lentamente dele.
Arren pôs-se de pé, olhou-os e depois, de novo, para Sopli. Seguidamente, voltou-lhes as costas, inclinou-se para o chão e apanhou mais um pedaço de madeira, embora as suas mãos tremessem. Juntou esse pedaço ao feixe, e depois outro, e ainda outro. Finalmente, endireitou-se e olhou para trás de si. Não havia ninguém no vale, só a luz vermelha incendiando a erva. Voltou para junto de Gued e colocou a lenha no chão, mas nada disse acerca do que vira.
Durante toda a noite, na nebulosa escuridão daquela terra vazia de seres vivos, quando acordava de um sono irregular, ouvia ao seu redor o sussurrar das almas dos mortos. Fortalecia a sua vontade, não lhes dava ouvidos e voltava a dormir.
Tanto ele como Gued acordaram já tarde, quando o Sol, à largura de uma mão acima das colinas, se libertou finalmente do nevoeiro e animou a fria terra. Enquanto comiam a sua frugal refeição da manhã, o dragão voltou, circulando no ar acima deles. Jorrava-lhe fogo das fauces, fumo e fagulhas das narinas vermelhas, e os dentes brilhavam como lâminas de marfim naquele clarão acobreado. Mas nada disse, embora Gued o acolhesse, gritando na sua língua:
— Conseguiste encontrá-lo, Orm Embar?
O dragão lançou a cabeça para trás e arqueou estranhamente o corpo, varrendo o ar com as suas garras afiadas como navalhas. Depois afastou-se, voando rápido para oeste, e deitando-lhes ainda um olhar ao partir.
Gued agarrou no bordão e vibrou violenta pancada no solo.
— Ele não consegue falar — lamentou. — Não consegue falar! As palavras da Criação foram-lhe retiradas e ei-lo qual uma víbora, um verme sem voz, a sua sabedoria calada. E, no entanto, pode guiar-nos. E nós podemos segui-lo!
Lançando as mochilas, agora bem leves, para as costas, encaminharam os passos para oeste, por cima das colinas, na direção tomada por Orm Embar.
Andaram oito milhas ou mais, sem abrandarem o passo inicial, ligeiro e seguro. Tinham agora o mar a ambos os lados e caminhavam por uma crista longa, a descer, que ia terminar, por entre juncos secos e serepenteantes leitos de reentrâncias, numa praia, a encurvar-se para fora, de uma areia da cor do marfim. E aquele era o cabo mais a ocidente, o fim da terra.
Nessa praia agachava-se Orm Embar, a cabeça baixa como a de um gato assanhado e a respiração a sair-lhe em sopros breves de fogo. Um pouco à frente, entre o dragão e a longa e baixa rebentação do mar, erguia-se algo como uma cabana ou abrigo, branca como se tivesse sido construída com madeira dada à costa e descorada pelo tempo. Mas não havia madeira vinda à deriva naquela costa que não tinha pela frente qualquer outra terra. Ao aproximarem-se, Arren viu que as decrépitas paredes eram feitas de grandes ossos. Ossos de baleia, pensou a princípio. Mas logo viu os triângulos brancos com gumes como facas e compreendeu. Eram os ossos de um dragão.
Aproximaram-se. A luz do Sol que se espelhava no mar brilhava pelos interstícios dos ossos. O lintel da entrada era um fêmur maior que a estatura de um homem. Sobre ele via-se uma caveira humana, fitando com as órbitas vazias as colinas de Selidor.
Fizeram alto e, enquanto olhavam a caveira, um homem saiu da entrada, por baixo dela. Envergava uma armadura de bronze dourado, de um estilo antigo, fendida em vários lados como por golpes de machado, e a bainha da sua espada, enfeitada com pedras preciosas, estava vazia. O seu rosto era severo, com sobrancelhas negras e arqueadas, e um nariz afilado. Os olhos eram escuros, penetrantes e cheios de pesar. Havia feridas nos seus braços e garganta e flanco. Não sangravam já, mas eram feridas mortais. Permaneceu ereto, imóvel e silencioso, e olhou para eles.
Gued avançou um passo na sua direção. Eram algo semelhantes, assim, frente a frente.
— Tu és Erreth-Akbe — pronunciou Gued. O outro fitou-o com firmeza e acenou uma vez a cabeça, mas sem falar.
— Até tu, até tu tens de obedecer às suas ordens. — A ira ressoava na voz de Gued. — Ó meu Senhor, é o melhor e o mais corajoso de todos nós, repousa na tua honra e na tua morte!
E, erguendo ambas as mãos, Gued fê-las descer num largo gesto, pronunciando uma vez mais as palavras que dirigira à multidão dos mortos. Por um momento, as suas mãos deixaram no ar um rasto largo e brilhante. Quando se desvaneceu, o homem da armadura desaparecera e só o Sol brilhava ofuscante na areia onde ele estivera.
Gued desferiu um golpe com o seu bordão na casa de ossos e logo esta caiu e desapareceu também. Dela nada ficou, além de uma grande costela a emergir da areia.
Depois Gued dirigiu-se a Orm Embar.
— É aqui, Orm Embar? É este o lugar?
O dragão abriu a boca e lançou um forte e arquejante silvo.
— Aqui, na praia mais longínqua do mundo. E bom que assim seja!
Depois, empunhando o seu negro bordão de teixo na mão esquerda, Gued abriu os braços no gesto da invocação e ergueu a voz. E, embora falasse na linguagem da Criação, mesmo assim Arren a entendeu finalmente, tal como a entendem todos que ouvirem essa invocação, pois o seu poder estende-se sobre tudo.
— Agora te invoco e aqui, meu inimigo, perante os meus olhos e em carne e osso, e te obrigo, pela palavra que não será pronunciada até ao fim dos tempos, a que venhas!
Mas onde o nome do invocado devia ter sido pronunciado, Gued dissera apenas: Meu inimigo.
Houve um silêncio, como se o som do mar se houvesse apagado. Pareceu a Arren que o Sol enfraquecia e se tornava obscuro, embora permanecesse alto num céu sem nuvens. Estendeu-se uma escuridão sobre a praia, como quando alguém olha através de vidro fumado. Diretamente à frente de Gued ficou muito escuro e era difícil ver o que ali estava. Era como se nada lá houvesse, nada sobre que a luz pudesse cair, uma ausência de forma.
E daí, subitamente, saiu um homem. Era o mesmo que tinham visto sobre a duna, de cabelos pretos e longos braços, esguio e alto. Trazia agora na mão uma longa vara ou lâmina de aço, gravada em toda a sua extensão com runas, e inclinou-a na direção de Gued, ao enfrentá-lo. Mas havia algo de estranho na expressão dos seus olhos, pois era como se estivesse encandeado pelo Sol e não conseguisse ver.
— Venho — clamou — por minha própria escolha e à minha maneira. Tu não podes invocar-me, Arquimago. Eu não sou uma sombra. Estou vivo. E só eu estou vivo! Tu julgas que o estás, mas estás a morrer, a morrer. Sabes o que é isto na minha mão? É o bordão do Mago Cinzento, aquele que silenciou Nereguer, o Mestre da minha arte. Mas hoje sou eu o Mestre. E já me chega de brincar contigo.
E, dizendo isto, estendeu subitamente a lâmina de aço para tocar Gued que estava como se não pudesse mover-se nem falar. E Arren, um passo atrás dele, usava de toda a sua força de vontade para se mover, mas não conseguia, nem podia sequer levar a mão ao punho da espada, e a sua voz tinha-se-lhe emudecido na garganta.
Mas sobre Gued e Arren, acima das suas cabeças, vasto e ardente, o grande corpo do dragão surgiu num salto serpenteado e mergulhou com todo o seu peso sobre o outro, de tal modo que a lâmina de aço encantada penetrou totalmente no peito armadurado do dragão. Mas também o homem foi lançado por terra sob o seu peso, e esmagado, e queimado.
Voltando a erguer-se sobre a areia, arqueando o dorso e batendo as asas articuladas, Orm Embar vomitou golfadas de fogo e gritou alto. Tentou voar, mas não podia voar. Maligno e frio, o metal permanecia no seu coração. Agachou-se e o seu sangue escorreu-lhe da boca, negro e venenoso, e o fogo morreu nas suas narinas até estas se tornarem quais poços de cinza. Deixou cair a cabeçorra enorme na areia.
Assim morreu Orm Embar onde morrera o seu antepassado Orm, sobre os ossos de Orm, enterrados na areia.
Mas onde Orm ferira e derrubara o inimigo, algo hediondo e encarquilhado jazia, como o corpo de uma grande aranha que houvesse secado na sua teia. Fora queimado pelo sopro do dragão e esmagado pelos seus pés armados de garras. E contudo, perante os olhos de Arren, moveu-se. Rastejou para uma pequena distância do dragão.
O rosto da coisa ergueu-se para eles. Já nada restava nele de agradável à vista, só uma ruína, a velhice que tinha vivido para além da velhice. A boca estava mirrada. As órbitas dos seus olhos estavam vazias e desde há muito que assim era. E assim viram Gued e Arren o rosto vivo do seu inimigo.
Desviou-se deles. Os braços queimados, enegrecidos, estenderam-se e dentro deles se formou uma escuridão, aquela mesma escuridão informe que crescera até obscurecer o Sol. Entre os braços do Anulador era como uma entrada ou portal, embora indefinido, sem contornos. E para lá dela não havia areia pálida, nem oceano, mas apenas um longo declive de escuridão mergulhando no negrume.
Para aí se dirigiu a figura esmagada, rastejante, e ao entrar na escuridão pareceu erguer-se e mover-se rapidamente, e logo desapareceu.
— Vem, Lebánnen — incitou Gued, pousando a mão direita no braço do rapaz. E avançaram na direção da terra árida.
A TERRA ÁRIDA
O bordão de teixo luzia na mão do mago, no meio da escuridão baça que se adensava, com um brilho de prata. Um outro ligeiro movimento cintilante chamou a atenção de Arren. Um tremeluzir percorria a lâmina da espada que trazia nua no punho. Quando a arremetida do dragão quebrara o esconjuro de prender, ele desembainhara a espada, ali, sobre a praia de Selidor. E aqui, embora ele próprio não fosse mais que uma sombra, era uma sombra viva e empunhava a sombra da sua espada.
Nada mais havia que fosse brilhante em lado algum. Era como o crepúsculo, já tarde, no fim de Novembro, um ar parado, frio e austero, em que era possível ver, mas não claramente e não muito longe. Arren conhecia aquele lugar, as charnecas e baldios dos seus sonhos desesperados. Mas parecia-lhe que estava mais longe, imensamente mais longe, do que alguma vez estivera em sonhos. Não conseguia descortinar nada distintamente, a não ser que ele e o companheiro estavam na encosta de um monte e que, à sua frente, havia um muro baixo de pedras, não mais alto que o joelho de um homem.
Gued mantinha ainda a mão direita sobre o braço de Arren. Avançou e Arren avançou com ele, e passaram sobre o muro de pedras.
Informe, o longo declive continuava a descer em frente deles, mergulhando na escuridão.
Mas por cima, onde Arren julgara ir encontrar um pesado acumular de nuvens, o céu era negro e havia estrelas. Olhou-as e foi como se o coração se lhe encolhesse, pequeno e frio, dentro do peito. Não eram estrelas que alguma vez tivesse visto. Imóveis, sem piscar, luziam. Eram aquelas estrelas que não se põem nem nascem, nem são alguma vez ocultas por nuvem nenhuma, nem empalidecem sob Sol algum. Quietas e pequenas, luzem sobre a terra árida.
Gued começou a caminhar, descendo pelo lado de lá do monte do ser e, passo a passo, Arren seguiu-o. Havia nele um terror. No entanto, tão determinado estava o seu coração, tão firme a sua vontade, que o medo não o governava, nem tinha sequer clara consciência dele. Era apenas como se alguma coisa se afligisse no mais fundo do seu ser, tal um animal fechado numa sala e acorrentado.
Parecia que tinham percorrido uma grande distância descendo aquela encosta, mas talvez o caminho fosse curto afinal. Porque ali, onde nenhum vento soprava e as estrelas não se moviam, não havia passagem do tempo. Chegaram então às ruas de uma das cidades que ali existem, e Arren viu as casas com as janelas que nunca se iluminam e, em certas entradas, de pé, com rostos parados e mãos vazias, os mortos.
Todas as praças de mercado estavam vazias. Ali não havia vender nem comprar, nem ganhar nem gastar. Nada era usado, nada era feito. Gued e Arren percorreram sozinhos as estreitas ruas, embora por vezes avistassem uma figura a virar a esquina de outra rua, distante e mal visível na obscuridade. Da primeira vez que viu tal coisa, Arren sobressaltou-se e ergueu a espada para apontar o que vira, mas Gued sacudiu a cabeça e prosseguiu. Arren viu então que a figura era de uma mulher que se movia lentamente, sem fugir deles.
Todos os que viram — não muitos, porque os mortos são em grande número, mas aquela terra é vasta — permaneciam quietos ou moviam-se lentamente, sem qualquer finalidade. Nenhum deles ostentava ferimentos, como acontecera com a imagem de Erreth-Akbe invocado para a luz do Sol e no lugar da sua morte. Também não havia neles sinais de doença. Estavam intactos e curados. Curados de dor e de vida. Não eram abomináveis como Arren temera que fossem, nem assustadores do modo como pensara que seriam. Os seus rostos eram parados, libertos de paixão e de desejo, e nos seus olhos ensombrados não havia esperança.
E então, em vez de medo, foi uma imensa piedade que brotou em Arren e, se algum medo havia a sublinhá-la, não era por ele próprio, mas por todas as pessoas. Porque viu a mãe e o filho que tinham morrido juntos e juntos estavam na terra tenebrosa. Mas a criança não corria, nem chorava, e a mãe não a segurava ou sequer a olhava. E aqueles que tinham morrido por amor passavam uns pelos outros nas ruas, indiferentes.
A roda do oleiro estava parada, o tear vazio, o forno frio. Nenhuma voz cantava.
As ruas escuras entre as escuras casas continuavam sempre e sempre, e eles passavam por elas. O único som era o dos seus pés. Estava frio. Arren não notara esse frio a princípio, mas ele introduziu-se no seu espírito que, ali, era também a sua carne. Sentia-se muito cansado. Deviam ter percorrido um longo caminho. «Para quê continuar?» pensou e os seus passos fizeram-se um pouco mais lentos.
Gued estacou subitamente, voltando-se para encarar um homem que se encontrava no cruzamento de duas ruas. Era um homem alto e esguio, com um rosto que Arren teve a sensação de já ter visto, embora não conseguisse lembrar-se onde. Gued falou-lhe e nenhuma outra voz quebrara até aí o silêncio, desde que haviam passado o muro de pedras.
— Ó Thórione, meu amigo, como é possível estares aqui? E estendeu as mãos para o Mestre da Invocação de Roke. Em Thórione não houve um gesto a corresponder. Manteve-se parado, como parado estava o seu rosto. Mas a luz prateada do bordão de Gued brilhou profundamente sobre os olhos ensombrados produzindo neles uma breve luz ou encontrando-a. Gued tomou nas suas a mão que não se lhe oferecia e insistiu:
— Que fazes tu aqui, Thórione? Tu ainda não és deste reino. Regressa!
— Eu segui aquele que não morre. Perdi o meu caminho. A voz do Invocador era suave e sem expressão, como a de alguém que fala durante o sono.
— Para cima, em direção ao muro — indicou Gued, apontando o caminho por onde ele e Arren tinham vindo, a longa e escura rua a descer. A estas palavras, houve como um tremor no rosto de Thórione, qual se alguma esperança tivesse penetrado nele como a lâmina de uma espada, intolerável.
— Eu não posso encontrar o caminho — pronunciou. — Meu Senhor, não posso encontrar o caminho.
Mas Gued disse:
— Talvez ainda o faças.
Depois abraçou-o e continuou a andar. Atrás dele, Thórione permaneceu imóvel na encruzilhada.
Enquanto prosseguiam, pareceu a Arren que, na realidade, não havia para a frente nem para trás, nem leste nem oeste, nem caminho algum por onde seguir. Haveria um caminho de saída? Recordou como tinham vindo a descer a encosta do monte, sempre para baixo, fosse qual fosse a direção que tomavam. E também na cidade obscura todas as ruas eram a descer, de modo que para voltarem ao muro das pedras precisavam apenas de subir e, no cimo do monte, encontrá-lo-iam. Mas não se desviaram. Lado a lado, continuaram o seu percurso. E estaria ele a seguir Gued? Ou a guiá-lo?
Saíram da cidade. Os campos dos inúmeros mortos estavam vazios. Nem árvore, nem espinho, nem folha de erva crescia na terra pedregosa sob as estrelas imutáveis.
Não havia horizonte, pois os olhos não podiam alcançar tão longe naquela treva. Mas, em frente deles, as pequenas e imóveis estrelas estavam ausentes do céu por um longo espaço acima do solo, e esse espaço sem estrelas era denteado e com declives, como uma cadeia de montanhas. A medida que avançavam, as formas tornaram-se mais distintas. Altos picos, que nem vento nem chuva desgastavam. Neles não havia neve para brilhar à luz das estrelas. Eram negros. A sua vista, o coração de Arren encheu-se de desolação. Desviou deles os olhos. Mas sabia o que eram, reconhecera-os e os seus olhos eram constantemente atraídos para eles. De cada vez que olhava para aqueles picos, sentia um peso frio no peito e quase lhe falecia o ânimo. Mas mesmo assim caminhava, sempre para baixo, pois a terra ia em declive, em direção ao sopé das montanhas. Por fim, perguntou:
— Meu Senhor, o que são... — e apontou as montanhas, pois não conseguia continuar a falar, tão seca tinha a garganta.
— Confinam com o mundo da luz — respondeu Gued —, tal como o muro das pedras. Não têm nome algum a não ser Dor. Há uma estrada que as atravessa. Está proibida aos mortos. Não é muito longa. Mas é uma estrada muito dura.
— Tenho sede — queixou-se Arren. E o companheiro respondeu-lhe:
— Aqui, bebem poeira. Continuaram.
Pareceu a Arren que o passo do companheiro abrandara algum tanto e que, por vezes, hesitava. Ele próprio não sentia qualquer hesitação, embora o cansaço não tivesse cessado de crescer dentro dele. Tinham de continuar a descer. Tinham de continuar. E continuaram.
Por vezes passavam através de outras cidades dos mortos, onde os telhados escuros aprontavam ângulos às estrelas, que permaneciam para sempre no mesmo lugar acima deles. Depois das cidades eram de novo as terras ermas, onde nada crescia. E quando saíam de uma cidade, logo esta se perdia na escuridão. Nada se conseguia ver, para diante ou para trás, salvo as montanhas cada vez mais próximas, agigantando-se perante eles. Para a sua direita, a encosta informe continuava a descer tal como, há quanto tempo já?, quando tinham atravessado o muro de pedras.
— O que fica para aquele lado? — murmurou Arren para Gued, porque ansiava pelo som da fala, mas o mago sacudiu a cabeça e respondeu apenas:
— Não sei. Pode ser um caminho sem fim.
Na direção em que iam, a encosta parecia tornar-se cada vez menos inclinada. O solo sob os seus pés rangia asperamente como pó de lava. E sempre andando, Arren nunca pensava agora no regresso nem no modo como poderiam regressar. Nem mesmo pensava em parar, muito embora estivesse cansadíssimo. A certa altura, tentou aliviar a escuridão, o cansaço e o horror entorpecedores que iam dentro dele, recordando a sua casa. Mas não foi capaz de se lembrar do aspecto que tinha a luz do Sol nem do rosto de sua mãe. Nada havia a fazer senão continuar em frente. E continuou.
Depois sentiu o solo plano debaixo dos seus pés e, a seu lado, Gued hesitou. E então também ele parou. A longa descida terminara. Não havia por onde prosseguir, não era preciso continuar.
Estavam no vale diretamente sob as Montanhas de Dor. Tinham pedras debaixo dos pés e rochedos ao seu redor, ásperos ao tato como escória. Era como se aquele estreito vale pudesse ter sido o leito, agora seco, de uma corrente de água que em tempos passara ali, ou o curso de um rio de fogo, de há muito arrefecido, dos vulcões que tinham erguido os negros e impiedosos cumes.
Ficou-se imóvel, naquele estreito vale na escuridão, e Gued imóvel se quedou, a seu lado. Estavam ali, de pé, como os mortos, sem objetivo, olhando o nada, silenciosos. Arren pensou, com algum temor mas não muito: «Chegamos longe demais.»
E não parecia ter grande importância.
Dando voz ao seu pensamento, Gued disse:
— Chegamos longe demais para voltar atrás.
A sua voz era suave, mas a vibração nela não ficava totalmente abafada pelo grande e sinistro vazio que os envolvia, e a esse som Arren cobrou algum ânimo. Pois não tinham eles vindo até ali para encontrar aquele que procuravam?
No seio da escuridão, uma voz pronunciou:
— Viestes demasiado longe.
Mas Arren respondeu-lhe, dizendo:
— Só o demasiado longe é suficientemente longe.
— Chegastes ao Rio Seco — continuou a voz. — Não podeis regressar ao muro de pedras. Não podeis regressar à vida.
— Por esse caminho, não — atalhou Gued, falando para dentro do negrume. Arren mal conseguia distingui-lo, embora estivessem lado a lado, porque as montanhas, junto de cujo sopé se encontravam, ocultavam metade da luz das estrelas e parecia que a corrente do Rio Seco era formada pela própria escuridão. — Mas podíamos aprender o teu.
Não houve resposta.
— Aqui nos encontramos como iguais, Cob. Podes estar cego, mas nós estamos no escuro.
Uma vez mais, não houve resposta.
— Aqui, não podemos ferir-te. Não podemos matar-te. Que poderás temer?
— Eu nada temo — respondeu a voz no escuro. Depois, lentamente, luzindo um pouco como se com a mesma luz que por vezes surgia no bordão de Gued, o homem apareceu, um pouco para jusante de onde Gued e Arren se encontravam, entre as grandes e imprecisas massas dos penedos. Era alto, de ombros largos e longos braços, tal como aquela figura que primeiro lhes aparecera na duna e na praia de Selidor, mas mais velho. O cabelo era branco e espessamente emaranhado acima da testa alta. E assim surgiu em espírito, no reino da morte, sem vestígios do fogo do dragão, sem feridas, mas não incólume. As órbitas dos seus olhos estavam vazias.
— Eu nada temo — repetiu. — O que havia de temer um homem que está morto?
E riu. Mas o som do seu riso soou tão falso e inquietante, naquele vale estreito e pedregoso sob as montanhas, que Arren perdeu momentaneamente o fôlego. Mas apertou mais firmemente o punho da espada e escutou.
— Eu não sei o que um morto poderá temer — respondeu Gued. — A morte não, certamente. E no entanto pareces temê-la. Muito embora tenhas encontrado uma forma de lhe escapar.
— E encontrei. Eu vivo, o meu corpo vive.
— Não muito bem — replicou secamente o mago. — A ilusão poderá ocultar a idade. Mas Orm Embar não foi brando com esse corpo.
— Posso restabelecê-lo. Conheço segredos de curar e de rejuvenescer, não meras ilusões. Por quem me tomas? Só porque te chamam Arquimago, julgas-me algum mágico de aldeia? A mim, o único entre todos os magos a descobrir o Caminho da Imortalidade, que nenhum outro alguma vez descobriu?
— Talvez não o tenhamos procurado — contrapôs Gued.
— Procurastes, sim. Todos vós. Procurastes e não conseguistes encontrá-lo, e por isso inventastes essas sábias palavras acerca da aceitação e da harmonia e do equilíbrio entre a vida e a morte. Mas não passavam de palavras, mentiras para encobrir o vosso desaire, para ocultar o vosso medo da morte! Qual o homem que não viveria para sempre, se pudesse? E eu posso. Eu sou imortal. Fiz o que tu não conseguiste fazer e por isso sou teu mestre. E tu bem o sabes. Quererias saber como o consegui, Arquimago?
— Quero.
Cob avançou mais um passo. Arren notou que, embora o homem não tivesse olhos, a sua forma de se movimentar não era a de alguém totalmente cego. Parecia saber exatamente onde Gued e Arren se encontravam e ter consciência da presença de ambos, se bem que nunca voltasse a cabeça para Arren. Devia ter alguma segunda visão por artes de feitiço, tal como aquela capacidade de ouvir e ver que haviam tido os seus envios e representações. Algo que lhe conferia uma percepção, embora talvez não fosse verdadeira visão.
— Eu estava em Paln — relatou ele a Gued —, depois de tu, no teu orgulho, pensares que me tinhas humilhado e ensinado uma lição. Ah, sim, foi uma lição que me ensinaste, mas não aquela que pretendias! E ali disse de mim para mim: «Já vi a morte, e não a aceito. A estúpida natureza que siga o seu estúpido curso. Mas eu sou um homem, melhor que a natureza, acima da natureza. E não seguirei esse caminho, não cessarei de ser eu próprio!» Assim determinado, voltei a estudar a Sabedoria Palniana, mas apenas encontrei alusões veladas e noções superficiais do que buscava. Assim, voltei a tecê-la e a construí-la e fiz um esconjuro, o maior esconjuro alguma vez feito. O maior e o último!
— E, ao fazer esse esconjuro, morreste.
— Sim! Morri. Tive a coragem de morrer, para descobrir o que vós, covardes, nunca conseguistes encontrar, o caminho de regresso da morte. Abri a porta que estivera fechada desde o princípio dos tempos. E agora venho livremente a este lugar e livremente regresso ao mundo dos vivos. Eu só, entre todos os homens e em todo o tempo, sou o Senhor das Duas Terras. E a porta que abri não está aberta apenas aqui, mas também nas mentes dos vivos, nos mais profundos e desconhecidos recessos do seu ser, onde todos somos um na escuridão. Sabem-no e vêm até mim. E os mortos são também obrigados a vir até mim, todos eles, porque não perdi a magia dos vivos. São obrigados a passar o muro de pedras onde eu lhes ordeno, todas as almas, os senhores, os magos, as mulheres orgulhosas. De um lado para o outro, da vida para a morte, à minha ordem. Todos têm de vir até mim, os vivos e os mortos, a mim que morri e vivo!
— E onde vêm eles até ti, Cob? O que é isso onde estás?
— Entre os mundos.
— Mas isso não é vida nem morte. O que é a vida, Cob?
— Poder.
— E o que é o amor?
— Poder — repetiu pesadamente o cego, erguendo os ombros.
— E o que é a luz?
— Escuridão!
— Qual é o teu nome?
— Não tenho nome algum.
— Mas todos neste mundo trazem consigo o seu nome-verdadeiro.
— Diz-me então o teu!
— O meu nome é Gued. E o teu? O cego hesitou e depois pronunciou:
— Cob.
— Esse era o teu nome de usar, não o teu nome. Onde está o teu nome? Onde está a tua verdade? Tê-la-ás deixado em Paln, onde morreste? Foi muito o que esqueceste, ó Senhor das Duas Terras. Esqueceste a luz, e o amor, e o teu nome.
— Mas agora tenho o teu, e poder sobre ti, Gued, o Arquimago. Gued, que era Arquimago quando estava vivo!
— O meu nome de nada te serve — replicou Gued. — Tu não tens poder algum sobre mim. Eu sou um homem vivo. O meu corpo jaz na praia de Selidor, à luz do Sol, sobre a terra girante. E quando esse corpo morrer, estarei aqui. Mas em nome, apenas em nome, em sombra. Pois não compreendes? Nunca compreendeste, tu que tantas sombras chamaste de entre os mortos, que invocaste todas as hostes dos que pereceram, até o meu Senhor Erreth-Akbe, o mais sábio de todos nós? Não compreendeste que ele, mesmo ele, nada mais é que uma sombra e um nome? A sua morte não diminuiu a vida. Nem o diminuiu a ele. Ele está lá, lá, não aqui! Aqui nada existe, apenas pó e sombras. Lá, ele é a terra e a luz do Sol, as folhas das árvores, o vôo da águia. Está vivo. E todos os que alguma vez morreram, vivem. Todos eles renascem e para eles não há fim, nem nunca haverá um fim. Todos, menos tu. Porque tu não aceitaste a morte. Perdeste a morte e perdeste a vida, para te salvares a ti próprio. A ti próprio! Ao teu eu imortal! E isso que é? O que és tu?
— Eu sou eu próprio. O meu corpo não apodrecerá, não morrerá...
— Um corpo vivo sofre dor, Cob. Um corpo vivo envelhece. E morre. A morte é o preço que pagamos pela nossa vida e por tudo o que é vida.
— Eu não o pago! Eu posso morrer e, nesse momento, voltar a viver! Não posso ser morto, sou imortal. Eu e apenas eu sou eu próprio, para sempre!
— Quem és tu, então?
— O Imortal.
— Diz o teu nome.
— O Rei.
— Diz o meu nome. Disse-te qual era ainda nem há um minuto. Diz o meu nome!
— Tu não és real. Tu não tens nome. Só eu existo.
— Tu existes. Sem nome, sem forma. Não consegues ver a luz do dia, não consegues ver o escuro. Vendeste a verde terra e o Sol e as estrelas para te salvares a ti próprio, ao teu eu. Mas não tens eu. Tudo isso que vendeste era esse teu próprio eu. Entregaste tudo por nada. E por isso tentas agora chamar o mundo a ti, toda essa luz e vida que perdeste, para preencher o vácuo que és. Mas não pode ser preenchido. Nem todas as canções da terra, nem todas as estrelas do firmamento, poderiam preencher o teu vazio.
Como ferro percutido ressoou a voz de Gued, naquele frio vale sob as montanhas, e o cego afastou-se dele com temor. Depois ergueu o rosto e a escassa luz brilhou sobre ele. Dir-se-ia que chorava mas, não tendo olhos, não derramava lágrimas. A boca abriu-se e fechou-se, cheia de negrume, mas dela não saíram palavras, apenas um gemido. Por fim disse apenas uma palavra, mal a formando com os seus lábios contorcidos, e a palavra era: «Vida.»
— Eu dar-te-ia vida, se pudesse, Cob. Mas não posso. Estás morto. Mas posso dar-te a morte.
— Não! — gritou o cego muito alto, e logo repetiu: — Não, não — e rojou-se no chão soluçando, embora as suas faces estivessem tão secas como o pedregoso curso de rio onde só a noite, e água alguma, corria. — Não podes. Ninguém pode alguma vez libertar-me. Eu abri a porta entre os mundos e não consigo fechá-la. Ninguém a pode fechar. Nunca voltará a estar fechada. Ela arrasta-me, arrasta-me para si. Tenho de voltar a ela e voltar aqui, ao pó e ao frio e ao silêncio. Ela suga-me, suga-me constantemente. Não posso abandoná-la. Não posso fechá-la. No fim, sugará toda a luz do mundo. Todos os rios serão como o Rio Seco. Não há em lado algum um poder que consiga fechar a porta que eu abri!
Bem estranho era aquele misto de desespero e desejo de vingança, de terror e vaidade, nas suas palavras e na própria voz que as pronunciava.
Mas Gued limitou-se a perguntar:
— Onde é?
— Para além. Não muito longe. Podes ir até lá. Mas nada conseguirás fazer. Não a podes fechar. Ainda que usasses todo o teu poder nesse ato único, não seria suficiente. Nada é suficiente.
— Talvez — respondeu-lhe Gued. — Mas embora tu tenhas escolhido o desespero, lembra-te que nós ainda não o fizemos. Leva-nos lá.
O cego ergueu o rosto, onde o medo e o ódio se digladiavam visivelmente. O ódio triunfou.
— Não o farei — lançou ele.
Perante isto, Arren deu um passo em frente e afirmou:
— Fá-lo-ás.
O cego manteve-se imóvel. O gélido silêncio e a escuridão do domínio dos mortos rodeava-os e às suas palavras.
— E quem és tu?
— O meu nome é Lebánnen. Mas Gued interpôs:
— Tu, que a ti próprio chamas Rei, não sabes quem é este?
Uma vez mais Cob manteve uma total imobilidade. Depois, ofegando um pouco ao falar, disse:
— Mas ele está morto. Vós estais mortos. Não podeis regressar. Não há caminho de saída. Estais presos aqui!
Mal acabara de falar, logo a luz que brilhara levemente sobre ele se extinguiu e ouviram-no voltar-se no escuro e afastar-se deles, apressadamente, a ocultar-se nesse escuro.
— Dá-me luz, meu Senhor! — bradou Arren. E Gued ergueu o seu bordão acima da cabeça, deixando que o clarão branco rompesse aquela velha escuridão, cheia de pedras e sombras, por entre as quais a figura elevada e um pouco vergada em frente do cego se apressava e esquivava, dirigindo-se para jusante com um estranho andar, cego mas sem hesitações. Após ele avançou Arren, de espada na mão, e após Arren, Gued.
Arren em breve se distanciara do companheiro e a luz era muito fraca, e constantemente quebrada pelos rochedos e pelas voltas do leito do rio. Mas o som dos passos de Cob, bem como a sensação da sua presença mais à frente, era guia suficiente. E Arren foi-se lentamente aproximando, à medida que o caminho se tornou mais íngreme. Subiam agora uma garganta profunda inçada de pedras. O Rio Seco, estreitando em direção à nascente, serpenteava por entre margens a pique. Rolavam-lhes pedras ruidosamente debaixo dos pés e também das mãos, pois eram obrigados agora a escalar. Arren pressentiu que estavam chegados ao ponto onde as margens se ligavam e, com um súbito impulso para a frente, alcançou Cob e agarrou-o por um braço, forçando-o a estacar. Encontravam-se numa espécie de bacia rochosa de cinco ou seis pés de largura, o que poderia ter sido um poço de rio se alguma vez ali tivesse corrido água. E, acima, uma escarpa pouco firme, de pedras e escória vulcânica. Nessa escarpa abria-se um buraco negro, a nascente do Rio Seco.
Cob não tentou libertar-se. Ficou muito quieto, enquanto a luz que anunciava a aproximação de Gued lhe iluminava o rosto sem olhos. Ele voltara-se para enfrentar Arren.
— É este o lugar — afirmou finalmente, com uma espécie de sorriso a formar-se nos lábios. — É este o lugar que procuravas. Vê-lo? Ali podes renascer. Tudo o que precisas de fazer é seguir-me. Tornar-te-ás imortal. E seremos reis juntos.
Arren olhou aquela seca e escura nascente, a boca de pó, o lugar onde uma alma morta, rastejando para dentro da terra e do negrume, nascia de novo, morta. Era-lhe abominável e pronunciou numa voz áspera, combatendo uma agonia mortal:
— Que seja fechada!
— Será fechada — afirmou Gued, surgindo atrás dele. E a luz jorrava agora das suas mãos e do seu rosto como se ele fosse uma estrela tombada na terra naquela noite infindável. Perante ele, a nascente seca, a porta, abriu-se. Era larga e oca, mas se profunda ou superficial não se poderia dizer. Nada havia nela onde a luz caísse, que o olhar pudesse ver. Era vazia. Através dela não passava luz nem escuridão, nem vida nem morte. Era nada. Era um caminho que não conduzia a lugar algum.
Gued ergueu as mãos e falou.
Arren segurava ainda o braço de Cob. O cego pousara a mão livre sobre as rochas da falésia. Permaneciam ambos imóveis, presos no poder do encantamento.
Com todo o talento acumulado numa vida de aprendizagem, com toda a energia do seu indômito coração, Gued lutou por fechar aquela porta, por reintegrar o mundo no seu todo uma vez mais. E sob o poder da sua voz e o império das suas mãos que as conduziam e modelavam, as rochas aproximaram-se umas das outras, penosamente, tentando formar um todo, encontrarem-se. Mas ao mesmo tempo a luz ia-se tornando cada vez mais fraca, retirando-se das suas mãos e do seu rosto, retirando-se do seu bordão de teixo, até que apenas um breve lucilar pendia deste. E a esse débil clarão, Arren viu que a porta estava quase fechada.
Sob a sua mão, o cego sentiu moverem-se as rochas, sentiu como se aproximavam. E sentiu também a arte e o poder a entregarem-se, a gastaram-se, esgotados... E de súbito bradou «Não!» e, arrancando-se à prisão de Arren, lançou-se para a frente, agarrando Gued no seu poderoso e cego aperto. Derrubando Gued sob o seu peso, cerrou-lhe as mãos à volta do pescoço para o estrangular.
Mas Arren, erguendo a espada de Serriadh, fez a lâmina descer, direita e com força, sobre o pescoço inclinado de Cob, logo abaixo do emaranhado cabelo da nuca.
O espírito vivo tem seu peso no mundo dos mortos e a sombra da sua espada tem um gume. A lâmina abriu um grande golpe, cortando a espinha de Cob. Sangue negro brotou, iluminado pela luz da própria espada.
Porém, de nada vale matar um homem morto e Cob estava morto, morto há anos. A ferida fechou engolindo o seu sangue. O cego ergueu-se em toda a sua estatura, tateando com os longos braços na direção de Arren, o rosto contorcido de raiva e ódio. Como se só agora se tivesse apercebido de quem era o seu verdadeiro inimigo e rival.
Tão horrível de ver era esta recuperação de um golpe mortal, esta incapacidade de morrer, mais horrível que qualquer morte, que uma ira cheia de repugnância cresceu em Arren, uma fúria insensata, e brandindo a espada voltou a ferir, um golpe único, terrível, de cima abaixo. Cob caiu com o crânio aberto e o rosto coberto de sangue. Mas mesmo assim, Arren logo voltou a atacar, para uma vez mais o ferir antes que a brecha se pudesse fechar, ferir até o matar...
A seu lado, Gued, erguendo-se a custo sobre os joelhos, pronunciou uma palavra.
Ao som da sua voz Arren estacou, como se um punho lhe tivesse agarrado o braço que segurava a espada. E o cego, que igualmente começara a erguer-se, ficou também perfeitamente imóvel. Gued pôs-se de pé. Cambaleou um pouco mas, logo que conseguiu manter-se direito, voltou-se de frente para a falésia.
— Que fiques una e inteira! — ordenou numa voz clara e, com o seu bordão, desenhou a traços de fogo por sobre a entrada de rochas um sinal: a Runa Ágnen, a Runa do Acabar, que põe fim às estradas e é aposta nas tampas dos caixões. E então deixou de haver fenda ou lugar vazio entre os penedos. A porta estava fechada.
O solo da Terra Árida tremeu sob os seus pés e, através do céu ermo e imutável, um grande rolar de trovão passou e perdeu-se ao longe.
— Pela palavra que não será pronunciada até ao fim dos tempos te invoquei. Pela palavra que foi pronunciada no criar de todas as coisas eu te liberto agora. Vai livre!
E inclinando-se sobre o cego, que estava agachado sobre os joelhos, Gued murmurou-lhe ao ouvido, sob o cabelo branco emaranhado.
Cob ergueu-se. Relanceou em volta com olhos agora dotados de visão. Olhou para Arren e depois para Gued. Não pronunciou qualquer palavra, mas encarou-os com os seus olhos escuros. Não havia ira no seu rosto, nem ódio, nem dor. Lentamente virou costas e, seguindo o curso do Rio Seco, em breve lhes desaparecia da vista.
Não restava já qualquer luz no bordão de teixo de Gued, nem no seu rosto. Estava de pé, parado, no meio do escuro. Quando Arren se aproximou, agarrou no braço do jovem para se manter direito. Por um momento foi sacudido pelo espasmo de um soluçar sem lágrimas.
— Está acabado — murmurou. — Tudo se foi.
— Está acabado, sim, meu Senhor. Temos de ir.
— Temos, sim. Temos de voltar a casa.
Gued parecia alguém confuso ou exausto. Seguiu Arren de volta descendo o curso do rio, tropeçando e andando lentamente, dificilmente, por entre as pedras e os penedos. Arren manteve -se a seu lado. Quando as margens do Rio Seco se tornaram baixas e o solo menos íngreme, virou-se para o caminho por onde tinham ali chegado, a longa e informe encosta que subia para o escuro. Depois desviou-se dele.
Gued nada disse. Logo que tinham parado, sentara-se desamparadamente num bloco de lava, esgotado, a cabeça pendente.
Arren sabia que o caminho por onde tinham vindo lhes estava vedado. Só podiam continuar. Tinham de fazer todo o percurso até final. «Só o demasiado longe é suficientemente longe», recordou. Ergueu o olhar para os negros picos, frios e silenciosos, recortando-se contra as estrelas imóveis, terríveis. E uma vez mais ouviu aquela irônica voz da sua vontade falando dentro de si, incansável e trocista: «Irás parar a meio do caminho, Lebánnen?»
Então foi até junto de Gued e disse-lhe com suavidade:
— Temos de continuar, meu Senhor.
Gued nada respondeu, mas pôs-se de pé. E Arren acrescentou:
— Temos de ir pelas montanhas, julgo eu.
E a isto Gued respondeu, num segredar enrouquecido.
— É teu o caminho, rapaz. Ajuda-me.
E assim iniciaram a subida pelas encostas de poeiras e escória, adentrando-se nas montanhas, com Arren a ajudar o companheiro tanto quanto podia. O escuro era total nas lombas e nas gargantas pelo que tinha de encontrar o caminho às apalpadelas e era difícil dar ao mesmo tempo apoio a Gued. Caminhar era também difícil, sempre aos tropeções. Mas quando começaram a ter de trepar e escalar, à medida que as encostas se foram tornando mais íngremes, tudo se tornou mais difícil ainda. Os rochedos eram ásperos, queimando-lhes as mãos como ferro derretido. E no entanto fazia frio e o frio foi aumentando com a subida. Tocar aquele solo era um tormento. Queimava como carvões em brasa. Havia um fogo a arder dentro das montanhas. Mas o ar continuava sempre frio e sempre escuro. Não se ouvia um som. Não soprava vento algum. As pedras aguçadas fendiam-se sob as suas mãos e fugiam-lhes debaixo dos pés. Negros e alcantilados, os contrafortes e fendas iam subindo à frente deles e desapareciam para trás no negrume. Para trás, para baixo, o reino dos mortos ia ficando perdido. Em frente, para cima, os picos e rochedos destacavam-se contra as estrelas. E nada se movia em toda a extensão daquelas negras montanhas, exceto aquelas duas almas mortais.
Muitas vezes o cansaço fazia Gued tropeçar ou falhar a passada. A sua respiração tornava-se cada vez mais difícil e, quando as suas mãos embatiam com mais violência contra a pedra, arquejava de dor. Ouvi-lo queixar-se apertava o coração de Arren. Tentava impedi-lo de cair. Mas freqüentemente o caminho era demasiado estreito para poderem ir a par, ou Arren tinha de seguir adiante para encontrar sítio onde apoiar os pés. E por fim, numa elevada encosta que parecia erguer-se até às estrelas, Gued escorregou e caiu, e não conseguiu voltar a erguer-se.
— Meu Senhor — chamou Arren, ajoelhando-se junto dele. E depois pronunciou o seu nome: — Gued.
Mas o mago não se moveu nem deu resposta.
Arren tomou-o nos braços e carregou-o por aquela íngreme encosta. Chegado ao cimo, encontrou terreno direito numa certa extensão. Arren pousou o seu fardo e deixou-se cair ao lado, exausto, dolorido, de esperança perdida. Aquele era o cimo da passagem entre os dois negros picos, pelo qual tinha vindo a lutar. Ali era a passagem e o fim. Não havia caminho para diante. O final da extensão plana era a beira de uma escarpa. Para lá dela, a escuridão prolongava-se para sempre e as pequenas estrelas permaneciam suspensas e imóveis no golfo negro do céu.
Mas a pertinácia pode durar mais que a esperança. Arren rastejou em frente, logo que o conseguiu fazer, teimosamente. Olhou para lá da beira da escuridão. E abaixo de si, um pouco abaixo apenas, viu a praia de areia cor de marfim. As vagas brancas e ambarinas rolavam e quebravam-se em espuma sobre ela, e do lado de lá do mar o Sol estava a pôr-se, no meio de uma bruma dourada.
Arren voltou ao negrume. Voltou atrás. Ergueu Gued o melhor que lhe foi possível e esforçadamente o levou consigo, até não conseguir avançar mais. E ali todas as coisas deixaram de existir: a sede e a dor, e o escuro, e também a luz do Sol e o som do mar a rebentar na praia.
A PEDRA DE DOR
Quando Arren despertou, um grande nevoeiro ocultava o mar e as dunas e colinas de Selidor. A rebentação vinha murmurando como um trovejar distante, saindo do nevoeiro, e murmurando a ele regressava. Estava-se na maré alta e a praia era agora muito mais estreita do que quando ali tinham chegado. As últimas linhas de espuma das ondas vinham lamber a mão esquerda de Gued, estendida na direção do mar, e o mago jazia de borco sobre a areia. Tinha as roupas e o cabelo molhados e também as roupas de Arren se lhe pegavam gelidamente ao corpo, como se pelo menos uma vez o mar tivesse rebentado diretamente sobre eles. Do corpo morto de Cob não havia vestígios. Talvez as ondas o tivessem arrastado para o largo. Mas atrás de Arren, como ele viu ao voltar a cabeça, enorme e indistinto na bruma que o envolvia, o corpo cinzento de Orm Embar avultava como uma torre em ruínas.
Arren ergueu-se, tiritando de frio. Mal se podia ter de pé, com os membros gelados e hirtos, e uma espécie de vertigem e fraqueza como as que vêm de se estar por muito tempo deitado, sem movimento. Cambaleou como um homem embriagado. Porém, logo que lhe foi possível controlar o movimento do corpo foi junto de Gued e conseguiu arrastá-lo um pouco pela areia acima, afastando-o de onde as ondas alcançavam, mas foi tudo o que pôde fazer. Gued parecia-lhe muito frio, muito pesado. Carregara-o através da fronteira entre a morte e a vida, mas talvez em vão. Encostou o ouvido ao peito do mago, mas não podia impedir os seus membros de tiritar nem os dentes de bater, para conseguir ouvir o coração. Voltou a erguer-se e tentou bater os pés para restituir algum calor às pernas e, finalmente, tremendo e arrastando-se como um velho, afastou-se em busca das suas mochilas. Tinham-nas abandonado junto a um pequeno rio que vinha da cumeada das colinas, há muito tempo, ao aproximarem-se da casa de ossos. Era esse rio que ele procurava, pois não conseguia pensar em mais nada que não fosse água, água doce.
Quando ainda mal esperava, chegou junto ao rio, no ponto em que atingia a praia e se multiplicava nos meandros de um dédalo de ramificações, semelhante a uma árvore de prata, até à orla do mar. Ali se deixou cair de joelhos e bebeu, com o rosto e as mãos mergulhados na água, sugando-a para a boca e para o espírito.
Soergueu-se por fim e, ao fazê-lo, viu do outro lado do rio, imenso, um dragão.
A cabeça, cor de ferro e como que manchada de ferrugem nas narinas, órbitas e maxilares, pendia encarando-o, quase sobre ele. As garras enterravam-se profundamente na areia macia e molhada da margem do rio. As asas encolhidas eram parcialmente visíveis, assemelhando-se a velas, mas o resto do corpo escuro perdia-se no nevoeiro.
Não se movia. Podia estar ali agachado há horas, ou há anos, ou há séculos. Era esculpido em ferro, formado na rocha... mas os olhos, os olhos que Arren não se atrevia a fitar, os olhos como óleo rodando em espiral sobre água, como um fumo amarelo por detrás de um vidro, os olhos profundos e opacos, amarelos, observavam Arren.
Não havia nada que pudesse fazer. Assim, pôs-se de pé. Se o dragão o quisesse matar, matá-lo-ia. E se não o fizesse, ele tentaria ajudar Gued, se é que havia alguma ajuda possível para ele. Endireitou-se e começou a caminhar ao longo do ribeiro, em busca das mochilas.
O dragão nada fez. Continuou agachado, imóvel e atento. Arren encontrou as mochilas, encheu ambos os cantis de couro no riacho e regressou atravessando a areia em direção a Gued. Poucos passos dera ainda para longe do rio e já o dragão se perdera no espesso nevoeiro.
Conseguiu que Gued bebesse alguma água mas não pôde reanimá-lo. Jazia frouxo e frio, a cabeça pesando no braço de Arren. O seu rosto escuro estava acinzentado, com o nariz, as maçãs do rosto e a velha cicatriz a destacarem-se asperamente. Até o seu corpo parecia emaciado e gasto, como que semiconsumido.
Arren permaneceu sentado na areia úmida, com a cabeça do companheiro sobre os joelhos. O nevoeiro formava uma espécie de esfera ao redor deles, menos espessa em cima. Nalgum lado, no meio do nevoeiro, estava o corpo do dragão morto, Orm Embar, e o dragão vivo, esperando junto ao ribeiro. E nalgum lado, com Selidor de permeio, estava o barco Vê-longe, sem provisões a bordo, sobre as areias de uma outra praia. E depois, para leste, o mar. Trezentas milhas entre eles e qualquer outra terra da Estrema Oeste, talvez. E mil até ao Mar Interior. Tão longe. «Tão longe como Selidor», costumava dizer-se em Enlad. As velhas histórias contadas às crianças, os mitos, começavam sempre: «Há tanto tempo como sempre e tão longe como Selidor, vivia um príncipe...»
Ele era o príncipe. Mas nas velhas histórias esse era o início. E aqui parecia ser o final.
Não estava abatido. Embora tão cansado e sofrendo pelo companheiro, não sentia a mínima amargura ou arrependimento. Só que nada havia já que pudesse fazer. Tudo fora feito.
Quando as forças lhe voltassem, pensou, tentaria pescar na rebentação com a linha que trazia na mochila. Porque, uma vez estancada a sua sede, começara a sentir o roer da fome e a comida acabara-se, salvo um embrulho de pão duro. Mas esse poupá-lo-ia pois, se o molhasse e amaciasse na água, talvez conseguisse dar algum a comer a Gued.
E era tudo o que restava para fazer. Para além, não conseguia descortinar nada. O nevoeiro rodeava-o por todos os lados.
Ali sentado, ele e Gued como um volume indistinto no meio do nevoeiro, revistou os bolsos na esperança de encontrar alguma coisa que lhes pudesse ser de utilidade. No bolso da sua túnica estava uma coisa dura, de arestas agudas. Tirou-a para fora e olhou-a, intrigado. Era uma pequena pedra, negra, porosa e dura. Depois tateou com a mão as arestas, ásperas e cortantes, sentiu-lhe o peso e reconheceu de que se tratava. Um pedaço de rocha das Montanhas de Dor. Caíra-lhe para dentro do bolso quando trepava ou rastejava em direção ao fim da passagem com Gued. Segurou na sua mão aquela coisa imutável, a pedra de dor. Fechou a mão ao seu redor e manteve-a assim. E sorriu então, um sorriso que era, a um tempo, sombrio e alegre, ao conhecer pela primeira vez na sua vida, solitário, sem louvores, e no fim do mundo, a vitória.
As névoas adelgaçaram-se e começaram a mover-se. Através delas, lá longe, entreviu a luz do Sol brilhando sobre o mar aberto. As dunas e as colinas apareciam e desapareciam, sem cor e ampliadas pelos véus de nevoeiro. O Sol resplandeceu sobre o corpo de Orm Embar, magnífico na morte.
O dragão negro de ferro continuava agachado e imóvel na outra margem do ribeiro.
Depois do meio-dia, a luz do Sol tornou-se mais clara e quente, libertando o ar dos últimos vestígios de névoa. Arren libertou-se das suas vestes molhadas e ficou nu, apenas com o cinto e a bainha da espada. Deixou também que o sol secasse as roupas de Gued. Mas embora o grande e confortável fluxo de calor e luz, com o seu poder de curar, descesse sobre o mago, mesmo assim ele permaneceu imóvel.
Ouviu-se um ruído como de metal roçando em metal, o sussurro dissonante de duas espadas que se cruzam. O dragão cor de ferro erguera-se sobre as pernas angulosas. Avançou, atravessando o arroio, com um suave som sibilante ao arrastar o longo corpo sobre a areia. Arren viu as rugas nas articulações dos ombros, a malha dos flancos marcada de cortes e cicatrizes qual a armadura de Erreth-Akbe, os longos dentes amarelos e gastos. Em tudo isto, como nos seus seguros e poderosos movimentos, e ainda na profunda e assustadora serenidade que havia nele, descortinou os sinais da idade. De uma grande idade, de anos sem conta. E assim, quando o dragão parou a poucos pés de onde Gued jazia, erguendo-se entre ambos, Arren perguntou, em Hardic pois não conhecia a Antiga Fala:
— Serás tu Keilessine?
O dragão não disse palavra, mas pareceu sorrir. Depois, baixando a enorme cabeça e estendendo o pescoço, olhou para Gued e pronunciou-lhe o nome.
A voz era profunda e suave e o seu sopro tinha o odor de uma forja de ferreiro.
De novo falou e uma vez mais ainda e, à terceira vez, Gued abriu os olhos. Uns momentos depois, tentou sentar-se, mas não conseguiu. Arren ajoelhou-se junto dele para o apoiar. E então Gued falou.
— Keilessine — disse a custo —, senvanissai’n ar Roke!
Tendo falado, faltaram-lhe de novo as forças. Encostou a cabeça ao ombro de Arren e fechou os olhos.
O dragão não replicou. Agachara-se como antes, imóvel. O nevoeiro estava de novo a formar-se, obscurecendo o Sol à medida que este descia para o mar.
Arren vestiu-se e enrolou Gued no seu manto. A maré que já estivera muito baixa estava de novo a encher e ele pensou em levar o companheiro para um solo mais seco, nas dunas, pois sentia que lhe estavam a voltar as forças.
Porém, ao curvar-se para levantar Gued, o dragão estendeu um grande pé revestido de placas, quase a tocar-lhe. As garras daquele pé eram quatro, com um esporão para trás como se vê na pata de um galo, mas os dele eram esporas de aço e tão longas como lâminas de gadanha.
— Sobriost — soou a voz do dragão, qual vento de Janeiro através de juncos gelados.
— Deixa estar o meu senhor. Ele salvou-nos a todos e, ao fazê-lo, gastou a sua força e talvez também a sua vida. Deixa-o em paz!
Assim falou Arren, intensamente e em tom de comando. Já demasiadas vezes tinha sido intimidado e assustado, haviam-no enchido de terror, e estava farto e não o iria voltar a permitir. Estava furioso com o dragão pelo seu tamanho e força brutais, a sua injusta vantagem. Ele vira a morte, sentira o gosto da morte, e agora não havia ameaça que tivesse poder sobre ele.
O velho dragão Keilessine fitou-o, voltando para ele um longo, dourado e terrível olho. Havia idades sobre idades nas profundas daquele olhar e, mais profundamente ainda, estava o amanhecer do mundo. E embora Arren não olhasse para dentro dele, sabia que o fitava com uma profunda e branda hilaridade.
— Arw sobriost — soou de novo a voz do dragão e as suas narinas cor de ferrugem alargaram-se até se ver brilhar lá muito dentro o seu fogo contido, sufocado.
Arren tinha o braço sob os ombros de Gued, pois estava a tentar erguê-lo quando o movimento de Keilessine o interrompera, e sentiu a cabeça do mago voltar-se um pouco e ouviu-lhe a voz:
— O que ele está a dizer é «monta aqui».
Por um instante, Arren permaneceu imóvel. Que loucura, tudo aquilo. Mas ali estava o grande pé com as suas garras colocado como um degrau em frente de si. E mais acima a curva da articulação do cotovelo. E mais acima ainda, a saliência do ombro e a musculatura da asa onde esta surgia da omoplata. Quatro degraus, uma escada. E ali, em frente das asas e do primeiro grande espinho de ferro de todos os que lhe armavam o dorso até à cauda, no cavado do pescoço, havia lugar para um homem se sentar escarranchado. Ou mesmo dois homens, se fossem doidos, tivessem perdido a esperança e se entregassem à loucura.
— Monta! — insistiu Keilessine na língua da Criação.
E assim Arren ergueu-se e ajudou o companheiro a levantar-se. Gued conseguiu manter a cabeça direita e, com os braços de Arren a guiá-lo, trepou aqueles estranhos degraus. Ambos se escarrancharam no cavado do pescoço do dragão, coberto de áspera malha de escamas, com Arren atrás, pronto a amparar Gued se tal fosse necessário. Ambos sentiram um calor penetrá-los, um quente bem-vindo como o quente do sol, saindo dos pontos onde tocavam a pele do dragão. A vida ardia em fogo sob aquela armadura de ferro.
Arren viu que tinham deixado o bordão de teixo do mago caído e meio enterrado na areia e o mar vinha subindo a apoderar-se dele. O rapaz fez menção de descer para o ir apanhar, mas Gued impediu-o, dizendo:
— Deixa-o. Gastei toda a feitiçaria naquela nascente seca, Lebánnen. Já não sou mago algum.
Keilessine voltou a cabeça e olhou-o de esguelha. O velho riso transparecia no seu olhar. Se Keilessine era macho ou fêmea ninguém saberia dizer. O que Keilessine pensava, não havia forma de saber. Lentamente, as asas ergueram-se e desdobraram-se. Não eram douradas como as de Orm Embar mas vermelhas, vermelhas-escuras, escuras como ferrugem ou sangue ou a seda carmesim de Lorbanery. O dragão ergueu as asas cuidadosamente, não fossem elas desalojar os seus diminutos cavaleiros. Cuidadosamente também, apoiou o peso nas molas tensas das suas grandes ancas, saltou como um gato para cima e as asas, com uma vigorosa batida, ergueram-nos acima do nevoeiro que o vento arrastava sobre Selidor.
Como que remando no ar da tarde com aquelas asas carmesim, Keilessine deu a volta sobre o Alto Mar, rumou para leste e voou, voou...
Em pleno Verão, na Ilha de Ully, foi avistado um grande dragão voando baixo, e mais tarde também em Usidero e na parte norte de Ontuego. Se bem que os dragões sejam temidos na Estrema Oeste, onde as gentes os conhecem demasiado bem, depois de este ter passado lá por cima e de os aldeãos terem saído dos seus esconderijos, os que o tinham visto comentaram:
— Nem todos os dragões estão mortos como julgamos. Talvez que os feiticeiros também não tenham morrido todos. E não há dúvida que havia um grande esplendor naquele vôo. Quem sabe, seria o Mais Antigo!
Onde Keilessine tocou em terra ninguém viu. Nessas ilhas longínquas há florestas e montes desabitados, sendo raros os que alguma vez lá passam, e onde até a descida de um dragão pode passar despercebida.
Porém, nas Noventa Ilhas, foi grande o tumulto e a gritaria. Homens remavam furiosamente para oeste por entre as pequenas ilhas, gritando:
— Escondam-se! Escondam-se! O Dragão de Pendor quebrou a sua promessa! O Arquimago pereceu e o Dragão veio para devorar tudo!
Sem descer em terra, sem sequer olhar para baixo, o grande lagarto cor de ferro voou sobre as pequenas ilhas, sobre as pequenas vilas e quintas, sem se dignar soltar sequer um arroto de fogo sobre tão ínfima caça. E assim passou sobre Gueath e sobre Serd, e atravessou os estreitos do Mar Interior e chegou à vista de Roke.
Nunca, na memória do homem, raramente na memória da lenda, dragão algum desafiara as muralhas visíveis e invisíveis da bem defendida ilha. E contudo este não hesitou, antes, voando com as suas poderosas asas, entrou pela costa oeste de Roke, por sobre aldeias e campos, para o verde Cabeço que se ergue acima da Vila de Thwil. Aí, finalmente, inclinou suavemente o vôo para terra, ergueu as asas vermelhas e dobrou-as, indo agachar-se no cume do Cabeço de Roke.
Os rapazes vieram a correr da Casa Grande. Nada nem ninguém os podia ter impedido. Mas, por muito jovens que fossem, revelaram-se mais lentos que os seus Mestres e foi em segundo lugar que chegaram ao Cabeço. E quando lá chegaram ali estava o Configurador, vindo do seu Bosque, o cabelo claro a brilhar ao Sol. Com ele estava o Mestre da Mudança, que regressara duas noites atrás sob a forma de uma grande águia-pesqueira, esgotada e com uma asa ferida. Por muito tempo ficara preso pelos seus esconjuros àquela forma e não conseguiu recuperar a sua enquanto não chegou ao Bosque, na mesma noite em que a Harmonia foi restabelecida e o que estava quebrado voltou a ser um todo. O Mestre da Invocação, emagrecido e frágil, que apenas há um dia deixara o leito, viera também. E ao seu lado via-se o Mestre Porteiro e ali estavam igualmente os outros Mestres da Ilha dos Sages.
Viram os cavaleiros desmontar, um auxiliando o outro. Viram-nos olhar em volta com uma expressão de estranho contentamento, amargura e maravilhado espanto. O dragão manteve-se imóvel como pedra enquanto ambos lhe desciam do dorso até ficarem no chão junto dele. Voltou um pouco a cabeça a ouvir o que lhe dizia o Arquimago e deu-lhe uma resposta breve. Aqueles que o observavam, viram bem como o fitava de esguelha aquele olho amarelo, frio e cheio de riso. Os que lhe compreendiam a linguagem, ouviram-no dizer:
— Trouxe o jovem rei ao seu reino e o velho ao seu lar.
— Um pouco mais longe, Keilessine — replicou Gued. — Ainda não cheguei onde tenho de ir.
Olhou para baixo, para os telhados e torres da Casa Grande sob a luz do Sol e pareceu sorrir um pouco. Depois voltou-se para Arren, alto e delgado nas suas roupas gastas, ainda não completamente firme nas pernas com o cansaço do tão longo vôo e o desnorteamento perante tudo o que tinham passado. A vista de todos os que ali estavam, Gued ajoelhou perante ele, sobre ambos os joelhos, e inclinou a sua cabeça grisalha.
Depois ergueu-se e beijou o jovem na face, dizendo:
— Quando subires ao teu trono em Havnor, meu Senhor e querido companheiro, governa bem e por longo tempo.
Voltou a olhar os Mestres e os jovens feiticeiros e os rapazes e a gente da aldeia que se haviam reunido nas encostas e no sopé do Cabeço. O seu rosto estava calmo e nos seus olhos havia algo de semelhante ao riso nos de Keilessine. Voltando costas a todos eles, trepou-lhe de novo pelo pé e pelo ombro e tomou lugar, sem quaisquer rédeas, entre os grandes picos das asas, no pescoço do dragão. As asas vermelhas ergueram-se com um rufo estralejante e Keilessine, o Mais Antigo, ergueu-se nos ares. Fogo brotou das fauces do dragão de envolta com fumo, e o som do trovão, o vento da tempestade estavam no bater das suas asas. Deu uma única volta sobre a colina e logo tomou rumo para noroeste, em direção a essa zona de Terramar onde se ergue a ilha montanha de Gont.
O Mestre Porteiro, sorrindo, concluiu:
— Está feito o que tinha de fazer. Agora, vai voltar a casa.
E todos se ficaram a olhar o vôo do dragão entre a luz do Sol e o mar, até o perderem de vista.
O Feito de Gued conta como aquele que tinha sido Arquimago veio à coroação do Rei de Todas as Ilhas na Torre da Espada em Havnor, no coração do mundo. Diz o canto que, acabada a cerimônia da coroação e iniciados os festejos, ele deixou a companhia e desceu sozinho até ao porto de Havnor. Ali, sobre a água, encontrava-se um barco, velho e batido pelas tempestades e o tempo de muitos anos. Não tinha a vela erguida e estava vazio. Gued chamou o barco pelo nome, Vê-longe, e o barco veio até ele. Embarcando, Gued voltou as costas à terra e, sem vento nem vela nem remos, o barco moveu-se, levando-o do cais e do porto, para oeste por entre as ilhas, para oeste por sobre o mar. E nunca mais se soube dele.
Mas na Ilha de Gont contam a história de outra maneira, dizendo que foi o jovem Rei, Lebánnen, que veio em busca de Gued para levá-lo à coroação. Mas não o encontrou no Porto de Gont nem em Re Albi. Ninguém soube dizer onde ele fora, a não ser que se internara a pé pelas florestas da montanha. Muitas vezes o fazia, disseram, e não regressava durante meses e ninguém conhecia os caminhos da sua solidão. Alguns ofereceram-se para o procurar, mas o Rei proibiu que o fizessem, dizendo:
— Ele governa um reino bem maior que o meu.
E assim deixou a montanha, e entrou no seu navio, e regressou a Havnor para ser coroado.
[1] Ver O Feiticeiro e a Sombra e Os Túmulos de Atuan nesta coleção.
[2] Ver O Feiticeiro e a Sombra, desta coleção.
[3] Ver O Feiticeiro e a Sombra, nesta coleção.
[4] Ver Os Túmulos de Atuan nesta coleção.
Ursula K. Le Guin
O melhor da literatura para todos os gostos e idades















