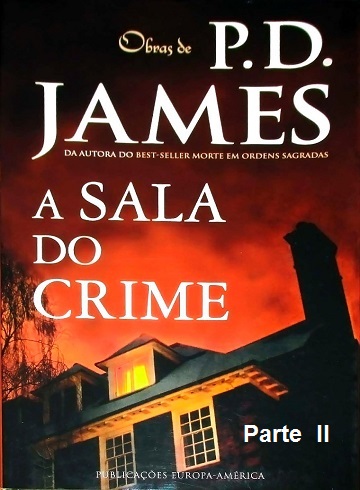Biblio VT




Sexta-feira, 25 de Outubro / sexta-feira, de Novembro
Na sexta-feira, vinte e cinco de Outubro, exactamente uma semana antes da descoberta do primeiro cadáver no Museu Dupayne, Adam Dalgliesh visitou o local pela primeira vez. A visita foi fortuita, a decisão, impulsiva, e, posteriormente, recordaria aquela tarde como uma das estranhas coincidências da vida que, apesar de ocorrerem com mais frequência do que seria de esperar, nunca deixam de surpreender.
Saíra do edifício do Ministério do Interior, em Queen Anne’s Gate, às duas e meia, após uma longa reunião, apenas interrompida, por breves instantes, para o habitual intervalo em que se serviam sanduíches compradas e café sem qualquer sabor, e percorria, a pé, a curta distância que o levaria de volta ao seu gabinete na Scotland Yard. Estava sozinho, o que também era fortuito. A representação policial, na reunião, fora numerosa e, normalmente, Dalgliesh teria saído com o comissário adjunto, mas um dos subsecretários do Departamento Criminal da Polícia pedira-lhe que passasse pelo seu gabinete a fim de falarem de um assunto que nada tinha a ver com a reunião; desse modo, Dalgliesh saíra sozinho. A reunião providenciara a esperada imposição de papelada e, quando Dalgliesh cortou caminho, pela estação de metropolitano de St. James’s Park, para sair em Broadway, perguntou a si próprio se devia regressar ao seu gabinete e arriscar-se a uma tarde de interrupções ou levar a papelada para o seu apartamento, com vista para o Tamisa, e trabalhar em paz.
Se bem que ninguém houvesse fumado durante a reunião, o ambiente achava-se saturado e, agora, sabia-lhe bem respirar ar puro, mesmo que por breves instantes. Apesar de ameaçar chover, estava um dia invulgarmente ameno. As nuvens carregadas deslocavam-se pelo céu de um azul translúcido e quase podia julgar que se estava na Primavera, não fora o cheiro penetrante e outonal a maresia que emanava do rio decerto imaginado em parte e as fortes rajadas de vento, quando Dalgliesh saiu da estação.

Volvidos poucos segundos, avistou Conrad Ackroyd na berma da calçada, à esquina de Dacre Street. Olhava para a esquerda e para a direita, com aquele misto de ansiedade e de esperança, típico de um homem que está à espera de fazer sinal a um táxi. Quase de imediato, Ackroyd viu Dalgliesh e avançou para ele, com os braços estendidos e um sorriso no rosto, por baixo do chapéu de abas largas. Era um encontro que Dalgliesh já não podia, nem tão-pouco queria evitar, até porque poucos eram aqueles que não desejavam encontrar-se com Conrad Ackroyd por poucos instantes que fossem. O seu constante bom humor, o seu interesse pelos pormenores insignificantes da vida, a sua paixão por mexericos e, acima de tudo, a sua juventude aparentemente eterna transmitiam uma sensação de segurança. Estava tal qual como quando ele e Dalgliesh se haviam conhecido, havia várias décadas. Era difícil imaginar Ackroyd a sucumbir a uma doença grave ou a enfrentar uma tragédia pessoal, enquanto a notícia da sua morte seria, para os amigos, uma inversão da ordem natural das coisas. Talvez fosse esse o segredo da sua popularidade, pensou Dalgliesh. Ackroyd transmitia aos amigos a reconfortante ilusão de que o destino era benevolente. Como de costume, vestia com uma excentricidade cativante. O seu elegante chapéu de feltro, com abas flexíveis, estava puído a um canto, enquanto o seu corpo, baixo mas robusto, se achava envolto numa capa de tweed, em tons de púrpura e verde. E era o único homem que Dalgliesh conhecia que usava polainas.
Como é bom vê-lo, Adam! Perguntava a mim próprio se você estaria no seu gabinete, mas não queria visitá-lo, por ser uma experiência muito intimidante para mim, meu caro. Não estou certo de que me deixassem entrar, nem de que 12
sairia, se me fosse permitida a entrada. Estou hospedado num hotel, em Petty France, com o meu irmão. Ele vem a Londres uma vez por ano, e ficamos sempre alojados lá. É um católico devoto e o hotel fica a uma distância conveniente da Catedral de Westminster. Conhecem-no e são sempre muito tolerantes. Tolerantes em relação a quê?», interrogou-se Dalgliesh. E estaria Ackroyd a referir-se ao hotel, à catedral ou a ambos?
Não sabia que tinha um irmão, Conrad.
Eu próprio mal o sei. Vemo-nos tão poucas vezes. Ele é uma espécie de eremita. Vive em Kidderminster acrescentou, como se aquele facto explicasse tudo.
Dalgliesh preparava-se para murmurar uma desculpa táctica e despedir-se quando Conrad Ackroyd prosseguiu:
Suponho que não poderei forçá-lo a aceder a um desejo meu, caro amigo? Gostava de passar umas duas horas no Museu Dupayne, em Hampstead. Porque não me faz companhia? Conhece, certamente, o museu...
Já ouvi falar desse museu, mas nunca o visitei.
Pois devia. É um local fascinante. Dedicado ao período entre mil novecentos e dezanove e mil novecentos e trinta e oito, portanto, entre as duas guerras. Pequeno mas exaustivo. Tem uns belos quadros: Nash, Wyndham Lewis, Ivon Hitchens, Ben Nicholson. Sei que ficaria particularmente interessado pela biblioteca. Primeiras edições, alguns testamentos, escritos pela mão dos seus autores e, claro, os poetas da época. Venha!
Talvez numa outra ocasião.
Nunca se consegue arranjar uma outra ocasião, não é verdade? Porém, agora que o apanhei, considere o nosso encontro como obra do destino. Tenho a certeza de que tem o seu Jaguar guardado, algures, na garagem subterrânea da Polícia Metropolitana. Podemos ir de carro.
Quer antes dizer que posso conduzi-lo ao museu...
E voltará comigo a Swiss Cottage para tomar chá connosco, não é assim? A Nellie nunca me perdoaria.
Como está a Nellie?
Bonita e saudável, como sempre, obrigado. O nosso médico reformou-se no mês passado. Ao fim de vinte anos, foi
13 uma despedida triste. No entanto, o seu sucessor parece compreender as nossas constituições físicas e talvez seja melhor termos um médico mais novo.
O casamento de Conrad e de Nellie Ackroyd era tão sólido que poucas pessoas se davam ao trabalho de pôr em causa a sua congruência ou de fazer especulações lascivas acerca da sua possível consumação. Fisicamente, marido e mulher não podiam ser mais diferentes. Conrad era anafado, baixo e moreno, com olhos vivos e curiosos, e, com os seus pés pequenos, movia-se com a mesma energia e agilidade de um bailarino. Nellie era, pelo menos, uns sete centímetros mais alta do que o marido, tinha a tez do rosto pálida, o peito achatado e usava o cabelo louro, entremeado de fios brancos, enrolado em duas grossas tranças de cada lado da cabeça, que faziam lembrar auscultadores. O seu passatempo era coleccionar primeiras edições de livros escolares para raparigas, publicados nas décadas de 20 e de 30. A sua colecção das obras de Angela Brazil era considerada única. As grandes paixões de Conrad e de Nellie eram a sua casa e jardim, os seus dois gatos siameses e as refeições: Nellie era uma excelente cozinheira. Conrad tendia ainda a ser levemente hipocondríaco. Era o proprietário e editor de The Paternoster Review, conhecida pela virulência dos seus artigos e críticas não assinados. Na vida privada, era o mais bondoso dos Jekyll, ao passo que, enquanto editor, era um implacável Hyde.
Um certo número de amigos de Conrad, cujas vidas obstinadamente muito ocupadas lhes impediam de desfrutar de todos os prazeres da vida, exceptuando os estritamente necessários, arranjavam, contudo, tempo para tomar chá com os Ackroyd em Swiss Cottage, uma grande casa eduardina, com uma confortável sala de estar e um ambiente de indulgência intemporal. Ocasionalmente, Dalgliesh era um desses amigos. O chá constituía um ritual nostálgico e sem pressa. As delicadas chávenas, com as suas asas alinhadas, o pão integral fino, com manteiga, as minúsculas sanduíches de pepino, o bolo de quatro quartos e o típico bolo inglês, com fruta cristalizada, faziam a sua esperada aparição, servidos por uma velha criada que seria uma dádiva para um agente de casting que quisesse recrutar actores para uma telenovela passada na era eduardina. Para os visitantes mais velhos, o chá trazia memórias de uma época mais sossegada e, para todos, a temporária ilusão de que o mundo perigoso era tão susceptível como aquela vida caseira, onde reinava a ordem, a razão, o conforto e a paz. Passar o início do serão a falar dos outros com os Ackroyd seria considerado, indevidamente, nos tempos que correm, uma excessiva satisfação dos próprios desejos. Não obstante, Dalgliesh sabia que não seria fácil encontrar um pretexto válido para se recusar a levar o amigo a Hampstead.
Levá-lo-ei ao Dupayne com todo o gosto, mas talvez não possa ficar, se pretende demorar-se na sua visita ao museu...
Não se preocupe, meu caro. Tomarei um táxi para voltar para casa.
Dalgliesh precisou apenas de alguns minutos para ir buscar ao seu gabinete os papéis de que precisava, saber através da sua secretária particular o que acontecera durante a sua ausência e tirar o Jaguar do parque de estacionamento subterrâneo. Ackroyd achava-se perto do sinal giratório. Parecia uma criança obedientemente à espera dos adultos que a viessem buscar. Enrolou com cuidado a capa em volta do corpo, entrou no carro com um resmungo de satisfação, lutou com o cinto de segurança, deu-se por vencido e deixou que Dalgliesh o apertasse. Seguiam por Birdcage Walk, quando Ackroyd exclamou:
Vi-o em South Bank1 no sábado passado. Estava de pé, junto à janela, no segundo andar, a contemplar o rio, na companhia de uma rapariga muito bonita, se me é permitido dizê-lo.
Sem olhar para ele, Dalgliesh retorquiu, em tom neutro:
Porque não subiu? Tê-la-ia apresentado.
Essa ideia ainda me passou pela cabeça antes de me aperceber de que estaria de trop. Assim, contentei-me em olhar para os vossos perfis... mais para o dela do que para o seu...
Importante centro cultural na margem sul do rio Tamisa, em Londres. (N. da T.)
com maior curiosidade do que aquela que seria considerada de bom tom. Enganei-me ao detectar um certo constrangimento, ou devo dizer, antes, uma certa coibição?
Dalgliesh não respondeu e, depois de observar, primeiro, o seu rosto e, depois, as suas mãos finas, que apertaram por uma fracção de segundo o volante, Ackroyd achou prudente mudar de assunto.
Desisti de publicar mexericos na Review. Não vale a pena, salvo quando se trata de uma notícia de última hora, verdadeira e escandalosa, e, mesmo assim, arrisco-me a ser processado. As pessoas são tão conflituosas... Pretendo diversificar e daí a razão da minha visita ao Dupayne. Estou a escrever uma série de artigos sobre o homicídio como símbolo da sua época, ou sobre o homicídio enquanto história social, se preferir. A Nellie pensa que talvez eu alcance o êxito desta vez, Adam. Na verdade, está muito entusiasmada. Tomemos os assassínios vitorianos mais famosos como exemplo. Nunca poderiam ter sido cometidos em qualquer outro século. Aquelas salas de estar claustrofóbicas, atulhadas de objectos, a aparente respeitabilidade, a subserviência feminina... E o divórcio... Se a esposa pudesse encontrar motivos para o pedir, o que era muito difícil, isso tornava-a uma pária social. Não é de admirar que aquelas pobres mulheres tenham começado a mergulhar fitas de papel para matar moscas, embebidas em arsénico, na água que punham a ferver para fazer chá. No entanto, essa é a época mais fácil. O período entre as duas guerras é mais interessante. No Dupayne, existe uma sala inteiramente dedicada aos casos de assassínio mais célebres dos anos vinte e trinta. Asseguro-lhe, desde já, que a sala não tem como objectivo despertar o interesse do público... não é esse tipo de museu, mas, sim, provar o meu ponto de vista. O assassínio, crime por excelência, é um paradigma da sua época.
Fez uma pausa e, pela primeira vez, olhou atentamente para Dalgliesh.
Parece um pouco cansado, meu caro. Está tudo bem consigo? Não está doente, pois não?
Não, Conrad, não estou doente.
A Nellie ainda ontem me disse que nunca o vemos. Está sempre demasiado ocupado a dirigir aquela equipa de nome inofensivo, criada para investigar homicídios de natureza delicada. «Natureza delicada» soa estranhamente a uma definição burocrata. Como se define um homicídio de natureza indelicada? No entanto, todos sabemos o que significa. Se o presidente da Câmara dos Lordes for encontrado morto, com as suas vestes e peruca, no woolsack1, depois de haver sido brutalmente espancado, chame-se Adam Dalgliesh.
Não creio. Consegue imaginar um espancamento brutal, enquanto a Câmara dos Lordes se encontra em plena sessão parlamentar, com algumas de suas senhorias a assistir ao crime com grande satisfação?
Claro que não. O assassínio seria perpetrado depois de a sessão ser dada como encerrada.
Então, porque estaria o presidente sentado no woolsack.
Porque o tinham assassinado num outro local e levado para ali. Devia ler romances policiais, Adam. Actualmente, o assassínio na vida real, além de ser um lugar-comum e... desculpe-me a ousadia... um pouco vulgar, inibe a imaginação. Não obstante, transportar o cadáver para a Câmara dos Lordes levantaria um problema. Exigiria um plano urdido com antecedência e que, provavelmente, não daria resultado.
Ackroyd falava com pesar. Dalgliesh pensou se o próximo interesse do amigo seria o de escrever romances policiais. Se assim fosse, tinha de dissuadi-lo. O assassínio, tanto real como fictício e em qualquer uma das suas manifestações, era, ao que tudo indicava, um passatempo muito pouco apropriado para um homem como Ackroyd. Contudo, a sua curiosidade sempre fora muito abrangente e, assim que lhe ocorria uma nova ideia, agarrava-se a ela com a dedicação e o entusiasmo de um especialista.
E aquela sua ideia parecia persistir, porque Ackroyd continuou:
1 Almofada em que se senta o presidente ou chanceler da Câmara dos Lordes. (N. da T.)
E não existe uma norma de que ninguém morre no Palácio de Westminster? Não lançam o morto para o interior de uma ambulância com uma pressa indecorosa para, mais tarde, declararem que ele morreu a caminho do hospital? Ora isso criaria algumas pistas interessantes quanto à hora da morte. Se fosse uma questão de herança, por exemplo, a hora da morte seria muito importante. Como é óbvio, já tenho o título: Morte na Câmara dos Lordes.
Isso exigiria muito tempo replicou Dalgliesh. Prefiro ficar com a teoria do assassínio como paradigma da sua época. O que espera encontrar no Dupayne?
Talvez inspiração, mas sobretudo informação. A Sala do Crime é notável. A propósito, não é o seu nome oficial, mas as pessoas referem-se a ela dessa forma. Exibe relatos dos jornais da época sobre os crimes e os julgamentos, fotografias fascinantes, incluindo algumas originais, e provas verídicas da cena do crime. Não faço ideia de como o velho Max Dupayne se apropriou dessas provas, mas creio que nem sempre era escrupuloso no que dizia respeito a adquirir o que queria. O que é certo é que o interesse do museu pelo assassínio coincide com o meu. O único motivo que levou o velho Dupayne a criar a Sala do Crime foi para relacioná-lo com a sua época; caso contrário, tê-la-ia encarado como uma fonte de informações para o depravado gosto popular. Já escolhi o meu primeiro caso. É o mais óbvio e envolveu Mistress Edith Thompson. Decerto conhece-o.
Sim, de facto, conheço-o.
Todos os que se interessavam pelos assassínios da vida real, pelas falhas do sistema de justiça criminal ou pelo horror e pelas anomalias da pena de morte, conheciam o caso Thompson-Bywaters. Inspirara romances, peças de teatro, filmes e uma grande quantidade de artigos publicados nos jornais, que davam relevo ao ultraje moral.
Aparentemente alheio ao silêncio do companheiro de viagem, Ackroyd continuou a papaguear alegremente:
Analise os factos. Temos uma jovem atraente, de vinte e oito anos, casada com um monótono funcionário de uma companhia de navegação, quatro anos mais velho do que ela. Vivem numa rua triste de um subúrbio miserável, a leste de Londres. Pensa que ela encontrava algum reconforto numa vida de fantasia?
Não possuímos quaisquer provas de que o Thompson era um indivíduo monótono. Não está a sugerir, por certo, que a monotonia é um móbil para matar alguém?
Pois sempre lhe digo que posso pensar em motivos bem menos credíveis para um assassínio, caro amigo. A Edith Thompson não só é bonita como inteligente. Tem um emprego como gerente de uma empresa de confecção de chapéus, na City, e naquela época, isso já era alguma coisa. Vai de férias com o marido e a cunhada e conhece Frederick Bywaters, funcionário da Companhia Marítima P&O, oito anos mais novo que ela, por quem se apaixona perdidamente. Quando ele anda embarcado, ela escreve-lhe cartas arrebatadas que, para as pessoas sem imaginação, podem ser interpretadas como um incitamento ao assassínio. Ela refere, numa dessas cartas, que colocou lâmpadas eléctricas esmagadas nas papas de aveia de Percy, probabilidade que Bernard Spilsbury, patologista forense, pôs de parte durante o julgamento. Então, a três de Outubro de mil novecentos e vinte e dois, depois de uma ida ao Teatro Criterion, em Londres, quando regressam a casa, Bywaters aparece e esfaqueia Thompson até à morte. Alguém ouve Edith Thompson gritar: «Não! Não faças isso!» Contudo, as cartas condenam-na, como não podia deixar de ser. Se Bywaters as tivesse destruído, ela ainda hoje estaria viva.
Duvido muito, porque teria cento e oito anos... Mas como justifica que esse assassínio seja específico dos meados do século vinte? O marido ciumento, o jovem amante, a dependência sexual... Podia ter ocorrido tanto há cinquenta ou cem anos como nos dias de hoje.
Nunca exactamente da mesma maneira. Há cinquenta anos, ela nem sequer teria oportunidade de trabalhar na City, para começar, e seria muito pouco provável que conhecesse Bywaters. Se fosse hoje, teria ingressado numa universidade, tirado um curso em que aplicasse a sua inteligência, disciplinado a sua fértil imaginação e, provavelmente, tornar-se-ia rica e bem-sucedida. Vejo-a como uma escritora romântica. O que é certo é que nunca se teria casado com Percy Thompson e, caso cometesse um assassínio, os psiquiatras actuais caracterizá-la-iam como uma mulher propensa a refugiar-se num mundo de fantasia; o júri teria uma opinião diferente sobre as relações extraconjugais e o juiz não daria azo ao seu forte preconceito contra mulheres casadas que arranjam amantes oito anos mais novos, preconceito esse que, aliás, foi partilhado pelos jurados, em mil novecentos e vinte e dois.
Dalgliesh manteve-se em silêncio. Desde que, aos onze anos de idade, lera a história daquela mulher que, alheia a tudo e sob o efeito de calmantes, fora quase arrastada para o cadafalso, o caso permanecera num recanto da sua memória, latente, como uma serpente enroscada. O pobre e enfadonho Percy Thompson não merecera morrer, mas alguém merecia o que a sua viúva padecera na cela, durante os seus últimos dias, quando finalmente se dera conta de que havia um mundo real, no exterior, ainda mais perigoso do que as suas fantasias e que havia homens, nesse mundo, que, num determinado dia e a uma determinada hora, a levariam e a enforcariam propositadamente? Apesar de ser uma criança, na altura, aquele caso reforçara a sua posição favorável à abolição da pena de morte; teria aquele caso, perguntou a si mesmo, exercido uma influência mais subtil e persuasiva na sua convicção, nunca expressa por palavras mas enraizada na sua mente, de que as paixões fortes deviam sujeitar-se à força de vontade, de que um amor egocêntrico podia ser perigoso e o preço a pagar demasiado caro? Não fora o que lhe havia ensinado um velho sargento, muito experiente, agora já reformado, quando ele era um jovem recruta do Departamento de Investigação Criminal? «Todos os móbiles de um assassínio se regem por quatro maiúsculas: Amor, Luxúria, Lucro e Ódio. Dir-te-ão que a mais perigosa é o ódio. Não acredites nisso. A mais perigosa é o amor.»
Decidiu afastar da mente o caso Thompson-Bywaters e prestar atenção ao que lhe dizia Ackroyd.
Encontrei um caso mais interessante para a minha teoria. Ainda se encontra por resolver, é fascinante, pela sucessão dos elementos que dele resultam, e muito característico da década de trinta. Nunca poderia ter ocorrido numa outra época, pelo menos, não exactamente da mesma maneira. Penso que já terá ouvido falar do caso Wallace? Escreveu-se muito sobre ele e o Dupayne conserva toda a documentação.
Foi mencionado, certa vez, durante um curso em Bramshill, quando eu acabara de ser promovido a inspector. Foi-nos indicado como exemplo do modo como não se deve conduzir a investigação de um homicídio. Não creio que esteja incluído no curso, actualmente. Escolhem casos mais recentes e relevantes. Exemplos não lhes faltam.
Por conseguinte, está a par dos factos. A desilusão de Ackroyd era tão evidente que não se afigurava possível contrariar a sua vontade em narrar os factos.
Recorde-mos.
Corria o ano de mil novecentos e trinta e um. A nível internacional, o Japão invadiu a Manchuria, na Espanha foi proclamada a república, houve insurreições na índia e Cawnpore foi devastada por um dos piores surtos de violência entre as diversas comunidades, em toda a história daquele país. Foi, também, o ano em que a Anna Pavlova e o Thomas Edison morreram e em que o professor Auguste Piccard se tornou o primeiro a alcançar a estratosfera, num balão. Na Inglaterra, o novo Governo Nacional foi reeleito nas eleições de Outubro, Sir Oswald Mosley concluiu a formação do seu Partido Novo e havia dois milhões e setecentos e cinquenta mil desempregados. Não foi um bom ano. Como vê, Adam, procedi a uma pesquisa. Não está impressionado?
Muito mesmo. É um feito notável de memória, embora não veja que importância possa ter num assassínio tipicamente inglês que ocorreu num subúrbio de Liverpool.
Coloca-o num contexto mais vasto. No entanto, talvez não recorra aos factos ocorridos nesse ano, quando escrever o meu artigo. Deseja que continue? Não estou a maçá-lo?
Por favor, prossiga. Não está a maçar-me.
As datas: segunda-feira, dezanove, e terça, vinte de Janeiro. O alegado assassino: William Herbert Wallace, cinquenta e dois anos, agente de seguros da Prudential Company, um homem de óculos, ligeiramente corcunda, de aparência banal, que vive com a mulher, Julia, no número vinte e nove de Wolverton Street, em Anfield. Passa os dias a andar de casa em casa para receber o dinheiro das apólices. Um xelim, aqui, um xelim, ali, num dia de chuva e perto de um fim inevitável. Típico da época. As pessoas mal tinham o suficiente para comer, mas, mesmo assim, juntavam algum dinheiro ao fim de cada semana, para se certificarem de que conseguiriam pagar um funeral decente. Podiam viver na maior miséria, mas, ao menos, dariam nas vistas depois de mortas. Nem questão de serem levados, à pressa, para o crematório para sair de lá, passados quinze minutos, arriscando-se a que os acompanhantes do funeral seguinte começassem a impacientar-se e a bater à porta.
«A esposa: Julia, cinquenta e dois anos, de um nível social um tudo-nada mais elevado, rosto bondoso e boa pianista. O Wallace tocava violino e, por vezes, acompanhava-a, na sala de estar, situada na parte da frente da casa. Ao que parece, ele não era grande violinista. Se houvesse tocado com grande entusiasmo, enquanto a mulher dedilhava as teclas do piano, então, teríamos o móbil para o crime, mas com outra vítima. De qualquer forma, eram tidos como um casal unido, mas quem pode sabê-lo? Não estou a distraí-lo da sua condução, pois não?
Dalgliesh lembrou-se de que Ackroyd, que não conduzia, sempre fora um passageiro nervoso.
De forma alguma.
Chegamos à noite de dezanove de Janeiro. O Wallace jogava xadrez e combinara ir efectuar uma partida no Clube Central de Xadrez, que se reunia num café no centro da cidade, às segundas e às quintas, à noite. Naquela segunda-feira, alguém telefonou para o café a perguntar por ele. Foi uma empregada que atendeu e chamou o presidente do clube, Samuel Beattle, para que falasse com a pessoa que telefonara. O Beattle assim fez e sugeriu ao homem que se achava do outro lado da linha que tentasse contactar o Wallace mais tarde, porque, nessa noite, devia jogar uma partida no clube, mas ainda não havia chegado. O homem terá explicado que lhe era impossível voltar a telefonar, porque celebrava o vigésimo primeiro aniversário da filha, mas deixou um recado para o Wallace, pedindo-lhe que o visitasse no dia seguinte, às sete e meia, para falarem acerca duma proposta de negócio. Deixou o seu nome, R. M. Qualtrough e a sua morada, Menlove Gardens East, Mossley Hill. O mais importante e interessante é que esse tal homem teve certa dificuldade em obter ligação para o café, quer genuína quer propositadamente. Em consequência disso, sabemos que a telefonista registou a hora do telefonema: dezanove horas e vinte minutos.
«No dia seguinte, o Wallace dirigiu-se a Menlove Gardens East que, como certamente sabe, não existe. Teve de apanhar três eléctricos para chegar à zona de Menlove Gardens, procurou a casa durante cerca de meia hora e pediu informações sobre a morada, pelo menos, a quatro pessoas, incluindo um polícia. Por fim, desistiu e voltou para casa. Os vizinhos da casa contígua, os Johnston, preparavam-se para sair quando ouviram alguém bater à porta das traseiras do número vinte e nove. Foram ver o que se passava e depararam com o Wallace, que lhes explicou que não conseguia entrar em casa. Enquanto ficaram ali, ele tentou abrir de novo a porta e a maçaneta girou. Entraram os três. O corpo da Julia Wallace jazia sobre o tapete da sala da frente. Tinha o rosto virado para baixo e a gabardina ensanguentada do Wallace a seu lado. Fora espancada até à morte num ataque de fúria. O crânio havia sido fracturado por onze golpes desferidos com uma força descomunal.
«Na segunda-feira, dois de Fevereiro, treze dias após o assassínio, o Wallace foi preso. Todas as provas contra ele eram circunstanciais. Não encontraram quaisquer vestígios de sangue nas suas roupas e a arma do crime desaparecera. Não havia qualquer prova física que o relacionasse com o assassínio. O que é interessante, nisto tudo, é que as poucas provas existentes tanto podiam sustentar a acusação como a defesa, dependendo do ponto de vista de cada pessoa. O telefonema, atendido no café, fora feito de uma cabina que ficava perto de Wolverton Street, numa altura em que o Wallace teria de passar por ali. Fez ele próprio o telefonema ou foi feito pelo assassino, que queria certificar-se de que o Wallace ia a caminho do café? Segundo a polícia, o Wallace revelou uma calma invulgar durante a investigação, sentado na cozinha, a acariciar o gato enroscado no seu regaço. Essa calma devia-se ao facto de ser ele o assassino ou de ser um homem estóico, que ocultava as suas emoções? Também não podemos esquecer as repetidas tentativas por ele feitas para encontrar uma morada que veio a revelar-se falsa... Serviram para estabelecer o seu álibi ou revelaram que o Wallace era um agente de seguros consciencioso, que precisava de ganhar a vida e não desistia facilmente de um novo negócio?
Enquanto esperava, parado, num semáforo, Dalgliesh recordou o caso. Se a investigação fora muito confusa e desorganizada, o julgamento não lhe ficara atrás. O juiz sumariara os factos a favor de Wallace, mas o júri havia demorado apenas uma hora para o condenar. Wallace interpusera recurso e, mais uma vez, o caso fizera história, quando fora dado provimento ao recurso, com base em que não ficara provada a sua culpabilidade com a certeza necessária para justificar o veredicto; na realidade, o júri havia-se enganado.
Ackroyd continuou a tagarelar alegremente, enquanto Dalgliesh se concentrava na estrada. Estava à espera de deparar com muito trânsito; a jornada de regresso a casa, numa sexta-feira, começava cada vez mais cedo, a cada ano que passava, com congestionamentos exacerbados por famílias que saíam de Londres em direcção às suas casas de fim-de-semana. Ainda não haviam chegado a Hampstead e Dalgliesh já se arrependera do impulso que o levara a visitar o museu, calculando mentalmente quantas horas perderia. Disse a si mesmo que não devia preocupar-se. A sua vida já era demasiado sobrecarregada. Porque havia de estragar aquela agradável folga com remorsos? Antes de chegarem a Jack Straw’s Castle, o tráfego parou e foram precisos alguns minutos até o Jaguar se juntar à fila estreita de automóveis que circulava por Spaniards Road, a estrada, em linha recta, que atravessava Hampstead Heath. Ali, arbustos e árvores achavam-se mais perto das bermas da estrada, dando a ilusão de que se estava em pleno campo.
Abrande a velocidade, Adam aconselhou Ackroyd, ou não poderá reparar na entrada, porque não é fácil descobri-la. Já estamos muito perto. Fica a menos de trinta metros, à sua direita.
De facto, não era fácil encontrar a entrada para o museu e, uma vez que a manobra implicava virar à direita e passar pelos outros carros, tão-pouco de fácil acesso. Dalgliesh avistou um portão aberto e, por trás, um caminho ladeado por arbustos e árvores, com ramos espessos e entrelaçados. À esquerda da entrada, havia uma placa preta, pregada ao muro, onde se lia, em letras brancas: MUSEU DUPAYNE. POR FAVOR, CONDUZA DEVAGAR.
Não se pode considerar propriamente um convite... comentou. Eles não querem ter visitantes?
Creio que não, pelo menos em grandes grupos. O Max Dupayne, que fundou o museu em mil novecentos e sessenta e um, considerava-o mais como um passatempo privado. O período entre as duas guerras fascinava-o ou, melhor dizendo, era a sua obsessão. Coleccionava tudo o que fosse relativo às décadas de vinte e de trinta, o que explica a existência de alguns dos quadros do museu: Dupayne conseguiu comprá-los, antes que os artistas se tornassem famosos. Também adquiriu as primeiras edições das obras de todos os grandes escritores da época, bem como de autores que ele achava serem dignos de figurar na sua colecção. Hoje em dia, a biblioteca é muito valiosa. No início, o museu era dedicado às pessoas que compartilhavam a sua paixão, e essa ideia influenciou a geração actual. Mas talvez as coisas mudem, agora que o Marcus Dupayne vai passar a dirigi-lo. Acaba de se reformar da Função Pública e talvez encare o museu como um desafio.
Dalgliesh seguiu por um caminho alcatroado tão estreito que dificultaria a passagem de dois carros. De cada lado, havia uma faixa de relva em frente de uma sebe espessa de rododendros; mais atrás, árvores finas e altas, com as folhas amarelecidas, contribuíam para tornar sombrio o caminho de acesso. Passaram por um rapaz novo, ajoelhado na relva, e por uma mulher de idade, magra, de rosto anguloso, que se achava de pé, a seu lado, como se estivesse a dar-lhe instruções. Entre os dois, via-se uma caixa de madeira, parecendo que estavam a plantar bolbos. O rapaz ergueu a cabeça e observou os ocupantes do carro, mas a mulher, para além de um rápido olhar, não lhes prestou qualquer atenção.
O caminho virava à esquerda para se tornar mais plano, depois da esquina. Foi então que o museu surgiu, inesperadamente, à frente deles. Dalgliesh parou o carro e, em silêncio, contemplou-o. O caminho dividia-se em dois para contornar um espaço circular e relvado, com um canteiro central de arbustos. Ao fundo, erguia-se uma casa de tijolo, simétrica, elegante, imponente na sua arquitectura e maior do que Dalgliesh esperava. A fachada era composta por cinco varandas a central, mais avançada, com duas janelas, uma por cima da outra, quatro janelas idênticas nos dois andares inferiores de cada lado da varanda central, e outras duas no telhado inclinado. Uma porta envidraçada, com painéis simétricos e pintada de branco, achava-se inserida numa composição intrincada de tijolos. A contenção e a total simetria do edifício conferia-lhe um ar ligeiramente ameaçador, mais institucional do que doméstico. Ostentava ainda uma outra característica invulgar: onde podia julgar-se haver pilastras, via-se um conjunto de painéis embutidos, com capitéis ornamentados por uma elaborada alvenaria, conferindo uma nota de excentricidade à fachada que, de outra forma, seria demasiado uniforme.
Reconhece a casa? perguntou Ackroyd.
Não. Devia?
Não, a menos que tenha visitado Pendell House, perto de Bletchingley. É uma construção excêntrica do Inigo Jones, datada de mil seiscentos ’e trinta e seis. O próspero proprietário de fábricas vitorianas que construiu esta casa, em mil oitocentos e noventa e quatro, viu Pendell House, gostou da sua arquitectura e mandou fazer uma igual. Afinal, o arquitecto da obra original já não estava vivo para poder protestar... Contudo, não foi ao extremo de copiar também o interior. Ainda bem, porque o de Pendell House é um pouco suspeito. Aprecia este estilo?
Ackroyd mostrava-se tão ansioso e ingénuo como uma criança, na esperança de que a sua opinião não desiludisse o seu interlocutor.
E deveras interessante, mas não teria reparado que se trata da imitação de uma casa do Inigo Jones. Gosto do estilo, mas já não tenho tanta certeza de que quisesse viver aqui. Simetrias a mais deixam-me pouco à vontade. Além de que nunca tinha visto painéis embutidos, em vez de pilastras, e decorados com um trabalho de alvenaria tão minucioso.
Nem você, meu caro, nem ninguém, segundo o Pevsner. Ao que parece, são únicos. Eu gosto. A fachada seria demasiado severa sem eles. Mas entremos para que possa descobrir o interior. Afinal, foi para isso que cá viemos. O parque de estacionamento fica atrás daqueles loureiros, à direita. O Max Dupayne detestava ver carros estacionados em frente da casa. Na verdade, detestava a maioria das manifestações da vida moderna.
Dalgliesh voltou a ligar o motor. Uma seta branca, pintada numa placa de madeira, levou-o ao parque de estacionamento. Era uma área de uns cinquenta metros por trinta, coberta por cascalho, cuja entrada ficava virada para sul. Doze carros achavam-se meticulosamente estacionados em duas filas. Dalgliesh encontrou um lugar vago ao fundo.
Não é lá muito espaçoso comentou. Que fazem eles num dia de grande afluência de visitantes?
Penso que os visitantes tentam estacionar no outro lado da casa. Há uma garagem ali, mas é usada pelo Neville Dupayne para guardar o seu Jaguar E-type. No entanto, nunca vi o parque de estacionamento cheio, nem, se quer saber, o museu apinhado de visitantes. Diria que é a afluência normal para uma tarde de sexta-feira. Além do mais, alguns dos carros pertencem aos funcionários.
De facto, não havia quaisquer indícios de vida quando se dirigiram à porta principal que, para Dalgliesh, era um tanto intimidante para o visitante casual; Ackroyd, porém, agarrou a maçaneta de bronze com aparente confiança, girou-a e abriu a porta.
Geralmente, fica aberta durante o Verão explicou. Com este sol, pode pensar-se que não correm qualquer pengo. Bom, mas o que interessa é que chegámos. Seja bem-vindo ao Museu Dupayne.
Dalgliesh seguiu Ackroyd até a um átrio espaçoso, cujo chão era revestido por quadrados de mármore preto e branco. À sua frente, erguia-se uma elegante escada que, ao fim dos primeiros vinte degraus, se dividia, seguindo para leste e para oeste, em direcção à larga galeria. De cada lado do átrio, havia três portas de mogno, com outras semelhantes mas mais pequenas, que comunicavam com a galeria superior. Na parede do lado esquerdo, via-se uma fileira de cabides e, por baixo destes, dois compridos bengaleiros. A direita, ficava a recepção, com o seu balcão curvo, de mogno, atrás do qual havia uma velha central telefónica, instalada na parede, e uma porta com a placa PRIVADO que Dalgliesh pensou ser a que dava acesso ao gabinete. O único sinal de vida era conferido por uma mulher, sentada atrás do balcão e que ergueu o olhar quando Ackroyd e Dalgliesh se lhe dirigiram.
Boa tarde, Miss Godby cumprimentou Ackroyd. Apresento-lhe Miss Muriel Godby, que se encarrega das entradas e nos mantém a todos na ordem. Este é o meu amigo, Mister Dalgliesh. Tem de pagar a entrada?
Claro que tenho de pagar replicou Dalgliesh.
Miss Godby fitou-o e Dalgliesh viu um rosto pálido, grave, com um par de olhos notáveis, por trás de óculos com uma armação estreita de chifre. A íris era de um amarelo-esverdeado, muito brilhante no centro, mas mais escuro no rebordo. O seu cabelo, de uma cor invulgar, entre o castanho-avermelhado e o dourado, era espesso e liso, separado por uma risca ao lado e preso por um gancho de concha de tartaruga, para mantê-lo afastado do rosto. Por baixo da boca pequena mas firme, o queixo não se coadunava com a sua aparente idade. Miss Godby não devia ter muito mais do que quarenta anos, mas o queixo e a parte superior do pescoço revelavam já uma certa flacidez da velhice. Embora houvesse sorrido a Ackroyd, fora pouco mais do que um relaxamento da sua boca, o que lhe dava uma expressão ao mesmo tempo desconfiada e levemente intimidante. Usava um conjunto de casaco e camisola azul-claro, de lã fina, e um colar de pérolas, o que a fazia parecer tão antiquada como algumas das fotografias de debutantes inglesas que podiam ver-se em velhos números da Country Life. Talvez se vestisse propositadamente daquela maneira para se adaptar às décadas que o museu expunha, pensou Dalgliesh. Certo era que não havia nenhum traço de beleza juvenil ou ingénua na aparência de Miss Godby. Um cartaz emoldurado, que se achava sobre o balcão, indicava os preços das entradas: cinco libras para os adultos, três libras e meia para os reformados e os estudantes, e admissão gratuita para as crianças com menos de dez anos e os desempregados. Dalgliesh entregou uma nota de dez libras e recebeu, com o troco, uma etiqueta autocolante, azul e redonda. Ao receber a sua, Ackroyd protestou:
Temos mesmo de usar isto? Faço parte da Associação dos Amigos do Museu. Há muito que me inscrevi.
Miss Godby mostrou-se inflexível.
É um novo sistema, Mister Ackroyd. Azul para os homens, rosa para as mulheres e verde para as crianças. É uma forma simples de comparar as receitas com o número de visitantes e de obter informações sobre as pessoas que servimos. Além de que, como é óbvio, ajuda o pessoal a ver quais os visitantes que pagaram.
Os dois homens afastaram-se.
E uma mulher eficiente que muito trabalhou para organizar este museu explicou Ackroyd, mas gostava que ela conhecesse os limites das suas funções. Daqui, podemos ver a disposição geral das salas: a primeira sala, do lado esquerdo é a galeria de quadros; a que se lhe segue, é a Sala do Desporto e Entretenimento, enquanto a terceira se dedica à história do período entre as duas guerras. E, ali, à direita, temos a sala do Traje, do Teatro e do Cinema. Tanto a biblioteca como a Sala do Crime ficam no piso superior. Sei que lhe interessa ver os quadros e visitar a biblioteca e, talvez, as restantes salas, e gostava muito de poder acompanhá-lo, mas tenho de trabalhar e é melhor começarmos pela Sala do Crime. Ignorando o elevador, Ackroyd subiu a escada central, com a sua eterna agilidade. Dalgliesh seguiu-o, ciente de que Muriel Godby o fitava, do seu posto, atrás do balcão, como se não estivesse certa de que era seguro deixá-los visitar o museu sozinhos. Tinham chegado à Sala do Crime, situada na ala este, na parte posterior do edifício, quando uma porta se abriu em frente do topo da escada. Ouviram o som de vozes exaltadas que se calaram subitamente, e um homem saiu de rompante. Hesitou por instantes, ao deparar com Dalgliesh e Ackroyd, mas, depois, cumprimentou-os com um aceno de cabeça e dirigiu-se para a escada, com o seu casaco comprido a adejar, como se apanhado pela veemência daquela saída intempestiva. Dalgliesh vislumbrou, de relance, uma madeixa rebelde de cabelo preto e dois olhos, brilhantes de raiva, num rosto corado. Quase de imediato, um outro homem surgiu à soleira da porta. Não se mostrou admirado ao encontrar visitantes, mas dirigiu-se directamente a Ackroyd.
Para que serve o museu? Foi o que o Neville Dupayne acabou de me perguntar. Para que serve? Pergunto-me se é mesmo filho do seu pai, se bem que a pobre Madeleine fosse demasiado virtuosa... Não tinha a vitalidade suficiente para actividades sexuais fora do matrimónio. Fico contente em voltar a vê-lo aqui Então, olhou para Dalgliesh. Quem é este?
A pergunta podia mostrar-se ofensiva se não houvesse sido formulada num tom de perplexidade e de interesse genuínos, como se aquele homem se achasse em frente de uma nova aquisição, mesmo que não particularmente interessante.
Boa tarde, James replicou Ackroyd. Apresento um amigo meu, Adam Dalgliesh. Adam, deixe-me apresentar-lhe James Calder-Hale, conservador e génio que tem a. seu cargo o Museu Dupayne.
Calder-Hale era alto e tão magro que quase parecia subnutrido. Tinha um rosto comprido e ossudo e uma boca grande e bem desenhada. O cabelo, que lhe tombava para a testa alta, começara a tornar-se grisalho, de forma irregular, com madeixas louro-claras salpicadas de fios brancos, o que lhe conferia um ar teatral. Os seus olhos, por baixo de sobrancelhas tão bem delineadas que pareciam depiladas, revelavam uma expressão inteligente e conferiam vigor ao rosto que, de outra forma, poderia ser descrito como afável. Dalgliesh, contudo, não se deixou iludir por aquela aparente sensibilidade; conhecera homens robustos e fisicamente activos com rostos de sábios recatados e alheios às coisas mundanas. Calder-Hale usava calças estreitas e amarrotadas, camisa às riscas e gravata azul-clara, mal apertada e demasiado larga, sob uma camisola de lã tão comprida, que quase lhe chegava aos joelhos. Calçava também pantufas de tecido aos quadrados. Exprimira a sua aparente fúria e irritação numa voz de falsete, muito aguda, que Dalgliesh suspeitava ser mais histriónica do que genuína.
Adam Dalgliesh? Já ouvi falar de si Aquele comentário soava mais a uma acusação. Um Caso para Responder e Outros Poemas. Não costumo ler poesia moderna, por ter uma preferência muito fora de moda por versos que respeitem a métrica e, ocasionalmente, rimem, mas, ao menos, os seus não são mera prosa disposta numa página de forma peculiar. Suponho que a Muriel sabe que estão aqui...
Inscrevi-me na associação. E veja, temos as nossas etiquetas adiantou Ackroyd.
Pois claro. Que pergunta mais tola a minha... Nem mesmo você, Ackroyd, passaria do átrio de entrada, se ela não quisesse. É uma verdadeira tirana, mas muito conscienciosa e, segundo me dizem, imprescindível. Perdoe-me pela minha veemência de há pouco. Não costumo perder as estribeiras, até porque, com qualquer um dos Dupayne, é um desperdício de energia. Bom, não quero interromper seja o que for que vieram fazer até cá.
Voltou-se para entrar no que devia ser o seu gabinete.
Que foi que disse ao Neville Dupayne? perguntou, então, Ackroyd, em voz alta. Que resposta lhe deu, quando ele perguntou para que servia o museu?
Calder-Hale hesitou antes de se virar para trás.
Disse-lhe o que ele já sabia. O Dupayne, tal como qualquer outro museu respeitável, fornece a custódia, a preservação, o registo e a exposição de peças antigas, que beneficiam os especialistas na matéria e todas as pessoas suficientemente interessadas em visitá-lo. Ao que parece, o Dupayne pensava que devia ter uma espécie de missão social ou missionária. Espantoso! Tive muito gosto em vê-lo. Despediu-se de Ackroyd e, depois, virou-se para Dalgliesh. E o senhor, também, claro. Há uma nova aquisição na galeria de quadros que talvez lhe suscite o interesse. Uma aguarela, pequena mas agradável, de Roger Fry, doada por um dos nossos visitantes regulares. Esperemos que possamos mante-la.
Que quer dizer com isso, James? inquiriu Ackroyd.
Claro, você ainda não sabe. O futuro deste lugar é incerto. O arrendamento vence-se no próximo mês e já se negociou outro. O velhote elaborou um estranho fideicomisso familiar. Pelo que percebi, o museu só pode continuar se todos os seus três filhos estiverem de acordo em assinar o novo contrato de arrendamento. Se o museu encerrar, será uma tragédia, mas, pessoalmente, não tenho qualquer autoridade para evitá-la, porque não sou um dos fiduciários.
Sem acrescentar mais, virou-se, entrou no gabinete e fechou a porta com firmeza.
Suponho que seria, de facto, uma tragédia para ele comentou Ackroyd. Trabalha aqui desde que se reformou do serviço diplomático. Sem ganhar qualquer salário, claro, mas tem um gabinete à sua disposição e conduz alguns privilegiados nas suas visitas ao museu. O pai dele e o velho Max Dupayne eram amigos, desde os tempos da universidade. Para o velhote, o museu era um passatempo privado, como os museus tendem a sê-lo para os respectivos conservadores. Não que ele não gostasse de receber visitantes... alguns até eram bem-vindos... mas pensava que um investigador genuíno valia mais do que cinquenta visitantes casuais, e agia em conformidade com essa convicção. Se alguém não soubesse o que era o Museu Dupayne nem conhecesse o horário de abertura ao público, então, não precisava de sabê-lo. Uma informação mais precisa podia atrair visitantes casuais, que quisessem entrar, para se abrigar da chuva, na esperança de encontrar algo que mantivesse os filhos sossegados durante meia hora.
Mas um visitante casual não informado poderia gostar da experiência objectou Dalgliesh, apreciar o que o museu tem para oferecer e descobrir o fascínio do que, no deplorável jargão contemporâneo, somos encorajados a chamar experiência de museu. Nesse ponto, um museu tem uma função educacional. O Dupayne não gostava dessa perspectiva?
Sim, pelo menos, em teoria, segundo creio. Se os herdeiros mantiverem o museu aberto, talvez sigam por esse caminho, mas não têm assim tanto para oferecer aqui, pois não? O Dupayne não é propriamente o Victoria & Albert ou o British Museum... Se nutre um interesse pelo período entre as duas guerras mundiais, como eu, o Dupayne proporciona-lhe praticamente tudo o que precisa, mas os anos vinte e trinta não são muito atraentes para o público em geral. Depois de se passar um dia aqui, viu-se tudo. Penso que o velho Dupayne sempre se ressentiu pelo facto de a sala mais popular ser a Sala do Crime. Ora, um museu inteiramente dedicado ao crime poderia ter êxito. Admira-me que ainda ninguém tenha pensado nisso. Existe o Black Musem, da Scotland Yard, e essa pequena a colecção, muito interessante, que a Polícia Fluvial possui, em Wapping, mas não os vejo a abrir as suas portas ao grande público. A admissão a esses dois museus é exclusivamente concedida mediante pedido escrito.
A Sala do Crime era espaçosa, com, pelo menos, nove metros de comprimento, e bem iluminada por três lustres suspensos, mas, para Dalgliesh, a primeira impressão foi a de uma obscuridade claustrofóbica, apesar das duas janelas, viradas para leste, e de outra, para sul. À direita da lareira ornamentada, havia uma segunda porta, simples, que devia estar permanentemente fechada, uma vez que não tinha puxador.
Ao longo de cada parede, alinhavam-se vitrinas e, por baixo destas, prateleiras com livros, presumivelmente relacionados com cada caso, bem como gavetas que continham documentos importantes e relatos da época. Por cima das vitrinas, fileiras de fotografias, a sépia e a preto e branco, muitas ampliadas, mas também algumas originais e francamente explícitas. A impressão que se tinha era a de uma colagem de sangue e de rostos lívidos sem expressão, de assassinos e de vítimas, unidos agora na morte, fitando o nada.
Dalgliesh e Ackroyd deram a volta à sala. Ali, expostos, ilustrados e analisados, achavam-se os casos de homicídio mais famosos do período entre as duas guerras. Nomes, rostos e factos acorreram, em grande profusão, à memória de Dalgliesh. A fotografia de William Herbert Wallace, sem dúvida mais novo do que na altura do seu julgamento, mostrando um rosto vulgar mas não de todo feio por cima de um colarinho, alto e engomado, com uma gravata estreita, apertada como um laço, a boca ligeiramente entreaberta, por baixo do bigode, e os olhos bondosos, por trás dos óculos de armação metálica. De seguida, uma fotografia de um jornal, com Wallace a apertar a mão do seu advogado, após o recurso. A seu lado, via-se o irmão; ambos eram mais altos do que qualquer outra pessoa do grupo, muito embora Wallace estivesse um pouco curvado. Vestira-se a preceito para a experiência mais aterrorizadora da sua vida. Usava um fato escuro e o mesmo colarinho alto e gravata estreita. O cabelo ralo, cuidadosamente dividido, brilhava por haver sido bem penteado. Era um rosto de certo modo característico do meticuloso e consciencioso burocrata e não tanto o de um homem a quem as donas de casa, depois de pagar a sua apólice semanal, convidariam a entrar na sala das traseiras para conversar um pouco e tomar chá.
E aqui está a bonita Marie-Marguerite Fahmy, que, em mil novecentos e vinte e três, matou a tiro o seu marido, um playboy egípcio, ainda por cima no Hotel Savoy. Este caso é notável devido à defesa apresentada pelo Edward Marshall Hall. Concluiu a sua brilhante alegação apontando a pistola ao júri, para a deixar cair, com todo o estrondo, enquanto pedia um veredicto de inocente. Ela era a autora do crime, claro, mas não foi condenada, graças ao seu advogado. O Marshall Hall também proferiu um discurso racista e, por conseguinte, censurável, ao sugerir que as mulheres que se casavam com o que ele chamou de orientais deviam esperar o tratamento que a sua constituinte recebera. Hoje em dia, teria graves problemas com o juiz, o presidente da Câmara dos Lordes e a imprensa. Mais uma vez, como pode verificar, meu caro, estamos perante um crime típico da respectiva época.
Pensava que, para a elaboração da sua tese, se baseara no método utilizado no crime e não nos procedimentos do sistema de justiça criminal da altura fez notar Dalgliesh.
Baseio-me em todas as circunstâncias. Eis outro exemplo de uma defesa brilhante, o chamado Homicídio do Baú de Brighton, em mil novecentos e trinta e quatro. Supõe-se que este baú que aqui vê, meu caro Adam, seja o baú original onde o Tony Mancini, um empregado de mesa de vinte e seis anos e ladrão cadastrado, enfiou o corpo da sua amante, uma prostituta de seu nome Violette Kaye. Foi o segundo homicídio que envolveu o baú de Brighton. O primeiro corpo, de uma mulher sem cabeça e sem pernas, fora encontrado na estação de comboios de Brighton, onze dias antes. Ninguém havia sido detido por esse crime. O Mancini foi julgado no Tribunal do Condado de Lewes, em Dezembro, e brilhantemente defendido pelo Norman Birkett, que lhe salvou a vida. O júri declarou-o inocente, mas, em mil novecentos e setenta e seis, o Mancini confessou. Este baú parece exercer um fascínio mórbido nos visitantes.
Não exercia qualquer fascínio sobre Dalgliesh. De súbito, sentiu a necessidade de olhar para o mundo exterior e dirigiu-se para uma das duas janelas viradas para leste. Em baixo, aninhada entre árvores novas, havia uma garagem de madeira e, a uma distância de doze metros, uma pequena barraca de jardim, munida com uma torneira de água. O rapaz que Dalgliesh vira, à entrada, lavava as mãos, que depois secou, esfregando-as nas calças. Ackroyd chamou o amigo, na sua ânsia de lhe falar sobre o último caso.
Conduzindo Dalgliesh à segunda vitrina, exclamou:
O Homicídio do Carro em Chamas, mil novecentos e quarenta. É, sem dúvida alguma, um sério candidato para o meu artigo. Já deve ter ouvido falar dele. O Alfred Arthur Rouse, um mercador ambulante de trinta e sete anos que vivia em Londres, era um mulherengo compulsivo. Além de ser bígamo, supõe-se que tenha seduzido cerca de oitenta mulheres, durante as suas viagens. Por causa da sua conduta, viu-se obrigado a desaparecer para sempre, de preferência que fosse dado como morto. Assim, a seis de Novembro, deu boleia a um vagabundo, numa estrada deserta, em Northamptonshire, matou-o, regou-o com gasolina, deitou fogo ao carro e fugiu. Para seu azar, dois jovens que regressavam a casa, situada numa aldeia ali perto, viram-no e perguntaram-lhe que chamas eram aquelas. O Rouse continuou o seu caminho e replicou, em voz alta: Parece que alguém ateou uma fogueira. Aquele encontro ajudou a prendê-lo. Se ele se houvesse escondido numa vala e deixado os rapazes passar, talvez se tivesse safado.
E o que torna este homicídio característico da época? perguntou Dalgliesh.
O Rouse combatera na guerra e ficara gravemente ferido na cabeça. O seu comportamento, tanto na cena do crime como durante o julgamento, foi excepcionalmente estúpido. Para mim, o Rouse é uma vítima da Primeira Guerra Mundial.
E podia, de facto, ter sido uma vítima, pensou Dalgliesh. O comportamento de Rouse, após o homicídio, e a sua espantosa arrogância no banco dos réus, contribuíra, mais do que o advogado de acusação, para lhe pôr a corda à volta do pescoço. Teria sido interessante conhecer a sua folha de serviços, durante a guerra, e descobrir de que forma fora ferido. Poucos dos homens que haviam combatido na Flandres tinham regressado a casa em perfeito estado de sanidade mental.
Dalgliesh deixou Ackroyd absorto nas suas pesquisas e foi procurar a biblioteca, situada na ala oeste do mesmo andar. Era uma sala comprida, com duas janelas que davam para o parque de estacionamento, e uma terceira, que dava para o caminho de entrada. As paredes estavam forradas por estantes de mogno, três das quais tinham compartimentos salientes. Havia ainda uma mesa rectangular, ao centro. Noutra mesa mais pequena, perto da janela, via-se uma máquina de fotocópias, com a indicação de que cada folha fotocopiada custava dez pence. Junto à máquina, estava sentada uma mulher de idade, que escrevia etiquetas para as peças expostas. Muito embora na sala não se sentisse frio, usava luvas sem dedos e um cachecol. Quando Dalgliesh entrou, anunciou numa voz doce e educada:
Algumas das vitrinas estão trancadas, mas possuo a chave, se quiser consultar os livros. Os exemplares de The Times e de outros jornais estão arquivados na cave.
Dalgliesh teve alguma dificuldade em pensar no que responder. Como lhe faltava ainda ver a galeria de quadros, não tinha tempo para examinar os livros com calma, mas, por outro lado, não queria que a sua visita fosse considerada demasiado exigente ou a mera satisfação de um capricho. Assim, replicou:
Obrigado, mas é a primeira vez que visito o museu e, por isso, estou a fazer uma ronda preliminar.
Passou lentamente em frente das estantes. Ali achavam-se obras, na maioria em primeiras edições, dos maiores escritores do período entre as duas guerras, além de alguns cujos nomes lhe eram desconhecidos. Os mais famosos estavam presentes: D. H. Lawrence, Virginia Woolf, James Joyce, George Orwell, Graham Greene, Wyndham Lewis, Rosamond Lehmann, uma lista representando a variedade e riqueza daqueles anos turbulentos. A secção dedicada à poesia possuía uma estante própria e continha as primeiras edições de Yeats, Eliot, Pound, Auden e Louis MacNeice. Havia, igualmente, os poetas da guerra, cujas obras tinham sido publicadas na década de vinte: Wilfred Owen, Robert Graves, Siegfried Sassoon. Dalgliesh desejou dispor de várias horas para poder folhear e ler aqueles livros. Contudo, mesmo que tivesse tempo, a presença daquela mulher silenciosa, com as mãos crispadas e enluvadas movendo-se laboriosamente, tê-lo-ia inibido. Gostava de estar só quando lia.
Dirigiu-se para uma das extremidades da mesa central onde uma meia-dúzia de exemplares de The Strand Magazine estava aberta, com as suas capas de cores diferentes, mostrando, todas elas, fotografias do Strand1, com a cena a variar ligeiramente de uma edição para a outra. Dalgliesh pegou no número referente ao mês de Maio de 1922. A capa anunciava contos de P. G. Wodehouse, Gilbert Frankau e E. Phillips Oppenheim e um artigo especial de Arnold Bennett, mas era nas primeiras páginas, dedicadas aos anúncios, que o início da década de vinte ganhava vida. Os cigarros, vendidos a cinco xelins c seis pence a centena, o quarto de dormir que podia ser mobilado por trinta e seis libras e o marido preocupado com o que era nitidamente a falta de libido da esposa, devolvendo, ao pequeno-almoço, a sua habitual boa disposição com uma pitada sub-reptícia de sais de fígado, adicionada ao chá. Por fim, desceu ao piso térreo e dirigiu-se à galeria de quadros. Percebia-se claramente que fora concebida para o estudante empenhado. Junto a cada quadro, havia um cartão emoldurado, com uma lista das principais galerias onde podiam ver-se outras obras do artista, enquanto duas vitrinas, de cada lado da lareira, continham cartas, manuscritos e catálogos, o que levou Dalgliesh a lembrar-se da biblioteca. Era, certamente, nas suas estantes que as décadas de vinte e de trinta se achava mais bem representada, pois tinham sido os escritores como Joyce, Waugh e Huxley, e não os artistas, que haviam interpretado com maior energia e influenciado os confusos anos do período entre as duas guerras. Passando lentamente em frente das paisagens de Paul e de John Nash, pareceu-lhe que o cataclismo de 1914-1918, dominado pela morte e pelo derramamento de sangue, criara um desejo nostálgico de uma Inglaterra onde reinasse a paz rural. Examinou uma paisagem típica de uma época de despreocupação, recriada para conferir tranquilidade e pintada num estilo que, apesar da sua diversificação e originalidade, era muito tradicional. Tratava-se de uma paisagem sem figuras humanas; os troncos cuidadosamente empilhados contra os muros da casa de uma quinta, os campos de cultivo sob céus apaziguadores, a extensão deserta de uma praia, eram recordações pungentes de uma
Rua de Londres, ilustrada nas capas de The Strand Magazine. (N. da T.)
geração morta. Dava a ilusão de que, depois de um dia de trabalho, os agricultores haviam pendurado as suas ferramentas e tinham-se despedido gentilmente da vida. E, no entanto, não existia paisagem mais precisa, mais perfeitamente ordenada. Aqueles campos não tinham sido cultivados para a posteridade, mas, sim, para uma árida imutabilidade. A natureza fora despedaçada, violada e corrompida, na Flandres, mas, naquele quadro, os campos surgiam restaurados para se inserir numa placidez eterna e imaginária. Dalgliesh não esperava encontrar uma pintura tradicional de uma paisagem tão perturbadora.
Foi com uma sensação de alívio que se dirigiu às anomalias religiosas de Stanley Spencer, aos retratos idiossincráticos de Percy Windham Lewis e aos retratos, mais trémulos e de traça mais casual, de Duncan Grant. Dalgliesh conhecia a maior parte desses pintores; quase todos lhe proporcionavam prazer, apesar de sentir que aqueles artistas haviam sido muito influenciados pelos nomes mais importantes da pintura continental. Max Dupayne não pudera adquirir as obras mais marcantes de cada um daqueles artistas, mas conseguira reunir uma colecção que, pela sua diversidade, era representativa da arte do período entre as duas guerras, o que, afinal, constituíra o seu primordial objectivo.
Quando Dalgliesh entrou na galeria, havia já outro visitante: um jovem magro, com calças de ganga, sapatos de ténis velhos e um anoraque grosso. Por baixo do tronco largo, as suas pernas pareciam tão finas como paus. Aproximando-se dele, Dalgliesh viu um rosto pálido, de traços delicados. O cabelo estava tapado por um gorro de lã enfiado até às orelhas. Desde o momento em que Dalgliesh entrara na galeria, o jovem mantinha-se imóvel, de pé, em frente de um quadro que representava uma cena de guerra, da autoria de Paul Nash. Como era uma obra que Dalgliesh também queria ver, ambos ficaram a analisá-lo, em silêncio, lado a lado, por um breve minuto.
O quadro, que se intitulava Passchendaele 2, era-lhe desconhecido, mas estava lá tudo: o horror, a futilidade e a dor, fixados nos corpos daqueles mortos desajeitados e incógnitos. Ali estava finalmente um quadro que se expressava com muito maior ressonância do que qualquer palavra. Não era a sua guerra, nem, tão-pouco, a do seu pai, e já ficara quase para trás na memória dos homens e mulheres vivos. No entanto, havia outro conflito mais moderno que tivesse provocado um pesar tão universal?
Mantiveram-se, lado a lado, contemplando o quadro em silêncio. Dalgliesh preparava-se para se afastar, quando o jovem exclamou:
Considera que é um bom quadro?
Era uma pergunta difícil e teve o efeito de provocar em Dalgliesh uma certa relutância em mostrar os seus conhecimentos.
Não sou artista nem historiador de arte replicou, mas parece-me um quadro muito bom. Gostava de tê-lo pendurado numa parede, em minha casa.
Aquela obra encontraria um lugar no apartamento obscuro e quase despojado de móveis, com vista para o Tamisa. Emma ficaria feliz de ver o quadro no apartamento e partilharia com Dalgliesh o que ele sentia naquele momento.
Costumava estar pendurado na parede da casa do meu avô, em Suffolk explicou o jovem. Comprou-o para se recordar do seu pai, meu bisavô, que morreu em Passchendaele.
Como veio o quadro parar aqui?
O Max Dupayne queria-o. Esperou até o meu avô estar desesperado, a nível monetário, e então comprou-o por uma ninharia.
Dalgliesh não conseguiu pensar num comentário apropriado e, passado um minuto, perguntou:
Vem ver o quadro com frequência?
Sim. Eles não podem impedir-me e, quando estou desempregado, não tenho de pagar entrada. Então, virando-se, acrescentou: Por favor, esqueça o que acabo de dizer. Nunca havia falado disto a ninguém. Fico contente por saber que gosta do quadro.
E afastou-se. Teria sido aquele momento de comunicação muda, em frente do quadro, que provocara uma tão inesperada confidência? O jovem podia ter mentido, mas Dalgliesh achava o contrário, o que o fez pensar em como Max Dupayne havia sido escrupuloso na sua obsessão. Decidiu não dizer nada a Ackroyd sobre aquele encontro e, depois de uma segunda volta pela galeria, subiu a escada do átrio, em direcção à Sala do Crime.
Sentado numa das poltronas colocadas ao lado da lareira, e com vários livros e jornais espalhados em cima da mesa, à sua frente, Conrad ainda não estava pronto para deixar o museu.
Sabia que, agora, há um novo suspeito para o assassínio do Wallace? Só veio a lume há pouco tempo.
Sim, já tinha ouvido falar nisso respondeu Dalgliesh. Era um homem de nome Perry, não é assim? Mas também está morto. Não vai resolver esse caso, passados tantos anos, Conrad. Além do mais, julgava que era a relação entre um homicídio e a sua época que o interessava, e não o deslindar desse mesmo homicídio.
Acabamos por nos embrenhar no caso, meu caro. Mas tem razão. Não posso dar-me ao luxo de me desviar da minha pesquisa. Não se preocupe se tem de partir. Ia agora mesmo passar pela biblioteca para tirar umas fotocópias e ficarei aqui até à hora do encerramento, às cinco da tarde. Miss Godby teve a amabilidade de se oferecer para me dar boleia até à estação de metro de Hampstead. No interior daquele formidável peito, bate um coração bondoso.
Passados poucos minutos, Dalgliesh seguia no seu carro, absorto no que havia visto. Aquele período entre as duas guerras em que a Inglaterra, cuja memória fora marcada, a ferro e fogo, pelos horrores da Flandres e pela perda de uma geração, seguira, cambaleante, por entre uma quase total desonra, até enfrentar e superar um perigo ainda maior. No entanto, Dalgliesh interrogou-se por que motivo aquele período exercia um tão grande fascínio sobre Max Dupayne, ao ponto de lhe dedicar a sua vida para o registar; afinal, fora à sua própria época que atribuíra um memorial. Devia ter comprado as primeiras edições de romances e conservado os jornais e as revistas, à medida que iam sendo publicados. Sustentei as minhas ruínas com estes fragmentos. Seria essa a razão? Queria imortalizar a si mesmo? Constituía aquele museu, fundado por ele e com o seu nome, a sua aspiração pessoal contra o esquecimento? Talvez fosse um dos atractivos de todos os museus. As gerações morrem, mas o que fizeram, pintaram ou escreveram, aquilo por que lutaram e o que alcançaram ainda se acha presente, pelo menos, em parte. Ao erigir memoriais não somente dedicados aos famosos, mas também em homenagem a legiões de mortos anónimos, esperamos assegurar a nossa própria frágil imortalidade?
Dalgliesh, contudo, não estava com disposição para permitir que os seus pensamentos recuassem até ao passado. O fim-de-semana que se avizinhava seria inteiramente dedicado à escrita, porque trabalharia doze horas por dia, na semana seguinte. Nada iria interferir com o tempo livre que teria naquele sábado e naquele domingo. Veria Emma, e pensar nela iluminaria toda a semana da mesma forma como, naquele momento, o enchia de esperança. Sentia-se tão vulnerável como um adolescente, apaixonado pela primeira vez, ciente de que se confrontava com o mesmo terror: que, quando lhe dissesse o que sentia, ela o rejeitasse. Mas as coisas não podiam continuar como estavam e tinha de arranjar coragem para arriscar-se a ser rejeitado ou para aceitar a fugaz suposição de que Emma talvez o amasse. No fim-de-semana encontraria o momento, o local e, mais importante do que tudo o resto, as palavras que ou os separariam ou os uniriam finalmente.
Foi então que reparou, de súbito, que ainda tinha a etiqueta azul colada ao casaco. Arrancou-a, amarrotou-a até formar uma bola e guardou-a no bolso. Estava contente por ter visitado o museu; havia desfrutado de uma nova experiência e admirado muito do que vira; porém, disse a si mesmo que não regressaria ao Dupayne.
No seu gabinete com vista para o St. James’s Park, o mais velho dos Dupayne esvaziava a sua secretária. Fazia-o como sempre fizera tudo na sua vida oficial: metodicamente, com ponderação e sem pressa. Havia poucas coisas para colocar de parte e menos ainda para levar consigo; quase todos os registos da sua vida oficial já tinham sido removidos. Uma hora antes, um paquete uniformizado levara o último arquivo, que continha as suas últimas minutas, com a mesma calma e falta de respeito, como se aquele esvaziamento final da sua secretária não fosse diferente de uma outra qualquer. Os seus poucos livros haviam sido gradualmente tirados da estante, que agora tinha apenas publicações oficiais, estatísticas criminais, relatórios governamentais, o Archbold e cópias dos códigos legislativos mais recentes. Outras mãos colocariam livros pessoais nas estantes vazias. Dupayne julgava saber de quem eram. Em seu entender, tratava-se uma promoção imerecida, prematura, ainda não conquistada, mas, por outro lado, o seu sucessor afirmara-se como um desses felizardos que, na gíria do serviço, eram eleitos como bem-sucedidos nas suas carreiras.
Também fora um desses felizardos, em tempos. Quando alcançara o cargo de secretário adjunto, falara-se dele como um possível chefe de departamento. Se tudo houvesse corrido bem, sairia, agora, com o título de Sir, e várias empresas da City estariam prontas a oferecer-lhe um cargo de director. Fora isso o que ele desejara, fora o que Alison desejara. A sua ambição profissional tinha sido consistente mas disciplinada, sempre consciente de que o êxito era imprevisível, ao passo que a ambição da mulher fora feroz e embaraçosamente pública. Havia momentos em que perguntava a si mesmo se fora por esse motivo que Alison se casara com ele. Cada manifestação social era sempre organizada com vista ao seu êxito profissional. Um jantar nunca era um encontro de amigos, mas sim um dos estratagemas de uma campanha cuidadosamente planeada. Nunca se dera conta do facto de que nada do que ela pudesse fazer influenciaria a carreira do marido, nem que a vida dele, fora do seu gabinete, tivesse qualquer importância, desde que não fosse publicamente vergonhosa. De tempos a tempos, ele dizia-lhe: Não pretendo acabar em bispo, reitor ou ministro. Não vou ser amaldiçoado nem despromovido só porque o clarete tinha um sabor desagradável a rolha.
Trouxera um pano do pó, que se achava dentro da sua pasta. Verificou se todas as gavetas da secretária estavam vazias. Na gaveta inferior, do lado esquerdo, a sua mão encontrou o coto de um lápis. Há quantos anos estaria ali?, perguntou a si próprio. Examinou os dedos manchados pela poeira acinzentada e limpou-os ao pano, que dobrou cuidadosamente e guardou num saco de lona. Deixaria a pasta em cima da secretária. A insígnia real dourada da pasta desbotara, mas trouxe-lhe à memória o dia em que lhe haviam dado, pela primeira vez, uma pasta oficial, preta, com as insígnias reluzentes, ff como uma divisa do departamento onde trabalhava.
Marcara presença no obrigatório cocktail de despedida, antes do almoço. O secretário permanente prestara-lhe os esperados elogios com suspeita fluência; já havia proferido antes aquele mesmo discurso. Um ministro fizera uma breve aparição e só uma vez consultara discretamente o relógio. A atmosfera fora de uma falsa boa disposição, intercalada com momentos marcados por um silêncio constrangedor. À uma e meia, as pessoas haviam começado a retirar-se de mansinho. Afinal, era sexta-feira e tinham compromissos para o fim-de-semana.
Depois de fechar a porta do seu gabinete, pela última vez, e de passar pelo corredor vazio, ficou surpreendido e até um pouco preocupado por não experimentar qualquer emoção. Tinha de sentir algo arrependimento, uma leve satisfação, uma ponta de nostalgia, a tomada de consciência de um rito de passagem de testemunho? Não sentia nada. Os funcionários do costume achavam-se atrás da recepção, no átrio de entrada, mas ambos estavam ocupados, o que lhe evitou a obrigação de proferir algumas palavras de despedida. Resolveu seguir pelo seu trajecto favorito, em direcção a Waterloo: atravessaria o St. James’s Park, desceria a Northumberland Avenue e passaria pela ponte pedonal de Hungerford. Transpôs as portas giratórias pela última vez e encaminhou-se para Birdcage Walk e para o suave rebuliço outonal do parque. Deteve-se a meio da ponte suspensa sobre o lago, como sempre fazia, para contemplar uma das mais belas vistas de Londres: a outra margem do rio e da ilha e, mais ao longe, as torres e os telhados de Whitehall. A seu lado, achava-se uma mulher com um bebé, num carrinho de três rodas, e uma criança, que lançava pão aos patos. O ar exalou um odor acre, quando os patos se precipitaram para apanhar os bocados de pão, provocando um remoinho nas águas do lago. Era uma cena que ele observara ao longo de vinte anos, durante os seus passeios à hora do almoço, mas que agora o fazia recordar memórias mais recentes e desagradáveis.
Fizera o mesmo percurso, uma semana antes. Havia uma mulher solitária que dava aos patos as côdeas das suas sanduíches. Era baixa e o seu corpo robusto estava coberto por um casaco grosso de tweed, enquanto um gorro de lã lhe tapava a cabeça até às orelhas. Depois de lançar a última côdea, a mulher virara-se e, ao vê-lo, sorrira-lhe timidamente. Desde a infância que ele sempre achara repulsivas, quase ameaçadoras, as manifestações inesperadas de intimidade por parte de estranhos. Baixara a cabeça, sem sequer sorrir, e afastara-se apressadamente. Havia sido brusco e indelicado para com aquela mulher, como se ela tivesse acabado de lhe fazer uma proposta indecente. Alcançara os degraus da coluna do duque de York antes de se aperceber de que aquela mulher não era uma estranha, mas sim Tally Glutton, a governanta do museu. Não a reconhecera porque não usava a bata castanha, geralmente abotoada até ao pescoço. Agora, aquela súbita lembrança fê-lo sentir-se irritado, tanto com Tally Glutton como com ele próprio. Cometera um erro embaraçoso, que teria de reparar quando voltasse a vê-la, o que podia revelar-se difícil, porque poderiam ter de falar sobre o futuro dela. O arrendamento da casa onde ela vivia, sem pagar qualquer quantia, devia valer, pelo menos, três mil e quinhentas libras por semana. As casas, em Hampstead, não eram baratas, especialmente aquelas com vista para o Heath. Se ele decidisse substituí-la, o alojamento gratuito seria um pretexto. Talvez pudessem contratar um casal; a mulher trataria da limpeza do museu, enquanto o marido se encarregaria do jardim. Por outro lado, Tally Glutton era muito trabalhadora e todos gostavam dela. Talvez fosse imprudente alterar a harmonia doméstica quando tinham de proceder a tantas outras mudanças. Como já era de calcular, Caroline insistiria em manter Glutton e Godby, e ele não queria discutir com a irmã. Muriel Godby não colocava quaisquer problemas. Ganhava um salário baixo e era muitíssimo competente, qualidades raras nos tempos que corriam. Talvez, mais tarde, surgissem outros problemas a nível hierárquico. Saltava à vista que Godby achava que só devia responder perante Caroline, não sem alguma razão, uma vez que fora a irmã dele que a contratara. Mas a distribuição dos deveres e responsabilidades podia esperar até o novo contrato de arrendamento ser assinado. Por ele, ficaria com as duas mulheres. Quanto ao rapaz, Ryan Archer, não trabalharia por muito tempo no museu. Os jovens raramente aqueciam o lugar. Se, ao menos, pudesse sentir-me arrebatado, ou, enfim, experimentar um sentimento intenso por algo... pensou. Havia muito que a sua carreira deixara de lhe proporcionar satisfação emocional. Até a música começara a perder o seu poder. Lembrou-se da última vez em que tocara o Concerto para Dois Violinos, de Bach. Fora há três semanas, como seu professor. A actuação havia sido correcta, até sensível, mas não lhe saíra do coração. Talvez metade de uma vida de neutralidade política, de uma cuidadosa análise de ambos os lados de qualquer discussão houvesse nutrido uma prudência que lhe debilitara o espírito. Agora, todavia, sentia-se esperançado. Talvez encontrasse o entusiasmo e a realização por que tanto almejava, assim que passasse a dirigir o museu com o seu nome. Preciso disto, pensou. Posso transformá-lo num êxito. Não vou permitir que o Neville mo tire. Atravessava já a estrada, no Athenaeum, quando a sua mente começou a afastar-se do passado recente. A revitalização do museu fornecer-lhe-ia um interesse capaz de substituir e redimir todos aqueles anos indistintos.
O regresso à sua casa isolada, monótona e convencional, situada numa rua arborizada nos subúrbios de Wimbledon, não foi diferente do de outros dias. Como de costume, a sala de estar achava-se imaculada. Da cozinha, saía um ténue odor a comida. Sentada em frente à lareira, Alison lia o Evening Standard. Ao vê-lo entrar, dobrou cuidadosamente o jornal e levantou-se para ir receber o marido.
O secretário de Estado apareceu?
Não, e nem isso seria de esperar, mas o ministro fez uma breve aparição.
Bom, eles sempre deixaram bem claro o que pensavam de ti. Nunca te dispensaram o respeito que mereces.
Alison falava com menos rancor do que seria de esperar. Observando-a, ele julgou detectar na voz dela uma excitação reprimida, um misto de culpa e de rebeldia.
Podes servir-me um xerez, meu querido? Há uma garrafa nova de Fino no frigorífico.
O afecto com que ela o tratava resultava do hábito. A imagem que Alison transmitira ao mundo, ao longo de vinte e três anos de casamento, era a de uma mulher feliz e afortunada; enquanto outros matrimónios podiam falhar, de forma humilhante, o dela era sólido.
Quando ele pousou o tabuleiro, Alison anunciou:
Almocei com o Jim e a Mavis. Estão a planear uma viagem à Austrália, no Natal, para ver a Moira, que agora vive em Sydney com o marido. Pensei que talvez pudesse ir com eles.
O Jim e a Mavis?
Os Calvert. Deves lembrar-te deles. Ela está comigo na Comissão de Ajuda aos Idosos. Jantaram em nossa casa há um mês.
A mulher ruiva com mau hálito?
Oh, ela não costuma ter mau hálito. Deve ter sido qualquer coisa que comeu. Além de que sabes como o Stephen e a Susie têm insistido para que os visitemos, para não falar dos nossos netos. Parece-me uma oportunidade demasiado boa para deixá-la escapar, porque teríamos companhia durante o voo, que, devo confessar, é a parte da viagem que mais me assusta. O Jim é tão competente que, provavelmente, conseguirá arranjar-nos bilhetes na classe executiva pelo preço dos da classe económica.
Não posso ir à Austrália, nem neste ano nem no próximo. Há a questão do museu. Vou assumir a direcção. Pensei que to tinha explicado. Será um trabalho a tempo inteiro, pelo menos, no princípio.
Sim, bem sei, meu querido, mas podes arranjar alguns dias de férias e ir visitar-me, enquanto eu estiver na Austrália. E que quero fugir ao Inverno.
Quanto tempo pensas ficar por lá?
Seis meses, talvez um ano. Não vale a pena fazer uma viagem tão longa para uma estada curta. Mal teria tempo para recuperar da diferença de fusos horários. Não ficarei todo o tempo com a Susie e o Stephen. Ninguém quer uma sogra em casa durante meses a fio. O Jim e a Mavis estão a pensar em viajar pelo país. Jack, o irmão da Mavis, far-nos-á companhia. Assim, seremos quatro e não me sentirei de trop. Dois é bom, três é sempre de mais.
Estou a ouvir a minha mulher a pôr fim ao nosso casamento, pensou ele, admirado por pouco lhe importar tal perspectiva.
Podemos dar-nos a esse luxo, não é verdade? continuou Alison. Vais receber uma boa indemnização.
Sim, é um luxo que podemos permitir-nos. Fitava-a com a mesma falta de emoção com que analisaria uma estranha. Aos cinquenta e dois anos, ela ainda era atraente, com uma elegância bem preservada, quase clínica. Ainda a desejava, se bem que não com frequência e nunca apaixonadamente. Era raro fazerem amor, em geral, apenas depois de uma ocasião em que a bebida e o hábito provocavam a rápida satisfação de uma sexualidade insistente. Nada tinham a aprender de novo um com o outro, nem, tão-pouco, o queriam. Ele sabia que, para a mulher, aquelas monótonas e ocasionais cópulas reafirmavam que o casamento ainda existia. Podia ter-lhe sido infiel, mas sempre fora convencional. Os casos amorosos dela eram mais discretos do que furtivos. Ela fingia que não existiam, enquanto ele fingia que não sabia. O seu casamento era regulado por uma concordata jamais rectificada por palavras. Ele fornecia o sustento, ela certificava-se de que o marido tinha uma vida confortável, que as suas preferências eram satisfeitas, que as suas refeições eram excelentes e que era poupado até mesmo ao mais insignificante inconveniente da vida doméstica. Cada um respeitava os limites de tolerância do outro, no que, basicamente, era um casamento por conveniência. Alison fora uma boa mãe para Stephen, o único filho do casal, e era uma dedicada avó dos filhos de Stephen e da mulher, Susie, que a receberiam mais calorosamente na Austrália do que a ele.
Que pensas fazer desta casa? perguntou, mais relaxada, depois de lhe comunicar a notícia. Não vais querer viver numa casa tão grande. Deve valer cerca de setecentos e cinquenta mil libras. Os Rawlinson obtiveram seiscentas mil libras por High Trees e precisava de grandes reformas. Se quiseres vender a casa antes do meu regresso, por mim, não há problema. Terei pena de não estar cá para te ajudar, mas tudo o que precisas é de uma empresa de mudanças de confiança.
Então, ela pensava voltar, mesmo que temporariamente. Talvez a sua nova aventura não fosse diferente das outras, embora mais prolongada. Depois, haveria assuntos a tratar, incluindo a parte dela na venda da casa.
Provavelmente, venderei a casa, mas não tenho pressa - respondeu ele, por fim.
Não podes mudar-te para o apartamento do museu? Parece-me a opção mais óbvia.
A Caroline nunca concordaria. Considera aquele apartamento como a sua casa, desde que passou a viver lá, após a morte do nosso pai.
Mas ela não mora realmente lá, pelo menos, durante o tempo todo. Além do mais, tem os seus aposentos na escola. Ao passo que tu viverias ali todo o ano e poderias vigiar a segurança do museu. Se bem me lembro, o apartamento é amplo e agradável. Penso que te sentirias bem lá.
À Caroline precisa de sair da escola, de tempos a tempos. O seu preço por concordar em manter o museu aberto será o de ficar com o apartamento para ela. Ora, preciso do voto dela. Conheces bem as condições do fideicomisso.
Nunca as compreendi.
É muito simples. Toda e qualquer decisão importante relativa ao museu, incluindo a negociação de um novo contrato de arrendamento, exige o consentimento dos três fiduciários. Se o Neville não assinar, será o fim do museu.
Alison, de súbito, revelou uma genuína indignação. Talvez planeasse deixá-lo e trocá-lo por um amante, permanecer na Austrália ou regressar, consoante os seus caprichos, mas estaria sempre a seu lado, em qualquer discussão no seio da família Dupayne. Era capaz de lutar, de forma implacável, pelo que achava ser aquilo que o marido queria.
Nesse caso, tu e a Caroline têm de obrigá-lo a assinar! gritou. Que se passa com o Neville? Tem emprego próprio e nunca se interessou pelo museu. Não podes ter todo o teu futuro arruinado só porque o Neville não quer assinar um documento. Tens de pôr cobro a esse disparate.
Ele pegou na garrafa de xerez e, aproximando-se dela, voltou a encher os cálices, que ambos ergueram ao mesmo tempo, como para fazer um brinde.
Tens razão anuiu ele, em tom grave. Se for necessário, terei de impedir o Neville.
No sábado de manhã, às dez horas em ponto, Lady Swathling e Caroline Dupayne sentaram-se na sala da reitora da escola para a sua reunião semanal. O facto de ser uma ocasião quase formal, que só podia ser cancelada em consequência de uma emergência pessoal e que era interrompida unicamente às onze horas, quando o café era servido, constituía uma característica típica da relação entre as duas mulheres, assim como a disposição da mobília na sala. Sentavam-se, uma em frente da outra, em poltronas idênticas, a uma secretária dupla de mogno, junto da grande janela virada para sul, que oferecia uma vista do jardim, com as suas roseiras cuidadosamente tratadas, exibindo os caules espinhosos acima de um solo livre de ervas daninhas. Por trás do jardim, avistava-se o Tamisa, cujas águas eram de um tom prateado-escuro, sob o céu matinal.
A Casa Richmond fora o principal bem com que Lady Swathling contribuíra para a sua sociedade com Caroline Dupayne. A sua sogra fundara a escola e deixara-a, em herança, primeiro, ao filho e, agora, à nora. Até à chegada de Caroline Dupayne, nem a escola nem a casa haviam recebido obras de melhoramento, mas a casa, tanto nos bons como nos maus momentos, mantivera a sua beleza, bem como a sua proprietária, na sua própria opinião e na dos outros.
Lady Swathling nunca perguntara a si própria se gostava ou não da sua sócia. Não era o tipo de pergunta que formulasse a respeito de quem quer que fosse. Para ela, as pessoas ou eram úteis ou não eram, a sua companhia era agradável ou 51 revelavam-se maçadoras e, então, evitava-as. Gostava que os seus conhecidos tivessem boa aparência ou, se os seus genes e o destino não os houvessem favorecido, ao menos que se vestissem convenientemente e tirassem o máximo partido da sua aparência. Nunca entrava na sala da reitora para a reunião semanal sem, primeiro, se mirar no grande espelho oval que ficava ao lado da porta. Esse exame era agora maquinal, e a segurança que lhe conferia, desnecessária. Nunca precisava de alisar o cabelo, salpicado de fios prateados, que era penteado em cabeleireiros caros, mas nunca tão rigidamente disciplinado que pudesse sugerir uma preocupação obsessiva com o aspecto exterior. A sua saia, de corte impecável, chegava-lhe a meio da barriga da perna, comprimento a que ela aderira apesar das várias mudanças impostas pela moda. Um casaco de caxemira cobria, com uma aparente despreocupação, a blusa creme, de seda pura. Tinha consciência de que os outros a viam como uma mulher distinta e bem-sucedida, que controlava a sua vida; e era precisamente assim que ela se via. O que contava, aos cinquenta e oito anos, era o que contara, aos dezoito: a educação e uma boa estrutura óssea. Estava ciente, também, de que a sua aparência era um trunfo para a escola, tal como o seu título. Na verdade, havia sido, a princípio, uma baronia Lloyd George, atribuída, como sabiam bem os cognoscenti, pelos favores que ela prestara ao primeiro-ministro e ao partido mais do que havia feito pela nação, mas, agora, só os ingénuos e os inocentes se preocupavam ou ficavam admirados com aquele tipo de patrocínio; afinal, um título era sempre um título.
Nutria pela casa uma paixão que nunca sentira por nenhum ser humano. Nunca entrava ali sem experimentar um súbito prazer físico por ela lhe pertencer. A escola, com o seu nome, era, finalmente, bem-sucedida, e havia dinheiro bastante para mantê-la, bem como o jardim, e ainda ficar com algumas economias. Sabia que devia aquele êxito a Caroline Dupayne. Podia recordar quase cada palavra da conversa tida, sete anos antes, quando Caroline, que trabalhava para ela como secretária particular, havia sete meses, apresentara o seu plano para a reforma, com algum descaramento e sem sequer pedir autorização, levada mais pela sua abominação pela desordem e pelo fracasso do que pela sua ambição pessoal.
A não ser que procedamos a uma mudança, os lucros continuarão a descer afirmara Caroline. Para lhe ser sincera, existem dois problemas: não estamos a oferecer qualidade em troca do dinheiro que cobramos e não sabemos qual é o nosso objectivo. Estes dois problemas são fatais. Não podemos continuar a viver no passado e a actual conjuntura política está do nosso lado. Para os pais, não existe qualquer vantagem, hoje em dia, em enviar as filhas para estudar no estrangeiro: a nova geração de meninas ricas pratica esqui, todos os Invernos, em Klosters, e viaja desde a mais tenra idade. O mundo é um lugar perigoso e provavelmente tornar-se-á ainda mais perigoso. Os pais mostrar-se-ão cada vez mais ansiosos por verem as filhas concluir a sua formação em Inglaterra. E que queremos dizer com concluir a sua formação? O conceito está desactualizado e é quase hilariante para os jovens. De nada serve oferecermos o habitual programa de lições de culinária, de arranjos florais, de puericultura, de etiqueta, sem lhe adicionarmos alguma cultura geral. Podem obter todas essas noções gratuitamente, se o quiserem, nos cursos nocturnos das instituições locais. A escola também terá de ser vista como discriminatória. Não haverá mais inscrições automáticas, só porque o papá pode pagar as propinas. E nem pensar em aceitarmos mais idiotas; não conseguem nem querem aprender o que quer que seja, desencorajando e irritando as colegas. Nem, tão-pouco, inadaptadas com problemas psicológicos. A escola não é uma clínica psiquiátrica de luxo. E, muito menos, delinquentes. Surripiar objectos do Harrods ou do Harvey Nichols não é diferente de roubar no Woolworth’s, mesmo que a mamã tenha conta nessas lojas e o papá possa pagar a caução.
Tempos houve em que podíamos estar certas de que as pessoas com uma certa linhagem se comportariam de determinada forma declarara Lady Swathling com um suspiro.
Deveras? Nunca reparei. E Caroline continuara, implacavelmente. Acima de tudo, precisamos de oferecer qualidade em troca do dinheiro. No fim do ano escolar ou do curso de dezoito meses, as alunas deverão poder demonstrar os seus esforços. Temos de justificar as nossas propinas... Só Deus sabe como já são caras. Antes de mais, elas precisam de saber trabalhar com computadores. Conhecimentos administrativos e de secretariado serão sempre uma mais-valia. Depois, temos de nos certificar de que serão fluentes numa língua estrangeira. Se já souberem falar alguma, ensinar-lhes-emos uma segunda. As lições de culinária também deverão ser incluídas; é matéria muito popular, prática e está na moda, mas deverá ser ensinada ao nível de um cordon bleu. Quanto às outras disciplinas, aptidões sociais, puericultura, etiqueta... serão opcionais. Não haverá problema com a arte. Temos acesso a colecções privadas e estamos a um passo de Londres. Pensei ainda que poderíamos arranjar intercâmbios com escolas de Paris, Madrid e Roma.
E temos os recursos necessários para essas reformas? perguntara Lady Swathling.
Será difícil, durante os dois primeiros anos, mas depois as reformas começarão a dar lucro. Quando uma rapariga disser: Estudei um ano em Swathling’s, isso deverá significar algo com valor no mercado. Assim que alcançarmos o devido prestígio, os lucros não tardarão a aumentar.
E assim havia sido. Swathling’s tornara-se no que Caroline Dupayne planeara. Lady Swathling, que nunca esquecia uma ofensa, também nunca esquecia uma vantagem. Caroline Dupayne tornara-se, primeiro, vice-reitora e, mais tarde, sócia. Lady Swathling sabia que a escola floresceria sem ela própria, mas nunca sem a sócia. E havia ainda a sua dívida de gratidão para com Caroline. Podia deixar-lhe, em herança, tanto a escola como a casa. Lady Swathling não tinha filhos nem parentes próximos; por conseguinte, não haveria ninguém para impugnar o seu testamento. E agora que Caroline enviuvara Raymond Pratt morrera, no seu Mercedes, depois de chocar contra uma árvore, em 1998, não tinha um marido que lhe exigisse a sua parte dos bens. Lady Swathling ainda não falara com Caroline acerca dessa sua intenção. Afinal, não havia pressa. Estavam muito bem assim, além de que lhe agradava pensar que, pelo menos numa coisa, era ela que detinha o poder.
Analisaram metodicamente os assuntos.
Está contente com a nova estudante, a Mareia Collinson? perguntou Lady Swathling.
Muito mesmo. A mãe dela é uma tola, mas a rapariga não. Tentou entrar em Oxford, mas não conseguiu. Não faz sentido ir para uma escola de preparação para os exames de acesso a Oxford, quando ela já tem em quatro disciplinas a nota máxima. Vai tentar novamente no ano que vem, na esperança de que a sua persistência seja recompensada. Ao que parece, ou é Oxford ou nada, o que não considero uma atitude muito racional, tendo em conta a concorrência. Teria maiores probabilidades se viesse de uma escola pública, e não me parece que um ano aqui lhe sirva de grande coisa. Não lhe disse isto, como é evidente. Quer tornar-se especialista em informática; é essa a sua maior prioridade. E escolheu o chinês como língua estrangeira.
Isso não levantará problemas?
Não creio. Conheço uma pós-graduada, em Londres, que ficaria feliz em lhe dar aulas particulares. A rapariga não tem qualquer interesse em passar um ano no estrangeiro. Parece desprovida de qualquer consciência social. Disse que tinha tudo o que precisava na escola e que, de qualquer maneira, o ensino no estrangeiro era apenas uma forma de caridade imperialista. Recorre aos chavões intelectuais que estão na moda, mas é inteligente.
Bom, se os pais dela podem pagar as propinas... Passaram a outro assunto. Durante a pausa para o café, Lady Swathling comentou:
Na semana passada, encontrei a Célia Mellock no Harvey Nichols. Enquanto conversámos, mencionou o Museu Dupayne, mas não sei porquê. Afinal, só esteve aqui durante dois trimestres. Afirmou que era estranho os alunos daqui nunca visitarem o museu.
A arte do período entre as duas guerras não faz parte do nosso currículo replicou Caroline. As jovens modernas não se mostram muito interessadas nos anos vinte e trinta. Como sabe, estamos a especializar-nos, neste trimestre, em arte moderna. Poderemos organizar uma visita ao Dupayne, mas o tempo será mais bem aproveitado se o passarmos na Tare Gallery.
Ao despedir-se, disse algo curioso explicou Lady Swathling. Que valia a pena visitar uma segunda vez o Dupayne e que lhe estava grata, a si, por mil novecentos e noventa e seis. Não explicou porquê. Perguntei a mim própria o que queria dizer com aquilo...
A memória de Lady Swathling podia ser algo errática, mas nunca se enganava no que dizia respeito a quantias e datas. Caroline serviu-se de mais café.
Nada de importante, suponho. Nem sequer tinha ouvido falar dela em mil novecentos e noventa e seis. Sempre foi uma rapariga que gostava de ser o centro das atenções. A história do costume: a filha única de pais ricos, que lhe dão tudo, menos algum do seu tempo.
Tenciona manter o museu aberto? Não há um problema qualquer com o arrendamento?
A pergunta parecia absolutamente inofensiva, mas Caroline Dupayne sabia que era mais do que isso. Lady Swathling sempre valorizara a ténue relação da escola com um museu prestigioso, se bem que pequeno. Fora, aliás, uma das razões porque aprovara a decisão da sua sócia em voltar a usar o apelido de solteira.
Não há nenhum problema em relação ao arrendamento retorquiu Caroline. Tanto o meu irmão mais velho como eu estamos determinados a que o Museu Dupayne continue.
E o seu outro irmão? insistiu Lady Swathling.
O Neville decerto vai concordar connosco, e assinaremos o novo contrato de arrendamento.
Eram cinco da tarde de domingo, vinte e sete de Outubro; o lugar, Cambridge. Por baixo da Ponte Garrett Hostel, os frágeis ramos dos salgueiros arrastavam-se no ocre escuro do rio. Debruçadas sobre a ponte, Emma Lavenham, professora de Literatura Inglesa, e a sua amiga, Clara Beckwith, observavam as folhas amarelas que eram levadas, corrente abaixo, como os últimos vestígios do Outono. Emma não podia passar por uma ponte pedonal sem se deter para contemplar a água, mas naquele momento Clara endireitou-se.
É melhor irmos andando. A última parte do caminho até Station Road demora mais tempo do que seria de esperar.
Viera de Londres para passar o dia com Emma em Cambridge. Haviam conversado, almoçado e passeado nos jardins de Fellows. A meio da tarde, tinham sentido a necessidade de um exercício mais vigoroso e decidido ir, a pé, até à estação pelo trajecto mais longo, que contornava as traseiras das faculdades e seguia em direcção à cidade. Emma gostava de Cambridge, no início de um novo ano académico. A sua imagem mental do Verão era a de pedras reluzentes que se viam através de uma névoa de calor, de relvados onde se projectavam sombras, de flores exalando o seu perfume contra muros onde batia o sol, de botes conduzidos com energia e prática através de águas brilhantes ou balouçando suavemente sob espessos ramos, de música de baile distante e de vozearia. Não era, contudo, o seu trimestre favorito; havia algo de frenético, juvenil e tímido, traduzido por uma grande ansiedade, naquelas semanas de Verão. Existia ainda o trauma dos exames e das febris revisões de última hora, a procura implacável de prazeres a que era forçoso renunciar em breve e a melancólica consciência das despedidas iminentes. Emma preferia o primeiro trimestre de um novo ano académico, com o interesse em conhecer os novos alunos, o fechar das cortinas, que protegiam do anoitecer, pontilhado pelas primeiras estrelas, o repicar longínquo de sinos e, tal como naquele momento, o odor característico do rio, da neblina e dos solos barrentos de Cambridge. O Outono chegara mais tarde, naquele ano, após uma das mais belas meias estações de que ela conseguia lembrar-se. Mas começara, finalmente. Os candeeiros de rua reflectiam a sua luz num tapete castanho-dourado de folhas mortas, que se desfaziam sob os seus pés, enquanto podia sentir no ar os primeiros odores agridoces do Inverno.
Emma usava um casaco comprido de tweed, botas altas, de couro, mas não trazia chapéu, porque a gola do casaco lhe emoldurava o rosto. Clara, cerca de sete centímetros mais baixa, caminhava ao lado da amiga. Usava um casaco curto, forrado de malha, e um gorro de lã, às riscas, que quase lhe tapava a franja lisa e preta. Levava ao ombro o seu saco de viagem, com livros que comprara em Cambridge, mas que carregava com a mesma facilidade com que o faria se o saco estivesse vazio.
Clara apaixonara-se por Emma durante o seu primeiro trimestre em Cambridge. Não era a primeira vez que sentia uma forte atracção por uma mulher obviamente heterossexual, mas aceitara aquela desilusão com o seu habitual cepticismo irónico e esforçara-se por conquistar a amizade de Emma. Clara concluíra o curso livre de Matemática. Não sentia qualquer desejo de se lançar numa carreira académica, declarando que a academia, quando levada a sério, tornava os homens amargos ou afectados, enquanto as mulheres, a não ser que se interessassem por outras coisas, ficavam ainda mais excêntricas. Depois da universidade, mudara-se de imediato para Londres onde, para surpresa de Emma e até da própria Clara, seguira com êxito uma carreira muito bem remunerada, como gestora financeira na City. A maré da prosperidade vazara, deixando atrás de si vários náufragos e os despojos do fracasso e da desilusão, mas Clara havia sobrevivido. Explicara a Emma, horas antes, a razão da sua inesperada escolha a nível profissional.
Tenho um salário astronómico, mas vivo confortavelmente com um terço do que ganho e invisto o resto. Os homens entram em stresse, porque lhes dão bónus de meio milhão de libras, mas começam a viver como se ganhassem um milhão por ano: a casa luxuosa, o carro de último modelo, as roupas de marca, a mulher gastadora, a bebida... Depois, como não podia deixar de ser, vivem no terror de serem despedidos. Pois, no meu caso, a empresa pode despedir-me amanhã que pouco me importarei com isso. O meu objectivo é poupar três milhões e sair da capital para fazer algo que sempre quis fazer.
Tal como?
A Annie e eu pensámos que talvez pudéssemos abrir um restaurante, perto do campus de uma dessas universidades modernas, onde teríamos um grupo de clientes assíduos, desesperados por encontrar comida decente a preços que possam pagar; sopa caseira, saladas que sejam mais do que alface picada com meio tomate. A comida seria, na sua maioria, vegetariana, claro, mas preparada com imaginação. Talvez em Sussex... Um restaurante nos arredores de Falmer. E uma ideia... A Annie está entusiasmada, mas acha que deveríamos fazer algo que se revelasse útil para a sociedade.
São poucas as coisas mais socialmente úteis do que fornecer comida decente à juventude, a preços razoáveis.
Quando se trata de gastar um milhão de libras, a Annie pensa a nível internacional. Tem qualquer coisa da Madre Teresa de Calcutá.
Seguiram caminho, lado a lado, em silêncio. Então, Clara perguntou:
Como foi que o Giles reagiu, quando o deixaste?
Mal, como seria de esperar. Pelo seu rosto passou uma sucessão de emoções: primeiro, surpresa, depois, incredulidade, autocomiseração, e por fim, raiva. Parecia um actor que ensaiava expressões faciais em frente do espelho. Pergunto a mim mesma como foi que cheguei a gostar dele. ”
Mas gostaste.
Sim, gostei. O problema não era esse.
Ele julgava que o amavas.
Não. Estava convencido, isso sim, de que eu o achava tão fascinante como ele se acha a si próprio, e que não seria capaz de resistir a casar com ele, se ele condescendesse em propor-me casamento.
Tem cuidado, Emma riu-se Clara. Isso está a soar a azedume.
Não, não, a sério. Nenhum de nós tem razões para se orgulhar. Usámo-nos mutuamente. Ele era a minha defesa; eu era a namorada de Giles, o que me tornava intocável. A supremacia do macho dominante é aceite mesmo na selva académica. Deixavam-me em paz e pude concentrar-me no que realmente importava: o meu trabalho. Não era uma relação admirável, mas também não era desonesta. Nunca lhe afirmei que o amava. Nunca disse essas palavras a ninguém.
E agora queres dizê-las e ouvi-las, ainda por cima da boca de um elemento da polícia e poeta. Suponho que a parte do poeta é a mais compreensível. Mas que tipo de vida levarias? Quanto tempo passaram vocês juntos desde que se conheceram? Combinaram encontrar-se sete vezes, mas só se viram quatro. O Adam Dalgliesh pode sentir-se feliz por ser chamado pelo secretário de Estado, pelo comandante e por outras figuras gradas do Ministério do Interior, mas não vejo como isso te fará feliz. A vida dele é em Londres, a tua é aqui.
Não foi só culpa do Adam defendeu-se Emma. Tive de cancelar um dos nossos encontros.
Quatro encontros, para já não falar daquele caso trágico, quando vocês travaram conhecimento pela primeira vez. O homicídio não é propriamente a mais ortodoxa das apresentações. É impossível que o conheças.
Conheço o suficiente. Ninguém pode saber tudo acerca de outra pessoa. Amá-lo não me dá o direito de entrar e sair da sua mente como entro e saio dos meus aposentos, na universidade. O Adam é a pessoa mais reservada que alguma vez conheci, mas, apesar disso, conheço as facetas dele que realmente contam.
Mas seria mesmo assim?, perguntou Emma a si própria. Adam lidava intimamente com as brechas escuras da mente humana de onde espreitavam horrores que ela nunca conseguiria compreender. Nem mesmo a cena hedionda na igreja do Instituto de Teologia de Santo Anselmo lhe revelara o pior do que os seres humanos podiam fazer uns aos outros. Conhecia tais horrores da literatura, enquanto ele os explorava diariamente no exercício da sua profissão. Por vezes, quando acordava, às primeiras horas da manhã, a visão que tinha de Adam era a de um rosto sombrio, mascarado, com mãos suaves e impessoais, por baixo de luvas de látex. No que haviam tocado aquelas mãos? Por mais de uma vez, ensaiara as perguntas que não sabia se seria capaz de formular. Porque fazia aquilo? Era necessário à sua poesia? Porque escolhera aquela profissão? Ou fora a profissão que o escolhera a ele?
Há uma detective, a Kate Miskin, que trabalha com o Adam continuou. Faz parte da equipa. Vi-os juntos. Ele é seu superior, ela trata-o por senhor, mas há um companheirismo, uma intimidade que parece excluir todos aqueles que não sejam agentes da polícia. E esse o mundo do Adam do qual não faço nem nunca farei parte.
Nem vejo porque haverias de querer tal coisa. E um mundo obscuro e quase impenetrável. Além de que ele também não faz parte do teu mundo.
Mas podia. E um poeta. Compreende o meu mundo e podemos falar sobre ele; aliás, falamos sobre o meu mundo. Contudo, nunca falamos sobre o universo do Adam. Nunca estive, sequer, no apartamento dele. Sei que vive em Queenhithe, num apartamento com vista para o Tamisa, mas nunca o visitei. Só posso imaginar como será, porque também faz parte do mundo dele. Se ele alguma vez me convidar a ir ao seu apartamento, ficarei a saber que está tudo bem e que ele quer que eu faça parte do seu mundo.
Talvez ele te convide na próxima noite de sexta-feira. A propósito, a que horas pensas chegar a Londres?
Estava a pensar em apanhar o comboio da tarde e chegar a Putney por volta das seis, se já estiveres em casa a essa hora. O Adam disse-me que irá buscar-me às oito e um quarto, se não te importares.
Quer poupar-te o incómodo de atravessares Londres, sozinha, para ires ao restaurante, o que revela que é bem-educado. Achas que aparecerá com um ramo de rosas vermelhas para tentar agradar-te?
Emma riu-se.
Não, não aparecerá com um ramo de flores; mesmo que o fizesse, nunca seriam rosas vermelhas.
Tinham alcançado o monumento evocativo da guerra, situado ao fundo de Station Road. No seu plinto decorado, a estátua do jovem combatente caminhava para a morte com magnífica despreocupação. Quando o pai de Emma fora o reitor da faculdade onde leccionara, a ama de Emma levava-a, a ela e à irmã, a passear pelo jardim botânico, ali perto. De regresso a casa, fazia um pequeno desvio para que as meninas pudessem obedecer à ordem da ama de acenar ao soldado. A ama, uma viúva da Segunda Guerra Mundial, havia falecido há muito, tal como a mãe e a irmã de Emma. Só o pai, que levava uma vida solitária no meio dos seus livros, no apartamento de uma mansão em Maryiebone, continuava vivo. Contudo, Emma nunca era capaz de passar pelo monumento sem um sentimento de culpa por já não acenar ao soldado. Irracionalmente, parecia-lhe um deliberado desrespeito para com as gerações mortas na guerra.
Na plataforma da estação, os namorados já haviam iniciado as suas despedidas apaixonadas. Vários casais passeavam de mão dada. Um outro casal, com a rapariga encostada contra a parede da sala de espera, parecia tão imóvel como se aqueles dois seres tivessem sido colados um ao outro.
A ideia do carrossel sexual não te aborrece? perguntou Emma, de súbito.
Que queres dizer com isso?
Refiro-me ao ritual de acasalamento moderno. Sabes como é. Provavelmente, deves tê-lo visto mais em Londres do que eu, aqui. Um rapaz conhece uma rapariga. Simpatizam um com o outro. Vão para a cama, por vezes, logo depois do primeiro encontro. Ou resulta e passam a formar um casal ou não resulta. Por vezes, termina na manhã seguinte, quando a rapariga vê em que estado se encontra a casa de banho do rapaz, ou tem dificuldades em tirá-lo da cama para que vá trabalhar, para não falar já da óbvia aceitação, por parte do rapaz, de que seja ela a espremer as laranjas e a preparar o café. Se funciona, o rapaz acaba por se mudar para a casa da rapariga. Normalmente, é assim, não é verdade? Conheces algum caso em que tenha sido a rapariga a ir morar com o rapaz?
A Maggie Foster foi viver com o namorado respondeu Clara. Acho que não a conheces. Dá aulas de Matemática no King’s e estudou em Cambridge. Mas, neste caso, foi porque pensaram que o apartamento do Greg era mais conveniente para o seu trabalho e que ele nunca poderia dar-se ao incómodo de voltar a pendurar as suas aguarelas do século dezoito.
Está bem, aceito o teu exemplo. Portanto, foram viver juntos, e que irá resultar ou não. Só que a separação, no caso deles, será mais complicada, mais cara e, invariavelmente, mais amarga. Em geral, isso deve-se ao facto de um deles querer um compromisso que o outro não pode assumir. Ou, então, resulta. Resolvem viver maritalmente ou casar-se, quando ela se torna pensativa e sonhadora. A mãe dela começa a fazer planos para o casamento, enquanto o pai faz um cálculo das despesas e a tia compra um chapéu novo. Reina o alívio geral. Mais uma vitória, mesmo que pequena, na luta contra o caos social e moral.
Clara riu-se.
Bom, sempre é melhor do que o ritual de acasalamento do tempo das nossas avós. A minha tinha um diário e está lá tudo. Era filha de um advogado de renome, que vivia em Leamington Spa. Como é lógico, nem se colocava a hipótese de ela arranjar um emprego. Depois de frequentar a escola, viveu em casa dos pais, fazendo aquele tipo de coisas que as filhas faziam, enquanto os irmãos andavam na universidade: compor arranjos florais, distribuir as chávenas nas ocasiões em que se servia chá, dedicar-se a obras de caridade... mas nunca do tipo que a pusesse em contacto com a realidade mais sórdida da pobreza; responder às cartas enfadonhas de parentes com as quais a mãe não podia aborrecer-se e ajudar nas festas dadas no jardim. Enquanto isso, as mães organizavam a vida social por forma a garantir que as filhas encontrassem o homem certo. Partidas de ténis, bailes privados, festas ao ar livre. Aos vinte e oito anos, uma rapariga começava a ficar ansiosa; aos trinta, já fora posta na prateleira. Infelizes daquelas que eram feias, desajeitadas ou tímidas.
Infelizes daquelas que sejam feias, desajeitadas ou tímidas, hoje em dia rematou Emma. O sistema é igualmente brutal, não concordas? A única diferença é que, ao menos, podemos organizá-lo nós próprias, e existe sempre uma alternativa.
Clara voltou a rir.
Não me parece que tenhas motivos de queixa... Mal tens entrado ou saído do carrossel. Tens-te mantido lá, sentada no teu reluzente corcel, a rejeitar todos os homens que entram no carrossel e se interessam por ti. E porque dás a ideia de que esse carrossel é sempre heterossexual? Andamos todos à procura. Alguns têm sorte, e os que não a têm, geralmente, contentam-se com uma segunda escolha que por vezes se revela melhor do que a primeira.
Não quero contentar-me com uma segunda escolha. Sei quem quero e o que quero e não se trata de uma aventura passageira. Sei que, se for para a cama com ele, sofrerei muito, caso ele resolva acabar com tudo. O sexo não pode tornar-me mais comprometida do que já estou.
O comboio com destino a Londres entrou na plataforma número um. Clara pousou o saco, e as duas amigas abraçaram-se por breves segundos.
Então, até sexta-feira despediu-se Emma. Num impulso, Clara abraçou novamente a amiga.
Se ele não aparecer na sexta-feira, então, deverás pensar se existe algum futuro para nós as duas.
Se ele não aparecer na sexta, talvez o faça.
Emma ficou a ver o comboio partir, até o perder de vista, mas não esboçou qualquer aceno de despedida.
Desde a infância que a palavra Londres evocava na mente de Tallulah Glutton a visão de uma cidade encantada, de um mundo de mistério e de excitação. Dizia a si mesma que o desejo, quase físico, da sua infância e juventude não era irracional nem, tão-pouco, obsessivo, mas sim enraizado na realidade. Afinal, era londrina por nascimento, porque viera ao mundo numa casa com dois andares e com janelas protuberantes de uma rua estreita, em Stepney; os pais, os avós e a avó materna, de quem herdara o nome, haviam vivido no East End. A cidade era a sua, por direito. A sua própria sobrevivência havia sido fortuita e, nos seus momentos mais fantasiosos, considerava-a mágica. Quando a rua fora destruída por um bombardeamento, em 1942, só Tallulah, com apenas quatro anos, fora resgatada dos escombros. Sempre lhe parecera que se recordava daquele momento, talvez fortalecido pelo que a tia lhe contara sobre o resgate. À medida que os anos haviam passado, contudo, tornara-se menos segura de que aquilo de que se recordava eram as palavras da tia ou o acontecimento em si mesmo: como fora erguida em direcção à luz, coberta de poeira mas risonha, com os braços estendidos como se quisesse abraçar toda a rua.
Exilada, na infância, para uma loja de esquina, num subúrbio de Leeds, a fim de ser criada pela tia e o marido, uma parte do seu espírito ficara naquela rua destruída. Fora educada com todo o empenho e dever, e talvez até amada, mas nem a tia nem o tio eram expansivos, e o amor fora algo por que não esperara nem nunca compreendera. Deixara a escola, aos quinze anos, mesmo depois de alguns dos seus professores enaltecerem a sua inteligência, mas sem nada poderem fazer. Sabiam que a loja esperava por ela.
Quando o jovem contabilista de rosto afável, que visitava regularmente a loja para fazer com o seu tio a auditoria dos livros de contabilidade, começara a aparecer mais do que o necessário e a revelar-se interessado por ela, parecera-lhe natural aceitar o seu tímido pedido de casamento. Afinal, havia espaço; no apartamento por cima da loja, assim como na sua cama. Tinha dezanove anos. Os tios haviam tornado bem patente o seu alívio. Terence deixou de lhes cobrar dinheiro pelos seus serviços; passara a ajudá-los, a tempo parcial, na loja, e a vida tornara-se mais fácil. Tally gostava da fornia como o marido fazia amor, regularmente mas sem grande imaginação, e julgava ter encontrado a felicidade. Contudo, o marido morrera de ataque cardíaco, nove meses depois do nascimento da filha do casal, e a vida anterior havia regressado e, com ela, as longas horas, a ansiedade financeira constante, o bem-vindo mas tirânico tilintar da sineta na porta da loja, a luta ineficaz para competir com os novos supermercados. Sentia o coração despedaçado pela pena e pelo desespero sempre que via os vãos esforços da tia para atrair antigos clientes; as folhas exteriores que arrancava das alfaces e das couves para as fazer parecer menos murchas, os anúncios de promoções que não enganavam ninguém, a boa vontade em fornecer crédito, na esperança de que a conta fosse paga um dia. Tinha a sensação de que a sua juventude fora dominada pelo cheiro de fruta apodrecida e pelo tilintar da sineta da porta.
Os tios haviam-lhe deixado a loja em herança e, após a morte de ambos, com o intervalo de um mês, ela pusera-a à venda. Tivera de baixar o preço inicial; só os masoquistas e os idealistas se mostrariam interessados em salvar uma pequena loja de esquina falida, mas, no fim, conseguira um bom negócio. Guardara dez mil para si, dera o resto à filha, que há muito saíra de casa, e partira para Londres à procura de um emprego. Passada uma semana, encontrara-o, no Museu Dupayne, e soubera, quando Caroline Dupayne lhe mostrara a vivenda e ela avistara o Heath da janela do seu quarto, que finalmente regressara a casa.
Durante os anos difíceis e rigorosos da sua infância e, mais tarde, do seu curto casamento e do seu fracasso como mãe, o sonho de Londres persistira. Tanto na adolescência como depois, fortalecera-se até tomar a solidez das pedras da capital, o fulgor do sol sobre o rio Tamisa, a imponência das vastas avenidas brancas e o mistério dos estreitos atalhos que conduziam a pátios escondidos. A história e o mito tinham-se transformado numa casa e num nome e as pessoas imaginadas haviam-se tornado de carne e osso. Londres recebera-a de volta como uma das suas filhas e Tally não se sentira desapontada. Não nutrira uma ingénua expectativa de que passaria a estar sempre em segurança. A exposição do museu sobre o modo de vida no período entre as duas guerras revelava o que ela já sabia: Londres deixara de ser a capital que os seus pais haviam conhecido. A cidade onde eles tinham vivido era mais pacífica, num país mais afável. Pensava em Londres como um marinheiro podia pensar no mar; era o seu elemento natural, mas com um poder avassalador que ela encarava com respeito e prudência. Durante as excursões que fazia tanto a meio da semana como aos domingos, congeminara estratégias para se proteger. Guardava o pouco dinheiro de que necessitaria para o dia num porta-moedas muito velho, por baixo de um casaco comprido, no Inverno, ou de um casaco mais curto e leve, no Verão. Carregava às costas, numa mochila, a comida, o mapa dos autocarros e uma garrafa de água. Usava sapatos confortáveis e resistentes para as suas caminhadas e, se os seus planos incluíam uma visita demorada a uma galeria ou a um museu, levava consigo um banquinho de lona, leve e desdobrável. Com esse equipamento, passava de um quadro ao outro, incluída num pequeno grupo que ouvia as explicações dadas por especialistas da National Gallery ou da Tate, absorvendo sofregamente as informações como se bebesse goles de vinho, inebriada com a riqueza de tudo o que lhe era oferecido.
Na maioria dos domingos, ia à igreja para apreciar, em silêncio, a música, a arquitectura e a liturgia, numa experiência mais estética do que religiosa, mas descobrindo, por outro lado, na ordem e no ritual, a satisfação de uma necessidade desconhecida. Fora educada como membro da Igreja Anglicana e os tios haviam-na enviado às aulas de doutrina da paróquia local, dadas aos domingos, de manhã e à tarde. Ia sempre sozinha. Os tios trabalhavam quinze horas por dia na sua tentativa desesperada de obter lucro da pequena loja, e os seus domingos eram marcados pela exaustão. O código moral por que se regiam era o do asseio, da respeitabilidade e da prudência. A religião era para quem tinha tempo para isso, um capricho da classe média. Agora, Tally entrava nas igrejas de Londres com a mesma curiosidade e expectativa com que entrava nos museus. Sempre acreditara para sua surpresa que Deus existia, mas duvidava que Ele se comovesse com a adoração do homem ou com as atribulações e extraordinárias extravagâncias e bizarrias do ser que criara à Sua imagem e semelhança.
Todas as tardes regressava à vivenda, situada na orla do Heath. Era o seu santuário, o local de onde ela se aventurava a sair e para onde regressava, cansada mas feliz. Nunca conseguia fechar a porta sem uma sensação de ânimo renovado. A religião, tal como ela a praticava, e as orações nocturnas que ainda fazia estavam enraizadas num sentimento de gratidão. Até então, sentira-se só mas nunca solitária; agora, era uma mulher solitária que nunca se sentia só.
Mesmo que o pior acontecesse e fosse despejada, estava decidida a não procurar refúgio na casa da filha. Roger e Jennifer Crawford viviam na zona limítrofe de Basingstoke, numa casa moderna de quatro quartos, que fazia parte do que os construtores haviam descrito como dois crescentes1 de casas destinadas a executivos. As ruas estavam separadas da contaminação das habitações dos que não eram executivos por portões de aço, cuja instalação, ferozmente defendida pelos residentes, era considerada pela sua filha e pelo seu genro como uma vitória da lei e da ordem, como protecção e melhoramento de valiosos bens de raiz e como validação de uma
Designação, na Inglaterra, das ruas com uma forma semicircular. (N. da T.)
distinção social. Havia um bairro camarário a uns setecentos metros da estrada principal, cujos habitantes eram considerados como uns bárbaros que as autoridades não conseguiam controlar.
Por vezes, Tally pensava que o êxito do casamento da filha se baseava não só numa ambição compartilhada, mas também na vontade comum do casal de tolerar e até de se compadecer com os motivos de queixa um do outro. Chegara à conclusão de que, por trás dessas queixas reiteradas, se achava um sentimento de presunção mútua. Acreditavam que se haviam saído muito bem, por si sós, e teriam um grande desgosto se algum dos seus amigos pensasse o contrário. A sua única preocupação genuína era a incerteza do futuro dela e a possibilidade de, um dia, terem de lhe dar abrigo, preocupação que Tally não só compreendia como compartilhava.
Não visitava a família havia cinco anos, exceptuando os três dias, pelo Natal, esse ritual de consanguinidade repetido anualmente e que ela sempre receara. Era recebida com uma cortesia escrupulosa e uma estrita adesão às normas sociais aceites que não ocultavam, contudo, a falta de entusiasmo ou de afecto genuíno. Não se sentia magoada, até porque o que ela própria nutria pela sua família não era amor. Tudo o que desejava era encontrar um pretexto plausível para escapar àquela visita anual. Além de que desconfiava que a filha e o genro sentiam o mesmo, embora compelidos pela necessidade de obedecer às convenções sociais. Ter uma mãe viúva e solitária em casa, no Natal, era considerado um dever que, uma vez estabelecido, não podia evitar-se, sem se correr o risco de ser alvo de mexericos ou de um pequeno escândalo. Assim, pontualmente, na véspera de Natal, Tally tomava o comboio que a filha e o genro sugeriam como mais conveniente e chegava à estação de Basingstoke, onde Jennifer ou Roger a esperavam e lhe tiravam a mala pesada das mãos como se fosse um fardo, iniciando o suplício anual.
O Natal em Basingstoke nunca era pacífico. Os amigos do casal apareciam. Eram sempre elegantes, alegres e efusivos. Depois, era a vez de o casal retribuir as visitas. Tally tinha a impressão de uma série de salas demasiado aquecidas, de rostos corados, de vozes esganiçadas e de uma ruidosa sociabilidade, sublinhada pela sexualidade. As pessoas cumprimentavam-na, algumas com genuína ternura, e ela sorria e respondia, antes que Jennifer a afastasse tacitamente por não querer que os seus convidados se aborrecessem. Tally sentia-se mais aliviada do que humilhada. Nada tinha com que contribuir em conversas sobre carros, férias no estrangeiro, a dificuldade de encontrar uma au pair decente, a ineficácia da municipalidade local, as maquinações do comité do clube de golfe e o desleixo dos vizinhos quando era sua obrigação fechar os portões. Raramente via os netos, salvo no jantar da consoada. Clive passava a maior parte do dia trancado no quarto, que continha tudo o que um rapaz de dezassete anos precisava: televisão, vídeo e leitor de DVD, computador e impressora, aparelhagem de alta-fidelidade e respectivas colunas. Samantha, dois anos mais nova e, ao que parecia, de constante mau humor, mal parava em casa e, quando ali permanecia, passava horas agarrada ao telemóvel.
Contudo, agora, tudo isso acabara. Dez dias antes, após uma prudente reflexão e três ou quatro rascunhos, Tally redigira a carta. Importar-se-iam muito se ela não passasse o Natal com eles naquele ano? Miss Caroline não estaria no seu apartamento, durante a quadra natalícia e, se ela também partisse, não haveria ninguém para zelar pelo museu. Não passaria o dia sozinha. Recebera já convites de alguns amigos. Não seria o mesmo que passar o Natal com a família, claro, mas estava certa de que eles compreenderiam. Enviaria os presentes pelo correio no início de Dezembro.
Sentira uma certa culpa pela desonestidade da sua carta, mas, passados alguns dias, recebera a resposta. Havia um certo tom de ofensa, bem como uma insinuação de que Tally estava a deixar-se explorar, mas, mesmo assim, pudera aperceber-se do alívio da filha e do genro. O seu pretexto fora considerado válido; Jennifer poderia explicar aos seus amigos a ausência da mãe sem correr riscos. Tally passaria o Natal sozinha, na vivenda, e já planeara de que forma ocuparia o dia. De manhã, iria a pé até a uma igreja local e desfrutaria da satisfação de ser uma entre a multidão e, ao mesmo tempo, estar à parte, o que lhe agradava. Depois, prepararia um frango para o almoço e, como sobremesa, compraria um daqueles pudins de Natal em miniatura e, talvez, uma meia garrafa de vinho. Alugaria umas cassetes, traria alguns livros da biblioteca e, consoante o tempo, daria um passeio ao longo do Heath.
Agora, contudo, não estava tão certa dos seus planos. Um dia depois de chegar a carta da filha, Ryan Archer, que passara pela vivenda depois de terminar o seu trabalho no jardim do museu, dera a entender que talvez passasse o Natal sozinho. O major estava a pensar em viajar para o estrangeiro. Levada por um súbito impulso, Tally dissera-lhe:
Não podes passar o Natal na tal casa abandonada que vocês ocuparam, Ryan. Se quiseres, podes jantar comigo, em minha casa... Só te peço que me avises com alguns dias de antecedência, por causa da comida.
Ele aceitara, mas não sem alguma hesitação, e Tally duvidava que ele trocasse a camaradagem de um grupo de jovens que viviam numa casa abandonada pelo plácido tédio da sua vivenda. No entanto, o convite estava feito. Se ele aparecesse, Tally, ao menos, ficaria com a certeza de que ele se alimentaria devidamente. Pela primeira vez, em muitos anos, ansiava pela chegada do Natal.
Agora, porém, todos os seus planos haviam sido oprimidos por uma nova e mais intensa ansiedade. Seria aquele o último Natal que passaria na vivenda? O cancro regressara e, desta vez, representava uma sentença de morte. Era esse o prognóstico pessoal de James Calder-Hale; aceitara-o sem medo e apenas com uma única mágoa: precisava de tempo para acabar o seu livro sobre o período entre as duas guerras. Não precisava de muito; o livro estaria concluído dali a quatro, seis meses, mesmo que tivesse de abrandar o ritmo. Talvez lhe fosse concedido esse tempo, mas, quando a ideia lhe vinha à mente, rejeitava-a. Conceder implicava a atribuição de um benefício. Atribuído por quem? Se ia morrer mais cedo ou mais tarde era uma questão de patologia. O tumor demoraria o seu tempo. Ou, se quisesse descrevê-lo de uma forma mais simples, teria sorte ou azar; mas, no fim, o cancro venceria.
Sentia-se incapaz de acreditar que tudo o que fizesse ou lhe fizessem, a sua atitude mental, a sua coragem ou a sua fé nos seus médicos conseguisse impedir aquela inevitável vitória. Talvez outros se preparassem para viver na esperança, a fim de ganhar o tributo póstumo após uma luta corajosa. Ele não tinha coragem para lutar, especialmente contra um inimigo já tão bem entrincheirado.
Uma hora antes, o seu oncologista informara-o, com tacto profissional, de que o cancro deixara de estar em remissão. Afinal, o médico tinha muita experiência. Enunciara, com admirável lucidez, as opções para futuros tratamentos e os resultados que deles se podiam esperar. Calder-Hale concordara com o tratamento recomendado, depois de alguns, poucos, minutos a fingir que analisava as várias opções. A consulta tivera lugar no consultório do médico, em Harley Street, e não no hospital, e, apesar de ser o primeiro paciente, a sala de espera já começara a encher-se quando fora chamado. Exprimir o seu próprio prognóstico e a sua total convicção de que fracassara teria sido uma ingratidão, quase uma falta de educação para com o oncologista, depois de este se dar a tanto incómodo. Calder-Hale sentia que era o médico que se agarrava à ilusão da esperança.
Ao sair de Harley Street, decidiu apanhar um táxi até à estação de Hampstead Heath e atravessar, a pé, o Heath, o que o faria passar pelos lagos e pelo viaduto que levava a Spaniards Road e ao museu. Deu consigo a resumir mentalmente a sua vida, com um misto de desprendimento e de espanto. Os cinquenta e cinco anos, que lhe haviam parecido tão importantes, deixavam-lhe um escasso legado. Os factos acorriam-lhe à mente em frases breves e entrecortadas. Filho único de um próspero solicitador de Cheltenham. Um pai bondoso, mas distante. Uma mãe extravagante, nervosa e convencional, que não dava problemas a ninguém, excepto ao marido. Educação na antiga escola do pai e, depois, em Oxford. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e uma carreira, na sua maior parte, passada no Médio Oriente, que nunca progredira para além do normal. Podia ter subido mais alto, mas havia demonstrado ter dois defeitos fatais: falta de ambição e a impressão, junto de terceiros, de que não levava suficientemente a sério as suas funções. Orador fluente em árabe, com o dom de atrair amigos mas não o amor. Um casamento breve com a filha de um diplomata egípcio, convencido de que ela gostaria de ter um marido inglês, mas que depressa decidira que Calder-Hale não era o homem certo. Sem filhos. Uma reforma antecipada, depois do diagnóstico de um tumor maligno, que entrara em remissão de forma desconcertante e inesperada.
Desde que lhe havia sido diagnosticado o cancro, Calder-Hale desprendera-se, gradualmente, das expectativas da vida. Mas não havia acontecido o mesmo, anos antes? Quando ele procurara o alívio através do sexo, pagara-o discretamente por um preço alto e com o mínimo consumo de tempo e de emoção.
Agora, já não conseguia lembrar-se de quando se compenetrara de que o incómodo e a despesa gastos já não mereciam a pena, não tanto pelo desgaste do espírito num desperdício de vergonha, mas pelo dinheiro gasto em algo que o aborrecia. As emoções, os entusiasmos, os triunfos, os fracassos, os prazeres e as dores que haviam preenchido os interstícios daquela vida já não tinham o poder de o perturbar e custava-lhe a crer que alguma vez o houvessem conseguido.
Não era a preguiça, essa letargia do espírito, um dos pecados mortais? Rejeitar toda e qualquer alegria devia constituir uma espécie de blasfémia para quem fosse religioso. O seu enfado era menos dramático. Tratava-se, sobretudo, de uma indiferença plácida em que as suas próprias emoções, até mesmo os ocasionais momentos de irritação, eram meramente teatrais. E a verdadeira teatralidade, esse jogo de rapazes, pelo qual ele se sentira atraído mais devido a uma bondosa condescendência do que por empenho, era tão pouco interessante quanto o resto da sua existência que não envolvesse a escrita. Reconhecia a sua importância, mas sentia-se menos um participante do que um observador imparcial dos esforços e loucuras de outros homens.
E agora restava-lhe concluir um trabalho, o único capaz de o entusiasmar. Queria completar a sua história sobre o período entre as duas guerras. Trabalhava no seu livro havia oito anos, desde que o velho Max Dupayne, amigo do seu pai, lhe mostrara o museu. Ficara fascinado, e uma ideia que permanecera adormecida na sua mente ganhara vida. Quando Dupayne lhe oferecera o cargo de conservador do museu, sem auferir qualquer salário, mas com gabinete próprio, esse convite revelara-se o encorajamento propício para ele começar a escrever. Dedicara-se àquele trabalho com um entusiasmo que nenhum outro jamais lhe dera. A perspectiva de morrer sem acabar o seu livro era-lhe intolerável. Ninguém se interessaria em publicar um livro inacabado. Morreria com a única tarefa a que se dedicara de corpo e alma reduzida a arquivos de notas quase ilegíveis e resmas de páginas dactilografadas e não revistas, que seriam enfiados em sacos de plástico e postos a um canto. Por vezes, a sua necessidade de completar o livro era tão forte que o perturbava. Não era um historiador profissional, e os que o eram não seriam misericordiosos ao ler o seu livro, mas sabia que este não passaria despercebido. Entrevistara uma variedade interessante de pessoas com mais de oitenta anos: testemunhos pessoais habilmente intercalados com acontecimentos históricos. Ia apresentar pontos de vista originais, por vezes controversos, que imporiam respeito. Mas regera-se pela sua própria necessidade e não pela dos outros. Por motivos para os quais não conseguia encontrar explicação satisfatória, encarava a história como a justificação da sua própria vida.
Se o museu fechasse antes de ele concluir o seu livro, seria o fim. Pensava saber como funcionavam as mentes dos três fiduciários, o que o levava a uma amarga constatação. Marcus Dupayne procurava um emprego que lhe conferisse prestígio e o aliviasse da monotonia da reforma. Se o homem tivesse sido mais bem-sucedido e houvesse obtido um título, a direcção de uma empresa da City ou de uma comissão oficial estaria à sua espera. Calder-Hale interrogou-se sobre o que correra mal. Provavelmente, nada que Dupayne pudesse evitar: uma mudança de governo, as preferências de um novo secretário de Estado ou de um novo ministro, uma alteração na hierarquia. Quem ficava com o melhor cargo dependia, não raras vezes, de uma questão de sorte.
Já não estava tão certo quanto ao motivo por que Caroline Dupayne queria que o museu continuasse. Talvez algo relacionado com o seu desejo de preservar o nome da família. Além do mais, Caroline servia-se do apartamento, o que lhe permitia sair da escola. E estaria sempre contra Neville. Tanto quanto Calder-Hale se lembrava, houvera constantemente um forte antagonismo entre os dois irmãos. Como nada sabia sobre a infância deles, podia apenas imaginar as origens daquela irritação mútua, exacerbada pelas atitudes de cada um em relação ao trabalho do outro. Neville não fazia segredo do seu desprezo por tudo o que Swathling’s representava, enquanto a irmã exprimia o seu descrédito pela psiquiatria.
Nem sequer é uma disciplina científica dizia ela, rnas apenas o último recurso dos desesperados ou a indulgênc’a, tão em moda, em relação às neuroses. Os psiquiatras não conseguem sequer descrever a diferença entre cérebro e mente de uma forma que faça sentido. Provavelmente, causaram mais danos, nos últimos cinquenta anos, do que qualquer outro ramo da medicina e, se podem ajudar os pacientes, hoje em dia, foi porque a neurologia e os laboratórios farmacêuticos lhes forneceram as ferramentas necessárias. Sem os seus pequenos comprimidos, vocês estariam onde estavam há vinte anos.
Não iria haver um consenso entre Neville e Caroline Dupayne quanto ao futuro do museu, e Calder-Hale julgava saber qual das duas vontades prevaleceria. Não que isso alterasse o encerramento do museu. Se o novo locatário tivesse pressa em instalar-se, seria uma tarefa gigantesca, uma corrida contra o tempo, cheia de entraves e de complicações financeiras. E, sendo o conservador, era de esperar que ele tivesse de aguentar as consequências de tal combate. Por outro lado, o encerramento do museu poria termo a toda e qualquer esperança de acabar o seu livro.
A Inglaterra alegrara-se com um belo Outono, mais típico das suaves vicissitudes primaveris do que do lento declínio do ano até à sua decrepitude multicor. Subitamente, o céu, que até então havia sido uma extensão de um azul-claro, escurecera com uma grande nuvem tão negra como o fumo de uma fábrica. As primeiras gotas de chuva começaram a cair e Calder-Hale mal teve tempo para abrir o guarda-chuva antes que ficasse molhado pelo forte aguaceiro. Era como se o peso acumulado do precário fardo da nuvem se houvesse esvaziado em cima da sua cabeça. Existia um pequeno maciço de árvores a poucos metros, e abrigou-se sob um castanheiro-da-índia, disposto a esperar pacientemente que o céu se desanuviasse. Por cima dele, os escuros troncos da árvore tornavam-se visíveis por entre as folhas amarelecidas e, erguendo o olhar, sentiu as gotas caírem-lhe no rosto. Perguntou a si próprio por que motivo era tão agradável sentir na pele aqueles pequenos salpicos que secavam rapidamente. Talvez não fosse mais do que o reconforto por saber que ainda conseguia sentir prazer com as espontâneas bênçãos da existência. Há muito que os prazeres físicos mais grosseiros, intensos e urgentes haviam perdido o seu atractivo. Agora, que a falta de apetite se tornara evidente e o sexo uma necessidade raramente premente e um alívio que ele podia conceder a si próprio, ainda podia regozijar-se, ao menos, com a queda de uma gota de chuva no rosto.
Foi então que avistou a casa de Tally Glutton. Havia subido aquele caminho estreito que partia do Heath inúmeras vezes durante os últimos quatro anos, mas sentia-se surpreendido sempre que avistava a casa. Parecia confortavelmente enquadrada por uma orla de árvores e, no entanto, constituía um anacronismo. Talvez o arquitecto do museu, forçado, em virtude dos caprichos do seu proprietário, a fazer uma réplica exacta do século xviu para a casa principal, houvesse dado azo às suas preferências, quando desenhara a vivenda. Situada por trás do museu e fora do alcance da vista de quem nele se encontrasse, o seu cliente não devia ter ficado muito perturbado com o facto de aquela casa estar em discordância com o resto. Parecia uma ilustração tirada de um livro de histórias para crianças, com as duas janelas de sacada no piso térreo, de cada lado de um pórtico saliente, outras duas janelas simples no primeiro andar, por baixo do telhado, o jardim fronteiro com um carreiro pavimentado e, de cada lado, uma extensão de relva e uma sebe baixa de alfeneiros. No meio de cada um dos relvados que ladeavam a entrada, havia um canteiro oblongo e mais elevado, onde Tally Glutton plantara os seus habituais cíclames brancos e os seus amores-perfeitos roxos.
Ao aproximar-se do portão do jardim, avistou Tally por trás das árvores. Vestia a velha gabardina que usava para cuidar do jardim e trazia nas mãos um cesto e uma pá côncava. Calder-Hale havia-lhe dito, se bem que não recordasse quando, que, embora ela tivesse sessenta e quatro anos, parecia mais nova. O seu rosto, de tez um pouco áspera, começava a revelar as rugas da idade, mas era bondoso, com olhos vivos por trás dos óculos. Era uma mulher feliz, mas não dada, afortunadamente, àquela jovialidade resoluta e desesperada com que algumas pessoas de idade tentam desafiar o desgaste dos anos.
Sempre que Calder-Hale entrava nos terrenos do museu, depois de caminhar pelo Heath, passava pela casa de Tally, para ver se ela lá estava. Se fosse de manhã, esperava-o um café se fosse de tarde, esperava-o chá e bolo inglês. Aquela rotina começara uns três anos antes, quando Calder-Hale fora apanhado por uma tempestade violenta sem guarda-chuva e chegara à casa de Tally com o casaco encharcado e as calças empapadas. Ela vira-o da janela e saíra, oferecendo-lhe uma oportunidade de secar as calças e tomar uma bebida quente. A preocupação que revelara pela sua aparência sobrepusera-se à timidez que podia sentir, e Calder-Hale recordava, com um sentimento de gratidão, o bem-estar proporcionado pelo calor do falso lume a carvão e pelo café quente, avivado por umas gotas de uísque que ela lhe dera. No entanto, não voltara a convidá-lo a entrar em sua casa e Calder-Hale apercebera-se de que Tally não queria levá-lo a pensar que era uma mulher só, ansiosa por ter companhia, ou que pretendia impor-lhe uma obrigação. Assim, era sempre ele que batia à porta ou a chamava, apesar de não ter quaisquer dúvidas de que as suas visitas eram sempre bem-vindas.
Agora, enquanto esperava que ela se aproximasse, inquiriu:
Estou muito atrasado para um café?
Claro que não, Mister Calder-Hale. Estive a plantar bolbos de narciso entre cada aguaceiro. Acho que ficam melhor por baixo das árvores. Tentei plantá-los nos canteiros, mas parecem tão deprimentes, depois de as flores murcharem... Mistress Faraday disse-me que temos de deixar as folhas até amarelecerem, porque, se as arrancarmos ou cortarmos, não teremos flores. O problema é que isso demora muito tempo...
Seguiu-a até ao pórtico, ajudou-a a despir a gabardina e esperou, enquanto Tally se sentava no banco estreito, tirava as botas e calçava as pantufas. Só depois a acompanhou pelo estreito corredor até à sala de estar.
Enquanto ligava o aquecimento, Tally comentou:
As suas calças parecem muito molhadas. E melhor sentar-se aqui para que sequem. Eu não me demoro muito a preparar o café.
Calder-Hale esperou, recostando a cabeça no espaldar alto da poltrona e esticando as pernas em direcção à fonte de calor. Sobrestimara a sua força e fora uma longa caminhada. Agora, contudo, o seu cansaço era quase agradável. Além do seu gabinete aquela sala era uma das poucas em que ele podia sentar-se sem sentir uma certa tensão. E como Tally tornara a sala aprazível. Era confortável, sem grande ostentação. Não estava demasiado decorada e atulhada de objectos nem era feminina de mais. A lareira, original, era tipicamente vitoriana, com um rebordo azul de porcelana de Delft e uma cobertura ornamental de ferro. A poltrona de couro onde ele repousava, com espaldar acolchoado e braços confortáveis, era perfeita para a sua estatura. Em frente, havia uma poltrona parecida, mas mais pequena, onde Tally costumava sentar-se. De cada lado da lareira, os nichos com estantes continham livros de história e sobre a cidade de Londres. Calder-Hale sabia que a capital era a grande paixão de Tally, como ficara a saber, por conversas anteriores, que ela também gostava de biografias e de autobiografias; os poucos exemplares de romances, encadernados a couro, que se viam nas estantes eram grandes clássicos. A meio da sala, achava-se uma mesa circular e pequena, e duas cadeiras Windsor altas; era ali que Tally costumava comer. Calder-Hale vislumbrara pela porta entreaberta, no lado direito do corredor, uma mesa quadrada de madeira, com quatro cadeiras de espaldar alto, no que devia ser a sala de jantar. Nunca encontrara uma pessoa desconhecida naquela casa e parecia que a vida de Tally estava confinada às quatro paredes da sala de estar. A janela, virada para sul, tinha um peitoril largo, onde se encontrava a sua colecção de violetas-africanas, em tons de púrpura, que iam do pálido ao escuro, raiadas de branco.
Tally trouxe o café e os biscoitos. Ele levantou-se com alguma dificuldade e avançou para lhe tirar o tabuleiro das mãos. Inalando o reconfortante aroma, sentiu-se admirado por sentir tanta sede.
Quando estavam juntos, Calder-Hale costumava falar do que lhe vinha à cabeça. Suspeitava que, tal como no seu caso, só a crueldade e a estupidez chocavam Tally. Do que porventura sentisse, nada havia que não pudesse dizer-lhe. Por vezes, a sua conversa parecia um solilóquio, mas as respostas de Tally eram sempre bem-vindas e frequentemente surpreendentes.
Deprime-a limpar e varrer o pó da Sala do Crime, com todos aquelas fotografias de mortos? perguntou.
Penso que me habituei a eles. Não quer dizer que os considere meus amigos. Seria um disparate, mas fazem parte do museu. Quando vim trabalhar para aqui, costumava pensar no que haviam sofrido as vítimas ou no que os próprios criminosos tinham sofrido, mas isso nunca me deprimiu, até porque, para eles, está tudo acabado, não é assim? Fizeram o que fizeram, pagaram por isso e partiram. Agora, já não sofrem. Já há tanto que lamentar neste mundo em que vivemos, que de nada serviria lamentar erros passados. No entanto, por vezes interrogo-me para onde foram eles todos, não apenas os assassinos e as suas vítimas, mas todas as pessoas cujas fotografias se encontram no museu. Costuma fazer essa pergunta a si próprio?
Não, porque sei a resposta. Morremos como animais, das mesmas causas e, à excepção de uns poucos felizardos, com o mesmo sofrimento.
Então, é esse o fim?
Sim. É um alívio, não acha?
Portanto, o que fazemos, a forma como agimos não importa, a não ser nesta vida?
Onde mais podia importar, Tally? Já acho muito difícil comportar-me com uma decência aceitável, aqui e agora, sem ter de me atormentar com a necessidade de obter os bónus celestiais que me darão acesso a um além imaginário.
Tally pegou na chávena dele para a encher de novo.
No meu caso, penso que é o resultado de ter frequentado a catequese e ido à igreja duas vezes todos os domingos. A minha geração ainda acredita, pelo menos em parte, que será chamada a prestar contas pelo que fez neste mundo.
Talvez assim seja, mas o julgamento será aqui, num tribunal da Coroa, em que o juiz usará peruca. E, com um mínimo de inteligência, a maioria dos seres humanos geralmente consegue evitá-lo. Mas o que imaginava? Um grande livro de contabilidade, com colunas de débito e de crédito, onde o anjo dos registos anotasse tudo?
Falara afavelmente, como sempre. Tally Glutton sorriu.
Algo parecido admitiu. Quando tinha cerca de oito anos, pensava que esse livro era parecido com um livro de contabilidade encarnado e muito grande que o meu tio usava na loja. Tinha Contabilidade escrito, a preto, na capa e as margens das páginas eram encarnadas.
Bom, a fé tem a sua utilidade social. Não pode dizer-se que tenhamos descoberto um substituto eficaz para a fé. Agora, somos nós que construímos a nossa própria moralidade: O que eu quero está correcto e tenho direito a obtê-lo. As gerações mais velhas ainda podiam estar sobrecarregadas pela memória folclórica da culpa judaico-cristã, mas esse sentimento desapareceu com as gerações seguintes.
Ainda bem que não estarei viva para passar por isso.
Calder-Hale sabia que Tally não era ingénua, mas ela sorriu-lhe, com o seu rosto sempre sereno. Fosse qual fosse a sua moralidade privada, se não ia muito mais além da bondade e do bom senso e por que raio haveria de ir? de que mais precisava ela ou qualquer outra pessoa?
Suponho que um museu é uma celebração da morte replicou Tally. As vidas dos mortos, os objectos que fizeram, as coisas que consideraram importantes, as suas roupas, as suas casas, as suas comodidades diárias, a sua arte...
Não. Um museu celebra a vida contrapôs Calder-Hale. Fala da existência individual e de como foi vivida. Fala também da vida conjunta de diferentes épocas, de homens e mulheres que organizaram as suas sociedades. Foca a perpetuação da vida da espécie Homo sapiens. Ninguém que tenha alguma curiosidade pode detestar um museu.
Eu gosto muito de museus murmurou Tally, mas porque julgo viver no passado. Não o meu próprio passado, que foi vulgar e muito pouco excitante, mas o passado de todas as pessoas que nasceram em Londres antes de mim. Nunca me sinto só, quando entro num museu. Nem ninguém o consegue.
Até passear ao longo do Heath constituía uma experiência diferente para cada pessoa, pensou Calder-Hale. No seu caso, reparava na mudança das árvores, no céu e gostava de sentir a turfa macia sob os seus pés, ao passo que Tally imaginava as lavadeiras da época Tudor a tirar proveito das nascentes de água límpida e a pendurar as suas roupas sobre as giestas para que secassem, enquanto as carruagens saíam dos prostíbulos da cidade, na altura da peste bubónica e do grande incêndio, para se refugiar na parte alta de Londres, e Dick Turpin esperava, montado no seu cavalo, escondido entre as árvores.
Tally levantou-se para levar o tabuleiro para a cozinha. Calder-Hale também se levantou para lho tirar das mãos. Ao fitar o rosto dele, deixou transparecer, pela primeira vez, uma expressão preocupada.
Estará presente na reunião de quarta-feira, em que se decidirá o futuro do museu? perguntou.
Não, Tally, não estarei presente. Não sou um dos fiduciários, que são só três, os irmãos Dupayne. Não nos disseram nada. Tudo não passa de rumores.
Mas pode mesmo ser encerrado?
Será encerrado, se o Neville Dupayne levar a sua avante.
Porquê? Ele não trabalha lá. Raramente aparece no museu, excepto à sexta-feira, quando vem buscar o carro. Nunca se interessou por ele. Porque haveria de se interessar agora?
Porque odeia o que considera ser a nossa obsessão nacional pelo passado. Está demasiado envolvido nos problemas do presente. O museu é um escape conveniente para esse ódio. O pai dele fundou e gastou uma fortuna com o museu, que tem o nome da família. É óbvio que o Neville quer livrar-se de muito mais do que apenas do museu em si.
E pode?
Sim, pode. Se ele não assinar o novo contrato de arrendamento, o museu será encerrado. Mas, se fosse a si, não me preocuparia. A Caroline Dupayne é uma mulher determinada e duvido que o Neville consiga fazer-lhe frente. Tudo o que ele tem de fazer é assinar uma folha de papel.
A absurdidade das suas palavras chocaram-no, mal as pronunciou. Desde quando uma assinatura se tomara irrelevante? Pessoas haviam sido condenadas ou ilibadas mercê da assinatura de um nome. Uma assinatura podia deserdar ou dar uma fortuna. Uma assinatura escrita ou negada podia fazer a diferença entre a vida e a morte. Era improvável que o mesmo se aplicasse à assinatura de Neville Dupayne num novo contrato de arrendamento. Levando o tabuleiro para a cozinha, ficou contente por se afastar da expressão perturbada de Tally. Nunca a vira naquele estado. Foi então que se deu conta, de repente, da gravidade do que a esperava. Aquela casa, aquela sala de estar eram tão importantes para Tally como o seu livro era para ele. E tinha mais de sessenta anos. Apesar de não ser considerada velha, nos dias que corriam, não era idade para se procurar um novo emprego e uma nova casa. Ofertas não lhe faltariam, porque nunca fora fácil encontrar governantas de confiança, só que aquela casa e aquele emprego eram perfeitos para ela.
Experimentou um desconfortável sentimento de piedade e, depois, um momento de fraqueza física, tão súbita que teve de pousar o tabuleiro à pressa na mesa e descansar, o que lhe trouxe o desejo de que houvesse alguma coisa que pudesse fazer, de que pudesse depositar aos pés de Tally uma prenda só que resolvesse todos os seus problemas. Pensou, por segundos, na ridícula ideia de que podia instituí-la beneficiária do seu testamento, mas sabia que um tal gesto de excêntrica generosidade o ultrapassava. Mal podia chamar-lhe generosidade porque, quando chegasse a altura, ele não precisaria mais de dinheiro. Sempre gastara o que ganhara e havia legado o que lhe restava aos seus três sobrinhos no testamento, cautelosamente redigido pelo advogado da família, uns quinze anos antes. Não deixava de ser curioso que ele, que não nutria especial afecto pelos sobrinhos e raramente os via, se preocupasse com a opinião deles depois de morto. Vivera com conforto e quase sempre com segurança. E se conseguisse reunir forças para um último gesto, tão excêntrico quanto magnífico, que fizesse a diferença para outra pessoa?
Foi então que ouviu a voz dela.
Sente-se bem, Mister Calder-Hale?
Sim, Tally, sinto-me bem respondeu. Obrigado pelo café. E não se preocupe com a reunião de quarta-feira. Algo me diz que vai correr tudo bem.
Eram onze e meia. Como de costume, Tally limpara o museu, antes de abrir as suas portas e, naquele momento, a não ser que precisassem dela, não tinha mais tarefas a cumprir além de proceder a uma vistoria final, com Muriel Godby, antes de o museu encerrar, às cinco da tarde. Contudo, tinha que fazer em casa e passara mais tempo do que o habitual a conversar com Mr. Calder-Hale. Ryan, o rapaz que a ajudava nas limpezas mais pesadas e no jardim, chegaria com as suas sanduíches à uma da tarde.
Assim que os primeiros dias frios do Outono haviam começado, Tally sugerira a Ryan que almoçasse na casa dela. Durante o Verão, via-o encostado a uma árvore, com um saco ao lado. Mas, à medida que os dias foram arrefecendo, passara a comer na barraca onde guardava o cortador de relva, sentado num caixote virado ao contrário. Custava-lhe saber que o rapaz se submetia a tanto desconforto, mas, mesmo assim, hesitara quando lhe fizera a oferta, por não querer impor-lhe uma obrigação ou dificultar-lhe a possibilidade de ele recusar. O rapaz, contudo, aceitara com entusiasmo e, a partir daquela manhã, chegava pontualmente à uma, com o seu saco de papel e a sua lata de Coca-Cola.
Tally não tinha qualquer desejo de almoçar com ele porque isso lhe parecia uma invasão da sua própria privacidade, que lhe era tão querida e habituara-se a tomar uma refeição ligeira, ao meio-dia, para que tudo estivesse limpo e arrumado antes de Ryan chegar. Quando fazia sopa, deixava um pouco para Ryan, especialmente nos dias mais frios, e ele parecia gostar. Depois, seguindo as instruções de Tally, ele fazia café para os dois café a sério e não aqueles grãos que se tiram de um frasco e servia-o. Nunca ficava mais do que uma hora e Tally habituara-se a escutar os passos dele no carreiro, às segundas, quartas e sextas, dias em que ele vinha trabalhar. Nunca se arrependera de haver feito o primeiro convite, mas sentia sempre um misto de alívio e de culpa às terças e quintas, por ter a manhã toda só para si.
Tal como lhe pedira, delicadamente, no primeiro dia, Ryan tirava as botas de borracha à entrada, pendurava o casaco e dirigia-se, em peúgas, para a casa de banho, onde se lavava antes de se juntar a Tally. Trazia entranhado no corpo o cheiro a terra, a relva e aquele ténue odor masculino de que ela gostava. Ficava espantada por ele parecer sempre tão limpo e frágil. As suas mãos, de ossos tão delicados como os de uma rapariga, contrastavam com os braços bronzeados e musculosos.
Tinha um rosto redondo, de faces firmes e tez levemente rosada e tão macia como camurça. Os seus grandes olhos castanhos, com pálpebras superiores descaídas, eram muito afastados, por cima de um nariz arrebitado e de um queixo fendido ao meio. Tinha o cabelo muito curto, o que revelava o formato redondo da cabeça. Para Tally, era o rosto de um bebé que os anos haviam tornado maior, mas que ainda não apresentava quaisquer marcas da experiência conferida pela idade adulta. Só os olhos de Ryan traíam a sua aparente inocência intocável. Podia erguer as pesadas pálpebras e fitar o mundo com olhos esbugalhados e uma descontracção que desarmava qualquer um, ou lançar, de súbito, um olhar desconcertante, tão malicioso quanto inteligente. Aquela dicotomia espelhava o que ele sabia: pedaços soltos de sofisticação, que ele recolhia do mesmo modo como apanhava o lixo do caminho de entrada, combinados com uma espantosa ignorância acerca das áreas de conhecimento mais abrangentes que a geração de Tally aprendera antes de sair da escola.
Encontrara-o, depois de colocar um anúncio no quadro de ofertas de emprego de uma tabacaria local. Mrs. Faraday, a voluntária responsável pelo jardim, queixara-se de que já lhe custava muito varrer as folhas mortas e podar alguns dos arbustos e as árvores mais novas. Fora ela que sugerira o anúncio, em vez de recorrerem ao centro de emprego da área. Tally dera o número de telefone da sua casa, mas não fizera qualquer referência ao museu. Quando Ryan lhe telefonara, entrevistara-o com Mrs. Faraday e ambas se haviam sentido inclinadas a pô-lo à experiência durante um mês. Antes de Ryan sair, Tally pedira-lhe referências.
Há alguém para quem tenhas trabalhado e que possa escrever uma carta de recomendação?
Trabalho para o major. Limpo as pratas, entre outras coisas, no seu apartamento. Vou pedir-lhe uma carta.
Não dera mais informações, mas, passados dois dias, Tally recebera uma carta com um endereço de Maida Vale.
Estimada Senhora,
O Ryan Archer disse-me que está a pensar oferecer-lhe um emprego de ajudante de jardineiro. Ele não é especialmente habilidoso, mas executou algumas tarefas domésticas satisfatoriamente e revela-se disposto a aprender, quando se interessa. Não possuo referências quanto às suas aptidões em jardinagem, se é que as tem, mas, pessoalmente, duvido que saiba distinguir um amor-perfeito de uma petúnia. Não é um exemplo de pontualidade, mas, quando chega, é capaz de trabalhar arduamente desde que sob vigilância. Diz-me a experiência que as pessoas ou são honestas ou desonestas, e quer num caso quer no outro, não há nada a fazer quanto a isso. O rapaz é honesto.
Com aquela carta de recomendação muito pouco entusiasta e a aprovação de Mrs. Faraday, Tally contratara-o.
Miss Caroline revelara pouco interesse e Muriel descartara toda e qualquer responsabilidade.
As contratações domésticas são da sua competência, Tally. Não desejo interferir. Miss Caroline aceitou que o rapaz recebesse o salário mínimo e pagar-lhe-ei do meu fundo para as despesas do museu, todos os dias, antes de ele sair. Como é evidente, pedir-lhe-ei um recibo. Se ele precisar de roupa de protecção para o seu trabalho, também posso fornecer dinheiro do fundo, mas é melhor ser você a comprá-la e não ele.
O rapaz poderá efectuar as limpezas mais duras, como limpar o chão, aqui, incluindo a escada, mas não o quero ver em mais nenhuma outra parte do museu sem ser sob vigilância.
O major Arkwright, que forneceu as suas referências, diz que ele é honesto explicara Tally.
Talvez seja, mas esse tal major também pode ser um fala-barato e não temos maneira de descobrir se os amigos do rapaz são honestos. Penso que seria melhor a senhora e Mistress Faraday fazerem um relatório formal dos progressos dele, depois do período experimental de um mês.
Tally pensara que, para alguém que não queria interferir nos assuntos domésticos, Muriel se comportara como ela já calculava, mas a experiência resultara. Ryan era, de facto, imprevisível nunca podia estar segura de que ele aparecesse à hora certa, mas fora-se tornando mais responsável à medida que os meses iam passando, sem dúvida porque precisava do dinheiro ao fim do dia. Muito embora não fosse um trabalhador entusiasta, também não era preguiçoso, e Mrs. Faraday, sempre tão difícil de contentar, parecia gostar do rapaz.
Naquela manhã, Tally fizera canja de galinha com os restos do jantar da véspera e Ryan sorvia-a com evidente prazer, aquecendo os dedos finos na caneca.
É precisa muita coragem para matar alguém? perguntou.
Nunca achei que os assassinos fossem pessoas corajosas, Ryan. E mais provável que sejam cobardes. Por vezes, é preciso muito mais coragem para não matar.
Não estou a compreender o que quer dizer com isso, Mistress Tally.
Nem eu. Foi apenas um reparo tolo, agora que penso nisso. É que o assassínio não é propriamente um assunto agradável...
Pode não ser agradável, mas é interessante. Já lhe disse que Mister Calder-Hale me guiou numa visita ao museu, na sexta-feira passada, de manhã?
Não, Ryan, não mo tinhas dito.
Ele viu-me a arrancar as ervas daninhas do canteiro da frente, quando chegou. Deu-me os bons-dias e perguntei-lhe:
87 Posso ver o museu? Ele respondeu: Podes, mas a questão é saber se deves. Por mim, não vejo qualquer problema. Disse-me, depois, que me limpasse e que fosse ter com ele ao átrio de entrada. Acho que Miss Godby não gostou da ideia, pelo olhar que me deitou.
Mister Calder-Hale foi muito gentil em levar-te a ver o museu. Trabalhas aqui e, portanto, parece-me natural que te dessem a oportunidade de visitá-lo.
Porque não pude vê-lo anteriormente e sozinho? Não confiam em mim?
Se não tinhas ainda visto o museu, isso não foi porque não confiássemos em ti. E que Miss Godby não gosta que as pessoas que não pagaram bilhete andem a vaguear pelas salas e isso aplica-se a toda a gente.
Não à senhora.
Nem podia aplicar-se, Ryan, porque tenho de limpar o museu.
Nem a Miss Godby.
Mas ela é a secretária e a recepcionista. Tem de ter liberdade para ir aonde quiser, caso contrário, o museu não funcionaria. Por vezes, Miss Godby tem de acompanhar os visitantes quando Mister Calder-Hale não está.
Ou quando ele não os considera suficientemente importantes, pensou Tally, mas não o disse.
Gostaste do museu? perguntou.
Gostei da Sala do Crime.
Meu Deus, pensou Tally. Bom, talvez não fosse assim tão surpreendente. Ryan não era o único visitante que passara mais tempo na Sala do Crime do que noutra qualquer.
Aquele baú de latão... Acha que é realmente o verdadeiro, onde enfiaram o corpo da Violette?
Penso que sim. O velho Mister Dupayne era muito meticuloso no que dizia respeito à proveniência das peças... Quero dizer que gostava de saber de onde vinham. Não faço ideia de como conseguiu obter algumas dessas peças, mas creio que dispunha de bons contactos.
Ryan tinha acabado a sua sopa e tirou as sanduíches do saco: fatias grossas de pão branco com o que parecia ser salame.
Quer dizer que, se eu tivesse levantado a tampa, teria visto manchas do sangue dela?
Não podes abrir a tampa, Ryan. E proibido tocar nas peças em exposição.
E se eu a tivesse levantado?
Provavelmente, verias uma mancha, mas ninguém pode garantir que se trate do sangue da Violette.
Mas podia ter sido analisado.
Julgo que o analisaram, mas, mesmo que seja sangue humano, isso não significa que fosse o sangue dela. Eles ainda não conheciam o ADN naquela altura. Ryan, não achas que esta conversa está a ficar muito mórbida?
Pergunto a mim mesmo onde estará ela agora...
Provavelmente, enterrada no átrio de uma igreja, em Brighton. Nem sei se alguém sabe onde repousam os seus restos mortais. A pobrezinha era uma prostituta e talvez não existisse dinheiro para lhe fazer um funeral decente. Talvez tenha sido enterrada no que se chama uma vala comum.
Mas teria sido mesmo assim?, interrogou-se Tally. Talvez a celebridade a houvesse elevado ao nível daqueles que são dignificados depois da morte. Talvez tivesse tido um funeral sumptuoso: cavalos com plumas pretas, multidões de curiosos a seguir o cortejo, fotógrafos dos jornais locais, ou até mesmo da imprensa a nível nacional. Como deveria ter parecido ridículo a Violette, quando era nova, anos antes de ser assassinada, se alguém lhe profetizasse que seria mais famosa depois de morta do que em vida, ou que, quase setenta anos depois de ser assassinada, uma mulher e um rapaz de um mundo muito diferente do dela falariam acerca do seu funeral.
Tally ergueu as sobrancelhas quando ouviu Ryan dizer:
Penso que Mister Calder-Hale só me convidou porque queria saber o que faço aqui.
Mas ele sabe o que fazes, Ryan. Sabe que és jardineiro a tempo parcial.
Ele queria saber o que eu fazia nos outros dias.
E que foi que lhe disseste?
Disse-lhe que trabalhava num bar perto de King’s Cross.
E é verdade, Ryan? Pensava que trabalhavas para o major.
E trabalho, mas não falo da minha vida a qualquer pessoa.
Cinco minutos depois, enquanto o observava a calçar os sapatos, deu-se conta mais uma vez do pouco que sabia a respeito do rapaz. Revelara-lhe que estivera num internato, mas não porquê nem onde. Às vezes, dizia-lhe que vivia numa casa abandonada, noutras, que ficava em casa do major. Se ele era reservado, ela também o era... assim como todos os que trabalhavam no museu. Trabalhamos juntos, vemo-nos uns aos outros quase todos os dias, conversamos, temos um objectivo comum, mas, no íntimo de cada um de nós, encontra-se um ser desconhecido, pensou Tally.
Era a última visita domiciliária do Dr. Neville Dupayne naquele dia e também a que mais temia. Mesmo antes de estacionar e fechar o carro, começara já a ganhar coragem para o suplício de fitar os olhos de Ada Gearing, que se fixariam nos seus com uma súplica muda, assim que ela abrisse a porta. Os poucos degraus que conduziam ao corredor do primeiro andar pareciam tão cansativos como se o levassem ao último andar. Esperaria à porta, como sempre. Albert, mesmo na sua fase catatónica, reagia ao toque da campainha da porta da frente, por vezes, com um terror que o deixava trémulo e colado à poltrona, outras, levantando-se com uma espantosa velocidade e empurrando a mulher para ser o primeiro a chegar à porta. Depois, seriam os olhos de Albert que fitariam os seus; olhos velhos que, no entanto, eram capazes de brilhar com emoções tão distintas como o medo, o ódio, a suspeita e o desespero.
O Dr. Neville quase desejava que fosse Albert a recebê-lo desta vez. Atravessou o corredor até à porta, munida de um óculo e duas fechaduras de segurança, para além da grade metálica colocada na parte exterior da única janela. Supunha que era a forma mais barata de ter alguma protecção, mas todo aquele aparato sempre o preocupara. Se Albert deitasse fogo ao apartamento, a única saída seria a porta. Deteve-se antes de tocar. Começara já a anoitecer. Com que rapidez, assim que se atrasavam os relógios para o horário de Inverno, o dia se desvanecia e a noite chegava. Os candeeiros de rua já estavam acesos e, erguendo o olhar, viu o imenso bloco de prédios, alto e imponente, como um transatlântico ancorado na escuridão.
Sabia que era impossível tocar à campainha sem fazer barulho; mesmo assim premiu gentilmente o botão. Não teve de esperar mais do que o costume. Ada teria de certificar-se de que Albert estava sentado na sua poltrona e que se acalmara, depois do sobressalto que o toque da campainha lhe provocava. Passado um minuto, ouviu o ruído irritante dos ferrolhos, e Ada abriu a porta. De imediato, ele inclinou a cabeça de forma quase imperceptível, para a cumprimentar, e entrou. Ada fechou e trancou novamente a porta.
Seguindo-a pelo curto corredor, o Dr. Neville anunciou:
Lamento muito. Telefonei para o hospital, antes de sair, e ainda não há vagas na unidade especial, mas o Albert é o primeiro na lista de espera.
Já há oito meses que ele está nessa lista, doutor. Dá a ideia de que estamos à espera de que alguém morra para termos uma vaga.
De facto, dá essa ideia concordou o Dr. Neville.
Havia seis meses que tinham aquela mesma conversa. Antes de entrar na sala de estar e de pousar a mão no puxador, perguntou:
Como é que estão as coisas?
Ada sempre se mostrara relutante em falar do marido, enquanto ele se mantinha sentado, ali, aparentemente alheio e surdo a tudo.
Hoje, está calmo. Tem andado calmo toda a semana, mas, na quarta-feira passada, quando a assistente social veio visitar-nos, fugiu antes que pudesse deitar-lhe a mão. E muito rápido, quando o seu estado lhe dá para isso. Desceu os degraus e saiu para a rua antes que conseguíssemos apanhá-lo. Foi uma luta para o trazer de volta. As pessoas olharam para nós, por não saberem o que estávamos a fazer, ao agarrar um homem idoso daquela forma. A assistente social ainda tentou persuadi-o, falando-lhe docilmente, mas ele não quis ouvi-la. É isso que me aterroriza: que, um dia, ele saia para a rua e seja atropelado.
E era, realmente, o que Ada mais temia, pensou o Dr. Neville. A irracionalidade daquele temor por parte de Ada provocava-lhe um misto de tristeza e de irritação. O marido dela estava a ser sugado para o fundo do pântano que constituía a doença de Alzheimer. O homem com quem ela se casara tornara-se um estranho, com um comportamento instável, por vezes violento, incapaz de lhe proporcionar companheirismo ou de a apoiar. Ela estava fisicamente exausta por tentar tratá-lo, mas era o seu marido e vivia aterrorizada pelo receio de que ele pudesse sair para a rua e fosse atropelado.
A pequena sala de estar, com as cortinas floridas presas de cada lado da janela, os móveis velhos, o fogão a gás antigo mas sólido, devia ter o mesmo aspecto quando os Gearing haviam ido viver para ali. Só que, agora, a um canto, havia um televisor de ecrã gigante e, por baixo, um vídeo. E o Dr. Neville sabia que a protuberância no bolso do avental de Ada Gearing era o seu telemóvel.
Pôs a cadeira do costume entre eles. Reservara a meia hora de sempre para passá-la com o casal. Não fora portador de boas novas e não havia nada que pudesse fazer para os ajudar que já não tivesse feito, mas, ao menos, podia conceder-lhes algum do seu tempo. Faria o que sempre fazia: ficaria tranquilamente sentado como se tivesse todo o tempo do mundo, e escutaria. A sala estava muito aquecida, o que tornava o ambiente desconfortável. O fogão a gás deixava escapar um calor sibilante, que quase lhe queimava as pernas e lhe fazia secar a garganta. No ar, pairava um odor agridoce e forte, composto pelo cheiro a suor, a comida frita, a roupas sujas e a urina. Ao inalá-lo, quase lhe parecia conseguir detectar cada um dos diferentes cheiros.
Sentado na sua poltrona, Albert mantinha-se imóvel. Tinha as mãos, de dedos nodosos, crispadas nas extremidades dos braços da poltrona e os seus olhos semicerrados fitavam o psiquiatra com uma extraordinária malevolência. Usava pantufas velhas, calças de desporto largas, azuis com uma risca branca ao longo de cada perna, e o casaco do pijama por baixo de outro, de lã, cinzento e muito comprido. O Dr. Neville perguntou a si mesmo quanto tempo teria sido necessário para Ada e a ajudante o vestirem.
Mistress Nugent continua a vir auxiliá-la? perguntou, consciente da futilidade da sua pergunta.
Então, Ada começou a falar com toda a liberdade, sem se preocupar com a eventualidade de que o marido pudesse compreender o que dizia. Talvez tivesse começado a dar-se conta, finalmente, de como eram inúteis aquelas conversas sussurradas do outro lado da porta da sala de estar.
Oh, sim, continua a ajudar-me. Agora, vem todos os dias. Nunca conseguiria suportar tudo isto sem ela. E um tormento, doutor. Quando o Albert está pior, diz-lhe coisas terríveis e ofensivas acerca de ela ser negra. E horrível... Sei que não o faz de propósito e que isso se deve à sua doença, mas Mistress Nugent não devia ter de sujeitar-se a ouvi-las. O Albert não costumava ser assim. E ela é tão bondosa... Não se ofende, mas tudo isso me aborrece. Como se não bastasse, Mistress Morris, a vizinha do lado, ouviu o Albert proferir aqueles disparates e disse-me que, se alguém da Segurança Social o descobrir, poderá levar-nos a tribunal por sermos racistas e obrigar-nos a pagar uma multa. Afirma que nos vão tirar Mistress Nugent e que se certificarão de que não possamos ter outra pessoa, negra ou branca, para nos ajudar. E talvez Mistress Nugent esteja farta, e vá para outro sítio onde não tenha de ouvir coisas tão feias. Não a censuraria... A Ivy Morris tem razão. Podemos ir a tribunal sob acusação de sermos racistas. É o que vem nos jornais. E como é que eu poderei pagar a multa? O dinheiro já mal chega para as despesas...
As pessoas da idade e da classe social de Ada eram demasiado orgulhosas para se queixar da sua pobreza. O facto de ela haver mencionado a questão financeira, pela primeira vez, revelava a dimensão da sua ansiedade.
Ninguém vai levá-la a tribunal replicou o Dr. Neville, com voz firme. Mistress Nugent é uma mulher experiente e sensata. Está a par da doença do Albert. Quer que eu fale com a assistente social?
Faria isso por mim, doutor? Será melhor se for o senhor a falar com ela. Ando tão nervosa... De cada vez que ouço bater à porta penso que é a polícia...
Nunca será a polícia.
O Dr. Neville ficou mais vinte minutos. Como de tantas outras vezes, ouviu Ada falar do desespero que sentia ante a possibilidade de lhe tirarem Albert. Sabia que não conseguia tratar dele, mas algo talvez a recordação dos votos matrimoniais que fizera era mais forte do que a sua necessidade de ajuda. E, mais uma vez, o Dr. Neville tentou assegurar-lhe de que Albert teria uma vida muito melhor na unidade especial do hospital, que receberia todos os cuidados médicos que não podia ter em casa, que ela poderia visitá-lo quantas vezes quisesse e que, se fosse capaz de compreender alguma coisa, Albert compreenderia tal decisão.f
Talvez replicou Ada, mas seria ele capaz de me perdoar?
De que servia convencer aquela mulher de que não tinha de se sentir culpada, pensou o Dr. Neville. Ela continuaria sempre presa a duas emoções dominantes: o amor e a culpa. Que poder tinha ele, dando-lhe a sua opinião baseada numa sabedoria laica e imperfeita, para a aliviar de algo tão enraizado e elementar?
Ada fez chá para o Dr. Neville, antes de ele se ir embora. Fazia sempre chá, mas ele recusava gentilmente. Depois, teve de reprimir a sua impaciência enquanto Ada tentava convencer Albert a beber chá, espicaçando-o como se fosse uma criança. Por fim, contudo, sentiu que podia partir.
Telefonarei para o hospital amanhã disse, ao despedir-se e informá-la-ei de imediato, se houver novidades.
À soleira da porta, Ada fitou-o.
Não creio que consiga aguentar muito mais tempo... declarou ela.
Foram as últimas palavras que pronunciou, enquanto a porta se fechava entre eles. O Dr. Neville saiu para o frio da noite e ouviu, pela última vez, o ruído irritante dos ferrolhos.
Tinham acabado de dar as sete horas. Na sua minúscula mas imaculada cozinha, Muriel Godby fazia biscoitos. Desde que trabalhava no Dupayne, era seu hábito fazer biscoitos para o chá de Miss Caroline, quando ela estava no museu, e para as reuniões mensais dos fiduciários. Sabia que a reunião do dia seguinte seria crucial, mas isso não era motivo para alterar a sua rotina. Caroline Dupayne gostava de biscoitos amanteigados, que ficassem delicadamente estaladiços e com um tom castanho-pálido. Já haviam ido ao forno e, naquele momento, estavam a arrefecer numa prateleira. Muriel Godby concentrou-se nos preparativos dos biscoitos com recheio de chocolate. Achava que eram menos apropriados para o chá dos fiduciários; o Dr. Neville tendia a encostá-los ao rebordo da chávena de chá para que o chocolate derretesse, mas Mr. Marcus apreciava aqueles biscoitos e ficaria desapontado se ela não lhos levasse.
Dispôs todos os ingredientes como se estivesse a proceder a uma lição de culinária num programa televisivo: avelãs, amêndoas escaldadas, cerejas cristalizadas, passas e raspas de limão picadas, um quadrado de manteiga, açúcar em pó, natas e uma tablete do melhor chocolate preto. Enquanto picava os ingredientes, foi visitada por uma sensação fugaz e misteriosa, uma agradável fusão da mente e do corpo que nunca experimentara antes de ir trabalhar para o Dupayne. Aparecia raramente, de forma inesperada, e assemelhava-se a um leve formigueiro. Muriel supunha que aquela sensação expressava a felicidade. Fez uma pausa, com a faca pousada sobre as avelãs, e deixou que aquela sensação seguisse o seu curso. Seria aquilo que as pessoas sentiam, durante quase toda a vida, até mesmo durante uma parte da infância? Nunca fizera parte da sua. A sensação desapareceu e, sorrindo, continuou a picar os ingredientes.
Para Muriel Godby, a sua juventude, até aos dezasseis anos, resumira-se a viver confinada numa prisão sem barreiras, por via de uma sentença da qual não havia recurso e por um delito nunca explicado de forma precisa. Aceitara os parâmetros, tanto mentais como físicos, do seu encarceramento: a casa quase isolada, da década de trinta, num insalubre subúrbio de Birmingham, com a sua fachada, a imitar o estilo Tudor, com as vigas de madeira entrecruzadas, e o pequeno jardim, com as sebes altas que o protegiam da curiosidade dos vizinhos. Aqueles limites estendiam-se à escola secundária à qual ela chegava em dez minutos, depois de atravessar o parque municipal, com os seus canteiros matematicamente exactos e as suas mudanças previsíveis de flores: narcisos, na Primavera, gerânios, no Verão, dálias, no Outono. Aprendera desde cedo que a lei da sobrevivência, na prisão, consistia em ser discreta e evitar sarilhos.
O seu pai era o carcereiro, um homenzinho meticuloso e muito baixo, com a sua maneira de andar empertigada e o seu sadismo, um tanto envergonhado, que a prudência o obrigava a manter dentro dos limites toleráveis quando o aplicava às suas vítimas. Muriel encarara a mãe como uma companheira de reclusão, mas o infortúnio de ambas não suscitara nenhum sentimento de compaixão ou de piedade. Havia certos assuntos acerca dos quais era melhor não falar, silêncios que como as duas sabiam seriam catastróficos se fossem quebrados. Cada uma protegia a sua infelicidade com mãos cuidadosas, mantendo a distância, como se receassem ser contaminadas pela delinquência não especificada da outra. Muriel sobrevivera graças à coragem, ao silêncio e à sua oculta vida interior. Os triunfos das suas fantasias nocturnas eram sempre dramáticos e exóticos, mas não se iludia, ciente de que pertenciam ao mundo do faz-de-conta e eram apenas expedientes úteis para tornar a vida mais tolerável e não indulgências que pudessem ser confundidas com a realidade. Fora daquela prisão havia um mundo real e, um dia, ela sairia em liberdade e herdá-lo-ia.
Crescera, sabendo que o seu pai só amava a filha mais velha. Quando Simone fizera catorze anos, a obsessão mútua entre pai e filha achava-se de tal forma estabelecida, que nem Muriel nem a mãe questionavam a supremacia de ambos. Era Simone que recebia as prendas, os mimos, as roupas novas, ou que ainda saía nos fins-de-semana com o pai. Quando Muriel se deitava na cama do seu pequeno quarto, situado nos fundos da casa, ouvia o murmurar das suas vozes e as risadas, quase histéricas, de Simone. A mãe era a criada dos dois, mas sem receber qualquer salário. Talvez ela também atendesse às necessidades do marido e da filha mais velha, com o seu voyeurismo involuntário.
Muriel não sentia inveja nem rancor. Simone nada tinha que ela quisesse. Ao completar os catorze anos, Muriel apercebera-se da data da sua libertação: o dia do seu décimo sexto aniversário. Depois, só teria de certificar-se de que era capaz de se sustentar sozinha e de que nenhuma lei poderia obrigá-la a voltar para casa. A mãe, talvez dando-se conta finalmente de que não tinha vida própria, deixara-a com a discreta incompetência que havia caracterizado o seu papel de dona de casa e de mãe. Uma leve pneumonia não era fatal, a não ser para aqueles que não tinham qualquer desejo de combatê-la. Ao ver a mãe dentro do caixão, na capela do eterno descanso da agência funerária um eufemismo que provocara raiva e um sentimento de impotência em Muriel, deparara com o rosto de uma estranha, que, aos seus olhos, parecia ostentar um sorriso de um contentamento secreto. Era uma forma de libertação, mas não seria a sua.
Nove meses mais tarde, no dia em que completou dezasseis anos, Muriel saiu de casa, deixando Simone e o pai entregues ao seu mundo simbiótico de olhares cúmplices, de breves toques e de prendas infantis. Desconfiava, embora não tivesse a certeza nem isso lhe interessasse, do que eles faziam juntos. Não os avisou da sua intenção. O bilhete que deixou ao pai, colocado com todo o cuidado no centro da prateleira do fogão de sala, limitava-se a informar que ela saía de casa para arranjar emprego e cuidar de si própria. Conhecia as suas qualidades, mas estava menos ciente das suas limitações. Apresentou-se no mercado do trabalho com seis respeitáveis notas que tivera no ensino secundário, a sua grande habilidade como dactilógrafa e estenógrafa, um cérebro disposto a aprender novas tecnologias, a sua inteligência e a sua meticulosidade. Viajou para Londres com o dinheiro que havia economizado desde os catorze anos, encontrou um quarto cujo aluguer podia pagar e começou a procurar emprego. Estava preparada para oferecer lealdade, dedicação e energia, e sentiu-se ofendida quando percebeu que tais atributos eram menos valorizados do que outros, mais sedutores uma aparência física atraente, um bom humor gregário e vontade de agradar. Encontrava trabalho facilmente, mas não ficava muito tempo em nenhum emprego. Invariavelmente, saía por mútuo acordo. Era demasiado orgulhosa para protestar ou fazer valer os seus direitos, quando os patrões a chamavam e sugeriam que seria mais feliz num emprego onde dessem mais valor às suas qualificações. Forneciam-lhe boas referências, elogiando as suas virtudes. Os motivos do seu despedimento eram tacitamente omitidos, porque, na verdade, todos ignoravam quais fossem.
Nunca mais vira o pai e a irmã nem tivera notícias deles. Doze anos depois de sair de casa, ambos estavam mortos Simone suicidara-se, e, duas semanas depois, o pai tivera um ataque cardíaco. A notícia, dada pelo advogado do pai por carta, demorara seis semanas a chegar. Muriel sentira apenas esse pesar, vago e indolor, que a tragédia alheia pode provocar em determinadas ocasiões. Ficara, contudo, surpreendida pelo facto de a irmã ter encontrado a coragem necessária para decidir morrer de uma forma tão dramática. Mas aquelas mortes mudaram a vida de Muriel. Como não houvesse outros parentes vivos, herdou a casa de família. Não voltou àquela casa, mas deu instruções a um agente imobiliário para que vendesse a propriedade e tudo o que continha.
A partir dali libertara-se da sua vida em quartos alugados. Encontrara uma casa de tijolo em South Finchley, junto a
99 um desses caminhos meio rurais que ainda existem, mesmo no interior dos subúrbios. Com janelas pequenas e feias e um telhado alto, era uma casa de aspecto desagradável mas de construção sólida e que oferecia uma razoável privacidade. Em frente, havia espaço para arrumar o carro, agora que podia permitir-se ter um. A princípio, limitara-se a acampar na propriedade, enquanto, semana após semana, ia adquirindo móveis em segunda mão, pintava as divisões e confeccionava as cortinas.
A sua vida profissional era menos satisfatória, mas enfrentara os maus tempos com coragem, uma virtude que nunca lhe faltara. O seu penúltimo emprego, como dactilógrafa e recepcionista em Swathling’s, representara uma desqualificação do seu estatuto. No entanto, oferecia possibilidades e fora entrevistada por Miss Dupayne, que lhe havia insinuado que, com o tempo, talvez viesse a precisar de uma secretária pessoal. O emprego em Swathling’s revelara-se um desastre. Muriel antipatizava profundamente com as alunas, por considerá-las estúpidas, arrogantes e mal-educadas, filhas mimadas dos nouveaux riches. Assim que as alunas se davam ao trabalho de reparar nela, a antipatia tornava-se mútua. Consideravam-na uma mulher intrometida, desagradável, feia, que não demonstrava a deferência que esperavam de uma inferior. Convinha-Ihes ter um alvo para as suas queixas e as suas piadas; poucas eram maliciosas por natureza e havia até algumas que a tratavam com cortesia, mas nenhuma se opunha abertamente àquele desprezo geral. Até as mais dóceis se tinham habituado a tratá-la por HG, a sigla para horrível Godby.
Dois anos antes, as coisas haviam chegado a um ponto crítico: Muriel encontrara o diário de uma das alunas e guardara-o numa gaveta da sua secretária, à espera de poder devolvê-lo, quando a rapariga aparecesse na recepção e perguntasse se havia correio para ela. Muriel não vira nenhum motivo para procurar a dona do diário, mas a rapariga acusara-a de o guardar propositadamente. Começara a gritar com Muriel, que se limitara a fitá-la com um frio desdém, ao ver que tinha o cabelo espetado e pintado de ruivo, uma argola dourada numa das abas do nariz e lábios muito pintados, que proferiam obscenidades. Quando lhe tirara o diário das mãos, a rapariga sibilara as últimas palavras:
Lady Swathling pediu-me que lhe dissesse que quer vê-la no seu gabinete e eu sei porquê. Vai pô-la no olho da rua. Você não é o tipo de pessoa que serve para ser recepcionista desta escola. É uma mulher feia e estúpida e todas nós ficaremos felizes por vê-la partir.
Muriel permanecera sentada, em silêncio, e pegara na sua mala. Ia passar por mais uma rejeição. Apercebera-se de que Caroline Dupayne se aproximara dela. Fitou-a mas nada disse. Foi a mulher mais velha quem falou.
Acabo de estar com Lady Swathling. Creio que lhe ficaria bem tomar a iniciativa, Miss Godby. Está a desperdiçar as suas qualidades aqui; preciso de uma secretária e recepcionista no Museu Dupayne. O salário não será muito melhor, mas oferecer-lhe-á novas perspectivas. Se lhe interessa, sugiro que se dirija imediatamente ao gabinete de Lady Swathling e apresente a sua demissão antes que ela fale consigo.
E fora o que Muriel fizera. Por fim, havia encontrado um trabalho em que se sentia valorizada. Tomara a decisão certa. Encontrara a sua liberdade e, sem se dar conta, também encontrara o amor. Já passava das nove horas quando Neville Dupayne terminou a última visita e se dirigiu para o seu apartamento com vista para a Kensington High Street. Em Londres, conduzia um Rover, sempre que compromissos espaçados ou uma viagem pudessem sofrer demoras se utilizasse os transportes públicos. A sua paixão, o seu Jaguar E-type, encarnado, de 1963, estava guardado na garagem alugada do museu, onde ele ia buscá-lo todas as sextas-feiras, às seis horas. Tinha por hábito trabalhar até tarde, se necessário, de segunda a quinta, para poder ficar com o fim-de-semana livre e sair de Londres, algo que se tornara essencial para ele. Muito embora tivesse uma licença de residente para estacionar o Rover, era frustrante ter de dar voltas ao quarteirão até encontrar um lugar vago. O tempo instável voltara a mudar durante a tarde, e Neville atravessou a pé e sob uma chuva fina os cerca de cem metros que o levavam ao seu apartamento.
Vivia no último andar de um grande bloco de prédios do pós-guerra, arquitectonicamente indistintos mas bem conservados e práticos; as suas dimensões e enfadonha uniformidade, até mesmo as fileiras de janelas idênticas, muito próximas umas das outras, quais rostos anónimos e inexpressivos, pareciam garantir a privacidade que ele tanto desejava. Nunca pensava no apartamento como a sua casa, uma palavra que não tinha quaisquer conotações especiais para ele e que lhe seria difícil definir. Aceitava-a como um refúgio, com a sua paz primordial realçada pelos contínuos sons abafados da rua movimentada, cinco andares mais abaixo, e que lhe chegavam aos ouvidos, não como ruídos desagradáveis, mas antes como o marulhar ritmado de um oceano distante. Depois de fechar a porta atrás de si e de ligar o alarme, baixou-se para apanhar as cartas espalhadas na alcatifa, pendurou o casaco húmido, pousou a pasta, entrou na sala de estar e baixou as persianas que o protegiam das luzes de Kensington.
Era um apartamento confortável. Quando o comprara, cerca de quinze anos antes, depois de se mudar do centro de Inglaterra para Londres, quando o seu casamento chegara ao fim, dera-se ao trabalho de seleccionar o menor número de peças de mobiliário de design moderno e, com o passar do tempo, não sentira qualquer necessidade de mudar a sua escolha inicial. Gostava de ouvir música, de tempos a tempos, e comprara uma aparelhagem topo de gama, que lhe custara uma pequena fortuna. Não que sentisse grande interesse pela alta tecnologia. Só exigia que funcionasse eficazmente. Se um aparelho se avariava, substituía-o por outro modelo, uma vez que, para ele, era menos importante poupar dinheiro do que tempo, evitando assim a frustração que representava discutir com alguém. O telefone, um aparelho que ele tanto detestava, encontrava-se no vestíbulo; raramente atendia as chamadas, preferindo ouvir as mensagens gravadas, à noite. Aqueles que podiam precisar dele com urgência, incluindo a sua secretária, no hospital, tinham o número do seu telemóvel. Mais ninguém o conhecia, nem mesmo a filha nem os irmãos. O significado daquelas exclusões, quando pensava nisso, não o preocupava. Eles sabiam onde podiam encontrá-lo.
A cozinha continuava tão nova como na altura em que fora remodelada, quando havia comprado o apartamento. Era cuidadoso com a sua alimentação, mas não sentia prazer em cozinhar e dependia de pratos pré-cozinhados, que comprava nos supermercados. Tinha acabado de abrir o frigorífico e tentava decidir se preferiria uma tarte congelada de peixe com ervilhas ou uma mussaca, quando a campainha tocou. Aquele som, forte e consistente, fazia-se ouvir tão raramente que ele sobressaltou-se, como se alguém tivesse começado a dar murros na porta. Poucas pessoas sabiam onde morava e nenhuma delas apareceria sem avisar primeiro. Dirigiu-se à porta e premiu o intercomunicador, na esperança de que fosse um estranho que se enganara no andar. Sentiu um súbito desânimo, quando ouviu a voz alta e autoritária da filha.
Papá, sou eu, a Sarah. Telefonei-te várias vezes. Tenho de ver-te. Não recebeste as minhas mensagens?
Não. Acabo de chegar e ainda não liguei o gravador de chamadas. Sobe.
Abriu a porta de entrada e ficou à espera de ouvir o ranger do elevador. Tivera um dia difícil e, no dia seguinte, seria confrontado com um problema diferente mas nem por isso menos complexo: o futuro do Museu Dupayne. Precisava de tempo para ensaiar as suas tácticas, justificar a sua relutância em assinar o novo contrato de arrendamento, e passar em revista os argumentos que apresentaria para combater a decisão do irmão e da irmã. Ansiara por um serão sossegado, em que pudesse encontrar a determinação necessária para chegar a uma conclusão definitiva, mas agora era pouco provável que conseguisse essa paz que tanto desejava. Sarah nunca teria ido até ali se não tivesse um problema.
Assim que abriu a porta e lhe tirou o chapéu-de-chuva a gabardina das mãos, apercebeu-se de que era um problema grave. Desde criança que Sarah nunca conseguira controlar e, ainda menos, disfarçar a intensidade das suas emoções. As birras que tivera em bebé haviam sido intensas e extenuantes, os seus momentos de felicidade e de entusiasmo frenéticos, e os seus desesperos contagiosos, deixando os pais tão desalentados quanto ela. A sua aparência e o modo como se vestia traíam sempre o tumulto do seu íntimo. Neville lembrou-se de uma determinada noite havia uns cinco anos? quando Sarah achara conveniente que o seu namorado da altura a fosse buscar ao apartamento do pai. Ficara, de pé, no mesmo sítio onde se encontrava agora, com o cabelo escuro apanhado no alto da cabeça e as faces coradas de alegria. Ao observá-la, sentira-se admirado por ver como a filha era bonita. Agora, contudo, o corpo de Sarah parecia ter adquirido prematuramente os contornos da meia-idade. O seu cabelo desgrenhado estava apanhado por trás de um rosto ensombrado pelo desespero.
Observando aquele rosto, tão parecido com o seu e, no entanto, tão misteriosamente diferente, Neville descortinou o desespero espelhado nos olhos negros da filha, que pareciam concentrados na sua infelicidade.
Sarah deixou-se cair pesadamente numa poltrona.
Aceitas uma bebida? Uma taça de vinho, café, chá?
Uma taça de vinho. Algo que já tenhas aberto.
Vinho tinto ou branco?
Pelo amor de Deus, papá! Que importância tem isso? Está bem, vinho tinto.
Neville tirou da garrafeira a garrafa mais à mão e trouxe-a com dois copos.
Queres comer alguma coisa? Já jantaste? Ia agora aquecer o jantar.
Não tenho fome. Vim até cá porque temos de resolver certos assuntos. Antes de mais, fica a saber que o Simon saiu de casa.
Então, era isso. Neville não se admirava. Só vira o companheiro da filha uma vez, mas fora o suficiente para se aperceber, com um misto de pena e de irritação, de que se tratava de outro erro-. Era um padrão recorrente na vida de Sarah. As suas paixões eram sempre avassaladoras, impulsivas e intensas, e agora, que estava perto dos trinta e quatro anos, a sua necessidade de ter um compromisso amoroso era intensificada por um crescente desespero. Neville sabia que nada do que pudesse dizer-lhe a consolaria e que tudo quanto lhe dissesse a enfureceria. A carreira de Neville havia-a privado, durante a adolescência, do seu interesse e preocupação, e o divórcio dos pais fornecera-lhe uma nova oportunidade para se sentir uma vítima. Agora, contudo, tudo o que pedia era ajuda.
Há quanto tempo saiu ele de casa? perguntou Neville.
Há três dias.
E é definitivo?
Caro que é. O nosso relacionamento já tinha acabado, há um mês, mas eu não me apercebi. E agora tenho de partir para muito longe. Quero ir viver para o estrangeiro.
E o teu emprego? E a escola?
Deixei-o.
Quer dizer que pediste a demissão, por escrito, dando-lhes um trimestre para encontrar alguém que te substitua?
Não pedi demissão nenhuma. Vim-me embora. Não quero voltar àquele maldita escola e ouvir os miúdos a rirem-se, à socapa, da minha vida sexual.
Crês realmente que eles fariam isso? Como saberiam tal coisa?
Pelo amor de Deus, papá, tenta viver no mundo real! Claro que eles sabem. São especialistas em saber tudo sobre mim. Já chega ter de ouvir que eu não seria professora se tivesse capacidade para outra profissão qualquer, quanto mais atirarem-me à cara os meus fracassos sexuais!
Mas és professora do ensino básico. Dás aulas a crianças entre os oito e os doze anos.
Hoje em dia, os miúdos sabem mais sobre o sexo aos onze do que eu, aos vinte. Além do mais, formei-me para ensinar e não para passar metade do meu tempo a preencher formulários e a outra metade a tentar impor a ordem num grupo de vinte e cinco miúdos problemáticos, mal-educados e agressivos, que não revelam o menor interesse em aprender. Desperdicei a minha vida, mas acabou-se.
Não podem ser todos assim.
Claro que não, mas os que o são chegam para tornar uma aula num inferno, em que é impossível ensinar o que quer que seja. Tenho dois alunos a quem foi aconselhado tratamento psiquiátrico, numa instituição especializada. Já foram examinados, mas ainda não há vagas para eles. Então, o que acontece? Mandam-nos de volta para a escola. Tu és psiquiatra. Aqueles miúdos são da tua responsabilidade, não da minha.
Mas deixares a escola! Nem parece teu. Também deve ser difícil para os outros professores.
O director saberá desenvencilhar-se. Tive muito pouco apoio dele nos últimos trimestres. De qualquer maneira, vim-me embora.
E o apartamento?
Neville sabia que Sarah e Simon o haviam comprado a meias. Emprestara-lhe dinheiro para a entrada e supunha que era o salário dela que pagava o empréstimo.
Vamos vendê-lo, mas, neste momento, não há qualquer esperança de dividirmos os lucros porque não haverá qualquer margem de lucro. Aquele centro para delinquentes juvenis que está a ser construído em frente do meu apartamento pôs fim à possibilidade de o vendermos por mais do que o comprámos. nosso advogado devia tê-lo descoberto, mas não vale a pena processá-lo por negligência. Temos de vender o apartamento pelo melhor preço que conseguirmos. Deixo isso ao cuidado do Simon. Sei que será eficiente porque sabe que é legalmente responsável para comigo, no que diz respeito ao empréstimo. Quero sair deste país mas, para isso preciso de dinheiro, papá.
Quanto?
Do suficiente para viver sem preocupações no estrangeiro durante um ano. Não to estou a pedir... pelo menos, não directamente. Quero a minha parte dos lucros relativos ao museu. Então, poderei pedir-te um empréstimo razoável, cerca de vinte mil libras, e pagar-te quando o museu tiver sido encerrado. Todos nós temos direito a algo, não é verdade? Tanto os fiduciários como os netos?
Não sei quanto cabe a cada um de nós. De acordo com as cláusulas do fideicomisso, todos os objectos valiosos, incluindo os quadros, serão doados a outros museus. Receberemos uma parte do que sobrar, assim que for vendido. Talvez cerca de vinte mil libras para cada um, mas isso não passa de mera suposição, porque ainda não fiz as contas.
Será o bastante. Não há uma reunião de fiduciários amanhã? Telefonei à tia Caroline para lhe perguntar. Tu não queres que o museu continue aberto, não é verdade? Sempre soubeste que o avô gostava mais daquele museu do que de ti ou de qualquer outro familiar. Sempre foi o seu capricho. Além do mais, nem sequer está a dar lucro. O tio Marcus pode pensar que conseguirá rentabilizá-lo, mas engana-se. Só conseguirá continuar a gastar dinheiro até ter de o encerrar. Quero que me prometas que não vais assinar o novo contrato de arrendamento. Assim, poderei pedir-te dinheiro emprestado de consciência tranquila. Caso contrário, não quererei um empréstimo que nunca poderei pagar. Estou farta de viver endividada e de ter de me sentir grata.
Não tens de te sentir grata, Sarah.
Não? Não sou estúpida, papá. Sei que, para ti, é mais fácil dares-me dinheiro do que me amares e aceitei-o. Soube, desde criança, que amor era o que davas aos teus pacientes, não à mamã nem a mim.
Era uma queixa antiga e Neville ouvira-a muitas vezes, tanto da mulher como de Sarah. Sabia que continha alguma verdade, mas não tanto como ela e a mãe pensavam, por ser uma queixa demasiado óbvia, simplista e conveniente. A relação entre eles havia sido mais subtil e muito mais complexa do que aquela teoria psicológica barata conseguia explicar. Por isso, não argumentou; limitou-se a esperar.
Não é verdade que queres que o museu encerre? continuou Sarah. Sempre soubeste o que te fez a ti e à avó. É o passado, pai. É um local sobre pessoas mortas e anos perdidos. Sempre afirmaste que somos demasiado obcecados pelo nosso passado, que preservamos e coleccionamos desnecessariamente. Francamente, não consegues enfrentar, uma vez na vida, o teu irmão e a tua irmã?
A garrafa de vinho continuava por abrir. De costas viradas para a filha, acalmando a mão trémula por um acto de força de vontade, tirou a rolha à garrafa de Margaux e encheu os dois copos.
Penso que o museu devia encerrar afirmou e tenciono dizê-lo na reunião de amanhã. Não estou à espera que os outros concordem comigo. Vai ser uma luta de vontades.
O que queres dizer com tenciono? Pareces o tio Marcus. Já devias saber, por esta altura, o que queres. E nem sequer tens de fazer nada para isso, pois não? Nem sequer és obrigado a convencê-los. Sei que serias capaz de qualquer coisa para evitar uma discussão de família. Tudo o que tens de fazer é recusares-te a assinar o novo contrato de arrendamento na devida data e manteres-te à distância. Eles não podem obrigar-te.
Entregando-lhe um dos copos, perguntou:
Precisas do dinheiro para quando?
Para daqui a poucos dias. Estou a pensar em apanhar o avião para a Nova Zelândia. A Betty Carter vive lá. Não penso que te lembres dela, mas estudámos juntas. Casou-se com um neozelandês e não se cansa de me convidar para eu ir passar férias com ela e o marido. Penso começar por South Island e, depois, talvez ir até à Austrália e, mais tarde, à Califórnia. Quero poder viver sem ter de trabalhar durante um ano. Depois, poderei decidir o que quero fazer a seguir, mas não será leccionar.
Não faças nada à pressa. Pode haver vistos a obter, lugares de avião a reservar... Além de que não é uma boa altura para saíres da Inglaterra. A instabilidade não podia ser maior e o mundo em que vivemos é mais perigoso do que nunca.
O que pode ser um motivo para eu sair daqui e viajar para o mais longe possível. Não estou minimamente preocupada com o terrorismo, tanto aqui, como em qualquer outro lugar. Preciso de mudar de ares. Fracassei em tudo. Acho que enlouqueceria se tivesse de ficar mais um mês neste maldito país.
Neville podia ter dito: Vais levar a tua própria personalidade contigo, mas não o fez, por saber como a filha zombaria e com razão daquele lugar-comum. Qualquer conselheira sentimental de uma revista feminina podia ajudar Sarah tanto como ele, mas havia a questão do dinheiro.
Posso passar-te um cheque, agora, se quiseres. E mantenho-me firme na minha decisão de encerrar o museu, porque é a coisa mais acertada a fazer.
Sentou-se em frente de Sarah. Não olharam um para o outro, mas, ao menos, bebiam o vinho juntos. Então, Neville sentiu de súbito um carinho tão forte pela filha, que, se estivessem de pé, tê-la-ia abraçado impulsivamente. Seria aquilo amor? Sabia, contudo, que era algo menos iconoclasta e perturbante, algo com o qual podia lidar. Era esse misto de pena e de culpa que sentira pelos Gearing. Não obstante, fizera uma promessa que teria de cumprir. Também se deu conta, o que o fez sentir nojo de si próprio, de que estava feliz por a filha ir viajar. A sua vida demasiado ocupada tornar-se-ia mais fácil com a única filha a viver no outro lado do mundo.
A hora da reunião dos fiduciários de quarta-feira, vinte de Outubro três da tarde havia sido marcada, na opinião de Neville, de acordo com as disponibilidades de Caroline, que tinha outros compromissos tanto de manhã como ao fim da tarde. Aquela hora não lhe convinha. Nunca estava no seu melhor após o almoço e tivera de alterar o horário das suas visitas domiciliárias marcadas para a tarde. Reunir-se-iam na biblioteca, situada no primeiro andar, como de costume, nas raras ocasiões em que, enquanto fiduciários, tinham negócios a tratar. Com a mesa rectangular ao centro, os três candeeiros fixos, por baixo de abajures de pergaminho, era o local mais óbvio, mas não aquele que ele teria escolhido. Guardava demasiadas recordações de entrar ali, em criança, com as mãos suadas e o coração a bater com força, sempre que o pai o chamava. O pai nunca lhe batera; a sua crueldade verbal e o seu patente desprezo pelo filho do meio havia constituído um abuso mais sofisticado que deixara marcas invisíveis mas duradouras. Nunca falara sobre o pai com Marcus e Caroline, salvo em termos gerais. Aparentemente, os irmãos haviam sofrido menos do que ele ou nem sequer haviam sofrido. Marcus fora um menino reservado, solitário e introvertido, mais tarde brilhante na escola e na universidade, armando-se contra as tensões da vida familiar com uma independência pouco imaginativa. Caroline, a mais nova dos três irmãos e a única filha, sempre fora a favorita do pai, tanto quanto ele era capaz de demonstrar afecto. O museu fora o grande amor da vida de Marcus Dupayne, e a sua mulher, incapaz de competir com o museu e de encontrar algum consolo nos filhos, desistira daquela concorrência, morrendo antes de completar quarenta anos.
Neville chegou à hora marcada, mas Marcus e Caroline já estavam no museu. Perguntou a si mesmo se não haviam combinado encontrar-se mais cedo para falar sobre as suas estratégias. Claro que sim; cada manobra daquela batalha fora planeada com antecedência. Quando entrou, estavam de pé, ao fundo da biblioteca, e avançaram para ele. Marcus trazia uma pasta.
Caroline parecia vestida para uma batalha. Usava calças pretas com uma camisa de flanela fina, às riscas cinzentas e brancas e um lenço encarnado, de seda, atado à volta do pescoço, cujas pontas ondulavam como uma bandeira de desafio. Marcus, como que para salientar a importância oficial da reunião, vestira-se formalmente, no estereótipo do perfeito funcionário público. A seu lado, Neville sentiu que a sua gabardina velha, o fato cinzento já muito puído e que precisava de ser escovado o faziam parecer um parente pobre. Afinal, era um médico que, desde que se livrara da obrigação de pagar a pensão de alimentos à mulher, de pobre nada tinha. Podia ter-se permitido um fato novo, se não lhe faltasse o tempo e a energia para comprá-lo. Contudo, ao reunir-se com os irmãos, sentiu-se, pela primeira vez, em desvantagem quanto à forma como estava vestido, e o facto de essa sensação ser tão irracional como degradante deixou-o ainda mais irritado. Raramente havia visto Marcus em trajes que não fossem os que usava em férias: calções de caqui, camisola de algodão às riscas ou, ainda, uma camisola de lã grossa que usava no Inverno. Sempre que Marcus se vestia informalmente, parecia, pelo menos aos olhos de Neville, um pouco ridículo, como um escuteiro já adulto. Só parecia à vontade com os seus fatos de executivo, feitos por medida. E, naquele momento, parecia perfeitamente à vontade.
Neville tirou a gabardina, lançou-a para cima do espaldar de uma cadeira e avançou para a mesa central. Três cadeiras tinham sido colocadas em torno da mesa, entre os candeeiros. Em cada lugar, havia uma pasta para guardar documentos e um copo. Uma garrafa de água achava-se numa bandeja entre dois dos candeeiros. Por ser a que lhe estava mais próxima, Neville avançou para uma cadeira e, só depois de se sentar, se deu conta de que ia ficar em vantagem, tanto física como psicologicamente, desde o princípio, mas, agora que já se sentara, não teve coragem para mudar de lugar.
Marcus e Caroline instalaram-se nas suas cadeiras. Foi através de um olhar furtivo que Marcus deixou transparecer que a cadeira onde Neville estava sentado fora reservada para ele. Marcus pousou a pasta a seu lado. Neville teve a impressão de que a mesa havia sido preparada para um exame oral. Não restavam dúvidas quanto a quem iria ser o examinador, nem quanto a quem se esperava que chumbasse. As estantes atulhadas de livros, com as suas portas de vidro trancadas e que subiam até ao tecto, pareciam-lhe ameaçadoras, prontas a cair sobre ele, recordando-lhe uma fantasia infantil de que haviam sido mal fabricadas e desabariam, primeiro, muito devagar e, depois, caindo com estrondo, soterrando-o por baixo do peso mortífero dos livros. Os nichos sombrios dos pilares salientes atrás dele provocavam-lhe o mesmo terror que um perigo que espreitasse. A Sala do Crime, que podia haver-lhe provocado terror mais intenso, se bem que menos pessoal, evocava-lhe apenas pena e curiosidade. Na sua adolescência, costumava ficar horas a contemplar, em silêncio, aqueles rostos indecifráveis, como se a intensidade do seu olhar pudesse arrancar-lhes, de alguma maneira, os seus terríveis segredos. Havia fitado o rosto inexpressivo e estúpido de Rouse. Ali estava um homem que dera boleia a um vagabundo com o intuito de o queimar vivo. Neville podia imaginar a gratidão com que o viajante cansado entrara no carro que o conduziria à morte. Ao menos, Rouse fora misericordioso, quando o estrangulara ou lhe dera uma pancada para o deixar inconsciente antes de lhe deitar fogo, se bem que o devesse ter feito para melhor levar a cabo o homicídio e não por piedade. O vagabundo, sem nome nem família, fora indesejado, ignorado e ainda continuava por identificar. Somente através da sua terrível morte obtivera uma notoriedade efémera. A sociedade, que tão pouco se preocupara com ele em vida, vingara-o com toda uma panóplia de leis.
Esperou, enquanto Marcus abria a pasta, sem pressa, tirava alguns documentos e ajustava os óculos.
Obrigado por terem vindo começou. Preparei estes dossiês com os documentos de que precisamos. Não incluí cópias do fideicomisso porque conhecemos bem os seus termos. Contudo, tenho-o na minha pasta se algum de vocês quiser consultá-lo. O parágrafo relevante para o assunto em discussão é a cláusula terceira. Estipula que todas as decisões importantes relativas ao museu, incluindo a negociação de um novo arrendamento, a nomeação do conservador e todas as aquisições de valor superior a quinhentas libras, devem ser acordadas, por unanimidade, mediante a assinatura de todos os fiduciários. O arrendamento actual expira em quinze de Novembro do ano em curso, e a sua renovação requer as nossas três assinaturas. Na eventualidade de o museu ser vendido ou encerrado, o fideicomisso estipula que todos os quadros avaliados em mais de quinhentas libras, bem como todas as primeiras edições, serão oferecidos a museus conceituados. A Tate Gallery goza de direito de preferência, no que respeita aos quadros, e a British Library, quanto aos livros e manuscritos. Todos os restantes objectos devem ser vendidos e a receita dividida entre os fiduciários, então em exercício, e os descendentes directos do nosso pai. Isso significa que a receita da venda será dividida entre nós os três, o meu filho e os seus dois filhos, e a filha do Neville. A manifesta intenção do nosso pai ao instituir um fideicomisso de família foi, por conseguinte, que o museu continuasse a existir.
Claro que deve continuar a existir interveio Caroline. Já agora, e por simples curiosidade, quanto receberíamos, se o museu encerrasse?
Se não assinarmos, os três, o novo contrato de arrendamento? Não pedi uma avaliação e as verbas não passam de uma estimativa minha. A maior parte dos objectos que sobrarem, após efectuadas as doações, tem um considerável interesse histórico ou sociológico, mas provavelmente não alcançará grande valor no mercado. Pelas minhas contas, receberíamos cerca de vinte e cinco mil libras, cada um.
E uma quantia jeitosa, mas pela qual não vale a pena vender o nosso património comentou Caroline.
Marcus virou uma página do seu dossiê.
Incluí uma cópia do novo contrato de arrendamento como Apêndice B. Os termos, à excepção do arrendamento anual, não mudaram significativamente. O prazo de validade é de trinta anos, com renegociação da renda de cinco em cinco anos. Verão que o custo continua a ser razoável, até mesmo vantajoso e muito mais favorável do que o que poderíamos conseguir por uma propriedade como esta, no mercado actual. Isso deve-se, como sabem, ao facto de o proprietário só poder arrendá-la a uma organização dedicada à literatura ou às artes.
Já sabemos tudo isso replicou Neville.
Mesmo assim, achei que seria útil relembrar esses factos, antes de iniciarmos o processo das tomadas de decisão.
Neville fixou os olhos nas obras de H. G. Wells que se achavam numa estante à sua frente. Perguntou a si próprio se ainda havia alguém que lesse aqueles livros actualmente.
O que temos de decidir anunciou é de que forma vamos lidar com o encerramento do museu. Desde já quero informar-vos de que não tenho a mínima intenção de assinar um novo contrato de arrendamento. Chegou a altura de o Museu Dupayne encerrar as suas portas. Achei que devia deixar bem clara, desde já, a minha posição.
Houve um silêncio de alguns segundos. Neville forçou-se a olhar para os rostos dos irmãos. Nem Marcus nem Caroline deixavam transparecer qualquer emoção ou surpresa. Aquela salva de artilharia era o início de uma batalha que já esperavam e para a qual estavam preparados. Tinham poucas dúvidas quanto ao resultado final. Se as houvesse, eram relativas apenas à estratégia mais eficaz.
A voz de Marcus, quando se fez ouvir, era calma.
Em meu entender, essa tua decisão é prematura. Nenhum de nós pode tomar uma resolução razoável quanto ao futuro do museu, antes de havermos analisado se, financeiramente, podemos continuar a mante-lo. Por exemplo, se podemós suportar os custos do novo arrendamento e que mudanças são necessárias para manter este museu em pleno século vinte e um.
Desde que compreendam que quaisquer discussões ulteriores serão uma pura perda de tempo... volveu Neville. E não estou a agir impulsivamente. Tenho pensado nisto desde que o nosso pai faleceu. Chegou o momento de o museu encerrar e de as peças irem para outras instituições.
Nem Marcus nem Caroline replicaram. Quanto a Neville, optou por não protestar mais. A reiteração das suas objecções só iria enfraquecer os seus argumentos. Era melhor deixar os irmãos falar para, depois, reafirmar rapidamente a decisão que tomara.
Marcus prosseguiu, como se Neville não houvesse acabado de falar.
O Apêndice C apresenta as minhas propostas para uma reorganização e uma gestão mais eficaz do museu. Incluí as contas do ano passado, as estatísticas relativas aos visitantes e os cálculos relativos a um financiamento. Verão que proponho financiar o novo arrendamento através da venda de um único quadro, talvez uma das obras de Nash, o que não violará os termos do fideicomisso, se a quantia obtida for utilizada, na sua totalidade, para uma gestão mais eficaz do museu. Podemos desfazer-nos de um quadro sem grandes prejuízos. Afinal, o Dupayne não é uma galeria de arte. Desde que tenhamos uma parte representativa da obra dos artistas mais importantes do período entre as duas guerras, podemos justificar a existência da galeria. Temos também de pensar no pessoal. O James Calder-Hale está a efectuar um trabalho eficiente e pode continuar, por enquanto, mas sugiro que, mais tarde, contratemos um conservador qualificado, se o museu se desenvolver. Actualmente, o pessoal do museu resume-se ao James, à Muriel Godby, a secretária e recepcionista, à Tallulah Clutton, que reside na vivenda e faz de tudo um pouco, excepto as limpezas mais pesadas, e ao Ryan Archer, o rapaz que é jardineiro a tempo parcial e que também se ocupa de outras tarefas. Ainda há as duas voluntárias, Mistress Faraday, conselheira para o jardim e para a propriedade, e Mistress Strickland, a calígrafa. Têm-nos prestado, ambas, uma grande ajuda.
Podias ter-me incluído nessa tua lista comentou Caroline. Venho até cá, pelo menos, duas vezes por semana. Sou eu que praticamente dirijo o museu desde que o nosso pai morreu. Se há um controlo geral, sou eu que o faço.
O problema é esse: não existe um controlo geral eficaz
replicou Marcus, calmamente. Não estou a subestimar o que fazes, Caroline, mas toda a organização é basicamente amadora. Temos de começar a pensar como profissionais, se formos proceder às mudanças fundamentais de que precisamos para sobreviver.
Caroline franziu as sobrancelhas.
Não precisamos de mudanças fundamentais. O que temos é único. Sei que é pequeno e que nunca irá atrair o público como um museu mais polivalente, mas foi fundado com um determinado objectivo, que consegue cumprir. Pelos cálculos que incluíste, parece que estás com esperança de obter um financiamento oficial. Esquece isso. O Estado não nos dará uma só libra. Porque haveria de o fazer? Mesmo que tal acontecesse, teríamos de complementar o financiamento, o que é impraticável. As entidades locais de Hampstead Heath já sofrem pressões a mais, tal como todas as outras, e o governo central não consegue financiar, de forma adequada, até mesmo os maiores museus nacionais, tal como o Victoria & Albert ou o British Museum. Concordo que tenhamos de aumentar o rendimento do museu, mas não à custa de vendermos a nossa independência.
Não pensei nos fundos públicos objectou Marcus.
Nem nos fundos do governo, nem das entidades locais, porque nunca o obteríamos. Até porque nos arrependeríamos, se esses fundos nos fossem concedidos. Basta ver o caso do British Museum: cerca de cinco milhões de libras de dívidas. O governo insiste numa política de entradas gratuitas, o seu financiamento é inadequado, eles metem-se em apuros e têm de recorrer novamente ao governo para que lhes dê mais dinheiro. Porque não vendem o seu imenso excedente de peças, cobram preços razoáveis para as entradas, no que toca aos grupos mais vulneráveis, e se tornam independentes?
Porque, pela lei, não podem desfazer-se de doações e porque não podem existir sem apoios; mas concordo contigo: nós podemos. E não vejo por que razão os museus e as galerias devam conceder entradas gratuitas. Outras manifestações culturais não o são... os concertos de música clássica, o teatro, a dança, a BBC..., isto, partindo do princípio de que a BBC ainda produz cultura... Ah, e a propósito, nem sequer penses em desfazeres-te do apartamento. E meu desde que o nosso pai morreu e preciso dele. Não posso viver num apartamento minúsculo em Swathling’s.
Nem sequer me passou pela cabeça privar-te do apartamento retorquiu Marcus, com a mesma calma. Não é apropriado para exposições e o seu acesso, por um único elevador ou pela Sala do Crime, representaria um inconveniente. Além do mais, espaço não nos falta.
E também não penses em livrares-te da Muriel ou da Tally. Ambas valem muito mais do que os salários miseráveis que recebem.
Não era minha intenção despedi-las. A Godby é demasiado eficiente para a perdermos. Estou a pensar em dar-lhe mais responsabilidades... sem que isso interfira, como é óbvio, com o trabalho que ela faz para ti. Mas precisamos de alguém mais simpático e acolhedor na recepção. Pensei recrutar uma licenciada para secretária e recepcionista. Uma rapariga com as capacidades necessárias, claro.
Deixa-te disso, Marcus! Que tipo de licenciatura? Tirada numa universidade de terceira categoria? É melhor certificares-te de que essa pessoa sabe ler e escrever. A Muriel trabalha com o computador, a Internet e a contabilidade. Encontra uma licenciada que consiga fazer tudo o que ela faz, pelo mesmo salário, e terás muita sorte.
Neville man tivera-se em silêncio durante aquele diálogo. Talvez os seus adversários estivessem a virar-se um contra o outro, muito embora tivessem o mesmo objectivo: manter o museu aberto. Quanto a ele, esperaria pela sua vez. Sentia-se surpreendido e não era a primeira vez pelo pouco que conhecia os irmãos. Nunca acreditara que, por ser psiquiatra, obteria a chave-mestra que abriria todas as portas da mente humana, mas não havia duas mentes cuja entrada lhe estivesse mais bloqueada do que as que partilhavam com ele a falsa intimidade da consanguinidade. Marcus era muito mais complexo do que o seu exterior burocrata e cuidadosamente controlado podia sugerir. Tocava violino quase ao nível de um profissional, o que devia significar algo. E ainda bordava. Aquelas mãos alvas e bem cuidadas tinham uma peculiar destreza. Examinando as mãos do irmão, Neville podia imaginar os dedos, compridos, de unhas arranjadas por uma manicura, movendo-se nas suas actividades: escrevendo minutas elegantes em registos oficiais, esticando as cordas do violino, enfiando um fio de seda nas agulhas de bordar ou folheando, como naquele instante, os documentos que preparara tão meticulosamente. O seu irmão Marcus, com uma casa, monótona e convencional, nos subúrbios, uma esposa muitíssimo respeitável que, provavelmente, nunca lhe provocara uma hora de ansiedade e o filho, cirurgião bem-sucedido, que estabelecera uma carreira lucrativa na Austrália. E Caroline. Quando havia começado a descobrir em que consistia o âmago da vida da irmã? Nunca visitara a escola e desprezava tudo o que representava aos seus olhos: uma preparação privilegiada para uma vida de ociosidade. A vida de Caroline, na escola, constituía um mistério para ele. Suspeitava que o casamento dela a desiludira, apesar de haver durado onze anos. Como seria agora a sua vida sexual? Era difícil de acreditar que, além de ser uma mulher sozinha, Caroline fizera voto de castidade. Neville apercebeu-se de que estava cansado. As pernas tremiam-lhe, em espasmos, e mal conseguia manter os olhos abertos. Esforçou-se por se manter acordado e por escutar a voz monocórdica e pausada de Marcus.
As investigações a que procedi durante o mês passado levaram-me a uma conclusão inevitável. Para sobreviver, o Museu Dupayne tem de mudar. Não podemos continuar a ser um pequeno repositório especializado no passado para alguns intelectuais, investigadores e historiadores. Temos de ser receptivos ao grande público e vermo-nos como educadores e mediadores. Não apenas como guardiões de décadas de há muito mortas. Acima de tudo, devemos tornar-nos abrangentes. Esta política foi estabelecida pelo governo, em Maio de dois mil, na sua publicação Centros para a Mudança Social: Museus, Galenas e Arquivos para Todos. Encara o desenvolvimento social como uma prioridade e declara que os museus deveriam... e passo a citar: identificar as pessoas que estão excluídas socialmente... despertar a sua atenção e estabelecer as suas necessidades [...] desenvolver projectos cujo objectivo seja melhorar as vidas das pessoas em risco de exclusão social. O museu tem de ser visto como um agente da mudança social.
A gargalhada de Caroline foi, ao mesmo tempo, sardónica e genuinamente gutural.
Meu Deus, Marcus! Admira-me que nunca tenhas sido nomeado director de um importante ministério do Estado! Possuis todos os requisitos necessários. Engoliste todo esse jargão contemporâneo de um único e glorioso trago! Que devemos fazer? Ir até Highgate e Hampstead e descobrir que grupos sociais não nos lisonjeiam com a sua visita? Concluir que temos muito poucas mães solteiras com dois filhos, homossexuais, lésbicas, pequenos comerciantes e minorias étnicas? E, depois, que temos de fazer? Atraí-los, instalando um carrossel no jardim para as crianças e oferecer-lhes chá? Ou devemos oferecer-lhes antes balões, para que os levem para casa como recordação? Se um museu cumprir a sua missão com eficácia, as pessoas que estiverem interessadas irão visitá-lo, e nunca pertencerão a uma só classe social. Na semana passada, estive no British Museum, com um grupo da escola. Às cinco e meia da tarde, os visitantes começaram a sair... novos, velhos, ricos, mendigos, negros, brancos. Visitaram o British Museum porque a entrada é gratuita e porque possui um acervo magnífico. Não podemos ter essas duas coisas, mas podemos, isso sim, continuar a fazer o que fizemos desde que o nosso pai fundou este museu. Pelo amor de Deus... Continuemos a ser como éramos, o que já é bastante difícil.
Se os quadros forem para outras galerias replicou Neville, nada estará perdido. As pessoas continuarão a poder vê-los, provavelmente em maior número.
Caroline rejeitou a ideia...
Não necessariamente. Aliás, parece-me muito pouco provável. A Tate não tem espaço para exibir os milhares de quadros que possui. Duvido que tanto a National Gallery como a Tate se mostrem interessadas no que temos para lhes oferecer. Talvez o caso mude de figura no que diz respeito às galerias de província, mais pequenas, mas também não há qualquer garantia de que os queiram. Os quadros pertencem a este museu. Fazem parte de uma história, bem planeada e coerente, sobre o período entre as duas guerras.
Marcus fechou o dossiê e pousou as mãos sobre a capa.
Antes que o Neville fale, quero deixar dois pontos bem assentes. O primeiro é o seguinte: os termos do fideicomisso destinam-se a assegurar que o Museu Dupayne continue a existir. Penso que não restam quaisquer dúvidas quanto a isso. A maioria deseja que ele continue aberto. Isso significa, Neville, que não temos de convencer-te dos nossos motivos. És tu que tens de nos convencer, a nós. O segundo ponto é o seguinte: estás seguro quanto aos teus motivos? Não deverias encarar a possibilidade de que o que se acha por trás desse teu desacordo nada tem a ver com dúvidas racionais acerca de o museu ser financeiramente viável ou cumprir o seu objectivo? Não será possível que te sintas motivado por um sentimento de vingança para com o nosso pai? Fazendo-o pagar pelo facto de o museu haver representado mais para ele do que a sua família, do que tu? Se eu estiver certo, então, não é um tanto infantil ou até, para algumas pessoas, um tanto ignóbil?
Aquelas palavras, proferidas pela voz monocórdica, calma e, aparentemente, sem rancor de um homem sensato que apresentara uma teoria razoável, atingiram Neville com a mesma força de um murro. Sentiu encolher-se na cadeira. Sabia que o seu rosto devia deixar transparecer a intensidade da sua reacção: um misto repentino de espanto e de raiva, que não conseguia controlar e apenas confirmava a acusação de Marcus. Apesar de já esperar uma luta, nunca lhe passara pela cabeça que o irmão se aventurasse num campo de batalha tão perigoso. Podia sentir que Caroline se inclinara para a frente, com os olhos fixos no seu rosto. Estavam à espera da resposta dele. Sentiu-se tentado a dizer que um psiquiatra na família já chegava, mas desistiu; não era o momento para recorrer à ironia barata. Em vez disso, após um silêncio que pareceu durar durante meio minuto, recuperou a voz e conseguiu falar com calma.
Mesmo que fosse verdade, e não o é mais para mim do que para qualquer outro membro da família, isso não alteraria a minha decisão. Não vale a pena continuarmos com esta discussão, especialmente se degenerar na análise do perfil psicológico de cada um de nós. Não tenciono assinar o novo contrato de arrendamento e, agora, se me dão licença, tenho de ir ver os meus pacientes.
Foi então que o telemóvel de Neville tocou. Tencionava desligá-lo, durante a reunião, mas havia-se esquecido. Pegou na gabardina e tirou o telemóvel de um dos bolsos. Reconheceu, de imediato, a voz da sua secretária, que nem precisou de se identificar.
A polícia contactou-me. Queriam telefonar-lhe, mas disse-lhes que lhe daria pessoalmente a notícia... Mistress Gearing tentou suicidar-se e matar o marido, primeiro, com uma overdose de aspirina solúvel e, depois, enfiando sacos de plástico na cabeça.
Estão bem?
Os paramédicos conseguiram reanimar o Albert, que vai safar-se. Ela morreu.
Apesar de sentir os lábios inchados e rígidos, Neville replicou:
Obrigado por me ter avisado. Eu telefono-lhe mais tarde.
Guardou o telemóvel e regressou, muito hirto, à sua cadeira, admirado por as suas pernas conseguirem mover-se. Tinha consciência do olhar indiferente de Caroline.
Peço desculpa. Acabam de me informar que a esposa de um dos meus pacientes se suicidou.
Marcus ergueu o olhar dos papéis.
Não o teu paciente, mas a esposa dele?
Não, não foi o meu paciente.
Se não foi o teu paciente, não era necessário incomodarem-te.
Neville não lhe respondeu. Sentou-se, com as mãos fechadas sobre o regaço, por temer que os irmãos reparassem que tremiam. Sentia uma fúria tão física que parecia acumular-se no seu organismo, como um vómito. Tinha de despejá-la, como se, através de um jacto nauseabundo, pudesse livrar-se da dor e da culpa. Lembrou-se das últimas palavras que Ada Gearing lhe dissera: Não creio que consiga aguentar muito mais tempo. E falara a sério. Com estoicismo e sem nunca se queixar, ela apercebera-se dos seus limites. Havia-lho dito, mas ele não a ouvira. Era extraordinário que nem Marcus nem Caroline se dessem conta daquele tumulto devastador que lhe ia no íntimo e o fazia sentir nojo de si próprio. Olhou para Marcus. O irmão tinha o sobrolho franzido pela concentração, mas, aparentemente, não se mostrava muito preocupado, já pronto para formular um novo argumento e planear uma outra estratégia. O rosto de Caroline era mais fácil de interpretar: estava lívida de raiva.
Imóveis, por poucos segundos, naquele quadro de confrontação, nenhum deles havia ouvido a porta abrir-se. Contudo, um movimento despertou-lhes a atenção. Muriel Godby achava-se à soleira da porta com um tabuleiro.
Miss Caroline pediu-me que trouxesse chá às quatro horas anunciou. Posso servi-lo?
Caroline acenou afirmativamente com a cabeça e começou a afastar os papéis para arranjar espaço na mesa. Neville não conseguiu aguentar mais. Levantou-se de súbito, agarrou na gabardina e encarou os irmãos pela última vez.
Já terminei. Nada mais tenho a dizer. Estamos todos a perder o nosso tempo. Podem começar a planear o encerramento do museu. Nunca assinarei esse contrato de arrendamento. Nunca! E vocês não podem obrigar-me a fazê-lo.
Detectou, nos rostos dos irmãos, uma expressão fugaz de desdém e de repugnância. Sabia o que estavam a pensar. Viam-no como uma criança rebelde, que descarregara a sua raiva impotente contra os adultos. Só que ele não se sentia impotente. Tinha poder, e eles sabiam-no.
Avançou às cegas para a porta. Não soube como aconteceu; se foi o seu braço que bateu no rebordo do tabuleiro ou se Muriel Godby se movera, instintivamente, para lhe bloquear a saída. O tabuleiro saltou-lhe das mãos. Neville passou por ela, sem se deter, só se dando conta do grito horrorizado daquela mulher, de um jacto de chá a ferver que descreveu um arco no ar e do estilhaçar de porcelana, ao cair. Sem olhar para trás, desceu a escada a correr, passou por Mrs. Strickland, que da recepção o fitou, atónita, e saiu do museu.
Quarta-feira, trinta de Outubro, o dia da reunião dos fiduciários, começara para Tally como um outro dia qualquer. Dirigira-se ao museu, antes de o Sol nascer, e demorara uma hora a proceder à sua rotina habitual. Muriel chegara cedo. Trazia um cesto e Tally imaginou que, como de costume, ela estivera a fazer biscoitos para o chá dos fiduciários. Recordando os seus tempos de escola, Tally pensou: Está a querer agradar à professora, e sentiu uma certa pena de Muriel, que reconheceu como sendo um censurável misto de piedade e de um ligeiro desdém.
Ao voltar à pequena cozinha que se achava na parte de trás do átrio de entrada, Muriel explicou-lhe o programa do dia. O museu manter-se-ia aberto de tarde, à excepção da biblioteca. Mrs. Strickland devia estar a chegar, mas recebera instruções para trabalhar na galeria de quadros. Ficaria na recepção, enquanto Muriel servisse o chá. Não haveria necessidade de chamar Tally. Mrs. Faraday telefonara para dizer que estava constipada e não iria ao museu. Talvez fosse melhor Tally manter Ryan debaixo de olho, assim que ele se dignasse aparecer, para se certificar de que o rapaz não se aproveitava da ausência de Mrs. Faraday.
De regresso a casa, Tally sentiu-se agitada. A sua usual caminhada ao longo do Heath, apesar da chuva fina, deixara-a cansada, o que era raro, sem conseguir acalmar tanto o seu corpo como o seu espírito. Ao meio-dia, deu-se conta de que não tinha fome e resolveu atrasar o almoço, composto por uma sopa e ovos mexidos, até Ryan chegar. Naquele dia, trouxera uma metade de pão integral cortado às fatias e uma lata de sardinhas. A chave da lata partiu-se quando tentou desprendê-la e teve de ir buscar um abre-latas à cozinha. Tentou servir-se dele, mas não conseguiu, o que fez com que esguichos de óleo saltassem, manchando a toalha de mesa, enquanto o cheiro forte a sardinhas se espalhava por toda a casa. Tally teve de abrir a porta e uma janela, mas o vento começara a soprar com mais força, lançando a chuva contra as vidraças. Voltando para a mesa, observou Ryan, enquanto este barrava o pão com as sardinhas, servindo-se da faca da manteiga e não da que Tally lhe preparara. Pareceu-lhe disparatado chamar a atenção do rapaz, mas, de repente, desejou que Ryan se fosse embora. Porque não lhe apetecia comer ovos mexidos, Tally dirigiu-se à cozinha e abriu um pacote de sopa de feijão com tomate. Levou a tigela e uma colher para a sala de estar e sentou-se à mesa com Ryan.
É verdade que o museu vai fechar e que seremos todos despedidos? perguntou ele com a boca cheia.
Tally conseguiu ocultar o tom de preocupação da sua voz.
Quem te disse isso, Ryan?
Ninguém. Foi algo que ouvi, por acaso.
Não devias escutar as conversas alheias.
Não fiz de propósito. Estava a aspirar o átrio de entrada, na segunda-feira, enquanto Miss Caroline conversava com Miss Godby na recepção, e ouvi-a dizer: Se, na quarta-feira, não conseguirmos convencê-lo, o museu será encerrado. E tão simples como isto. No entanto, julgo que ele cairá em si. Depois, Miss Godby disse qualquer coisa que eu não consegui perceber. Só ouvi algumas palavras antes de Miss Caroline sair: Não diga nada a ninguém.
Não te parece que devias seguir o conselho dela? Ryan fitou Tally com os seus olhos grandes e inocentes.
Miss Caroline não estava a falar comigo. Hoje é quarta-feira. É por isso que eles os três vêm até cá esta tarde.
Tally apertou a tigela com as mãos, embora não houvesse começado ainda a sorver a sopa, por recear que lhe fosse difícil levar a colher aos lábios sem revelar quanto tremiam.
Admira-me que tenhas conseguido ouvir tanta coisa, Ryan, porque elas deviam estar a falar em voz baixa comentou.
Falavam tão baixo que pareciam estar a partilhar um segredo. Só ouvi as palavras finais, mas elas nunca dão por mim quando ando nas limpezas. É como se eu não estivesse ali. Mesmo que tivessem reparado em mim, pensariam que eu não conseguiria ouvir o que diziam por causa do barulho do aspirador. Talvez não se tenham importado com a possibilidade de eu as ouvir ou não, porque, para elas, eu não conto.
Falara sem revelar qualquer rancor, mas tinha os olhos fixos no rosto de Tally, e esta sabia o que ele queria que lhe respondesse. Sobrara um pedaço de pão no prato de Ryan e, sem deixar de a fitar, o rapaz começou a esmigalhá-lo para depois fazer bolas, que colocou no rebordo do prato.
Claro que contas, Ryan, assim como o trabalho que fazes aqui. Não quero que metas nessa tua cabeça que não te dão valor, porque seria um disparate.
Pouco me importa se me dão ou não valor. Pelos menos, os outros. Afinal, pagam-me pelo que faço, não é verdade? Se não gostasse do meu trabalho, já me tinha ido embora, se bem que, agora, pareça que não me resta alternativa...
A preocupação que sentiu pelo jovem fez com que Tally se esquecesse, por breves momentos, das suas angústias pessoais.
Para onde irás, Ryan? Que tipo de emprego vais procurar? Tens planos?
Espero que o major tenha feito planos para mim. Ele é muito bom nisso. E a senhora? O que vai fazer, Mistress Tally?
Não te preocupes comigo, Ryan. Hoje em dia, trabalho não falta para as governantas. As páginas de The Lady estão cheias de anúncios à procura de governantas. Ou talvez me reforme.
E para onde irá viver?
Era uma pergunta incómoda. Indicava que Ryan, de alguma forma, estava a par da sua grande ansiedade, muito embora nunca a houvesse expressado. Alguém lhe teria contado? Ou fora algo que ele também escutara por acaso? Vieram-lhe à mente extractos de conversas imaginárias. A Tally vai ser um problema. Não podemos despedi-la assim, sem mais nem menos. Tanto quanto sei, não tem para onde ir.
Isso dependerá do emprego que eu arranjar, não é verdade? replicou calmamente. Espero ficar em Londres, mas de nada me serve tomar uma decisão, enquanto não soubermos o que vai acontecer ao museu.
Ryan tornou a fitá-la, olhos nos olhos, e Tally quase se convenceu de que ele estava a ser sincero.
Pode ir viver para a casa que ocupámos, se não se importar de partilhá-la. Os gémeos da Evie são muito barulhentos e não cheiram lá muito bem, mas não é tão mau como possa pensar. Quero dizer: para mim, serve, mas já não estou tão certo de que a senhora gostasse...
Claro que não ia gostar. Como podia Ryan imaginar que ela gostaria de viver numa casa ocupada? Estaria ele a tentar ajudá-la, mesmo que desastradamente, ou estaria a brincar com a situação dela? Aquela ideia desagradava-lhe, mas tentou manter um tom de voz afável, até mesmo algo divertido, quando replicou:
Penso que não terei de chegar a esse ponto, mas, obrigada na mesma, Ryan. Ocupar uma casa abandonada e partilhá-la com estranhos é coisa de jovens. Não achas que devias voltar ao trabalho? Anoitece cada vez mais cedo e ainda tens de cortar uma hera morta no muro voltado para oeste.
Era a primeira vez que lhe sugeria que devia retirar-se, mas Ryan levantou-se, aparentemente sem se sentir ofendido. Apanhou algumas migalhas da toalha, levou o seu prato, a faca e o copo de água para a cozinha e voltou com um pano húmido com que começou a limpar as manchas de óleo.
Deixa estar, Ryan disse-lhe Tally, tentando não demonstrar a sua irritação. Tenho de lavar a toalha.
Depois de pousar o pano sobre a mesa, Ryan saiu. Tally suspirou de alívio quando a porta se fechou atrás dele.
A tarde passou lentamente. Tally manteve-se ocupada com pequenas tarefas na casa, por se sentir demasiado agitada para se sentar e ler. De súbito, tornou-se-lhe intolerável não saber o que estava a acontecer ou, se não pudesse sabê-lo, intolerável permanecer ali, como se pudessem ignorá-la. Não lhe seria difícil arranjar um pretexto para ir até ao museu e falar com Muriel. Mrs. Faraday referira precisar de mais bolbos para plantar nas bermas do caminho de entrada. Podia Muriel comprá-los com o dinheiro destinado às despesas do museu? Pegou na gabardina e cobriu a cabeça com um capuz de plástico. Lá fora, continuava a cair uma chuva fina e silenciosa que fazia brilhar as folhas dos loureiros e lhe salpicava as faces. Ao chegar à porta do museu, Marcus Dupayne saiu. Caminhava apressadamente, com o semblante carregado, e pareceu não a ver, apesar da curta distância que os separava. Tally reparou que ele nem sequer fechara a porta. Estava entreaberta e, empurrando-a, Tally entrou no átrio, iluminado apenas pelos dois candeeiros da recepção onde Caroline Dupayne e Muriel estavam a vestir os casacos. Por trás delas, o átrio revelava-se um lugar desconhecido e misterioso, de sombras escuras e recantos cavernosos, com a escada central a subir para o negro vácuo. Nada lhe parecia familiar, simples ou reconfortante. Teve, por breves momentos, uma visão dos rostos da Sala do Crime, tanto das vítimas como dos assassinos, a descer a escada, num cortejo lento e silencioso, vindos da escuridão. Apercebera-se de que as duas mulheres se haviam virado e a fitavam. Por fim, a visão desvaneceu-se.
Muito bem, Muriel exclamou Caroline Dupayne, em tom enérgico. Vou deixá-la trancar as portas e ligar o alarme.
Com um rápido boa noite, que não era dirigido nem a Muriel nem a Tally, avançou para a porta e saiu.
Muriel abriu o armário onde guardava as chaves e tirou a da porta de entrada e as de segurança.
Miss Caroline e eu já passámos em revista as salas, por isso não tem de ficar aqui anunciou. Tive um acidente com o tabuleiro do chá, mas já limpei tudo. Fez uma pausa e, logo de seguida, acrescentou: Acho melhor começar a procurar um emprego.
Só eu?
Todos nós. Miss Caroline disse-me que se encarregaria de mim. Penso que tem uma proposta em mente que talvez eu venha a aceitar. Mas... sim, todos nós teremos de procurar um novo emprego.
O que aconteceu? Os fiduciários chegaram a uma conclusão?
Ainda não, pelo menos, oficialmente. A reunião não foi propriamente pacífica... Muriel fez nova pausa, antes de continuar, com o ligeiro deleite de quem transmite más novas. O doutor Neville quer encerrar o museu.
E pode?
Pode impedir que o museu continue aberto, o que vai dar ao mesmo. Não conte a ninguém que eu lhe disse isto. Como já mencionei, ainda não é oficial, mas você trabalha aqui há oito anos e pensei que tinha o direito de saber.
Tally conseguiu manter a sua voz calma.
Obrigada por mo dizer, Muriel. Esteja descansada que não contarei a ninguém. Quando pensa que será encerrado em definitivo?
É como se já fosse definitivo. O novo contrato de arrendamento tem de ser assinado até ao dia quinze de Novembro, o que faz com que Miss Caroline e Mister Marcus tenham pouco mais de duas semanas para convencer o irmão a mudar de ideia. Ora, ele não vai voltar atrás na sua decisão...
Duas semanas. Tally voltou a agradecer e dirigiu-se para a porta. Ao voltar para casa a pé, pareceu-lhe que os seus tornozelos estavam atados a grilhetas e que os seus ombros se haviam curvado sob um peso insuportável. Iriam despejá-la dali a duas semanas? Recobrou rapidamente a razão. Não seria assim. Não podia ser assim. Passar-se-iam semanas, provavelmente meses, até mesmo um ano, antes que os novos locatários se mudassem para ali. Primeiro, teriam de tirar todas as colecções e as peças de mobiliário, assim que se estabelecesse o destino que lhes seria dado, e isso era algo que não podia fazer-se à pressa. Disse a si mesma que teria muito tempo para decidir o que iria fazer. Não queria iludir-se com a ideia de que os novos locatários se mostrariam felizes por ela permanecer na vivenda. Precisariam da vivenda para os seus empregados, como era óbvio. Tão-pouco se queria iludir com a ideia de que as suas economias lhe permitiriam comprar um apartamento de uma assoalhada em Londres. Havia-as investido cuidadosamente, mas, com a recessão económica, já não lhe rendiam juros. Seria o suficiente para a entrada de um apartamento, mas como podia ela, uma mulher de mais de sessenta anos e sem rendimento fixo, obter ou pagar um empréstimo? Contudo, outros haviam sobrevivido a catástrofes muito piores e ela também haveria de consegui-lo. Nada de significativo aconteceu na quinta-feira nem nada foi comunicado oficialmente quanto ao futuro do museu. Nenhum dos Dupayne apareceu e houve apenas um diminuto fluxo de visitantes que, aos olhos de Tally, pareciam um grupo desanimado e solitário a vaguear pelas salas como se não soubesse o que estava a fazer ali. Na sexta-feira de manhã, Tally abriu o museu às oito horas, como de costume, desligou o sistema de alarme, voltou a programá-lo, acendeu as luzes e iniciou a sua inspecção. Como houvera muito poucos visitantes no dia anterior, nenhuma das salas do primeiro andar precisava de ser limpa. O piso térreo, que implicava limpezas mais pesadas, era tarefa de Ryan. Quanto a Tally, só tinha de limpar umas dedadas em algumas das vitrinas, em particular na Sala do Crime, e dar lustro às mesas e às cadeiras.
Muriel chegou pontualmente às nove horas, e o dia no museu começou. Um grupo de seis académicos de Harvard devia chegar a qualquer momento, mediante marcação prévia. A visita fora organizada por Mr. Calder-Hale que lhes mostraria as salas, mas ele nutria pouco interesse pela Sala do Crime e, geralmente, era Muriel que se encarregava de a mostrar. Muito embora o conservador aceitasse que o homicídio pudesse ser simbólico e característico da época em que havia sido cometido, defendia que se podia realçar aquele aspecto sem dedicar uma sala inteira aos assassinos e aos seus homicídios. Tally sabia que ele se recusava a fornecer explicações ou pormenores sobre tudo o que se achava exposto na Sala do Crime assim como se mostrava inflexível quanto à proibição de se abrir o baú só para que os visitantes pudessem ver as alegadas manchas de sangue, ávidos por sentir um calafrio de horror.
Muriel mostrou-se muito repressiva. As dez horas, foi procurar Tally, que se achava atrás da garagem a conversar com Ryan sobre quais os arbustos que precisavam de ser aparados e se deviam telefonar a Mrs. Faraday, que continuava ausente, para lhe pedir conselho.
Tenho de deixar a recepção por algum tempo. Precisam de mim na Sala do Crime. Se, ao menos, aceitasse ter um telemóvel, eu podia contactá-la quando não está na vivenda comentou Muriel.
A recusa de Tally em ter um telemóvel era um motivo de queixa antigo, mas mantivera-se firme na sua decisão. Detestava telemóveis, não tanto porque as pessoas tinham o hábito de deixá-los ligados nas galerias e nos museus, mas porque berravam para aqueles aparelhos conversas sem qualquer interesse, enquanto ela estava sentada calmamente no seu lugar preferido do autocarro, a parte da frente do primeiro andar, e contemplava o espectáculo que passava pela janela. Sabia que o seu ódio por telemóveis não era provocado apenas por aquelas inconveniências. De forma irracional mas inelutável, o seu toque havia substituído o som insistente que dominara a sua infância e a sua vida adulta: o tilintar da porta da loja dos tios.
Sentada atrás da recepção, a distribuir os pequenos autocolantes forma que Muriel encontrara para contabilizar o número de visitantes e escutando o burburinho suave de vozes que vinham da galeria de quadros, Tally sentiu-se mais animada. O dia reflectia o seu estado de espírito. Na quinta-feira, o céu, como um imenso tapete cinzento impenetrável, abatera-se sobre a cidade, parecendo querer absorver-lhe as energias e a própria vida. Mesmo na orla do Heath, o ar exalara um odor tão acre quanto o da fuligem. Contudo, na sexta-feira de manhã, o tempo mudara. O ar ainda era frio, mas menos pesado. Ao meio-dia, uma vento fresco sacudia as copas finas das árvores, movendo-se por entre os arbustos e perfumando o ar com o cheiro a terra, tão característico do fim do Outono.
Estava ainda na recepção quando chegou Mrs. Strickland, uma das voluntárias. Era uma calígrafa amadora e ia ao Dupayne, às quartas e sextas, para se sentar na biblioteca e escrever tudo o que lhe pedissem, preenchendo um objectivo triplo, uma vez que também dispunha de competência para responder à maior parte das perguntas dos visitantes sobre os livros e os manuscritos, enquanto mantinha discretamente debaixo de olho as entradas e saídas. À uma e meia, Tally foi novamente chamada para ficar na recepção, enquanto Muriel almoçava no gabinete adjacente. Muito embora a anuência de visitantes houvesse diminuído, o museu parecia mais concorrido do que nas últimas semanas. As duas horas, formara-se mesmo uma pequena fila. Enquanto dava as boas-vindas com um sorriso e entregava o troco, o optimismo de Tally aumentou. Talvez ainda se encontrasse uma maneira de salvar o museu, muito embora não houvesse ainda sido feita qualquer comunicação oficial sobre o assunto.
Pouco antes das cinco horas, como já todos os visitantes tinham saído, Tally regressou ao museu, pela última vez, para se juntar a Muriel na ronda de inspecção. No tempo do velho Mr. Dupayne, aquela tarefa era da única responsabilidade de Tally, mas, uma semana depois da chegada de Muriel, esta decidira por sua própria iniciativa juntar-se a Tally, que compreendera, instintivamente, que não lhe convinha entrar em conflito com a protegida de Miss Caroline e, por conseguinte, não formulara qualquer objecção. Como de costume, passaram de uma sala para a outra, trancaram as portas da galeria de quadros e da biblioteca e desceram à cave para examinar a sala do arquivo, que ficava sempre iluminada porque a escada de ferro podia constituir um perigo. Tudo estava em ordem. Nenhum dos visitantes deixara ficar, esquecido, qualquer objecto pessoal. Já tinham colocado as capas de couro sobre as vitrinas e só lhes restava arrumar os poucos jornais espalhados sobre a mesa da biblioteca, devidamente protegidos por capas de plástico. Por fim, apagaram as luzes.
De volta ao átrio de entrada e depois de olhar para a escuridão que se estendia por cima da escada, Tally questionou-se, como tantas vezes o fizera, sobre a peculiar natureza daquele vazio silencioso. Para ela, o museu, depois das cinco horas da tarde, tornava-se misterioso e estranho, como os lugares públicos frequentemente parecem depois da saída de todas as pessoas, e o silêncio, qual espírito estranho e agoirento, entra sorrateiramente para se apoderar das horas da noite. Mr. Calder-Hale saíra ao fim da manhã, com o seu grupo de visitantes, Miss Caroline fizera o mesmo por volta das quatro da tarde e, pouco depois, Ryan recebera o seu dinheiro do dia e partira a pé até à estação de metropolitano de Hampstead. Agora, só restavam Tally, Muriel e Mrs. Strickland. Muriel oferecera-se para dar boleia a Mrs. Strickland até à estação e, às cinco e um quarto, um pouco antes do que habitualmente, ambas haviam partido. Tally ficara a ver o carro desaparecer no caminho da entrada e, depois, começara a sua caminhada pela escuridão, em direcção a casa.
O vento levantara-se em rajadas irregulares, arrancando-lhe da mente o optimismo das horas do dia. Lutando contra o vento, encaminhou-se para a parte virada a leste da vivenda, arrependida de não haver deixado as luzes acesas. Desde que Muriel fora trabalhar para o museu, Tally aprendera a ser poupada, mas o aquecimento e a electricidade da sua casa dependiam de um circuito separado do museu e, muito embora nunca ninguém se houvesse queixado, Tally sabia que as facturas eram examinadas por Muriel, que tinha razão em proceder daquela maneira. Agora, mais do que nunca, era importante poupar dinheiro. Contudo, ao aproximar-se da massa sombria, desejou que as luzes da sala de estar brilhassem por entre as cortinas, para lhe garantir que aquela ainda era a sua casa. Deteve-se à porta para contemplar a vasta extensão do Heath e avistar, ao longe, o esplendor de Londres. Mesmo quando caía a noite e o Heath se transformava num vazio negro, sob o céu, continuava a ser um local que lhe era familiar e de que muito gostava.
De súbito, ouviu um farfalhar nos arbustos e Tomcat apareceu. Sem qualquer demonstração de afecto nem parecendo dar pela presença de Tally, percorreu o carreiro e sentou-se, à espera que ela lhe abrisse a porta.
Tomcat era um gato vadio. Até mesmo Tally tinha de admitir que era muito pouco provável que alguém pudesse escolhê-lo como animal de estimação. Era o maior gato que alguma vez vira, com uma pelagem estranha, de um tom castanho-alaranjado, e um focinho achatado, em que um olho se achava mais abaixo do que o outro, patas largas e curtas, e uma cauda que ele parecia não saber que lhe pertencia porque raramente a usava para demonstrar qualquer outra emoção a não ser descontentamento. Aparecera no Heath, no Inverno anterior, e sentara-se à porta da vivenda durante dois dias até que Tally, provavelmente de forma insensata, colocara num pires comida para gatos, que ele tragara sofregamente por estar faminto. Depois, passara pela porta aberta, entrara na sala de estar e apropriara-se de uma cadeira situada ao lado da lareira. Ryan, que se encontrava de serviço naquele dia, olhara da porta com viva desconfiança para o animal.
Entra, Ryan. Ele não te vai atacar. É apenas um gato e nada pode fazer para melhorar o seu aspecto.
Mas é tão grande... Que nome lhe vai dar?
Ainda não pensei nisso. Gengibre e Marmelada são demasiado óbvios, por causa da cor do seu pêlo. De qualquer forma, o mais certo é ele desaparecer...
Não me parece que ele queira partir. Os gatos de pelagem amarela não são todos machos? Devia chamar-lhe Tomcat.
E assim fora escolhido o nome.
A reacção dos Dupayne e do pessoal do museu nas semanas seguintes, expressa quando haviam dado com Tom, não fora entusiasta. A desaprovação tinha sido mesmo patente no tom de voz de Marcus Dupayne, quando dissera:
Não tem coleira, o que indica que não era particularmente estimado. Talvez pudesse pôr um anúncio, mas o mais certo é o seu dono ter ficado feliz por o ver pelas costas. Se vai ficar com ele, Tally, faça com que ele não entre no museu.
Mrs. Faraday vira o gato com a desaprovação típica de uma pessoa que se dedica à jardinagem, limitando-se a dizer que era impossível impedi-lo de andar pelo relvado, e não se enganara. Quanto a Mrs. Strickland, exclamara:
1 Designação, em inglês, para gatos machos. (N da T)
Que gato tão feio! Pobrezinho! Não seria melhor mandar abatê-lo? Não devia ficar com ele, Tally. Deve estar cheio de pulgas. Não vai deixá-lo aproximar-se da biblioteca, pois não? Sou alérgica a pêlo de gato.
Tally não estava à espera que Muriel se mostrasse solidária e ela reagira em conformidade.
É melhor certificar-se de que ele não entra no museu. Miss Caroline não gostaria nada de ver um gato e já tenho muito com que me preocupar para agora ter de passar a vigiar um animal. E espero bem que não esteja a pensar em instalar uma portinhola na vivenda, porque o próximo inquilino pode não gostar de ter um buraco na porta.
Somente Neville Dupayne parecera não reparar no gato.
Tomcat depressa estabelecera a sua rotina diária. Tally dava-lhe de comer assim que se levantava, e depois ele desaparecia, para voltar ao fim da tarde, quando se sentava em frente da porta à espera que o deixasse entrar para a sua segunda refeição. Voltava a ausentar-se até às nove da noite, quando pedia de novo que o deixasse entrar. Por vezes, dignava-se sentar-se, por breves momentos, no regaço de Tally, para de seguida ocupar a sua cadeira, até ela se ir deitar e o pôr ao relento, durante a noite.
Enquanto abria a lata de sardinhas, o prato favorito de Tomcat, Tally apercebeu-se inesperadamente de que estava contente por vê-lo. Alimentá-lo fazia parte da sua rotina diária e, agora, com um futuro incerto pela frente, aquela rotina proporcionava-lhe uma reconfortante impressão de segurança e normalidade e uma pequena defesa contra as grandes mudanças iminentes, reforçada pelos seus fins de tarde. Dali a pouco, preparar-se-ia para a aula nocturna sobre a arquitectura georgiana de Londres, que tinha lugar às sextas-feiras, pelas seis horas, numa escola local. Todas as semanas, às cinco e meia em ponto, ela pegava na bicicleta e chegava à escola com antecedência suficiente para tomar um café e comer uma sanduíche no barulhento anonimato da cantina.
Às cinco e meia, na feliz ignorância dos horrores que a esperavam, Tally desligou as luzes, trancou a porta da vivenda, tirou a bicicleta da barraca do jardim, acendeu e ajustou o único farolim e começou a pedalar energicamente pelo caminho de entrada do museu.
Sexta-feira, de Novembro/terça-feira, 5 de Novembro
A nota escrita com uma letra cuidada na porta da Sala Cinco confirmava o que Tally já havia suspeitado, dada a ausência de pessoas no corredor: a aula fora cancelada. Mrs. Maybrook adoecera, mas esperava estar de volta na sexta-feira seguinte. Naquela noite, Mr. Pollard teria muito gosto em incluir os estudantes na aula que dana na Sala Sete, às seis horas, acerca de Ruskin e de Veneza. Tally não se sentia disposta a enfrentar, mesmo durante uma hora, um novo tema, um professor diferente e rostos que não lhe eram familiares. Era o desapontamento final e de menor importância naquele dia, que começara de forma tão promissora, com a luz do Sol intermitente a reflectir a esperança progressiva de que tudo correria bem, mas que se havia alterado com a chegada do crepúsculo. Um vento errático, de intensidade crescente, e um céu quase sem estrelas haviam-lhe provocado a sensação opressiva de que nada de bom iria acontecer. E, agora, aquela deslocação em vão. Regressou à barraca deserta onde deixara a sua bicicleta e abriu o cadeado que colocara numa das rodas. Era tempo de voltar ao conforto familiar da vivenda, para ler um livro ou ver um vídeo, acompanhada por Tomcat, que não fazia exigências e se servia a si próprio.
O regresso a casa nunca lhe parecera tão cansativo. Não era só pelo facto de o vento a ter apanhado de surpresa; sentia as pernas pesadas como chumbo e a bicicleta convertera-se num penoso empecilho que exigia a utilização de toda a sua força para a fazer avançar. Foi com alívio que atravessou Spaniards Road, depois de esperar que passasse uma pequena procissão de automóveis, e começou a pedalar pelo caminho de entrada do museu. Naquela noite pareceu-lhe interminável. Para lá das zonas iluminadas, a escuridão era quase palpável, dificultando-lhe a respiração. Inclinou-se sobre o guiador, para melhor poder observar o círculo de luz formado pelo farolim da sua bicicleta e que oscilava sobre o asfalto como se fosse um fogo-fátuo. Até àquele momento, nunca tivera medo do escuro. Tornara-se uma espécie de rotina nocturna atravessar a pé o seu pequeno jardim até à orla do Heath para inalar o odor do solo e das plantas, intensificado pela penumbra, e contemplar ao longe as luzes trémulas de Londres, de um brilho mais agressivo do que a miríade de pequenos pontos luminosos na abóbada celeste. No entanto, naquela noite, Tally não iria sair de casa.
Depois da última curva, para além da qual já podia ver o edifício, travou a fundo, transida de horror; a visão, o cheiro e os sons combinaram-se para que o seu coração desse um pulo e começasse a bater precipitadamente como se estivesse prestes a explodir e a despedaçar-lhe o corpo. À esquerda do museu, havia algo em chamas. Talvez a garagem ou a barraca do jardim. Por alguns segundos, o mundo à sua volta desintegrou-se. Um grande automóvel avançava na sua direcção, a toda a velocidade, cegando-a com os faróis. Atingiu-a, antes que tivesse tempo para se afastar ou, sequer, para pensar. Instintivamente, agarrou-se ao guiador e, logo a seguir, sentiu o impacte. A bicicleta saltou-lhe das mãos e viu-se projectada numa confusão de luzes, sons e um emaranhado de metal antes de cair sobre a relva da berma, por baixo da bicicleta, cujas rodas não paravam de girar. Durante um certo tempo, ficou estendida, momentaneamente aturdida e demasiado confusa para tentar qualquer movimento. Até os seus pensamentos pareciam estar paralisados. Depois, a sua mente recuperou o domínio e Tally tentou levantar a bicicleta. Para sua surpresa, verificou que podia fazê-lo e que não perdera a força nos braços e nas pernas. Sentia o corpo dorido, mas não estava gravemente ferida... 140
Levantou-se com alguma dificuldade, sem largar a bicicleta. O carro havia parado. Tally apercebeu-se de uma figura masculina e ouviu uma voz perguntar:
Lamento muito. Sente-se bem?
Mesmo naquele momento de tensão, a voz do homem impressionou-a; era uma voz característica que, em outras circunstâncias, lhe pareceria tranquilizadora. O rosto que se inclinou sobre o seu também era característico. À luz ténue dos candeeiros do caminho pôde vislumbrá-lo claramente por breves instantes. Era atraente, tinha cabelo louro e, nos olhos, brilhava-lhe uma súplica desesperada.
Estou bem, obrigada respondeu. Não ia a pedalar e caí sobre a relva. Estou bem reiterou.
O homem falara num tom preocupado, mas não passou despercebida a Tally a frenética necessidade dele em sair dali. Mal esperou ouvir a voz dela para correr de volta ao carro. Antes de abrir a porta, voltou-se e, olhando para as chamas, cada vez mais altas, comentou:
Parece que alguém ateou uma fogueira.
Logo em seguida, o automóvel arrancou ruidosamente e desapareceu.
Na confusão daquele momento, aliada à sua ânsia desesperada de chegar ao local do incêndio para chamar os bombeiros, Tally não perguntou a si própria quem seria aquele homem e qual a razão por que se encontrava ali, com o museu fechado. No entanto, a sua última frase evocara-lhe algo de terrível. As palavras e as imagens fundiram-se numa instantânea e horrorizada recordação. Eram as mesmas palavras proferidas pelo assassino Albert Arthur Rouse, enquanto se afastava do carro em chamas em que a sua vítima morria carbonizada.
Ao tentar sentar-se no selim, Tally verificou que a bicicleta ficara inutilizável, com a roda da frente torcida. Atirou-a de novo para a berma relvada e começou a correr em direcção às chamas, com o coração a palpitar ao compasso do bater dos pés no solo. Ainda antes de chegar à garagem, pôde verificar que era aquele o foco do incêndio; o telhado estava a arder e as chamas mais altas vinham do pequeno grupo de vidoeiros prateados que ficavam à direita da garagem. Aos seus ouvidos chegavam, em torvelinho, o silvar do vento, o crepitar do fogo e as pequenas explosões, semelhantes a disparos de pistolas, dos ramos mais altos que, em chamas, tombavam das copas das árvores e, depois de se recortarem por momentos contra o céu escuro como peças de um fogo-de-artifício, caíam em volta dos seus pés, já calcinados.
À porta aberta da garagem, estacou, paralisada pelo terror.
Oh, não! Santo Deus, não!
Uma nova rajada de vento levou para longe o seu grito angustiado. Tally só pôde contemplar a cena durante alguns segundos, antes de fechar os olhos; mas sabia que não iria conseguir apagar da mente o horror daquela visáo. Ficaria gravada na sua memória para sempre. Não sentiu o impulso de entrar, na tentativa de salvar alguém, porque não havia ninguém que pudesse ser salvo. O braço que saía da porta entreaberta do carro, tão rígido como se fosse o de um espantalho, fora constituído, em tempos, por carne, músculos, veias e sangue palpitante... mas já não o era. A bola enegrecida que via através do pára-brisas estilhaçado e a fileira de dentes brancos, que brilhavam entre a carne calcinada, haviam pertencido a uma cabeça humana... mas que deixara de o ser.
De súbito, veio-lhe à memória com nitidez um desenho que vira num dos seus livros acerca de Londres e em que apareciam as cabeças de traidores executados, espetados em estacas na Ponte de Londres. Aquela lembrança causou-lhe uma desorientação momentânea, a crença de que aquilo não estava a acontecer ali nem naquele momento, antes resultava de uma alucinação vinda de séculos passados numa amálgama de horror real e, ao mesmo tempo, imaginário. Cedo, porém, recobrou a consciência da realidade. Tinha de chamar os bombeiros quanto antes. O seu corpo parecia-lhe um peso morto, cravado na terra, e os seus músculos, tão rígidos como se fossem feitos de ferro. Essa sensação, contudo, também durou pouco.
Mais tarde, não foi capaz de recordar-se como chegou à porta da vivenda. Descalçou as luvas, atirou-as ao chão, sentiu o metal frio do seu molho de chaves no bolso interior da mala de mão e tentou ocupar-se das duas fechaduras. Enquanto tentava manobrar a chave de segurança, disse em voz alta para si própria:
Calma! Tem calma!
E, na verdade, sentia-se mais calma. Se bem que as mãos ainda lhe tremessem, o terrível palpitar acelerado do coração abrandara e conseguiu abrir a porta.
Uma vez dentro da vivenda, a mente de Tally foi ficando mais lúcida a cada segundo que passava. Ainda não conseguira dominar o tremor das mãos mas os seus pensamentos, pelo menos, tornaram-se mais claros. A primeira coisa a fazer era chamar os bombeiros.
A chamada que fez para o 112 foi prontamente atendida, mas a espera que se lhe seguiu pareceu-lhe interminável. Quando uma voz de mulher lhe perguntou qual o serviço de que necessitava, respondeu:
Os bombeiros, por favor, e é muito urgente. Há um corpo dentro dum carro que está a arder.
Quando, por fim, ouviu uma outra voz, desta vez masculina, forneceu calmamente todos os pormenores necessários em resposta às perguntas que lhe foram feitas e, depois, pousou o auscultador. Nada se podia fazer por aquele corpo carbonizado, por muito depressa que chegasse o carro dos bombeiros, mas, logo a seguir, acudiriam em seu auxílio agentes da polícia, peritos e toda a casta de pessoas que tinha de confrontar-se com aqueles casos, por dever de ofício. Então, sentir-se-ia aliviada da terrível responsabilidade e da impotência que lhe pesavam sobre os ombros.
Agora, devia telefonar a Marcus Dupayne. Por baixo do telefone, situado na sua pequena secretária de madeira de carvalho, conservara um cartão, metido dentro de uma capa de plástico, com os nomes e os números de telefone das pessoas a que poderia recorrer em caso de emergência. Até à semana anterior, o nome de Caroline Dupayne encabeçara a lista mas, agora que Marcus Dupayne se reformara, passara a ser o primeiro a quem telefonar numa emergência. Havia recopiado o cartão com a sua letra nítida e meticulosa e premiu as teclas do telefone.
Uma voz feminina respondeu quase de imediato.
Mistress Dupayne? Daqui fala a Tally Glutton, do museu. Por favor, Mister Dupayne está em casa? Receio que tenha ocorrido um terrível acidente.
Que espécie de acidente? quis saber a mulher num tom de voz áspero.
A garagem está a arder. Já chamei os bombeiros e estou agora à espera que cheguem. Mister Dupayne pode vir até cá quanto antes, por favor?
Ele não está. Foi visitar o Neville ao seu apartamento de Kensington. A voz voltou a assumir a rispidez anterior. O Jaguar do doutor Dupayne está aí?
Sim, está na garagem, e lamento dizer-lhe que, segundo parece, há um corpo no interior.
Fez-se silêncio, como se a comunicação tivesse sido cortada. Tally nem sequer era capaz de ouvir a respiração de Mrs. Dupayne. Queria que a mulher desligasse para poder telefonar a Caroline Dupayne. Não fora daquela maneira que desejara dar a notícia.
Por fim, Mrs. Dupayne voltou a falar. O seu tom de voz era premente, autoritário, sem admitir réplica.
Vá ver imediatamente se o carro do meu marido se encontra lá. E um BMW azul. Eu fico à espera.
Era mais rápido obedecer do que discutir com aquela mulher. Tally correu, pelas traseiras da casa, até ao parque de estacionamento, por trás do seu escudo de arbustos e loureiros. Só havia ali um automóvel, o Rover do Dr. Neville. De regresso à vivenda, apressou-se a pegar no auscultador.
Não, Mistress Dupayne, não está lá nenhum BMW. Novo silêncio, embora desta vez Tally se apercebesse de uma curta inspiração de ar, denunciando um suspiro de alívio. A mulher falou num tom de voz mais calmo:
Porei o meu marido ao corrente da situação logo que ele regresse. Estamos à espera de visitas que vêm jantar connosco esta noite e, por isso, ele não deve demorar. Não posso ligar-lhe para o telemóvel, porque o desliga quando conduz. Entretanto, telefone à Caroline.
E, por fim, desligou.
Tally não precisava de que ela lho dissesse; Miss Caroline tinha de ser informada do sucedido. Desta vez, teve mais sorte. Quando ligou para a escola, respondeu-lhe o gravador de chamadas, mas Tally só ouviu as primeiras palavras da mensagem de Caroline, antes de voltar a pousar o auscultador e tentar ligar-lhe para o telemóvel. A resposta não se fez esperar. Tally ficou surpreendida pela forma tranquila e sucinta como conseguiu transmitir-lhe o que tinha a contar.
Daqui fala a Tally, Miss Caroline. Lamento informá-la de que aconteceu algo de horrível: o carro do doutor Neville e a garagem estão a arder e o fogo propagou-se às árvores. Chamei os bombeiros e tentei falar com Mister Marcus, mas ele não se encontra em casa. Fez uma pausa e, depois, foi capaz de dizer o que era quase inexprimível: Parece-me que há um corpo dentro do automóvel!
Era extraordinário como a voz de Miss Caroline podia manter-se tão normal e imperturbada.
Está a querer dizer-me que alguém morreu carbonizado no interior do carro do meu irmão? perguntou.
Receio que sim, Miss Caroline.
Só então o tom da sua interlocutora se tornou mais insistente.
Quem é? O meu irmão?
Não sei, Miss Caroline, não sei! Mesmo aos próprios ouvidos de Tally, a sua voz estava a converter-se num queixume de desespero. O auscultador escorregava-lhe das mãos suadas e, por isso, transferiu-o para a orelha esquerda.
A voz de Caroline voltou a ouvir-se e era cada vez mais impaciente.
Tally, está aí? E o museu?
Está intacto. Só estão a arder a garagem e as árvores que a rodeiam. Já chamei os bombeiros.
De súbito, Tally perdeu o domínio sobre si própria; sentiu que lhe afloravam lágrimas quentes aos olhos e que a voz se lhe extinguia. Até àquele momento, tudo fora horror e pânico, mas, repentinamente e pela primeira vez, foi invadida por um terrível pesar. Não que gostasse do Dr. Neville ou sequer o conhecesse bem; as lágrimas brotavam de um poço mais fundo do que a simples dor por um homem haver morrido de forma tão horrível; sabia que só em parte eram uma reacção provocada pelo choque e pelo terror. Pestanejou e, procurando recuperar a calma, pensou: «É sempre assim, quando morre alguém.
Choramos um pouco por nós mesmos. Aquele sentimento de profunda dor, contudo, era algo mais do que a triste aceitação da sua própria mortalidade; fazia parte de um pesar universal pela beleza, pelo horror e pela crueldade do mundo.
A voz de Caroline voltou a adoptar um tom decidido, autoritário e estranhamente reconfortante.
Muito bem, Tally, fez o que devia. Vou já para aí. Levarei cerca de trinta minutos a chegar, mas vou já para aí.
Tally pousou o auscultador e manteve-se imóvel por instantes. Devia telefonar a Muriel? Se Miss Caroline quisesse! que ela estivesse presente, não lho teria dito? No entanto, Muriel iria sentir-se ofendida e zangada se não a informasse do que acontecera. Tally apercebeu-se de que não era capaz de confrontar-se com a perspectiva do descontentamento de Muriel afinal, era ela quem, de facto, assegurava o funcionamento do museu. O incêndio iria, provavelmente, constituir a notícia local mais importante daquele fim-de-semana. Claro que ia. Notícias como aquela espalhavam-se sempre. Muriel tinha todo o direito de ser informada quanto antes.
Ligou, mas a linha estava ocupada. Pousou o auscultador, mas voltou a levantá-lo de novo. Se Muriel estava ao telefone, era pouco provável que pudesse atender o telemóvel, mas valia a pena tentar. Ao fim de quatro toques, ouviu a voz dela. Tally só teve tempo de se identificar.
Porque me ligou para o telemóvel? perguntou Muriel. Estou em casa.
A linha estava ocupada.
Não, não estava. Fez uma pausa e acrescentou: Espere um momento Nova pausa, mais curta. O telefone da mesa-de-cabeceira estava mal colocado explicou. O que se passa? Onde está?
Parecia furiosa. Detesta ter de admitir uma falha sua, por mais insignificante que seja, pensou Tally.
No museu replicou. A minha aula foi cancelada. Lamento ter de dar-lhe uma terrível notícia: houve um incêndio na garagem e o automóvel do doutor Neville está lá dentro. E há... também... um corpo. Alguém morreu queimado. Receio que se trate do doutor Neville. Chamei os bombeiros e telefonei a Miss Caroline.
Desta vez, o silêncio foi mais prolongado.
Muriel, ainda está aí? perguntou Tally. Ouviu o que eu disse?
Sim, ouvi replicou Muriel. É aterrador. Tem a certeza de que ele está morto? Não pôde tirá-lo do carro?
Aquela pergunta era ridícula.
Ninguém poderia salvá-lo.
E supõe que se trata do doutor Neville...
Quem mais poderia estar dentro do carro dele? argumentou Tally. No entanto, não tenho a certeza. Não sei de quem se trata; só sei que está morto. Não vem até cá? Julguei que gostasse de saber o que se passou.
Claro que vou. Fui a última pessoa a sair do museu e o meu dever é ir para aí, tão depressa quanto possível. Não diga a Miss Caroline que o corpo é do doutor Neville, antes que tenhamos a certeza disso. Pode tratar-se de outra pessoa qualquer. A quem mais telefonou?
A Mister Marcus, mas ainda não tinha chegado a casa. A mulher dele ficou de lhe dar a notícia. Acha que devo telefonar a Mister Calder-Hale?
A voz de Muriel revelava impaciência quando replicou:
Não. Deixe isso ao cuidado de Miss Caroline, quando ela aí chegar. Além disso, não sei em que poderia ser-nos útil. Deixe-se ficar onde está. Ah, outra coisa, Tally...
O quê, Muriel?
Peço-lhe que me desculpe por ter sido tão rude consigo. Quando chegarem os bombeiros, mantenha-se dentro de casa. Estarei aí tão depressa quanto seja possível.
Tally pousou o auscultador e foi até à porta da vivenda. Para além do crepitar do fogo e do silvar do vento, pôde distinguir o som de um carro que se aproximava. Correu para a frente do museu e soltou um suspiro de alívio. O grande camião, com os seus faróis a brilhar como holofotes, avançou como se fosse um gigantesco monstro lendário, iluminando o relvado e o museu, quebrando aquela calma frágil com o seu clamor. Tally precipitou-se para o camião, enquanto apontava num gesto desnecessário para as chamas. Sentiu que um enorme peso lhe era retirado de cima dos ombros. Finalmente, o auxílio havia chegado.
O comandante adjunto Geoffrey Harkness gostava que não tivessem sido colocadas cortinas nas janelas do seu gabinete do sexto andar; o mesmo acontecia com Adam Dalgliesh, um andar abaixo. No ano anterior, tinham sido reorganizadas as acomodações da Scotland Yard e, agora, pelas janelas de Dalgliesh, podia ver-se a zona mais aprazível e rural de St. James’s Park, que, àquela distância, se assumia mais como uma promessa do que uma simples paisagem. Para ele, as estações eram assinaladas pelas metamorfoses do parque: a Primavera, pelo desabrochar dos rebentos nas árvores; o Verão, pela luxuriante amplidão das suas copas; o Outono, pelos tons dourados e amarelados, e o Inverno, pelos apressados transeuntes, de gola levantada para se protegerem do frio. No princípio da época estival, apareciam, de súbito, as cadeiras de repouso municipais, numa profusão de lonas coloridas, e os londrinos, com roupas leves, sentavam-se sobre a relva aparada num cenário digno de um quadro de Seurat. Nas tardes de Verão, enquanto caminhava de regresso a casa através do parque, por vezes ouvia o crescendo dos instrumentos de percussão de uma banda militar e via os convidados das festas ao ar livre da rainha, muito emproados pela elegância que exibiam e que não estava nos seus hábitos.
A vista de que desfrutava Harkness, contudo, não proporcionava nada daquela variedade sazonal. Depois de anoitecer, fosse qual fosse a estação do ano, toda a janela era constituída por um panorama de Londres, delineada e celebrada pelas luzes. Torres, pontes, casas e ruas decoravam-se com jóias, braceletes e colares de diamantes e rubis, que tornavam ainda mais misterioso o escuro curso do rio. A paisagem era tão espectacular que ofuscava o gabinete de Harkness, fazendo com que o mobiliário oficial, adequado ao seu posto, parecesse uma transigência mesquinha, e que as suas recordações pessoais, condecorações e placas que recebera de polícias estrangeiras assumissem o aspecto ingenuamente pretensioso de meros trofeus de crianças.
A convocatória, sob a forma de pedido, proviera do comandante adjunto, mas, assim que Dalgliesh entrou no gabinete do seu superior, apercebeu-se de que não se tratava de um assunto rotineiro da Polícia Metropolitana. Maynard Scobie, da Unidade Especial de Segurança, já lá se encontrava, acompanhado por um colega que Dalgliesh não conhecia mas que ninguém se deu ao trabalho de apresentar. Mais significativa ainda era a presença de Bruno Denholm, do MI5 olhava pela janela, mas, de seguida, voltou-se e foi sentar-se ao lado de Harkness. Os rostos dos dois homens não podiam ser mais eloquentes. O comandante adjunto parecia irritado e Denholm exibia o ar cauteloso, porém decidido, do homem que sabe estar em minoria mas que dispõe da arma mais potente.
Sem qualquer preâmbulo, Harkness tomou a palavra.
Trata-se do Museu Dupayne, uma instituição privada dedicada ao período entre as duas guerras. Em Hampstead, na orla do Heath. Conhece-o?
Estive lá, pela primeira vez, na semana passada.
Isso pode ser útil, segundo creio. Pessoalmente, nunca tinha ouvido falar desse museu.
Pouca gente o conhece. Não fazem publicidade, embora isso possa vir a mudar. Tem uma nova administração. O Marcus Dupayne assumiu a direcção.
Harkness encaminhou-se para a mesa.
Será melhor sentarmo-nos, porque isto pode levar algum tempo. Houve um homicídio ou, para ser mais exacto, uma morte suspeita que, de acordo com o oficial de investigação dos bombeiros, não foi provocada por causas naturais. O Neville Dupayne morreu, carbonizado, dentro do seu 149
Jaguar, na garagem do museu. Segundo parece, era seu hábito ir buscar o carro todas as sextas-feiras, às seis da tarde, para ir passar fora o fim-de-semana. Nesta sexta-feira, é possível que alguém tenha esperado pela sua chegada para lançar gasolina sobre a sua cabeça e lhe atear fogo. Parece ser isso que aconteceu. Queremos que seja você a ocupar-se do caso. Dalgliesh olhou para Denholm.
Como se encontra presente, deduzo que tenha interesse no caso.
Só de forma marginal, mas gostaríamos que o assunto fosse esclarecido o mais cedo possível. Conhecemos apenas os factos, mas parecem inequívocos.
Então, para que precisam de mim?
E necessário que tudo fique resolvido com a maior discrição possível explicou Harkness. Um assassínio sempre atrai alguma publicidade, mas não queremos que a imprensa comece a fazer perguntas. Dispomos de um contacto no local, James Calder-Hale, que ocupa o cargo de conservador ou coisa parecida. E um antigo funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, perito em assuntos do Médio Oriente. Fala árabe e um ou dois dialectos. Há quatro anos, reformou-se por motivos de saúde, mas mantém-se em contacto com os amigos. E, o que ainda é mais importante, os amigos mantêm-se em contacto com ele. De vez em quando, fornece-nos pistas úteis para resolvermos certos quebra-cabeças e gostaríamos que essa situação continuasse assim.
Ele faz parte da folha de pagamentos? quis saber Dalgliesh.
Não exactamente. As vezes, com efeito, é necessário efectuar certos pagamentos. No entanto, trabalha sobretudo como freelance, e é-nos muito útil.
O MIFive não teve qualquer prazer em prestar esta informação adiantou Harkness, mas nós insistimos, dada a necessidade de conhecer o terreno que pisamos. Como é evidente, deve guardar só para si o que acaba de ouvir.
Se vou dirigir a investigação de um homicídio, tenho de o dizer aos meus dois subordinados. Suponho que não levantarão quaisquer objecções se eu prender o Calder-Hale, no caso de ser ele o assassino do Neville Dupayne?
Penso que irá descobrir que ele está inocente. Tem um álibi replicou Denholm, com um sorriso.
Terá mesmo?, pensou Dalgliesh. O MI5 actuara rapidamente; a sua primeira reacção, ao saber do crime, fora a de entrar em contacto com Calder-Hale. Se dispusesse de um álibi consistente, podia ser eliminado da lista dos suspeitos e toda a gente ficaria feliz. No entanto, o envolvimento do MI5 continuava a constituir um problema. Oficialmente, talvez eles considerassem mais prático manter-se à distância, mas, oficiosamente, iriam vigiar cada passo que ele desse.
E como pensa impingir isto à divisão local? perguntou. A primeira vista, não passa de mais um caso. Uma morte suspeita não justifica, por si só, pedir a intervenção da Brigada de Investigações Especiais. É possível que queiram saber porque nos ocupamos do caso.
Harkness minimizou a questão.
Nós trataremos disso. Provavelmente, iremos insinuar que um dos pacientes de Dupayne, num passado mais ou menos recente, era uma pessoa importante e, por isso, queremos que o assassino seja descoberto sem quaisquer escândalos. Ninguém vai entrar em pormenores demasiado explícitos. O que importa é que o caso seja resolvido. O oficial de investigação dos bombeiros permanece no local, tal como Marcus Dupayne e a irmã. Segundo julgo, nada impede que comece já a tratar do assunto.
Tinha de telefonar a Emma. De regresso ao seu gabinete, Dalgliesh sentiu-se invadido por um sentimento de desolação tão intenso como as desilusões de infância, meio adormecidas na sua memória, e que trazia consigo a mesma convicção supersticiosa de que um destino maligno se voltara contra ele, por não o considerar digno de ser feliz. Havia reservado uma mesa num recanto tranquilo de The Ivy para as nove horas. Jantariam mais tarde e fariam planos para o fim-de-semana. Calculara meticulosamente o momento adequado; a sua reunião na Yard era capaz de durar até às sete horas, e marcar o jantar para mais cedo poderia revelar-se desastroso. Por isso, ficara combinado que, às oito e meia, iria buscar Emma ao apartamento da sua amiga Clara, em Putney; naquele momento, já devia ir a caminho de Putney.
A sua secretária podia cancelar a reserva no restaurante, mas nunca a usara para transmitir a mais simples mensagem que fosse a Emma, e não era agora que ia alterar essa prática; seria como revelar aquela parte da sua vida privada que queria manter inviolável. Enquanto premia as teclas do telemóvel, perguntou a si próprio se não seria a última vez em que ouviria a voz de Emma. Só de pensar nessa hipótese, ficou horrorizado. Se Emma decidisse que aquela última frustração era o fim de tudo, estava decidido a que o seu derradeiro encontro tivesse lugar, cara a cara.
Foi Clara quem respondeu. Quando ele perguntou por Emma, disse-lhe:
Vai desmarcar o encontro, não é assim?
Quero falar com a Emma. Ela está?
Foi ao cabeleireiro e deve regressar a qualquer momento, mas não se incomode a telefonar outra vez. Eu própria lhe darei o recado.
Prefiro falar com ela pessoalmente. Diga-lhe que telefonarei mais tarde.
Se fosse eu, não me daria a esse incómodo replicou Clara. Com certeza há, algures, um cadáver em decomposição à sua espera. Fez uma pausa e depois acrescentou, em tom informal: Não passa de um pulha, Adam Dalgliesh.
Tentou que a sua voz não revelasse a cólera que se apoderou dele, mas sabia que, por mais que fizesse, Clara iria senti-la, tão lancinante como uma chicotada.
E possível, mas preferia ouvir isso da boca da Emma. Ela não precisa de uma guardiã.
Adeus, comandante. Dir-lhe-ei isso mesmo. E Clara desligou.
Agora, à sua desilusão vinha juntar-se a raiva, não contra Clara, mas contra ele próprio. Não soubera conduzir a conversa telefónica como devia, fora irracionalmente ofensivo para com uma mulher e essa mulher era amiga de Emma. Decidiu esperar um pouco, antes de voltar a fazer nova chamada. Isso daria tempo a todos para que pudessem ponderar o que deviam dizer.
No entanto, quando voltou a telefonar, foi Clara que respondeu de novo.
A Emma resolveu regressar a Cambridge informou. Saiu há cinco minutos. Dei-lhe o seu recado.
Aquela informação pôs fim à chamada. Enquanto se dirigia ao armário para ir buscar o saco com o equipamento adequado para a investigação de um homicídio, a voz de Clara pareceu ressoar-lhe aos ouvidos: Com certeza há, algures, um cadáver em decomposição à sua espera.
Antes de mais, contudo, tinha de escrever a Emma. Telefonavam um ao outro o menos possível e sabia que fora ele que dera origem àquela relutância em falarem um com o outro, quando não se encontravam juntos. Para Dalgliesh, era demasiado frustrante, e até angustiante, ouvir a voz dela sem ver o seu rosto. Preocupava-o sempre a hipótese de a sua chamada ser inoportuna ou de se limitarem a trocar banalidades. As palavras escritas eram mais duradouras e, por conseguinte, mais susceptíveis de fazerem perdurar a infelicidade, mas, ao menos, podia controlar o que pretendia comunicar. Não se alongou na carta; exprimiu, em termos simples, toda a pena e desapontamento que sentia, deixando ao critério de Emma dizer-lhe se e quando gostaria de encontrar-se com ele; para tanto, prontificava-se a ir a Cambridge, se fosse mais conveniente. Assinou a carta com um simples Adam. Até então, sempre se haviam encontrado em Londres. Era Emma que suportava o inconveniente da deslocação, o que o levara a concluir que o fazia por se sentir menos comprometida em Londres, encontrando-se com ele no que, para ela, era terreno mútuo. Escreveu o endereço com todo o cuidado, colou um selo de correio azul e meteu o sobrescrito no bolso, com o propósito de o introduzir no marco da estação de correios que ficava em frente da Scotland Yard. Mentalmente, calculava já quanto tempo teria de esperar antes de obter resposta.
Faltavam cinco minutos para as oito e os inspectores Kate Miskin e Piers Tarrant bebiam um copo num bar junto ao rio, entre a Ponte de Southwark e a Ponte de Londres. Aquela parte da margem, perto da Catedral de Southwark, era muito concorrida, como sempre sucedia no final de um dia de trabalho. A réplica, em tamanho real, da Golden Hinde, de Drake, ancorada entre a catedral e o bar, há muito fechara as suas portas aos visitantes, mas via-se ainda um pequeno grupo de pessoas que circulava lentamente à volta do costado negro do barco, em madeira de carvalho, erguendo o olhar para observar o castelo da proa, interrogando-se tal como a própria Kate o fizera, com frequência como fora possível a uma embarcação tão pequena fazer uma viagem à volta do mundo no século xvi, através de mares tumultuosos.
Kate e Piers haviam tido um dia agitado e frustrante. Quando a Brigada de Investigações Especiais se achava temporariamente inactiva, eles eram adstritos a outros departamentos. Nunca se sentiam à vontade, apercebendo-se do secreto ressentimento dos colegas para os quais a Brigada de Investigações Especiais do comandante Dalgliesh era favorecida por privilégios exclusivos e que arranjavam sempre uma forma subtil ou, por vezes, mesmo agressiva, de fazer com que os seus membros se sentissem marginalizados. Por volta das sete e meia, o burburinho no bar tornara-se insuportável. Piers e Kate tinham-se apressado a comer o peixe frito com as batatas fritas e, com um simples gesto de mútuo entendimento, pegaram nos seus copos e foram para a esplanada, que se encontrava quase deserta. Haviam estado ali muitas vezes, mas, naquela noite, Kate teve a sensação de que a sua saída do bulício do bar para poder desfrutar da calma noite de Outono era como um prenúncio de despedida. O ruído das vozes deixado para trás cessou de chegar-lhes aos ouvidos. O cheiro forte do rio eliminou os vapores da cerveja e ficaram ali, juntos, a olhar para o Tamisa, cuja superfície palpitante estremecia e era sulcada por uma miríade de luzes. O rio era pouco profundo naquela zona, e as ondas, túrgidas e lamacentas, vinham morrer, cobertas por uma fina camada de espuma suja, nos seixos da margem. Para noroeste e por cima das torres da ponte ferroviária de Cannon Street, a cúpula da Catedral de São Paulo erguia-se sobre a cidade, como se fosse uma miragem. As gaivotas pavoneavam-se pela margem do rio e, de súbito, três delas voaram, num tumulto de asas, e passaram gritando sobre a cabeça de Kate para ir pousar no parapeito da cerca de madeira da esplanada, com a brancura dos seus papos a destacar-se da escuridão do rio.
Seria aquela a última vez em que bebiam juntos?, perguntou Kate a si própria. Só faltavam três semanas para Piers saber se fora aprovada a sua transferência para a Unidade Especial de Segurança. Era o que ele queria e planeara, mas Kate sabia que ia sentir a sua falta. Quando, cinco anos antes, fora incorporado na brigada, parecera-lhe um dos agentes mais sexualmente atractivos com quem havia trabalhado. Aquela tomada de consciência fora tão surpreendente quanto indesejada. Não resultava, por certo, do facto de ele ser especialmente bonito; era cerca de dois centímetros mais baixo do que ela, tinha braços que mais pareciam os de um macaco e os seus ombros largos e rosto enérgico conferiam-lhe o aspecto de alguém que estava habituado à rudeza da vida de rua e sabia como enfrentá-la. A boca, bem delineada, revelava sensibilidade, se bem que parecesse sempre pronta a curvar-se para dizer uma piada, enquanto o rosto, um tanto rechonchudo e com sobrancelhas oblíquas, insinuava uma personalidade de comediante. Apesar disso, acabara por respeitá-lo como colega e como homem, pelo que não via com bons olhos a perspectiva de ter de se adaptar a um novo companheiro de trabalho. A sexualidade de Piers já não a perturbava; valorizava por de mais o seu trabalho e o lugar que detinha na brigada para colocá-los em risco pela satisfação temporária que podia dar-lhe uma relação amorosa encoberta. Na Polícia Metropolitana, não era possível manter nada em segredo durante muito tempo e já vira não poucas carreiras e vidas desfeitas para se sentir tentada a enveredar por tal caminho, por muito sedutor que fosse. Não havia relações amorosas mais propensas ao fracasso do que as baseadas no desejo, no tédio ou na ânsia de excitação. Por isso, não lhe fora difícil manter as devidas distâncias em tudo que não fosse estritamente profissional.
Piers guardara, para si próprio, as suas emoções e a sua intimidade, com tanto rigor como Kate. Ao fim de cinco anos de trabalho em conjunto na polícia, Kate pouco mais conhecia da vida do colega, fora da polícia, do que no dia em que ele fora incorporado na brigada. Sabia que ele vivia num apartamento por cima de uma loja numa das ruas estreitas da City e que a sua paixão era explorar os becos secretos de Square Mile, com a sua aglomeração de igrejas e o seu rio misterioso, carregado de histórias misteriosas. Piers, todavia, nunca a convidara a visitar o seu apartamento, nem Kate lhe propusera visitar o dela, que ficava a norte do Tamisa, a cerca de oitocentos metros do local em que se encontravam naquele momento. Se alguém se via forçado a lidar com o que de pior homens e mulheres podiam fazer uns aos outros, se o odor da morte parecia, por vezes, ficar impregnado na sua roupa, tornava-se necessário dispor de um lugar onde fosse possível fechar a porta, tanto física como psicologicamente, a tudo o que fosse alheio a si próprio. Kate suspeitava que AD, no seu apartamento de um andar elevado de Queenhithe, sobranceiro ao rio, experimentava o mesmo sentimento. Já não sabia se devia invejar a mulher que acreditasse ser capaz de invadir essa privacidade, ou se, pelo contrário, devia ter pena dela.
Mais três semanas e Piers, muito provavelmente, deixaria a brigada. Já sucedera o mesmo ao sargento Robbins, quando finalmente se concretizara a sua tardia promoção ao cargo de inspector. Aos olhos de Kate, era como se o grupo de colegas a que se habituara, unido por um tão delicado equilíbrio de personalidades e de recíproca lealdade, estivesse a esboroar-se.
Vou ter saudades do Robbins comentou.
Pois eu não replicou Piers. Aquela sua opressiva rectidão preocupava-me. Nunca poderei esquecer-me de que era um pregador laico. Sentia-me sob constante julgamento. O Robbins é demasiado bom para ser verdadeiro.
Ora, a Polícia Metropolitana não é exactamente um modelo de rectidão.
Não digas disparates, Kate! Quantos agentes conheces tu que sejam malfeitores? A nossa missão é lidar com malfeitores. Não deixa de ser estranho como as pessoas esperam que os polícias sejam sempre notavelmente mais virtuosos do que a sociedade em que são recrutados.
Kate manteve-se calada, por momentos, e depois mudou de assunto.
Porquê a Unidade Especial de Segurança? Não vai ser fácil para eles integrar-te com a patente que possuis. Julguei que tentasses entrar no MIFive. Não seria a tua oportunidade de te juntares aos ricalhaços que se licenciaram em universidades privadas e afastares-te da plebe que vive do seu trabalho?
Sou um agente da polícia. Se alguma vez deixar de sê-lo, não será para ingressar no MIFive. Já o MISix era capaz de me tentar... Depois de uma curta pausa, prosseguiu: A verdade é que me candidatei aos Serviços Secretos assim que saí de Oxford. O meu tutor pensava ser o que me convinha e efectuou as habituais entrevistas discretas. Só que a comissão de avaliação teve opinião contrária.
Vinda de Piers era uma revelação extraordinária e Kate apercebeu-se, pelo tom exageradamente informal da sua voz, que lhe custara fazê-la. Sem olhar para ele, comentou:
Ficaram eles a perder e a Policia Metropolitana a ganhar. E, agora, vão enviar-nos um tal Francis Benton-Smith. Conhece-lo?
Vagamente retorquiu Piers. Vais gostar dele. É muito atraente, talvez até demasiado. O pai é inglês e a mãe, indiana; daí o seu encanto. A mamã é pediatra e o papá dá aulas numa escola oficial do ensino secundário. O sujeito é ambicioso, inteligente. Um pouco óbvio de mais na sua ambição de alcançar o poder. Vai tratar-te por inspectora, sempre que possa. Conheço bem o género. Entram ao serviço porque pensam ter uma educação de nível superior que os fará brilhar e destacar-se dos idiotas que lá trabalham. Já conheces a velha teoria: obtém um emprego em que demonstres, desde o início, ser o mais esperto e, com um pouco de sorte, passarás à frente dos outros.
Estás a ser injusto contrapôs Kate. Não podes saber como ele é. Além de que estás a descrever-te a ti próprio. Não foi por essa razão que entraste para a brigada? Também tu tens uma educação de nível superior. Já te esqueceste da licenciatura em Teologia que obtiveste em Oxford?
Já te expliquei: era a maneira mais fácil de ter acesso a Oxbridge1. Claro que, por esta altura, teria sido transferido para a escola pública de um bairro social e, com um pouco de sorte, o governo obrigaria Oxbridge a aceitar-me. De qualquer modo, não creio que tenhas de aturar o Benton por muito tempo. Não foi só a promoção do Robbins que tardou; correm rumores de que, dentro de meses, serás promovida a inspectora-chefe.
Aquele rumor já havia chegado aos ouvidos de Kate. Não era, afinal, o que sempre desejara e por que lutara? Não fora a sua ambição que a elevara daquele apartamento barricado, no sétimo andar de um bloco residencial de um bairro modesto até ao apartamento que na altura lhe parecera o cume da sua realização profissional? A Polícia Metropolitana em que agora prestava serviço não era a mesma em que ingressara no início da carreira. Havia mudado, mas o mesmo sucedera à Inglaterra e ao mundo. E também ela mudara. Depois do Relatório Macpherson, tornara-se menos idealista, mais cínica acerca das maquinações da classe política, mais reservada no que dizia. A jovem detective Miskin fora imprudentemente ingénua, mas perdera algo mais valioso do que a ingenuidade. No entanto, a Polícia Metropolitana ainda merecia a sua dedicação e Adam
1 Termo usado em Inglaterra para designar o conjunto das universidades de Oxford e de Cambridge. (N. da T.)
Dalgliesh, a sua ardente lealdade. Disse a si própria que nada podia permanecer imutável. Ela e Dalgliesh seriam, em breve, os dois únicos membros da inicial Brigada de Investigações Especiais, e quanto tempo iria ele manter-se no seu cargo?
Passa-se alguma coisa de errado com o AD? perguntou.
Que queres dizer com errado?
É que, nos últimos meses, pareceu-me mais tenso do que habitualmente.
E isso espanta-te? É uma espécie de ajudante-de-campo do comandante. Obrigam-no a ocupar-se de tudo e de mais alguma coisa: do antiterrorismo, da comissão de formação de detectives, das constantes críticas às deficiências da Polícia Metropolitana, do caso Burrell, do relacionamento com o MIFive, de prolongados encontros com as altas esferas e de tudo o mais que possa passar-te pela cabeça. Não admira que se sinta sob pressão. Todos nos sentimos, mas ele está habituado e, se calhar, até precisa disso.
Pergunto a mim própria se aquela mulher de Cambridge, a que conhecemos no caso de Santo Anselmo, não andará a dar-lhe voltas à cabeça.
Mantivera um tom de voz neutro e os olhos fixos no rio, mas pôde adivinhar o longo e divertido olhar que Piers lhe lançou. Ele sabia da sua relutância em pronunciar o nome dela e, Deus do céu, porquê?, embora não o tivesse esquecido.
A nossa bela Emma? Que queres dizer com dar-lhe voltas à cabeça?
Ora, não te armes em esperto, Piers! Sabes muito bem a que me refiro.
Não, não sei. Podias estar a falar fosse do que fosse, desde as críticas que ela fizesse aos poemas do AD como à sua recusa em ir com ele para a cama.
Achas que estão... que vão para a cama?
Sinceramente, Kate! Como queres tu que eu saiba? Não te passou pela cabeça que possa acontecer exactamente o contrário? Que seja o AD a dar voltas à cabeça dela? Não sei se vão para a cama ou não, mas ela não se recusa a jantar com ele, se é que isso te interessa. Vi-os em The Ivy, há umas semanas.
Como diabo conseguiste uma mesa em The Ivy?
Não fui eu, foi a rapariga que estava comigo. Pequei ao querer fazer algo que está acima do meu estatuto social... e, o que é ainda pior, muito acima das minhas posses. A verdade é que os vi sentados à mesa, num recanto da sala.
Estranha coincidência...
Nem por isso. Estamos em Londres e, mais tarde ou mais cedo, acabamos sempre por encontrar pessoas conhecidas. E isso que torna tão complicada a vida sexual dos que residem nesta cidade.
E eles viram-te?
O AD viu-me, mas disponho de tacto e de boa educação suficientes para não ir intrometer-me seja no que for sem antes ser convidado a fazê-lo, e nem um nem outro me fizeram qualquer convite nesse sentido. Ela só tinha olhos para o AD. Diria que pelo menos um deles estava apaixonado, se é que isso pode servir-te de consolo.
Não servia, mas, antes que Kate pudesse replicar, o seu telemóvel tocou. Ouviu atentamente o que lhe foi dito e, depois de se manter em silêncio durante cerca de meio minuto, replicou:
Sim, senhor. O Piers está comigo. Compreendo. Vamos já para aí.
Desligou e enfiou o telemóvel no bolso.
Suponho que era o chefe.
Suspeitam que houve um homicídio. Um homem morreu, carbonizado, dentro do seu automóvel no Museu Dupayne, em Spaniards Road. Vamos ocupar-nos do caso. Ele leva os nossos sacos para os casos de homicídio.
Graças a Deus, já comemos. E porque havemos de ser nós a tratar do caso? Que há de especial nessa morte?
O AD não o disse. Vamos no teu carro ou no meu?
O meu é mais rápido, mas o teu está aqui. De qualquer modo, com o trânsito de Londres praticamente engarrafado e com o presidente da Câmara a brincar com os semáforos, iríamos mais depressa de bicicleta.
Kate ficou à espera, enquanto Piers voltava a entrar no bar para devolver os copos vazios. Que estranho, pensou ela. Fora morto um só homem e a brigada ia perder dias, semanas ou talvez mais tempo para descobrir o como, o porquê e o quem. Tratava-se de um homicídio, o crime por excelência. O custo da investigação não interessava. Mesmo que não prendessem ninguém, o caso não seria encerrado. E, no entanto, a qualquer minuto, os terroristas podiam provocar milhares de mortes. Não disse nada a Piers, quando este regressou; sabia já qual seria a réplica dele: A nossa função não é lidar com terroristas, mas isto é. Lançou um último olhar à outra margem do no e seguiu atrás do colega em direcção ao seu carro.
Foi uma chegada muito diferente da que ocorrera por ocasião da sua primeira visita. Quando o Jaguar começou a percorrer o caminho de entrada, até o percurso de aproximação ao museu lhe pareceu desconhecido. A difusa iluminação da fila de candeeiros intensificava a obscuridade envolvente e os arbustos emaranhados pareciam mais densos e mais altos, cercando o caminho e tornando-o mais estreito do que se lembrava. Por trás da escuridão impenetrável, uns frágeis troncos de árvores projectavam os seus ramos, semidesnudados, para o azul-escuro do céu nocturno. Quando contornou a curva final, pôde vislumbrar a casa, tão enigmática como uma miragem. A porta da frente encontrava-se fechada e as janelas eram meros rectângulos negros, à excepção da que estava iluminada, na parte esquerda do piso térreo. O caminho achava-se barrado por uma fita e havia um polícia uniformizado de guarda. Era manifesto que esperavam a chegada de Dalgliesh, porque, depois de lançar um breve olhar ao cartão que lhe foi exibido através da janela do automóvel, o agente fez a continência e apressou-se a afastar os postes a que a fita estava amarrada.
Dalgliesh não precisou de quaisquer indicações para se dirigir ao local onde ocorrera o incêndio. Pequenas nuvens de fumo acre ainda flutuavam, à esquerda do edifício, e pairava no ar um cheiro desagradável a metal queimado, ainda mais forte do que o odor outonal de madeira chamuscada. Antes de se dirigir para lá, todavia, virou à direita e conduziu o Jaguar até ao parque de estacionamento, oculto por trás de um renque de loureiros. O trajecto até Hampstead fora lento e fastidioso e, por isso, não ficou surpreendido quando verificou que Kate, Piers e Benton-Smith tinham chegado antes dele. Viu ainda outros carros estacionados: um BMW saloon, um Mercedes 190, um Rover e um Ford Fiesta. Ao que parecia, os Dupayne e, pelo menos, um dos membros do pessoal também já haviam chegado.
Kate pô-lo ao corrente do que se passava, enquanto Dalgliesh tirava do carro os sacos para casos de homicídio e os quatro fatos de protecção.
Chegámos há cerca de cinco minutos, chefe. O agente de investigação de incêndios do laboratório forense encontra-se no local da ocorrência e os fotógrafos iam já a sair no momento da nossa chegada.
E a família?
Mister Marcus Dupayne e a irmã, Miss Caroline Dupayne, estão no museu. Foi a governanta, Mistress Tallulah Glutton, que se apercebeu do fogo. Está na casa onde mora, situada nas traseiras do museu, com Miss Muriel Godby, que exerce funções de secretária e recepcionista. Ainda não falámos com ninguém, a não ser para informar que o senhor vinha a caminho.
Dalgliesh virou-se para Piers.
Vá dizer-lhes, por favor, que irei falar com eles logo que possa. Primeiro com Mistress Glutton e, depois, com os Dupayne. Entretanto, você e Benton-Smith devem proceder a uma busca nas redondezas. Provavelmente, não encontrarão nada de especial, sobretudo enquanto não amanhecer, mas de qualquer modo é melhor fazê-lo. Depois, vão ter comigo à garagem.
Com Kate a seu lado, dirigiu-se ao local do incêndio. Duas lâmpadas de arcos voltaicos brilhavam no que restava da garagem e, quando se aproximou, viu que o local estava tão iluminado e atravancado como se fosse um estúdio de filmagem. Era a sensação com que sempre ficava ao chegar ao local de um qualquer crime, depois de iluminado; tudo lhe parecia notoriamente artificial, como se o assassino, ao eliminar a vítima, tivesse retirado aos objectos circundantes, mesmo aos vestijos mais vulgares, toda e qualquer semelhança com a realidade. Os veículos dos bombeiros já haviam partido, deixando sulcos profundos nas margens do relvado, esmagado pelo desenrolar das mangueiras pesadas.
O agente de investigação de incêndios apercebeu-se da sua chegada. Tinha mais de um metro e oitenta de altura, um rosto pálido e enrugado, de feições marcadas, e uma espessa cabeleira ruiva. Envergava uma bata azul, botas de borracha altas e tirara da boca a máscara de protecção, que agora lhe pendia do pescoço. Com aquela cabeleira ruiva que nem as próprias lâmpadas de arcos voltaicos conseguiam eclipsar e o seu rosto ossudo e robusto, manteve-se, durante alguns momentos, tão rígido e hierático como um mítico guardião dos portões do inferno; só lhe faltava uma espada refulgente para completar a ilusão, que se desvaneceu em seguida, quando o homem se aproximou de Dalgliesh com passadas vigorosas e lhe apertou a mão com força.
Comandante Dalgliesh? O meu nome é Douglas Anderson e sou o encarregado da investigação de incêndios. E esta é a Sam Roberts, a minha assistente.
Sam era uma rapariga magra, com um ar de determinação quase infantil no rosto encimado por cabelo preto.
Um tanto afastadas, havia três outras figuras, de botas e batas brancas, com as máscaras baixadas.
Creio que já conhece o Brian Clark e os outros peritos em investigação na cena do crime.
Clark levantou um braço em sinal de que havia reconhecido o comandante, mas não saiu de onde estava. Dalgliesh nunca o vira dar um aperto de mão fosse a quem fosse, mesmo quando esse cumprimento teria sido apropriado. Era como se receasse que qualquer contacto humano fosse capaz de alterar os indícios. Dalgliesh perguntou a si próprio se alguém que fosse convidado a jantar com Clark não corria o risco de ver a sua chávena de café etiquetada como prova ou coberta com pó para recolha de impressões digitais. Clark sabia que a cena de um crime devia ser deixada tal como estava até que o encarregado da investigação a tivesse examinado e os fotógrafos houvessem registado todos os pormenores, mas não tentava sequer esconder a sua impaciência de continuar a tarefa de que fora incumbido. Os seus dois colegas, mais descontraídos, mantinham-se um pouco atrás dele, como se fossem um par de auxiliares, envergando trajes especiais e à espera do momento oportuno para desempenharem os seus papéis num ritual esotérico.
Depois de vestirem batas brancas e de enfiarem as luvas, Dalgliesh e Kate encaminharam-se para a garagem. O que restava dela ficava a uns trinta metros do muro do museu. O telhado havia desaparecido quase por completo, mas as três paredes estavam ainda de pé e as portas, abertas, não apresentavam quaisquer sinais do incêndio. Em tempos, à volta da garagem, houvera uma fileira de árvores novas e esguias, mas agora nada restava delas a não ser irregulares estacas de madeira enegrecida. A cerca de onze metros de distância, havia uma pequena barraca, com uma torneira de água, à direita da porta. Surpreendentemente, só fora atingida ao de leve pelo fogo.
Com Kate em silêncio a seu lado, Dalgliesh parou por um momento à entrada da garagem e percorreu com os olhos aquele espectáculo macabro. Nada ficava na sombra sob a luz forte dos arcos voltaicos: os contornos dos objectos eram bem definidos e as cores quase imperceptíveis. A única excepção era constituída pelo vermelho-vivo da comprida capota do automóvel, deixada intacta pelo fogo, e que brilhava como se tivesse sido pintada recentemente. As chamas haviam-se projectado para cima, atingindo o telhado de plástico ondulado e Dalgliesh pôde ver, através dos rebordos enegrecidos, o céu nocturno e uma miríade de estrelas. À sua esquerda e a cerca de metro e meio do assento do condutor, ficava uma janela quadrada, cujos vidros se achavam estalados e cobertos de fuligem. A garagem, pequena e de tecto baixo, segundo tudo indicava resultara da transformação de um antigo barracão: entre cada lado do automóvel e as paredes não havia mais de um metro e vinte centímetros e, entre a parte da frente do capô e as duas portas da garagem, apenas cerca de trinta centímetros. A porta, à direita de Dalgliesh, achava-se escancarada; quanto à da esquerda, do lado do condutor, parecia que alguém tentara fechá-la. Havia fechos no cimo e na parte inferior da porta da esquerda da garagem, enquanto, na da direita, fora instalada uma fechadura Yale. Dalgliesh pôde verificar que a chave estava no seu lugar. À sua esquerda, encontrava-se um interruptor e notou que a lâmpada fora tirada do casquilho. No ângulo formado pela porta semicerrada e pela parede, encontrava-se uma lata de gasolina com capacidade para cinco litros, que não fora atingida pelas chamas. A tampa de rosca desaparecera.
Douglas Anderson encontrava-se de pé, um pouco atrás da porta entreaberta do carro, atento e em silêncio, como se fosse um motorista à espera que ocupassem os seus lugares no interior. Sempre com Kate a seu lado, Dalgliesh acercou-se do cadáver. Estava encostado ao assento do condutor, ligeiramente virado para a direita, com o que restava do braço esquerdo junto ao corpo e o direito, estendido e rígido, numa imitação burlesca de protesto. Através da porta entreaberta, podiam ver-se o cúbito e alguns fragmentos de roupa queimada agarrados às fibras de um músculo. Tudo o que podia arder, na cabeça, fora consumido e o fogo propagara-se até um pouco acima dos joelhos. O rosto queimado, com as feições completamente irreconhecíveis, estava virado em direcção ao exterior, e toda a cabeça, carbonizada como a de um fósforo queimado, parecia anormalmente pequena. Tinha a boca aberta numa careta, como se estivesse a rir-se do aspecto grotesco da sua própria cabeça. Só os dentes, de um branco reluzente que contrastava com a carne calcinada, e uma pequena porção do crânio fracturado revelavam que aquele cadáver era o de um ser humano. Do carro desprendia-se o cheiro a carne e a tecido queimados e, de forma menos pronunciada mas inconfundível, o cheiro a gasolina.
Dalgliesh olhou para Kate, cujo rosto parecia esverdeado sob o brilho das luzes e petrificado numa máscara de determinação. Lembrou-se de que, certa vez, ela lhe confessara o seu medo do fogo; não se recordava de quando nem porquê, mas essa confidência uma das raras que Kate lhe fizera ficara impressa na sua memória. O afecto que dedicava à rapariga tinha raízes profundas, resultantes da sua própria personalidade complexa e das experiências por que haviam passado juntos. Sentia respeito pelas qualidades que demonstrava como agente da polícia e pela grande determinação que a elevara ao posto a que ascendera, além de um quase paternal interesse pela sua segurança e pelo êxito da sua carreira e da atracção que Kate, como mulher, sentia por ele, e que nunca se tornara explícita. Dalgliesh não se apaixonava facilmente e era absoluta a sua inibição e, pensava, a de Kate também relativamente a um relacionamento sexual com alguém com quem trabalhava. Ao dar-se conta da expressão rígida de Kate, sentiu um assomo de afeição protectora e, por um momento, passou-lhe pela mente a hipótese de arranjar uma desculpa para a dispensar e mandar chamar Piers. No entanto, nada disse. Kate era demasiado inteligente para não se aperceber da verdadeira causa do seu estratagema e o mesmo aconteceria com Piers. Não desejava humilhá-la, sobretudo perante um colega do sexo masculino. Instintivamente, aproximou-se dela, e o seu braço tocou ao de leve no ombro de Kate. Sentiu que o corpo dela se retesava. Não haveria problemas com Kate.
Quando foi que chegaram os bombeiros? perguntou.
Faltavam cinco minutos para as sete. Quando viram que havia um corpo dentro do carro, telefonaram para o conselheiro da Brigada de Homicídios. Deve conhecê-lo; chama-se Charlie Unsworth. Em tempos, foi perito em cenários de crime na Polícia Metropolitana. Depois de efectuar a inspecção preliminar, não levou muito tempo a concluir que se tratava de uma morte suspeita e, por isso, telefonou por sua vez para o nosso departamento. Como sabe, estamos de serviço durante vinte e quatro horas por dia e cheguei aqui às sete e vinte e oito. Decidimos começar a investigação de imediato. A agência funerária virá buscar o cadáver assim que o senhor tiver terminado o seu trabalho. Procedemos a uma inspecção preliminar do carro, mas é melhor levá-lo para Lambeth. Pode haver impressões digitais.
O pensamento de Dalgliesh retrocedeu ao seu último caso, no Instituto de Santo Anselmo. Se o padre Sebastian se encontrasse ali naquele momento, teria feito o sinal da cruz. O seu próprio pai, um sacerdote anglicano moderado, teria linclinado a cabeça numa prece, e as palavras sair-lhe-iam dos lábios, santificadas por séculos de invocação. Ambos, ponderou, eram felizes por poder encontrar respostas instintivas capazes de conferir àqueles calcinados restos mortais o reconhecimento de que haviam pertencido a um ser humano. Havia uma necessidade de dignificar a morte, de afirmar que aquele corpo em breve etiquetado como prova pela polícia, transportado, dissecado e objecto de toda a espécie de exames ainda tinha importância superior à da carcaça deformada do Jaguar e às das árvores mortas.
A princípio, Dalgliesh deixou que fosse Anderson a falar. Era a primeira vez que se encontravam, mas sabia que o encarregado da investigação do incêndio era um homem com mais de vinte anos de experiência no que tocava a mortes causadas pelo fogo. Ali, era ele o perito e não Dalgliesh.
Que pode dizer-nos? perguntou.
Não há dúvidas quanto ao foco do incêndio; a cabeça e a parte superior do corpo. Como pode ver, o fogo confinou-se quase exclusivamente à parte do meio do automóvel. As chamas atingiram a capota, que estava levantada, e depois subiram e incendiaram o plástico ondulado do telhado da garagem. Os vidros da janela provavelmente estalaram com o calor, dando passagem a uma corrente de ar que fez alastrar o fogo. Foi por isso que as labaredas se espalharam até às árvores. Se tal não tivesse acontecido, o incêndio ter-se-ia apagado antes que alguém se apercebesse, isto é, qualquer pessoa que se encontrasse no Heath ou em Spaniards Road. Claro que, quando regressasse, Mistress Glutton ter-se-ia dado conta do que se passava, com chamas ou sem chamas.
É a causa do fogo?
Quase de certeza, gasolina. Como é evidente, poderemos determinar rapidamente se esta suposição é exacta. Estamos a recolher amostras das roupas e do assento do condutor e vamos submetê-las a uma análise no sniffer, o TVA Mil, para determinar se há vestígios de hidrocarbonetos. No entanto, o sniffer não é específico; seremos obrigados a fazer uma cromatografia gasosa e, como sabe, isso pode demorar cerca de uma semana. No entanto, todos esses meios são quase desnecessários. Apercebi-me do cheiro a gasolina nas calças do homem e no assento que ardeu, assim que entrei na garagem.
E a gasolina, provavelmente, veio daquela lata comentou Dalgliesh. Mas onde está a tampa?
Aqui. Não lhe tocámos.
Anderson conduziu Dalgliesh ao fundo da garagem. No recanto mais afastado, lá estava a tampa.
Acidente, suicídio ou homicídio? perguntou Dalgliesh. Teve tempo para formular um diagnóstico provisório?
Não se tratou de um acidente; essa hipótese pode ser posta de lado. Não creio tão-pouco que tenha sido um suicídio. Segundo a minha experiência, os suicidas que utilizam gasolina não atiram a lata para longe. Em regra, vamos encontrá-la junto do carro. Mas mesmo que tivesse derramado a gasolina sobre o corpo e atirado a lata para longe, porque é que a tampa não se encontrava ao pé dela ou sobre o tapete do carro? Na minha opinião, a tampa foi desatarraxada por alguém que se encontrava no canto esquerdo do fundo da garagem, já que de outra forma a tampa não teria rolado até lá. O chão de cimento, embora bem nivelado, inclina-se da parte de trás para a porta. Calculo que essa inclinação deve ser de uns oito centímetros, no máximo, mas a tampa, mesmo que tivesse rolado, iria parar a um local próximo daquele em que foi encontrada a lata.
E o assassino, se é que o houve, ficaria às escuras, porque não havia lâmpada no casquilho interveio Kate.
Se a lâmpada tivesse fundido, a rosca ficaria no casquilho comentou Anderson. Alguém a tirou. Claro que pode tê-lo feito por um motivo perfeitamente inocente. Podia ter sido tirada por Mistress Glutton ou pelo próprio Dupayne. No entanto, quando uma lâmpada se funde, o normal é deixá-la no casquilho até se trazer outra para a substituir. Além disso, temos o cinto de segurança; o cinto ardeu mas a fivela metálica está ainda no seu lugar. A vítima apertou o cinto de segurança. Ora, nunca vi tal coisa num caso de suicídio.
Se tivesse receio de mudar de ideias no derradeiro instante, podia ter apertado o cinto de segurança fez notar Kate.
E pouco provável. Com a cabeça regada com gasolina e um fósforo aceso, que hipóteses teria de mudar de ideias?
Assim, o quadro, tal como o podemos ver neste momento, é o seguinte: o assassino tira a lâmpada, permanece na garagem às escuras, desatarraxa a tampa da lata de gasolina e fica à espera, com os fósforos na mão ou dentro do bolso. Como tinha de se ocupar da lata e dos fósforos, provavelmente achou preferível deixar cair a tampa no chão. Com certeza não ia arriscar-se a colocá-la no bolso, por saber que tinha de actuar com muita rapidez se quisesse sair da garagem sem se ver encurralado pelo fogo. A vítima, que supomos ser o Neville Dupayne, abre a porta da garagem com a chave Yale. Sabe onde se encontra o interruptor. Vê ou pressente que falta a lâmpada quando a luz não se acende. No entanto, não precisa de iluminação, dado que, em poucos passos, chegará à porta do carro. Entra, senta-se ao volante e põe o cinto de segurança. Isto é um pouco estranho porque só ia tirar o carro da garagem; antes de se ir embora, tinha de fechar de novo a porta da garagem. Apertar o cinto pode ter sido um acto meramente instintivo. E então que o assaltante sai da escuridão. Creio que se trata de alguém que a vítima conhecia e a quem não receava. Abre a porta do carro para lhe falar e é imediatamente regado com gasolina. O assaltante tem os fósforos à mão, acende um, atira-o em direcção a Dupayne e sai rapidamente da garagem. Não queria dar a volta pela traseira do carro, porque o tempo urgia. Por isso, teve sorte em escapar ileso. Empurra a porta do carro até esta ficar semicerrada, por forma a dar-lhe espaço para passar. Pode ter deixado impressões digitais, mas é pouco provável. Este assassino... se é que existe... com certeza calçou luvas. O lado esquerdo da porta da garagem está meio fechado. Presumo que tivesse a intenção de fechar os dois batentes para não deixar que o fogo fosse visto do exterior, mas acabou por decidir não perder mais tempo. Tinha de fugir quanto antes.
Os dois batentes da porta parecem pesados comentou Kate. Uma mulher teria dificuldade em fechá-los, mesmo parcialmente, com rapidez.
Mistress Glutton estava sozinha quando descobriu o incêndio? quis saber Dalgliesh.
Estava, sim. Regressava de uma aula nocturna. Não sei bem quais as suas funções no museu, mas creio que se ocupa das peças expostas, limpando-lhes o pó e tudo o mais. Reside numa vivenda a sul do edifício principal, com vista para o Heath. Da sua casa, telefonou imediatamente para os bombeiros e depois entrou em contacto com o Marcus Dupayne e com a irmã deste, a Caroline Dupayne. Também telefonou para a secretária e recepcionista, uma tal Muriel Godby. Vive perto e foi a primeira a chegar. Miss Dupayne chegou a seguir, e o irmão, pouco tempo depois. Mantivemo-los a todos afastados da garagem. Os Dupayne estão ansiosos por falar consigo e revelam-se peremptórios em não se irem embora enquanto o corpo do irmão não for removido. Isto, supondo que o cadáver é do irmão deles.
Há alguma prova que leve a crer que não seja?
Nenhuma. Encontrámos umas chaves no bolso das calças. Na bagageira do carro, há um saco de viagem, mas não descobrimos nada que confirmasse a identidade da vítima. Claro que temos as calças. Os joelhos não foram queimados, mas eu não posso afirmar com segurança que...
Claro que não. Uma identificação positiva tem de esperar pela autópsia, mas não me parece que restem dúvidas.
Piers e Benton-Smith saíram da escuridão, para lá do clarão das luzes.
Não há ninguém nas redondezas nem quaisquer veículos cuja presença desperte suspeitas informou Piers. Na barraca do jardim, encontrámos uma máquina de cortar relva, uma bicicleta e os habituais utensílios de jardinagem. Não vimos nenhuma lata de gasolina. Os Dupayne vieram falar connosco há cerca de cinco minutos. Estão a ficar impacientes.
Era compreensível, pensou Dalgliesh. Afinal, Neville Dupayne era irmão deles.
Expliquem-lhes que, primeiro, preciso de falar com Mistress Glutton. Irei ter com eles logo que possível. Você e o Benton-Smith fiquem aqui para colaborar na investigação. Eu e a Kate estaremos na vivenda.
Assim que haviam chegado os bombeiros, um deles sugerira a Tally que esperasse na vivenda, embora em tais modos que mais fora uma ordem do que um pedido. Sabia que não queriam que ela lhes perturbasse o trabalho, e tão-pouco tinha qualquer desejo de se aproximar da garagem. No entanto, sentia-se demasiado nervosa para ficar fechada entre quatro paredes e, em vez disso, contornou a parte de trás da vivenda, passou pelo parque de estacionamento e caminhou até à entrada de acesso. Ali chegada, começou a andar para diante e para trás, à espera de ouvir algum carro aproximar-se.
Muriel fora a primeira a chegar. Levara mais tempo do que Tally esperava. Depois de Muriel estacionar o seu Ford Fiesta, Tally despejou a sua história. Muriel ouviu-a, em silêncio, e depois disse num tom firme:
De nada nos serve esperarmos cá fora, Tally. Os bombeiros não vão querer que os estorvemos. Mister Marcus e Miss Caroline devem estar a chegar a qualquer momento. Era melhor esperarmos na sua casa.
Foi o que disse um dos bombeiros admitiu Tally, mas eu precisava de estar ao ar livre.
Muriel olhou para ela fixamente sob a luz do parque de estacionamento.
Agora, eu estou aqui. É melhor irmos para dentro de casa. Mister Marcus e Miss Caroline sabem onde podem encontrar-nos..
Assim sendo, regressaram juntas à vivenda. Tally sentou-se na sua cadeira habitual, com Muriel à sua frente, e mantiveram-se num silêncio de que, aparentemente, ambas precisavam. Tally não fazia ideia de quanto tempo haviam ficado assim, até o silêncio ser quebrado pelo som de passos no carreiro. Muriel levantou-se mais rapidamente e encaminhou-se para a porta. Tally ouviu um murmúrio de vozes; depois, Muriel regressou, acompanhada por Mr. Marcus. Por breves instantes, Tally ficou a olhar para ele, como se não acreditasse no que via. Tornou-se um velho, pensou. Estava lívido, e as proeminentes maçãs do rosto mostravam-se cobertas por um emaranhado de vasos capilares. Por trás da sua palidez, tinha os músculos em redor da boca e do queixo muito tensos, como se toda a sua face se achasse semiparalisada. Quando falou, Tally ficou surpreendida por verificar que a sua voz quase não se alterara. Com um gesto, recusou a cadeira que ela lhe ofereceu e manteve-se de pé, hirto, enquanto ouvia o que ela narrava mais uma vez. Sem dizer palavra, ouviu-a até ao fim. Tentando arranjar uma maneira, por inadequada que fosse, de lhe demonstrar a sua simpatia, Tally propôs-lhe uma chávena de café. Mr. Marcus recusou tão bruscamente que ela interrogou-se se a ouvira.
Segundo julgo ter compreendido, um oficial da Scotland Yard vem a caminho disse Marcus Dupayne por fim. Esperarei por ele no museu. A minha irmã já lá se encontra. Virá vê-la mais tarde. Chegara já à porta, quando se voltou e perguntou: Sente-se bem, Tally?
Sinto, sim, Mister Marcus. Obrigada. Estou bem Com voz entrecortada, acrescentou: Lamento, lamento mesmo muito.
Ele fez um aceno com a cabeça e pareceu prestes a dizer qualquer coisa, mas saiu sem proferir mais palavras. Minutos depois da partida de Mr. Marcus, a campainha da porta soou. Muriel apressou-se a ir abrir. Regressou sozinha e disse que um agente da polícia viera saber se estavam bem e ainda para as informar de que o comandante Dalgliesh viria falar com elas logo que possível.
De novo sozinha com Muriel, Tally acomodou-se outra vez na cadeira junto à lareira. Com a porta exterior fechada, assim como a do pórtico, só havia uma pequena réstia do acre cheiro a queimado no vestíbulo; sentada junto da lareira, na sala de estar, Tally quase podia julgar que lá fora nada mudara. As cortinas com o seu estampado de folhas verdes tinham sido corridas, impedindo que se visse a noite. Muriel havia ligado o calorífero a gás quase no máximo e o próprio Tomcat regressara misteriosamente e fora esticar-se sobre o tapete. Tally sabia que lá fora deviam soar vozes masculinas, botas a pisar a erva molhada, e ver-se o brilho intenso dos arcos voltaicos, mas ali, nas traseiras do museu, a calma era total. Sentiu-se grata pela presença de Muriel, pelo sereno e autoritário controlo que mantinha, e até pelo seu silêncio, que não representava uma forma de censura, antes se mostrava quase amistoso.
Você ainda não jantou e eu também não exclamou Muriel, levantando-se por fim. Precisamos de comer. Deixe-se ficar sentada que eu trato de tudo. Tem ovos?
Há uma embalagem nova no frigorífico respondeu Tally. Dizem que são do campo, mas receio que não sejam totalmente de cultura biológica.
Servem à mesma. Não, não se levante. Espero encontrar tudo quanto preciso.
Como era estranho, pensou Tally, que experimentasse grande alívio num momento como aquele por saber que a sua cozinha se achava imaculada, que mudara de manhã o pano de enxugar a louça e que os ovos eram frescos. Sentia-se invadida por uma grande exaustão mental que nada tinha a ver com o cansaço físico. Recostando-se na cadeira em frente da lareira, deixou que os seus olhos percorressem a sala de estar, perscrutando cada objecto para se assegurar de que nada mudara, que o seu mundo continuava a ser um local familiar. Os ruídos abafados que lhe chegavam da cozinha eram quase sensualmente agradáveis, e fechou os olhos, para ouvi-los. Pareceu-lhe que Muriel saíra da sala havia muito quando a viu reaparecer com o primeiro de dois tabuleiros e a sala foi inundada pelo cheiro de ovos e torradas com manteiga. Sentaram-se à mesa, uma em frente da outra. Os ovos mexidos estavam perfeitos: cremosos, quentes e levemente polvilhados com pimenta. Em cada prato, havia um raminho de salsa. Tally pensou de onde provinha até se recordar de que havia colocado uma mão-cheia de salsa numa caneca, no dia anterior.
Muriel também fizera chá.
Creio que o chá é mais apropriado do que o café para os ovos mexidos, mas posso fazer café, se preferir disse.
Não, obrigada, Muriel replicou Tally. Está muito bem assim. Foi muito gentil.
E fora gentil, de facto. Tally não se apercebera de que estava com fome antes de começar a comer. Os ovos mexidos e o chá quente revigoraram-na. Invadiu-a a tranquilizadora certeza de que fazia parte do museu, de que não era apenas a governanta que o limpava e tratava dele, e sentiu-se grata pelo refúgio que lhe era proporcionado por aquela vivenda, e por ser membro do pequeno mas dedicado grupo de pessoas para quem o Dupayne fazia parte das suas vidas. No entanto, como conhecia tão mal as pessoas com quem trabalhava... Quem havia de imaginar que alguma vez experimentaria um tamanho conforto pela companhia de Muriel? Já esperava que se revelasse calma e eficiente, mas a sua amabilidade surpreendera-a. Tinha de reconhecer que, quando Muriel chegara, as primeiras palavras que proferira haviam sido para mostrar o seu desagrado pelo facto de a barraca onde se guardava a gasolina não estar fechada à chave, como mais de uma vez fizera notar a Ryan. No entanto, logo de seguida, pusera de lado as suas censuras e dedicara-se a assumir o controlo da situação e a ouvir o que Tally lhe contara.
Com certeza não quer ficar aqui sozinha esta noite adiantou. Não tem parentes ou amigos que lhe possam dar guarida?
Até àquele momento, Tally não pensara que iria ficar sozinha quando todos se fossem embora, mas, agora, essa ideia incutira-lhe uma nova ansiedade. Se telefonasse para Basingstoke, Jennifer e Roger não se escusariam em viajar até Londres para vir buscá-la. Afinal, não seria uma visita vulgar. A presença de Tally, pelo menos desta vez, constituiria uma alegre causa de excitação e de conjecturas para toda a vizinhança. Claro que devia telefonar a Jennifer e a Roger, e quanto mais cedo melhor, antes que soubessem do que acontecera pelos jornais. Isso, contudo, podia ficar para o dia seguinte. Sentia-se demasiado cansada para enfrentar naquele momento as suas perguntas e a sua preocupação. Uma coisa era certa, todavia: não desejava sair daquela casa. Sentia um receio quase supersticioso de que, mal a abandonasse, a vivenda não mais a aceitaria de volta.
Ficarei bem aqui, Muriel. Estou habituada à solidão. Sempre me senti em segurança nesta casa.
Mas atrevo-me a lembrar-lhe de que esta noite é diferente das outras. Sofreu um choque terrível. Miss Caroline não admitirá que fique aqui sem companhia. Provavelmente, vai propor que vá com ela para a escola.
Essa perspectiva, pensou Tally, era quase tão desagradável como a de Basingstoke. No seu espírito, formou-se de imediato um ror de objecções. A sua camisa de dormir e o seu roupão estavam perfeitamente limpos e em estado aceitável, mas eram já velhos; que aspecto iriam ter no apartamento de Miss Caroline em Swathling’s? E o pequeno-almoço? Seria no apartamento de Miss Caroline ou na sala de jantar da escola? A primeira hipótese era embaraçosa. Que poderiam elas ter a dizer uma à outra? Por outro lado, não se sentia com coragem para afrontar a curiosidade barulhenta de um quarto repleto de adolescentes. Aquelas preocupações podiam parecer pueris e supérfluas quando comparadas com o horror que havia lá fora, mas não conseguiu afastá-las do espírito.
Fez-se silêncio e depois Muriel acrescentou:
Se quiser, posso ficar aqui consigo, esta noite. Não preciso de muito tempo para ir buscar a roupa de dormir e a escova de dentes. Não me importaria de a levar para minha casa, mas creio que prefere permanecer na sua.
Os sentidos de Tally pareciam ter ficado mais apurados. E tu preferes ficar aqui do que levar-me para tua casa, pensou. A proposta destinava-se tanto a causar boa impressão em Miss Caroline como a ajudá-la a ela. Apesar disso, sentiu-se agradecida e replicou:
Se não lhe der grande incómodo, Muriel, ficaria muito satisfeita por poder contar com a sua companhia esta noite.
Graças a Deus, pensou, a cama sobresselente está sempre feita, com lençóis limpos, embora nunca espere visitas. Vou pôr lá uma botija de água quente, enquanto a Muriel for a casa e, na mesinha-de-cabeceira, um dos vasos com violetas-africanas e alguns livros. Farei tudo para que se sinta confortavelmente instalada. Amanhã, removerão o cadáver e já me sentirei bem.
Continuaram a comer em silêncio, até que Muriel comentou:
Convém que guardemos todas as nossas energias para quando chegar a polícia. Temos de nos preparar para as perguntas que nos forem feitas. Creio que deveremos ser muito prudentes quando falarmos com a polícia. Não queremos que fiquem com uma impressão errada, não é verdade?
Que quer dizer com deveremos ser muito prudentes, Muriel? Só temos de lhes contar a verdade.
Claro que vamos contar-lhes a verdade. O que quis dizer foi que não devemos contar-lhes coisas que não nos digam respeito, coisas sobre a família, como, por exemplo, aquela conversa que tivemos acerca da reunião dos fiduciários. Não devemos revelar-lhes que o doutor Neville queria encerrar o museu. Se acharem que precisam dessa informação, Mister Marcus dir-lhes-á o que se passou. Na realidade, não se trata de um assunto que nos diga respeito.
Não ia contar-lhes tal coisa retorquiu Tally, perturbada.
Também não o farei. É importante que não fiquem com uma ideia errada...
Tally sentiu-se estarrecida.
Mas, Muriel, só pode ter sido um acidente, nada mais do que isso. Não está a insinuar que a polícia vai pensar que a família teve algo a ver com o sucedido, pois não? Não podem acreditar em tal coisa. Seria ridículo. Mais do que isso, seria perverso!
Claro que sim, mas é a esse tipo de ideias que a polícia costuma aferrar-se. Estou só a dizer que temos de ser prudentes. E, como é óbvio, vão fazer-lhe perguntas acerca do tal condutor. Pode mostrar-lhes a bicicleta danificada. Será uma prova.
Prova de quê, Muriel? Está a sugerir que não vão acreditar em mim? Que podem pensar que nada tenha realmente acontecido?
Talvez não cheguem a esse ponto, mas vão precisar de provas. Os polícias não acreditam em nada nem em ninguém. Foram treinados para isso. Tally, tem a certeza de que não seria capaz de reconhecer esse homem?
Tally sentia-se confusa. Não queria falar do incidente naquele momento, nem com Muriel.
Não o reconheci declarou, mas, agora que penso nisso, tenho a sensação de que já o vi anteriormente. Não consigo recordar-me quando e onde, mas sei que não foi no museu. Não me esqueceria do seu rosto, se ele cá viesse regularmente. Talvez tenha visto o seu retrato em qualquer parte, nos jornais ou na televisão. Ou, então, talvez se pareça com alguém que eu conheça bem. É só uma impressão minha, mas não considero que seja de grande ajuda para a polícia.
Bom, se não sabe, não sabe. No entanto, eles vão tentar descobrir de quem se trata. E pena que não haja tomado nota da matrícula do carro.
Aconteceu tudo tão depressa, Muriel. Ele desapareceu enquanto eu ainda tentava pôr-me de pé. Não pensei em tomar nota da matrícula, mas, mesmo que tivesse essa intenção, como conseguiria fazê-lo? Foi só um acidente e não fiquei ferida. Nessa altura, não sabia do que se passara com o doutor Neville.
Ouviram alguém bater à porta. Antes que Tally pudesse levantar-se, Muriel já se precipitara para a entrada. Regressou com duas pessoas, um homem alto e de cabelo preto e a mulher-polícia com quem já ambas haviam falado.
O comandante Dalgliesh e a inspectora Miskin, que já conhece anunciou Muriel. Depois, voltando-se para o comandante, perguntou: O senhor e a inspectora aceitam uma chávena de café? Se preferirem, também há chá. Não levarei muito tempo a fazer café.
Já começara a colocar chávenas e pires sobre a mesa quando o comandante Dalgliesh respondeu:
Um pouco de café seria bem-vindo.
Muriel assentiu com a cabeça e, sem mais palavras, levou consigo o tabuleiro do jantar. Tally pensou: Já deve ter-se arrependido da sua oferta. Não duvido de que preferia ficar aqui e ouvir o que tenho a dizer. Perguntou a si própria se o comandante não aceitara o café por preferir falar com ela a sós. Sentou-se à mesa, em frente dela, enquanto Miss Miskin escolheu uma cadeira junto da lareira. Para grande surpresa de Tally, Tomcat, de súbito, deu um pulo e foi aconchegar-se no colo da inspectora. Não era habitual fazê-lo, mas acontecia sempre com visitantes que não gostavam de gatos. Miss Miskin não consentiu mais liberdades a Tomcat e, com delicadeza mas firmemente, tirou-o do seu colo e pô-lo em cima do tapete.
Tally examinou o comandante. Para ela, os rostos ou eram moldados de uma forma suave ou esculpidos. O do comandante pertencia a esta última categoria. Era um rosto autoritário mas atraente, e os olhos escuros que fitavam os seus pareciam gentis. Possuía uma voz atractiva... e a voz era sempre muito importante para ela. Foi então que se recordou das palavras de Muriel: Os polícias não acreditam em nada nem em ninguém. Foram treinados para isso.
Deve ter sido um grande choque para si, Mistress Glutton disse ele. Sente-se capaz de responder agora a algumas perguntas? É sempre útil estabelecer os factos, o mais cedo possível, mas, se preferir recompor-se durante mais algum tempo, podemos voltar amanhã cedo.
Não, por favor. Prefiro contar tudo já. Sinto-me bem. Não gostaria de esperar toda a noite.
Então, pode dizer-nos o que sucedeu, desde o momento em que o museu encerrou, esta tarde, até agora? Leve o tempo que quiser, mas tente recordar-se de todos os pormenores, mesmo os que lhe pareçam sem grande importância.
Tally contou a sua história. Pelo olhar atento do comandante, sabia que estava a relatar tudo correcta e claramente. Sentia a necessidade irracional da sua aprovação. Miss Miskin pegara num bloco e, discretamente, estava a tomar apontamentos, mas, quando Tally a fitou de relance, pôde verificar que os olhos da inspectora não se despegavam do seu rosto. Nenhum deles a interrompeu enquanto falou.
No final, o comandante Dalgliesh tomou a palavra.
Disse-me que o rosto do tal condutor que a atropelou e desapareceu, logo de seguida, lhe era vagamente familiar. É capaz de se recordar de quem se tratava ou do local em que o viu anteriormente?
Receio que não. Se, na realidade, o tivesse já visto, penso que me lembraria de imediato. Talvez não do nome, mas do lugar em que o vira. Não aconteceu assim; a minha impressão foi muito menos segura, como se o seu rosto fosse muito conhecido e eu tivesse visto uma fotografia dele em qualquer lado. Claro que também pode ser parecido com um actor da televisão, um desportista, um escritor. Lamento não poder ser-vos mais útil.
Foi útil para mim, Mistress Glutton, muito útil. Amanhã, pedir-lhe-emos que se desloque à Scotland Yard à hora que lhe convier, para examinar alguns retratos e talvez para falar com um dos nossos desenhadores. Juntos, poderemos estabelecer um retrato robô. Como é óbvio, gostaríamos de descobrir quem é esse condutor, se tal for possível.
Naquele momento, Muriel regressou com o tabuleiro do café. Servira-se de grãos recentemente moídos e o seu aroma espalhou-se pela sala. Miss Miskin sentou-se à mesa e tomaram o café juntos. Em seguida, a convite do comandante Dalgliesh, foi a vez de Muriel contar a sua história.
Saíra do museu às cinco e um quarto. O museu fechava às cinco e, habitualmente, completava o seu dia de trabalho às cinco e meia, com excepção das sextas-feiras, dias em que tentava partir mais cedo. Juntamente com Mrs. Glutton certificara-se de que todos os visitantes haviam saído. Dera boleia a Mrs. Strickland, uma voluntária, até à estação de metropolitano de Hampstead e depois dirigira-se para a sua casa, em South Finchley, onde chegara por volta das cinco e quarenta e cinco. Não retivera o momento exacto em que Tally lhe ligara para o telemóvel, mas calculava que tivesse sido por volta das seis e quarenta. Logo de seguida, viera para o museu.
A inspectora Miskin interrompeu-a nesse momento.
Parece possível que o fogo tenha sido provocado por gasolina incendiada. Guardavam gasolina nas instalações do museu e, se assim for, onde?
Muriel olhou para Tally e depois respondeu:
A gasolina destinava-se ao cortador de relva. O jardim não está sob a minha responsabilidade, mas sei que guardavam gasolina na barraca. Creio que toda a gente sabia disso. Avisei o Ryan Archer, o rapaz que desempenha as funções de ajudante de jardineiro, de que a barraca devia ficar sempre fechada à chave. Os utensílios e equipamentos de jardinagem são caros. Apesar disso, tanto quanto as senhoras sabem, a barraca nunca era fechada à chave? ”
Não respondeu Tally. A porta não tem fechadura.
Alguma de vós se recorda da última vez em que viu a lata?
Voltaram a olhar uma para a outra e Muriel replicou:
Já não vou à barraca há bastante tempo. Não consigo lembrar-me de quando lá fui pela última vez.
No entanto, disse ao Ryan Archer para a manter fechada à chave. Quando o fez?
Pouco depois de a lata de gasolina ter sido comprada. Foi Mistress Faraday, a voluntária que se encarrega do jardim, que a trouxe. Creio que terá sido em meados de Setembro, mas ela será capaz de vos fornecer a data exacta.
Obrigada. Vou precisar dos nomes e moradas de todos quantos trabalham no museu, incluindo os voluntários. É a senhora que é responsável pelo pessoal, Miss Godby?
Muriel corou ao de leve.
Sou, sim retorquiu. Posso fornecer-lhe os nomes, esta noite. Se forem ao museu para falar com Mister e Miss Dupayne, poderei acompanhar-vos.
Não é necessário interveio Dalgliesh. Mister Dupayne dar-nos-á a lista dos nomes. Alguma da senhoras conhece o nome da garagem de que se servia o doutor Dupayne para cuidar do seu Jaguar?
Foi Tally quem respondeu.
A assistência era prestada por Mister Stan Carter, na Garagem Duncan, em Highgate. Por vezes via-o, quando trazia o carro de alguma reparação, e ficávamos a conversar.
Fora a última pergunta. Os dois polícias levantaram-se e Dalgliesb e stendeu a mão a Tally.
muito obrigado, Mistress Glutton disse. Foi de grande utilidade para nós. Um dos meus agentes entrará em contacto consigo amanhã. Vai ficar aqui? Não creio que seja muito agradável para si passar a noite na vivenda.
Foi Muriel quem respondeu em tom seco:
Ofereci-me para passar a noite com Mistress Glutton. Como é natural, não passaria pela cabeça de Miss Dupayne consentir ficasse aqui, sozinha. Retomarei o meu serviço no museu, às nove horas de segunda-feira, embora julgue que Mis-er e Miss Dupayne irão manter o museu encerrado, pelo menos até se realizar o funeral. Se precisarem de mim amanhã, estarei à vossa disposição.
- Não creio que seja necessário retorquiu o comandante Dalgiesh. Vamos solicitar que o museu e as demais instalações fiquem fechados ao público durante os próximos três ou quatro dias, no mínimo. Os agentes da polícia manter-se-ão aqui para guardar o local até que o corpo e o automóvel sejam removidos. Tinha a esperança de que pudéssemos fazê-lo ainda esta noite, mas parece que não é possível efectuar esse serviço. Até ao amanhecer. Quanto ao condutor que atropelou Misress Glutton, a descrição que ela fez diz-lhe alguma coisa? absolutamente nada respondeu Muriel. Parece um típico visitante do museu, mas ninguém que eu possa reconhecer especificamente. É pena que a Tally não se tenha lembrado de tomar nota da matrícula do carro. O mais estranho foi o que ele disse. Não sei se visitou a Sala do Crime, comandante, quando aqui esteve com Mister Ackroyd, mas um dos casos que está representado tem a ver com uma morte causada pelo fogo.
Sim conheço o caso Rouse. E recordo-me do que Rouse disse.
Parecia ficar à espera de que uma das mulheres fizesse qualquer comentário. Tally observou-o e, depois, fez o mesmo em relação à inspectora Miskin. Nenhum deles deixava transparecer fosse o que fosse.
Mas não é a mesma coisa! exclamou. Não pode ser. Neste caso, tratou-se de um acidente.
Os dois polícias nada disseram e foi Muriel quem comentou:
O caso Rouse não foi um acidente, pois não? Ninguém lhe respondeu. Corada, Muriel olhou primeiro
para o comandante e depois para a inspectora Miskin, como se procurasse que eles a tranquilizassem.
É demasiado cedo para dizer, com segurança, porque morreu o doutor Dupayne declarou Dalgliesh, calmamente. Tudo quanto sabemos, por enquanto, é como morreu. Vejo, Mistress Glutton, que tem uma fechadura de segurança e ferrolhos nas janelas. Não acredito que aqui corra qualquer risco, mas seria prudente que tivesse o cuidado de verificar se tudo fica bem fechado antes de se ir deitar. E não abra a porta a ninguém, depois do anoitecer.
Nunca o faço garantiu Tally. Ninguém que eu conheça viria até aqui depois de encerrado o museu, sem telefonar primeiro. No entanto, nunca tive medo. Sentir-me-ei novamente bem quando esta noite chegar ao fim.
No minuto seguinte, depois de renovar os seus agradecimentos pelo café, o comandante Dalgliesh levantou-se. Antes de sair, a inspectora Miskin entregou às duas mulheres um cartão com um número de telefone. Se alguma coisa acontecesse a qualquer uma delas, deviam telefonar imediatamente para aquele número. Muriel, com os modos de dona de casa que lhe eram próprios, acompanhou os dois polícias até à porta.
Sentada à mesa sozinha, Tally ficou a olhar fixamente para as duas chávenas vazias, como se aqueles objectos vulgares tivessem o condão de lhe assegurar que o seu mundo não se partira em pedaços.
Dalgliesh levou Piers consigo quando foi falar com os dois Dupayne, deixando Kate e Benton-Smith a colaborar com o agente de investigação de incêndios e, se necessário, para falar uma última vez com Tally Glutton e Muriel Godby. Ao dirigir-se para o museu verificou, com surpresa, que a porta estava agora aberta. Um estreito feixe de luz, proveniente do átrio de entrada, iluminava o fronteiro maciço de arbustos, conferindo-lhes a ilusão de que a Primavera já havia chegado. No carreiro de cascalho, algumas pequenas pedras brilhavam como se fossem jóias. Dalgliesh premiu o botão da campainha, antes de entrar juntamente com Piers. A porta entreaberta podia ser considerada como um convite discreto, mas sabia que convinha estabelecer limites para o que podia presumir-se. Entraram no amplo átrio de entrada; totalmente vazio e silencioso, parecia um grande palco preparado para a representação de um drama contemporâneo. Quase podia imaginar as personagens a entrar em cena pelas portas do piso térreo e a subir a escada central, para irem ocupar os seus lugares com autoridade ensaiada.
Assim que os seus passos ressoaram no chão de mármore, Marcus e Caroline Dupayne apareceram à porta que dava acesso à galeria de quadros. Afastando-se para o lado, Caroline Dupayne fez-lhes sinal para que entrassem. Durante os breves segundos necessários para as apresentações, Dalgliesh deu-se conta de que ele e Piers estavam a ser objecto de um exame tão minucioso como aquele a que submetiam os Dupayne.
A impressão que Caroline lhe causou foi imediata e surpreendente. Era tão alta como o irmão ambos com pouco menos de um metro e oitenta e tinha ombros largos e pernas e braços compridos. Vestia calças e um casaco de tweed fino a condizer, por cima de uma camisola de gola alta. As palavras bonita ou bela não eram adequadas, mas a estrutura óssea sobre a qual se molda a beleza revelava-se nas maçãs do rosto salientes e no contorno, bem definido mas delicado, do queixo. O cabelo escuro, com um ou outro fio prateado, era curto e estava penteado para trás, em ondas bem marcadas, num estilo que parecia informal, mas que, segundo Dalgliesh suspeitou, resultava do trabalho dispendioso de um bom cabeleireiro. Os seus olhos escuros suportaram, por cinco segundos, o exame de Dalgliesh, de forma especulativa e a que não faltava um certo ar de desafio. Não era manifestamente hostil, porém, ele apercebeu-se, de imediato, de que tinha naquela mulher uma potencial adversária.
A única parecença entre ela e o irmão confinava-se ao cabelo escuro, no caso dele mais amplamente raiado de fios grisalhos, e às maçãs do rosto salientes. A cara de Marcus Dupayne era serena e pelos seus olhos escuros perpassava a expressão interior de um homem cujas preocupações eram racionais e controladas. Os seus enganos seriam sempre meros erros de julgamento, nunca consequência de um impulso ou de um descuido. Para um homem como ele, havia um procedimento para tudo na vida e, também, para a morte. De forma metafórica, naquele preciso momento ordenava que lhe trouxessem o processo em busca de precedentes e com o objectivo de ponderar mentalmente a resposta correcta. Não demonstrava minimamente o oculto antagonismo da irmã, mas os seus olhos, mais encovados do que os dela, reflectiam cautela e também alguma preocupação. Afinal, talvez aquela fosse uma emergência para a qual não encontrara qualquer precedente que pudesse ajudá-lo. Durante cerca de quarenta anos, devia ter protegido o seu ministro e o seu secretário de Estado. Dalgliesh perguntou a si próprio quem se preocupava ele agora em proteger.
Pôde ver que os dois irmãos haviam estado sentados em duas poltronas de espaldar vertical, de cada lado da lareira, ao fundo da galeria. Entre as poltronas, achava-se uma mesa baixa sobre a qual estava colocada uma bandeja com uma cafeteira, um jarro de leite e duas canecas. Havia também dois copos largos e sem pé, dois outros para vinho, uma garrafa de vinho e outra de uísque. Só um dos copos de vinho fora utilizado. O outro único assento existente era um banco, forrado a couro, no centro da galeria. Não era muito apropriado para uma sessão de perguntas e respostas, e por isso ninguém se dirigiu para ele.
Marcus Dupayne olhou à sua volta, como se subitamente se desse conta das carências da galeria.
Há umas cadeiras desdobráveis no gabinete. Vou buscá-las Voltou-se para Piers e disse: Pode ajudar-me? Era uma ordem; não um pedido.
Esperaram em silêncio. Caroline Dupayne dirigiu-se ao quadro de Nash e pareceu examiná-lo. Segundos depois, o irmão e Piers regressaram com as cadeiras, e Marcus, tomando o comando das operações, colocou-as com todo o cuidado em frente das poltronas em que ele e a irmã voltaram a sentar-se. O contraste entre a profunda comodidade do couro e a rigidez das tábuas de madeira das cadeiras desdobráveis falava por si só.
Não é a primeira vez que visita o museu, não é assim? perguntou Marcus Dupayne. Não esteve cá, há uma semana? O James Calder-Hale falou-me disso.
Sim, estive aqui na sexta-feira passada, com o Conrad Ackroyd confirmou Dalgliesh.
Uma visita certamente mais agradável do que a actual... Perdoe-me por introduzir esta nota social, talvez despropositada, no que para si deve ser essencialmente uma visita oficial. Para nós também, é claro.
Dalgliesh proferiu as habituais palavras de condolências. Por mais cuidado que tivesse, pareciam-lhe sempre banais e vagamente impertinentes, como se estivesse a proclamar qualquer envolvimento emocional da sua parte, em relação à morte da vítima. Caroline Dupayne franziu as sobrancelhas, como se aquela cortesia preliminar, além de pecar por falta de sinceridade fosse para ela uma perda de tempo. Dalgliesh não a censurava por isso.
Sei que tem muito que fazer, comandante disse ela, mas estamos à sua espera há mais de uma hora.
Receio que esse seja o primeiro de muitos incómodos
replicou Dalgliesh. Precisava de falar com Mistress Glutton, por ter sido a primeira pessoa a chegar ao local do incêndio. Sentem-se capazes de responder agora às perguntas que devo fazer? Se não for esse o caso, podemos voltar amanhã.
Foi Caroline que ripostou:
Não restam dúvidas de que vai voltar amanhã de qualquer modo, mas, pelo amor de Deus, ponhamos de lado os preliminares. Já calculava que tivesse ido falar com a Tally Glutton. Como está ela?
Consternada e sob o efeito do choque, como seria de prever, mas a recuperar. Miss Godby está com ela.
A fazer chá, sem dúvida. O remédio inglês para toda e qualquer calamidade. Nós, como pode ver, optámos por algo mais forte. Não vou oferecer-lhe uma bebida, comandante, porque conheço as formalidades. Suponho que não restam dúvidas de que o corpo no carro é o do meu irmão?
Terá de proceder-se a uma identificação formal, é claro retorquiu Dalgliesh, e, se necessário, a ficha dentária e o teste de ADN prová-lo-ão, mas, infelizmente, não creio que haja lugar para dúvidas. Fez uma pausa e, em seguida, perguntou: Há alguns parentes ou familiares mais próximos para além da senhora e de Mister Marcus Dupayne?
Foi Marcus quem respondeu, num tom de voz tão controlado como se estivesse a falar com a sua secretária.
Há uma filha solteira, a Sarah. Vive em Kilburn. Não conheço a morada exacta, mas a minha mulher sabe-a, porque a tem na lista de pessoas a quem envia cartões de boas-festas. Antes de aqui chegar, telefonei para a minha mulher e ela já vai no seu carro a caminho de Kilburn para lhe dar a notícia. Estou à espera de que me telefone, assim que tiver tido oportunidade de falar com a Sarah.
Vou precisar do nome completo e da morada de Miss Dupayne fez notar Dalgliesh. Como é evidente, não vamos incomodá-la esta noite. Espero que a sua esposa possa ajudá-la e dar-lhe o apoio necessário.
Embora pelo rosto de Marcus Dupayne tivesse passado uma espécie de esgar ao franzir as sobrancelhas, replicou sem se alterar:
Nunca mantivemos uma grande intimidade, mas, como é natural, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Penso que a minha mulher se oferecerá para ficar com ela esta noite, se a Sarah assim o desejar. E, é claro, poderá ir para nossa casa, se o preferir. De qualquer forma, eu e a minha irmã iremos vê-la, amanhã de manhã.
Caroline Dupayne mudou de posição na poltrona, com impaciência, e acrescentou bruscamente:
Não há grande coisa para lhe contar, pois não? Nós próprios não temos a certeza de nada. O que ela vai querer saber é como morreu o pai. E é isso que estamos à espera que nos digam.
O olhar rápido que Marcus Dupayne lançou à irmã podia conter uma advertência.
Suponho que seja cedo de mais para respostas definitivas disse, mas podem adiantar-nos alguma informação? Por exemplo, como deflagrou o incêndio, se é que não resultou de um acidente?
O incêndio deflagrou no carro. Alguém derramou gasolina sobre a cabeça do condutor e pegou-lhe fogo. Não há qualquer hipótese de que tenha resultado de um acidente.
Fez-se um silêncio que durou cerca de quinze segundos e, depois, Caroline Dupayne voltou a falar:
Portanto, podemos estar seguros de uma coisa: segundo afirmam, o fogo só pode ter sido ateado deliberadamente.
Exacto. Estamos a tratar do caso como sendo uma morte suspeita.
Novo silêncio. Assassínio, essa palavra grave e inflexível, parecia ecoar no ar, embora ninguém a tivesse proferido. A pergunta seguinte tinha de ser feita, embora fosse pelo menos indesejável e, na pior das hipóteses, dolorosa. Outros investigadores teriam julgado mais conveniente adiar o interrogatório para o dia seguinte, mas não era esse o modo de agir de Dalgliesh. As primeiras horas que se seguiam a uma morte suspeita eram cruciais. Apesar disso, a frase que pronunciara antes «Sentem-se capazes de responder, agora, às perguntas que devo fazer?» não havia sido um mero formalismo. Naquela fase e esse facto parecia-lhe interessante eram os Dupayne que podiam controlar o interrogatório. Assim pensando, anunciou:
Vou fazer-vos uma pergunta que não é fácil de formular e a que tão-pouco é fácil responder. Havia algo na vida do vosso irmão que pudesse levá-lo a desejar pôr-lhe termo?
Os Dupayne estavam decerto preparados para aquela pergunta; afinal, haviam ficado a sós durante uma hora. No entanto, a sua reacção surpreendeu Dalgliesh. Houve um novo silêncio, um pouco longo de mais para ser de todo natural, e Dalgliesh teve a sensação de uma controlada cautela por parte dos dois Dupayne, os quais não olhavam um para o outro. Suspeitava de que não só haviam combinado o que tinham a dizer, mas ainda quem devia falar primeiro. Foi Marcus.
O meu irmão não era homem que compartilhasse os seus problemas, muito menos com membros da família. Contudo, nunca me deu qualquer motivo para recear que fosse ou pudesse vir a tornar-se um suicida. Se me tivesse feito essa pergunta há uma semana, teria afirmado peremptoriamente que tal sugestão era absurda. Agora, no entanto, já não estou tão seguro disso. Quando, na quarta-feira, nos encontrámos pela última vez na reunião de fiduciários, pareceu-me mais nervoso do que habitualmente. Estava preocupado com o futuro do museu, como, aliás, todos nós. Não estava convencido de que possuíamos todos os meios necessários para mante-lo em funcionamento, e a sua intuição inclinava-se fortemente no sentido do encerramento. Não se mostrou disposto a ouvir quaisquer argumentos ou a tomar parte na discussão de forma racional. Durante a reunião, recebeu um telefonema do hospital a informar que a mulher de um dos seus pacientes se tinha suicidado. Como é óbvio, ficou muito abalado com essa notícia e, pouco depois, abandonou a reunião. Nunca o vira em tal estado. Não estou a sugerir que ele pensasse em pôr termo à vida; essa ideia continua a parecer-me absurda. Quero apenas referir que se encontrava sob um stresse considerável e podia ter preocupações das quais nada sabemos.
Dalgliesh voltou a olhar para Caroline Dupayne, a qual acrescentou:
Não o vira nas últimas semanas anteriores à reunião dos fiduciários. Na verdade, pareceu-me então distraído e preocupado, mas não creio que fosse por causa do museu. Não lhe dedicava qualquer interesse, nem eu e o meu irmão esperávamos outra coisa da sua parte. Foi a primeira reunião que tivemos e limitámo-nos a discutir preliminares. O documento que institui o fideicomisso é inequívoco mas complicado, e há muitos pormenores que têm de ser resolvidos. Não tenho dúvidas de que o Neville acabaria por deixar-se convencer. Possuía a sua quota-parte do orgulho da família. Se estava debaixo de um grande stresse... e acredito que sim... a causa tem de ser procurada no seu trabalho. Preocupava-se profundamente com a sua actividade e há anos que trabalhava em excesso. Não conheço grande coisa sobre a sua vida, mas isso sei. Ambos o sabíamos.
Antes que Marcus pudesse retomar a palavra, Caroline apressou-se a acrescentar:
Não podemos continuar com este assunto em outra altura? Estamos ambos sob o efeito do choque, cansados e incapazes de ordenar convenientemente as ideias. Só permanecemos aqui porque queríamos assistir à remoção do corpo do Neville, mas parece-me que isso não vai acontecer esta noite.
Proceder-se-á à remoção do corpo amanhã de manhã, tão cedo quanto possível. Receio que seja impossível fazê-lo durante a noite.
Caroline Dupayne pareceu esquecer-se do seu desejo de ver terminado o interrogatório.
Se porventura estamos perante um homicídio disse em tom impaciente, então, já têm um suspeito principal. A Tally Glutton deve ter-lhe falado do condutor que saiu do museu, a tal velocidade que a atropelou. Encontrar esse homem é, com certeza, mais urgente do que interrogar-nos.
Temos de encontrá-lo, se tal for possível declarou Dalgliesh. Mistress Glutton revelou-nos que, segundo julga, já o vira anteriormente, embora não se lembre onde e quando. Penso que vos terá contado o que conseguiu ver do aspecto desse indivíduo, durante o seu breve encontro. Era um homem alto, louro, bem-parecido e com uma voz particularmente agradável. Conduzia um grande carro preto. Esta curta descrição traz-vos alguém à memória?
Pode aplicar-se a várias centenas de milhares de homens que vivem na Grã-Bretanha comentou Caroline. Está realmente à espera que possamos identificá-lo?
Dalgliesh conseguiu manter o domínio sobre si próprio.
Admiti a possibilidade de que pudessem conhecer alguém... um amigo ou algum visitante habitual do museu... que vos tivesse vindo à memória quando ouviram a descrição de Mistress Glutton.
Caroline Dupayne não se dignou responder. Foi o irmão que interveio, dizendo:
Perdoe à minha irmã o facto de não poder ser-vos de grande ajuda. Tanto eu como ela pretendemos colaborar convosco; é esse o nosso desejo e o nosso dever. O nosso irmão teve uma morte horrível e ambos queremos que o seu assassino... se é que há um... preste contas à justiça. Talvez pudéssemos deixar a continuação do interrogatório para amanhã. Durante esse intervalo, vou procurar lembrar-me de alguém que se pareça com o misterioso condutor, muito embora esteja convencido de que não conseguirei fornecer-vos qualquer pista. Podia tratar-se de um visitante habitual do museu, mas ninguém de que me recorde. Não será mais plausível que tenha estacionado o carro ilegalmente nesta propriedade, e se tenha assustado quando viu o incêndio?
E uma explicação perfeitamente admissível concordou Dalgliesh. Claro que podemos continuar a nossa conversa amanhã, mas há uma coisa que desejava ver esclarecida desde já. Quando foi que viram o vosso irmão pela última vez?
Os dois irmãos entreolharam-se e foi Marcus que replicou:
Vi-o esta noite. Queria falar do futuro do museu com ele. A reunião de quarta-feira foi insatisfatória e inconclusiva.
Pensei que seria conveniente discutirmos o caso tranquilamente. Sabia que ele viria buscar o carro às seis horas, como invariavelmente fazia às sextas-feiras, para se servir dele nas suas viagens de fim-de-semana, e cheguei ao seu apartamento por volta das cinco horas. Fica em Kensington High Street e estacionar naquele local é praticamente impossível. Por isso, deixei o carro em Holland Park e atravessei o jardim. Depressa me apercebi de que não era a melhor altura para o visitar. O Neville continuava aborrecido e enervado, sem a menor disposição para falar acerca do museu. Compreendi que de nada adiantava permanecer ali e despedi-me dele dez minutos mais tarde. Precisava de caminhar para afastar a minha frustração do espírito, mas receava que o parque encerrasse à noite. Por isso, regressei ao local em que deixara o carro, por Kensington Church Street e Holland Park Avenne. Nesta última, o trânsito era intenso, o que não admira ao fim da tarde de uma sexta-feira... Quando a Tally Glutton telefonou para minha casa, a minha mulher não conseguiu entrar em contacto comigo através do telemóvel. Por isso, só soube da notícia quando cheguei a casa, o que aconteceu cerca de dez minutos depois da chamada da Tally. Vim imediatamente para cá. A minha irmã já tinha chegado.
Portanto, tanto quanto sabemos, o senhor foi a última pessoa que viu o seu irmão vivo. Quando saiu do apartamento dele, sentiu que poderia estar terrivelmente deprimido?
Não. Se isso tivesse acontecido, não o deixaria sozinho. Dalgliesh voltou-se para Caroline Dupayne.
Á última vez que vi o Neville foi na reunião de fiduciários, na quarta-feira adiantou ela. Não voltei a entrar em contacto com ele desde então, fosse para falar do futuro do museu ou de qualquer outro assunto. Sinceramente, não acreditava que isso servisse para alguma coisa. Achei que se comportara de forma estranha na reunião e que o melhor seria deixá-lo em paz durante algum tempo. Julgo que quer saber o que fiz esta tarde. Saí do museu, pouco depois das quatro horas, e, no meu carro, dirigi-me à Oxford Street. Às sextas-feiras, costumo ir ao Marks & Spencer e à secção de alimentação do Selfridges para comprar comida para o fim-de-semana quer o passe no meu apartamento em Swathling’s ou no apartamento de que disponho aqui no museu. Não foi fácil conseguir um lugar para o carro, mas tive a sorte de encontrar um na zona dos parquímetros. Desligo sempre o telemóvel quando vou às compras e não voltei a ligá-lo até regressar ao carro. Creio que já devia passar das seis horas, porque perdi o início do noticiário na rádio. A Tally telefonou-me, cerca de meia hora mais tarde, quando ainda me encontrava em Knightsbridge. Vim para aqui logo a seguir.
Era tempo de dar por terminada a entrevista. Dalgliesh não tinha qualquer dificuldade em lidar com o antagonismo mal dissimulado de Caroline Dupayne, mas podia ver que tanto ela como o irmão estavam cansados. Marcus, então, parecia exausto. Só os reteve por mais alguns minutos. Ambos confirmaram saber que Neville ia buscar o seu Jaguar às seis horas, todas as sextas-feiras, mas não faziam ideia do local onde se dirigia e nunca lho haviam perguntado. Caroline fez questão de acentuar que uma tal pergunta seria despropositada. Se não esperava que o irmão quisesse saber o que ela fazia no fim-de-semana, porque iria interrogá-lo sobre como passava ele o seu? Se tinha uma outra vida, tanto melhor para ele. Admitiu prontamente que sabia haver uma lata de gasolina na barraca, uma vez que se encontrava no museu quando Miss Godby pagara a sua compra a Mrs. Faraday. Marcus Dupayne, por seu lado, declarou que, até pouco tempo antes, raramente ia ao museu. No entanto, dado saber que tinham um cortador de relva, presumira que devia haver gasolina de reserva, guardada em algum local. Ambos foram peremptórios quando afirmaram não conhecer alguém que quisesse fazer mal ao irmão e aceitaram, sem colocar qualquer objecção, que as instalações do museu e, logo, o próprio edifício deviam ser vedadas ao acesso do público enquanto a polícia continuasse a fazer investigações no local. Marcus adiantou que, em qualquer caso, já haviam decidido encerrar o museu durante uma semana ou até o corpo de Neville ser cremado, em cerimónia privada.
Os dois irmãos acompanharam Dalgliesh e Piers até à porta de entrada, com o mesmo formalismo que teriam observado se eles fossem seus convidados. Os polícias regressaram à escuridão da noite. No lado oriental da casa, Dalgliesh pôde ver o brilho dos arcos voltaicos, com dois polícias a guardar o local do crime por trás de fitas que barravam o acesso à garagem. Não havia sinal de Kate nem de Benton-Smith; provavelmente, já estariam no parque de estacionamento. O vento amainara, mas, quando Dalgliesh se quedou em silêncio durante alguns momentos, pôde ouvir um suave sussurro, como se o último suspiro do vento ainda fizesse balouçar os arbustos e agitasse, ao de leve, as poucas folhas das árvores mais novas. O céu nocturno era como um quadro pintado por uma criança, uma irregular e fina camada de tinta cor de anil sobre a qual as nuvens apareciam como borrões encardidos. Perguntou a si próprio como estaria o céu em Cambridge. Emma já devia ter chegado a casa. Estaria à janela, a contemplar Trinity Great Court ou, como ele teria feito, andaria a percorrer o pátio, mergulhada num torvelinho de indecisões? Ou, pior ainda, aquela viagem de uma hora até Cambridge servira para convencê-la de que já bastava, que não tentaria voltar a vê-lo? Obrigando a mente a concentrar-se no caso que tinha entre mãos, comentou:
A Caroline Dupayne está desejosa de manter em aberto a hipótese de um suicídio e o irmão também, embora com alguma relutância. Se nos colocarmos no lugar deles, a sua atitude é compreensível. No entanto, por que razão iria o Neville Dupayne suicidar-se? Queria que o museu fosse encerrado e, agora que está morto, os outros fiduciários podem ter a certeza de que vai manter-se aberto.
De súbito, sentiu a necessidade de ficar só.
Quero dar uma última vista de olhos ao local do crime. A Kate leva-o de volta, não é assim? Diga-lhe, a ela e ao Benton-Smith, que nos reuniremos no meu gabinete dentro de uma hora.
Eram onze e vinte quando Dalgliesh e os membros da sua equipa se reuniram no gabinete do comandante para passar em revista os progressos da investigação. Sentado numa das cadeiras da oblonga mesa de conferências em frente da janela, Piers sentiu-se grato por AD não haver escolhido o seu próprio gabinete para aquela reunião. Como de costume, encontrava-se num estado de desarrumação semiorganizada; se, invariavelmente, ele conseguia deitar a mão ao processo de que precisava, quem visse o seu gabinete dificilmente acreditaria que tal proeza fosse possível. Sabia que AD não faria comentários; o chefe era muito metódico e organizado, mas aos seus subordinados apenas exigia integridade, dedicação e eficiência. Se eram capazes de alcançar esses objectivos no meio da barafunda, não via razão para interferir. Apesar disso, Piers sentia-se satisfeito por os olhos escuros e inquisidores de Benton-Smith não estarem a vaguear por sobre os papéis acumulados na sua secretária. Em contraste com aquela desordem, mantinha o seu apartamento na cidade quase obsessivamente bem arrumado, como se fosse um meio adicional de estabelecer a separação entre a sua vida profissional e a privada.
Iam beber descafeinados. Kate, como ele sabia, não podia ingerir cafeína depois das sete horas sem se arriscar a uma noite em branco e afigurara-se uma pura perda de tempo sem sentido preparar duas cafeteiras. A secretária particular de Dalgliesh saíra há muito, e fora Benton-Smith que se encarregara do café. Piers esperara por ele sem entusiasmo; café descafeinado sempre lhe parecera uma designação contraditória, mas, pelo menos, a obrigação de o preparar e de mais tarde lavar as chávenas servia para colocar Benton-Smith no seu lugar próprio. Perguntou a si mesmo porque achava o homem tão irritante. Antipatia pareceu-lhe uma palavra demasiado forte. Não que se ressentisse pela espectacular boa aparência de Benton-Smith, reforçada por um salutar amor-próprio. Nunca se importara pelo facto de um colega ser mais atraente do que ele próprio; só ficaria aborrecido se fosse mais inteligente ou alcançasse maior êxito. Um tanto surpreendido por esta conclusão, pensou: É porque, tal como eu, é ambicioso e porque a sua ambição é idêntica à minha. Superficialmente, não poderíamos ser mais diferentes, mas a verdade é que eu não gosto dele por ser tão parecido comigo.
Dalgliesh e Kate sentaram-se em silêncio. O olhar de Piers, até então fixado no panorama de luzes que se estendia por baixo da janela do quinto andar, deambulou pelo gabinete. Embora lhe fosse familiar, sentiu a desconcertante impressão de que o via pela primeira vez. Divertiu-se mentalmente a avaliar o carácter do ocupante do gabinete pelas poucas pistas que fornecia. Aos olhos de qualquer estranho, era essencialmente o gabinete de um alto funcionário, equipado de acordo com os regulamentos estabelecidos a propósito do mobiliário considerado apropriado para um comandante. Ao contrário de outros colegas seus, AD não sentira a necessidade de decorar as paredes com louvores emoldurados, com fotografias ou com as placas de polícias estrangeiras. Nem sequer havia qualquer retrato sobre a secretária; aliás, Piers ficaria surpreendido se visse tal prova da vida privada do chefe. Havia apenas duas características menos comuns. Uma das paredes estava inteiramente revestida por estantes, mas isso, como Piers sabia, não era revelador de um gosto pessoal. Nas estantes, fora colocada apenas uma biblioteca puramente profissional; decretos do Parlamento, relatórios oficiais e governamentais, obras de consulta, livros de história, o Archbold de processo penal, tratados de criminologia e de medicina forense, obras sobre a história da polícia e as estatísticas criminais dos últimos cinco anos. A única outra característica invulgar era constituída pelas litografia de Londres. Piers supunha que o chefe não gostava de ver as paredes totalmente nuas, mas até a escolha das litografias revelava uma certa impessoalidade. O chefe, claro, nunca iria escolher quadros a óleo; considerá-los-ia impróprios e pretensiosos. Os seus colegas, se por acaso se detivessem para contemplar as litografias, provavelmente tomá-las-iam como indicadoras de um gosto excêntrico mas inofensivo. Não podiam, ponderou Piers, ofender fosse quem fosse e só intrigariam quem tivesse uma noção do seu preço.
Benton-Smith apareceu com o café. Por vezes, naquelas sessões a altas horas da noite, Dalgliesh dirigia-se ao seu armário e trazia para a mesa copos e uma garrafa de vinho tinto. Segundo tudo indicava, isso não ia acontecer naquela noite. Tendo-se decidido por rejeitar o café, Piers aproximou de si o jarro de água e encheu um copo.
Como devemos apelidar este presumível homicida? perguntou Dalgliesh.
Era seu costume deixar que a equipa discutisse o caso antes de ele próprio intervir, mas, primeiro, tinham de arranjar um nome para a sua presa invisível e, por enquanto, desconhecida.
Foi Benton-Smith que respondeu.
E que tal Vulcano, o deus do fogo? propôs. Tinha de se adiantar aos outros, pensou Piers, antes de comentar:
Pelo menos, é uma palavra mais fácil de pronunciar do que Prometeu...
Cada um deles abrira já o respectivo bloco de apontamentos.
Muito bem. Kate, começa você? propôs Dalgliesh. Kate sorveu um gole de café, mas, aparentemente, achou a bebida demasiado quente e empurrou a chávena para o lado. Dalgliesh nem sempre dava a palavra, em primeiro lugar, ao mais antigo membro da equipa, mas fê-lo naquela noite. Kate já devia ter ponderado a melhor forma de explanar os seus argumentos.
Começámos por considerar a morte do doutor Dupayne como um homicídio e o que pudemos apurar até agora confirma essa hipótese. Está posta de parte a eventualidade de um acidente. Ele foi regado com gasolina e, fosse como fosse que isso se produziu, tratou-se de um acto deliberado. Contra a hipótese de suicídio existem vários factos: o de ele já haver colocado o cinto de segurança, o de a lâmpada à esquerda da porta ter sido removida do seu casquilho, e ainda a estranha localização da lata de gasolina e da respectiva tampa de rosca. A tampa foi encontrada a um canto, ao fundo da garagem, enquanto a lata se achava aproximadamente a dois metros da porta do carro. Não há dúvidas quanto ao momento da morte. Sabemos que o doutor Dupayne deixava o seu Jaguar no museu e ia buscá-lo todas as sextas-feiras, às seis horas. Também temos o depoimento de Tallulah Glutton, que confirma que a morte ocorreu às seis horas ou pouco tempo depois. Sendo assim, procuramos alguém que conhecia os hábitos do Dr. Dupayne, possuía a chave da garagem e sabia que havia uma lata de gasolina na barraca, cuja porta não tem fechadura. Ia acrescentar que o assassino devia conhecer também os hábitos de Mistress Glutton, designadamente que frequentava com regularidade uma aula ao fim da tarde de sexta-feira; no entanto, não sei se isso é ou não relevante. O... Vulcano pode ter procedido a diligências preliminares. Assim, poderia saber já a que horas encerrava o museu e, ainda, que Mistress Glutton estaria na vivenda depois do anoitecer. Este crime foi cometido com grande rapidez e o assassino pode ter pensado que já estaria longe antes que Mistress Glutton se tivesse apercebido do incêndio ou do cheiro a fumo. Kate fez uma pausa.
Têm alguns comentários a fazer ao que a Kate acaba de expor? perguntou Dalgliesh.
Foi Piers que decidiu avançar.
Não se tratou de um assassínio perpetrado num impulso de momento; foi cuidadosamente planeado. Não pode admitir-se a inexistência de premeditação. A primeira vista, os suspeitos são os restantes membros da família Dupayne e o pessoal do museu. Todos dispunham dos conhecimentos necessários e também de um motivo. Os Dupayne queriam manter o museu aberto ao público e, presumivelmente, era também esse o desejo da Muriel Godby e da Tallulah Glutton. A Godby perderia um bom emprego e a Glutton, o emprego e a casa em que vive.
Não se mata um homem de modo tão horrendo só para não perder o emprego contrapôs Kate. A Muriel Godby, segundo tudo indica, é uma secretária eficiente e com larga experiência; não ficaria desempregada durante muito tempo. O mesmo se aplica à Tally Glutton. Nenhuma boa governanta se vê constrangida a permanecer desempregada. Mesmo que não arranjasse colocação rapidamente, tem com certeza familiares que a sustentassem. Não me parece que qualquer uma delas possa ser incluída no rol dos suspeitos.
Antes de conhecermos mais dados, é prematuro falar do móbil do crime atalhou Dalgliesh. Nada sabemos acerca da vida privada do Neville Dupayne, das pessoas com quem trabalhava, do local aonde se dirigia quando ia buscar o seu Jaguar, todas as sextas-feiras. E temos ainda o problema do misterioso condutor que atropelou Mistress Glutton.
Se é que ele existe comentou Piers. As únicas provas da sua existência são as nódoas negras no braço de Mistress Glutton e a roda torcida da sua bicicleta. Podia muito bem ter provocado a queda, ela própria, para forjar essas provas. Não é precisa muita força para dobrar a roda duma bicicleta. Podia tê-la feito chocar contra uma parede.
Benton-Smith mantivera-se em silêncio, mas, naquele momento, comentou:
Não creio que ela esteja envolvida no homicídio. Não fiquei muito tempo na vivenda, mas pareceu-me uma testemunha honesta. Gostei dela.
Piers reclinou-se na cadeira e, lentamente, passou o dedo sobre o rebordo do copo, antes de dizer com uma calma controlada:
E que diabo tem isso a ver com o assunto? Estamos à procura de provas. Que goste ou não de uma testemunha não interessa nada.
Para mim, interessa ripostou Benton-Smith. A impressão com que se fica de uma testemunha faz parte das provas. Se isso é válido para os jurados, em julgamento, porque não há-de sê-lo para a polícia? Não consigo imaginar a Tally Glutton a perpetrar este homicídio nem qualquer outro, diga-se de passagem.
Sendo assim, suponho que para si a Muriel Godby seria a principal suspeita retorquiu Piers, em vez de qualquer um dos Dupayne, só porque ela é menos atraente do que a Caroline Dupayne e porque o Marcus deve ser posto de parte, já que nenhum alto funcionário público seria capaz de cometer um homicídio.
Não contrapôs Benton-Smith, muito calmo. Colocá-la-ia em primeiro lugar na lista dos suspeitos porque este homicídio... se é que se trata de um homicídio... foi perpetrado por alguém que é esperto, mas não tão esperto como julga ser. Essa circunstância aponta mais para a Muriel Godby do que para qualquer um dos Dupayne.
Esperto mas não tão esperto como julga ser? admirou-se Piers. Só você seria capaz de detectar semelhante fenómeno.
Kate olhou para Dalgliesh. Ele sabia até que ponto uma rivalidade salutar podia contribuir para o êxito de uma investigação; nunca quisera chefiar uma equipa de conformistas, confortavelmente habituados a elogiarem-se uns aos outros. No entanto, Piers havia ultrapassado as marcas, mas, nem mesmo assim, AD iria repreendê-lo em frente de um agente de categoria inferior.
Foi o que aconteceu. Ignorando Piers, Dalgliesh voltou-se para Benton-Smith.
O seu raciocínio é válido, sargento, mas parece-me perigoso levá-lo demasiado longe. Até o assassino mais esperto pode ter falhas de conhecimento ou de experiência. O Vulcano talvez esperasse que o automóvel explodisse e que o cadáver, a garagem e o carro ficassem completamente destruídos, em particular se não contasse que Mistress Glutton ia regressar tão cedo a casa. Um incêndio devastador teria eliminado a quase totalidade das provas. Deixemos, porém, o perfil psicológico do criminoso e concentremo-nos no que é preciso fazer.
Kate voltou-se para Dalgliesh.
Acredita na história que Mistress Glutton nos contou, comandante? O acidente, o condutor que se pôs em fuga?
Sim, acredito. Vamos difundir o habitual anúncio optimista, solicitando que entre em contacto connosco, mas, se ele não o fizer, não vai ser fácil encontrá-lo. Só dispomos da impressão momentânea de Mistress Glutton, logo a seguir ao atropelamento, mas parece-me particularmente nítida, não acham? O rosto que se inclinou sobre ela com o que descreveu como uma expressão em que se via o horror misturado com a compaixão. Parece-vos que esse retraio é aplicável ao nosso assassino, alguém que acabava de despejar gasolina sobre a sua vítima com o deliberado propósito de a queimar viva? Quereria fugir dali o mais depressa possível. Acham provável que parasse só porque atropelara uma velhota que seguia na sua bicicleta? E, mesmo que o fizesse, mostraria tanta preocupação pelo estado em que ela se encontrava?
Há, no entanto, o tal comentário que ele fez a propósito do fogo e que é idêntico ao do caso Rouse interveio Kate. Pareceu-me óbvio que essas palavras impressionaram Mistress Glutton e Miss Godby. Nenhuma delas me pareceu impulsionável ou irracional, mas pude notar que a frase lhes causou preocupação. Não estamos a lidar com um homicídio copiado de outro, a papel químico. O único factor comum aos dois casos é a existência de um homem morto dentro dum carro em chamas.
Talvez se trate de uma coincidência sugeriu Piers. Provavelmente, foi um daqueles comentários que, em circunstâncias idênticas, podia ser feito por qualquer pessoa. O homem pretendia justificar o facto de haver ignorado um incêndio. Tal como fez o Rouse.
O que deixou as duas mulheres preocupadas adiantou Dalgliesh foi o facto de pensarem que as duas mortes podiam ter algo mais em comum do que aquelas poucas palavras. Talvez tenha sido isso que, pela primeira vez, as levou a admitir que o Dupayne houvesse sido assassinado. Seja como for, vai trazer-nos complicações. Se não encontrarmos o tal condutor e conseguirmos levar um suspeito a tribunal, o depoimento de Mistress Glutton será uma bênção para a defesa. Mais alguns comentários acerca do resumo efectuado pela Kate?
Benton-Smith mantivera-se sentado, muito quieto e em silêncio. Naquele momento, porém, tomou a palavra.
Creio que poderíamos admitir a hipótese de suicídio.
Então, vá em frente. Diga-nos como exclamou Piers, irritado.
Não estou a afirmar que foi um suicídio. O que quero referir é que as provas de homicídio não são tão sólidas como estamos a considerá-las. Os Dupayne contaram-nos que a mulher dum dos seus pacientes se suicidou. Talvez devêssemos procurar saber porquê. O Neville Dupayne pode ter ficado mais perturbado por essa morte do que os seus irmãos julgaram. Virou-se para Kate e prosseguiu: Voltando aos pontos que focou, inspectora, o Neville Dupayne já apertara o cinto de segurança. Permito-me sugerir que o fez para ter a certeza de que assim ficaria impossibilitado de sair do carro. Não havia sempre o risco de que, uma vez envolto pelas chamas, mudasse de ideias, tentando sair do automóvel a correr, até se atirar sobre o relvado, para tentar apagar o fogo rolando sobre si próprio? Ele queria morrer dentro do seu Jaguar. Por outro lado, temos de considerar os locais em que foram encontrados a lata e a tampa de rosca. Por que razão iria ele colocar a lata junto do carro? Não seria mais natural que, primeiro, atirasse a tampa para longe e só depois a lata? Que lhe importava o sítio em que fossem cair?
E a lâmpada desaparecida? perguntou Piers.
Não temos quaisquer indícios para saber há quanto tempo havia desaparecido. Ainda não conseguimos interrogar o Ryan Archer. Pode ter sido ele que a retirou... ele ou qualquer outra pessoa, inclusive próprio Dupayne. Não podemos estabelecer um caso de homicídio com base numa lâmpada que desapareceu.
Não encontrámos qualquer bilhete de suicídio contrapôs Kate. Aqueles que se matam, em regra, desejam explicar porque o fazem. E que meio foi ele escolher para se suicidar! O homem era médico e, por isso, tinha acesso a drogas e a todo o tipo de medicamentos. Podia ter tomado uma dose letal no carro e assim morrer no seu Jaguar, se era isso que queria. Sendo assim, porque preferiu imolar-se pelo fogo e morrer numa horrível agonia?
Provavelmente, a morte foi quase imediata retorquiu Benton-Smith.
Piers perdeu a paciência.
Uma ova! bradou. Não foi suficientemente rápida. A sua teoria não me convence minimamente, Ben ton. Daqui a pouco vai dizer que foi o próprio Dupayne que retirou a lâmpada do suporte e colocou a lata onde a encontrámos para que o seu suicídio pudesse dar a ideia de um assassínio. Belo presente de despedida para a família, não haja dúvida. Seria um acto mais próprio de uma criança caprichosa ou de um doido varrido.
E uma possibilidade a considerar limitou-se Benton-Smith a dizer, sem alterar o tom de voz.
Oh, mas tudo é possível! retorquiu Piers, exaltado.
E possível que a Tallulah Glutton tenha cometido o crime porque mantinha uma relação amorosa com o Dupayne e ele a ia trocar pela Muriel Godby! Com franqueza, conservemos os pés bem assentes no chão!
Há um facto que podia apontar mais para um suicídio do que para um assassínio interveio Dalgliesh. Teria sido difícil a Vulcano regar a cabeça do Dupayne com gasolina, servindo-se da lata. O líquido seria despejado muito lentamente. Se o Vulcano precisava de impedir que a vítima se defendesse, mesmo por breves segundos, teria de despejar a gasolina em algo parecido com um balde. Ou, então, bater-lhe na cabeça primeiro, para o deixar inconsciente. Vamos continuar as buscas no terreno logo que amanheça, mas, mesmo que o Vulcano se tenha servido de um balde, duvido que o encontremos.
Não encontrámos nenhum balde na barraca do jardim adiantou Piers, mas o Vulcano pode tê-lo levado consigo. De qualquer modo, terá despejado a gasolina no balde dentro da garagem, e não na barraca, antes de remover a lâmpada. Depois, deve ter dado um pontapé na lata atirando-a para um canto. Queria tocar-lhe o menos possível, mesmo que usasse luvas, mas era importante para ele deixar a lata na garagem, se queria que a morte fosse atribuída a um acidente ou a um suicídio.
Kate interveio, procurando controlar a sua excitação.
Depois do crime, o Vulcano podia ter enfiado toda a sua roupa de protecção dentro do balde. Ser-lhe-ia muito fácil livrar-se dessas provas. Provavelmente, o balde era um daqueles baldes baratos, de plástico. Podia amolgá-lo e metê-lo num contentor, num caixote de lixo ou numa vala qualquer.
Por ora, tudo isso são meras conjecturas comentou Dalgliesh. Corremos o risco de começar a formular teorias antes de conhecermos os factos. Por isso, se estão de acordo, vamos distribuir as tarefas que devemos efectuar amanhã. Marquei com a Sarah Dupayne ir vê-la, às dez horas, com a Kate. Talvez possamos obter algumas pistas acerca do que o pai fazia nos fins-de-semana. Podia levar uma vida dupla e, se assim acontecia, precisamos de saber aonde ia, quem ia ver e com quem se relacionava. Até ao momento, demos por adquirido que o assassino chegou ao museu antes da vítima, tratou dos preparativos e esperou, oculto na escuridão da garagem, mas é também de admitir que o Dupayne não estivesse sozinho. Pode ter trazido o Vulcano consigo ou, por prévia combinação, ter ido até encontrar-se com ele. Piers, você e o Benton-Smith deviam ir falar com o mecânico da Garagem Duncan, um tal Stanley Cárter. Talvez o Dupayne lhe tenha feito algumas confidências. Em qualquer caso, o homem pode ter uma ideia dos quilómetros que o Dupayne percorria em cada fim-de-semana. Também precisamos de entrevistar de novo o Marcus e a Caroline Dupayne e, é claro, a Tallulah Glutton e a Muriel Godby. Depois de uma noite repousante, talvez se lembrem de qualquer coisa que ainda não nos revelaram. Há igualmente as voluntárias que prestam serviço no museu: Mistress Faraday, que trata do jardim, e Mistress Strickland, a calígrafa. Encontrei Mistress Strickland na biblioteca, quando visitei o museu no dia vinte e cinco de Outubro. E, claro, temos ainda o Ryan Archer. É estranho que esse tal major em casa de quem se diz que ele mora não haja respondido às nossas chamadas telefónicas. O Ryan deve regressar ao trabalho às dez horas de segunda-feira, mas precisamos de falar com ele antes disso. Existe uma prova que tenho a esperança de podermos testar. Mistress Glutton afirmou que, quando telefonou à Muriel Godby, pela rede fixa, a linha estava ocupada e por isso teve de ligar para o seu telemóvel. Segundo a versão da Muriel Godby, o auscultador não estava bem colocado. Seria interessante determinar se ela se encontrava em casa quando respondeu à chamada no telemóvel. Você é um perito nestas coisas, não é verdade, sargento?
Não sou um perito, mas tenho alguma experiência nesse campo. Num telemóvel, a estação de base utilizada fica registada no princípio e no fim de cada chamada, seja recebida ou emitida, incluindo as chamadas para o voice-mail. O sistema também regista a estação de base utilizada pelo interlocutor, se a rede for a mesma. Os dados são conservados durante vários meses e divulgados quando a lei o impõe. Já participei em casos em que conseguimos obter esses dados, mas nem sempre com proveito. Sobretudo nas cidades, o máximo que se consegue precisar na localização de uma chamada é uma área de uns duzentos metros ou talvez menos. O serviço está congestionado e é possível que tenhamos de esperar.
E algo que precisamos de apurar insistiu Dalgliesh. E temos de entrevistar a mulher do Marcus Dupayne. Talvez seja capaz de confirmar a alegada intenção do marido de visitar o irmão nessa tarde.
Sendo sua mulher, é o que provavelmente fará comentou Piers. Tiveram tempo de sobra para combinar uma mesma versão, mas, mesmo que ela o faça, isso não significa que tudo o mais que o Marcus contou seja verdade. Era-lhe fácil caminhar até ao lugar onde deixara o carro, ir até ao museu, matar o irmão e regressar a casa. Temos de estudar melhor os tempos de percurso, mas creio que tal hipótese é viável.
Foi nessa altura que o telemóvel de Piers tocou. Atendeu, ouviu o que lhe era dito e, depois, respondeu ao seu interlocutor:
Acho que é melhor falar com o comandante Dalgliesh, sargento.
Entregou o telemóvel a Dalgliesh que também escutou em silêncio.
Obrigado, sargento disse por fim. Houve uma morte suspeita no Museu Dupayne e o Archer pode ser uma testemunha importante. Temos de encontrá-lo. Farei com que dois dos meus colaboradores vão ver o major Arkwright logo que esteja recomposto e regresse a casa.
Devolveu o telemóvel a Piers:
Era o sargento Mason explicou, da esquadra de Paddington. Acaba de regressar do apartamento do major Arkwright, em Maida Vale, depois de ter ido visitá-lo ao Hospital St. Mary. Quando o major voltou para casa, por volta das sete horas da tarde, o Ryan Archer atacou-o com um atiçador. A vizinha do apartamento de baixo ouviu o ruído da queda do corpo no solo e chamou uma ambulância e a polícia. O major não se encontra em estado grave; tem apenas um ferimento superficial na cabeça, mas vai ficar em observação no hospital durante a noite. Entregou as chaves ao sargento Mason para que a polícia fosse verificar se as janelas estavam fechadas. O Ryan Archer fugiu depois da agressão e, até ao momento, não há notícias dele. Penso que é pouco provável que o vejamos de regresso ao trabalho na manhã de segunda-feira. Vamos emitir um mandado e deixar a busca para aqueles que dispõem do pessoal necessário.
Prioridades para amanhã prosseguiu Dalgliesh, mudando de assunto. Eu e a Kate iremos falar com a Sarah Dupayne logo de manhã e, depois, inspeccionaremos o apartamento do Neville Dupayne. Piers, após você e o Benton terem ido à garagem, marque um encontro com o major Arkwright, com quem irá falar juntamente com a Kate. Mais tarde, teremos de interrogar as voluntárias, Mistress Faraday e Mistress Strickland. Telefonei ao James Calder-Hale; recebeu a notícia do homicídio com a calma que eu já esperava dele e condescendeu em falar connosco às dez da manhã de domingo, altura em que estará no museu para tratar de assuntos particulares. Deveremos saber, por volta das nove da manhã de amanhã, a hora e o local da autópsia. Gostava que você estivesse presente, Kate, com o Benton. Quanto a si, Benton, tem de se encarregar das diligências necessárias para que Mistress Glutton possa ver o ficheiro de cadastrados. Não é de crer que reconheça algum deles, mas o retrato robô que o desenhador fizer depois, segundo a sua descrição do condutor fugitivo, pode vir a revelar-se útil. E possível que algumas destas tarefas se prolonguem por domingo e segunda-feira. Quando a notícia for divulgada, vai ter grande publicidade nos órgãos de comunicação. Felizmente, há neste momento bastantes acontecimentos importantes, o que evitará que o caso seja assunto de primeira página. Pode entrar em contacto com o Departamento de Relações Públicas, Kate? E fale também com a secção que se ocupa das instalações para que convertam um gabinete em sala de interrogatórios. Não há razão para incomodar a polícia de Hampstead, que já tem muito pouco espaço disponível. Mais algumas perguntas? Não? Então, mantenham-se em contacto comigo durante o dia de amanhã para a eventualidade de ter de alterar o programa.
Eram onze e meia. Tally, envolta no seu roupão de lã, tirou as chaves do gancho em que estavam penduradas e abriu o cadeado da janela do seu quarto. Fora Miss Caroline que havia insistido na necessidade de garantir a segurança da vivenda quando assumira a responsabilidade do museu, depois da morte do pai, mas Tally nunca gostara de dormir com a janela fechada. Abriu-a de par em par e foi banhada pelo ar frio, que trazia consigo a paz e o silêncio da noite. Sempre apreciara aquele momento que marcava o final de um dia. Sabia que era ilusória a paz que se estendia lá fora, sob os seus olhos. Na escuridão da noite, os predadores cercavam as suas vítimas, na infindável luta pela sobrevivência, e o ar ganhava vida com milhões de pequenas lutas e movimentos furtivos, inaudíveis para ela. Naquela noite, havia ainda uma outra imagem de dentes brancos reluzentes, como um esgar ameaçador, numa cabeça enegrecida. Sabia que nunca seria capaz de afastar inteiramente da mente aquela visão. Só podia diminuir a sua força obsessiva aceitando-a como uma terrível realidade com a qual teria de viver, como milhões de outras pessoas tinham de viver com os seus horrores, num mundo devastado pela guerra. Agora, porém, já não havia vestígios do cheiro a fumo e ela fez correr o olhar pelos silenciosos hectares sobre os quais se espargiam as luzes de Londres, como um cofre cheio de jóias por cima de um ermo de escuridão que não parecia ser nem céu nem terra...
Perguntou a si própria se Muriel, no pequeno quarto de hóspedes, contíguo ao seu, já estaria a dormir. Havia regressado à vivenda mais tarde do que Tally esperava e explicara que tomara um duche em casa; preferia o duche ao banho de imersão. Trouxera consigo um adicional pacote de leite, os cereais de que gostava ao pequeno-almoço e um frasco de chocolate em pó Horlicks. Aquecera o leite em dose suficiente para ambas e haviam ficado sentadas a bebê-lo enquanto viam, na televisão, o Jornal da Noite; as imagens em movimento que passavam ante os seus olhos distraídos davam-lhes, pelo menos, uma ilusão de normalidade. Logo que o noticiário acabara, haviam desejado boas noites uma à outra. Tally estava grata pela companhia de Muriel, mas, por outro lado, sentia-se contente por saber que ela se iria embora no dia seguinte. Também estava grata a Miss Caroline; ela e Mr. Marcus tinham ido à vivenda depois de o comandante Dalgliesh e a sua equipa haverem finamente partido. Fora Miss Caroline que falara por ambos.
Lamentamos profundamente tudo aquilo por que passou, Tally. Foi terrível para si. Queremos agradecer-lhe por haver demonstrado tanta coragem e agido tão prontamente. Ninguém teria feito melhor.
Para grande alívio de Tally, não lhe haviam feito perguntas nem prolongado a visita. Era estranho, pensou, que tivesse sido necessário ocorrer aquela tragédia para que ela se desse conta de que gostava de Miss Caroline. Era uma daquelas mulheres que são adoradas por uns e odiadas por outros. Consciente do poder de Miss Caroline, Tally aceitava que a simpatia que sentia por ela era um tanto repreensível; Miss Caroline podia ter tornado insuportável a sua vida no museu, mas preferira não o fazer.
A casa aconchegou-a no seu seio, como sempre o fizera. Era o lugar em que, depois de tantos anos de trabalho árduo e de sacrifícios, abrira os braços para a vida, como fizera naquele momento em que mãos fortes mas delicadas a tinham retirado dos escombros para a erguer em direcção à luz.
Contemplava sempre a escuridão sem sentir medo. Pouco depois de chegar ao Dupayne, um velho jardineiro, agora já reformado, falara-lhe com mórbido deleite de um assassínio que ocorrera na era vitoriana, naquela que era, então, uma moradia privada. Não ocultara o seu prazer na descrição do cadáver de uma jovem criada que, com a garganta cortada, fora encontrada estendida junto de um carvalho, na orla do Heath. A rapariga estava grávida e correram rumores de que um dos membros da família, o patrão ou um dos seus dois filhos, fora o responsável pela morte da criada. Havia também quem asseverasse que o seu fantasma, incapaz de encontrar paz, ainda vagueava pelo Heath, durante a noite. Nunca se mostrara a Tally, cujos medos e ansiedades revestiam formas mais tangíveis. Só por uma vez sentira um frisson, menos de medo do que de curiosidade, quando vira algo mover-se por baixo dos ramos do carvalho; duas figuras escuras que se destacaram da ainda mais escura paisagem, se juntaram e falaram uma com a outra, antes de se separarem e caminharem cada uma para seu lado. Numa dessas figuras reconhecera Mr. Calder-Hale. Não fora, aliás, a única vez que o vira caminhar, acompanhado, durante a noite. Nunca falara dessas visões nocturnas, nem a Mr. Calder-Hale nem a qualquer outra pessoa. Podia compreender o atractivo de passear no escuro e não era coisa que lhe dissesse respeito.
Depois de fechar parcialmente a janela, dirigiu-se para a cama. No entanto, teve dificuldade em adormecer. Ali deitada, às escuras, os acontecimentos do dia teimaram em perpassar pela sua mente, cada um deles mais nítido e delineado do que na realidade. Contudo, algo havia que ficava para além do alcance da memória, algo de fugidio e indizível, mas que permanecia no fundo da sua mente como uma vaga e desfocada inquietação. Talvez aquele mal-estar resultasse do sentimento de culpa por não haver feito o suficiente, por ter sido, de certo modo, parcialmente responsável pelo que acontecera. Se não tivesse ido à aula nocturna, talvez o Dr. Neville ainda estivesse vivo. Sabia que aquele sentimento de culpa era irracional e fez o possível para afastá-lo do espírito. Então, com o olhar fixo no borrão esvaído para lá da janela entreaberta, foi assaltada por uma recordação de infância, quando ficava sentada sozinha na penumbra de uma lúgubre igreja vitoriana, nos subúrbios de Leeds, a ouvir a oração das vésperas. Ia para sessenta anos que não voltara a escutar aquela prece, mas, agora, as palavras acudiam-lhe a mente tão nítidas como se estivesse a ouvi-las pela primeira vez Suplicamos-Te, Senhor, que ilumines a nossa escuridão e que, por Tua grande misericórdia, nos defendas de todos os perigos e ameaças desta noite, pelo amor do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador Sem afastar da memória a imagem daquela cabeça carbonizada, recitou a oração em voz alta e sentiu-se reconfortada.
Sarah Dupayne vivia no terceiro andar de um edifício antigo, numa incaracterística rua de casas com janelas abauladas do século xix, nos limites de Kilburn, que os agentes imobiliários locais preferiam anunciar como West Hampstead. Em frente do número dezasseis havia uma pequena área coberta de relva não aparada e de arbustos retorcidos que talvez tivesse sido elevada à dignidade de parque, mas que pouco mais era do que um pequeno oásis de verdura. A seu lado, dois prédios meio demolidos representavam agora terreno para construção, aparentemente destinado a ser ocupado por uma único edifício. Havia um grande número de cartazes com nomes de agências imobiliárias cravados nos pequenos jardins dianteiros das casas, um deles pertencente ao número dezasseis. Algumas das casas, graças às suas portas reluzentes e às frontarias de tijolo restauradas, proclamavam que a rua começara a ser colonizada pela jovem classe profissional com aspirações, mas, a despeito da sua proximidade da estação de Kilburn e dos atractivos de Hampstead, ainda conservava o ar desolado de uma rua de residências transitórias. Naquela manhã de sábado, apresentava-se invulgarmente calma e não havia sinais de vida por trás das cortinas corridas.
À direita da porta do número dezasseis, havia três campainhas. Dalgliesh premiu o botão que tinha, por cima, um cartão onde se lia DUPAYNE. O nome que se achava por baixo daquele apelido fora riscado e era, agora, indecifrável. Uma voz feminina respondeu ao toque da campainha e Dalgliesh identificou-se.
De nada me serve premir o botão para abrir a porta porque está avariado disse a voz. Desço já.
Menos de um minuto mais tarde, a porta abriu-se e puderam ver uma mulher corpulenta, de feições marcadas, testa alta salientada pelo cabelo escuro penteado para trás e preso, na nuca, por um lenço. Quando solta, a exuberância daquela cabeleira devia conferir à mulher um aspecto ordinário e aciganado, mas, naquele momento, o seu rosto pálido e sem outra maquilhagem que não fosse um traço de batom passado nos lábios parecia vulnerável. Dalgliesh calculou que ela devia andar perto do quarenta, mas os pequenos estragos causados pelo tempo eram já claramente visíveis, tal como as rugas na fronte e os pequenos vincos deixados pelos dissabores da vida nos cantos da boca larga. Usava calças pretas e uma camisola de gola redonda, sobre a qual pusera uma camisa larga, de lã púrpura. Não usava sutiã e os seus seios avantajados balouçavam quando fazia qualquer movimento.
Afastou-se para o lado, a fim de os deixar passar.
Sou a Sarah Dupayne apresentou-se. Lamento mas não há elevador. Por favor, subam.
Ao falar, exalara-se da sua boca um ténue cheiro a uísque. Enquanto subia a escada com passos firmes à frente dele, Dalgliesh pensou que talvez se houvesse enganado na estimativa da sua idade; devia ser mais nova do que julgara a princípio. A tensão das últimas doze horas desvanecera, por certo, os traços de juventude que lhe restavam. Ficou surpreendido por encontrá-la sozinha. Numa altura como aquela, seria de esperar que alguém se tivesse prontificado a fazer-lhe companhia. O apartamento a que foram conduzidos, bem iluminado, dava para o pequeno espaço verde fronteiro. Havia duas janelas e, à esquerda, uma porta aberta que, segundo tudo indicava, era a da cozinha. A sala era inquietante. Dalgliesh ficou com a impressão de que fora mobilada com algum cuidado e sem olhar a despesas, mas que, agora, os seus ocupantes haviam perdido o interesse, tendo-se mudado, senão fisicamente, pelo menos no plano emocional, para outro lugar qualquer. Nas paredes pintadas, eram visíveis marcas de sujidade, indicando que alguns quadros haviam sido retirados e, sobre a prateleira da lareira vitoriana, só se via uma pequena jarra de Doulton com dois ramalhetes de crisântemos brancos e já murchos. O sofá, que ocupava grande parte da sala, era moderno e feito de couro. A única outra peça de mobiliário de maiores dimensões era uma comprida estante que tapava uma das paredes; achava-se quase vazia, com os livros tombados uns sobre os outros.
Sarah Dupayne convidou-os a sentarem-se no sofá e foi sentar-se num pufe de couro, junto à lareira.
Querem tomar café? perguntou. Creio que ainda me resta o suficiente no frigorífico. Não podem aceitar bebidas alcoólicas, pois não? Como já devem ter notado, estive a beber, mas não muito. Devo dizer que me sinto perfeitamente apta a responder às perguntas que me forem feitas, isto se receiam que não seja capaz de fazê-lo. Importam-se que fume?
Sem esperar pela resposta, meteu a mão no bolso da camisola e tirou dele um maço de cigarros e um isqueiro. Esperaram enqunto ela acendia um cigarro e começava a inalar o fumo vigorosamente, como se considerasse a nicotina uma droga capaz de lhe salvar a vida.
Lamento ter de importuná-la com perguntas tão pouco tempo depois da morte do seu pai começou Dalgliesh, mas quando somos confrontados com um caso de morte suspeita, os primeiros dias da investigação são habitualmente os mais importantes. Precisamos de obter as informações essenciais tão depressa quanto possível.
Morte suspeita? Tem a certeza? Isso significa homicídio. A tia Caroline julga que foi um suicídio.
E deu-lhe alguma razão para pensar isso?
Não em concreto. Disse-me que os senhores estavam convencidos de que não se tratava de um acidente. Suponho que, para ela, a alternativa admissível é o suicídio. Qualquer hipótese é mais provável do que um homicídio. Quem poderia querer matar o meu pai? Ele era psiquiatra e não um traficante de droga ou qualquer coisa do género. Tanto quanto sei, não tinha inimigos.
Devia ter pelo menos um contrapôs Dalgliesh.
Se assim for, não é ninguém que eu conheça.
Ele alguma vez lhe falou de alguém que pudesse querer-lhe mal? perguntou Kate.
Querer-lhe mal? Isso é linguagem de polícia? Despejar-Ihe gasolina para cima e depois deixá-lo morrer envolto em chamas é querer-lhe mal, de certeza! E de que maneira, Deus meu! Não, não conheço ninguém que lhe quisesse mal replicou, pondo uma ênfase especial em cada uma das palavras, com pesado sarcasmo.
O relacionamento do seu pai com os irmãos era bom? continuou Kate. Davam-se bem?
Não é lá muito subtil nas suas perguntas, pois não? Não, creio que, por vezes, se odiavam mutuamente. E o que acontece em todas as famílias, ou ainda não o descobriram? Os Dupayne não são muito unidos, mas isso não é assim tão invulgar. Quero dizer: o facto de uma família não ser unida não significa que os seus membros queiram deitar fogo uns aos outros.
Qual era a posição do seu pai em relação à assinatura do novo contrato de arrendamento? inquiriu Dalgliesh.
Afirmou que não ia assiná-lo. Fui vê-lo na terça-feira, na tarde anterior àquela em que teve lugar a reunião de fiduciários. Disse-lhe que, em meu entender, devia opor-se e não assinar o contrato de arrendamento. Para ser sincera, eu queria a minha parte do dinheiro. Ele, no entanto, tinha outras razões.
Quanto esperava obter cada um dos fiduciários?
Tem de fazer essa pergunta ao meu tio. Creio que à volta de vinte e cinco mil libras. Não é uma grande fortuna, pelos padrões actuais, mas permitir-me-ia estar um ano ou dois sem trabalhar. O meu pai queria que o museu fosse encerrado por motivos mais louváveis. Achava que nos preocupávamos demasiado com o passado, uma espécie de nostalgia nacional, e que isso nos impedia de enfrentar os problemas do presente.
E os fins-de-semana em que ele ia para fora? quis saber Dalgliesh. Aqueles que o levavam a ir buscar o carro ao museu todas as sextas-feiras, às seis horas? Sabe para onde ia?
Não. Nunca mo revelou e eu nunca lho perguntei. Sei que saía de Londres nos fins-de-semana, mas não me apercebi de que isso acontecesse todas as sextas-feiras. Suponho que era essa a razão por que trabalhava até tão tarde nos outros quatro dias da semana, por forma a ficar com os sábados e os domingos livres. Talvez levasse outra vida além da que eu conhecia. Gostava que assim fosse e que isso lhe haja proporcionado alguma felicidade antes de morrer.
Mas ele nunca mencionou para onde ia ou se havia alguém com quem ia encontrar-se? insistiu Kate. Nunca falaram acerca disso?
Não falávamos um com o outro. Não quero dizer com isto que estivéssemos de relações cortadas. Era o meu pai e eu amava-o, só que não comunicávamos muito. Ele estava sempre cheio de trabalho e eu também. Vivíamos em mundos diferentes. De que iríamos falar? Quero dizer: ao fim do dia, ele provavelmente sentia-se tão cansado como eu e adormecia, exausto, em frente do televisor. De qualquer maneira, trabalhava até depois do anoitecer, a maior parte das vezes. Porque iria dar-se ao incómodo de se deslocar até Kilburn só para me contar que dia terrível tivera? No entanto, existia uma mulher na sua vida e podem tentar perguntar-lhe.
Sabe de quem se trata?
Não, mas algo me diz que vão descobrir quem é. Não é esse o vosso trabalho? Andar à caça de pessoas?
Como sabe que havia uma mulher na vida do seu pai?
Quando me mudei de Balham para aqui, perguntei-lhe se podia ficar no seu apartamento durante um fim-de-semana. Sempre se mostrara muito reservado, mas eu sabia o que se passava. Andei a bisbilhotar um pouco... como uma mulher sempre faz. Não vou contar-vos como o descobri para não vos fazer corar. De qualquer modo, não era assunto que me dissesse respeito e pensei: Tanto melhor para ele. A propósito, devo dizer que o tratava por papá. Quando fiz catorze anos, ele sugeriu que o tratasse por Neville. Deve ter pensado que era esse o meu desejo para, segundo as tendências modernas, mostrar que via nele mais um amigo do que um pai. Pois bem, enganou-se. O que eu realmente queria era chamar-lhe papá e sentar-me no seu colo. Talvez achem isso ridículo, mas uma coisa posso garantir: diga o resto da família o que disser, o papá não se suicidou. Nunca me faria isso.
Kate apercebeu-se de que Sarah Dupayne estava à beira das lágrimas. Deixara de fumar e, com mãos trémulas, atirou o cigarro, ainda meio consumido, para a lareira vazia.
Não é boa altura para ficar sozinha comentou Dalgliesh. Não tem uma pessoa amiga que possa fazer-lhe companhia?
Ninguém, tanto quanto me lembre. Não quero o tio Marcus a apresentar-me as monótonas condolências da praxe, nem a tia Caroline a olhar para mim com o seu ar sardónico, desafiando-me a mostrar alguma emoção e a ser hipócrita.
Podemos regressar noutra altura, se quiser ficar por aqui hoje propôs Dalgliesh.
Sinto-me bem. Podem continuar. De qualquer modo, creio que não ficarão por muito mais tempo. Quero dizer: não posso adiantar-vos muito mais.
Quem são os herdeiros do seu pai? Ele alguma vez falou consigo acerca do seu testamento?
Não, mas creio que sou eu a única herdeira. Quem mais poderia ser? Não tenho irmãos e a minha mãe morreu no ano passado. De qualquer forma, ela nunca iria receber nada. Divorciaram-se quando eu tinha dez anos. Foi viver para Espanha e nunca mais tornei a vê-la. Não voltou a casar-se, porque não queria perder a pensão, mas as quantias que o meu pai lhe pagava não o arruinaram. Também não acredito que tenha deixado alguma coisa ao Marcus ou à Caroline. Irei ao apartamento de Kensington esta tarde, para descobrir o nome do advogado do papá. O apartamento há-de ter algum valor, claro, até porque ele era muito criterioso em relação a tudo o que comprava. Creio que também lá devem querer ir.
Sim confirmou Dalgliesh, precisamos de dar uma vista de olhos aos documentos do seu pai. Poderíamos ir juntos. Tem a chave?
Não, ele não queria que eu andasse a entrar e a sair da sua vida. Na maior parte das vezes, quando ia vê-lo, levava comigo os meus problemas e penso que ele gostava que o avisasse
218 com antecedência das minhas visitas. Não encontraram as chaves no... no seu bolso?
Sim, encontrámos um molho de chaves, mas preferia pedir-lhe uma emprestada, se a tivesse.
Suponho que guardaram as chaves do papá para servir de prova no processo. O porteiro deixar-nos-á entrar. Vão quando quiserem. Por mim, prefiro ir sozinha. Planeio passar um ano no estrangeiro quando tudo estiver resolvido. Terei de esperar que o caso seja encerrado? Quero dizer: poderei partir depois do inquérito preliminar e do funeral?
E isso que deseja? perguntou Dalgliesh, num tom afável.
Creio que não. O papá avisar-me-ia de que não há como escapar... Para onde quer que se vá, levamos a nossa personalidade connosco. É uma frase muito batida, mas verdadeira. E agora a minha bagagem vai ser muito pesada, não acham?
Dalgliesh e Kate levantaram-se. O comandante estendeu a mão a Sarah Dupayne.
Compreendo e lamento declarou.
Kate e Dalgliesh não trocaram qualquer palavra até saírem do apartamento e se encaminharem para o carro. Kate parecia pensativa.
Está muito interessada no dinheiro, não lhe parece? É importante para ela comentou.
Suficientemente importante para a levar a cometer um patricídio? Pretendia que o museu fosse encerrado e estava segura de vir a receber as suas vinte e cinco mil libras, mais cedo ou mais tarde.
Talvez preferisse o mais cedo ao mais tarde. Sente-se culpada por algo.
Porque não amava o pai ou não o amava tanto quanto devia replicou Dalgliesh. O sentimento de culpa é inseparável da dor. No entanto, há na sua mente algo mais do que a morte do pai, por muito horrorosa que tenha sido. Temos de descobrir o que ele fazia nos fins-de-semana. O Piers e o Benton-Smith podem ter obtido algumas informações do mecânico da garagem, mas penso que o nosso maior trunfo pode ser a secretária particular do Dupayne. Pouco há na vida do patrão que uma secretária particular não saiba. Descubra quem é, Kate, por favor; temos de falar com ela ainda hoje, se possível. O Dupayne era psiquiatra no Hospital St. Oswald. É por aí que deve começar.
Kate ligou para o serviço de informações relativos a números de telefone e, depois, para o hospital. Levou algum tempo até obter comunicação com a extensão desejada. A conversa não durou mais do que um minuto e Kate quase se limitou a ouvir.
Cobrindo o microfone do telemóvel com a mão, disse a Dalgliesh:
A secretária particular do doutor Dupayne é uma tal Mistress Angela Faraday. Trabalha nas manhãs de sábado, mas o consultório fecha à uma e um quarto. Vai ficar a trabalhar sozinha no seu gabinete até às duas. Pode falar com o senhor nessa altura. Segundo parece, não vai almoçar fora. Limita-se a comer algumas sanduíches no próprio gabinete.
Agradeça-lhe, Kate, e diga-lhe que lá estarei à uma e meia.
Combinado o encontro, Kate desligou.
E uma coincidência curiosa que tenha o mesmo apelido da voluntária que trata do jardim do museu comentou ela. Isto, se realmente for uma coincidência... Faraday não é um apelido comum.
Se não for uma coincidência e se houver qualquer relação entre as duas observou Dalgliesh, esse facto abre um bom número de possibilidades interessantes. Antes disso, porém, vamos ver o que o apartamento de Kensington tem para nos revelar.
Passada meia hora, estacionavam à porta do prédio. As campainhas ao lado da porta indicavam os números dos apartamentos, mas não ostentavam nomes, com excepção do apartamento número treze, em que havia a menção PORTEIRO. Meio minuto depois de Kate premir o botão, o homem apareceu, ainda a vestir o casaco do uniforme. De compleição robusta, tinha olhos tristes e um volumoso bigode que levou Kate a lembrar-se de uma morsa. Deu um apelido extenso, intrincado e que parecia ser polaco. Embora taciturno, não se mostrou descortês e respondeu devagar mas sem evasivas às perguntas que lhe fizeram. Era indubitável que já sabia da morte de Neville Dupayne, mas não lhe fez qualquer referência... e Dalgliesh também não. Para Kate, aquela reticência comum emprestou à conversa dos dois homens um tom de cetto modo surrealista. Em resposta às perguntas que lhe foram feitas, o porteiro afirmou que o Dr. Dupayne era um cavalheiro muito reservado. Raramente o via e não conseguia lembrar-se sequer da última vez que falara com ele. Se recebia visitas, nunca as vira. No seu gabinete, guardava duas chaves de cada um dos apartamentos e, sem objecção, entregou-lhes as do número onze, limitando-se a pedir um recibo.
O exame a que procederam, todavia, revelou-se pouco proveitoso. O apartamento, que dava para Kensington High Street, tinha a imaculada e impessoal aparência de um andar modelo destinado à observação de potenciais compradores. No ar pairava um certo cheiro a bafio; mesmo àquela considerável altura do solo, Dupayne tivera o cuidado de fechar todas as janelas antes de partir para o fim-de-semana. Procedendo a um exame preliminar da sala de estar e dos dois quartos de dormir, Dalgliesh pensou que nunca havia visto a casa da vítima de um crime que, de forma mais patente, fosse tão pouco reveladora da vida privada de quem nela vivera. As janelas tinham persianas com ripas de madeira como se o proprietário do apartamento tivesse receado que até mesmo a escolha de cortinas lhe fizesse correr o risco de trair o seu gosto pessoal. Não havia quadros nas paredes pintadas de branco. A estante continha uma dúzia de livros de medicina, mas, além deles, as leituras de Dupayne haviam-se confinado a biografias, autobiografias e compêndios de história. O seu entretenimento preferido, durante as horas de lazer, aparentemente consistia em ouvir música. A aparelhagem era moderna e os CDs, guardados num pequeno armário, revelavam a sua preferência pela música clássica e pelo jazz de Nova Orleães.
Dalgliesh confiou a Kate o encargo de examinar os quartos de dormir e sentou-se à secretária que fora de Neville. Como já esperava, todos os documentos achavam-se meticulosamente arquivados. Verificou que as despesas correntes eram pagas por transferência bancária, o método mais fácil e apropriado para evitar problemas. A conta da garagem era-lhe enviada trimestralmente e liquidada poucos dias depois. A sua carteira de acções revelava que investira, com prudência, um capital de pouco mais de duzentas mil libras. Os extractos bancários, guardados numa pasta de couro, mostravam que não efectuara grandes pagamentos nem levantara somas significativas. Fazia regularmente generosos donativos a obras de caridade, sobretudo às relacionadas com doenças mentais. Os únicos movimentos de interesse eram os provenientes da utilização do cartão de crédito, entre os quais se destacavam pagamentos, todas as semanas, de uma conta de hotel ou de estalagem. As localidades eram diferentes, mas as quantias nunca muito elevadas. Seria perfeitamente possível apurar se as diárias se referiam à permanência de uma ou de duas pessoas, mas Dalgliesh decidiu aguardar. Era ainda possível que a verdade fosse descoberta através de outros meios. Kate regressou da visita aos quartos.
A cama do quarto de hóspedes está feita referiu ela, mas não há indícios de que alguém se tenha deitado nela recentemente. Creio que a Sarah Dupayne tinha razão. Ele trazia uma mulher para o apartamento, porque encontrei na gaveta do fundo, dobrado, um roupão de banho em linho, três cuecas, lavadas mas não passadas a ferro, um desodorizante do género usado sobretudo por mulheres e também um copo com uma escova de dentes extra.
Podiam ser da filha comentou Dalgliesh.
Kate havia trabalhado com ele durante tempo mais do que suficiente para se envergonhar facilmente, mas, naquele momento, corou e a sua voz revelou o seu embaraço.
Não creio que as cuecas sejam da filha. Por que razão há cuecas, mas não uma camisa de dormir ou um par de chinelos de quarto? Em meu entender, se uma amante vinha até aqui e queria ser despida por ele, provavelmente traria cuecas limpas consigo. O roupão que encontrei na gaveta é pequeno de mais para um homem e, além disso, o dele encontra-se pendurado na porta da casa de banho.
Se a amante passava os fins-de-semana com ele comentou Dalgliesh, pergunto a mim próprio onde se encontravam, se ele ia buscá-la ou se era ela que ia até ao museu e ficava à espera do Neville Dupayne... Esta última hipótese parece pouco provável. Correria o risco de que alguém que trabalhasse até mais tarde a visse. Neste momento, só podemos fazer conjecturas. Vamos ver o que a secretária dele tem para nos dizer. Vou deixá-la no museu, Kate, porque quero falar com a Angela Faraday sozinho.
Piers sabia porque Dalgliesh o escolhera a ele e a Benton-Smith para interrogar Stan Carter na garagem. Para Dalgliesh, os automóveis eram veículos destinados apenas a transportá-lo de um lugar para o outro. Exigia que fossem seguros, rápidos, confortáveis e agradáveis à vista. O seu actual Jaguar preenchia esses requisitos. Para além disso, não via qualquer razão para discorrer acerca dos seus méritos nem para cogitar sobre os novos modelos que merecessem ser submetidos a um teste de condução. Falar acerca de automóveis era coisa que o aborrecia. Piers, que raramente guiava na cidade e gostava de ir a pé desde o seu apartamento na City até à Scotland Yard, compartilhava da atitude do chefe, embora a combinasse com um grande interesse pelos novos modelos e pelo seu desempenho em marcha. Se uma conversa sobre carros podia levar Stan Carter a mostrar-se mais comunicativo, Piers era a pessoa indicada para mantê-la.
A Garagem Duncan ficava situada na esquina de uma estrada secundária, onde Highgate convergia com Islington. Uma grande parede, feita com os característicos tijolos cinzentos de Londres, e manchada nas zonas em que se tentara, em vão, fazer desaparecer os grafitos, era interrompida por um amplo portão provido de um cadeado. Os dois lados do portão, porém, estavam abertos naquele momento. No interior à direita, havia um pequeno escritório. Uma jovem de cabelo louro ostensivamente pintado e apanhado, ao alto, por uma grande pinça de plástico, de tal forma que mais parecia formar uma crista encontrava-se sentada em frente dum computador, enquanto um homem com um blusão preto de couro estava inclinado sobre ela e examinava o monitor. Endireitou-se, quando Piers bateu à porta, e foi abri-la.
Depois de abrir a carteira e se identificar, Piers anunciou:
Polícia. O senhor é o gerente?
Foi o que me disse o patrão.
Queremos falar com Mister Stanley Cárter. Ele encontra-se aqui?
Sem se incomodar a olhar para o cartão que Piers exibira, o homem indicou com a cabeça o fundo da garagem.
Lá atrás. Está a trabalhar.
Também nós contrapôs Piers. Não vamos roubar-lhe muito tempo.
O gerente retomou o exame do monitor e fechou a porta do escritório. Piers e Benton-Smith passaram por entre um BMW e um Volkswagen Golf, presumivelmente propriedade do pessoal, já que ambos eram de modelo recente. Por trás dos automóveis, a oficina adquiria maiores proporções, com paredes de tijolo pintadas de branco e um tecto alto. Ao fundo, havia uma plataforma de madeira edificada para servir como primeiro andar e à qual dava acesso uma escada tosca, situada na parte mais à direita. A frente da plataforma fora decorada com uma fileira de reluzentes radiadores como se fossem trofeus capturados numa batalha. A parede da esquerda encontrava-se revestida por estantes de aço e, um pouco por toda a parte, viam-se as ferramentas e utensílios próprios daquele tipo de actividade; alguns pendiam de ganchos e exibiam etiquetas, mas, na sua maioria, estavam amontoados numa espécie de caos organizado. A Piers, tal aspecto era familiar e não diferia do de similares lugares de trabalho que havia visitado, com peças acumuladas, à espera que lhes fosse dada alguma utilidade; Cárter, por certo, sabia onde descobrir tudo aquilo de que precisava. Alinhados no chão, viam-se cilindros de gás oxiacetilénico, latas de tinta e de dissolvente, bidões de gasolina amolgados e uma prensa, enquanto, pendurados por cima das prateleiras, havia chaves-inglesas, cabos para ligar baterias entre si, correias de ventoinhas, máscaras de soldador e filas de pistolas de pintura. A garagem era iluminada por dois longos tubos fluorescentes e no ar frio pairava um cheiro forte a tinta e outro, mais atenuado, a óleo. O local encontrava-se deserto e o único som que se ouvia era o de um leve martelar por baixo de um Alvis cinzento de 1940, colocado sobre a rampa. Piers agachou-se e chamou:
Mister Cárter?
O martelar cessou. Duas pernas deslizaram por baixo do veículo, logo seguidas por um corpo vestido com um fato-macaco sujo e uma camisola grossa de gola alta. Stan Carter pôs-se de pé, tirou um trapo do bolso do peito e limpou as mãos lentamente, detendo-se em cada dedo, enquanto fitava os dois agentes com semblante tranquilo. Satisfeito com a redistribuição do óleo pelos seus dedos, apertou a mão com energia, primeiro a Piers e, depois, a Benton-Smith e, em seguida, esfregou as palmas das mãos nas calças como para lhes retirar quaisquer rastos de contaminação. Estavam perante um homem baixo e magro já a ficar careca e com uma curtíssima franja grisalha, aparada em linha recta sobre a testa alta. Tinha um nariz comprido e afilado e a palidez das faces era típica de alguém cuja vida de trabalho se processava num recinto coberto. Podia passar por um monge, mas não havia nada de contemplativo naqueles olhos perscrutadores e penetrantes. Apesar da pouca altura, mantinha o corpo muito direito.
Piers pensou que devia tratar-se de um antigo soldado. Feitas as apresentações, informou:
Estamos aqui para lhe fazer algumas perguntas acerca do doutor Neville Dupayne. Sabe que ele morreu?
Sei. Deduzo que foi assassinado, porque, se assim não fosse, não estariam aqui.
Tomámos conhecimento de que era o senhor que tratava da manutenção do seu Jaguar E-type. Pode dizer-nos há quanto tempo o fazia e em que consistia o seu trabalho?
Vai fazer doze anos em Abril. Ele conduzia o carro e eu via se estava tudo em ordem. Sempre a mesma rotina. Ia buscá-lo à garagem do museu todas as sextas-feiras, às seis da tarde, e regressava aos domingos à noite, ou às segundas-feiras pelas sete e meia da manhã.
E deixava-o aqui?
Tanto quanto sei, em regra, levava-o directamente para a garagem do museu. Quase todas as semanas, eu ia até lá, à segunda ou à terça-feira, para trazer o Jaguar para aqui e proceder à sua revisão. Lavava-o, polia-o, via o nível do óleo e da água, enchia o depósito de gasolina e fazia o mais que fosse necessário. Ele gostava que o carro estivesse sempre limpo e impecável.
Que acontecia quando era ele que trazia o carro directamente para aqui?
Nada de especial. Deixava-o para a revisão. Sabia que entro de serviço às sete e meia. Por isso, quando queria dizer-me alguma coisa acerca do automóvel, vinha primeiro até cá e só depois tomava um táxi para o museu.
Quando o doutor Dupayne trazia o carro para aqui, falava do fim-de-semana, por exemplo, do local onde estivera?
Não era um homem muito falador, a não ser quando se tratava do carro. Trocávamos algumas palavras. Quando muito, falava do tempo que havia feito durante o fim-de-semana.
Quando o viu pela última vez? quis saber Benton-Smith.
Há cerca de duas semanas, numa segunda-feira. Veio cá trazer o carro pouco depois das sete e meia.
Como lhe pareceu? Deprimido?
Não mais deprimido do que qualquer outra pessoa, numa chuvosa manhã de segunda-feira.
Ele costumava conduzir depressa? voltou a perguntar Benton-Smith.
Não sei, porque não ia no carro com ele. No entanto, julgo que sim. Não se justifica ter um Jaguar E-type para andar devagar.
Gostávamos de saber até onde ia ele, nos fins-de-semana. Dar-nos-ia uma ideia do local de destino. Nunca lho disse? insistiu Benton-Smith.
Não, porque não era da minha conta para onde ele ia. Já me fizeram essa pergunta.
No entanto, deve ter tomado nota da quilometragem interveio Piers.
E provável. O carro era submetido a uma revisão total, ao fim de cinco mil quilómetros. Normalmente, não precisava de grandes reparações. Afinar o carburador demorava algum tempo, mas o carro era muito bom. Nunca deu problemas durante todo o período em que cuidei dele.
Foi um modelo lançado em mil novecentos e sessenta e um, não é verdade? comentou Piers. Creio que a Jaguar nunca conseguiu fabricar um modelo mais bonito.
No entanto, não era perfeito replicou Cárter. Alguns condutores achavam-no muito pesado e nem todos gostavam das suas linhas. O doutor Dupayne, contudo, não era desses; tinha uma autêntica paixão pelo carro. Se tivesse de deixar este mundo, creio que ficaria contente se o Jaguar fosse com ele.
Ignorando aquele surpreendente arroubo de sentimentalismo, Piers inquiriu:
E quanto à quilometragem?
Raramente abaixo dos cento e sessenta quilómetros, em cada fim-de-semana. Quase sempre entre os duzentos e quarenta e os trezentos e vinte. Por vezes, bastante mais, sobretudo quando regressava só à segunda-feira.
O doutor Dupayne viajava sozinho? perguntou Piers.
Como quer que o saiba? Nunca vi ninguém com ele.
Ora, Mister Cárter, não me diga que nunca se apercebeu de que ele viajava acompanhado replicou Benton-Smith com certa impaciência. A lavar o carro e a tratar dele todas as semanas! Mais tarde ou mais cedo, há-de ter descoberto alguma prova deixada pelo acompanhante, nem que fosse um odor diferente.
Cárter olhou fixamente para o sargento.
Que espécie de odor? A frango assado com caril e batatas? Ele guiava com a capota aberta, durante a maior parte das vezes, excepto quando chovia. E acrescentou, mal-humorado: Nunca vi ninguém nem senti qualquer cheiro fora do vulgar. Que me interessava a mim saber quem ia com ele?
E no que se refere às chaves? perguntou Piers. Se ia buscar o carro ao museu, às segundas ou terças-feiras, é porque tinha em seu poder tanto as chaves do Jaguar como as da garagem onde ele o deixava.
E verdade. Guardava-as no chaveiro do escritório.
E o chaveiro está sempre fechado?
Quase sempre, e a respectiva chave fica na gaveta da secretária. Só fica na fechadura, se a Sharon ou Mister Morgan se encontram no escritório.
Quer dizer que outras pessoas podiam apossar-se delas? inquiriu Benton-Smith.
Não vejo como. Há sempre alguém aqui e o portão é fechado com cadeado às sete horas. Se trabalho mais tarde, tenho de entrar pela porta que fica para lá da esquina, servindo-me da minha própria chave. Há uma campainha e o doutor Dupayne sabia onde podia encontrar-me. Além disso, as chaves dos carros não têm etiquetas. Sabemos a que carros pertencem, mas qualquer pessoa estranha à garagem não conseguiria identificá-las.
Voltou-se e olhou para o Alvis, dando a entender claramente que era um homem muito atarefado e já havia dito tudo quanto era necessário. Piers agradeceu-lhe e entregou-lhe um dos seus cartões, pedindo-lhe que o contactasse se, mais tarde, se lembrasse de qualquer pormenor relevante que lhe tivesse escapado.
No escritório, Bill Morgan confirmou a informação acerca das chaves de modo mais afável do que Piers esperava. Mostrou-lhes o chaveiro e, tirando a respectiva chave da gaveta da secretária, serviu-se dela para o abrir e voltar a fechar várias vezes, como se quisesse demonstrar com que facilidade era possível fazê-lo. Puderam ver a habitual fileira de ganchos; nenhum deles tinha qualquer indicação do carro a que pertencia a chave correspondente nem do seu proprietário.
De volta ao seu automóvel, que, por milagre, não fora adornado com nenhuma multa por estacionamento proibido, Benton-Smith comentou:
Não lhe sacámos grande coisa.
O mais certo é que não houvesse mais nada para lhe sacar. E a que propósito veio aquela pergunta acerca de o Dopayne poder estar deprimido? O homem não o viu nas duas últimas semanas. Seja como for, sabemos que não se trata de um suicídio. Também não precisava de ser tão duro com o mecânico a propósito de um possível acompanhante. O homem não é daqueles que se deixam perturbar com intimidações.
Não creio que tenha querido intimidá-lo retorquiu Benton-Smith friamente.
Não, mas pouco faltou. Saia daí, sargento. Sou eu que vou conduzir.
Não era aquela a primeira vez que Dalgliesh visitava St. Oswald. Podia recordar duas ocasiões anteriores em que, quando era sargento, fora até ali para interrogar as vítimas de uma tentativa de assassínio. O hospital ficava numa praça do Noroeste de Londres e, quando parou em frente dos portões de ferro abertos, verificou que, pelo menos na aparência, pouco havia mudado. O edifício do século xix, revestido com tijolos cor de ocre, era maciço; com as suas torres quadradas, grandes arcos e janelas ogivais estreitas, parecia-se mais com um estabelecimento de ensino da época vitoriana ou com um lúgubre aglomerado de igrejas do que com um hospital.
Encontrou sem dificuldade espaço para estacionar o seu Jaguar no parque destinado aos visitantes e, depois de passar sob um pórtico majestoso, entrou pelas portas que se abriram automaticamente mal se aproximou delas. Notou que, no interior, tinham sido efectuadas algumas alterações. Agora, havia um balcão de recepção, vasto e moderno, atrás do qual estavam dois funcionários, bem como, à direita, uma porta aberta que dava acesso à sala de espera, mobilada com cadeirões de couro e com uma mesa baixa, sobre a qual se viam revistas espalhadas.
Não se dirigiu à recepção, porque a experiência havia-lhe ensinado que, nos hospitais, raramente eram interceptados aqueles que entravam com passo decidido. Entre um grande número de sinais indicadores, viu um com uma seta que apontava o caminho para à Consulta Externa de Psiquiatria.
Seguiu por um corredor com o chão revestido a vinil. A decadência de que se recordava havia desaparecido; as paredes estavam pintadas de fresco e nelas alinhava-se uma sucessão de fotografias a sépia, emolduradas, que narravam a história do hospital. A ala pediátrica, em 1870, exibia camas com grades, crianças de rostos frágeis e tristes com as cabeças envoltas em ligaduras, damas vitorianas de visita, ostentando vestidos com anquinhas e enormes chapéus, e ainda enfermeiras com os seus uniformes que lhes desciam até aos tornozelos e toucas altas e pregueadas. Viam-se, também, fotografias do hospital, destruído pelas bombas dos alemães, e outras que mostravam as equipas de ténis e de futebol do St. Oswald, os dias em que o hospital era aberto ao público e as ocasionais visitas de membros da família real.
A Consulta Externa de Psiquiatria ficava na cave e Dalgliesh desceu a escada, seguindo o rumo indicado pelas setas, até chegar a uma sala de espera que naquele momento se encontrava quase deserta. Havia um outro balcão de recepção, onde se achava uma atraente rapariga de traços asiáticos, sentada em frente de um computador. Dalgliesh referiu-lhe que tinha encontro marcado com Mrs. Angela Faraday, e a rapariga, com um sorriso, apontou para uma porta ao fundo da sala e informou-o de que o gabinete de Mrs. Faraday ficava à esquerda. O comandante bateu à porta e a mesma voz que ouvira pelo telemóvel respondeu de imediato.
O gabinete era pequeno e estava a abarrotar de arquivos que mal deixavam espaço para uma secretária, uma cadeira e uma poltrona. A janela dava para um muro traseiro, feito dos mesmos tijolos cor de ocre. Por baixo dela, num estreito canteiro, uma grande hortênsia, agora sem folhas de ramos secos, exibia umas poucas flores murchas de pétalas suavemente coloridas e tão finas como se fossem feitas de papel. A seu lado, no solo arenoso, encontrava-se uma roseira há muito por podar, de folhas engelhadas e castanhas, entre as quais podia vislumbrar-se um debilitado botão cor-de-rosa.
A mulher que lhe estendeu a mão, segundo Dalgliesh calculou mentalmente, devia ter pouco mais de trinta anos. O rosto inteligente era pálido e de traços delicados, e a boca pequena mas de lábios grossos; o cabelo escuro caía-lhe em melenas que faziam lembrar plumas sobre a testa alta e as faces. Por baixo das sobrancelhas, os olhos grandes revelavam uma dor que Dalgliesh nunca vira num olhar humano. Era notório o seu esforço para manter o pequeno corpo tenso, como se tivesse de exercer grande força de vontade para evitar a convulsão provocada por uma torrente de lágrimas.
Não quer sentar-se? propôs, indicando a poltrona de espaldar alto junto da mesa.
Dalgliesh hesitou durante uns breves instantes, ao pensar que devia ser ali que Neville Dupayne costumava sentar-se; não havia, contudo, outro assento e o comandante disse para consigo mesmo que a sua instintiva relutância inicial não passava de um disparate.
A mulher deixou que fosse Dalgliesh a tomar a iniciativa da conversa.
Agradeço-lhe por ter aceitado receber-me. A morte do doutor Dupayne deve ter constituído um terrível choque para todos os que o conheciam e trabalhavam com ele. Quando soube do sucedido?
Esta manhã, pelo noticiário da rádio. Não deram quaisquer pormenores, limitando-se a informar que um homem morrera, queimado, no interior de um automóvel no Museu Dupayne. Compreendi de imediato que se tratava do Neville.
Não olhou para Dalgliesh, mas, incessantemente, fechava e abria as mãos que pousara sobre o regaço.
Diga-me, por favor pediu. Preciso de saber. Foi assassinado?
Não podemos ter uma certeza absoluta neste momento, mas creio que essa é a hipótese mais provável. Em qualquer caso, devemos considerar a sua morte como suspeita. Se vier a provar-se que se tratou de um homicídio, então teremos de conhecer o mais possível a vítima. É por isso que estou aqui. A filha dele disse-nos que a senhora trabalha com o doutor Neville há cerca de dez anos. Acaba-se sempre por conhecer bem uma pessoa com a qual se convive diariamente ao fim de dez anos. Tenho a esperança de que possa ajudar-me a conhecê-lo melhor.
Angela Faraday fitou-o fixamente, com um olhar de extraordinária intensidade. Dalgliesh sentiu-se submetido a um julgamento. Havia, contudo, algo mais: o apelo à garantia tácita de que poderia falar livremente e ser compreendida.
Dalgliesh esperou e Angela Faraday acabou por dizer simplesmente:
Amava-o. Fomos amantes durante seis anos, mas tudo acabou há três meses. Isto é, o sexo acabou, mas o amor, não. Creio que o Neville se sentiu aliviado, porque se preocupava com a constante necessidade de guardar segredo e de enganar os outros. Já lhe era bastante difícil manter as aparências sem esse acréscimo de secretismo. Foi uma preocupação a menos para ele, quando voltei para o Selwyn. Na verdade, nunca deixei o Selwyn. Julgo que uma das razões por que me casei com o Selwyn foi a de saber, no meu íntimo, que o Neville não ia querer-me para sempre.
A relação terminou por sua vontade ou por vontade dele? perguntou Dalgliesh delicadamente:
Por vontade de ambos, mas principalmente pela minha. O meu marido é um homem bondoso e afável e eu amo-o, não, talvez, como amei o Neville, mas, mesmo assim, éramos... somos felizes. Além disso, existe a mãe do Selwyn. Provavelmente, já teve ocasião de falar com ela; é voluntária no Museu Dupayne. Não é de trato fácil, mas adora o filho e tem sido bondosa para connosco; ofereceu-nos uma casa e o carro, tudo pago por ela, e fica feliz por saber que o Selwyn também o é. Comecei a compreender quanto sofrimento iria infligir a ambos. O Selwyn é uma daquelas pessoas para quem o amor é absoluto. Não será muito inteligente, mas sabe muito acerca do amor. Nunca suspeitaria nem sequer lhe passaria pela cabeça que eu pudesse enganá-lo. Apercebi-me de que a minha relação com o Neville não era uma coisa certa nem justa. Não acredito que ele sentisse o mesmo, porque não tinha uma esposa em quem pensar e não mantinha um relacionamento muito estreito com a filha. Quando o nosso caso chegou ao fim, isso não o preocupou grandemente. Sabe, sempre o amei mais do que ele a mim. A vida do Neville era tão ocupada, tão dominada pelo stresse, que talvez tenha sido um alívio para ele não ter de se preocupar mais... pela minha felicidade, pela possibilidade de que a nossa relação fosse descoberta.
E acha que isso aconteceu? Que alguém veio a aperceber-se do caso?
Não, tanto quanto sei. Os hospitais são lugares ideais para os mexericos... Suponho que isso acontece em quase todas as instituições, mas nós sempre fomos muito cautelosos. Não creio que alguém tenha descoberto e, agora, ele está morto e não há ninguém a quem eu possa falar a seu respeito. É estranho, mas sinto-me aliviada só por poder falar dele consigo. Era um homem bom, comandante, e também um excelente psiquiatra, embora não acreditasse que o era. Nunca conseguiu manter a imparcialidade, necessária à sua profissão, que lhe permitisse ter paz de espírito. Preocupava-se em demasia com o estado do Serviço de Psiquiatria. A Inglaterra, que é um dos países mais ricos do mundo, não é capaz de tratar convenientemente dos idosos, dos doentes mentais, de todos aqueles que levaram a vida inteira a trabalhar, a contribuir para o bem-estar dos outros e se vêem a braços com a pobreza e todo o tipo de adversidades. Agora que estão velhos e mentalmente perturbados e precisam de carinho e de afecto, senão mesmo da cama de um hospital, que temos para lhes oferecer? Pouco, muito pouco. Ele também se afligia com os seus pacientes esquizofrénicos, aqueles que se recusam a tomar medicamentos. Achava que devia haver asilos, lugares em que pudessem ser acolhidos até passar a crise, e onde pudessem mesmo sentir-se aliviados por saber que se encontravam em boas mãos. E havia também os casos dos pacientes que sofriam da doença de Alzheimer; alguns enfrentam problemas tremendos e ele não era capaz de se alhear do seu sofrimento.
Uma vez que estava submetido a um crónico excesso de trabalho sugeriu Dalgliesh, talvez não seja de admirar que não quisesse dedicar ao museu mais tempo do que já lhe concedia.
Não lhe dedicava tempo nenhum. Comparecia às reuniões trimestrais de fiduciários e a que, em seu entender, não podia faltar. Mantinha-se afastado de tudo o mais, deixando à irmã o encargo de gerir o museu como bem entendesse.
Não se interessava pelo museu?
Mais do que isso; detestava-o. Costumava dizer que o museu já lhe havia roubado uma parte significativa da sua vida.
Alguma vez lhe explicou o que queria dizer com isso?
Referia-se à sua infância. Não falava muito dessa época, mas sei que não foi uma criança feliz. Não havia suficiente amor naquela família. O pai consagrava toda a sua energia ao museu e também gastava muito dinheiro com ele, embora não houvesse descurado a educação dos filhos, suportando todas as despesas das escolas preparatórias, dos colégios particulares, das universidades... O Neville, por vezes, falava da mãe. Fiquei com a impressão de que era uma mulher fraca, tanto sob o ponto de vista físico como psicológico. Receava por de mais o marido para proteger os filhos.
Não havia amor suficiente, mas havê-lo-á alguma vez? E protecção contra quê? Violência, abusos, negligência?, pensou Dalgliesh.
O Neville achava que somos demasiado obcecados pelo passado através da história, das tradições, dos objectos que coleccionamos prosseguiu ela. Afirmava que atravancamos a nossa existência com vidas passadas e ideias mortas, em vez de enfrentarmos os problemas do presente. No entanto, o seu próprio passado era para ele uma obsessão constante. Não o podemos apagar, não é assim? Já lá vai, mas, apesar disso, permanece no nosso íntimo. E sempre assim, quer se trate de todo um país ou de uma só pessoa. Aconteceu, foi ele que fez de nós o que somos e temos de compreendê-lo.
O Neville Dupayne era um psiquiatra. Deve ter compreendido melhor do que ninguém como esses tentáculos, fortes e indestrutíveis, podem ganhar vida e agarrar-se à nossa mente, reflectiu Daígliesh.
Deu-se conta de que, uma vez lançada na sua confissão, Angela Faraday não conseguia parar de falar.
Não estou a explicar tudo isto da melhor maneira. Foi apenas a impressão com que fiquei. Não falávamos muitas vezes da sua infância, do seu casamento falhado nem do museu. Não tínhamos tempo para isso. Quando conseguíamos passar uma noite juntos, tudo o que ele queria era jantar, fazer amor e dormir. Não queria evocar recordações, mas apenas encontrar um alívio. Ao menos, era algo que eu podia dar-lhe... Por vezes, depois de fazermos amor, eu pensava que outra mulher poderia ter feito o mesmo por ele. Deitada a seu lado, sentia-me mais afastada dele do que na clínica, quando tomava nota do que me ditava ou falávamos das marcações da semana. Se amamos alguém, aspiramos a satisfazer todas as necessidades da pessoa amada, mas não conseguimos, não é assim? Ninguém o consegue. Só podemos dar ao outro aquilo que ele está disposto a aceitar. Desculpe, não sei porque estou a dizer-lhe isto.
E não foi sempre assim? As pessoas contam-me coisas. Não preciso de perguntar nem de investigar; contam-me tudo, pensou Dalgliesh. Tudo começara quando era ainda um jovem sargento e, ao aperceber-se de tal facto, ficara surpreendido e intrigado; aquela faculdade alimentara a sua poesia e trouxera consigo a percepção, meio envergonhada, de que para um detective se tratava de um dom que podia ser-lhe muito útil. A compaixão também estava presente; desde criança que conhecia os desgostos da vida e isso também alimentara a sua poesia. Recolhi as confissões de muitas pessoas e servi-me delas para lhes colocar algemas nos pulsos, concluiu mentalmente.
Julga que a pressão exercida pelo trabalho e as desgraças que compartilhava o terão levado a não querer continuar a viver? perguntou.
Ao ponto de se matar, de se suicidar? Nunca! A voz de Angela Faraday adquiriu um tom de grande ênfase. Nunca, nunca! De vez em quando, falávamos de suicídio. Ele opunha-se a tal acto. Não me refiro ao suicídio daqueles que são muito velhos ou se encontram em fase terminal de uma doença incurável. Todos podemos compreender esses casos. Refiro-me aos jovens. O Neville costumava dizer que o suicídio era, na maioria das vezes, um acto de agressão, que provocava um terrível sentimento de culpa nos familiares e amigos. Nunca deixaria à filha semelhante legado.
Obrigado agradeceu Dalgliesh em tom afável. Foi-me de grande ajuda. Há, no entanto, outra coisa. Sabemos que o doutor Dupayne guardava o seu Jaguar numa garagem contígua ao museu e ia ali buscá-lo todas as sextas-feiras, pouco depois das seis horas, regressando aos domingos, já bastante tarde, e por vezes até na manhã de segunda-feira. Como é óbvio, precisamos de saber aonde ia e se visitava alguém nos fins-de-semana.
Quer saber se ele levava uma outra vida secreta, para além da que mantinha comigo?
O que pretendo saber é se esses fins-de-semana têm algo a ver com a sua morte. A filha não faz ideia do local aonde ele se dirigia e parece que nunca lho perguntou.
Angela Faraday, de súbito, ergueu-se da cadeira e dirigiu-se à janela. Depois de um breve silêncio, declarou:
Não, ela não ia fazer-lhe uma pergunta dessas. Nem creio que alguém da família a fizesse ou se importasse sequer com isso. Levam vidas independentes, como os membros da família real. Perguntei a mim própria, com frequência, se a responsabilidade não era do pai. O Neville falou-me dele algumas vezes. Não sei porque quis ter filhos. A sua única paixão era o museu. Só se interessava pela aquisição de peças que pudesse exibir, gastando enormes somas para manter e enriquecer o museu. O Neville amava a filha, mas experimentava um sentimento de culpa em relação a ela; tinha medo de se ter comportado exactamente como o pai, dando à sua profissão todo o carinho e atenção que devia consagrar à Sarah. Julgo ser essa a razão que o levava a querer encerrar o museu. E talvez precisasse também do dinheiro.
Para ele próprio? quis saber Dalgliesh.
Não, para a filha respondeu Angela Faraday, que entretanto regressara à secretária.
E disse-lhe alguma vez aonde ia, nos fins-de-semana?
Não aonde ia, mas o que fazia. Os fins-de-semana constituíam para ele uma espécie de libertação. Adorava aquele carro; não era mecânico e não podia repará-lo ou assegurar a sua manutenção, mas gostava de conduzi-lo. Todas as sextas-feiras, metia-se no Jaguar, ia para o campo e dava passeios a pé. Caminhava durante todo o sábado e todo o domingo pernoitava em estalagens modestas, em hotéis de pequenas vilas ou aldeias ou, mesmo, em casas com quartos para arrendar. Gostava de boa comida e de conforto e, por isso, era muito meticuloso na escolha dos lugares onde ficava. No entanto, raramente voltava a pernoitar no mesmo lugar, pelo menos com regularidade. Não queria despertar a curiosidade dos outros nem que lhe fizessem perguntas. Por vezes, caminhava pelo Wye Valley, ao longo da costa de Dorset, e outras vezes junto ao mar, em Norfolk ou Suffolk. Eram esses passeios solitários a pé, longe dos conhecidos, longe do telefone, longe da cidade, que o mantinham são de espírito.
Baixara o olhar para as mãos, cruzadas à sua frente sobre a secretária. Depois, porém, ergueu os olhos e fitou Dalgliesh, que, compungido, pôde ver neles de novo os escuros poços da dor inconsolável.
Ia sozinho, sempre sozinho. A voz de Angela Faraday reduzira-se a um murmúrio, prestes a ser entrecortado pelo choro. Era disso que ele precisava e é isso, também, que mais me magoa. Nunca quis que eu o acompanhasse. Depois de me ter casado, não me seria fácil fazê-lo, mas podia sempre arranjar uma maneira. Passávamos tão pouco tempo juntos; apenas algumas horas furtivas no seu apartamento, mas nunca nos fins-de-semana. Jamais pude compartilhar esses passeios, caminhar com ele, falar com ele, passar toda a noite a seu lado na mesma cama... Jamais, jamais...
Alguma vez lhe perguntou porquê? quis saber Dalgliesh com delicadeza.
Não. Tinha muito medo de que me dissesse a verdade, de que a sua solidão era mais necessária para ele do que eu. Fez uma pausa e acrescentou: Houve, contudo, uma coisa que fiz. Ele nunca virá a sabê-lo e, agora, também já não importa. Arranjara maneira de ficar livre no próximo fim-de-semana. Tive de mentir ao meu marido e à minha sogra, mas fi-lo. Ia pedir ao Neville que me levasse com ele, só por uma vez. Estava disposta a prometer-lhe que seria só por uma vez. Se me tivesse sido possível passar um único fim-de-semana com ele, creio que conseguiria arranjar coragem para acabar definitivamente com a nossa relação.
Ficaram sentados, em silêncio. Para lá da porta do gabinete, a vida do hospital continuava os partos e as mortes, a dor e a esperança, pessoas vulgares a executar tarefas invulgares, mas nada dessa vida chegava até eles. Para Dalgliesh, era penoso ver tamanha angústia sem encontrar palavras para amenizá-la, mas não havia nada que pudesse dar àquela mulher. O seu trabalho era apenas o de descobrir quem assassinara o seu amante. Não tinha o direito de a enganar, levando-a a supor que fora visitá-la como amigo.
Esperou até que ela estivesse mais calma e só depois prosseguiu:
Apenas mais uma pergunta. Ele tinha inimigos, alguns pacientes que quisessem fazer-lhe mal?
Se algum o odiasse a ponto de desejar vê-lo morto, creio que eu o saberia. Não era muito querido por ser tão solitário, mas toda a gente o respeitava e gostava dele. Claro que há sempre esse risco, não é verdade? Os psiquiatras aceitam-no e não creio que corram maiores riscos do que o pessoal das Urgências, especialmente nas noites de sábado, quando metade dos doentes chegam aqui bêbedos ou drogados. Ser médico ou enfermeira nas Urgências é uma profissão perigosa. Foi este o mundo que construímos. Obviamente, há doentes que podem ser agressivos, mas nunca por forma a planear um homicídio. Aliás, como poderia algum deles saber do carro e da ida do Neville ao museu todas as sextas-feiras, para ir buscá-lo?
Os pacientes dele vão sentir a sua falta comentou Dalgliesh.
Alguns deles e durante algum tempo. Na sua maior parte, pensarão: Quem vai agora tratar de mim? Quem vou encontrar na consulta da próxima quarta-feira? Enquanto eu terei de continuar a ver a sua letra nas fichas dos pacientes. Pergunto a mim própria quanto tempo levará até que não consiga lembrar-me da sua voz...
Até ali conseguira controlar-se, mas, de súbito, o seu tom de voz alterou-se.
O mais horrível é que não posso chorar a sua morte, pelo menos em frente de outras pessoas. Não há ninguém com quem possa falar do Neville. As pessoas ouvem rumores acerca da sua morte e já andam a. especular. Ficaram chocadas, como era de esperar, e parecem genuinamente pesarosas, mas também excitadas, segundo creio. Uma morte violenta é sempre terrível, mas também intrigante. Despertou-lhes a curiosidade; posso vê-la nos seus olhos. O homicídio corrompe, não é assim? Leva tantas coisas consigo, além de uma vida...
Tem razão, é um crime que contamina concordou Dalgliesh.
De súbito, Angela Faraday começou a chorar. Dalgliesh acercou-se dela e ela abraçou-o, agarrando-se ao seu casaco. Dalgliesh apercebeu-se de que havia uma chave na porta, talvez uma necessária medida de prevenção e, quase a arrastando pelo gabinete, fez girar a chave.
Lamento muito... soluçou ela, sem parar de chorar.
Dalgliesh verificou que havia uma segunda porta na parede da esquerda e abriu-a, com toda a cautela, depois de ajudar Mrs. Faraday a sentar-se na sua cadeira. Para seu alívio, descobriu que, como calculava, a porta dava para um pequeno corredor com uma casa de banho à direita. Regressou para junto de Angela Faraday, que agora se mostrava um pouco mais calma, e ajudou-a a caminhar até à casa de banho, fechando a porta atrás de si. Ouviu correr água da torneira e esperou. Ninguém bateu à porta do gabinete nem tentou abri-la. Mrs. Faraday não demorou muito a reaparecer; três minutos volvidos regressou ao gabinete, aparentemente recomposta, com o cabelo penteado e sem vislumbre da desesperada crise de choro para além do inchaço dos olhos,
Desculpe murmurou. Foi muito embaraçoso para si...
Não precisa de pedir desculpa. Só lamento não poder oferecer-lhe o consolo de que precisa.
Como se nada se tivesse passado entre eles a não ser um breve encontro oficial, ela continuou, em tom formal:
Se quer saber mais alguma coisa, seja o que for que possa ajudá-lo nas suas investigações, por favor não hesite em telefonar-me. Quer o número de telefone de minha casa?
Pode vir a ser-me útil respondeu Dalgliesh.
Ela escreveu os algarismos numa folha do seu bloco, arrancou a folha e entregou-lha.
Ficar-lhe-ia muito agradecido se pudesse examinar o ficheiro dos doentes para ver se encontra algo que possa ser útil para as investigações. Algum paciente ressentido, que tivesse tentado processá-lo, ou que se mostrasse insatisfeito com o seu trabalho, seja o que for que permita supor a existência de um inimigo entre aqueles que eram tratados pelo doutor Dupayne.
Não acredito em tal hipótese. Se uma coisa dessas tivesse acontecido, julgo que seria do meu conhecimento. De qualquer maneira, as fichas dos doentes são confidenciais. O hospital não consentiria que as divulgasse sem a devida autorização.
Eu sei. Se necessário, obterei a devida autorização.
Não há dúvida de que é um polícia fora do comum comentou Mrs. Faraday, mas, mesmo assim, será sempre um polícia. Não seria prudente da minha parte esquecer-me disso.
Estendeu-lhe a mão e ele apertou-lha. Estava muito fria.
Caminhando ao longo do corredor em direcção à sala de espera e à porta de entrada, sentiu de repente a necessidade de tomar um café. Esse desejo coincidiu com a visão do sinal que indicava onde ficava o bar. Fora ali, quando visitara o hospital no início da sua carreira, que havia tomado uma refeição ligeira ou bebido uma chávena de chá. Lembrava-se de que o bar era, então, gerido pela chamada Liga de Amigos do Hospital e perguntou a si próprio se iria encontrá-lo na mesma. Achava-se, com efeito, no mesmo local: uma sala de seis por três metros, com janelas que davam para um pequeno jardim pavimentado. Os tijolos cinzentos, para além das altas janelas ogivais, reforçavam a impressão de se encontrar no interior de uma igreja. As mesas de que se lembrava, com toalhas de quadrados vermelhos, haviam sido substituídas por outras mais robustas com tampos de formica, mas o balcão, à esquerda da porta, com os seus sibilantes recipientes de chá ou café e as prateleiras de vidro onde era exposto o que os clientes podiam comer, pouco parecia ter mudado. A ementa também não variara muito: batatas assadas com diversos recheios, ovos e feijões servidos em torradas, rolinhos de bacon, sopa de tomate e de legumes e uma grande variedade de bolos e biscoitos. Era uma hora de pouca afluência; aqueles que tinham almoçado já haviam partido e via-se uma pilha de pratos sujos numa mesa lateral, por baixo de um cartaz em que era pedido aos clientes que ali deixassem os talheres e a louça de que se haviam servido. As únicas pessoas presentes eram dois trabalhadores, com os seus fato-macacos, numa mesa do fundo, e uma mulher nova, com um bebé num carrinho a seu lado. Parecia ignorar a presença de uma outra criança de tenra idade que, com um dedo na boca, corria à volta da perna de uma cadeira, cantarolando uma música desafinada; parou de súbito quando viu Dalgliesh, ficando a olhar para ele com viva curiosidade. A mãe tinha à sua frente uma chávena de chá e fitava o jardim, enquanto maquinalmente fazia andar o carrinho do bebé para trás e para a frente. Era impossível saber se o seu ar de trágico alheamento era causado pelo cansaço ou pela dor. Dalgliesh pensou que um hospital era um mundo estranho em que seres humanos se cruzavam uns com os outros durante algum tempo, cada um com o seu fardo de esperança, angústia ou desespero, mas, apesar disso, um mundo curiosamente familiar, acolhedor e, por estranho paradoxo, tão aterrador quanto reconfortante.
O café servido ao balcão por uma mulher de idade era barato mas bom, e ele bebeu-o rapidamente, sentindo a súbita necessidade de sair dali quanto antes. Aquele breve intervalo de descanso fora uma simples pausa num dia sobrecarregado de trabalho. A perspectiva de ir interrogar a mais velha Mrs. Faraday assumira um aspecto do maior interesse e importância. Conheceria ela a infidelidade da nora? E, se fosse esse o caso, que importância lhe dera?
Quando regressou ao corredor principal, viu Angela Faraday, que caminhava um pouco mais à frente, e parou para examinar uma fotografia a sépia e assim dar tempo a que ela se afastasse. Quando ela entrou na sala de espera, apareceu um jovem, tão prontamente como se houvesse reconhecido os seus passos no corredor. Dalgliesh viu um rosto sensível e de notável beleza, com traços finos e olhos grandes e brilhantes. O jovem não viu Dalgliesh; só tinha olhos para a esposa, enquanto estendia as mãos para pegar nas dela e, depois, se colocava a seu lado com o rosto subitamente iluminado por uma confiança cega e uma alegria quase infantil.
Dalgliesh esperou até que ambos saíssem do hospital. Por uma razão instintiva que não sabia explicar, teria preferido não haver assistido àquele encontro. O major Arkwright vivia no apartamento do primeiro andar de uma casa antiga remodelada, em Maida Vale. O edifício, meticulosamente conservado, era protegido por um gradeamento de ferro, que parecia pintado de fresco. A placa de latão com os nomes dos quatro inquilinos fora polida até ficar de um branco-prateado e, de cada lado da porta, viam-se dois grandes vasos, cada um com o seu loureiro. Uma voz de homem respondeu prontamente quando Piers premiu o botão. Não havia elevador.
No alto da escada alcatifada, o major Arkwright esperava-os, à porta do apartamento. Era um homenzinho aperaltado que envergava um fato feito por medida com colete a condizer e o que parecia ser a gravata tradicional do regimento a que pertencia. O bigode uma linha delgada como que traçada a lápis, que contrastava com as sobrancelhas espessas era arruivado, mas pouco podia ver-se do seu cabelo. Toda a cabeça, que parecia invulgarmente pequena, achava-se coberta por um gorro feito de musselina, por baixo do qual era visível um pedaço de gaze branca, sobre a orelha esquerda. Piers deu consigo a pensar que aquele gorro o fazia parecer-se com um Pierrot envelhecido, sem emprego, mas nem por isso desanimado. Examinou atentamente Piers e Kate com os seus olhos, de um azul intenso, mas sem revelar qualquer espécie de hostilidade. Olhou sem grande interesse para os seus cartões de identidade, limitando-se a acenar com a cabeça, em sinal de que apreciava a sua pontualidade.
Era patente, logo à primeira vista, que o major coleccionava antiguidades, em particular estatuetas comemorativas Staffordshire. O pequeno vestíbulo estava tão atafulhado com estatuetas que Kate e Piers entraram com todo o cuidado, como se estivessem numa loja repleta de antiguidades. Numa prateleira estreita que corria ao longo da parede, estava disposta uma colecção impressionante: o duque de Clarence, desafortunado filho de Eduardo VII, e a sua noiva, a princesa May; a rainha Vitória, com um vestido de cerimónia; um Garibaldi, a cavalo; Shakespeare, inclinado sobre um pilar encimado por livros, com a cabeça apoiada na mão direita, e notáveis pregadores vitorianos tecendo duras críticas dos seus púlpitos. Na parede fronteira, havia uma miscelânea de peças de colecção, na sua maioria da época vitoriana: silhuetas nas suas molduras ovais, um bordado numa moldura, com a data de 1852, pequenos quadros a óleo representando cenas rurais do século xix, nos quais lavradores e as famílias com aspecto limpo e bem alimentado muito pouco convincente faziam cabriolas ou se achavam tranquilamente sentados em frente das suas casas pitorescas. Os olhos experimentados de Piers registaram, num relance, todos aqueles pormenores, entre os quais, para sua surpresa, nada havia que até então se relacionasse com a carreira militar do major.
Foram conduzidos a uma sala de estar confortável mas sobrecarregada de mobília, com um expositor pejado de estatuetas Staffordshire semelhantes às que já haviam visto, e depois, através de um curto corredor, até a um jardim-de-inverno, mobilado com quatro cadeiras de vime e uma mesa com tampo de vidro. Nas estantes baixas, ao longo das paredes, encontrava-se uma notável selecção de plantas, na sua maioria de folhagem perene e todas em flor.
O major sentou-se e fez sinal a Piers e a Kate para que o imitassem. Parecia tão alegre e despreocupado como se recebesse velhos amigos. Antes que Piers ou Kate pudessem falar, perguntou, acentuando cada sílaba:
Já encontraram o rapaz?
Ainda não.
Hão-de conseguir encontrá-lo. Não creio que ele se tenha atirado ao rio. Não é desse género. Vai aparecer, logo que saiba que eu não morri. Não precisam de se preocupar com a altercação que tivemos... Mas, na verdade, não estão preocupados com isso, pois não? Têm entre mãos assuntos mais importantes. Eu não teria chamado a ambulância nem a polícia, mas Mistress Perrifield, que vive no andar de baixo, ouviu-me cair e subiu para ver o que se passava. E uma mulher bem-intencionada, embora um tanto propensa a intrometer-se na vida alheia. O Ryan esbarrou nela quando saiu daqui a correr. Como deixou a porta aberta, ela chamou a ambulância e a polícia, antes que eu pudesse impedi-la de o fazer. Estava um pouco aturdido; bom, na realidade, estava inconsciente. Admira-me que ela não haja chamado também os bombeiros, o exército ou quem mais lhe passasse pela cabeça. De qualquer modo, não vou apresentar queixa.
Piers estava ansioso por obter uma rápida resposta para a única pergunta vital.
Não é esse assunto que mais nos preocupa. Pode dizer-nos a que horas o Ryan Archer chegou a casa, na tarde de ontem?
Receio que não. Encontrava-me nessa altura em South Ken, num leilão de cerâmica Staffordshire. Havia uma ou duas peças que me interessavam, mas alcançaram preços superiores aos que ofereci. Antigamente, era capaz de obter uma peça comemorativa por trinta libras, mas agora não...
E a que horas regressou a casa?
Por volta das sete. Encontrei um amigo à saída da sala de leilões, e fomos beber um copo a um bar, onde não ficámos muito tempo. O Ryan já se encontrava aqui quando cheguei.
A fazer o quê?
A ver televisão, no seu quarto. Aluguei um televisor para ele. O rapaz não aprecia os meus programas favoritos e, além disso, gosto de usufruir duma certa privacidade ao fim da tarde. Esta solução, em geral, funciona.
Como estava ele quando o senhor chegou? quis saber Kate.
Que quer dizer com isso?
Achou-o agitado, angustiado, diferente do habitual? Só o vi cerca de um quarto de hora depois de chegar a casa. Limitei-me a chamar por ele e respondeu-me. Não me recordo do que dissemos. Só depois é que veio ter comigo e teve início a discussão. Por minha culpa, devo admiti-lo.
Pode contar-nos o que aconteceu?
Tudo principiou quando começámos a falar do Natal. Eu resolvera levá-lo comigo numa viagem a Roma e já reservara o hotel e as passagens de avião. Foi então que ele me disse haver mudado de ideia, porque fora convidado a passar o Natal com outra pessoa, uma mulher.
Escolhendo com todo o cuidado as palavras, Kate insistiu:
E isso desagradou-lhe? Sentiu-se desapontado, com ciúmes?
Com ciúmes? Não. Deixou-me completamente furioso! Já tinha pago os bilhetes de avião.
Acreditou no que ele lhe disse?
Não, pelo menos no que dizia respeito à tal mulher.
O que se passou em seguida?
Era evidente que ele não queria ir a Roma. Achei que devia ter-mo dito antes de eu fazer as reservas. E havia tratado de obter informações sobre a possibilidade de ele frequentar alguns cursos. O rapaz é bastante inteligente, mas a sua cultura deixa muito a desejar. Na maior parte das vezes, faltava às aulas. Deixara-lhe alguns folhetos para que ele os examinasse e, depois, pudéssemos conversar acerca do assunto, mas ele nem sequer os leu. Seguiu-se uma discussão à volta da minha ideia. Julguei que ele estava interessado, mas, pelos vistos, enganei-me. Disse-me que estava farto das minhas interferências na sua vida ou algo parecido. Não censuro o rapaz. Como já disse, a culpa é toda minha. Empreguei as palavras erradas.
Que palavras?
Disse-lhe: Nunca chegarás a ser alguém na vida. Pretendia acrescentar: Enquanto não adquirires educação e formação, mas não tive oportunidade de acabar a frase. O Ryan ficou fora de si. Com certeza, eram as mesmas palavras que ouvira da boca do padrasto. Bom, não exactamente o padrasto, mas antes o homem que foi viver com a mãe dele. Trata-se da história habitual, que devem ter ouvido dúzias de vezes. O pai sai de casa, a mãe arranja uma série de amantes, até que um deles acaba por instalar-se em casa dela. O filho e o amante odeiam-se mutuamente e um deles tem de ir-se embora. Não é difícil adivinhar quem. O homem, segundo tudo indica, era um brutamontes. É curioso como certas mulheres gostam de homens assim. Seja como for, o certo é que o indivíduo conseguiu pôr o Ryan fora de casa. Admira-me que o Ryan não lhe tenha dado com um atiçador na cabeça...
Ele disse à governanta do museu que tinha vivido em internatos desde a infância interveio Kate.
Conversa fiada! Viveu na casa dos pais até aos quinze anos. O pai tinha morrido havia dezoito meses quando ele saiu de casa. O Ryan deu-me a entender que a morte do pai ocorrera em circunstâncias particularmente trágicas, mas nunca me explicou como. Provavelmente, trata-se de outra das suas fantasias. Não, nunca esteve em instituições do género. O rapaz é um desastre, mas não tanto quanto o seria se alguma vez houvesse ficado nas mãos duma dessas instituições.
Já se tinha revelado violento para consigo anteriormente?
Nunca. Não é um rapaz violento. Como já disse, a culpa foi toda minha. Proferi as palavras erradas no momento errado.
E ele contou-lhe alguma coisa acerca do que ocorrera durante o dia, o que fizera no emprego, a que horas saíra e a que horas chegara a casa?
Nada. Também não é de admirar, não acha? Não tivemos muito tempo para conversar até ao momento em que perdeu as estribeiras, agarrou no atiçador e me agrediu. Atingiu-me no ombro direito, atirou-se a mim e eu caí, batendo com a cabeça no rebordo do televisor e fazendo cair também o maldito aparelho.
Pode dizer-nos alguma coisa acerca da vida dele aqui em casa? quis saber Piers. Como se encontraram? Há quanto tempo vivem juntos?
Apanhei-o em Leicester Square há nove meses. Ou talvez dez. É-me difícil precisar quando; em fins de Janeiro ou em princípios de Fevereiro. Era diferente dos outros rapazes. Tomou a iniciativa de falar comigo e apercebi-me de que estava prestes a meter-se em sarilhos. A prostituição é uma vida terrível; quando se envereda por essa ladeira, é como morrer. Ele não havia começado ainda, mas pensei que não estava longe de o fazer. Naquela época, andava a dormir pelas ruas e, por isso, trouxe-o para aqui.
E passou a viver com ele acrescentou Kate, sem rodeios. Isto é, eram amantes.
Ele é gay, claro, mas não foi por isso que o trouxe para casa. Tenho um companheiro há já muitos anos. Actualmente, encontra-se no Extremo Oriente, a desempenhar um cargo de consultor, mas deve regressar no princípio de Janeiro. Contava que, por essa altura, o Ryan já se tivesse instalado em outro sítio. Este apartamento é demasiado pequeno para os três. O Ryan foi até ao meu quarto na primeira noite em que ficou aqui, aparentemente por pensar que devia pagar o alojamento em espécie, mas pus as coisas em pratos limpos. Nunca misturo o sexo com os negócios. Nunca o fiz e não me sinto muito atraído por jovens. Faz-me sentir esquisito, atrevo-me a dizê-lo, mas é assim mesmo. Gostava do rapaz e tinha pena dele, mas mais nada. Ele ia e vinha. Às vezes, prevenia-me de que ia ausentar-se e outras vezes, não. Normalmente, regressava uma ou duas semanas mais tarde, desejoso de tomar um banho, de vestir roupas limpas e de dormir numa cama confortável. Durante essas ausências, vivia em diversas casas ocupadas, mas nunca por muito tempo.
Sabia que ele trabalhava como jardineiro no Museu Dupayne?
Fui eu que o recomendei. Disse-me que trabalhava lá às segundas, quartas e sextas. Nesses dias, costumava sair cedo e regressar por volta das seis da tarde. Presumo que trabalhasse onde dizia, ou seja, no museu.
Como ia para lá? perguntou Kate.
De metro e, depois, a pé. Tinha uma bicicleta velha, mas desapareceu.
Não acha tarde trabalhar até às cinco no Inverno? Quando o Sol se põe muito mais cedo do que a essa hora?
Contou-me que tinha sempre outras tarefas para fazer. Trabalhava tanto dentro do museu como no jardim. Não lhe fazia perguntas, tal como em relação ao padrasto. O Ryan não tolera que se metam na sua vida. Não posso censurá-lo por isso, já que também sou assim. Querem beber alguma coisa? Chá ou café? Esqueci-me de o propor.
Kate agradeceu-lhe e explicou que tinham de ir-se embora. O major assentiu com a cabeça.
Espero que o encontrem observou. Se isso acontecer, digam-lhe que eu estou bem e que tem uma cama aqui se quiser voltar a esta casa. Pelo menos, por enquanto. E não foi ele que assassinou o tal doutor... Como é que ele se chama? Doutor Dupayne?
Doutor Neville Dupayne.
Podem ficar certos de uma coisa: o rapaz não é um assassino.
Se lhe tivesse batido com mais força e um pouco ao lado, podia sê-lo.
Ora, mas não o fez, pois não? Quando saírem, não tropecem no regador. Lamento não ter podido ser-lhes mais útil. Quando o encontrarem, não se esquecerão de mo dizer?
Para grande surpresa de Kate e de Piers, o major estendeu-lhes a mão quando chegaram à porta. Apertou a de Kate com tal vigor que ela, por pouco, não fez um trejeito de dor.
Sim, senhor. Pode estar certo de que o avisaremos prometeu ela.
Já depois de fechada a porta, Kate sugeriu:
Podíamos ir falar com Mister Perrifield. Talvez saiba quando o Ryan chegou a casa. Parece-me uma daquelas mulheres que mantém os vizinhos debaixo de olho.
No andar de baixo, tocaram à campainha. Aporta foi aberta por uma robusta mulher de idade avançada, muito maquilhada e com um penteado bem seguro com laca. Envergava um fato de saia e casaco estampado, com quatro bolsos, todos adornados com grandes botões de latão. Abriu a porta, sem retirar a corrente de segurança, e examinou-os com ar desconfiado através da abertura. No entanto, quando Kate lhe exibiu o seu cartão de identidade e explicou que procediam a uma investigação acerca de Ryan Archer, a mulher retirou a corrente de imediato, e convidou-os a entrar. Kate suspeitou que lhes seria difícil verem-se livres dela e, por isso, explicou que não iriam incomodar Mrs. Perrifield durante muito tempo. Podia dizer-lhes a que horas Ryan havia chegado a casa na tarde anterior?
Mrs. Perrifield asseverou, com grande veemência, que gostaria muito de ajudá-los, mas que, infelizmente, não podia fazê-lo. A tarde de sexta-feira era dedicada ao seu brídege. No dia anterior, estivera a jogar com uns amigos, em South Kensington, e depois do chá ficara ainda mais algum tempo para tomar um xerez. Chegara a casa um quarto de hora antes da atroz agressão. Piers e Kate tiveram de ouvir todos os pormenores relativos à forma fortuita como Mrs. Perrifield pudera salvar a vida do major, graças, no entanto, à sua pronta intervenção. Esperava que o seu vizinho se desse conta agora de que ninguém deve ser demasiado confiante nem demasiado compreensivo. Ryan Archer não era o tipo de hóspede desejável numa casa séria. Reiterou como lamentava não poder ser mais prestável, e Kate acreditou nela. Não duvidava que Mrs. Perrifield adoraria poder contar-lhes que Ryan havia entrado em casa a tresandar a gasolina, vindo directamente do local do crime.
Enquanto se encaminhavam para o carro, Kate comentou:
Quer dizer que, tanto quanto sabemos até agora, o Ryan não dispõe de um álibi. Apesar disso, parece-me difícil acreditar...
Por amor de Deus, Kate! Também tu? atalhou Piers. Nenhum deles é um provável assassino. O rapaz é tão suspeito como os outros. E quanto mais tempo andar a monte, pior será para ele.
A casa de Mrs. Faraday era a oitava de uma fileira de edifícios dos meados do século xix, na parte sul de uma praça de Islington. Sem dúvida construídos para o estrato mais elevado da classe trabalhadora, as casas haviam passado decerto pelas usuais metamorfoses do aumento das rendas, do desmazelo, dos estragos provocados pela guerra e da sucessão dos ocupantes, mas, de há muito, tinham passado a ser habitadas pela classe média, que ali se instalara atraída pela proximidade da City, dos bons restaurantes e do Teatro Almeida, bem como pela satisfação de poder proclamar que vivia numa comunidade étnica e socialmente diversificada e interessante. Pelo número de grades e de sistemas de alarme contra assaltos, era patente que os residentes se haviam protegido contra as manifestações menos desejáveis dessa mesma diversidade. O bloco de casas exibia uma atraente unidade arquitectural. A uniformidade das fachadas, de estuque creme, com varandas de ferro preto, era quebrada pela pintura brilhante das portas de cores diferentes e...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades