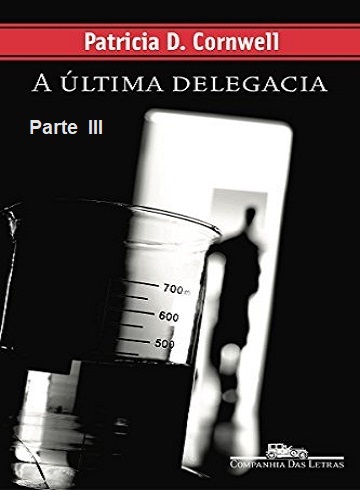Biblio VT




Ela gasta uns bons quinze minutos explicando que Righter ligou como amigo, um amigo preocupado. As pessoas estavam falando a meu respeito. Ele tinha ouvido coisas que achava que devia verificar, e sabia que eu e Anna éramos próximas. “Isso não está fazendo nenhum sentido”, diz Lucy. “Diane Bray não tinha nem sido assassinada ainda. Por que Righter estava falando com Anna tão cedo?” “Não consigo entender”, concorda Teun. “Alguma coisa realmente fede nisso.” Ela e Lucy estão sentadas no chão diante da lareira. Estou em minha cadeira de balanço usual, e Anna, no divã, sentada bem ereta. “Quando Righter ligou no dia 14, o que exatamente ele disse a você?”, pergunto a Anna. “Como ele iniciou a conversa?” Ela me olha nos olhos. “Havia preocupação com sua saúde mental. Essa foi a primeira coisa que ele disse.” Simplesmente concordo com a cabeça. Não estou ofendida. Embora seja verdade que oscilei muito depois que Benton foi assassinado, nunca estive mentalmente doente. Estou segura de minha sanidade e de minha capacidade de raciocinar e pensar. Só sou culpada de ter fugido da dor. “Sei que não lidei bem com a morte de Benton”, admito. “Como é que alguém consegue lidar bem com uma coisa dessas?”, diz Lucy. “Não, não. Não era isso que Buford queria dizer”, diz Anna.
x
x
x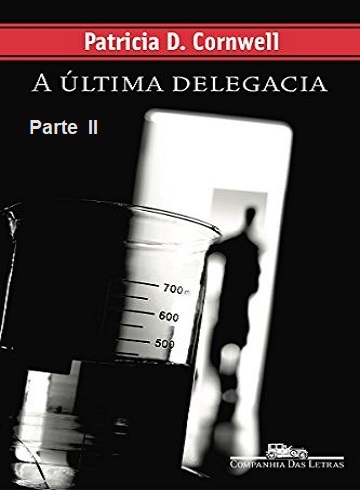
x
x
x
“Ele não estava ligando por causa do modo como você administrava a dor, Kay. Estava ligando por causa de Diane Bray, de seu relacionamento com ela.” “Que relacionamento?” No mesmo instante me pergunto se Bray ligou para Righter — mais uma armadilha que ela montou para mim. “Eu mal a conhecia.” Os olhos de Anna estão fixos nos meus, a sombra do fogo oscilando em seu rosto. Fico de novo surpresa ao ver como ela parece velha, como se tivesse envelhecido dez anos em um dia. “Você tinha tido uma série de confrontos com ela. Você me contou isso”, ela replica. “Instigada por ela”, respondo no ato. “Nós não tínhamos um relacionamento pessoal. Nem sequer um relacionamento social.” “Acho que, quando você entra em guerra contra alguém, isso é pessoal. Mesmo pessoas que se odeiam têm um relacionamento pessoal, acho que você entende o que estou dizendo. Certamente, ela havia se tornado muito pessoal em relação a você, Kay. Lançando boatos. Mentindo a seu respeito. Criando uma coluna médica fictícia na internet como se fosse você que a escrevesse, fazendoa de boba e pondo você em dificuldade com o secretário de Segurança Pública e até com o governador.” “Acabo de falar com o governador. Não acho que esteja tendo nenhuma dificuldade com ele.” Digo isso e ao mesmo tempo acho curioso. Se Mitchell sabe que estou sendo investigada por um grande júri especial, e sei que deve saber, então por que ele não aceitou minha demissão e deu graças a Deus por se livrar de mim e da minha vida confusa? “Ela também pôs em risco a carreira de Marino porque ele é seu auxiliar”, continua Anna. O único pensamento que me ocorre é que Marino não gostaria nada de ser chamado de meu auxiliar. Como numa resposta à deixa, o interfone toca, anunciando que ele está no portão da frente. “Sabotando sua carreira, em outras palavras.” Anna se levanta. “Não está correto? Não foi isso que você me contou?” Ela pressiona um botão num console na parede, de repente energizada. A raiva expulsa sua depressão. “Sim? Quem é?”, diz com aspereza ao microfone. “Eu, meu bem.” Os sons rudes de Marino e de sua caminhonete enchem a sala. “Oh, se ele me chamar de meu bem outra vez eu vou matá-lo.” Anna ergue as mãos no ar. Vai até a porta, e então Marino entra na sala. Ele saiu de casa tão depressa que não se preocupou em pegar um casaco, usa só um agasalho de ginástica cinza e tênis. Fica embasbacado quando vê McGovern sentada ao pé da lareira, olhando para ele de sua posição indígena no chão. “Macacos me mordam!”, diz Marino. “Quem é vivo sempre aparece.” “Também acho muito bom ver você, Marino”, replica McGovern. “Alguém quer me contar que diabo está acontecendo?” Ele puxa uma poltrona para mais perto da lareira e se senta, olhando de um rosto para outro, tentando ler a situação, fingindo-se de tonto, como se já não soubesse. Acredito que ele sabe. Ah, sim, agora está claro por que ele tem agido de forma tão
estranha. Entramos no assunto. Anna continua a revelar o que aconteceu nos dias anteriores à chegada de Jaime Berger a Richmond. Berger continua a dominar, como se estivesse sentada aqui conosco. Não confio nela. E ao mesmo tempo sinto que minha vida pode muito bem estar nas mãos dela. Tento me lembrar de onde eu estava no dia 14 de dezembro, retrocedendo a partir de hoje, 23 de dezembro, até parar naquela terça-feira. Eu estava em Lyon, na França, no quartel-general da Interpol, onde me encontrei com Jay Talley pela primeira vez. Repasso aquele encontro, visualizando nós dois sozinhos em uma mesa na lanchonete da Interpol. Marinho teve uma antipatia instantânea por Jay e se retirou. Durante o almoço, contei a Jay sobre Diane Bray, sobre meus problemas com ela, e que ela estava fazendo tudo que podia para perseguir Marino, inclusive transferi-lo para o turno da noite. Como é que Jay a chamou? Lixo atômico de roupa justa. Aparentemente, eles tiveram umas rixas quando ela estava na polícia de Washington e ele foi alocado por um curto período no quartel-general do ATF. Ele parecia saber tudo sobre ela. Não pode ser coincidência que, no mesmo dia em que falei sobre ela com ele, Righter tenha ligado para Anna, perguntado-lhe sobre meu relacionamento com Bray e feito insinuações sobre minha saúde mental. “Eu não ia contar isso a você”, Anna continua, com a voz tensa. “Eu não devia contar isso a você, mas agora que evidentemente vou ser usada contra você...” “O que você quer dizer com usada contra ela ?”, Marino se intromete. “Originalmente eu esperava guiar você, ajudar a mitigar essas alegações sobre sua saúde mental”, Anna me diz. “Não acredito nisso. E se tivesse alguma dúvida, e talvez houvesse apenas uma leve dúvida, era porque eu não a vira por tanto tempo, então queria falar com você de qualquer forma, por preocupação. Você é minha amiga. Buford me garantiu que nada que eu pudesse descobrir era algo que ele planejasse usar. Nossas conversas deveriam permanecer privadas, a dele e a minha. Ele não disse nada, absolutamente nada, sobre acusar você.” “Righter?”, Marino franze o cenho. “Ele pediu a você para ser algum tipo de delatora?” Anna balança a cabeça. “Uma guia”, ela usa de novo essa palavra. “As porras daquelas pessoas. Aquele fracassado”, a raiva de Marino extravasa. “Ele precisava saber se Kay estava mentalmente perturbada. Certamente vocês podem entender por que ele precisava saber, se ela ia ser a principal testemunha dele. Sempre pensei que isso tinha a ver com você ser uma testemunha importante, não uma suspeita!” “Suspeita o cacete!”, Marino interrompe. Agora ele não finge nada. Sabe exatamente o que está acontecendo. “Marino, sei que você não devia me contar que estou sendo investigada por um grande júri especial pelo assassinato de Diane Bray”, digo a ele, calma. “Mas só por curiosidade, estou me perguntando, há quanto tempo você sabe? Por exemplo, quando você me tirou de casa no sábado à noite, já sabia, não sabia?
Foi por isso que você me observou como um falcão dentro da minha própria casa. Para que eu não fizesse algo indevido como jogar fora evidências, ou sabe Deus o quê? Foi por isso que você não me deixou dirigir meu carro, certo? Porque vocês precisam ver se há alguma evidência nele, talvez o sangue de Diane Bray? Fibras? Cabelo? Ou algo que me colocaria na casa dela na noite em que ela foi morta?” Meu tom é calmo, mas contundente. “Puta que pariu!”, Marino entra em erupção. “Eu sei que você não fez nada. Righter é um grande escroto, e eu disse isso a ele. Disse a ele todos os dias. O que você fez com ele, hem? Quer me contar por que diabo ele está fazendo isso com você?” “Quer saber de uma coisa?” Olho com dureza para ele. “Não vou ouvir mais uma vez que é tudo minha culpa. Não fiz nada com ele. Não sei o que o deixou nessa ridícula excitação, a menos que Jay esteja plantando coisas.” “Imagino que isso também não é sua culpa. Dormir com ele.” “Ele não está fazendo isso porque dormi com ele”, disparo de volta. “Se ele está fazendo alguma coisa, é porque eu só dormi com ele uma vez.” McGovern está de cara fechada, encostada na lareira. Ela diz: “O velho Jay. O Rei da Limpeza, o bonitinho. Engraçado, nunca tive uma sensação boa a respeito dele”. “Eu disse a Buford que com toda a certeza você não está mentalmente perturbada.” Anna contrai o maxilar e me dirige um olhar intenso. “Ele queria saber se eu achava que você era capaz de assisti-lo, e eu acho que você está equilibrada. Veja, ele mentiu. Isso supostamente tinha a ver com você assisti-lo no julgamento de Chandonne. Eu nunca imaginei. Não posso acreditar que Buford viria de repente me intimar desse jeito.” Ela põe a mão no peito, como se estivesse preocupada com o coração, e fecha os olhos brevemente. “Você está bem, Anna?” Começo a me levantar. Ela sacode a mão de um lado para outro. “Nunca mais ficarei bem outra vez. Eu nunca teria falado com você, Kay, se achasse que uma coisa dessas ia acontecer.” “Você gravou as conversas, fez anotações?”, pergunta McGovern. “É claro que não.” “Bom.” “Mas se me perguntarem...”, ela começa a dizer. “Eu entendo”, respondo. “Anna, eu entendo. O que está feito está feito.” É agora que devo contar a Marino as outras novidades. Enquanto estamos tratando de assuntos tão pavorosos, ele pode muito bem saber de tudo. “Seu filho, Rocky”, digo o nome dele e nada mais. Talvez eu esteja tentando saber se Marino também já sabe disso. Ele fica duro como pedra. “O que tem ele?” “Parece que ele vai representar Chandonne”, respondo. O rosto de Marino assume uma cor vermelha forte, de assombro. Por um momento, ninguém fala. Ele não sabe. Então Marino fala em um tom calmo e grave. “Ele seria capaz de fazer uma coisa dessas. Provavelmente tem algo a ver com o que está acontecendo com você, também, se isso for possível. Engraçado, eu meio que suspeitava que ele tinha algo a ver com o fato de Chandonne ter vindo para cá.”
“Por que você pensou isso?”, pergunta McGovern, surpresa. “Ele trabalha para a máfia, é por isso. Provavelmente conhece o Papaizão Chandonne lá em Paris e gostaria muito de me causar problemas aqui.” “Acho que é hora de você falar sobre Rocky”, digo a ele. “Você tem um bourbon nesta casa?”, Marino pergunta a Anna. Ela se levanta e sai da sala. “Tia Kay, você não pode mais ficar aqui”, Lucy me diz num tom de calma e urgência. “Você não pode mais falar com ela, Kay”, acrescenta McGovern. Não respondo. É claro que elas estão certas. Agora, além de tudo, perdi minha amiga. “Então, você contou alguma coisa a ela?”, Marino me diz, num tom acusador que já se tornou muito familiar. “Eu disse a ela que o mundo estava muito melhor sem Bray”, respondo. “Em outras palavras, eu basicamente disse que estou contente por ela ter morrido.” “Como todo mundo que a conheceu”, retruca Marino. “E eu terei muito prazer em dizer isso à porra do grande júri especial.” “É uma declaração que não ajuda, mas não significa que você assassinou ninguém”, diz McGovern. “Que não ajuda está certo”, murmura Marino. “Droga, espero que Anna não conte a Righter que você ficou contente por Bray ter sido estraçalhada”, ele me diz. “Isso é tão absurdo”, digo. “Bom”, replica Marino, “sim e não, doutora.” “Você não precisa falar comigo sobre isso”, digo a ele. “Não se ponha em uma posição ruim, Marino.” “Ah, foda-se!” Ele faz um gesto de dispensa. “Sei que você não matou aquela maldita vaca. Mas você precisa olhar isso de outro ponto de vista. Você tinha problemas com ela. Ela estava tentando demiti-la. Você tem agido de uma forma meio suspeita desde que Benton morreu, ou pelo menos é isso que as pessoas têm dito, certo? Você enfrenta Bray no estacionamento. A teoria é que você tinha ciúme dessa nova chefona da polícia. Ela estava fazendo você parecer má e se queixando de você. Então você a matou e disfarçou o fato para parecer que foi o mesmo cara que estraçalhou Kim Luong, e quem melhor do que você para fazer isso, certo? Quem seria mais capaz do assassinato perfeito do que você, certo? E você tinha acesso — a primeira olhada em todas as evidências. Podia ter batido nela até morrer e plantado cabelos do lobisomem no corpo dela, e até plantado material para que eles tivessem o DNA dele. E também não parece bom você ter tirado aquelas provas do necrotério de Paris e trazido para cá. Nem recolhido amostra de água. Odeio lhe dizer isso, mas Righter acha que você é maluca. E devo acrescentar que ele não gosta de você pessoalmente e nunca gostou, porque ele tem os colhões de uma soprano e não gosta de mulheres poderosas. Não gosta nem de Anna, para falar a verdade. A coisa de Berger é uma espécie de melhor vingança. Ele realmente a odeia.” Silêncio.
“Imagino que eles vão me intimar também”, diz Lucy.
20
“Righter acha que você também é doida”, diz Marino a minha sobrinha. “A única coisa em que estamos de acordo.” “Há alguma chance de Rocky estar envolvido com a família Chandonne?” McGovern olha para Marino. “No passado? Você fala sério quando diz que pensou nisso?” “É”, Marino bufa. “Rocky esteve envolvido com criminosos na maior parte de sua maldita vida. Mas eu sei detalhes sobre o que ele faz com a porra do tempo dele, dia a dia, mês a mês? Não. Não posso honestamente jurar isso. Só sei o que ele é. Escória. Ele nasceu ruim. Genética ruim. No que me diz respeito, ele não é meu filho.” “Bem, ele é seu filho”, digo a ele. “Não no meu livro. Ele herdou o lado ruim da minha família”, insiste Marino. “Em Nova Jersey, temos bons Marinos e maus Marinos. Eu tinha um tio que era da máfia e outro que era policial. Dois irmãos diferentes como o dia e a noite. E então, quando fiz catorze anos, o desprezível tio Louie matou meu outro tio — meu outro tio que era policial, também chamado Pete. Eu recebi meu nome por causa do tio Pete. Que levou um tiro quando estava no jardim da frente de casa, pegando a porra do jornal. Nunca conseguimos provar que foi tio Louie quem tinha feito aquilo, mas todos na família acreditavam nisso. E eu ainda acredito.” “Onde está seu tio Louie agora?”, Lucy pergunta, enquanto Anna volta com o uísque de Marino. “Eu soube que ele morreu há uns dois anos. Eu não me dava com ele. Nunca tive nada a ver com ele.” Ele pega o copo das mãos de Anna. “Mas Rocky é a imagem dele cuspida. Até se parecia com ele quando era novo, e desde que nasceu foi torto, desviado, apenas um pedaço de excremento vivo. Por que vocês acham que ele assumiu o nome Caggiano? Porque esse é o nome de solteira de minha mãe, e Rocky sabia que eu ia ficar realmente irritado se ele manchasse o nome de minha mãe. Há pessoas que não podem ser consertadas. Há algumas que simplesmente nascem ruins. Não me peçam para explicar, porque Doris e eu fizemos tudo que podíamos por esse garoto. Até tentamos mandá-lo para a escola militar, o que foi um erro. Ele acabou gostando, gostava de dar trote nos calouros, fazia coisas realmente ruins com outros garotos. Ninguém encostava nele, nem mesmo no primeiro dia. Ele era grande como eu e tão ruim que os outros garotos não ousavam tocar num fio de cabelo dele.” “Isso não está certo”, Anna murmura quando volta a se sentar no divã. “Qual é a motivação de Rocky para pegar esses casos?” Sei o que Berger disse. Mas quero saber o ponto de vista de Marino. “Provocar você?” “Ele vai chamar atenção. Um caso como esse vai criar um circo.” Marino não quer dizer o óbvio, que talvez Rocky queira humilhar, derrotar o pai. “Ele odeia você?”, McGovern pergunta a ele.
Marino bufa de novo e seu pager vibra. “O que acabou acontecendo com ele?”, pergunto. “Vocês o mandaram para a escola militar, e daí?” “Eu dei um pé na bunda dele. Disse que se ele não conseguia seguir as regras da casa, não ia viver sob o meu teto. Isso foi depois do primeiro ano dele na escola militar. Então, sabe o que o Rocky fez?” Marino lê o visor do pager e se levanta. “Ele se muda para Jersey, vai morar com o tio Louie, a porra da máfia. Depois ele tem a coragem de vir fazer a escola aqui, inclusive a faculdade de direito, William and Mary, portanto ele é esperto como o diabo.” “Ele passou no exame da Ordem dos Advogados na Virgínia?”, pergunto. “Aqui, fez de tudo por aqui. Não o vi por dezessete anos. Anna, você se importa de eu fazer uma ligação? Acho que não vou querer usar o celular nesta.” Ele olha de relance para mim enquanto sai da sala. “É Stanfield.” “E quanto à identificação sobre a qual ele ligou para você antes?”, pergunto. “Acho que é por isso que ele está me ligando”, diz Marino. “Mais uma realmente estranha, se for verdade.” Enquanto ele está ao telefone, Anna desaparece da sala. Suponho que tenha ido ao banheiro, mas ela não volta, e posso imaginar como se sente. Em vários sentidos, estou mais preocupada com ela do que comigo. Agora sei o suficiente sobre a vida dela para avaliar sua intensa vulnerabilidade e perceber os lugares terrivelmente áridos, cicatrizados, de sua paisagem emocional. “Isso não é justo”, começo a perder a compostura. “Não é justo com ninguém.” Tudo que se empilhou sobre mim começa a se desmanchar e rolar colina abaixo. “Alguém por favor quer me dizer como isso aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa errada numa vida passada? Não mereço isso. Nenhum de nós merece.” Lucy e McGovern me ouvem desabafar. Elas parecem ter seus próprios planos e idéias, mas não estão inclinadas a apresentá-los imediatamente. “Bem, digam alguma coisa”, peço a elas. “Vão em frente e ponham tudo para fora.” Basicamente, falo isso em benefício de minha sobrinha. “Minha vida está arruinada. Não lidei com nada como deveria. Sinto muito.” As lágrimas ameaçam. “Agora quero um cigarro. Alguém tem um cigarro?” Marino tem, mas está na cozinha, ao telefone, e de jeito nenhum vou rastejar até lá e interrompê-lo por causa de um cigarro, como se realmente precisasse de um. “Sabem, o que me machuca mais é ser acusada da própria coisa que combato tanto. Não abuso do poder, droga. Eu nunca assassinaria ninguém a sangue-frio.” Falo sem parar. “Odeio a morte. Odeio assassinatos. Odeio cada coisa que vejo todo dia. E agora o mundo acha que eu fiz algo assim? Um grande júri especial acha que talvez eu tenha feito?” Deixo as perguntas no ar. Nem Lucy nem McGovern respondem. Marino fala alto. Sua voz é musculosa e grande como ele, e tende mais a empurrar do que a guiar, mais a confrontar do que a acompanhar. “Você tem certeza de que ela é namorada dele?”, ele diz ao telefone. Presumo que está falando com o detetive Stanfield. “E não só amiga? Me diga como você têm certeza disso. É, é. Sim, sim. O quê? Se entendi? Claro que não entendi. Não faz o menor sentido, Stanfield.” Marino caminha pela cozinha enquanto fala. Está
prestes a gritar com Stanfield. “Você sabe o que digo a pessoas como você, Stanfield?” Ele estoura. “Digo para elas saírem da porra do meu caminho. Não dou a mínima para quem a porra do seu cunhado é, entendeu? Nem que ele lamba meu saco, bote ele na cama e cante uma canção de ninar para ele.” Stanfield está obviamente tentando dizer alguma coisa, mas Marino não deixa. “Puxa”, McGovern murmura, chamando a minha atenção de volta para a sala, para minha difícil situação. “Ele é o investigador desses dois homens que foram provavelmente torturados e mortos? A pessoa com quem Marino está falando?”, ela pergunta. Olho de um modo estranho para ela enquanto sinto uma sensação mais estranha ainda. “Como você sabe sobre os dois homens que foram mortos?” Tateio tentando encontrar uma resposta que devo ter perdido. McGovern esteve em Nova York. Ainda não fiz a autópsia do segundo John Doe. Por que de repente todo mundo parece ser onisciente? Penso em Jaime Berger. Penso no governador Mitchell, no deputado Dinwiddie e em Anna. Um sopro forte de medo parece contaminar o ar como o cheiro de suor de Chandonne, e imagino que o sinto de novo, e meu sistema nervoso central tem uma reação involuntária. Começo a tremer como se tivesse bebido um bule de café forte ou meia dúzia desses espressos cubanos muito açucarados chamados coladas. Percebo que estou com mais medo do que já tive em toda a minha vida e começo a pensar o impensável: talvez Chandonne estivesse fornecendo um traço de verdade quando persistiu em sua declaração aparentemente absurda de que é vítima de uma enorme conspiração política. Estou paranóica, e isso é justificável. Tento argumentar comigo. Estou, afinal, sendo investigada pelo assassinato de uma policial corrupta que provavelmente estava envolvida com o crime organizado. Percebo que Lucy está falando comigo. Ela se levantou de seu lugar na frente da lareira e está puxando uma cadeira para perto de mim. Senta-se e se inclina em minha direção, tocando em meu braço bom, como se tentasse me acordar. “Tia Kay?”, ela diz. “Você está aqui, tia Kay? Está ouvindo?” Eu me concentro nela. Marino está dizendo a Stanfield que eles vão se encontrar amanhã de manhã. Parece mais uma ameaça. “Ele e eu nos encontramos no Phil’s para tomar uma cerveja”, diz Lucy. Ela olha para a cozinha e eu me lembro de Marino me contar hoje de manhã que ele e Lucy iam se ver à tarde porque ela tinha novidades para ele. “Sabemos sobre o cara do motel.” Agora ela se refere a McGovern, que está muito silenciosa ao pé da lareira, me olhando, esperando para ver como vou reagir quando Lucy me contar o resto. “Teun está aqui desde sábado”, diz então Lucy. “Quando liguei para você do Jefferson, lembra? Teun estava comigo. Pedi a ela para vir imediatamente para cá.” “Oh”, é tudo que consigo dizer. “Bem, isso é bom. Fiquei preocupada de pensar que você estava sozinha em um hotel.” As lágrimas me enchem os olhos. Estou constrangida e desvio o olhar de Lucy e McGovern. Devo ser forte. Sou a pessoa que sempre salvou minha sobrinha dos problemas, a maioria deles criado por ela própria. Sempre fui a portadora do archote que a guiou pelo caminho. Eu a pus na faculdade. Comprei livros para ela, seu primeiro computador, mandei-a para todos os cursos especiais que ela queria freqüentar, em todos os lugares do
país. Levei-a a Londres comigo no verão. Enfrentei qualquer pessoa que tentasse se opor a Lucy, inclusive sua mãe, que retribuiu meus esforços com nada além de abuso. “Você deve me respeitar”, digo a minha sobrinha enquanto enxugo as lágrimas com a palma da mão. “Como você vai me respeitar agora?” Ela se levanta outra vez e olha para mim. “Isso é um completo absurdo”, diz com sentimento, e agora Marino está voltando para a sala, com outro bourbon na mão. “Isso não tem nada a ver com eu respeitar você”, diz Lucy. “Porra. Ninguém nesta sala respeita menos você, tia Kay. Mas você precisa de ajuda. Pelo menos uma vez, você tem de permitir que outras pessoas a ajudem. Com toda certeza você não consegue lidar com isso sozinha, e talvez precise engolir um pouco o seu orgulho e nos deixar ajudar, sabe? Eu não tenho mais dez anos. Tenho vinte e oito, certo? Não sou virgem. Fui agente do FBI, agente do ATF e sou podre de rica. Eu poderia ser qualquer tipo de agente que quisesse.” Suas feridas se inflamam diante de meus olhos. Ela realmente se preocupa em ser posta em licença administrativa; claro que se preocupa. “E agora vou ser minha própria agente, fazer as coisas do meu jeito”, ela prossegue. “Eu me demiti esta noite”, digo a ela. Segue-se um silêncio atordoante. “O que você disse?”, Marino me pergunta, parado diante da lareira, bebendo. “Você fez o quê?” “Eu contei ao governador”, respondo, e uma calma inexplicável começa a tomar conta de mim. Parece bom considerar que fiz algo em vez de tudo ser feito a mim. Talvez me demitir do emprego me torne menos vítima, como se eu estivesse disposta a finalmente admitir que sou uma vítima. Suponho que sou, e a única reação inteligente é terminar o que Chandonne começou: terminar minha vida tal como a conheci até agora e começar tudo de novo. Que pensamento esquisito e chocante. Conto a Marino, McGovern e Lucy toda a minha conversa com Mike Mitchell. “Espere aí.” Marino está sentado na lareira. Já é perto de meia-noite e Anna está tão quieta que esqueci por um momento que ela está na casa. Talvez tenha ido dormir. “Isso significa que você não pode mais trabalhar nos casos?”, Marino me diz. “De jeito nenhum”, respondo. “Vou continuar como chefe interina até que o governador decida de outra forma.” Ninguém pergunta o que planejo fazer com o resto de minha vida. Realmente não faz sentido se preocupar com o futuro distante quando o presente está destruído. Sou grata por não me perguntarem e provavelmente estou enviando meus sinais costumeiros de que não quero que me perguntem. As pessoas sentem quando devem permanecer em silêncio, ou, no mínimo, eu desvio o interesse delas e elas nem sequer percebem que acabei de manipulá-las para não sondarem informações que prefiro não revelar. Torneime uma especialista nessa manobra desde muito jovem, quando não queria que minhas colegas de classe me perguntassem sobre meu pai, se ele estava doente, ou se ia algum dia melhorar, ou como é ver o pai da gente morrer. Fui condicionada a não contar, e também a não perguntar. Os últimos três anos da vida de meu pai foram passados em absoluta evitação por toda a minha família, inclusive ele, especialmente ele. Ele se parecia bastante com Marino, ambos machos italianos que parecem supor que seus corpos nunca os abandonarão, não
importa quão doentes ou fora de forma estejam. Visualizo meu pai enquanto Lucy, Marino e McGovern falam sobre o que planejam fazer ou já estão fazendo para me ajudar, inclusive checagem de informações que já estão fazendo e todos os tipos de coisas que A Última Delegacia tem a me oferecer. Realmente não ouço. As vozes deles podem muito bem ser um grasnar de corvos enquanto me lembro da grama grossa da Miami de minha infância, de cascas de percevejo morto e do limoeiro em meu pequeno quintal. Meu pai me ensinou a quebrar cocos na entrada para carros com um martelo e uma chave de fenda, e eu passava um tempo enorme tirando a polpuda e doce carne branca da concha dura e peluda, e ele se divertia muito observando meus esforços obsessivos. A carne do coco ia para a geladeira branca atarracada, e ninguém, inclusive eu, jamais a comia. Durante os escaldantes sábados do verão, meu pai de vez em quando surpreendia a mim e a minha irmã trazendo para casa dois blocos grandes de gelo do armazém da vizinhança. Nós tínhamos uma pequena piscina inflável que enchíamos com a mangueira, e eu e Dorothy sentávamos no gelo, sendo queimadas pelo sol enquanto congelávamos nossos traseiros. Pulávamos para dentro e para fora da piscina para descongelar, depois nos empoleirávamos de novo em nossos tronos frios e escorregadios, como princesas, e meu pai ria de nós na janela da sala, ria hilariamente e batia no vidro, enquanto Fats Waller tocava a toda no hi-fi. Meu pai era um homem bom. Quando se sentia mais ou menos bem ele era generoso, atencioso e cheio de humor e alegria. Antes de ser devastado pelo câncer, era bonito, de estatura média, louro e de ombros largos. Seu nome completo era Kay Marcellus Scarpetta III, e ele insistia em que seu primeiro filho tivesse seu nome, que estava na família desde Verona. Não importava que quem nascesse primeiro fosse eu, uma menina. Kay é um desses nomes que podem ser dados a qualquer gênero, mas minha mãe sempre me chamou de Katie. Em parte, segundo ela, era confuso ter dois Kays na casa. Depois, quando isso não era mais um problema porque eu era a única que restara, ela ainda me chamava de Katie, recusando-se a aceitar a morte de meu pai, a superá-la, e até hoje não superou. Ela não vai se separar dele. Meu pai morreu há mais de trinta anos, quando eu tinha doze, e minha mãe jamais saiu com outro homem. Ela ainda usa sua aliança de casamento. Ainda me chama de Katie.
* * *
Lucy e McGovern discutem planos até depois da meia-noite. Não desistiram de tentar me incluir em suas conversas, e não parecem mais sequer notar que em minha mente eu fugi para o passado, olhando para o fogo, massageando de forma ausente minha mão esquerda endurecida e enfiando um dedo debaixo do gesso para coçar minha carne infeliz e com fome de ar. Por fim, Marino boceja como um urso e se levanta. Ele está levemente tonto por causa do bourbon e tem um desagradável cheiro de cigarro, e me olha com uma maciez nos olhos que eu poderia chamar de amor triste, se estivesse disposta a aceitar seus verdadeiros sentimentos por mim. “Venha”, ele me diz. “Me leve
até a caminhonete, doutora.” É seu modo de pedir um acordo entre nós. Marino não é bruto. Está se sentindo mal por causa do modo como tem me tratado desde que quase fui assassinada, e nunca me viu tão distante e tão estranhamente quieta. A noite é fria e calma e as estrelas estão tímidas atrás de nuvens vagas. Da entrada para carros da casa de Anna, capto o brilho de suas muitas velas nas janelas e sou lembrada de que amanhã é véspera de Natal, o último Natal do século XX. As chaves perturbam a paz quando Marino destranca a caminhonete e hesita, constrangido, antes de abrir a porta. “Temos muito a fazer. Encontro você no necrotério amanhã cedo.” Não é isso o que ele realmente quer me dizer. Ele olha para o céu escuro e suspira. “Merda, doutora. Olhe, já faz algum tempo que eu sei, certo? Agora você já sabe disso. Eu sabia o que aquele filho-da-puta do Righter pretendia e tive de deixar a coisa correr.” “Quando você ia me contar?” Não pergunto isso de forma acusadora, simplesmente por curiosidade. Ele dá de ombros. “Estou contente por Anna ter tocado no assunto primeiro. Sei que você não matou Diane Bray, pelo amor de Deus. Mas eu não a culparia se você tivesse feito isso, para falar a verdade. Ela era a maior vaca que já nasceu. No meu livro, se você tivesse feito isso com ela, teria sido em autodefesa.” “Bem, não teria sido.” Encaro a possibilidade a sério. “Não teria sido, Marino. E eu não a matei.” Olho detidamente para sua forma avantajada à luz de lâmpadas de carruagens e luzes de festas nas árvores. “Você nunca pensou realmente...?” Não concluo a pergunta. Talvez na verdade não queira saber a resposta. “Diabo, não tenho certeza do que andei pensando ultimamente”, ele diz. “Essa é a verdade. Mas o que eu vou fazer, doutora?” “Fazer? Sobre o quê?” Não sei o que ele quer dizer. Ele dá de ombros e fica travado. Não posso acreditar. Marino está prestes a chorar. “Se você se demitir.” Sua voz se eleva, e ele pigarreia e procura seus Lucky Strikes. Põe as mãos em concha em volta da minha e acende um cigarro para mim, sua pele áspera contra a minha, os pêlos das costas de seus punhos sussurrando em meu queixo. Ele fuma olhando para o vazio, magoado. “Então o que vai acontecer? Eu vou ter de ir à porra do necrotério e você não vai mais estar lá? Diabo, eu não iria àquele buraco fedorento nem a metade das vezes que vou se não fosse por você estar lá, doutora. Você é a única coisa que dá alguma vida àquela espelunca, sem brincadeira.” Eu o abraço. Não chego nem até seu peito, e sua barriga separa a batida de nossos corações. Ele ergueu suas próprias barreiras nesta vida, e sou dominada por uma imensurável compaixão e necessidade dele. Bato em seu peito largo e informo: “Nós estivemos juntos por muito tempo, Marino. Você ainda não se livrou de mim”
21
Os dentes têm suas próprias histórias para contar. Os hábitos dentários de uma pessoa muitas vezes revelam mais sobre ela do que as jóias ou as roupas de estilistas e podem identificá-la excluindo todas as outras, desde que haja registros pre mortem para comparação. Os dentes me contam sobre a higiene da pessoa, sussurram segredos sobre o uso de drogas, antibióticos na infância, doenças, ferimentos e a importância que a aparência tem para ela. Confessam se seu dentista era um vigarista e cobrou do plano de saúde por um trabalho que nunca foi feito. E me dizem, aliás, se o dentista era competente. Marino me encontra no necrotério na manhã seguinte, antes de o dia clarear. Ele tem na mão as fichas dentárias de um homem de vinte e dois anos, do condado de James City, que saiu para correr ontem perto do campus da William and Mary e não voltou para casa. Seu nome é Mitch Barbosa. A William and Mary fica a apenas alguns quilômetros do Fort James Motel, e quando Marino falou com Stanfield ontem à noite e recebeu essa última informação, meu primeiro pensamento foi “Que estranho”. O astuto advogado filho de Marino, Rocky, estudou na William and Mary. A vida nos oferece mais uma coincidência sinistra. São seis e quarenta e cinco quando empurro o corpo da sala de raios X para minha estação de trabalho na sala de autópsia. Mais uma vez ela está em silêncio. É véspera de Natal e todas as repartições estaduais estão fechadas. Marino está trajado para me assistir, e não espero que nenhuma outra pessoa viva — exceto o dentista forense — apareça aqui agora. A função de Marino será me ajudar a despir o corpo duro e relutante, erguê-lo da mesa de autópsia e colocá-lo nela de volta. Eu nunca permitiria que ele me assistisse em nenhum procedimento médico — não que ele não tenha se oferecido. Nunca pedi nem pedirei a ele para fazer anotações, porque o modo como ele massacra palavras e termos médicos é impressionante. “Segure-o dos dois lados”, oriento Marino. “Bom. Assim mesmo.” Marino agarra os dois lados da cabeça do morto, tentando mantê-lo parado enquanto enfio um cinzel fino na lateral da boca, passando-o entre os molares para forçar a abertura das mandíbulas. O aço arranha o esmalte. Tomo cuidado para não cortar os lábios, mas é inevitável que eu lasque a superfície dos dentes de trás. “É muito bom que as pessoas estejam mortas quando você faz esse tipo de maldade com elas”, diz Marino. “Aposto que você vai ficar contente quando tiver de novo duas mãos.” “Nem me lembre.” Estou tão cheia do meu gesso que pensei em cortá-lo eu mesma com a serra Stryker. As mandíbulas do morto cedem e se abrem, e eu ligo a lâmpada cirúrgica e encho com luz branca o interior de sua boca. Há fibras na língua, e eu as coleto. Marino me ajuda a quebrar o rigor mortis nos braços para que possamos tirar o
blusão e a camisa, e depois tiro sapatos e meias, e finalmente a calça do agasalho de ginástica e o short de corrida. Aplico nele o PERK e não encontro nenhuma evidência de ferimentos no ânus, nada por enquanto que sugira atividade homossexual. O pager de Marino soa. É Stanfield outra vez. Marino não disse uma palavra sobre Rocky esta manhã, mas o espectro dele paira na sala. Rocky está no ar, e o efeito disso sobre seu pai é sutil mas profundo. Uma angústia pesada e sem remédio se irradia de Marino como calor do corpo. Eu devia estar preocupada com o que Rocky me reserva, mas só consigo pensar no que vai acontecer com Marino. Agora que meu paciente está nu diante de mim, capto todo o quadro de quem ele era fisicamente. Mede um metro e setenta de altura e pesa sessenta e seis quilos. Tem pernas musculosas mas pouco desenvolvimento muscular na parte superior do corpo, o que é coerente com um corredor. Não tem tatuagens, é circuncidado e, como sugerem as unhas das mãos e dos pés muito bem-feitas e o rosto bem barbeado, obviamente cuidava da aparência. Por enquanto, não encontro nenhuma evidência de ferimento externo. E as radiografias não revelam nenhum projétil, nenhuma fratura. Ele tem cicatrizes antigas nos joelhos e no cotovelo esquerdo, mas nada recente, exceto as abrasões por ter sido amarrado e amordaçado. O que aconteceu com você? Por que você morreu? Ele permanece em silêncio. Só Marino está falando, em um tom alto e rude, para disfarçar sua perturbação. Ele acha que Stanfield é um bobalhão e o trata como tal. Marino está mais impaciente, mais insultuoso do que o normal. “É, bem, é claro que seria bom se soubéssemos disso”, Marino destila sarcasmo no telefone de parede. “A morte não tira férias”, ele acrescenta um instante depois. “Avise que estou chegando e eles vão me deixar entrar.” Depois: “É, é, é. É a temporada. E Stanford? Mantenha a boca fechada, certo? Entendeu isso? Eu li sobre o caso na porra do jornal mais uma vez... Oh, claro, bom, talvez você ainda não tenha lido o jornal de Richmond. Eu vou recortar o artigo desta manhã para você. Toda essa merda de Jamestown, de crime de ódio. Mais um pio e eu vou perder as estribeiras. Você nunca me viu perder as estribeiras e tenho certeza de que não vai querer ver”. Marino pega luvas novas quando volta para a maca, sua beca adejando em volta das pernas. “Bom, está ficando cada vez mais excêntrico, doutora. Supondo que esse cara seja nosso corredor desaparecido, parece que estamos lidando com um motorista de caminhão comum. Nenhum antecedente. Nenhum problema. Morava em um condomínio com a namorada, que o identificou por foto. Foi com ela que Stanfield falou ontem à noite, aparentemente, mas ela não atendeu o telefone hoje até agora.” Ele me olha confuso, sem saber ao certo quanto já me contou. “Vamos pô-lo na mesa”, digo. Ponho a maca paralela à mesa de autópsia. Marino pega os pés, eu seguro um braço e nós empurramos. O corpo bate contra o aço e o sangue escorre do nariz. Abro a água e ela tamborila na pia de aço, as radiografias da cabeça do morto brilhando em caixas de luz na parede, revelando ossos perfeitamente preservados, os diferentes ângulos do crânio e o zíper do casaco do agasalho de ginástica caído de cada um dos lados das costelas graciosamente curvadas. A
campainha soa na baia enquanto passo um bisturi de ombro a ombro, depois desço até a pélvis, fazendo um pequeno desvio em volta do umbigo. Observo a imagem do dr. Sam Terry na TV de circuito fechado e empurro um botão com o cotovelo para abrir a porta da baia. Ele é um de nossos odontologistas, ou dentistas forenses, que teve a má sorte de estar de plantão na véspera do Natal. “Estou pensando que deveríamos ir até lá fazer uma visita a ela enquanto estamos na área”, continua Marino. “Peguei o endereço dela, da namorada. Do condomínio onde eles vivem.” Ele olha para o corpo. “Viviam, suponho.” “Você acha que Stanfield consegue manter a boca fechada?” Rebato tecido cortando em staccato com o bisturi, segurando desajeitadamente o fórceps com as pontas dos dedos enluvados de minha mão esquerda, presa no gesso. “Acho. Diz que vai nos encontrar no motel, que eles não estão sendo muito amistosos, reclamando que é véspera de Natal e que não querem mais nenhuma atenção porque essa história já atrapalhou os negócios por lá. Cerca de dez cancelamentos porque as pessoas ouviram falar do caso no noticiário. Tudo isso é bobagem. A maioria das pessoas que ficam naquela espelunca provavelmente não sabe merda nenhuma nem se importa com o que aconteceu aqui.” O dr. Terry entra, com sua gasta maleta preta de dentista na mão, uma beca cirúrgica nova desamarrada nas costas e esvoaçando enquanto ele se dirige ao balcão. É nosso odontologista mais jovem e tem quase dois metros de altura. Diz a lenda que ele poderia ter feito carreira na NBA, mas quis continuar sua formação. A verdade, e ele mesmo conta isso se for perguntado, é que ele era um pivô medíocre na Universidade Estadual da Virgínia, e que o único “tiro” bom que ele já conseguiu foi dado com arma de fogo, que ele só é bom de rebote com mulheres, e que só foi para a odontologia porque não conseguiu ingressar na faculdade de medicina. Terry queria desesperadamente ser patologista forense. O que ele está fazendo, basicamente como voluntário, é o mais próximo que jamais vai conseguir chegar disso. “Obrigada, obrigada”, digo enquanto ele começa a arrumar sua papelada em uma prancheta. “Você é um homem bom por vir nos ajudar nesta manhã, Sam.” Ele dá um sorriso largo, depois vira a cabeça para Marino e diz com seu mais exagerado sotaque de New Jersey: “Como cê tá, Marino?”. “Você já viu Como o Grinch roubou o Natal ? Porque, se não viu, basta ficar um tempo comigo. Estou a fim de tomar de volta os brinquedos das crianças e bater no traseiro das mamães delas quando for subir a chaminé.” “Não tente subir em nenhuma chaminé. Com certeza você vai ficar entalado.” “E você poderia olhar para fora do topo de uma chaminé e ainda ficar com os pés na lareira. Você continua crescendo?” “Não tanto quanto você, cara. Quanto você está pesando agora?” Terry manuseia as fichas dentárias que Marino trouxe. “Bem, isso não vai demorar. Ele tem um segundo pré-molar maxilar girado para a direita, expondo a superfície distal e lingual. Eeee... muitas restaurações. O que diz que esse cara” — ele levanta as fichas — “e o cara que vocês têm são exatamente a mesma pessoa.” “O que você achou de os Rams derrotarem Louisville?”, Marino grita
acima do tamborilar da água corrente. “Você estava lá?” “Não, nem você, Terry, e é por isso que eles ganharam.” “Provavelmente é verdade.” Pego uma faca cirúrgica do carrinho quando o telefone toca. “Sam, você se importa de atender?”, pergunto. Ele anda até o canto, pega o fone e anuncia: “Necrotério”. Corto através das junções de cartilagens costocondrais, removendo um triângulo de costelas esternais e para-esternais. “Espere”, diz Terry à pessoa que está ao telefone. “Doutora Scarpetta? Você pode falar com Benton Wesley?” A sala se torna um vácuo que suga toda luz e todo som. Eu congelo, vidrada, atônita, a faca cirúrgica de aço pousada em minha mão direita ensangüentada e enluvada. “Que porra é essa?”, Marino explode. Ele caminha até Terry e tira o fone da mão dele. “Quem diabo está falando?”, ele grita no bocal. “Merda.” Marino põe o fone de volta na base. Obviamente, a pessoa desligou. Terry parece chocado. Ele não tem a mínima idéia do que aconteceu. Não me conhece há muito tempo. Não há nenhum motivo para ele saber sobre Benton, a menos que alguém mais tenha lhe contado, e aparentemente ninguém contou. “O que exatamente a pessoa lhe disse?”, Marino pergunta a ele. “Espero não ter feito nada errado.” “Não, não”, consigo dizer. “Você não fez”, tranqüilizo-o. “Um homem”, ele responde. “Só disse que queria falar com você e que o nome dele era Benton Wesley.” Marino pega de novo o fone, e pragueja e se enfurece porque não há identificador de chamadas. Nunca precisamos de um identificador no necrotério. Ele pressiona várias teclas e ouve. Anota um número e o digita. “É. Quem é?”, ele pergunta a quem quer que tenha atendido. “Onde? O.k. Você viu mais alguém usando esse telefone há apenas um minuto? Esse em que você está falando. É, é. É, bom, não acredito em você, seu babaca.” Marino repõe o fone com força na base. “Você acha que é a mesma pessoa que acabou de ligar?”, Terry pergunta a ele, confuso. “O que você fez, apertou estrela-seis-nove?” “Um telefone público. No posto Texaco de Midlothian Turnpike. Supostamente. Não sei se é a mesma pessoa que ligou. Como era a voz dele?”, Marino crava o olhar em Terry. “Ele me pareceu meio jovem. Acho. Não sei. Quem é Benton Wesley?” “Ele está morto.” Pego o bisturi, deixo cair a ponta numa tábua de cortar, ponho uma lâmina nova e jogo a velha em um contêiner de plástico verde brilhante, para material de risco biológico. “Era um amigo. Um amigo íntimo.” “Algum delinqüente fazendo uma piada mórbida. Como alguém saberia o número daqui?” Marino está perturbado. Furioso. Quer descobrir quem ligou e bater nele. E está considerando a possibilidade de que seu filho maléfico possa estar por trás disso. Posso ler nos olhos dele. Ele está pensando em Rocky. “Na seção dos órgãos do governo estadual, na lista telefônica.” Começo a cortar vasos sangüíneos, rompendo a carótida na parte de baixo do ápex, depois
descendo até as artérias ilíacas e as veias da pélvis. “Não me diga que está escrito necrotério na maldita lista telefônica.” Marino começa outra vez sua velha rotina. Está me culpando. “Acho que está listado em informações sobre funerais.” Corto o fino músculo chato do diafragma, soltando o bloco de órgãos, liberando-o da coluna vertebral. Pulmões, fígado, coração, rins e baço emitem diferentes tons de vermelho quando ponho o bloco na tábua de cortar e lavo o sangue devagar com água fria da mangueira. Percebo hemorragias petequiais, áreas escuras de sangramento não maiores do que furos de alfinete, espalhadas sobre o coração e os pulmões. Associo isso com pessoas que tiveram dificuldade de respirar na hora da morte ou pouco antes dela. Terry leva sua maleta preta para minha estação de trabalho e a põe sobre o carrinho cirúrgico. Tira dela um espelho dentário e examina o interior da boca do morto. Trabalhamos em silêncio, sob a intensa pressão do que acaba de acontecer. Pego uma faca maior e corto secções de órgãos, fatiando o coração. As artérias coronárias estão abertas e limpas, o ventrículo esquerdo tem um centímetro de largura, as válvulas estão normais. Além de pequenos veios de gordura na aorta, o coração e os vasos são saudáveis. A única coisa errada com ele é a óbvia: parou de funcionar. Por alguma razão, o coração desse homem parou. Não encontro explicação em nenhum lugar onde olhe. “Como eu disse, este é fácil”, diz Terry, enquanto faz anotações em um gráfico. Sua voz é nervosa. Ele desejaria nunca ter atendido o telefone. “É o nosso cara?”, pergunto a ele. “Com certeza.” As artérias carótidas correm como trilhos no pescoço. Entre elas estão a língua e os músculos do pescoço, que dobro para baixo e retiro para que possa examiná-los detalhadamente na tábua de cortar. Não há hemorragias no tecido profundo. O pequeno e frágil osso hióide em forma de U está intacto. Ele não foi estrangulado. Quando rebato o couro cabeludo, não encontro nenhuma contusão ou fratura embaixo. Ligo uma serra Stryker na tomada do carretel de fio suspenso e percebo que preciso de mais de uma mão. Terry me ajuda a firmar a cabeça enquanto penetro o crânio com a lâmina semicircular, que vibra e geme. O pó de osso quente se espalha pelo ar, e o topo do crânio se destaca com um som macio de sucção, revelando o horizonte convoluto do cérebro. Num exame grosseiro, não há nada de errado com ele. Fatias com aspecto de ágata cor de creme e bordas cinzentas franzidas brilham enquanto as lavo na tábua de cortar. Vou guardar o cérebro e o coração para estudos especiais, fixando-os em formalina e enviando-os à Faculdade de Medicina da Virgínia. Meu diagnóstico esta manhã é de exclusão. Não tendo encontrado nenhuma causa patológica óbvia da morte, fico com aquela que se baseia em sussurros. Pequenas hemorragias no coração e nos pulmões e queimaduras de abrasões de amarração sugerem que Mitch Barbosa morreu de arritmia induzida por estresse. Também postulo que em algum momento ele prendeu a respiração ou suas vias aéreas foram obstruídas — ou por alguma razão sua respiração foi comprometida a ponto de ele ter sido parcialmente asfixiado. Talvez a responsável tenha sido a mordaça, que teria ficado encharcada de saliva. Seja
qual for a verdade, estou obtendo um quadro que é simples e horripilante e exige demonstração. Terry e Marino estão disponíveis. Primeiro corto vários pedaços do barbante branco grosso que usamos rotineiramente para suturar incisões em Y. Digo a Marino para enrolar as mangas de sua beca cirúrgica e levantar as mãos. Amarro um segmento de barbante em volta de um pulso e um segundo em volta do outro, não muito apertados mas justos. Instruo-o a manter os braços no ar e oriento Terry a segurar as pontas do barbante e puxar para cima. Terry é alto o suficiente para fazer isso sem precisar de uma cadeira ou um banquinho. Os barbantes imediatamente afundam na pele do lado de baixo dos pulsos de Marino e são angulados para cima em direção aos nós. Tentamos isso em diferentes posições, com variações dos braços muito próximos e espalhados em estilo de crucificação. É claro que os pés de Marino permanecem firmes no chão. Em nenhum caso ele está pendurado ou mesmo oscilando. “O peso de um corpo sobre braços esticados interfere na exalação”, explico. “A pessoa consegue inalar, mas é difícil exalar porque os músculos intercostais estão comprometidos. Se isso acontecesse por um período de tempo suficiente, levaria à asfixia. Some-se a isso o choque da dor da tortura, o medo e o pânico, e a pessoa poderia certamente sofrer uma arritmia.” “E o sangramento no nariz?” Marino estica os pulsos e eu examino os sulcos que o barbante deixou em sua pele. Eles são ondulados para cima de forma semelhante aos do morto. “Aumento da pressão intracraniana”, digo. “Quando se prende a respiração, pode haver sangramentos no nariz. Na ausência de ferimento, esse é um bom palpite.” “Minha pergunta é: alguém pretendia matá-lo?”, diz Terry. “A maioria das pessoas não amarra alguém e o tortura e depois o deixa ir embora para contar a história”, respondo. “Vou deixar em suspenso a causa e a maneira por enquanto, até que vejamos o que a toxicologia tem a dizer.” Meu olhar encontra o de Marino. “Mas creio que é melhor você tratar isso como homicídio, e um homicídio muito horroroso.” Contemplamos essa possibilidade enquanto vamos para o condado de James City. Marino queria pegar sua caminhonete, e eu sugeri que seguíssemos para oeste pela rodovia 5, ao longo do rio, passando pelo condado de Charles City, onde fazendas do século XVII se espalham a partir da estrada em vastos campos incultos que levam às impressionantes mansões de tijolo com construções anexas de Sherwood Forest, Westover, Berkeley, Shirley e Belle Air. Não há nenhum ônibus de turismo à vista, nenhum caminhão de carga, nem trabalho de manutanção na estrada, e as lojas estão fechadas. É véspera de Natal. O sol brilha através de arcos infindáveis de velhas árvores, sombras salpicam o pavimento, e numa placa o Urso Smokey pede ajuda, em uma parte graciosa do mundo onde dois homens morreram barbaramente. Não parece que algo tão hediondo poderia acontecer aqui, até chegarmos ao Fort James Motel and Campground. Escondido no bosque à margem da rodovia 5, ele é uma confusão de cabanas, trailers e construções enferrujadas e com a pintura descascada, o que me faz lembrar do complexo de Hogans’s Alley, uma área de
treinamento na academia do FBI: fachadas construídas com material barato onde pessoas de reputação duvidosa estão prestes a ser apanhadas pela lei. O escritório da administração fica numa pequena casa com estrutura de madeira dominada por pinheiros cerrados que atapetaram de folhas marrons o teto e a terra. Na frente, máquinas de refrigerante e de gelo brilham em meio a arbustos não podados. Bicicletas de criança gastas repousam sobre folhas, e velhos balanços e gangorras não inspiram confiança. Uma cachorra mestiça com a barriga arqueada de prenhez crônica se ergue e olha para nós da varanda inclinada. “Pensei que Stanfield ia nos encontrar aqui.” Abro minha porta. “Imagine.” Marino salta da caminhonete, seus olhos se movendo por todos os lugares. Um véu de fumaça sai da chaminé e é carregado quase horizontalmente pelo vento, e através de uma janela capto luzes de Natal vistosas e piscantes. Sinto que nos olham. Uma cortina se move, e o som abafado de uma televisão vem do fundo da casa, enquanto esperamos na varanda e a cachorra fareja minha mão e me lambe. Marino anuncia nossa chegada batendo com o punho na porta, e finalmente grita: “Alguém em casa? Ei!”. Ele bate com mais força. “Polícia!” “Estou indo, estou indo”, diz, impaciente, uma mulher. Um rosto duro e cansado enche o vão da porta aberta, a corrente contra ladrão ainda presa e esticada. “Você é a senhora Kiffin?”, Marino pergunta a ela. “Quem é você?”, ela pergunta de volta. “Capitão Marino, Departamento de Polícia de Richmond. Esta é a doutora Scarpetta.” “Para que você trouxe uma médica?” Franzindo o cenho, ela olha para mim de sua fresta sombreada. Há uma agitação a seus pés, e uma criança olha para nós e sorri com cara de levada. “Zack, volte para dentro.” Pequenos braços nus e mãos com unhas sujas abraçam os joelhos da mamãe. Ela o sacode. “Vai!” Ele a solta e vai embora. “Vamos precisar que você nos mostre o quarto onde houve o incêndio”, Marino diz a ela. “O detetive Stanfield do condado de James City devia estar aqui. Você o viu?” “Ninguém da polícia esteve aqui hoje.” Ela bate a porta e a corrente contra ladrão tilinta quando ela a remove, depois a porta se abre de novo, totalmente dessa vez, e ela sai para a varanda, enfiando os braços nas mangas de um casaco de lenhador xadrez vermelho, com um chaveiro balançando na mão. Ela grita para dentro da casa: “Cês todos ficam! Zack, não mexa na massa de biscoito! Eu já volto”. Ela fecha a porta. “Nunca vi ninguém gostar tanto de massa de biscoito como esse garoto”, ela nos conta enquanto descemos a escada. “Às vezes eu compro a pré-pronta em rolo, e um dia pego Zack comendo uma, o papel tirado como casca de banana. Já tinha comido metade dela quando o peguei. Eu disse a ele, sabe o que tem nisso? Ovos podres, é isso que tem.” Bev Kiffin provavelmente não tem mais de quarenta e cinco anos, e sua beleza é dura e vulgar como cafés de paradas de caminhão e lanchonetes que
ficam abertas de madrugada. O cabelo é tingido de louro bem claro e encaracolado como o de um poodle, suas covinhas são profundas, seu talhe está bem avançado a caminho da matronice. Ela tem um ar defensivo e obstinado que associo a pessoas acostumadas a ser usadas e ter problemas. Eu também diria que ela é astuta. Estou propensa a desconfiar de cada palavra que ela diz. “Não quero problemas aqui”, ela nos informa. “Como se eu já não tivesse o bastante acontecendo, especialmente nesta época do ano”, diz enquanto caminha. “Todas essas pessoas que têm vindo aqui, de manhã, ao meio-dia e à noite, para ficar olhando embasbacadas e tirar fotos.” “Que pessoas?”, pergunta Marino. “Só pessoas em carros, parando na entrada dos carros, olhando. Algumas delas saindo e espiando em volta. A noite passada eu acordei quando alguém entrou com o carro. Eram duas da manhã.” Marino acende um cigarro. Seguimos Kiffin através da sombra de pinheiros por uma trilha com vegetação crescida coberta de neve revolvida e passamos por velhos trailers que parecem barcos sem condições de navegar. Perto de uma mesa de piquenique há um amontoado de pertences que à primeira vista parece lixo de um acampamento que alguém não limpou. Mas então vejo o inesperado: uma estranha coleção de brinquedos, bonecas, livros de cartolina, lençóis, dois travesseiros, um cobertor, um carrinho de bebê duplo — coisas que estão encharcadas e sujas não porque sejam imprestáveis e tenham sido deliberadamente jogadas fora, mas porque foram expostas inadvertidamente aos elementos. Espalhados por toda parte há pedaços de embalagens de plástico que instantaneamente ligo ao fragmento que encontrei aderido às costas queimadas da primeira vítima. São brancos, azuis e laranja brilhante e estão rasgados em tiras estreitas, como se quem fez isso tivesse um hábito nervoso de despedaçar coisas. “Alguém com certeza saiu com pressa”, comenta Marino. Kiffin me observa. “Será que saíram sem pagar a conta?”, diz Marino. “Ah, não.” Ela parece ter pressa de ir para o pequeno motel vistoso que aparece entre as árvores à frente. “Eles pagaram adiantado, como todo mundo. Uma família com dois garotos que ficou numa barraca, e de repente eles se mandaram. Não sei por que deixaram tudo isso. Uma parte, como o carrinho de bebê, é muito boa. É claro que depois nevou em tudo.” Uma rajada de vento espalha vários pedaços de embalagem como confetes. Chego mais perto e cutuco com o pé um travesseiro, virando-o. Um odor ácido pungente sobe até minhas narinas quando me agacho e olho mais de perto. Aderido ao lado de baixo do travesseiro há cabelo — longo, claro, muito fino, sem pigmentação. Meu coração emite um baque surdo, como a batida repentina e inesperada de um bumbo. Afasto com o dedo os pedaços de embalagem. O material plastificado é flexível mas duro, portanto não se rasga facilmente, a menos que se comece numa borda ranhurada onde a embalagem foi colada a quente. Alguns dos fragmentos são grandes e facilmente reconhecíveis como provenientes de embalagens de barras de amendoim caramelado PayDay. Posso até divisar o endereço do website da Hershey’s
Chocolate. Mais cabelo no lençol, curto, escuro, pêlo púbico. E mais vários cabelos longos e claros. “Barrinhas PayDay”, digo a Marino. Olho para Kiffin enquanto abro minha sacola. “Sabe de alguém por aqui que come muitas barrinhas PayDay e rasga as embalagens?” “Bom, não veio da minha casa.” Como se a tivéssemos acusado, ou talvez Zack e seus doces dentinhos. Não levo minha maleta de cena do crime para cenas onde não há corpos. Mas sempre tenho um kit de emergência em minha sacola, um saco de freezer grosso cheio de luvas descartáveis, sacos para evidências, cotonetes, um frasquinho de água destilada e kits de resíduo de disparo (GSR), entre outros itens. Removo a tampa de um kit GSR. Não é nada além de uma tirinha de plástico transparente com a ponta colante, e eu a uso para coletar três fios de cabelo do travesseiro e duas do cobertor. Guardo tudo, selado, dentro de um pequeno saco para evidências de plástico transparente. “Desculpe eu perguntar”, Kiffin me diz. “Para que você está fazendo isso?” “Acho que vou simplesmente ensacar todo esse lixo, esta área inteira, e levar para o laboratório.” Marino está de repente contido, calmo como um jogador de pôquer experiente. Ele sabe como lidar com Kiffin, e agora ela precisa ser manejada, porque ele também sabe muito bem que pessoas hipertricóticas têm um singular cabelo fino, sem pigmentos e rudimentar, como o de um bebê. Só que cabelo de bebê não tem quinze ou dezesseis centímetros, como o cabelo que Chandonne espalhou em suas cenas de crime. É possível que Jean-Baptiste Chandonne tenha estado neste acampamento. “Você administra este lugar sozinha?”, Marino pergunta a Kiffin. “Totalmente.” “Quando a família que estava na barraca saiu? O tempo não está muito bom para acampar.” “Eles estiveram aqui pouco antes de nevar. No final da semana passada.” “Você descobriu por que eles saíram tão depressa?”, Marino continua a sondar em seu tom calmo. “Não ouvi nada deles, nem uma palavra.” “Vamos precisar dar uma olhada melhor em tudo que eles deixaram.” Kiffin sopra em suas mãos nuas para aquecê-las e se abraça, virando-se de costas para o vento. Ela olha para sua casa e quase se pode vê-la contemplando que tipo de problema a vida reserva a ela e a sua família desta vez. Marino me faz sinal para segui-lo. “Espere aqui”, diz ele a Kiffin. “Já voltamos. Vou só pegar uma coisa na minha caminhonete. Não toque em nada, certo?” Ela nos observa enquanto andamos. Marino e eu falamos em voz baixa. Horas antes de Chandonne aparecer na porta da frente da minha casa, Marino tinha saído com a equipe de resposta para procurá-lo, e eles descobriram onde ele estava escondido em Richmond, numa mansão que passava por uma grande reforma à beira do rio James, muito perto do meu bairro. Como ele raramente saía durante o dia, supomos, seus movimentos não foram detectados quando ele se escondeu na casa e se serviu do que havia lá. Até este momento, nunca
ocorreu a nenhum de nós que Chandonne poderia ter estado em algum outro lugar. “Você acha que ele assustou quem estava na barraca para poder usá-la?” Marino destranca a caminhonete e procura na parte de trás da cabine, onde eu sei, por exemplo, que ele mantém uma espingarda de repetição. “Porque eu tenho de lhe contar, doutora. Uma coisa que percebemos quando entramos naquela casa à margem do rio James foi embalagens de junk food por todos os lugares. Um monte de embalagens de barrinhas.” Ele pega uma caixa de ferramentas vermelha e fecha a porta da caminhonete. “Como se ele tivesse realmente tara por açúcar.” “Você se lembra de que tipo de junk food ?” Eu me lembro de todas as Pepsis que Chandonne tomou enquanto Berger o entrevistava. “Barrinhas de cereais. Não me lembro se eram PayDays. Mas eram doces. Amendoins. Esses sacos pequenos de amendoins Planter’s, e, agora que estou pensando nisso, as embalagens estavam todas rasgadas.” “Minha nossa”, murmuro, e um calafrio me percorre até a medula. “Me pergunto se ele pode ser diabético.” Tento ser clínica, retomar meu equilíbrio. O medo volta como um bando de morcegos. “Que diabo ele estava fazendo aqui?”, diz Marino, e fica olhando na direção de Kiffin, ao longe, certificando-se de que ela não está mexendo em nada em uma área de acampamento que agora passou a fazer parte de uma cena de crime. “E como ele chegou aqui? Talvez ele tivesse um carro.” “Havia algum carro na casa onde ele estava escondido?”, pergunto, enquanto Kiffin observa nossa volta, uma figura solitária envolta em xadrez vermelho, sua respiração emergindo em exalações enfumaçadas. “As pessoas que são donas da mansão não mantinham nenhum carro lá enquanto a obra estava sendo feita”, diz Marino, num tom que Kiffin não pode ouvir. “Talvez ele tenha roubado algum e estacionado em um lugar que não seria notado. Apenas supus que o delinqüente nem sequer sabia dirigir, vendo como ele vivia na masmorra na casa de sua família em Paris.” “Sim. Mais suposições”, murmuro, lembrando-me da afirmação de Chandonne de que dirigia uma dessas motocicletas verdes para limpar as calçadas de Paris, duvidando da história mas agora nem tanto. Voltamos à mesa de piquenique, e Marino deposita a caixa de ferramentas e a abre. Ele tira luvas de trabalho de couro e as calça, depois abre vários sacos de lixo de cinqüenta galões e os segura abertos. Enchemos três sacos, e ele corta um quarto e cobre o carrinho de criança com pedaços de plástico preto e os cola com fita adesiva. Enquanto faz isso, ele explica a Kiffin que é possível que alguém tenha assustado a família que estava na barraca. Sugere que talvez um estranho tenha se apossado deste local, mesmo que apenas por uma noite. Em algum momento ela percebeu alguma coisa fora do comum, por exemplo, um veículo desconhecido na área antes do sábado passado? Ele diz tudo isso como se jamais tivesse lhe ocorrido que ela esconderia a verdade. É claro que sabemos que Chandonne não poderia ter estado aqui depois do sábado. Ele está preso desde então. Kiffin não ajuda. Afirma que não percebeu
nada fora do normal, exceto que no começo de uma manhã ela saiu para pegar lenha para a lareira e notou que a barraca não estava mais lá, mas os pertences da família ainda estavam, ou pelo menos parte deles. Ela não pode jurar, mas, quanto mais Marino a cutuca, mais ela acredita que notou o desaparecimento da barraca por volta de oito da manhã, na sexta-feira passada. Chandonne assassinou Diane Bray na quinta à noite. Será que depois disso ele fugiu para o condado de Jamestown para se esconder? Imagino-o aparecendo na barraca, um casal e seus filhos pequenos lá dentro. Uma olhada para ele, e é crível que eles teriam pulado no carro e saído às pressas sem se preocupar em levar nada. Guardamos os sacos de lixo na traseira da caminhonete. Mais uma vez, Kiffin espera nossa volta, as mãos nos bolsos do casaco, o rosto rosado de frio. O motel fica bem à frente, depois dos pinheiros, uma pequena estrutura branca em formato de caixa, com dois andares e portas pintadas da cor de sempre-vivas. Atrás do motel há mais bosques, depois um riacho que deságua no rio James. “Quantas pessoas há aqui agora?”, Marino pergunta à mulher que dirige essa horrível armadilha para turistas. “Agora? Umas treze, a não ser que mais alguém tenha saído. Muitas pessoas apenas deixam a chave no quarto e só sei que elas foram embora quando vou limpar. Sabe, eu deixei meus cigarros na casa”, diz ela a Marino sem olhar para ele. “Você se importa?” Marino põe a caixa de ferramentas no chão. Saca um cigarro do maço e o acende para ela. O lábio superior de Kiffin fica enrugado como papel crepom quando ela suga a fumaça, inalando profundamente e soprando com um lado da boca. Minha ânsia de fumar é atiçada. Meu cotovelo fraturado se queixa do frio. Não consigo parar de pensar sobre a família na barraca e o horror que deve ter sentido — se for verdade que Chandonne apareceu e que a família existe. Se ele veio direto para cá depois de assassinar Bray, o que aconteceu com suas roupas? Ele devia estar coberto de sangue. Deixou a casa de Bray e veio para cá coberto de sangue e aterrorizou estranhos para saírem da barraca, e ninguém chamou a polícia nem contou nada a ninguém? “Quantas pessoas estavam aqui anteontem, quando começou o incêndio?” Marino pega a caixa de ferramentas e começamos a andar de novo. “Eu sei quantas entraram.” Ela é vaga. “Não sei quem estava aqui. Tinham entrado onze, inclusive ele.” “Inclusive o homem que morreu no incêndio?” É minha vez de fazer perguntas. Kiffin olha para mim. “É isso.” “Me conte sobre a entrada dele”, Marino diz a ela enquanto caminhamos, paramos para olhar em volta e depois continuamos. “Você o viu chegar de carro como nós acabamos de fazer? Me parece que os carros simplesmente param bem na frente de sua casa.” Ela começa a balançar a cabeça. “Não, senhor. Não vi nenhum carro. Houve uma batida na porta e eu a abri. Disse a ele para ir para a porta ao lado, para o escritório, que eu o encontraria lá. Ele tinha boa aparência, bem vestido, não parecia o que normalmente hospedo, isso é claro como o dia.” “Ele lhe disse seu nome?”, pergunta Marino.
“Pagou em dinheiro.” “Então, se uma pessoa paga em dinheiro, você não pede a ela que preencha nada.” “Pode, se quiser. Não precisa. Tenho um bloco de registro que a pessoa pode preencher e então eu destaco o recibo. Ele disse que não precisava de recibo.” “Ele tinha algum sotaque?” “Parecia que ele não era destas bandas.” “Você pode localizar de onde ele parecia ser? Do Norte? Talvez estrangeiro?” Marino insiste enquanto paramos outra vez embaixo dos pinheiros. Ela olha em volta, pensando e fumando enquanto a seguimos ao longo de uma trilha enlameada que leva ao estacionamento do motel. “Não do interior do Sul”, ela conclui. “Mas ele não parecia ser de um país estrangeiro. Sabe, ele não falou muito. Só disse o que tinha de dizer. Fiquei com a impressão, sabe, de que ele estava com pressa e um pouco nervoso, e com certeza ele não era de falar muito.” Isso parece totalmente fabricado. Na verdade, o tom de voz dela muda. “Alguém fica nesses trailers?”, pergunta então Marino. “Eu os alugo. As pessoas não vêm em seus próprios trailers agora. Está fora da temporada de acampamento.” “Alguém os está alugando agora?” “Não. Ninguém.” Na frente do motel, uma cadeira com o estofamento rasgado foi colocada perto de uma máquina de Coca-Cola e de um telefone público. Há vários carros no estacionamento, americanos, não novos. Um Granada, um LTD, um Firebird. Não há nenhum sinal de quem possa ser o dono deles. “Quem vem para cá nesta época do ano?”, pergunto. “Uma mistura”, Kiffin prossegue enquanto cruzamos o estacionamento em direção à extremidade sul do edifício. Examino o asfalto molhado. “Gente com problemas. Tem muito disso nesta época do ano. Pessoas aborrecidas com besteiras, e uma ou outra sai de casa e precisa de um lugar para ficar. Ou pessoas que dirigem longas distâncias para visitar a família e precisam de um lugar para passar a noite. Ou quando o rio transborda, como aconteceu há alguns meses, algumas pessoas vêm aqui porque eu permito animais de estimação. E também hospedo turistas.” “Pessoas que vêm ver Williamsburg e Jamestown?”, pergunto. “Muitas pessoas vêm aqui para ver Jamestown. Isso aumentou muito desde que começaram a cavar os túmulos lá. As pessoas são muito engraçadas.”
22
O quarto 17 fica bem no final do térreo. A fita de cena do crime amarelo brilhante está atravessada ao longo da porta. O lugar é distante, na borda do bosque cerrado que esconde o motel da rodovia 5. Estou especialmente interessada em qualquer vegetação ou restos que haja no asfalto diretamente em frente à porta, onde os bombeiros teriam arrastado o corpo. Noto sujeira, pedaços de folhas mortas e pontas de cigarro. Estou me perguntando se o fragmento de embalagem de barrinha doce que encontrei aderido às costas do homem morto veio de dentro do quarto ou de fora, do estacionamento. Se veio de dentro do quarto, isso pode significar que o assassino o trouxe para cá, ou poderia significar que o assassino caminhou pelo local de acampamento abandonado ou próximo dele em algum momento antes do assassinato, a menos que o pedaço de papel estivesse dentro do quarto por algum tempo, talvez trazido pela própria Kiffin quando veio limpá-lo depois de o último hóspede ter saído. Evidências são enganosas. É preciso sempre considerar sua origem e não tirar conclusões com base em onde elas terminaram. Fibras em um corpo, por exemplo, podem ter sido transferidas do assassino, que as pegou de um tapete onde elas foram depositadas originalmente por alguém que as levou para dentro de uma casa, depois que um terceiro indivíduo as deixou num assento de carro. “Ele pediu um quarto específico?”, pergunto a Kiffin enquanto ela procura as chaves no chaveiro. “Disse que queria algo reservado. O 17 não tinha ninguém de nenhum dos lados nem em cima, então foi por isso que dei a ele. O que aconteceu com seu braço?” “Escorreguei no gelo.” “Ah, isso é muito ruim. Você tem de usar o gesso muito tempo?” “Não muito mais.” “Você sentiu que podia haver mais alguém com ele?”, Marino pergunta a ela. “Não vi mais ninguém.” Ela fala concisamente com Marino, mas é amistosa comigo. Sinto seu olhar em meu rosto com freqüência e tenho a sensação degradante de que ela viu minha foto nos jornais ou na televisão. “Que tipo de médica você disse que era?”, ela me pergunta. “Sou legista.” “Ah.” Ela se anima. “Como o Quincy. Eu adorava aquele seriado. Você se lembra daquele episódio em que ele conseguia dizer tudo sobre uma pessoa só a partir de um osso?” Ela vira a chave na fechadura e abre a porta, e o ar se torna ácido com o fedor sujo do incêndio. “Eu achava aquilo a coisa mais impressionante. Raça, gênero, até o que a pessoa fazia para viver e a altura dela, e exatamente quando e como ela tinha morrido, e tudo só de um osso.” A porta se abre para um cenário escuro e sujo como uma mina de carvão. “Nem posso
dizer quanto isso vai me custar”, Kiffin diz enquanto passamos por ela e entramos no quarto. “O seguro jamais vai cobrir uma coisa como esta. Nunca cobre. Malditas companhias de seguros.” “Vou precisar que você espere do lado de fora”, Marino diz a ela. A única luz é a que entra pela porta aberta, e visualizo a forma da cama de casal. No centro dela há uma cratera onde o colchão queimou até as molas. Marino acende uma lanterna e um longo facho de luz se move pelo quarto, começando pelo closet bem à direita de onde estou, perto da porta. Dois cabides de arame pendem de um varão de madeira. O banheiro fica logo à esquerda da porta, e na parede oposta à cama há um armário. Em cima dele há algo, um livro. Está aberto. Marino caminha para mais perto para iluminar as páginas. “Bíblia de Gideão”, ele diz. A luz se move para a extremidade do quarto, onde há duas cadeiras e uma pequena mesa, depois uma janela e uma porta dos fundos. Marino abre as cortinas e a pálida luz do sol banha o quarto. O único dano provocado pelo fogo que consigo ver está na cama, que queimou e produziu muita fumaça densa. Tudo dentro do quarto está coberto de fuligem, e esse é um presente forense inesperado. “O quarto inteiro foi defumado”, digo em voz alta, maravilhada. “É?” Marino move a lanterna enquanto pego meu celular. Não vejo nenhum evidência de que Stanfield tenha tentado buscar impressões digitais latentes aqui, e não o culpo por isso. A maioria dos investigadores suporia que a fuligem intensa e os danos provocados pela fumaça apagariam impressões digitais, quando de fato o oposto é verdade. O calor e a fuligem tendem a processar impressões latentes, e há um velho método de laboratório chamado defumação usado em objetos não porosos, como metais brilhantes, que tendem a ter um efeito de Teflon quando são aplicados talcos tradicionais. Impressões latentes são de fato transferidas para um objeto porque as superfícies dos sulcos de fricção de dedos e palmas da mão contêm resíduos oleosos. São esses resíduos que terminam em alguma superfície: uma maçaneta, um copo de vidro, o vidro de uma janela. O calor amacia os resíduos, e a fumaça e a fuligem então aderem a eles. Durante o resfriamento os resíduos se tornam fixos ou firmes e a fuligem pode ser gentilmente escovada como talco. Antes que existissem o fumigamento com Super Glue e as fontes de luz alternada, não era incomum conseguir impressões queimando pastilhas alcatroadas, cânfora e magnésio. É bem possível que por baixo da pátina de fuligem neste quarto haja uma galáxia de impressões digitais latentes que já foram processadas para nós. Ligo para a casa do chefe da seção de impressões digitais, Neils Vander, e explico a situação, e ele diz que vai nos encontrar no motel em duas horas. Marino tem outras preocupações, sua atenção está fixada em um ponto acima da cama, que ele focaliza com a lanterna. “Puta merda”, ele murmura. “Doutora, você viu isso?” Ele ilumina dois parafusos com olhais chamuscados, atarrachados no teto de gesso acartonado a uma distância de cerca de noventa centímetros um do outro. “Ei!”, ele chama Kiffin. Ela entra no quarto e olha para onde ele está iluminando. “Você tem alguma idéia de por que esses olhais estão no teto?”, ele pergunta a ela.
Ela tem uma expressão estranha no rosto, e sua voz sobe uma nota, do modo como ela faz quando está sendo evasiva, acho. “Nunca os vi antes. Não imagino como isso aconteceu”, declara. “Quando foi a última vez que você esteve neste quarto?”, Marino pergunta a ela. “Uns dois dias antes de ele se registrar. Quando o limpei depois que a última pessoa saiu, quer dizer, a última pessoa antes dele.” “Então os olhais não estavam aqui?” “Se estavam, não notei.” “Senhora Kiffin, espere lá fora para o caso de termos mais perguntas.” Marino e eu calçamos luvas. Ele abre bem os dedos, e a borracha se estica e estala. A janela ao lado da porta dos fundos dá para uma piscina que está cheia de água suja. Do outro lado da cama há uma pequena televisão Zenith num suporte, com um aviso colado lembrando aos hóspedes para desligarem a TV antes de saírem. O quarto é bem como Stanfield descreveu, mas ele não mencionou a Bíblia de Gideão aberta em cima do armário, nem que à direita da cama, perto do chão, há uma tomada elétrica com dois fios desligados sobre o tapete ao lado dela, uma para o abajur do criado-mudo, a outra para o rádiorelógio. O relógio é antigo. Não é digital. Quando foi desligado, os ponteiros pararam em três e doze da tarde. Marino diz a Kiffin para entrar de novo no quarto. “A que hora você disse que ele entrou?”, ele pergunta. “Ah, perto das três.” Ela está bem embaixo do vão da porta, olhando inexpressivamente para o relógio. “Parece que ele entrou e desligou o relógio e o abajur, não é? Isso é meio estranho, a menos que talvez ele fosse ligar outra coisa e precisasse da tomada. Alguns desses executivos têm esses laptops.” “Você notou se ele tinha um?”, Marino olha para ela. “Não notei que ele tinha nada além do que parecia uma chave de carro e a carteira.” “Você não disse nada sobre uma carteira. Você viu uma carteira?” “Ele a tirou para me pagar. Couro preto, é o que eu lembro. Parecia cara, como tudo o mais que ele tinha. Talvez fosse pele de jacaré ou algo do tipo”, ela aumenta sua história. “Quanto ele pagou em dinheiro e em que tipo de nota?” “Uma nota de cem e quatro de vinte. Ele disse para eu ficar com o troco. O total foi cento e sessenta dólares e setenta centavos.” “Ah, sim. O especial mil seiscentos e sete”, diz Marino numa voz monótona. Ele não gosta de Kiffin. Certamente não confia nem um pouco nela, mas guarda isso para si, manipulando-a como a uma mão de cartas. Se eu não o conhecesse tão bem, até a mim ele enganaria. “Você tem alguma escada aqui?”, ele diz então. Ela hesita. “Bom, acho que sim.” Sai outra vez, e a porta fica aberta. Marino se abaixa para dar uma olhada mais de perto na tomada e nos fios desligados. “Você acha que eles ligaram a pistola de ar quente aqui?” Ele pondera isso em voz alta. “É possível. Se tiver sido uma pistola de ar quente”, lembro a ele. “Eu usei uma para descongelar os encanamentos e para tirar o gelo da
escada da frente de minha casa. Funciona como uma mágica.” Ele olha embaixo da cama com a lanterna. “Nunca tive um caso em que uma delas fosse usada numa pessoa. Porra. Ele deve ter sido amordaçado muito bem para ninguém ouvir nada. Imagino por que eles desligaram as duas coisas, o abajur e o relógio.” “Talvez assim o disjuntor não fosse acionado.” “Numa espelunca como esta, é, talvez. Uma pistola de ar quente provavelmente tem a mesma voltagem de um secador de cabelo. Cento e vinte, cento e vinte e cinco. E um secador de cabelo provavelmente apagaria as luzes numa pocilga como esta.” Vou até o armário e olho para a Bíblia. Está aberta nos capítulos 16 e 17 do Eclesiastes, e as páginas expostas estão cobertas de fuligem, a área do armário sob a Bíblia poupada, indicando que esta era a posição em que ela estava quando o incêndio começou. A questão é se a Bíblia foi aberta assim antes de a vítima entrar, ou, aliás, se estava mesmo no quarto. Meus olhos vagueiam pelas linhas e param no primeiro versículo do capítulo 7. Leio para Marino. Melhor é o bom nome que o melhor ungüento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Digo a ele que essa parte do Eclesiastes é sobre a vaidade. “Meio que bate com essa coisa esquisita, não é?”, ele comenta. De fora vem o som de alumínio raspando, e Kiffin retorna com um surto de ar invernal. Marino pega dela uma escada torta, salpicada de tinta, e a abre. Ele sobe e ilumina os olhais com a lanterna. “Caramba, acho que preciso de óculos novos. Não consigo enxergar nada”, ele diz enquanto seguro a escada. “Quer que eu olhe?”, me ofereço. “Sirva-se.” Ele desce. Pego uma pequena lupa em minha sacola e subo. Ele me passa a lanterna e eu examino os parafusos. Não consigo ver nenhuma fibra. Se há alguma, não vamos conseguir coletá-la aqui. O problema é como preservar um tipo de evidência sem arruinar outro, e há três tipos possíveis de evidência que poderiam estar associados a parafusos com olhal: impressões digitais, fibras e marcas de ferramenta. Se removermos a fuligem para procurar impressões latentes, talvez percamos fibras que poderiam corresponder à tira que pode ter sido enfiada nos parafusos com olhal, os quais também não podemos desparafusar sem correr o risco de introduzir novas marcas de ferramenta, supondo que usemos uma ferramenta como um alicate. A maior ameaça é inadvertidamente erradicar qualquer impressão possível. De fato, as condições e a luz são tão ruins que não deveríamos examinar nada aqui. Tenho uma idéia. “Me dê alguns sacos”, digo a Marino. “E uma fita.” Ele me entrega dois sacos pequenos de plástico transparente. Ponho um deles em volta de cada um dos parafusos e o fecho cuidadosamente com fita, tomando cuidado para não tocar em nenhuma parte do olhal nem do forro. Desço enquanto Marino abre a caixa de ferramentas. “Odeio lhe dizer”, ele se dirige a Kiffin, que se movimenta perto da porta, com as mãos bem enfiadas nos bolsos para se manter aquecida, “mas vou ter de cortar um pedaço do forro.” “Acho que isso não vai fazer muita diferença a esta altura”, ela diz com
resignação, ou será indiferença? “Pode cortar.” Ainda me pergunto por que o fogo não produziu chamas. Estou realmente encafifada com isso. Pergunto a Kiffin que tipo de roupa de cama e protetor de colchão estava na cama. “Bom, eles são verdes”, ela diz, aparentemente segura sobre isso. “A colcha era verde-escura, mais ou menos da cor das portas. Não sabemos o que aconteceu com os lençóis. Eles eram brancos.” “Você tem alguma idéia sobre do que eles eram feitos?”, pergunto. “Tenho certeza que a colcha era de poliéster.” Poliéster é tão combustível que tento sempre me lembrar de não usar materiais sintéticos quando viajo de avião. Se o avião cair e pegar fogo, a última coisa que quero ter encostada em minha pele é poliéster. Seria o mesmo que me encharcar de gasolina. Se havia uma colcha de poliéster quando o incêndio começou, é mais do que provável que o quarto inteiro teria pegado fogo, e depressa. “Onde você comprou os colchões?”, pergunto a ela. Ela hesita. Não quer me contar. “Bom”, finalmente diz o que penso ser a verdade, “os novos são muito caros. Eu uso de segunda mão, quando consigo.” “De onde?” “Bom, daquela prisão que eles fecharam em Richmond há alguns anos”, diz ela. “Spring Street?” “Essa mesmo. Mas eu não peguei nada em que eu mesma não dormiria.” Ela defende seu padrão de cama bem equipada. “Peguei os mais novos que eles tinham.” Isso talvez explique por que o colchão só ficou chamuscado e de fato não pegou fogo. Em hospitais e prisões, os colchões recebem um tratamento com retardante de chamas. Isso também sugere que quem quer que tenha posto fogo não teria tido nenhuma razão para saber que estava tentando queimar um colchão tratado com retardante de chama. E, é claro, o bom senso diria que essa pessoa também não ficou por aqui tempo suficiente para saber se o fogo se alastraria. “Senhora Kiffin”, digo, “há uma Bíblia em todos os quartos?” “A única coisa que o pessoal não rouba.” Ela evita minha pergunta, assumindo outra vez um tom de voz suspeito. “Você sabe por que esta aqui está aberta no Eclesiastes?” “Eu não saio por aí abrindo as Bíblias. Apenas as deixo no armário. Eu não a abri.” Ela hesita, então anuncia: “Ele deve ter sido assassinado, senão não estaria todo mundo se dando a todo esse trabalho”. “Temos de olhar todas as possibilidades”, observa Marino, enquanto sobe outra vez na escada, segurando uma pequena serra de metal que é útil em cenas como esta, porque seus dentes são reforçados e não são angulados. Elas conseguem cortar elementos in situ, no local, tais como molduras de janelas, rodapés, canos ou, neste caso, vigas. “O negócio tem estado difícil”, diz a sra. Kiffin. “Tenho de me virar sozinha, porque meu marido fica o tempo todo na estrada.” “O que seu marido faz?”, pergunto. “É motorista de caminhão da Overland Transfer.”
Marino começa a arrancar chapas do forro em volta de onde estão presos os parafusos com olhal. “Imagino que ele não fique muito em casa”, digo. O lábio inferior dela treme quase imperceptivelmente e seus olhos brilham de medo. “Não preciso de um assassinato. Ah, meu Deus, isso vai me causar um baita problema.” “Doutora, você se importa de segurar a lanterna para mim?” Marino não reage à súbita necessidade que ela tem de simpatia. “Um assassinato machuca muitas pessoas.” Aponto a luz da lanterna para o teto, meu braço bom firmando outra vez a escada. “É um fato triste e injusto, senhora Kiffin.” Marino começa a serrar, e o pó da madeira cai. “Nunca ninguém morreu aqui”, ela continua a se queixar. “É a pior coisa que pode acontecer com um lugar.” “Ei”, Marino graceja com ela, por cima do barulho da serra, “você provavelmente vai conseguir clientes por causa da publicidade.” Ela olha de forma lúgubre para ele. “Por mim, esses tipos podem ficar bem longe daqui.”
Pelas fotos que Stanfield me mostrou, reconheço a área da parede onde o corpo foi encostado e tenho uma idéia geral de onde a roupa foi encontrada. Imagino a vítima nua na cama, com os braços esticados por uma corda passada pelos olhais dos parafusos. Ele poderia estar de joelhos ou até sentado — só parcialmente içado. Mas a posição de crucificação e a mordaça o impediriam de respirar. Está arquejando, lutando para respirar, seu coração palpitando furiosamente de pânico e dor enquanto ele observa alguém ligar a pistola de ar quente na tomada, enquanto ouve o ar soprando quando ela é acionada. Nunca consegui entender o desejo humano de torturar. Conheço a dinâmica, sei que ela tem tudo a ver com controle, o abuso final do poder. Mas não consigo compreender que alguém obtenha satisfação, compensação, e certamente não prazer sexual, de causar dor a qualquer criatura viva. Meu sistema nervoso central se eletriza e se agita, minha pulsação dá socos. Estou suando por baixo do casaco, embora dentro do quarto esteja tão frio que podemos ver nossa respiração. “Senhora Kiffin”, digo enquanto Marino trabalha com a serra, “cinco dias — um pacote executivo? Nesta época do ano?” Paro e vejo a confusão no rosto dela. Ela não está dentro de minha mente. Não vê o que vejo. Não consegue nem começar a imaginar o que estou reconstruindo enquanto estou aqui neste motel barato com seus colchões de prisão de segunda mão. “Por que ele pediria um quarto para cinco dias na semana do Natal?”, quero saber. “Ele disse alguma coisa que possa ter lhe dado uma pista do motivo pelo qual ele estava aqui, do que estava fazendo, de onde era? Além de sua observação de que ele não parecia daqui?” “Eu não pergunto.” Ela observa Marino trabalhando. “Talvez eu devesse. Algumas pessoas falam muito e contam à gente mais do que a gente quer saber. Algumas não querem que a gente se meta nos assuntos delas.”
“Que impressão você teve dele?”, continuo a cutucá-la. “Bom, Mister Peanut não gostou dele.” “Quem diabo é o senhor Peanut?” Marino desce com uma placa do forro presa por um parafuso com olhal a um pedaço de viga de dez centímetros. “Nossa cachorra. Vocês provavelmente a viram quando chegaram. Sei que o nome é engraçado para uma fêmea que já teve tantos filhotes como aquela, mas foi Zack quem pôs. Mister Peanut começou a latir assim que aquele homem apareceu na porta. Nem chegou perto dele, ficou com o pêlo das costas todo arrepiado.” “É possível que sua cachorra estivesse latindo e incomodada porque havia outra pessoa aqui? Alguém que você não viu?”, sugiro. “Pode ser.” Uma segunda placa cai do forro, e a escada se sacode enquanto Marino desce. Ele volta a sua caixa de ferramentas para pegar um rolo de papel para freezer e fita para proteger evidências e começa a embrulhar as placas em pacotes bem-feitos, enquanto eu entro no banheiro e o ilumino com a lanterna. Tudo é branco institucional, o topo do balcão manchado de queimaduras amareladas, provavelmente dos cigarros acesos esquecidos pelos hóspedes enquanto se barbeiam, se maquiam ou ajeitam o cabelo. Vejo mais uma coisa que Stanfield não notou. Um pedaço de fio dental balança dentro da privada. Está preso entre a borda do vaso e o assento. Recolho-o com a mão enluvada. Tem cerca de trinta centímetros, boa parte molhada com a água do vaso, e no meio é vermelho-claro, como se alguém o tivesse passado entre os dentes e as gengivas tivessem sangrado. Como este último achado não está perfeitamente seco, não o guardo em plástico. Coloco-o num quadrado de papel para freezer que dobro em forma de envelope. Provavelmente temos DNA. A questão é: de quem? Marino e eu voltamos à caminhonete à uma e meia, e Mister Peanut sai correndo da casa quando Kiffin dá um puxão na porta da frente para entrar. A cachorra nos segue, latindo. Observo no retrovisor interno quando Kiffin grita com ela. “Venha já para cá!” Ela bate as mãos, irritada. “Venha já!” “Algum babaca faz um intervalo na tortura para passar fio dental?”, começa Marino. “De que diabo estamos tratando aqui? Ou o mais provável é que estivesse pendurado na privada desde o último Natal.” Mister Peanut agora está bem junto à minha porta, a caminhonete dando solavancos no chão sem calçamento que leva através dos bosques à rodovia 5. “Venha já aqui!”, Kiffin berra enquanto desce a escada, batendo palmas com as mãos. “Cachorra danada”, Marino se queixa. “Pare!” Tenho medo de passarmos por cima do pobre animal. Marino mete o pé no freio e a caminhonete dá uma guinada e pára. Mister Peanut pula latindo, sua cabeça aparecendo e sumindo em minha janela. “O que é isso?” Estou desconcertada. A cachorra mal se interessou por nós quando chegamos, faz apenas algumas horas. “Volte aqui!” Kiffin está vindo para cima da cachorra. Atrás dela, um garoto enche o vão da porta, não o que vimos antes, mas um da altura de Kiffin. Saio da caminhonete e Mister Peanut começa a balançar o rabo. Focinha
minha mão. A pobre criatura está suja e cheira mal. Pego-a pela coleira e a empurro na direção de sua família, mas ela não quer sair de perto da caminhonete. “Vamos”, digo a ela. “Vamos levá-la para casa antes que você seja atropelada.” Kiffin chega, lívida. Ela bate com força na cabeça da cachorra. Mister Peanut bale como uma ovelha ferida, o rabo entre as pernas, agachada. “Aprenda a obedecer, está ouvindo?” Kiffin balança o dedo furiosamente para a cachorra. “Para dentro de casa!” Mister Peanut se move furtivamente atrás de mim. “Já!” A cachorra fica atrás de mim, pressionando o corpo trêmulo contra minhas pernas. A pessoa que vi no vão da porta sumiu, mas Zack apareceu na varanda. Está usando um jeans e uma camiseta grandes demais. “Vem cá, Peanut”, ele grita, estalando os dedos. Parece tão apavorado quanto a cachorra. “Zack! Não me obrigue a dizer a você outra vez para manter esse traseiro em casa!”, a mãe de Zack grita com ele. Crueldade. É só sairmos, e a cachorra vai apanhar. E talvez a criança também. Bev Kiffin é uma mulher frustrada e descontrolada. A vida a fez sentirse impotente, e por baixo da pele ela cozinha com mágoa e raiva a injustiça de tudo. Ou talvez ela seja apenas totalmente má, e talvez Mister Peanut esteja correndo atrás da caminhonete porque quer que a levemos, que a salvemos. Essa fantasia se instala em minha mente. “Senhora Kiffin”, digo com a voz calma da autoridade — aquela voz fria que reservo para momentos em que pretendo assustar muito alguém. “Não toque de novo em Mister Peanut, a menos que seja com bondade. Tenho uma coisa especial em relação a pessoas que maltratam animais.” Seu rosto assume um tom sombrio e a raiva cintila. Olho fixo para as pupilas dela. “Há leis contra crueldade com animais, senhora Kiffin”, digo. “E bater em Mister Peanut na frente de seus filhos não é um bom exemplo.” Insinuo que vi uma segunda criança da qual até agora ela não nos falou. Ela se afasta de mim, vira-se e caminha em direção à casa. Mister Peanut fica sentada, olhando para mim. “Vá para casa”, digo a ela, com o coração partido. “Vá, querida. Você precisa ir para casa.” Zack desce os degraus e corre até nós. Pega a cachorra pela coleira, faz cócegas nas orelhas dela, fala com ela. “Seja boazinha, não vá deixar a mamãe louca, Mister Peanut. Por favor”, ele diz, olhando para mim. “Ela só não gosta de ver você levar o carrinho de bebê dela.” Fico chocada, mas não demonstro. Abaixo-me e afago Mister Peanut, tentando ignorar que seu fedor almiscarado ativa outra vez lembranças de Chandonne. A náusea me vira o estômago e me faz salivar. “O carrinho de bebê é dela?”, pergunto a Zack. “Quando ela tem filhotes, eu levo eles para passear nele”, ele me diz. “Por que ele estava na mesa de piquenique, Zack?”, pergunto. “Eu pensei que uns campistas o tinham deixado lá.” Ele balanca a cabeça, afagando Mister Peanut. “Hum, hum. É de Mister
Peanut, não é, Mister Peanut? Eu tenho de ir embora.” Ele se levanta, olhando furtivamente para a porta aberta da casa. “Sabe de uma coisa.” Também me levanto. “Precisamos olhar o carrinho de Mister Peanut, mas quando tivermos terminado prometo que vou trazê-lo de volta.” “Tudo bem.” Ele arrasta a cachorra atrás de si, meio correndo, meio puxando. Olho fixo para eles quando entram na casa e fecham a porta. Fico parada no meio da estrada suja à sombra de pinheiros desgastados, com as mãos no bolso, observando, porque não tenho dúvida de que Bev Kiffin está me observando. Costuma-se chamar isso de significar, tornar sua presença conhecida. Minha missão aqui ainda não terminou. Vou voltar.
23
Seguimos para leste pela rodovia 5. Estou preocupada com o horário. Mesmo que num passe de mágica eu pudesse fazer o helicóptero de Lucy aparecer, nunca chegaria à casa de Anna às duas da tarde. Pego minha carteira e encontro o cartão onde Berger escreveu seu número de telefone. Não há resposta no hotel dela, e deixo uma mensagem para ela me pegar às seis da tarde. Marino está em silêncio quando guardo o celular em minha sacola. Ele olha fixo para a frente, sua caminhonete rugindo alto na estrada estreita e sinuosa. Está processando o que acabei de lhe contar sobre o carrinho de bebê. É claro que Bev Kiffin mentiu para nós. “Tudo aquilo lá, uau”, ele diz finalmente, balançando a cabeça. “Tive uma sensação arrepiante. Como se houvesse um monte de olhos observando tudo que estávamos fazendo. Como se aquele lugar tivesse uma vida própria sobre a qual ninguém sabe nada.” “Ela sabe”, respondo. “Ela sabe de alguma coisa. Isso é óbvio, Marino. Ela fez questão de nos dizer que o carrinho de bebê foi deixado pelas pessoas que abandonaram o acampamento. Contou isso sem fazer nem uma pausa. Queria que acreditássemos nisso. Por quê?” “Essas pessoas não existem, quem quer que supostamente estivesse naquela barraca. Se os cabelos forem de Chandonne, vou ter de pensar que ela o deixou ficar lá, e é por isso que ela se comportou de um jeito tão suspeito.” A visão de Chandonne aparecendo na recepção do hotel e pedindo um lugar para passar a noite provoca um curto-circuito em minha imaginação. Não consigo imaginar isso. Le Loup-garou, como ele se chama, não correria esse risco. Seu modus operandi, pelo que sabemos, não era aparecer na porta de alguém, a menos que ele pretendesse assassinar e dar marretadas nessa pessoa. Pelo que sabemos. Pelo que sabemos, fico pensando. A verdade é que sabemos menos do que sabíamos há duas semanas. “Temos de recomeçar tudo”, digo a Marino. “Definimos alguém sem informações, e agora o que acontece? Cometemos o erro de traçar um perfil dele e depois acreditar em nossa projeção. Bem, há dimensões nele que nos escaparam completamente e, embora ele esteja preso, não está.” Marino saca seus cigarros. “Você entende o que estou dizendo?”, continuo. “Em nossa arrogância, concluímos como ele é. Baseamos isso em evidências científicas e acabamos com o que, na verdade, é uma suposição. Uma caricatura. Ele não é um lobisomem. É um ser humano, e não importa quão mau seja, tem muitas facetas, e agora nós as estamos descobrindo. Diabo, era óbvio no teipe. Por que demoramos tanto a perceber? Não quero que Vander vá àquele motel sozinho.” “Boa sacada.” Marino pega o telefone. “Vou ao motel com ele e você pode levar minha caminhonete para Richmond.” “Havia alguém no vão da porta”, digo. “Você o viu? Ele era grande.”
“Não”, diz ele. “Não vi ninguém. Só o garotinho, como é o nome dele? Zack. E a cachorra.” “Eu vi outra pessoa”, insisto. “Vou verificar isso. Você tem o número do telefone do Vander?” Dou a ele e ele liga. Vander já está a caminho, e sua mulher dá a Marino o número de seu telefone celular. Olho pela janela para empreendimentos residenciais arborizados com grandes casas em estilo colonial situadas longe das ruas. Elegantes decorações de Natal brilham através das árvores. “É, há alguma merda estranha por lá”, Marino está dizendo a Vander ao telefone. “Então o seu criado aqui vai ser seu guarda-costas.” Ele encerra a ligação e nós ficamos em silêncio por um momento. A noite passada parece encher o espaço troante entre nós na caminhonete. “Há quanto tempo você sabe?” Finalmente pergunto outra vez a Marino, nada satisfeita com o que ele me contou na entrada para carros da casa de Anna quando o acompanhei até caminhonete depois da meia-noite. “Quando exatamente Righter lhe contou que estava instigando uma investigação especial do grande júri, e que motivo ele tinha para isso?” “Você ainda não tinha nem terminado a autópsia dela.” Marino acende um cigarro. “Bray ainda estava em sua mesa, para ser mais exato. Highter liga para mim e diz que não quer você envolvida com o exame post-mortem dela, e eu digo a ele: ‘E o que você quer que eu faça? Entre no necrotério e mande ela soltar o bisturi e pôr as mãos para o alto?’. Aquele pateta de merda.” Marino expele a fumaça enquanto meu desânimo se desdobra em uma forma assustadora dentro de meu cérebro. “Foi por isso também que ele não pediu sua permissão para ir bisbilhotar em sua casa”, acrescenta Marino. A parte da bisbilhotice, pelo menos, eu já tinha imaginado. “Ele queria ver se os policiais encontravam alguma coisa.” Ele faz uma pausa para bater a cinza. “Como uma picadeira de entalhar. Especialmente uma que talvez tivesse o sangue de Bray.” “Aquela com que ele tentou me atacar pode muito bem ter o sangue dela”, replico de forma razoável, calma, enquanto sou tomada aos poucos pela ansiedade. “O problema é que a picareta de entalhar com o sangue dela foi encontrada em sua casa”, Marino me lembra desse fato. “Claro que foi. Ele a levou para minha casa para poder usá-la em mim.” “É, e ela tem o sangue de Bray”, Marino continua. “Eles já fizeram exame de DNA. Nunca vi os laboratórios trabalharem tão rápido como agora, e você pode imaginar por quê. O governador está acompanhando tudo que acontece — para o caso de sua legista-chefe acabar se revelando uma assassina sanguinária.” Ele dá uma tragada e olha para mim. “E tem mais uma coisa, doutora. Não sei se Berger mencionou isso a você. Mas sabe a picadeira de entalhar que você diz que comprou na loja de ferramentas? Não foi encontrada.” “O quê?” Fico incrédula, depois furiosa. “Então, a única que estava na sua casa é a que tem sangue de Bray. Uma única picareta. Encontrada na sua casa. E tem sangue de Bray.” Ele expõe seu argumento, não sem alguma relutância.
“Você sabe por que eu comprei aquela picareta”, respondo, como se minha discussão fosse com ele. “Eu queria ver se ela correspondia ao padrão dos ferimentos dela. E ela estava definitivamente na minha casa. Se não estava lá quando vocês mexeram em tudo, então ou vocês não perceberam, ou alguém a pegou.” “Você se lembra do último lugar em que a pôs?” “Eu a usei na cozinha, num frango, para ver que aspecto teriam os ferimentos, e também que tipo de padrão o cabo espiralado produziria se eu pusesse algo nele e o pressionasse contra papel.” “É, sim, nós encontramos frango esmagado no lixo. E uma fronha manchada com molho de churrasco, como se talvez você tivesse embrulhado o cabo nela.” Ele não acha uma experiência como essa estranha. Sabe que faço muitas pesquisas incomuns quando estou tentando imaginar o que aconteceu com alguém. “Mas nenhuma picareta de entalhar. Não encontramos. Nem com molho de churrasco nem sem”, prossegue Marino. “Então eu me pergunto se o babaca do Talley a surrupiou. Talvez você deva falar com Lucy e Teun para botarem a organização secreta delas em cima dele e ver o que descobrem, certo? A primeira grande investigação da Última Delegacia. Para começar, eu gostaria de fazer uma checagem do crédito do desgraçado para ver onde ele consegue todo aquele dinheiro.” Fico olhando para meu relógio, controlando o tempo. O bairro onde Mitch Barbosa morava fica a dez minutos do Fort James Motel. As elegantes casas revestidas com ripas cinza-acastanhadas são novas, e não há nenhuma vegetação, apenas terra nua salpicada de grama muito nova e manchada de neve. Reconheço carros policiais sem marcas de identificação no estacionamento quando entramos, três Ford Crown Victoria e um Chevrolet Lumina estacionados em fila. Não me escapa nem a Marino que dois deles têm placa de Washington. “Que merda”, diz Marino. “Sinto o cheiro dos federais. Puxa vida”, ele me diz quando estacionamos, “isso não é bom.” Percebo um detalhe curioso quando seguimos pelo caminho de tijolos para a casa onde Barbosa vivia com sua suposta namorada. Através de uma janela no andar de cima vejo uma vara de pescar. Está apoiada no vidro, e não sei o que me parece fora de lugar, exceto que esta não é a época do ano em que se pesca, assim como não é a época de acampar. Mais uma vez, penso nas pessoas misteriosas, se não míticas, que fugiram do acampamento, deixando para trás muitas de suas posses. Volto à mentira de Bev Kiffin e sinto que estou mergulhando num espaço aéreo perigoso, onde há forças que não consigo ver nem entender movendo-se em velocidades incríveis. Marino e eu esperamos na porta da frente da casa D, e ele toca outra vez a campainha. O detetive Stanfield responde e nos saúda distraído, olhando para todos os cantos. A tensão entre ele e Marino é como uma parede. “Desculpe eu não ter ido ao motel”, ele anuncia, lacônico, quando se afasta para permitir que entremos. “Surgiu uma coisa. Vocês vão saber em um minuto”, ele promete. Está usando uma calça de veludo cotelê cinza e um suéter de malha grossa, e não me encara. Não sei se ele faz isso porque sabe como me sinto a respeito de ele
ter vazado informações para seu cunhado, o deputado Dinwiddie, ou se há algum outro motivo. Ocorre-me que talvez ele saiba que estou sendo investigada por assassinato. Tento não pensar sobre essa realidade. Não adianta nada eu me preocupar agora. “Estão todos lá em cima”, diz ele, e nós o seguimos. “Todos, quem?”, pergunta Marino. Caminhamos fazendo um ruído surdo no tapete. Stanfield continua a andar. Não se vira nem quando responde, “ATF e FBI”. Percebo fotos emolduradas dispostas na parede à esquerda da escada e paro um momento para examiná-las, reconhecendo Mitch Barbosa rindo com pessoas aparentemente bêbadas em um bar e com a cabeça para fora da janela da cabine de um caminhão de transportes. Em uma das fotos, ele está tomando sol de sunga numa praia tropical, talvez o Havaí. Tem na mão um drinque, brindando à pessoa que está atrás da câmera. Várias outras fotos são com uma bela mulher, talvez a namorada com quem ele vive, imagino. Na metade da escada há um patamar e a janela na qual está encostada a vara de pescar. Paro, e uma sensação estranha sussurra de leve em minha carne quando examino, sem tocar, uma vara de fibra de vidro Shakespeare e um molinete Shimano. Um anzol e pesos estão presos na linha, e no tapete ao lado do cabo da vara está uma pequena caixa de apetrechos de pescar de plástico azul. Ao lado, como se tivessem sido postas ali quando alguém entrou na casa, há duas garrafas de cerveja Rolling Rock vazias, um pacote fechado de charutos Tiparillo e dinheiro trocado. Marino se vira para ver o que estou fazendo. Junto-me a ele no alto da escada e entramos em uma área de estar muito iluminada, decorada de forma atraente com mobília moderna simples e tapetes indianos. “Qual foi a última vez que você foi pescar?”, pergunto a Marino. “Não em água doce”, ele responde. “Não por aqui ultimamente.” “Exatamente.” Sou interceptada por uma percepção de que conheço uma das três pessoas que estão perto da ampla janela da sala. Meu coração salta quando a cabeça escura familiar se vira para mim e de repente dou de cara com Jay Talley. Ele não sorri, e seu olhar é agudo, como se seus olhos tivessem pontas de flecha. Marino emite um ruído pouco audível que parece o gemido de um filhote de animal primitivo. É seu jeito de me informar que Jay é a última pessoa que ele quer ver. Outro homem, de terno e gravata, é jovem e parece hispânico e, quando deposita sua xícara de café na mesa de centro, seu casaco se abre e revela um coldre de ombro com uma pistola de alto calibre. A terceira pessoa é uma mulher. Não tem a aparência devastada e confusa de uma pessoa cujo namorado acaba de ser morto. Está perturbada, sim. Mas suas emoções estão bem contidas por baixo da superfície, e reconheço o brilho em seus olhos e a rigidez de seu maxilar. Vi isso em Lucy, em Marino e em outros que ficam mais do que consternados quando algo de ruim acontece a uma pessoa com quem eles se importam. Policiais. Policiais ficam ofendidos e entram em um modo olho por olho quando algo acontece a um dos seus. A namorada de Mitch Barbosa, logo suspeito, é policial, provavelmente secreta. Em questão de minutos, o cenário mudou dramaticamente. “Este é Bunk Pruett, FBI”, Stanfield faz as apresentações. “Jay Talley, ATF.” Jay aperta minha mão como se não nos conhecêssemos. “E Jilison
McIntyre.” O aperto de mão dela é frio mas firme. “A senhorita McIntyre é do ATF.” Pegamos cadeiras e as dispomos de forma que todos possamos olhar uns para os outros e conversar. O ar está pesado. Impregnado de irritação. Reconheço o clima. Já o vi muitas vezes quando um policial é morto. Agora que já montou o cenário, Stanfield se esconde atrás de uma cortina de silêncio taciturno. Bunk Pruett assume o comando, no estilo típico do FBI. “Doutora Scarpetta, capitão Marino”, ele começa. “Quero começar dizendo o óbvio. Este é um assunto muito, muito delicado e sigiloso. Para ser honesto, odeio contar qualquer coisa sobre o que está acontecendo, mas vocês têm de saber com o que estão lidando.” Os músculos de sua mandíbula se contraem. “Mitch Barbosa é — era — um agente secreto do FBI, que trabalhava em uma grande investigação nesta área, a qual agora evidentemente temos de desmontar, pelo menos em certa medida.” “Drogas e armas”, diz Jay, olhando de Marino para mim.
24
“A Interpol está envolvida?” Não entendo por que Jay Talley está aqui. Não faz nem duas semanas ele estava trabalhando na França. “Bem, vocês devem saber”, diz Jay com um laivo de sarcasmo, ou talvez eu é que imagine isso. “O caso não identificado sobre o qual vocês acabaram de contatar a Interpol, o cara que morreu no motel na estrada? Temos uma idéia de quem ele pode ser. Portanto, sim, a Interpol está envolvida. Agora estamos. Podem apostar.” “Eu não sabia que tínhamos conseguido uma resposta da Interpol.” Marino mal tenta ser civilizado com Jay. “Então você está me dizendo que o cara do motel é algum tipo de fugitivo internacional, talvez?” “Sim”, responde Jay. “Rosso Matos, vinte e oito anos, natural da Colômbia. Visto pela última vez em Los Angeles. Também conhecido como Gato, porque é um sujeito muito quieto quando entra e sai dos lugares, matando. Essa é sua especialidade. Eliminar pessoas, um assassino profissional. Matos é famoso por gostar de roupas muito caras, carros — e de homens jovens. Imagino que tenho de falar dele usando o passado.” Jay faz uma pausa. Ninguém reage além de olhar para ele. “O que nenhum de nós entende é o que ele estava fazendo aqui na Virgínia”, acrescenta Jay. “Qual é exatamente a operação aqui?”, Marino pergunta a Jilison McIntyre. “Começou há quatro meses, com um cara em alta velocidade na rodovia 5, a apenas alguns quilômetros daqui. Um policial de James City o pára.” Ela olha para Stanfield. “Verifica os antecedentes dele e descobre que é um criminoso condenado. Além disso, o policial percebe o cabo de uma arma comprida saindo de debaixo de um cobertor no banco de trás, que revela ser um MAK-90 com o número de série raspado. Nossos laboratórios em Rockville conseguiram recuperar o número de série e descobriram que a arma fazia parte de um carregamento da China — embarcado regularmente para Richmond. Como vocês sabem, o MAK-90 é um substituto popular do rifle de assalto AK-47, que vale de mil a dois mil dólares no mercado. O pessoal do crime organizado adora o MAK, feito na China, embarcado com regularidade para portos em Richmond, Norfolk , legalmente, em caixotes cuidadosamente identificados. Outros MAKS estão sendo contrabandeados da Ásia para cá com heroína, em todos os tipos de caixotes, identificados como todo tipo de coisa, de produtos eletrônicos a tapetes orientais.” Em uma voz séria que só ocasionalmente revela a tensão que sente, McIntyre descreve uma rede de contrabando que, além de portos da área, envolve a transportadora do condado de James City onde Barbosa trabalhava disfarçado como motorista, e ela, como sua namorada. Ele conseguiu para ela um emprego no escritório da empresa, onde conhecimentos de embarque e faturas eram falsificados para disfarçar uma operação muito lucrativa que
também envolve cigarros enviados da Virgínia para Nova York e outros destinos no Nordeste. Algumas armas são vendidas através de um comerciante clandestino de armas nesta área, mas muitas delas terminam em vendas ilegais em exposições de armas, e todos nós sabemos quantas exposições de armas há na Virgínia, diz McIntyre. “Qual é o nome da transportadora?”, pergunta Marino. “Overland.” Os olhos de Marino me fuzilam. Ele corre os dedos por seu cabelo ralo. “Que merda”, ele diz a todos. “É para eles que o marido de Bev Kiffin trabalha. Que merda.” “A senhora que é proprietária e administradora do Fort James Motel”, Stanfield explica aos outros. “A Overland é uma empresa grande e nem todos estão envolvidos em atividade ilegal”, Pruett se apressa a ser objetivo. “E é isso o que torna a coisa tão difícil. A empresa e a maioria das pessoas que trabalham nela são legais. Portanto, pode-se examinar os caminhões o dia inteiro e nunca encontrar nada quente em nenhum deles. Então, no dia seguinte, um carregamento de papelaria, televisores, o que for, sai, e escondidos nas caixas há rifles de assalto e drogas.” “Você acha que alguém armou para o Mitch?”, pergunta Marino a Pruett. “E os bandidos decidiram dar um fim nele?” “Se foi isso, então por que o Matos também está morto?” Quem fala é Jay. “E parece que Matos morreu primeiro, certo?” Ele olha para mim. “Ele foi encontrado morto em circunstâncias realmente estranhas, num motel de beira da estrada. Então, no dia seguinte o corpo de Mitch é despejado em Richmond. Além disso, Matos é um peso pesado. Não entendo qual seria o interesse dele aqui — mesmo que alguém lá tivesse armado para Mitch, não se manda um assassino profissional como Matos. Ele é reservado para presas graúdas em organizações criminosas poderosas, caras difíceis de pegar porque são cercados por seus próprios assassinos fortemente armados.” “Para quem Matos trabalha?”, pergunta Marino. “Nós sabemos isso?” “Para quem pagar”, responde Pruett. “Ele cobre o mapa todo”, acrescenta Jay. “América do Sul, Europa, este país. Não está associado com nenhuma rede ou cartel, é um operador solitário. Se você quiser dar cabo de alguém, contrate Matos.” “Então alguém o contratou para vir aqui”, concluo. “Temos de supor isso”, replica Jay. “Não acho que ele estava na área para visitar Jamestown nem as decorações de Natal em Williamsburg.” “Também sabemos que ele não matou Mitch Barbosa”, acrescenta Marino. “Matos já estava morto e na mesa da doutora antes de Mitch sair para correr.” Todos assentem com a cabeça. Stanfield está cutucando uma unha. Parece perdido no espaço, extremamente constrangido. Fica o tempo todo enxugando o suor das sobrancelhas e passando os dedos na calça. Marino pede a Jilison que nos conte exatamente o que aconteceu. “Mitch gosta de correr ao meio-dia, antes do almoço”, ela começa. “Ele saiu perto do meio-dia e não voltou. Isso foi ontem. Eu saí de carro à procura
dele por volta das duas e, como ainda não havia nenhum sinal dele, liguei para a polícia e, é claro, para nosso pessoal. ATF e FBI. Outros agentes vieram e também começaram a procurar. Nada. Sabemos que ele foi visto na área da faculdade de direito.” “Marshall-Wythe?”, pergunto, fazendo anotações. “Certo, na William and Mary. Mitch costumava fazer sempre o mesmo trajeto, saía daqui, seguia pela rodovia 5, depois pegava a Francis Street, ia até a South Henry e voltava. Normalmente cerca de uma hora.” “Você se lembra do que ele estava usando e do que poderia ter levado?”, pergunto a ela. “Um agasalho de ginástica vermelho e um colete. Ele estava com um colete por cima do agasalho. É..., cinza, North Face. E sua capanga. Ele nunca ia a nenhum lugar sem ela.” “Ele tinha uma arma nela?”, supõe Marino. Ela faz que sim com a cabeça, engolindo, o rosto estóico. “Pistola, dinheiro, telefone celular. Chaves da casa.” “Ele não estava usando o colete quando seu corpo foi encontrado”, Marino informa a ela. “Nem capanga. Descreva a chave.” “Chaves”, ela o corrige. “Ele põe a chave daqui, da casa, e a chave do carro em um chaveiro de aço.” “Como é a chave da casa?”, pergunto, e sinto Jay me olhando. “Apenas uma chave de latão. Uma chave normal.” “Ele tinha uma chave de aço inoxidável no bolso do short de corrida”, digo. “Tinha o número 233 escrito com tinta permanente.” A agente McIntyre fanze o cenho. Ela não sabe nada sobre isso. “Bem, isso é realmente estranho. Não tenho a menor idéia de para que seria essa chave”, ela responde. “Então temos de imaginar que ele a pegou em algum lugar”, diz Marino. “Ele foi amarrado, amordaçado, torturado, depois levado para Richmond e jogado na rua em um de nossos adoráveis projetos, Mosby Court.” “Área de alta intensidade de tráfico de drogas?”, Pruett pergunta a ele. “Ah, claro. Os projetos são ótimos para o desenvolvimento econômico. Armas e drogas. Pode apostar.” Marino conhece seu território. “Mas outra coisa boa em lugares como Mosby Court é que as pessoas não vêem nada. Se você quer jogar um corpo, não importa se cinqüenta pessoas estiverem por ali. Elas ficam temporariamente cegas e com amnésia.” “Alguém que conhecia Richmond, então”, Stanfield finalmente dá uma opinião. Os olhos de McIntyre estão arregalados. Ela tem uma expressão aflita no rosto. “Eu não sabia sobre a tortura”, ela me diz. Sua resolução profissional balança como uma árvore prestes a cair. Descrevo as queimaduras de Barbosa e também entro em detalhes sobre as de Matos. Falo sobre as evidências de amarração e mordaça, e então Marino fala sobre os parafusos com olhal no teto do motel. Todos captam o quadro. Todos podem visualizar o que foi feito com esses homens. Temos de suspeitar que a mesma pessoa, ou pessoas, está envolvida nessas mortes. Mas isso nem
sequer começa a nos dizer quem ou por quê. Não sabemos onde pegaram Barbosa, mas eu tenho uma idéia. “Quando você voltar lá com Vander”, digo a Marino, “talvez deva verificar os outros quartos, ver se algum deles tem parafusos com olhal no teto.” “Vou fazer isso. Tenho de voltar lá de qualquer maneira.” Ele olha para seu relógio. “Hoje?”, Jay pergunta a ele. “É.” “Você tem alguma razão para pensar que Mitch foi drogado como o primeiro cara?”, Pruett me pergunta. “Não encontrei nenhuma marca de agulha”, respondo. “Mas vamos ver o que aparece nos resultados do exame toxicológico dele.” “Meu Deus”, murmura McIntyre. “E os dois fizeram xixi na calça?”, diz Stanfield. “Isso não acontece quando as pessoas morrem? Elas perdem o controle da bexiga e fazem xixi na calça? Apenas uma coisa natural, em outras palavras?” “Não posso dizer que perder urina seja raro. Mas o primeiro homem, Matos, tirou a roupa. Ele estava nu. Parece que ele fez xixi na calça e depois se despiu.” “Então isso foi antes de ele ser queimado”, diz Stanfield. “Eu suponho que sim. Ele não foi queimado vestido”, respondo. “É bem possível que as duas vítimas tenham perdido o controle da bexiga devido ao medo, ao pânico. Se alguém fica bastante assustado, faz xixi na calça.” “Meu Deus”, McIntyre murmura de novo. “E se a pessoa vê algum babaca pondo parafusos com olhal no teto e ligando uma pistola de ar quente, isso é suficiente para apavorar completamente a pessoa”, Marino ilustra com abundância. “A pessoa sabe muito bem o que está prestes a acontecer com ela.” “Meu Deus!”, explode McIntyre. Silêncio. “Por que porra alguém faria uma coisa dessas com Mitch? E não é que ele não tomasse cuidado, ele não entrava simplesmente no carro de alguém, nem se aproximava de um estranho que tentasse pará-lo na estrada.” Stanfield diz: “Me faz pensar no Vietnã, o jeito como eles faziam coisas com prisioneiros de guerra, os torturavam para fazê-los falar”. Fazer alguém falar pode certamente ser uma razão para a tortura, reajo ao que Stanfield acabou de dizer. “Mas também é um surto de poder. Algumas pessoas torturam porque ficam excitadas com isso.” “Você acha que é esse o caso aqui?”, Pruett me pergunta. “Não tenho como saber.” Então digo a McIntyre: “Notei uma vara de pescar quando estava subindo”. A reação dela é uma piscada de confusão. Então ela percebe do que estou falando. “Ah, claro. Mitch gosta de pescar.” “Por aqui?” “Um riacho perto do College Landing Park.” Olho para Marino. Esse riacho fica na borda da área de acampamento
arborizada no motel Fort James. “Mitch mencionou a você alguma vez o motel ao lado desse riacho?”, Marino pergunta a ela. “Só sei que ele gostava de pescar lá.” “Ele conhecia a senhora que administra a espelunca? Bev Kiffin? E o marido dela? Talvez vocês dois o conheçam, já que ele trabalha na Overland?”, continua Marino. “Bem, eu sei que Mitch costumava falar com os garotos dela. Ela tem dois meninos e às vezes eles saíam para pescar quando Mitch estava pescando. Ele dizia que sentia pena deles porque o pai nunca estava em casa. Mas não conheço ninguém chamado Kiffin na transportadora, e sou eu que faço a contabilidade.” “Você pode verificar isso?”, diz Jay. “Talvez o sobrenome dele seja diferente do dela.” “É.” Ela assente com a cabeça. “Você se lembra da última vez que Mitch foi pescar?”, pergunta Marino. “Pouco antes de nevar”, ela responde. “Até então o tempo estava muito bom.” “Reparei que há algum dinheiro trocado, duas garrafas de cerveja e charutos no patamar”, digo. “Bem ao lado da vara de pescar.” “Você tem certeza de que ele não foi pescar lá desde que começou a nevar?”, Marino capta meu pensamento. A expressão nos olhos dela deixa evidente que ela não tem certeza. Imagino quanto ela sabe realmente sobre seu suposto namorado. “Alguma coisa ilegal acontecendo no motel de que você e Mitch saibam?”, pergunta Marino. McIntyre começa a balançar a cabeça. “Ele nunca mencionou nada sobre isso. Nada desse tipo. A única ligação dele com o lugar era pescar e ser amável com os garotos, ocasionalmente, quando ele os via.” “Só se eles apareciam quando ele estava pescando?”, Marino continua a pressionar. “Alguma razão para pensar que Mitch pode ter alguma vez ido à casa para falar com eles?” Ela hesita. “Mitch é um cara generoso?” “Ah, sim”, diz ela. “Muito. Ele poderia ter ido até lá. Não sei. Ele realmente gosta de garotos. Gostava deles.” Ela começa a chorar de novo e ao mesmo tempo está prestes a explodir de raiva. “Como ele se identificava para as pessoas de lá? Dizia que era motorista de caminhão? O que ele dizia sobre você? Você não devia ser uma executiva? Vocês dois não eram realmente namorado e namorada. Isso era apenas parte da fachada, certo?” Marino está de olho em alguma coisa. Está inclinado para a frente, os braços envolvendo os joelhos, olhando intensamente para Jilison McIntyre. Quando ele fica assim, dispara perguntas com tanta rapidez que as pessoas muitas vezes não têm tempo de responder. Então ficam confusas e dizem alguma coisa da qual depois se arrependem. Ela faz isso neste exato momento. “Ei, eu não sou uma suspeita”, ela diz a ele, irritada. “E sobre nosso
relacionamento, não sei aonde que você quer chegar. Era profissional. Mas a gente não pode evitar de se aproximar de alguém quando vive na mesma casa e age como se estivesse envolvida, faz as pessoas pensarem que você está.” “Mas vocês não estavam envolvidos”, diz Marino. “Ou pelo menos ele não estava com você. Vocês estavam fazendo um trabalho, certo? Quer dizer, se ele quisesse dar atenção a uma mulher solitária com dois garotos legais, podia fazer isso.” Marino se recosta na cadeira. A sala está tão silenciosa que parece zunir. “O problema é que Mitch não devia ter feito isso. Era perigoso, muito estúpido, considerando a situação dele. Ele era um desses caras que têm dificuldade de manter a calça no corpo?” Ela não responde. As lágrimas caem. “Sabem de uma coisa, pessoal?” Marino varre a sala com os olhos. “Pode ser simplesmente que Mitch tenha se metido em alguma coisa que não tem nada a ver com a operação secreta de vocês aqui. Lugar errado, hora errada. Pegou alguma coisa que ele com toda certeza não estava pescando.” “Você tem alguma idéia de onde Mitch estava às três da tarde de quartafeira, quando Matos se registrou no motel e o incêndio começou?” Stanfield está montando as peças. “Ele estava aqui ou em outro lugar?” “Não, ele não estava aqui”, ela mal pronuncia as palavras, enxugando os olhos com o lenço. “Tinha saído. Não sei para onde.” Marino explode, revoltado. Ele não precisa dizer nada. Parceiros que atuam disfarçados devem saber o paradeiro um do outro, e se a agente McIntyre nem sempre sabia onde o agente especial Barbosa estava, então ele estava fazendo alguma coisa que talvez não fosse pertinente à investigação deles. “Sei que você não quer nem pensar nisso, Jilison”, continua Marino num tom mais suave, “mas Mitch foi torturado e assassinado, certo? Quer dizer, o cara foi amedrontado até morrer. Literalmente. Não importa o que alguém estivesse fazendo com ele, foi tão horroroso que ele teve uma porra de um ataque do coração. Fez xixi na calça. Foi levado para algum lugar e amarrado, amordaçado, e depois enfiaram uma chave esquisita no bolso dele, plantada, para quê? Por quê? Ele estava metido em alguma coisa sobre a qual devemos saber, Jilison? Ele estava pescando mais do que peixes naquele riacho ao lado do acampamento?” As lágrimas rolam pelo rosto de McIntyre. Ela as enxuga com força com o lenço e funga alto. “Ele gostava de beber e de mulheres”, ela mal pronuncia. “Certo?” “Ele saía à noite, circulava pelos bares, esse tipo de coisa?”, pergunta Pruett. Ela faz que sim com a cabeça. “Fazia parte de seu disfarce. Você viu...” Seus olhos pulam para mim. “Você o viu. O cabelo tingido, o brinco na orelha, todo o resto. Mitch fazia o papel de uma espécie de, bem, um cara galinha, e ele gostava de mulheres. Ele nunca fingiu ser, é... fiel a mim, a sua pretensa namorada. Fazia parte de sua cobertura. Mas também era ele. É. Eu me preocupava com isso, certo? Mas o Mitch era assim. Ele era um bom agente. Não acho que tenha feito nada desonesto, se é isso que você está perguntando. Mas ele também não me contava tudo. Se ele descobriu alguma coisa no
acampamento, por exemplo, pode ter começado a fuçar. Pode ser.” “Sem informá-la”, confirma Marino. Ela assente outra vez. “E eu também estava fora, fazendo meu trabalho. Eu não ficava aqui a cada minuto esperando por ele. Trabalhava no escritório da Overland. Embora só meio período. Então nem sempre sabíamos o que o outro estava fazendo a cada hora do dia.” “Vou lhe dizer uma coisa”, decide Marino. “Mitch tropeçou em alguma coisa. E eu estou me perguntando se ele não estava no motel perto da hora em que Matos apareceu, e talvez, não importa o que Matos estivesse fazendo, Mitch tenha tido o azar de ser visto na área. Talvez seja simples assim. Alguém acha que ele viu alguma coisa, soube de alguma coisa, e então ele é apanhado e submetido ao tratamento.” Ninguém discute. A teoria de Marino, na verdade, é a única até agora que faz sentido. “O que nos leva de volta ao que Matos estava fazendo lá”, comenta Pruett. Olho para Stanfield. Ele se afastou da conversa. Seu rosto está lívido. Ele é uma pilha de nervos. Seus olhos me encaram e logo se desviam. Ele passa a língua nos lábios e tosse várias vezes. “Detetive Stanfield”, sinto-me compelida a dizer a ele diante de todos. “Pelo amor de Deus, não conte nada disso a seu cunhado.” A raiva cintila em seus olhos. Eu o humilhei e não dou a mínima. “Por favor”, acrescento. “Quer saber a verdade?”, ele retruca irritado. “Não quero ter nada a ver com isso.” Lentamente, ele se põe de pé e olha em volta da sala, piscando, seus olhos vidrados. “Não sei qual o objetivo disso, mas não quero ter nenhuma participação — quer dizer, nenhuma participação nisso. Vocês federais já estão nisso até o pescoço, então podem ficar com isso para vocês. Eu estou fora.” Ele balança a cabeça. “Vocês me ouviram, certo, eu estou fora.” Para nosso espanto, o detetive Stanfield desaba. Cai tão pesadamente que a sala treme. Eu me levanto de um pulo. Graças a Deus, ele está respirando. Seu pulso está acelerado, mas ele não está tendo um ataque cardíaco nem nada que ponha em risco a vida. Simplesmente desmaiou. Examino sua cabeça para ter certeza de que ele não se feriu. Ele está bem. Volta a si. Marino e eu o ajudamos a ficar de pé e o levamos até o sofá. Faço com que se deite e ponho vários comprimidos em sua boca. Acima de tudo, ele está envergonhado, e muito. “Detetive Stanfield, você é diabético?”, pergunto. “Você tem alguma doença cardíaca?” “Se você conseguir uma Coca ou algo do tipo, seria bom”, diz ele, com a voz fraca. Levanto-me e vou para a cozinha. “Vou ver o que consigo”, digo, como se morasse aqui. Dentro da geladeira, pego suco de laranja. Encontro manteiga de amendoim em um armário e pego uma grande colherada. É quando estou procurando toalhas de papel que percebo um frasco de remédio controlado ao lado do forno elétrico. O nome de Mitch Barbosa está na etiqueta. Ele estava tomando o antidepressivo Prozac. Quando volto à sala, digo algo sobre isso a McIntyre e ela nos conta que Barbosa passou a tomar Prozac há vários meses porque estava sofrendo de ansiedade e depressão, que ele atribuía ao trabalho sob
disfarce, ao estresse, ela acrescenta. “Isso é interessante”, é só o que Marino tem a dizer. “Você disse que vai voltar ao motel quando sair daqui?”, Jay pergunta a Marino. “É, Vander vai ver se damos sorte com as impressões.” “Impressões?”, murmura Stanfield de seu leito de doente. “Porra, Stanfield”, Marino explode, exasperado. “Eles ensinaram a você alguma coisa na escola de detetives? Ou você pulou vários anos por causa de seu maldito cunhado?” “Ele é mesmo um maldito cunhado, se você quer saber a verdade.” Ele diz isso de um modo tão deplorável e com tanta franqueza que todos riem. Stanfield se anima um pouco. Levanta o corpo, encostando-se nos travesseiros. “E você está certa.” Ele olha para mim. “Eu não devia ter contado a ele nada sobre este caso. E não vou contar mais nada a ele, nem uma palavra, porque para ele é tudo politicagem. Não fui eu quem puxou toda essa coisa de Jamestown, assim você fica sabendo.” Pruett franze o cenho. “Que coisa de Jamestown?” “Ah, você sabe, a escavação lá e a grande celebração que o estado está planejando. Bom, o fato é que, para falar a verdade, Dinwiddie tem tanto sangue índio quanto eu. Toda essa merda sobre ele ser descendente do chefe Powhatan. Aahh!” Os olhos de Stanfield dançam, com um ressentimento que eu duvido que ele raramente expresse. Ele provavelmente odeia o cunhado. “Mitch tem sangue índio”, McIntyre diz melancolicamente. “Ele é meio nativo americano.” “Bem, pelo amor de Deus, esperemos que os jornais não descubram isso”, Marino murmura para Stanfield, sem acreditar nem por um segundo que Stanfield vá manter a boca fechada. “Temos um gay e agora um índio. Puxa vida, puxa vida.” Marino balança a cabeça. “Temos de manter isso fora da política, fora de circulação, e falo sério.” Ele olha bem para Stanfield, depois para Jay. “Porque, sabem de uma coisa? Não podemos falar sobre o que achamos que está realmente acontecendo, podemos? Sobre a grande operação secreta. Sobre Mitch ser um agente secreto do FBI. E que, talvez de algum jeito excêntrico, Chandonne esteja todo enrolado em seja qual for a merda que está acontecendo aqui. Então, se as pessoas forem todas apanhadas nessa merda de crime de ódio, como ficamos se não podemos contar a verdade?” “Não concordo”, Jay diz a ele. “Não estou pronto para dizer qual o motivo desses assassinatos. Não estou preparado para aceitar, por exemplo, que Matos e agora Barbosa não estão relacionados com contrabando de armas. Penso sem dúvida que os assassinatos deles estão ligados.” Ninguém discorda. Os modus operandi são semelhantes demais para que as mortes não estejam relacionadas, e de fato foram cometidas pela mesma pessoa, ou pessoas. “E também não estou preparado para ignorar totalmente a idéia de que eles são crimes de ódio”, continua Jay. “Um gay. Um americano nativo.” Ele dá de ombros. “A tortura é uma coisa muito odiosa. Algum ferimento na genitália
deles?” Ele se vira para mim. “Não.” Sustento seu olhar. É estranho pensar que fomos íntimos, olhar para seus lábios cheios e suas mãos graciosas e me lembrar do toque deles. Quando andamos pelas ruas de Paris, as pessoas se viravam para olhar para ele. “Humm”, diz ele. “Acho isso interessante e talvez importante. Não sou psiquiatra forense, é claro, mas parece que em crimes de ódio os perpetradores raramente ferem os genitais das vítimas.” Marino olha para ele de um jeito incrível, sua boca aberta numa expressão gritante de desdém. “Porque você pega algum tipo caipira homofóbico, e a última coisa da qual ele vai chegar perto são os genitais do cara”, acrescenta Jay. “Bom, se você realmente perder tempo com essa teoria”, Marino diz a ele num tom ácido, “então vamos ligar isso a Chandonne. Ele também nunca se aproximou dos genitais de suas vítimas. Porra, ele nem sequer tirou a calça delas, só bateu e mordeu violentamente o rosto e os seios delas. A única coisa que ele fez abaixo da cintura foi tirar os sapatos e as meias delas e morder os pés. E por quê? O cara tem medo da genitália feminina porque a dele é tão deformada quanto o resto do corpo dele.” Marino observa os rostos em volta. “Uma coisa boa de o desgraçado estar preso é que conseguimos descobrir como é o resto dele. Certo? E adivinhem? Ele não tem pau. Ou vamos dizer que o que ele tem eu não chamaria de pau.” Agora Stanfield está sentado ereto no sofá, os olhos arregalados de espanto. “Vou com você ao motel”, diz Jay a Marino. Marino se levanta e olha pela janela. “Eu me pergunto onde diabo está o Vander”, diz. Ele consegue falar com Vander no telefone celular, e nós saímos alguns minutos depois para encontrá-lo no estacionamento. Jay caminha comigo. Sinto a energia de seu desejo de falar comigo, de, de alguma maneira, chegar a um consenso. Nesse sentido, ele parece o estereótipo de uma mulher. Quer caminhar, resolver as coisas, ter proximidade ou retomar nossa ligação para então poder dar de novo uma de difícil. Eu, por outro lado, não quero nada disso. “Kay, você me dá um minuto?”, ele diz no estacionamento. Paro e olho para ele enquanto abotôo meu casaco. Percebo Marino olhando em nossa direção enquanto pega os sacos de lixo e o carrinho de bebê na traseira de sua caminhonete e os põe no carro de Vander. “Sei que isso é esquisito, mas existe alguma maneira de tornarmos isso mais fácil? Para começar, temos de trabalhar juntos”, diz Jay. “Talvez você devesse ter pensado nisso antes de contar cada detalhe a Jaime Berger, Jay”, respondo. “Aquilo não foi contra você.” Seu olhar é intenso. “Certo.” “Ela me fez perguntas, compreensivelmente. Está apenas fazendo o trabalho dela.” Não acredito nele. Esse é meu problema fundamental com Jay Talley. Não confio nele e queria nunca ter confiado. “Bem, isso é curioso”, comento. “Porque parece que as pessoas começaram a fazer perguntas a meu respeito
antes mesmo de Diane Bray ter sido assassinada. Na verdade, os questionamentos começaram bem na época em que eu estava com você na França.” Sua expressão se torna sombria. A raiva surge antes que ele consiga escondê-la. “Você é paranóica, Kay”, diz ele. “Você está certo”, respondo. “Você está absolutamente certo, Jay.”
25
Nunca dirigi a caminhonete Dodge com cabine dupla de Marino, e se as circunstâncias não fossem tão tensas provavelmente eu acharia o cenário cômico. Não sou grande, mal chego a um metro e sessenta e cinco, sou esguia, e não há em mim nada de excêntrico ou extremado. Uso jeans, mas não hoje. Suponho que me visto como uma chefe ou advogada respeitável, e normalmente estou com um tailleur ou uma calça de flanela e blazer, a menos que esteja trabalhando em uma cena de crime. Meu corte de cabelo é curto e convencional, uso maquiagem leve e, além de meu anel com sinete e do relógio, dificilmente uso jóias. Não tenho nenhuma tatuagem. Minha aparência não é a de alguém que sairia por aí fazendo estardalhaço em uma enorme caminhonete de macho azulescura com pintura personalizada de faixas, acabamentos cromados, pára-lamas, sistema computadorizado de diagnóstico do motor, e antenas grandes e potentes para o rádio de faixa do cidadão e o radiotransmissor e receptor da polícia. Pego a 64 Oeste para voltar a Richmond porque é mais rápido, e presto muita atenção ao dirigir porque é difícil eu controlar um carro deste tamanho com apenas um braço. Nunca passei uma véspera de Natal como esta e estou cada vez mais deprimida ao pensar nisso. Normalmente, a esta altura eu já abasteci a geladeira e o freezer, preparei molhos e sopas e decorei a casa. Sintome totalmente sem-teto e estrangeira enquanto dirijo pela rodovia interestadual, e me ocorre que não sei onde vou dormir hoje. Imagino que na casa de Anna, mas temo o esfriamento necessário entre nós. Nem sequer a vi esta manhã, e uma desalentadora sensação de solidão se abate sobre mim e parece me empurrar para baixo no banco. Localizo Lucy pelo pager. “Tenho de voltar para minha casa amanhã”, digo a ela ao telefone. “Talvez você devesse ficar no hotel com Teun e comigo”, ela sugere. “Que tal você e Teun ficarem comigo?” É muito difícil para mim expressar uma necessidade, e eu preciso delas. Preciso mesmo. Por muitas razões. “Quando você quer que cheguemos lá?” “Vamos comemorar o Natal juntas de manhã.” “Cedo.” Lucy nunca ficou na cama depois das seis na manhã de Natal. “Vou me levantar e vou para casa”, digo a ela. Vinte e quatro de dezembro. Os dias se tornaram curtíssimos, e levará algum tempo até que a luz surja e leve embora meu humor pesado e ansioso. Já está escuro quando passo pelo centro de Richmond, e quando chego à casa de Anna, às cinco para seis, encontro Berger esperando por mim em seu utilitário esportivo Mercedes, os faróis penetrando na noite. O carro de Anna se foi. Ela não está em casa. Não sei por que isso me perturba tão completamente, a menos que seja pelo fato de eu suspeitar que de algum modo ela sabe que Berger vai se encontrar comigo e preferiu não estar aqui. Considerar essa possibilidade me faz lembrar que Anna conversou com pessoas e pode um dia ser forçada a revelar o
que lhe contei durante meus momentos mais vulneráveis em sua casa. Berger desce do carro enquanto abro a porta da caminhonete e, se ela está surpresa com meu meio de transporte, não dá nenhum sinal disso. “Você precisa pegar alguma coisa na casa antes de irmos?”, ela pergunta. “Me dê apenas um minuto”, digo a ela. “A doutora Zenner estava aqui quando você chegou?” Sinto-a endurecer um pouco. “Cheguei aqui apenas alguns minutos antes de você.” Um subterfúgio, penso enquanto subo a escada da frente. Destranco a porta e desligo o alarme contra ladrões. O vestíbulo está escuro, o grande candelabro e as luzes da árvore de Natal, apagados. Escrevo um bilhete para Anna agradecendo por sua amizade e hospitalidade. Preciso voltar para minha casa amanhã e agora sei que ela vai entender por que devo fazer isso. Acima de tudo, quero que acredite que não estou chateada com ela, que percebo que ela foi tão vitimizada pelas circunstâncias quanto eu. Digo circunstâncias porque não estou mais certa de quem está ameaçando Anna e ordenando que ela divulgue confidências a meu respeito. Rocky Caggiano talvez seja o próximo da fila, a menos que eu seja indiciada. Se isso acontecer, não cumprirei papel algum no julgamento de Chandonne, de jeito nenhum. Deixo o bilhete na cama Biedermeier impecavelmente arrumada de Anna. Depois entro no carro de Berger e começo a contar a ela sobre meu dia no condado de James City, sobre o acampamento abandonado e os cabelos longos e claros. Ela me ouve com toda a atenção, dirigindo, sabendo aonde está indo como se tivesse passado a vida toda em Richmond. “Podemos provar que os cabelos são de Chandonne?”, pergunta ela por fim. “Supondo que não haja raízes, como sempre. E não havia raízes naqueles que foram encontrados nas cenas de crime, certo? Suas cenas de crime. Luong e Bray.” “Nenhuma raiz”, digo, exasperada pela referência a minhas cenas de crime. Elas não são minhas, protesto em silêncio. “Foi ele quem deixou aqueles cabelos, portanto não há raízes”, digo a Berger. “Mas podemos obter DNA mitocondrial das hastes. Portanto, sim, podemos saber definitivamente se os cabelos do acampamento são dele.” “Explique, por favor”, diz ela. “Não sou especialista em DNA mitocondrial. Nem em cabelo, aliás, especialmente o tipo de cabelo que ele tem.” O tema do DNA é difícil. Explicar a vida humana no nível molecular diz à maioria das pessoas muito mais do que elas conseguem entender ou se preocupam em saber. Policiais e promotores adoram o que o DNA pode fazer. E odeiam falar dele cientificamente. Poucos deles o entendem. A velha piada é que a maioria das pessoas não consegue nem soletrar DNA. Explico que DNA nuclear é o que obtemos quando estão presentes células com núcleos, como no caso de sangue, tecido, fluido seminal e raízes de cabelo. O DNA nuclear é herdado igualmente dos dois pais, portanto, se tivermos o DNA nuclear de alguém, temos, em certo sentido, tudo sobre ele, e podemos comparar seu perfil
de DNA com qualquer outra amostra biológica que essa mesma pessoa deixou, digamos, em outra cena de crime. “Podemos simplesmente comparar os cabelos do acampamento com os que ele deixou nas cenas de assassinato?”, pergunta Berger. “Não com sucesso”, respondo. “Examinar características microscópicas nesse caso não vai nos dizer muita coisa, porque os cabelos não são pigmentados. O máximo que conseguiremos dizer é que suas morfologias são similares ou coerentes uma com a outra.” “O que não é conclusivo para um júri”, ela pensa em voz alta. “Nem um pouco.” “De qualquer forma, se não fizermos uma comparação microscópica, a defesa vai levantar isso”, considera Berger. “Ele vai dizer: Por que vocês não fizeram ?”. “Bem, podemos comparar microscopicamente os cabelos, se você quiser.” “Os do corpo de Susan Pless e os dos seus casos.” “Se você quiser”, repito. “Explique as hastes de cabelo. Como o DNA funciona com elas?” Digo a ela que o DNA mitocondrial é encontrado nas paredes, e não nos núcleos das células, o que quer dizer que o DNA mitocondrial é o DNA antropológico do cabelo, das unhas, dos dentes e dos ossos. O DNA mitocondrial são as moléculas que constituem nossa matéria fundamental, explico. A utilidade limitada se deve ao fato de que ele é herdado só pela linhagem feminina. Faço uma analogia com o ovo. Pense no DNA mitocondrial como a clara do ovo, enquanto o DNA nuclear é a gema. Não se pode comparar uma com outra. Mas, se se tiver o DNA do sangue, tem-se o ovo inteiro e pode-se comparar mitocôndrias com mitocôndrias — clara de ovo com clara de ovo. Temos sangue porque temos Chandonne. Ele teve de tirar uma amostra de sangue quando estava no hospital. Temos seu perfil de DNA completo e podemos comparar o DNA mitocondrial de cabelos desconhecidos com o DNA mitocondrial de sua amostra de sangue. Berger ouve sem me interromper. Ela captou o que estou dizendo e parece entender. Como sempre, não faz nenhuma anotação. Ela pergunta: “Ele deixou cabelo em sua casa?”. “Não tenho certeza do que a polícia encontrou.” “Do jeito que ele parece perder cabelo, eu pensaria que ele deixou cabelo em sua casa ou certamente na neve em seu jardim quando estava se debatendo.” “E estaria certa”, concordo com ela. “Andei lendo sobre lobisomens.” Berger pula para o tópico seguinte. “Aparentemente, houve pessoas que realmente achavam que eram lobisomens ou tentaram todos os tipos de coisas bizarras para se transformarem em lobisomens. Bruxaria, magia negra. Culto a Satã. Morder. Beber sangue. Você acha possível que Chandonne realmente acredite que é um loup-garou ? Um lobisomem? E que talvez até queira ser um?” “E, portanto, não é culpado por causa da insanidade”, respondo, e supus o tempo inteiro que essa seria a defesa dele.
“Havia uma condessa húngara no começo do século XVII, Elizabeth Bathory-Nadasdy, também conhecida como a Condessa Sangrenta”, continua Berger. “Ela supostamente torturou e matou cerca de seiscentas jovens mulheres. Banhava-se no sangue delas, acreditando que ele a manteria jovem e preservaria sua beleza. Você conhece o caso?” “Vagamente.” “Diz a história que essa condessa mantinha jovens em sua masmorra, engordava-as, sangrava-as e se banhava no sangue delas, e depois obrigava outras prisioneiras a lamber todo o sangue de seu corpo. Supostamente porque as toalhas lhe machucavam a pele. Esfregando o sangue na pele, por todo o corpo”, ela pondera. “Relatos disso deixaram fora o óbvio. Eu diria que havia um componente sexual”, ela acrescenta secamente. “Assassinatos por luxúria. Mesmo que quem os perpetra acredite verdadeiramente nos poderes mágicos do sangue, trata-se de poder e sexo. É só disso que se trata, quer a pessoa seja uma bela condessa ou alguma anomalia genética que foi criada na Île de Saint-Louis.” Viramos na Canterbury Road, entrando no rico bairro arborizado de Windsor Farms, em cujo extremo morava Diane Bray, numa propriedade separada por um muro da barulhenta via expressa para o centro. “Eu daria meu braço direito para saber o que há na biblioteca dos Chandonne”, diz Berger. “Ou, melhor, que tipo de coisa Chandonne andou lendo ao longo dos anos — além das histórias e de outros materiais eruditos que ele diz que o pai lhe deu, blá-blá-blá. Por exemplo, ele sabe sobre a Condessa Sangrenta? Será que ele esfregava o sangue por todo o corpo esperando que isso o curasse magicamente de sua doença?” “Acreditamos que ele se banhava no Sena e depois aqui no rio James”, respondo. “Possivelmente por essa razão. Para ser curado magicamente.” “Uma espécie de coisa bíblica.” “Talvez.” “Talvez ele leia a Bíblia também”, ela sugere. “Será que foi influenciado pelo assassino serial francês Gilles Garnier, que matava garotos e os comia e ladrava para a lua? Houve muitos dos chamados lobisomens na França durante a Idade Média. Umas trinta pessoas acusadas disso, você pode imaginar?” Berger andou fazendo muita pesquisa. Isso é evidente. “E há outra idéia esquisita”, ela continua. “No folclore dos lobisomens, acreditava-se que, se alguém fosse mordido por um lobisomem, viraria um. É possível que Chandonne estivesse tentando tornar suas vítimas lobisomens? Talvez assim ele pudesse encontrar uma noiva de Frankenstein, uma companheira exatamente igual a ele?” Essas considerações incomuns começam a formar uma composição que é muito mais trivial e prosaica do que poderia parecer. Berger está simplesmente antecipando o que a defesa vai fazer no caso dela, e um artifício óbvio é desviar o júri da natureza hedionda dos crimes preocupando-os com a deformidade física, a suposta doença mental e a inequívoca bizarrice de Chandonne. Se se puder apresentar com sucesso o argumento de que ele acredita que é uma criatura paranormal, um lobisomem, um monstro, então é altamente improvável que o júri o considere culpado e o sentencie a prisão perpétua. Ocorre-me que algumas pessoas podem até ter pena dele.
“A defesa ‘bala de prata’.” Berger alude à superstição de que só uma bala de prata é capaz de matar o lobisomem. “Temos uma montanha de evidências, mas a promotoria no caso O. J. Simpson também tinha. A bala de prata da defesa será que Chandonne é insano e digno de pena.”
A casa de Diane Bray é uma construção branca retangular com teto empenado e telhado de duas águas, e, embora a polícia tenha protegido e limpado a cena, a propriedade não retomou seu funcionamento normal. Nem mesmo Berger pode entrar sem permissão do proprietário, ou, neste caso, da pessoa que tem a custódia. Paramos na entrada para carros e esperamos que Eric Bray, o irmão, apareça com a chave. “Talvez você o tenha visto no serviço memorial.” Berger me lembra que Eric Bray era o homem que carregava a urna contendo as cinzas da irmã. “Diga-me como você acha que Chandonne conseguiu que uma policial experiente abrisse a porta.” A atenção de Berger flui de monstros na França medieval para a carnificina muito real que está diante de nossos olhos. “Isso está um pouco além dos meus limites, senhorita Berger. Talvez seja melhor se você restringir suas perguntas aos corpos e a minhas conclusões.” “Não há limites agora, só perguntas.” “Isso porque você supõe que talvez eu nunca vá ao tribunal, pelo menos não em Nova York , porque estou contaminada?” Vou adiante e abro essa porta. “Na verdade, eles não ficam muito mais contaminados do que eu estou neste exato minuto.” Faço uma pausa para ver se ela sabe. Quando não diz nada, eu a confronto. “Righter deu a você alguma pista de que talvez eu não lhe seja muito útil? De que estou sendo investigada por um grande júri porque ele tem uma noção ridícula de que eu tive algo a ver com a morte de Bray?” “Ele me deu mais do que uma pista”, ela responde calmamente enquanto olha fixo para a escura casa de Bray. “Marino e eu também conversamos sobre isso.” “Chega de procedimentos secretos”, digo com sarcasmo. “Bem, a regra é que nada que ocorra dentro da sala do grande júri pode ser discutido. Por enquanto, nada aconteceu. A única coisa que está acontecendo é que Righter está usando um grande júri especial como uma ferramenta para obter acesso a tudo que ele pode. A seu respeito. Suas contas de telefone. Suas informações bancárias. O que as pessoas têm a dizer. Você sabe como funciona. Tenho certeza de que você teve sua cota de testemunhos em audiências do grande júri.” Ela diz tudo isso como se fosse rotina. Minha indignação cresce e extravasa em palavras. “Sabe, eu tenho sentimentos”, digo. “Talvez indiciamento por assassinato seja um assunto cotidiano para você, mas não é para mim. Minha integridade é a única coisa que tenho que não posso me dar ao luxo de perder. É tudo para mim, e logo eu ser acusada de um crime como esse. Logo eu! Mesmo considerar que eu faria a própria coisa que combato a cada minuto de minha vida? Nunca. Não abuso do poder. Nunca. Não machuco deliberadamente as
pessoas. Nunca. E não consigo enfrentar com indiferença esse absurdo, senhorita Berger. Nada pior poderia acontecer comigo. Nada.” “Você aceita uma recomendação?” Ela olha para mim. “Estou sempre aberta a sugestões.” “Primeiro, a mídia vai descobrir. Sabe o que eu faria? Eu me anteciparia a eles e convocaria uma entrevista coletiva. Logo. A boa notícia é que você não foi demitida. Não perdeu o apoio das pessoas que têm poder de decisão sobre sua vida profissional. Um senhor milagre. Os políticos normalmente são muito rápidos para se proteger, mas o governador tem você em alta conta. Ele não acredita que você matou Diane Bray. Se ele fizer uma declaração nesse sentido, você vai ficar bem, desde que o grande júri especial não apareça com uma denúncia real, um indiciamento.” “Você discutiu alguma dessas coisas com o governador Mitchell?”, pergunto a ela. “Nós tivemos contato no passado. Nos conhecemos. Trabalhamos em um caso juntos quando ele era secretário de Justiça.” “Sim, eu sei disso.” E não foi isso que perguntei. Silêncio. Ela olha para casa de Bray. Não há luzes dentro da casa, e eu observo que o modus operandi de Chandonne era tirar a lâmpada da varanda ou desligar os fios, e quando sua vítima abria a porta ele estava escondido pela escuridão. “Eu gostaria de sua opinião”, diz ela então. “Estou certa de que você tem uma. Você é uma investigadora muito observadora e experimentada.” Ela diz isso num tom firme e afiado. “Você também sabe o que Chandonne lhe fez — está intimamente familiarizada com o modus operandi dele de uma forma que ninguém mais está.” Sua referência ao ataque de Chandonne a mim é chocante. Embora Berger esteja simplesmente fazendo seu trabalho, fico ofendida com sua objetividade rude. Também fico perturbada por suas evasivas. Estou ressentida por ser ela quem decide o que vamos discutir, e quando, e por quanto tempo. Não posso evitar. Sou humana. Quero que ela demonstre pelo menos uma sugestão de compaixão para comigo e o que passei. “Alguém ligou para o necrotério hoje de manhã e se identificou como Benton Wesley.” Jogo isso para ela. “Você já teve informações sobre Rocky Marino Caggiano? O que ele está preparando?” Minha voz é aguçada pela raiva e pelo medo. “Não vamos ouvir falar dele por algum tempo”, ela diz, como se soubesse. “Não é o estilo dele. Mas certamente não me surpreenderia se ele estivesse praticando seus velhos truques. Assediar. Ferir. Aterrorizar. Tocar nos pontos sensíveis como um aviso, no mínimo. Meu palpite é que você não vai ter contato direto com ele e nem sequer receber um sopro dele até perto do julgamento. Se é que você vai mesmo vê-lo. Ele é assim, o filho-da-mãe. O tempo inteiro nos bastidores.” Ficamos caladas por um momento. Ela está esperando que eu abra a guarda. “Minha opinião ou especulação, tudo bem”, digo finalmente. “É isso que você quer? Ótimo.”
“É o que eu quero. Você seria uma ótima ‘cadeira adicional’.” Ela faz referência a uma segunda promotora distrital que atuaria em conjunto com ela, seria sua parceira durante um julgamento. Ou ela acaba de me fazer um elogio ou está sendo irônica. “Diane Bray tinha uma amiga que aparecia com muita freqüência.” Dou o primeiro passo para fora dos limites. Começo a deduzir. “Detetive Anderson. Ela era obcecada por Bray. Bray a seduzia a sério, ao que parece. Acho que é possível que Chandonne tenha vigiado Bray e reunido informações. Ele observava Anderson entrar e sair. Na noite do assassinato, ele esperou até Anderson sair da casa” — olho para a casa — “e imediatamente foi até lá, tirou a lâmpada da varanda, depois bateu na porta. Bray supôs que era Anderson voltando para reiniciar a discussão ou fazer as pazes ou o que fosse.” “Porque elas tinham brigado. Elas brigavam muito”, Berger completa a narrativa. “Tudo indica que era um relacionamento tempestuoso”, continuo a penetrar em espaço aéreo restrito. Não pretendo entrar nessa parte de uma investigação, mas continuo. “Anderson tinha se exaltado e voltado no passado”, acrescentou. “Você esteve na entrevista com Anderson depois que o corpo foi encontrado.” Berger sabe disso. Alguém contou a ela. Marino, provavelmente. “Sim, estive.” “E a história do que aconteceu naquela noite enquanto Anderson estava comendo pizza e tomando cerveja na casa de Bray?” “Elas discutiram — isso de acordo com Anderson. Então Anderson saiu irritada e logo depois há uma batida na porta. O mesmo padrão de batida que Anderson sempre dava. Ele imitou o modo como ela batia, assim como imitou a polícia quando foi a minha casa.” “Mostre.” Berger olha para mim. Bato no console entre os bancos da frente. Três vezes, forte. “Era assim que Anderson sempre batia na porta? Ela não usava a campainha?”, pergunta Berger. “Você conviveu com policiais o suficiente para saber que eles dificilmente tocam campainhas. Estão acostumados a bairros onde as campainhas não funcionam, quando existem.” “É interessante que Anderson não tenha voltado”, ela observa. “E se ela tivesse voltado? Você acha que de alguma maneira Chandonne sabia que ela não ia voltar aquela noite?” “Também me perguntei isso.” “Talvez apenas alguma coisa que ele tenha sentido na postura dela quando ela saiu? Ou talvez ele estivesse tão fora de controle que não conseguiu parar”, pondera Berger. “Talvez seu desejo fosse mais forte do que o medo que pudesse ser interrompido.” “Ele pode ter observado uma outra coisa importante”, digo. “Anderson não tinha a chave da casa de Bray. Bray sempre a recebia.” “Sim, mas a porta não estava trancada quando Anderson voltou na manhã seguinte e encontrou o corpo, certo?”
“Não significa que não estava trancada quando ele estava dentro atacando Bray. Ele pôs uma placa de ‘fechado’ e trancou a loja de conveniência enquanto estava matando Kim Luong.” “Mas não sabemos com certeza se ele trancou a porta quando entrou na casa de Bray”, reitera Berger. “Eu certamente não tenho certeza.” “E talvez ele não tenha trancado.” Berger está interessada nisso. “Ele talvez tenha conseguido entrar e a caçada começa. A porta fica destrancada o tempo inteiro enquanto ele está mutilando o corpo dela na cama.” “Isso sugeriria que ele estava fora de controle e se arriscando muito”, observo. “Humm. Não quero ir por esse caminho do fora de controle.” Berger parece falar consigo mesma. “Fora de controle não é exatamente a mesma coisa que insano”, lembro a ela. “Todas as pessoas que matam, a não ser em autodefesa, estão fora de controle.” “Ah. Touché.” Ela assente com a cabeça. “Então Bray abre a porta, e a luz está apagada e lá está ele no escuro.” “Ele fez isso também com a doutora Stvan em Paris”, conto a Berger. “Estavam sendo assassinadas mulheres lá, o mesmo modus operandi, e em vários casos Chandonne deixou bilhetes nas cenas de crime.” “É daí que vem o nome Loup-garou”, aparteia Berger. “Ele também escreveu esse nome em uma caixa dentro do contêiner do cargueiro onde o corpo foi encontrado — o corpo de seu irmão, Thomas. Mas sim”, digo, “ele aparentemente começou a deixar bilhetes referindo-se a si mesmo como lobisomem quando começou a assassinar por lá, em Paris. Uma noite, ele apareceu na porta da casa da doutora Stvan, sem saber que o marido dela estava doente em casa. Ele trabalha à noite como chef, mas nessa ocasião ele estava em casa inesperadamente, graças a Deus. A doutora Stvan abre a porta e, quando Chandonne ouve o marido dela chamar de outro aposento, ele foge.” “Ela deu uma boa olhada nele?” “Acho que não.” Recordo o que a dra. Stvan me contou. “Estava escuro. A impressão dela é que ele estava bem vestido, com um casaco escuro comprido, um cachecol, com as mãos nos bolsos. Ele falava bem, como um cavalheiro, usando o estratagema de que seu carro havia quebrado e ele precisava de um telefone. Então ele percebeu que ela não estava sozinha e saiu correndo em disparada.” “Mais alguma coisa que ela se lembrava dele?” “O cheiro. Ele tinha um cheiro almiscarado, como o de um cachorro molhado.” A esse comentário, Berger faz um som estranho. Estou começando a me familiarizar com seus maneirismos sutis, e quando um detalhe é especialmente estranho ou nojento, ela suga o lado de dentro da bochecha e emite um guincho abafado irritante, como um pássaro. “Então ele tenta pegar a legista-chefe lá, e
depois a daqui. Você”, ela acrescenta para dar ênfase. “Por quê?” Ela se virou um pouco no banco e está apoiando um cotovelo na direção, de frente para mim.” “Por quê?”, repito, como se essa fosse uma pergunta que não posso responder — como se fosse uma pergunta que ela não deveria me fazer. “Talvez alguém deva me dizer isso.” Mais uma vez, sinto crescer o calor da raiva. “Premeditação”, ela responde. “Pessoas insanas não planejam seus crimes com esse tipo de deliberação. Escolher a legista-chefe de Paris e depois a daqui. Ambas mulheres. Ambas fizeram a autópsia de suas vítimas e, portanto, de um jeito perverso, são íntimas dele. Talvez mais íntimas dele do que uma amante, porque, em certo sentido, vocês assistiram. Vocês viram onde ele tocou e mordeu. Puseram suas mãos no mesmo corpo em que ele pôs. Em certo sentido, vocês o viram fazer amor com essas mulheres, pois é assim que Jean-Baptiste Chandonne faz amor com uma mulher.” “Um pensamento revoltante.” Considero a interpretação psicológica dela pessoalmente ofensiva. “Um padrão. Um plano. Nem um pouco aleatório. Então é importante que entendamos os padrões dele, Kay. E que façamos isso sem repugnância nem reação pessoal.” Ela faz uma pausa. “Você deve olhar para ele de forma desapaixonada. Não pode se entregar ao ódio.” “É difícil não odiar alguém como ele”, digo honestamente. “E quando realmente estamos ofendidos com uma pessoa e sentimos ódio por ela, também é difícil darmos a essa pessoa nosso tempo e nossa atenção, interessarmo-nos por ela como se ela merecesse ser entendida. Temos de nos interessar por Chandonne. Intensamente. Preciso que você se interesse por ele mais do que se interessou por qualquer pessoa em sua vida.” Não discordo do que Berger diz. Sei que ela está apontando uma verdade importante. Mas resisto desesperadamente a me interessar por Chandonne. “Sempre me orientei pelas vítimas”, digo a Berger. “Nunca gastei meu tempo tentando entrar na alma e na mente dos babacas que praticaram o crime.” “E também nunca esteve envolvida em um caso como este”, ela contrapõe. “Nunca foi suspeita em um assassinato. Posso ajudá-la a resolver sua situação difícil. E preciso que você me ajude a resolver a minha. Me ajude a entrar na mente de Chandonne, em seu coração. Preciso que você não o odeie.” Fico em silêncio. Não quero dar a Chandonne nada além do que ele já me tomou. Sinto lágrimas de frustração e fúria e pisco para escondê-las. “Como você pode me ajudar?”, pergunto a Berger. “Você não tem jurisdição aqui. O caso de Diane Bray não é seu. Você pode incluí-la em sua moção Molineaux no assassinato de Susan Pless, mas eu estou sozinha quando se trata de um grande júri especial de Richmond. Especialmente quando certas pessoas estão tentando fazer parecer que eu a matei, matei Bray. Que eu estou louca.” Respiro profundamente. Meu coração se acelera. “A chave para você limpar seu nome é a mesma que serve para mim”, diz ela. “Susan Pless. Como você poderia ter tido algo a ver com essa morte? Como você poderia ter falsificado essa evidência?” Ela espera minha resposta, como se eu tivesse uma. Esse pensamento me
entorpece. É claro que eu não tive nada a ver com assassinato de Susan Pless. “Minha pergunta é esta”, continua Berger. “Se o DNA do caso de Susan coincidir com o de seus casos aqui e possivelmente com o DNA dos casos de Paris, isso não significa que tem de ser a mesma pessoa que matou todas elas?” “Imagino que os jurados não precisem ter certeza absoluta disso. Eles só precisam de uma causa provável”, respondo, fazendo o papel de advogado do diabo em meu próprio dilema. “A picareta de entalhar com sangue de Bray — encontrada na minha casa. E um recibo mostrando que comprei uma picareta de entalhar. E a picareta de entalhar que realmente comprei sumiu. Todos os tipos de evidência à mostra, como uma pistola fumegante, senhorita Berger, você não acha?” Ela toca em meu ombro. “Me responda uma coisa”, ela diz. “Você fez isso?” “Não”, respondo. “Não, não fiz.” “Bom. Porque não posso admitir que você tenha feito isso”, diz ela. “Preciso de você. Elas precisam de você.” Ela olha para a casa fria e vazia além de nosso pára-brisa, indicando as outras vítimas de Chandonne, aquelas que não sobreviveram. Elas precisam de mim. “Tudo bem.” Ela nos leva de volta ao motivo pelo qual estamos esperando nesta entrada para carros. Diane Bray. “Então ele entra pela porta da frente. Não há nenhum sinal de luta e ele não a ataca até eles chegarem à outra extremidade da casa, ao quarto dela. Não parece que ela tenha tentado fugir ou se defender de nenhum modo. Ela não tentou pegar sua arma? Ela é uma policial. Onde está a arma dela?” “Sei que quando ele forçou a entrada na minha casa”, respondo, “ele tentou jogar seu casaco sobre minha cabeça.” Estou tentando fazer o que ela quer. Ajo como se estivesse falando sobre outra pessoa. “Então talvez ele prenda Bray com um casaco ou alguma outra coisa que ele jogou sobre a cabeça dela, e a obrigue a ir para o quarto.” “Talvez. A polícia não encontrou a arma de Bray. Não que eu saiba”, respondo. “É. O que será que ele fez com ela?”, Berger reflete. Faróis brilham no retrovisor e eu me viro. Uma perua sobe lentamente a entrada para carros. “Também faltava dinheiro na casa”, acrescento. Dois mil e quinhentos dólares, dinheiro de droga que Anderson tinha acabado de trazer naquela noite. Segundo ela, Anderson.” A perua pára atrás de nós. “Da venda de remédios controlados, se Anderson estiver dizendo a verdade.” “Você acha que ela estava dizendo a verdade?”, pergunta Berger. “Toda a verdade? Não sei”, respondo. “Então talvez Chandonne tenha pegado o dinheiro e também a arma dela. A menos que Anderson tenha pegado o dinheiro quando voltou à casa na manhã seguinte e encontrou o corpo. Mas depois de ver o que estava no quarto, francamente, é difícil para mim imaginá-la fazendo qualquer coisa além de correr bem depressa.” “Baseada nas fotos que você mostrou, eu tenderia a concordar”, diz Berger. Nós saímos. Não consigo ver Eric Bray o suficiente para reconhecê-lo,
mas minha vaga impressão é de um homem atraente, bem vestido, com idade próxima à de sua irmã morta, talvez uns quarenta anos. Ele entrega a Berger uma chave presa numa etiqueta de papel kraft. “O código do alarme está anotado aí”, diz ele. “Vou esperar aqui.” “Realmente sinto muito lhe causar todo este problema.” Berger pega uma câmera fotográfica e uma pasta sanfonada no banco de trás. “Especialmente na véspera do Natal.” “Eu sei que vocês têm de fazer seu trabalho”, diz ele, num tom baixo, monocórdico. “Você esteve lá dentro?” Ele hesita e olha para a casa. “Não consigo fazer isso.” Sua voz se eleva com emoção e ele começa a chorar. Balança a cabeça e volta para dentro do carro. “Não sei como nenhum de nós... Bem”, ele pigarreia, falando conosco através da porta do carro aberta, com a luz interna ligada, o alarme disparado. “Como vamos entrar e lidar com as coisas dela.” Ele olha para mim, e Berger nos apresenta. Não tenho dúvida de que ele já sabe muito bem quem sou eu. “Há empresas de limpeza na área”, digo a ele delicadamente. “Sugiro que você contrate uma delas, que peça que eles entrem antes que você ou qualquer outra pessoa da família o faça. A Service Master, por exemplo.” Passei por isso muitas vezes com famílias cujos entes queridos morreram violentamente dentro de casa. Ninguém deveria ser obrigado a entrar e lidar com o sangue e o cérebro de seus amados espalhados por todos os lugares. “Eles podem simplesmente entrar sem nós?”, ele me pergunta. “O pessoal da limpeza pode?” “Deixe uma chave em uma caixa com chave na porta. Sim, eles vão entrar e cuidar das coisas sem a presença de vocês”, respondo. “Eles dão garantia e têm seguro.” “Quero fazer isso. E depois quero vender este lugar”, ele diz a Berger. “Se vocês não precisarem mais dele.” “Eu lhe informo”, ela responde. “Mas é claro que você tem o direito de fazer o que quiser com a propriedade, senhor Bray.” “Bem, não sei quem vai comprá-la depois do que aconteceu”, ele murmura. Berger e eu ficamos caladas. Provavelmente ele está certo. A maioria das pessoas não quer uma casa onde alguém foi assassinado. “Já falei com um corretor”, ele continua, em uma voz baixa que encobre sua raiva. “Eles disseram que não poderiam pegá-la. Pediram desculpas e tal, mas não queriam representar a propriedade. Não sei o que fazer.” Ele olha para a casa escura e sem vida. “Sabem, nós não éramos realmente próximos a Diane, ninguém da família era. Ela não era o que eu chamaria de realmente interessada na família ou nos amigos. Basicamente se interessava por ela própria, e sei que não deveria dizer isso. Mas, honestamente, esta é a verdade.” “Você a via com muita freqüência?”, Berger pergunta a ele. Ele balança a cabeça, negando. “Imagino que eu a conhecia melhor porque tínhamos só dois anos de diferença. Nós todos sabemos que ela tinha mais dinheiro do que conseguíamos entender. Ela apareceu na minha casa no Dia de
Ação de Graças com um Jaguar novinho em folha.” Ele sorri com amargura e balança de novo a cabeça. “Foi quando eu soube com certeza que ela estava em alguma coisa sobre a qual provavelmente eu não queria saber nada. Não estou surpreso, realmente.” Ele aspira o ar de forma profunda, calma. “De fato, não estou surpreso que tenha terminado assim.” “Você sabia do envolvimento dela com drogas?” Berger passa o arquivo para o outro braço. Estou ficando resfriada de ficar parada aqui, e a casa escura nos atrai como um buraco negro. “A polícia disse algumas coisas. Francamente, Diane nunca falou sobre o que fazia e nós não perguntamos. Que eu saiba, ela nem sequer deixou um testamento. Então agora também temos de tratar disso”, Eric Bray nos conta. “E do que fazer com as coisas dela.” Ele olha para nós do banco do motorista e a escuridão não consegue esconder sua infelicidade. “Realmente não sei o que fazer.” Há coisas demais em torno de uma morte violenta. Essas são dificuldades que ninguém vê nos filmes nem lê nos jornais: as pessoas que ficam para trás e as preocupações dolorosas que elas têm de agüentar. Dou a Eric Bray meu cartão e digo a ele para ligar para meu escritório se tiver qualquer outra pergunta. Informo, como de rotina, que o instituto tem um livreto, um excelente recurso chamado O que fazer quando a polícia sai, escrito por Bill Jenkins, cujo filho pequeno foi assassinado durante o assalto estúpido de um restaurante de fastfood há uns dois anos. “O livro vai responder a muitas de suas perguntas”, acrescento. “Sinto muito. Uma morte violenta acaba vitimando muitas pessoas. Essa é a infeliz realidade.” “Sim, senhora, isso é mais do que certo”, ele diz. “E, sim, eu gostaria de ler qualquer coisa que você conseguisse. Não sei o que esperar, o que fazer com nada disso”, ele se repete. “Estou aqui se vocês tiverem alguma pergunta. Vou ficar aqui mesmo, dentro do carro.” Ele fecha a porta. Sinto um aperto no peito. Sou tocada pela dor dele, mas não consigo sentir pena de sua irmã assassinada. Se tanto, o retrato que ele pinta me faz gostar ainda menos dela. Ela não era decente nem com os próprios parentes. Berger não diz nada enquanto subimos a escada da frente, e sinto seu escrutínio interminável. Ela está interessada em cada reação minha. Pode notar que ainda estou ressentida com Diane e com o que ela tentou fazer com a minha vida. Não faço nenhum esforço para esconder isso. Para que me preocupar a esta altura? Berger está olhando para a luz da varanda, fracamente iluminada pelos faróis do carro de Eric Bray. É uma luminária simples de vidro, pequena e em forma de globo, que deveria estar presa no suporte por parafusos. A polícia encontrou o globo de vidro na grama perto de uma árvore de buxo onde Chandonne aparentemente a jogou. Portanto, ele só precisou tirar a lâmpada, que “devia estar quente”, digo a Berger. “Então meu palpite é que ele a cobriu com algo para proteger os dedos. Talvez tenha usado o casaco.” “Nenhuma impressão digital nele”, diz ela. “Nem impressões digitais de
Chandonne, segundo Marino.” Isso é novidade para mim. “Mas isso não me surpreende, supondo que ele tenha coberto a lâmpada para não queimar os dedos”, ela acrescenta. “E quanto ao globo?” “Nenhuma impressão. Não dele.” Berger enfia a chave na fechadura. “Mas talvez ele também tivesse as mãos cobertas quando o tirou. Imagino como ele alcançou a luz. É muito alto.” Ela abre a porta e o alarme começa a tocar. “Acha que ele subiu em alguma coisa?” Ela vai até o teclado dentro da casa e digita o código. “Talvez ele tenha subido na grade”, sugiro, de repente a especialista no comportamento de Chandonne e não gostando nada do papel. “E na sua casa?” “Ele pode ter feito isso”, respondo. “Subido na grade e se firmado na parede ou no forro da varanda.” “Nenhuma impressão no suporte nem na lâmpada da sua casa, caso você não saiba”, ela me conta. “Não dele, de qualquer forma.” Relógios tiquetaqueiam na sala de estar, e eu me lembro de como fiquei surpresa quando entrei na casa de Diane Bray pela primeira vez, depois de ela ter sido morta, e descobri sua coleção de relógios perfeitamente sincronizados e suas antigüidades inglesas, grandiosas mas frias. “Dinheiro.” Berger pára na sala de estar e olha em volta para o sofá com braços em voluta, a estante giratória, o console de ébano. “Ah, sim, de fato. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Policiais não vivem assim.” “Drogas”, comento. “Não brinque.” Os olhos de Berger se movem por todos os lugares. “Usuária e traficante. Só que ela usava outras pessoas como mulas. Inclusive Anderson. Inclusive seu ex-supervisor do necrotério, que roubava remédios controlados que você supunha que estavam sendo jogados fora na pia do necrotério. Chuck do quê?” Ela toca em tapeçarias cor de damasco dourado e olha para os dosséis. “Teia de aranha”, ela observa. “Poeira que não apareceu durante os últimos dias. Há outras histórias sobre ela.” “Deve haver”, replico. “Vender remédios controlados na rua não pode explicar tudo isso e um Jaguar novo.” “O que me leva à pergunta que tenho feito a todos que ficarem quietos o tempo suficiente para que eu fale com eles.” Berger caminha para a cozinha. “Por que Diane Bray se mudou para Richmond?” Não tenho resposta. “Não pelo trabalho, não importa o que ela dissesse. Não foi por isso. De jeito nenhum.” Berger abre a porta da geladeira. Há muito pouco dentro: cereal Grape-Nuts, tangerinas, mostarda, maionese Miracle Whip. O prazo de validade do leite com 2% de gordura expirou ontem. “Muito interessante”, diz Berger. “Não acho que essa senhora ficava em casa.” Ela abre um armário e examina latas de sopa Campbell’s e uma caixa de bolachas salgadas. Há três vidros de azeitonas gourmet. “Martínis?, me pergunto. Ela bebia muito?” “Não na noite em que morreu”, lembro a ela. “Está certo. Nível alcoólico de zero-vírgula-três.” Berger abre outro
armário, e mais outro, até encontrar onde Bray guardava a bebida. “Uma garrafa de vodca. Uma de scotch. Dois cabernets argentinos. Não é o bar de alguém que bebesse muito. Provavelmente era vaidosa demais com a aparência para arruiná-la com bebida. As pílulas pelo menos não engordam. Quando você chegou à cena, foi a primeira vez que esteve na casa dela — nesta casa?”, pergunta Berger. “Sim.” “Mas sua casa fica a apenas alguns quarteirões daqui.” “Eu tinha visto esta casa de passagem. Da rua. Mas nunca tinha entrado nela. Nós não éramos amigas.” “Mas ela queria fazer amizade com você.” “Disseram-me que ela queria almoçar ou algo assim. Para me conhecer”, digo. “Marino.” “Foi o que Marino me disse”, confirmo, me acostumando às perguntas dela. “Você acha que ela tinha interesse sexual em você?” Berger pergunta isso muito casualmente enquanto abre a porta de um armário. Lá dentro há copos e louça. “Há muitas indicações de que ela jogava dos dois lados.” “Já me perguntaram isso antes. Não sei.” “Você teria ficado incomodada se ela estivesse?” “Teria me sentido constrangida. Provavelmente”, admito. “Ela saía muito para comer?” “Entendo que ela fazia isso.” Estou percebendo que Berger faz perguntas para as quais suspeito que ela já tem uma resposta. Ela quer ouvir o que tenho a dizer e pesar minhas percepções contra as de outras pessoas. Parte do que ela explora ecoa o que Anna me perguntou durante nossas confissões ao pé da lareira. Imagino se é remotamente possível que Berger também tenha conversado com Anna. “Me faz lembrar de uma loja que é uma fachada para algum negócio ilegal”, Berger diz enquanto verifica o que está embaixo da pia: alguns removedores e várias esponjas secas. “Não se preocupe”, ela parece ler minha mente. “Não vou deixar ninguém lhe perguntar isso no tribunal, sobre sua vida sexual e coisas do tipo. Nem nada sobre a vida pessoal dela. Percebo que essa não deve ser sua área de especialização.” “Não deve ser?” Parece um comentário esquisito. “O problema é que parte do que você sabe não é de ouvir dizer, são informações que você obteve diretamente dela. Ela lhe contou” — Berger abre uma gaveta — “que comia sozinha fora de casa com freqüência, no bar na Buckhead’s.” “Foi o que ela me contou.” “Na noite em que você a encontrou lá no estacionamento e a enfrentou.” “Na noite em que tentei provar que ela estava em conluio com meu assistente no necrotério, Chuck .” “E ela estava.” “Infelizmente, com certeza estava”, replico.
“E você a enfrentou.” “Enfrentei.” “Bem, o velho Chuck está preso onde devia estar.” Berger sai da cozinha. “E se isso não é coisa que você ouviu dizer”, ela volta a esse tópico, “então Rocky Caggiano vai lhe perguntar e eu não posso objetar. Ou posso, mas isso não vai me levar a nada. Você precisa perceber isso. E como isso lhe faz parecer.” “Neste instante, estou mais preocupada com como tudo me faz parecer para um grande júri especial”, respondo a ela, incisiva. Ela pára no corredor. No final dele, o quarto principal está atrás de uma porta descuidadamente entreaberta, aumentando o ambiente de negligência e indiferença que torna este lugar desagradavelmente frio. Berger me olha nos olhos. “Não conheço você pessoalmente”, diz. “Ninguém que estiver sentado naquele grande júri especial vai conhecer você pessoalmente. É sua palavra contra a de uma policial assassinada, dizendo que foi ela que a assediou e não o contrário, e que você não teve nada a ver com o assassinato dela — embora você pareça pensar que o mundo ficou melhor sem ela.” “Você soube disso por Anna ou por Righter?”, pergunto com amargura. Ela começa a andar pelo corredor. “Logo, logo, doutora Kay Scarpetta, você vai ganhar uma pele grossa”, ela diz. “Essa vai ser minha missão.”
26
Sangue é vida. Comporta-se como uma criatura viva. Quando o sistema circulatório é rompido, o vaso sangüíneo se contrai em pânico, tornando-se menor na tentativa de diminuir o fluxo de sangue que passa por ele e sai pelo rasgo ou corte. Plaquetas se reúnem imediatamente para fechar o buraco. Há treze fatores de coagulação, e juntos eles instigam sua química a interromper a perda de sangue. Sempre pensei que o sangue é vermelho brilhante também por uma razão. Ela é a cor do alarme, da emergência, do perigo e da tensão. Se o sangue fosse um fluido claro como o suor, poderíamos não perceber quando estamos feridos ou alguma outra pessoa está. O vermelho brilhante anuncia a importância do sangue, é a sirene que soa quando a maior de todas as violações ocorreu: quando outra pessoa mutilou ou tirou uma vida. O sangue de Diane Bray grita em pingos e gotículas, salpicos e manchas. Ele tagarela sobre quem fez o quê, como e, em alguns casos, por quê. A gravidade de uma batida afeta a velocidade e o volume do sangue que é lançado no ar. O sangue jogado pelo movimento de retorno de uma arma conta o número de golpes, que neste caso foi de pelo menos cinqüenta e seis. Isso é o cálculo mais preciso que podemos fazer, porque alguns salpicos de sangue cobrem outros, e decidir quantos poderiam estar acumulados em cima de cada um deles é como imaginar quantas vezes um martelo bateu num prego para enfiá-lo em uma árvore. O número de golpes mapeados neste quarto é coerente com o que o corpo de Bray me contou. Mas, de novo, tantas fraturas se sobrepuseram e tantos ossos foram completamente esmagados que eu também perco a conta. Lascívia e raiva inacreditáveis. Não houve nenhuma tentativa de limpar o que aconteceu no quarto principal, e o que Berger e eu encontramos contrasta profundamente com a calma e a esterilidade do resto da casa. Primeiro, há o que parece ser uma enorme rede rosa brilhante tecida por técnicos de cena do crime, que usaram um método chamado encordoamento para descobrir as trajetórias das gotículas de sangue que estão em todos os lugares. O objetivo é determinar distância, velocidade e ângulo, fazer surgir por meio de um modelo matemático a posição exata do corpo de Bray quando cada golpe foi desferido. O resultado parece um estranho projeto de arte moderna, uma esquisita geometria fúcsia que leva o olho a paredes, teto, piso, mobília antiga e os quatro espelhos ornados onde Bray antes admirava sua beleza sensual e espetacular. As poças de sangue coagulado no piso estão agora endurecidas e grossas como melaço seco, e o aspecto da cama king size onde o corpo de Bray foi tão cruelmente exposto sugere que alguém despejou latas de tinta preta por todo o colchão. Berger olha e sinto sua reação. Ela fica em silêncio enquanto absorve o que é horrivelmente, verdadeiramente incompreensível. Ela parece carregada com uma energia peculiar que só pessoas, sobretudo mulheres, que combatem a
violência profissionalmente podem de fato entender. “Onde está a roupa de cama?” Berger abre a pasta sanfonada. “Foi enviada ao laboratório?” “Não a encontramos”, respondo, e me lembro do quarto de motel no acampamento. Aquelas roupas de cama também não foram encontradas. Chandonne afirma que roupas de cama desapareceram de seu apartamento em Paris, lembro-me de ele dizer. “Removida antes ou depois de ela ser morta?” Berger tira fotos de um envelope. “Antes. Isso é aparente pelo sangue transferido para o colchão nu.” Entro no quarto, afastando cordões que apontam de forma acusadora para o crime de Chandonne, como longos dedos magros. Mostro a Berger manchas paralelas incomuns no colchão, as faixas ensangüentadas transferidas pelo cabo espiralado da picareta de entalhar quando Chandonne a depositou no colchão, entre os golpes ou depois deles. A princípio Berger não vê o padrão. Fica olhando, com o cenho levemente franzido, enquanto decifro um caos de nódoas escuras que são marcas de mão e manchas onde acredito que os joelhos de Chandonne possam ter estado enquanto ele estava escarranchando o corpo e encenando suas fantasias sexuais horripilantes. “Esses padrões não teriam sido transferidos para o colchão se houvesse roupa de cama no momento do ataque”, explico. Berger estuda uma foto de Bray de costas, estatelada no meio do colchão, com a calça de veludo preto e cinto, mas sem sapatos e meias, nua da cintura para cima, um relógio de ouro esmagado em seu pulso esquerdo. Um anel de ouro na mão direita machucada está cravado no osso do dedo. “Então, ou não havia roupa de cama, ou ele a removeu por algum motivo”, acrescento. “Estou tentando visualizar isso.” Berger examina o colchão. “Ele está na casa. Está forçando-a a seguir pelo corredor, até esta área, até o quarto. Não há sinal de luta — nenhuma evidência de que ele a feriu até eles chegarem aqui, e então, bum! Tudo vira um inferno. Minha pergunta é esta: ele a traz até aqui e então diz: ‘Ei, espere um segundo enquanto tiro a roupa de cama’? Ele pára para fazer isso?” “No momento em que ele a pôs na cama, duvido seriamente que ela estivesse falando ou em condições de correr. Se você olhar aqui, e aqui, e aqui, e aqui.” Refiro-me a segmentos de cordão colados a gotículas de sangue que começam na entrada do quarto. “Sangue lançado pelo movimento da arma — neste caso, a picareta de entalhar.” Berger segue o trajeto do cordão rosa brilhante e tenta correlacionar o que ele indica com o que está vendo nas fotos. “Diga-me a verdade”, ela diz. “Você realmente dá muito crédito a encordoamento? Conheço policiais que acham que isso é bobagem e uma enorme perda de tempo.” “Não, se a pessoa souber o que está fazendo e seguir fielmente a ciência.” “E qual é a ciência?” Explico a ela que 91% do sangue é água. Ele adere à física do líquido, e é afetado pelo movimento e pela gravidade. Uma gota de sangue típica cai a 7,65 metros por segundo. O diâmetro da mancha aumenta com o aumento da distância do gotejamento. Sangue pingando sobre sangue produz uma coroa de
salpicos em volta da poça original. Sangue borrifado produz salpicos alongados e estreitos em volta de uma mancha central, e à medida que o sangue seca ele passa de vermelho brilhante para marrom-avermelhado, para marrom e para preto. Conheço especialistas que passaram a carreira toda fixando conta-gotas de sangue em suportes, usando fios de prumo, espremendo, gotejando, derramando ou projetando sangue em uma variedade de superfícies, de uma variedade de ângulos e alturas, e andando sobre poças, pisando forte, dando tapas, fazendo experiências. Depois, é claro, há a matemática, a geometria das retas e a trigonometria para determinar o ponto de origem. O sangue no quarto de Diane Bray, à primeira vista, é um videoteipe do que aconteceu, mas não num formato legível, a menos que usemos a ciência, a experiência e o raciocínio dedutivo para entendê-lo. Berger também quer que eu use minha intuição. Mais uma vez, ela quer que eu ultrapasse meus limites clínicos. Sigo dezenas de pedaços de cordão que ligam manchas na parede e na moldura da porta e convergem para um ponto no meio do ar. Já que não se pode colar fita no ar, os técnicos de cena do crime moveram para cá um cabide antigo do vestíbulo e colaram o cordão a cerca de um metro e meio da base, para determinar o ponto de origem. Mostro a Berger onde Bray provavelmente estava quando Chandonne deu o primeiro golpe. “Ela estava há quase um metro da porta”, digo. “Você vê esta área vazia aqui?” Aponto para um espaço na parede onde não há sangue, apenas borrifos formando uma aura em volta dele. “O corpo dela, ou dele, impediu o sangue de atingir essa parte da parede. Ela estava de pé. Ou ele. E, se ele estava de pé, podemos supor que ela estava, porque ninguém se levanta e bate em alguém que está no chão.” Fico bem ereta e mostro a ela. “Não, a menos que a pessoa tenha braços com um metro e oitenta de comprimento. Além disso, o ponto de origem está a mais de um metro e meio do chão, sugerindo que é aí que os golpes estavam se ligando ao alvo. O corpo dela. Muito provavelmente, a cabeça dela.” Movo-me quase um metro para perto da cama. “Agora ela está caída.” Aponto manchas e gotas no chão. Explico que as manchas produzidas de um ângulo de noventa graus são redondas. Se, por exemplo, a pessoa estivesse apoiada nas mãos e nos joelhos e o sangue caísse direto no chão do rosto dela, essas gotas seriam redondas. Muitas gotas no chão são redondas. Algumas estão espalhadas. Cobrem uma área de aproximadamente sessenta centímetros. Por um breve momento, Bray ficou apoiada nas mãos e nos joelhos, talvez tentando rastejar enquanto ele continuava a golpear. “Ele chutou ou pisou?”, pergunta Berger. “Nada do que encontrei me diria isso.” É uma boa pergunta. Pisadas e chutes acrescentariam outras nuances às emoções do crime. “As mãos são mais pessoais que os pés”, observa Berger. “Essa foi a minha experiência em assassinatos por luxúria. Raramente vejo chutes e pisadas.” Ando pelo quarto, apontando mais sangue lançado e salpicos satélites, depois me movo até uma poça de sangue endurecido a quase um metro da cama. “Ela sangrou aqui”, digo a Berger. “Talvez seja este o lugar onde ele arrancou a blusa e o sutiã dela.”
Berger procura entre as fotos e encontra aquela que mostra a blusa de cetim verde e o sutiã preto de Bray no chão, a aproximadamente um metro da cama. “A esta distância da cama começamos a encontrar tecido do cérebro.” Continuo a decifrar os hieróglifos sangrentos. “Ele pôs o corpo dela na cama”, intercala Berger. “Ou a forçou a ir para a cama. A questão é: ela ainda está consciente quando ele a põe na cama?” “Eu realmente não acho.” Aponto para minúsculos pedaços de tecido escurecido aderidos à cabeceira, às paredes, ao abajur, ao teto sobre a cama. “O tecido do cérebro. Ela não sabe mais o que está acontecendo. Mas é só uma opinião”, proponho. “Ainda viva?” “Ela ainda está sangrando.” Indico áreas pretas densas do colchão. “Isso não é uma opinião. É um fato. Ela ainda tem pressão sangüínea, mas é muito improvável que esteja consciente.” “Graças a Deus.” Berger pega a câmera e começa a tirar fotos. Posso notar que ela tem prática e foi bem treinada. Ela sai do quarto e começa a tirar fotos quando volta, recriando o que acabei de lhe mostrar e captando tudo em filme. “Vou pedir a Escudero que venha aqui e grave tudo”, ela me informa. “Os policiais gravaram um vídeo.” “Eu sei”, ela retruca, enquanto o flash dispara repetidas vezes. Ela não se importa. Berger é perfeccionista. Quer fazer as coisas do jeito dela. “Eu adoraria fazer uma gravação com você explicando tudo, mas não posso fazer isso.” Não pode mesmo, a menos que queira que o advogado da outra parte tenha acesso à fita. Baseada na completa ausência de anotações, estou certa de que ela não quer que Rocky Caggiano tenha acesso a uma única palavra — escrita ou falada — além do que está em meus relatórios-padrão. O cuidado dela é extremo. Sou anuviada por suspeitas que tenho muita dificuldade de levar a sério. Realmente, ainda não me convenci de que qualquer pessoa poderia seriamente pensar que assassinei a mulher cujo sangue está a toda nossa volta e sob nossos pés.
Berger e eu terminamos com o quarto. A seguir exploramos outras áreas da casa, às quais dei pouca atenção quando estava trabalhando na cena. Examinei o armário de remédios no quarto principal. Sempre faço isso. O que as pessoas guardam para aliviar desconfortos corporais conta uma bela história. Sei quem tem dor de cabeça ou problemas mentais ou é obcecado com a saúde. Sei que os remédios preferidos de Bray, por exemplo, eram Valium e Ativan. Encontrei centenas de comprimidos que ela tinha posto em frascos de Nuprin e Tylenol PM. Ela também tinha uma pequena quantidade de BuSpar. Bray gostava de sedativos. Ansiava por alívio. Berger e eu exploramos um quarto de hóspedes no corredor. É um local no qual nunca entrei, e, como seria de esperar, está desocupado. Não tem sequer mobília, mas está amontoado com caixas que Bray aparentemente nunca abriu. “Você não tem a sensação de que ela não planejava ficar muito tempo
aqui?” Berger está começando a falar comigo como se eu fizesse parte de sua equipe de promotores, fosse sua segunda no tribunal. “Porque eu tenho. E ninguém assume um cargo importante num departamento de polícia sem imaginar que vai ficar nele por pelo menos alguns anos. Mesmo que o trabalho seja apenas um degrau.” Olho dentro do banheiro e percebo que não há papel higiênico, nem toalhas, nem sequer sabonete. Mas o que encontro dentro do armário de remédios me surpreende. “Ex-Lax”, anuncio. “Pelo menos uma dúzia de caixas.” Berger aparece no vão da porta. “Bem, isso é uma novidade”, diz ela. “Talvez nossa amiga vaidosa tivesse um distúrbio alimentar.” Não é incomum que pessoas que sofrem de bulimia usem laxantes para se purgarem depois de comer ou beber demais. Levanto o assento da privada e encontro evidências de vômito espalhadas na parte de dentro e na borda do vaso. A cor é avermelhada. Bray deve ter comido pizza antes de morrer, e me lembro de que ela tinha muito poucos restos no estômago: vestígios de carne moída e verdura. “Se uma pessoa vomitou depois de comer e morreu cerca de meia hora mais tarde, você esperaria que o estômago dela estivesse totalmente vazio?” Berger acompanha o que estou montando. “Ainda haveria vestígios de comida presos no revestimento do estômago.” Abaixo o assento da privada. “Um estômago não fica totalmente vazio nem limpo, a menos que a pessoa tenha bebido enormes quantidades de água e vomitado. Como quando se faz uma lavagem ou uma infusão repetida de água para expelir um veneno, digamos.” Outra parte do roteiro surge diante de meus olhos. Este quarto era o segredo sujo e vergonhoso de Bray. Ele está isolado do fluxo regular da casa e ninguém além de Bray jamais esteve aqui, então não havia medo de que ele fosse descoberto, e sei o suficiente sobre distúrbios alimentares e vícios para estar bem consciente da necessidade desesperada que a pessoa tem de esconder dos outros seus rituais vergonhosos. Bray estava determinada a que ninguém jamais tivesse sequer o mais leve indício de que ela se entupia de comida e vomitava, e talvez o problema dela explique por que mantinha tão pouca comida na casa. Talvez os remédios ajudassem a controlar a ansiedade, que é uma parte inevitável de qualquer compulsão. “Talvez esta seja uma das razões pelas quais ela mandou Anderson sair tão depressa depois de comer”, conjectura Berger. “Bray queria se livrar da comida e queria privacidade.” “Essa seria pelo menos uma razão”, retruco. “Pessoas que sofrem dessa doença são tão dominadas pelo impulso que ele tende a se sobrepor a qualquer outra coisa que esteja acontecendo. Então, sim, talvez ela quisesse ficar sozinha para cuidar de seu problema. E talvez ela estivesse aqui neste banheiro quando Chandonne apareceu.” “O que aumentava sua vulnerabilidade.” Berger tira fotos do Ex-Lax dentro do armário de remédios. “Sim. Ela teria ficado alarmada e paranóica se estivesse no meio de seu ritual. E seu primeiro pensamento teria sido sobre o que estava fazendo — não
sobre qualquer perigo iminente.” “Distraída.” Berger se inclina e fotografa o vaso sanitário. “Extremamente distraída.” “Então ela corre para terminar o que está fazendo, vomitando”, reconstrói Berger. “Ela sai correndo daqui, fecha a porta e vai para a porta da frente. Está supondo que é Anderson quem está lá fora batendo três vezes. É bem possível que Bray estivesse desconcertada e ofendida, e pode ter começado a falar com irritação, quando abre a porta e...” Berger recua no corredor, com um esgar na boca. “Ela está morta.” Ela deixa este cenário cheio de possibilidades enquanto procuramos a lavanderia. Ela sabe que posso relatar a distração e o horror apavorante e repentino de abrir a porta da casa e ver Chandonne surgir de repente do escuro como uma criatura saída do inferno. Berger abre as portas do armário do corredor, depois encontra uma porta que leva ao porão. A área da lavanderia é aqui, e sinto-me estranhamente perturbada e nervosa enquanto caminhamos sob a luz agressiva de lâmpadas nuas que são acendidas por cordões de puxar. Nunca estive nesta parte da casa. Nunca vi o Jaguar vermelho brilhante do qual tanto ouvi falar. Ele está absurdamente fora de lugar neste espaço escuro, apinhado e desolador. O carro é magnificamente vistoso e um símbolo exato do poder que Bray adorava e ostentava tanto. Recordo-me do que Anderson disse, irritada, sobre ser o “office-boy” de Bray. Duvido seriamente que a própria Bray jamais tenha levado o carro para lavar. A garagem do porão tem a aparência que imagino que tinha quando Bray comprou a casa: um espaço de concreto escuro e empoeirado congelado no tempo. Não há nenhum sinal de melhoramentos. Ferramentas pendem de um painel com ganchos e há um cortador de grama velho e enferrujado. Pneus de reserva estão encostados numa parede. A lavadora e a secadora de roupa não são novas, e, embora eu esteja certa de que a polícia as verificou, não vejo nenhum sinal disso. As duas estão cheias. Quando quer que Bray tenha lavado roupa pela última vez, ela não se preocupou em esvaziar a lavadora nem a secadora, e lingerie, jeans e toalhas estão irremediavelmente amarfanhados e têm um cheiro acre. Meias, mais toalhas e roupas de trabalho que estão na lavadora não foram sequer molhadas. Pego uma camiseta de corrida Speedo. “Ela freqüentava uma academia?”, pergunto. “Boa pergunta. Vaidosa e obsessiva como ela era, suspeito que fazia alguma coisa para se manter em forma.” Berger mexe nas roupas da lavadora e pega uma calcinha manchada de sangue no cavalo. “Por falar em lavar a roupa suja de alguém”, ela comenta com pesar, “até eu me sinto às vezes como uma voyeur. Então talvez ela tivesse menstruado recentemente. Não que isso necessariamente tenha algo a ver com o preço do chá na China.” “Poderia ter”, retruco. “Depende de como isso afetava o humor dela. A TPM certamente piorava o distúrbio alimentar dela, e as alterações de humor não ajudariam o relacionamento instável dela com Anderson.” “É muito assombroso pensar nas coisas comuns, mundanas que podem levar a uma catástrofe.” Berger põe a calcinha de volta na máquina. “Eu tive um caso uma vez. Um homem precisa urinar e decide parar na Bleecker Street e se
aliviar num beco. Ele não consegue ver o que está fazendo até que outro carro passa e ilumina o beco apenas o suficiente para que o pobre sujeito perceba que está urinando sobre um cadáver ensangüentado. O cara tem um ataque do coração. Um pouco depois, um policial investiga o carro, que está parado em local proibido, entra no beco e encontra um hispânico morto com várias facadas. Ao lado dele há um homem mais velho morto com o zíper da calça aberto e o pênis para fora.” Berger vai até uma pia e lava as mãos, sacudindo-as para secarem. “Demorou um pouco para eu entender esse”, ela diz.
27
Terminamos na casa de Bray às nove e meia e, embora eu esteja cansada, seria impossível sequer pensar em dormir. Estou excessivamente energizada. Minha mente está acesa como uma enorme cidade à noite, e estou quase com febre. Eu nunca admitiria para ninguém quanto de fato gosto de trabalhar com Berger. Ela não deixa escapar nada. E guarda ainda mais coisas para si mesma. Ela despertou meu interesse. Provei o fruto proibido de ultrapassar meus limites burocráticos e gosto disso. Estou flexionando músculos que raramente uso, porque ela não está limitando minhas áreas de especialização, não restringe seu território nem é insegura. Talvez eu também queira que ela me respeite. Ela me encontrou em meu nível mais baixo, quando estou sendo acusada. Berger devolve a chave da casa a Eric Bray, que não tem perguntas para nós. Ele não parece nem curioso, só quer ir embora. “Como você está se sentindo?”, Berger me pergunta quando saímos. “Firme?” “Firme”, afirmo. Ela acende uma luz no teto do carro e olha furtivamente para um post-it no painel. Digita um número no telefone do carro, colocando-o no viva-voz. Sua mensagem gravada soa, e ela digita um código para ver quantas mensagens há. Oito. Então ela pega o fone para que eu não possa ouvi-las. Isso parece estranho. Haveria alguma razão para que quisesse que eu soubesse quantas mensagens ela tem? Estou só com meus pensamentos nos minutos seguintes, enquanto ela dirige pelo meu bairro, o fone grudado na orelha. Ouve as mensagens rapidamente, e suspeito que temos o mesmo hábito impaciente. Se alguém deixa uma mensagem muito longa, tendo a apagá-la antes que termine. Berger, aposto, faz a mesma coisa. Seguimos pela Sulgrave Road, atravessando o centro de Windsor Farms, passando pela Virginia House e pelo Agecroft Hall — antigas mansões Tudor que foram desmontadas e encaixotadas na Inglaterra e embarcadas para cá por moradores ricos de Richmond, em uma época em que esta parte da cidade era uma enorme propriedade. Aproximamo-nos da guarita da guarda para entrar em Lockgreen, meu bairro. Rita sai da cabine e sei instantaneamente por sua expressão tranqüila que ela já viu este utilitário Mercedes e sua motorista antes. “Oi”, diz Berger a ela. “Estou com a doutora Scarpetta.” Rita se inclina e seu rosto brilha na janela aberta. Está feliz de me ver. “Bem-vinda de volta”, ela diz com um sinal de alívio. “A senhora vai ficar em casa de vez, espero? Não parece certo a senhora não estar aqui. Parece muito quieto ultimamente.” “Volto para casa amanhã de manhã.” Sinto uma ambivalência, até medo, quando me ouço dizer as palavras. “Feliz Natal, Rita. Parece que todos nós vamos trabalhar hoje à noite.” “A gente tem que fazer o que tem que fazer.”
A culpa me pica o coração enquanto seguimos em frente. Este será o primeiro Natal em que não me lembrei dos guardas. Normalmente, faço pão para eles ou mando comida para quem quer que tenha a triste sorte de estar sentado naquela pequena guarita quando deveria estar em casa com a família. Fico em silêncio. Berger sente que estou incomodada. “É muito importante que você me conte o que está sentindo”, ela diz com calma. “Sei que é completamente contra sua natureza e viola todas as regras que você estabeleceu em sua vida.” Seguimos pela rua em direção ao rio. “Entendo isso muito bem.” “O assassinato torna todos egoístas”, digo a ela. “Não brinque.” “Ele causa uma raiva e uma dor insuportáveis”, continuo. “As pessoas só pensam em si mesmas. Fiz muitas análises estatísticas com a base de dados de nosso computador, e um dia estou tentando consultar o caso de uma mulher que foi estuprada e assassinada. Encontro três casos com o mesmo sobrenome e descubro o resto de sua família: o irmão, que morreu de overdose de drogas alguns anos após o assassinato, depois o pai, que cometeu suicídio vários anos depois disso, a mãe, que morreu em um acidente de carro. Começamos um estudo ambicioso no instituto, fazendo uma análise do que acontece com as pessoas que sobrevivem. Elas se divorciam. Tornam-se consumidoras abusivas de remédios controlados. São tratadas por doenças mentais. Perdem o emprego. Mudam-se.” “A violência com certeza envenena a água do lago”, Berger responde de forma um tanto banal. “Estou cansada de ser egoísta. É isso que estou sentindo”, digo. “Véspera de Natal, e o que eu fiz por qualquer pessoa? Nem mesmo por Rita. Lá está ela trabalhando até depois da meia-noite, tem vários empregos porque tem filhos. Bem, odeio isso. Ele feriu tantas pessoas. E continua a ferir. Tivemos dois assassinatos excêntricos que acredito que estão relacionados. Tortura. Ligações internacionais. Armas, drogas. O desaparecimento de roupas de cama.” Olho para Berger. “Quando esse inferno vai acabar?” Ela vira na entrada de minha casa, sem fingir que não sabe exatamente qual delas é. “A realidade é que não vai acabar tão cedo”, ela me responde. Como a casa de Bray, a minha está completamente às escuras. Alguém apagou todas as luzes, inclusive os holofotes que estão escondidos educadamente em árvores ou em beiradas e direcionados para o chão para que não iluminem minha propriedade como um estádio de beisebol e ofendam completamente meus vizinhos. Não me sinto bem-vinda. Fico apavorada ao entrar em casa e encarar o que Chandonne e a polícia fizeram com meu mundo particular. Permaneço sentada por um momento e olho para fora pela janela do carro enquanto meu coração desfalece. Raiva. Dor. Estou profundamente ofendida. “O que você está sentindo?”, pergunta Berger enquanto olha para fora. “O que estou sentindo?”, repito amargamente. “Chega de Più si prende e peggio si mangia.” Saio e fecho com raiva a porta do carro. Numa tradução livre, o provérbio italiano significa quanto mais se paga, pior se come. A vida rural italiana deve ser simples e agradável. Deve ser
descomplicada. A melhor comida é feita de ingredientes frescos, e as pessoas não saem correndo da mesa nem se preocupam com assuntos que realmente não são importantes. Para meus vizinhos, minha robusta casa é uma fortaleza com todos os sistemas de segurança conhecidos pela humanidade. Para mim, o que construí foi uma casa colonica, uma casa de fazenda graciosamente antiquada em tons variados de pedra cinza-creme, com persianas marrons que aquecem como os pensamentos tranqüilizadores e gentis das pessoas de que descendo. Apenas gostaria de ter posto em minha casa um telhado de coppi, telhas de terracota curvadas, em vez de ardósia, mas não queria as costas de um dragão vermelho em cima de pedra rústica. Se não consegui razoavelmente encontrar materiais antigos, pelo menos escolhi aqueles que combinam com a terra. A essência do que sou está arruinada. A beleza e a segurança simples de minha vida estão maculadas. Tremo por dentro. Minha visão é borrada por lágrimas enquanto subo a escada da frente e páro embaixo da lâmpada que Chandonne retirou. O ar da noite mordisca, e as nuvens absorveram a lua. Parece que vai nevar outra vez. Pisco e respiro várias vezes o ar frio, em um esforço para me acalmar e abafar a emoção que me domina. Berger, pelo menos, teve a boa vontade de me dar um momento de paz. Ela volta quando enfio minha chave na fechadura. Entro no vestíbulo escuro e frio e digito o código do alarme, quando uma consciência eriça o pêlo de minha nuca. Acendo as luzes e olho de relance para a chave de aço Medeco em minha mão, e meu pulso se acelera. Isto é loucura. Não pode ser. De jeito nenhum. Berger está entrando calmamente pela porta atrás de mim. Ela observa as paredes de estuque e os tetos abobadados. Os quadros estão deslocados. Os belos tapetes persas estão dobrados, bagunçados e sujos. Nada foi reposto no lugar original. Parece insolente que ninguém tenha se preocupado em limpar o talco e a lama trazida para dentro, mas não é por isso que tenho uma expressão no rosto que chama a atenção de Berger. “O que foi?”, diz ela, as mãos postas para abrir o casaco de pele. “Preciso dar um rápido telefonema”, digo a ela.
Não conto a Berger o que estou pensando. Não deixo transparecer o que temo. Não divulgo que, quando saí da casa para usar meu telefone celular reservadamente, liguei para Marino e pedi a ele que viesse já para cá. “Está tudo bem?”, pergunta Berger quando volto e fecho a porta da frente. Não respondo. É claro que não está tudo bem. “Onde você quer que eu comece?” Lembro-a de que temos trabalho a fazer. Ela quer que eu reconstrua exatamente o que aconteceu na noite em que Chandonne tentou me matar, e nós entramos na sala grande. Começo com o sofá modulado de algodão branco em frente à lareira. Eu estava sentada lá na última sexta-feira à noite, olhando contas, com o som da televisão abaixado. Periodicamente, havia uma interrupção para uma notícia urgente, advertindo o público sobre o assassino serial que se autodenomina Le Loup-garou. Havia sido dada uma informação sobre sua suposta doença genética, sua extrema
deformidade, e quando me lembro daquela noite parece quase absurdo imaginar um âncora muito sério de uma emissora local falando sobre um homem que tem cerca de um metro e oitenta de altura, dentes esquisitos e o corpo coberto de cabelo longo e fino, como de um bebê. As pessoas foram advertidas a não abrir a porta se não tivessem certeza de quem estava lá. “Mais ou menos às onze”, digo a Berger, “mudei para a NBC, acho, para ver as últimas notícias, e momentos depois meu alarme contra ladrões disparou. A área da garagem tinha sido violada, de acordo com o visor no teclado, e quando o serviço ligou eu disse a eles que era melhor mandarem a polícia, porque eu não tinha idéia do motivo pelo qual a coisa tinha disparado.” “Então sua garagem tem um sistema de alarme”, repete Berger. “Por que a garagem? Por que você acha que ele tentou invadi-la?” “Para acionar deliberadamente o alarme, assim a polícia viria”, repito minha crença. “Eles vêm. Saem. Então ele aparece. Ele personifica a polícia, e eu abro a porta. Não importa o que qualquer pessoa diga ou o que eu vi no teipe quando você o entrevistou, ele falava inglês, inglês perfeito. Não tinha nenhum sotaque.” “Não parecia o homem no videoteipe”, ela concorda. “Não. Certamente não.” “Então você não reconheceu a voz dele naquele teipe.” “Não reconheci”, digo. “Você não acha que ele estava realmente tentando entrar na sua garagem, então. Acha que isso foi só para disparar o alarme.” Berger sonda, como sempre não anotando nada. “Duvido disso. Acho que ele estava tentando fazer exatamente o que eu disse.” “E como você supõe que ele sabia que sua garagem tinha um sistema de alarme?”, indaga Berger. “É muito incomum. A maioria das casas não tem sistema de alarme na garagem.” “Não sei se ele sabia nem como sabia.” “Ele podia ter tentado uma porta dos fundos, por exemplo, e ter certeza de que o alarme seria disparado, supondo que você o tivesse ligado. E eu acredito plenamente que ele sabia que você o teria ligado. Podemos supor que ele sabe que você é uma mulher muito preocupada com segurança, especialmente considerando os assassinatos que acontecem por aqui.” “Eu não tenho nenhuma pista do que se passava na mente dele”, digo, bastante concisa. Berger anda. Pára em frente à lareira de pedra. A lareira está vazia e escura e faz minha casa parecer desabitada e desleixada como a de Bray. Berger aponta um dedo para mim, “Você sabe o que ele pensa”, ela me confronta. “Assim como ele estava reunindo informações sobre você e sentindo como você pensa e quais são seus padrões, você estava fazendo a mesma coisa com ele. Você leu sobre ele nos ferimentos dos corpos. Estava se comunicando com ele através de suas vítimas, através das cenas de crime, através de tudo que você ficou sabendo na França.”
28
Meu sofá branco em estilo italiano tradicional está manchado de rosa de formalina. Há pegadas numa almofada, provavelmente deixadas por mim quando pulei por cima do sofá para escapar de Chandonne. Jamais me sentarei de novo nesse sofá, e mal posso esperar que o levem embora. Acomodo-me na beirada de uma cadeira vizinha, da mesma cor do sofá. “Preciso conhecê-lo para desmontá-lo no tribunal”, continua Berger, seus olhos refletindo o fogo interior. “Só posso conhecê-lo por meio de você. Você deve fazer essa apresentação, Kay. Leve-me a ele. Mostre-o a mim.” Ela se senta na lareira e ergue as mãos num gesto teatral. “Quem é Jean-Baptiste Chandonne? Por que sua garagem? Por quê? O que há de especial na sua garagem? O quê?” Penso por um momento “Não posso começar dizendo o que poderia ser especial nela para ele.” “Tudo bem. Então, o que há de especial nela para você?” “É onde guardo minhas roupas de cena do crime.” Começo a tentar imaginar o que poderia ser especial em minha garagem. “E uma lavadora e uma secadora de roupa industriais. Nunca uso roupas de cena do crime dentro de casa, então lá é meu quarto de vestir, lá na garagem.” Alguma coisa brilha nos olhos de Berger, um reconhecimento, uma conexão. Ela se levanta. “Me mostre”, diz ela. Acendo as luzes da cozinha quando passamos em direção ao quarto de despejo, onde há uma porta que leva à garagem. “Seu vestiário doméstico”, comenta Berger. Acendo as luzes e sinto um aperto no coração quando percebo que a garagem está vazia. Meu Mercedes se foi. “Onde diabo está meu carro?”, pergunto. Examino as paredes dos armários, o baú de cedro especialmente ventilado, suprimentos para jardinagem bem organizados, as ferramentas previsíveis, um nicho para a lavadora e a secadora e uma grande pia de aço. “Ninguém disse nada sobre levar meu carro a lugar nenhum.” Lanço um olhar acusador para Berger e sou sacudida por uma desconfiança instantânea. Mas ou ela é uma grande atriz, ou não tem nenhuma pista. Ando até o meio da garagem e olho em volta, como se pudesse encontrar alguma coisa que vai me dizer o que aconteceu com meu carro. Digo a Berger que meu Mercedes sedã preto estava aqui no sábado passado, no dia em que me mudei para a casa de Anna. Não vi o carro desde então. Não estive aqui desde então. “Mas você esteve”, acrescento. “Meu carro estava aqui da última vez que você veio? Quantas vezes você esteve aqui?”, pergunto a ela. Ela também está andando. Agacha-se diante da porta da garagem e examina as raspaduras na faixa de borracha, onde acreditamos que Chandonne usou algum tipo de ferramenta para levantar a porta. “Você poderia abrir a porta, por favor?” Berger é inflexível.
Pressiono um botão na parede e a porta sobe fazendo barulho. A temperatura dentro da garagem cai instantaneamente. “Não, seu carro não estava aqui quando eu vim.” Berger se levanta. “Nunca o vi. Considerando as circunstâncias, suspeito que você sabe onde ele está”, ela acrescenta. A noite enche o amplo espaço vazio, e caminho para onde Berger está. “Provavelmente apreendido”, digo. “Minha nossa.” Ela assente. “Vamos descobrir a razão disso.” Ela se vira para mim e há algo em seus olhos que nunca vi antes. Dúvida. Berger está constrangida. Talvez eu esteja condicionada por minha vontade, mas sinto que ela se sente mal por minha causa. “E o que faço agora?”, murmuro, olhando para minha garagem como se nunca a tivesse visto antes. “O que devo dirigir?” “Seu alarme disparou por volta das onze da noite na sexta-feira”, Berger retoma seu tom profissional. É outra vez firme e indireta. Volta a nossa missão de retraçar os passos de Chandonne. “Os policiais chegam. Você os traz até aqui e encontra a porta aberta uns vinte centímetros.” Obviamente, ela viu o relatório da tentativa de arrombar e entrar. “Estava nevando e você encontrou pegadas do outro lado da porta.” Ela caminha para fora e eu a sigo. “As pegadas estavam cobertas com poeira de neve, mas você pôde notar que elas passavam pela lateral da casa, até a rua.” Ficamos na entrada de carros no ar frio, ambas sem casacos. Olho para o céu escuro e alguns flocos de neve tocam friamente meu rosto. Começou de novo. O inverno se tornou um hemofílico. Parece que não pode parar de se precipitar. As luzes da casa do meu vizinho brilham através de magnólias e árvores nuas, e imagino quanta paz de espírito restou às pessoas de Lockgreen. Chandonne também causou danos à vida delas. Eu não ficaria surpresa se algumas pessoas se mudassem. “Você consegue se lembrar de onde estavam as pegadas?”, pergunta Berger. Mostro a ela. Sigo pela entrada para carros dando a volta na lateral da casa e atravesso o jardim, direto para a rua. “Que rumo ele tomou?” Berger olha para um lado e para outro da rua escura e vazia. “Não sei”, respondo. “A neve estava revolvida, tinha começado a nevar de novo. Não conseguimos saber que rumo ele tomou. Mas eu também não fiquei aqui olhando. Imagino que você vai ter de perguntar à polícia.” Penso em Marino. Gostaria que ele corresse e chegasse aqui, e me lembro do motivo pelo qual o chamei. O medo e o desnorteamento fazem minha espinha estalar. Olho as casas dos meus vizinhos. Aprendi a ler onde moro e posso dizer, pelas janelas iluminadas, pelos carros nas entradas e pelos jornais entregues, quando as pessoas estão em casa, o que realmente não é muito freqüente. Uma grande parcela da população daqui viaja para passar o inverno na Flórida e os meses quentes do verão na água, em algum lugar. Ocorre-me que nunca tive realmente amigos no bairro, só pessoas que acenam quando nos cruzamos de carro. Berger volta à garagem, abraçando-se para manter o calor, a umidade de
sua exalação se condensando em baforadas brancas. Lembro-me de Lucy quando criança vindo de Miami me visitar. A única ocasião em que ela se expunha ao frio era em Richmond, e ela enrolava folhas de caderno e ficava lá fora no pátio, fingindo fumar, batendo cinzas imaginárias, sem saber que eu a observava de uma janela. “Vamos retroceder”, Berger está dizendo. “Para segunda-feira, 16 de dezembro. O dia em que o corpo foi encontrado no contêiner no porto de Richmond. O corpo que acreditamos que era Thomas Chandonne, supostamente assassinado por seu irmão, Jean-Baptiste. Conte-me exatamente o que aconteceu naquela segunda-feira.” “Eu fui notificada sobre o corpo”, começo. “Por quem?” “Marino. Então, alguns minutos depois, meu legista assistente, Jack Fielding, ligou. Eu disse que compareceria à cena”, começo. “Mas você não precisava”, ela interrompe. “Você é a chefe. Temos um corpo em decomposição, asqueroso e fedorento, em uma manhã incomumente quente. Você poderia ter deixado, é..., Fielding ou alguma outra pessoa ir até lá.” “Poderia.” “Por que não fez isso?” “Era evidente que ia ser um caso complicado. O navio tinha vindo da Bélgica e tínhamos de considerar a possibilidade de que o corpo também viesse da Bélgica, o que criava dificuldades internacionais. Tendo a assumir os casos difíceis, aqueles que vão ter muita publicidade.” “Por que você gosta de publicidade?” “Porque não gosto.” Estamos dentro da garagem agora, nós duas completamente congeladas. Fecho a porta. “E talvez você quisesse pegar esse caso porque tinha tido uma manhã perturbadora?” Berger caminha até o grande baú de cedro. “Você se importa?” Digo a ela para ficar à vontade, enquanto fico outra vez maravilhada com os detalhes que ela parece saber a meu respeito. Segunda-feira negra. Naquela manhã, o senador Frank Lord, presidente da Comissão de Justiça e um velho e querido amigo, veio me ver. Estava de posse de uma carta que Benton havia escrito para mim. Eu não sabia nada sobre essa carta. Jamais me ocorreria que, enquanto Benton estava de férias no lago Michigan alguns anos antes, ele havia escrito uma carta para mim e instruído o senador Lord a entregá-la no caso de ele — Benton — morrer. Lembro-me de reconhecer a grafia quando o senador me entregou a carta. Jamais esquecerei o choque. Fiquei arrasada. O luto finalmente me pegou e tomou minha alma, e era isso precisamente o que Benton tinha pretendido. Até o fim, ele foi um especialista em perfis psicológicos brilhante. Sabia exatamente como eu reagiria se algo acontecesse com ele, e estava me forçando a sair de minha negação por meio do trabalho. “Como você sabe sobre a carta?”, pergunto, entorpecida, a Berger. Ela está olhando dentro do baú para macacões, botas de borracha, calças impermeáveis, luvas de couro grosso, ceroulas, meias, tênis. “Por favor, me agüente”, ela diz num tom quase gentil. “Apenas responda às minhas perguntas
por enquanto. Vou responder às suas depois.” Isso não me satisfaz. “Que importância tem a carta?” “Não estou certa. Mas vamos começar com o estado de espírito.” Ela deixa isso penetrar em mim. Meu estado de espírito é o centro do alvo de Caggiano, caso eu acabe indo a Nova York. Mais imediatamente, é o que todas as outras pessoas parecem estar questionando. “Vamos supor que, se eu souber de alguma coisa, o advogado da outra parte também sabe”, ela acrescenta. Faço que sim com a cabeça. “Você recebe essa carta inesperadamente. De Benton.” Ela pára de falar e a emoção cintila em seu rosto. “Deixe-me dizer apenas...” Ela desvia o olhar de mim. “Isso também teria me abalado, totalmente. Sinto muito pelo que você passou.” Ela olha para mim. Outro artifício para me fazer confiar nela, criar laços com ela? “Benton está lembrando você, um ano depois de sua morte, de que você provavelmente não lidou com a perda dele. Você correu com todas as forças do medo.” “Você não pode ter visto a carta.” Estou pasma e indignada. “Está trancada em um cofre. Como você sabe o que ela diz?” “Você a mostrou a outras pessoas”, ela responde razoavelmente. Percebo, com o pouco de objetividade que me restou, que se Berger não conversou com todos que me cercam, inclusive Lucy e Marino, vai conversar. É seu dever. Ela seria boba e negligente se não fizesse isso. “Seis de dezembro”, ela retoma. “Ele escreveu a carta no dia 6 de dezembro de 1996 e instruiu o senador Lord a entregá-la a você no dia 6 de dezembro seguinte à morte dele. Por que essa data era especial para Benton?” Eu hesito. “Pele grossa, Kay”, ela lembra. Pele grossa.” “Não sei exatamente o significado do dia 6 de dezembro — exceto que Benton mencionou na carta que sabia que o Natal é difícil para mim”, respondo. “Ele queria que eu lesse a carta perto do Natal.” “O Natal é difícil para você?” “Não é difícil para todo mundo?” Berger fica em silêncio. Então pergunta: “Quando o seu relacionamento íntimo com ele começou?”. “No outono. Há alguns anos.” “Tudo bem. No outono, há alguns anos. Foi quando você começou seu relacionamento sexual com ele.” Ela diz isso como se eu estivesse evitando a realidade. “Quando ele ainda estava casado. Quando seu caso com ele começou.” “Está certo.” “Tudo bem. No último dia 6 de dezembro, você recebe a carta e mais tarde naquela manhã comparece à cena no porto de Richmond. Então você voltou para cá. Conte-me exatamente qual é sua rotina quando você vem direto para casa de uma cena de crime.” “Minhas roupas de cena estavam ensacadas, duplamente ensacadas, no porta-malas do meu carro”, explico. “Um macacão e tênis.” Fico olhando para o
espaço vazio onde meu carro deveria estar. “O macacão foi para a máquina de lavar, os tênis para uma pia de água fervente com desinfetante.” Mostro a ela os tênis. Eles ainda estão na prateleira onde os coloquei para secar há mais de duas semanas. “E depois?” Berger caminha até a máquina de lavar e a secadora. “Depois eu tirei a roupa”, digo a ela. “Tirei tudo e pus na máquina de lavar, liguei e fui para dentro de casa.” “Nua.” “Sim. Fui para meu quarto, para o chuveiro, sem parar. É como eu me desinfeto quando venho direto para casa de uma cena”, concluo. Berger está fascinada. Ela tem uma teoria se desenvolvendo e, seja qual for, estou me sentindo cada vez mais constrangida e exposta. “Estou só imaginando”, ela reflete. “Estou só imaginando se de alguma maneira ele sabia.” “De alguma maneira sabia? E eu realmente gostaria de entrar, se você não se importa”, digo. “Estou congelando.” “De alguma maneira sabia sua rotina”, ela persiste. “Se ele estava interessado em sua garagem por causa de sua rotina. Era mais do que disparar o alarme. Talvez ele estivesse realmente tentando entrar. A garagem é onde você tira as roupas ligadas à morte — nesse caso, roupas maculadas por uma morte que ele causou. Você estava nua e vulnerável, mesmo que por pouco tempo.” Ela me segue para dentro da casa e eu fecho a porta do quarto de despejo. “Ele poderia ter uma verdadeira fantasia sexual sobre isso.” “Não consigo ver como ele poderia saber algo sobre minha rotina.” Resisto à hipótese que ela levantou. “Ele não testemunhou o que eu fiz naquele dia.” Ela levanta uma sobrancelha enquanto me olha. “Você pode dizer isso com certeza? Alguma possibilidade de ele tê-la seguido até em casa? Sabemos que ele estava no porto em algum momento, porque foi assim que ele chegou a Richmond — a bordo do Sirius, onde ele se cobriu com um uniforme branco, depilou áreas visíveis do corpo e ficou na cozinha a maior parte do tempo, trabalhando como cozinheiro e evitando encontrar outras pessoas. Não é essa a teoria? Eu certamente não acredito no que ele disse quando o entrevistei — que ele roubou um passaporte e uma carteira e viajou pela classe econômica.” “A teoria é que ele chegou ao mesmo tempo que o corpo de seu irmão apareceu”, respondo. “Então Jean-Baptiste, como era um cara cuidadoso, provavelmente andou pelo navio e observou todos vocês por ali quando o corpo foi encontrado. O maior espetáculo da terra. Esses babacas adoram nos observar trabalhando em seus crimes.” “Como ele poderia ter me seguido?” Volto a esse pensamento ultrajante. “Como? Ele tinha um carro?” “Talvez tivesse”, diz ela. “Estou quase considerando a possibilidade de Chandonne não ser a criatura solitária e desgraçada que simplesmente veio parar em sua cidade porque era conveniente ou mesmo aleatório. Não tenho mais certeza de quais são as ligações dele, e estou começando a me perguntar se talvez ele poderia fazer parte de um grande esquema que tem a ver com os
negócios da família. Talvez até com a própria Bray, já que ela estava claramente envolvida no submundo do crime. E agora temos outros assassinatos, uma das vítimas claramente envolvida com crime organizado. Um assassino. E um agente secreto do FBI trabalhando em um caso de contrabando de armas. E os cabelos no acampamento que talvez sejam de Chandonne. Tudo isso está se combinando em algo mais do que um homem que matou o irmão, tomou o lugar dele em um navio com destino a Richmond — tudo para sair de Paris porque seu hábito asqueroso de assassinar e mutilar mulheres estava ficando cada vez mais inconveniente para sua poderosa família de criminosos. Então ele começa a matar aqui porque não consegue se controlar? Bem.” Berger se recosta no balcão da cozinha. “Há coincidências demais. E como ele foi ao acampamento, se não tinha um carro? Supondo que se conclua que aqueles cabelos são dele”, ela repete. Sento-me à mesa. Não há janelas na minha garagem, mas há pequenas janelas na porta da garagem. Considero a possibilidade de que Chandonne tenha me seguido até em casa e me espiado através da porta da garagem enquanto eu estava me limpando e me despindo. Talvez ele também tivesse tido ajuda para encontrar a casa abandonada no rio. Talvez Berger esteja certa. Talvez ele não esteja sozinho e nunca tenha estado. É mais de meia-noite, quase Natal, e Marino ainda não está aqui, e a postura de Berger me diz que ela pode continuar até o amanhecer. “O alarme dispara”, ela retoma. “Os policiais vêm e vão embora. Você volta à sala grande.” Ela faz sinal para que eu a siga até lá. “Onde você estava sentada?” “No sofá.” “Certo. Televisão ligada, olhando contas, e por volta de meia-noite o que acontece?” “Há uma batida na porta da frente”, respondo. “Descreva a batida.” “Uma pancada com alguma coisa dura.” Tento me lembrar de cada detalhe. “Como uma lanterna ou um bastão tático. Do modo como a polícia bate. Eu me levanto e pergunto quem é. Ou acho que pergunto. Não estou certa, mas uma voz masculina se identifica como polícia. Ele diz que um ladrão foi localizado em minha propriedade e pergunta se está tudo bem.” “Isso faz sentido porque sabemos que o ladrão esteve aqui mais ou menos uma hora antes, quando alguém tentou forçar a porta de sua garagem.” “Exatamente.” Faço que sim com a cabeça. “Desligo o alarme e abro a porta, e lá está ele”, acrescento, como se estivesse falando sobre nada mais ameaçador do que crianças pedindo doces no dia de Halloween. “Me mostre”, diz Berger.
Caminho pela sala grande, passo pela sala de jantar e pelo hall de entrada. Abro a porta, e o simples ato de recriar um cenário que quase me custou a vida provoca uma reação visceral. Sinto enjôo. Minhas mãos começam a tremer. A luz da minha varanda da frente ainda está apagada porque a polícia removeu a
lâmpada e o suporte e os enviou ao laboratório para que fossem processadas impressões digitais. Ninguém os substituiu. Fios expostos pendem do teto. Berger está esperando pacientemente que eu continue. “Ele entra depressa”, digo. “E dá um coice na porta atrás dele.” Fecho a porta. “Ele segura um casaco preto e tenta colocá-lo sobre minha cabeça.” “Estava com ou sem o casaco quando entrou?” “Com. Estava tirando-o quando passou pela porta.” Fico parada. “E tentou tocar em mim.” “Tentou tocar em você?” Berger franze o cenho. “Com a picareta de entalhar?” “Com a mão. Ele esticou a mão e tocou em minha bochecha, ou tentou tocar.” “Você ficou parada enquanto ele fez isso? Apenas ficou parada?” “Tudo aconteceu muito rápido”, digo. “Muito rápido”, repito. “Não tenho certeza. Só sei que ele tentou fazer isso e estava tirando o casaco e tentando jogálo sobre minha cabeça. E eu corri.” “E a picareta de entalhar?” “Ele estava com ela. Não tenho certeza. Ou a tirou. Mas sei que ele estava com ela quando me perseguiu até a sala grande.” “No início ele não estava com ela? Não estava com a picareta de entalhar no início? Você tem certeza?” Ela me pressiona sobre esse ponto. Tento me lembrar, visualizar a cena. “Não, não no início”, concluo. “Primeiro ele tentou me tocar com a mão. Depois me cobrir. E depois sacou a picareta de entalhar.” “Você pode mostrar o que fez depois?”, ela pergunta. “Correr?” “Sim, correr.” “Não do mesmo jeito”, digo. “Eu teria de ter o mesmo surto de adrenalina, o mesmo pânico, para correr daquele jeito.” “Kay, encene para mim, por favor.” Saio do hall de entrada, passo pela sala de jantar e volto à sala grande. Bem à frente está a mesinha amarela de eucalipto que descobri numa loja maravilhosa em Katonah, Nova York. Como era o nome? Antipodes? A bela madeira clara brilha como mel e tento não notar o talco que a cobre completamente, ou talvez alguém tenha deixado nela um copo de café do 7Eleven. “O frasco de formalina estava aqui, neste canto da mesa”, digo a Berger. “E estava aí porque...?” “Por causa da tatuagem que estava nele. A tatuagem que eu tinha removido das costas do corpo que acreditamos que fosse de Thomas Chandonne.” “A defesa vai querer saber por que você trouxe pele humana para casa, Kay.” “É claro, todo mundo tem me perguntado isso.” Sinto um acesso de contrariedade. “A tatuagem é importante e suscitou muitas perguntas porque simplesmente não conseguimos imaginar o que ela era. Não só o corpo estava muito decomposto, tornando muito difícil até mesmo ver a tatuagem, mas depois
ficou claro que era uma tatuagem para esconder alguma coisa. Uma tatuagem encobrindo outra, e era crucial, especialmente, que determinássemos como era a tatuagem original.” “Dois pontos dourados que foram cobertos com uma coruja”, diz Berger. “Cada membro do cartel Chandonne tem dois pontos tatuados no corpo.” “Foi o que a Interpol me disse, sim”, digo, e agora já aceitei que ela e Jay Talley passaram muito tempo produtivo juntos. “O irmão Thomas estava extorquindo a família, tinha seu próprio negócio lateral, desviava navios, falsificava conhecimentos de embarque, administrava suas próprias armas e drogas. E a teoria é que a família descobriu. Ele mudou sua tatuagem para uma coruja e começou a usar apelidos porque sabia que a família o mataria se o encontrasse”, recito o que me disseram, o que Jay me disse em Lyon. “Interessante.” Ela toca os lábios com um dedo, olhando em volta. “E parece que a família o matou. O outro filho fez isso. O frasco de formalina. Por que você o trouxe para casa? Me diga outra vez.” “Não foi realmente algo deliberado. Eu fui para um salão de tatuagem em Petersburg para que a tatuagem do corpo fosse olhada por alguém que era especialista, um artista tatuador. Vim direto para casa de lá e deixei a tatuagem em meu escritório aqui. Foi só por acaso que na noite em que ele veio aqui...” “Jean-Baptiste Chandonne.” “Sim. Na noite em que ele veio aqui eu tinha trazido o frasco para cá, para a sala grande, e estava olhando para ele enquanto fazia outras coisas. Eu o guardo. Ele força a entrada em minha casa e eu corro. Agora ele tem a picareta de entalhar e a levanta para me atingir. Foi só um reflexo de pânico eu ver o frasco e pegá-lo. Pulo por cima do encosto do sofá, desenrosco a tampa e jogo a formalina no rosto dele.” “É um reflexo porque você sabe muito bem como a formalina é cáustica.” “Não se pode cheirá-la o dia todo e não saber. Aceita-se em minha profissão que a exposição à formalina é um perigo crônico, e todos nós tememos ser salpicados”, explico, percebendo como minha história pode soar para um grande júri especial. Forjada. Inacreditável. Grotescamente bizarra. “Você alguma vez já deixou cair formalina nos olhos?”, Berger me pergunta. “Alguma vez já se salpicou com formalina?” “Não, graças a Deus.” “Então você jogou a formalina no rosto dele. E depois?” “Saí correndo da casa. No caminho, peguei minha pistola Glock na mesa da sala de jantar, onde a tinha deixado antes. Saio, escorrego nos degraus e fraturo o braço.” Levanto meu gesso. “E o que ele fez?” “Ele veio atrás de mim.” “Instantaneamente?” “Parece que sim.” Berger anda em volta do encosto do sofá e pára na área assoalhada de carvalho francês antigo, onde a formalina comeu o acabamento. Ela segue as áreas mais claras da madeira de lei. A formalina aparentemente salpicou até a
entrada da cozinha. Isso é algo que não percebi até este momento. Só me lembro dos gritos e gemidos dele, de medo, enquanto ele punha a mão nos olhos. Berger fica parada no vão da porta, olhando para minha cozinha. Vou até onde ela está, imaginando o que chamou sua atenção. “Tenho de mudar de assunto e dizer que acho que nunca vi uma cozinha como esta”, ela comenta. A cozinha é o coração da minha casa. Caldeirões e panelas de cobre brilham como ouro em prateleiras em volta do enorme fogão Thirode, que fica no centro e inclui duas grelhas, um compartimento para banho-maria, uma chapa de ferro, duas chapas elétricas, queimadores a gás, uma chapa para carne e um queimador gigante para os enormes caldeirões de sopa que adoro fazer. Os eletrodomésticos são de aço inoxidável, inclusive a geladeira e o freezer SubZero. Prateleiras de temperos forram as paredes, e há um balcão do tamanho de uma cama de solteiro. O piso de carvalho é simples, e há um refrigerador de vinho vertical em um canto e uma mesinha encostada na janela que oferece uma vista distante de uma curva rochosa no rio James. “Industrial”, Berger murmura enquanto anda por uma cozinha que, sim, devo admitir, me enche de orgulho. “Alguém que vem aqui para trabalhar, mas adora as coisas boas da vida. Ouvi dizer que você é uma excelente cozinheira.” “Adoro cozinhar”, digo a ela. “Tira minha cabeça de qualquer outra coisa.” “Onde você consegue seu dinheiro?”, ela pergunta com ousadia. “Sou esperta com ele”, respondo friamente, jamais disposta a discutir sobre dinheiro. “Tive sorte com investimentos ao longo dos anos, muita sorte.” “Você é uma mulher de negócios esperta”, diz Berger. “Tento ser. E quando Benton morreu, deixou sua casa em Hilton Head para mim.” Faço uma pausa. “Eu a vendi, não podia mais ficar lá.” Outra pausa. “Consegui seiscentos e tantos mil por ela.” “Entendo. E o que é isso?” Ela aponta para a sanduicheira Milano Italian. Eu explico. “Bem, quando tudo isto terminar, você vai ter de cozinhar para mim algum dia”, ela diz com muita presunção. “Há boatos de que você faz comida italiana. Sua especialidade.” “Sim. Principalmente italiana.” Não há nenhum boato. Berger me conhece mais do que eu. “Você supõe que ele pode ter vindo aqui e tentado lavar o rosto na pia?”, ela pergunta então. “Não faço a menor idéia. Só posso lhe dizer que saí correndo e caí, e quando olhei para cima ele estava cambaleando atrás de mim. Ele desceu os degraus, ainda gritando, caiu no chão e começou a esfregar neve no rosto.” “Tentando lavar a formalina dos olhos. Ela é muito oleosa, não é? Difícil de lavar?” “Não seria fácil”, respondo. “Seria preciso grande quantidade de água quente.” “E você não ofereceu isso a ele? Não fez nenhum esforço para ajudá-lo?” Olho para Berger. “Calma aí”, digo. “Que diabo você teria feito?” A raiva me pica. “Espera-se que eu brinque de médica depois que o filho-da-mãe
acabou de tentar estourar meus miolos?” “Isso vai ser perguntado”, Berger responde pragmaticamente. “Mas não. Eu também não o teria ajudado, e isso é em off. Então ele está no seu jardim.” “Esqueci de dizer que apertei o alarme de pânico quando saí correndo da casa”, lembro. “Você pegou a formalina. Pegou sua pistola. Apertou o alarme de pânico. Você teve uma baita presença de espírito, não teve?”, ela comenta. “De qualquer maneira, você e Chandonne estão no jardim. Lucy aparece e você tem de falar com ela para convencê-la a não atirar na cabeça dele à queima-roupa. O ATF e todos os policiais aparecem. Fim da história.” “Bem que eu queria que fosse o fim da história”, digo. “A picareta de entalhar”, Berger volta a isso. “Agora você sabe como era a arma porque foi a uma loja de ferramentas e procurou até encontrar algo que poderia ter um padrão semelhante ao que encontrou no corpo de Bray?” “Eu tinha mais em que me basear do que você pode pensar”, respondo. “Eu sabia que Bray havia sido atingida por alguma coisa que tinha duas superfícies diferentes. Uma muito pontuda, outra mais quadrada. As áreas mais destruídas do crânio dela mostravam claramente a forma do que a atingira, e depois havia o padrão no colchão, que eu sabia que fora formado quando ele depositara alguma coisa ensangüentada. Que muito provavelmente era a arma. Um martelo ou algum tipo de picareta, mas incomum. A gente procura. Pergunta às pessoas.” “E então é claro que, quando ele veio a sua casa, estava com uma picareta de entalhar dentro do casaco ou seja lá o que for e tentou usá-la em você.” Ela diz isso sem paixão, objetivamente. “Sim.” “Então havia duas picaretas de entalhar na sua casa. A que você comprou na loja de ferramentas quando Bray já havia sido assassinada. E uma segunda, a que ele trouxe.” “Sim.” Estou chocada pelo que ela acabou de indicar. “Bom Deus”, murmuro. “Está certo. Comprei a picareta quando ela já estava morta, não antes.” Estou tão confusa pelo que aconteceu, pelos dias, por tudo. “O que estou pensando? A data no recibo...” Minha voz some. Lembro-me de ter pago em dinheiro na loja de ferramentas. Cinco dólares, algo assim. Não tenho recibo, estou certa disso, e sinto o sangue fugir de meu rosto. Berger soube o tempo todo o que eu esqueci: que eu não comprei a picareta antes de Bray ser morta, e sim no dia seguinte. Mas não posso provar isso. A menos que o funcionário que me atendeu na loja de ferramentas possa apresentar a fita da máquina registradora e jurar que sou a pessoa que comprou a picareta, não há nenhuma prova. “E agora uma delas sumiu. A picareta de entalhar que você comprou sumiu”, Berger está dizendo enquanto minha mente gira. Digo a ela que não sei o que a polícia encontrou. “Mas você estava aqui quando eles vasculharam sua casa. Você não estava em casa quando a polícia veio?”, ela me pergunta. “Eu mostrei a eles tudo que queriam ver. Respondi às perguntas deles. Estava aqui no sábado e saí no começo da noite, mas não posso dizer que vi tudo
que eles fizeram ou no que tocaram, eles não tinham terminado quando saí. Francamente, não sei nem por quanto tempo eles estiveram na minha casa, nem quantas vezes.” Sou tocada pela raiva enquanto explico tudo isso, e Berger percebe. “Cristo, eu não tinha uma picareta de entalhar quando Bray foi assassinada. Fiquei confusa porque comprei uma no dia em que o corpo dela foi encontrado, não no dia em que ela morreu. Ela foi assassinada na noite anterior, e o corpo foi encontrado no dia seguinte.” Agora estou divagando. “Para que exatamente é usada uma picareta de entalhar?”, pergunta Berger. “E a propósito, odeio dizer isso, mas não importa quando você diga que comprou a picareta, Kay, ainda permanece o problema de que aquela — a única — encontrada na sua casa tinha sangue de Bray.” “Elas são usadas em alvenaria. Há muitas construções em ardósia nesta área. E em pedra.” “Então provavelmente ela é usada por telhadores? E a teoria é que Chandonne encontrou uma picareta de entalhar na casa que invadira. O lugar em construção onde ele estava?” Berger é incansável. “Acredito que a teoria é essa”, respondo. “Sua casa é feita de pedra e tem teto de ardósia”, diz ela. “Você acompanhou o trabalho de perto quando ela foi construída? Porque você parece ser o tipo de pessoa que faria isso. Uma perfeccionista.” “Se você está construindo, é boba se não acompanhar o trabalho.” “Estou só imaginando se você poderia alguma vez ter visto uma picareta de entalhar enquanto sua casa estava sendo construída. Talvez no local da construção, no cinto de ferramentas de um operário?” “Não que eu me lembre. Mas não tenho certeza.” “E você nunca teve uma antes de ir às compras na Pleasant’s Hardware na noite do dia 17 de dezembro — exatamente duas semanas atrás e quase vinte e quatro horas depois da morte de Bray?” “Não antes dessa noite. Não, nunca tive uma antes, não que eu saiba”, digo a ela. “Que hora era quando você comprou a picareta de entalhar?”, Berger pergunta enquanto ouço o som ensurdecedor da caminhonete de Marino estacionando na frente da minha casa. “Por volta das sete. Não sei exatamente. Talvez entre seis e meia e sete, naquela sexta-feira, na noite de 17 de dezembro”, respondo. Não estou mais pensando com clareza. Berger está me esgotando e não consigo imaginar como qualquer mentira poderia resistir muito a ela. O problema é saber o que é mentira e o que não é, e não estou convencida de que ela acredite em mim. “E você foi para casa imediatamente depois de sair da loja de ferramentas?”, ela continua. “Diga-me o que fez no resto da noite.” A campainha toca. Olho para o Aiphone na parede da sala grande e vejo o rosto de Marino assomando na tela de vídeo. Berger acabou de fazer a pergunta. Ela acabou de testar a química que estou certa de que Righter vai usar para acabar com minha vida. Ela quer saber meu álibi. Quer saber onde eu estava no momento exato em que Bray foi assassinada na noite de terça-feira, 16 de dezembro. “Eu tinha acabado de chegar de Paris naquela manhã”, respondo. “Fiz
pequenas tarefas, cheguei em casa por volta das seis da tarde. Mais tarde, por volta das dez, fui até a Faculdade de Medicina da Virgínia para dar uma olhada em Jo — ex-namorada de Lucy, aquela que foi baleada com ela em Miami. Eu queria ver se poderia ajudar naquela situação, porque os pais dela estavam interferindo.” A campainha toca outra vez. “E queria saber onde estava Lucy, e Jo me contou que Lucy estava em um bar em Greenwich Village.” Começo a andar em direção à porta. Berger fica olhando para mim. “Em Nova York. Lucy estava em Nova York . Voltei para casa e liguei para ela. Ela estava bêbada.” Marino toca a campainha outra vez e bate na porta. “Então, para responder a essa pergunta, senhorita Berger, eu não tenho nenhum álibi para onde eu estava entre seis e mais ou menos sete e meia naquela noite de terça-feira, porque ou eu estava em casa ou no carro — sozinha, absolutamente sozinha. Ninguém me viu. Ninguém falou comigo. Não tenho nenhuma testemunha do fato de que onde eu não estava entre sete e meia e dez e meia era na casa de Diane Bray, batendo nela até matá-la com uma maldita picareta de entalhar.” Abro a porta. Posso sentir o calor dos olhos de Berger em minhas costas. Marino olha como se estivesse prestes a desmontar. Não posso dizer se ele está furioso ou morto de medo. Talvez as duas coisas. “Qual é o problema?”, ele pergunta, seus olhos indo de mim para ela. “Que merda está acontecendo?” “Desculpe ter feito você esperar no frio”, digo a Marino. “Por favor, entre.”
29
Marino levou bastante tempo para chegar aqui porque tinha parado na sala de pertences da central de polícia. Eu havia pedido a ele que pegasse a chave de aço inoxidável que encontrei no bolso do short de corrida de Mitch Barbosa. Marino nos conta que passou um bom tempo fuçando dentro da pequena sala atrás de uma tela de arame onde prateleiras Spacesaver estão apinhadas de sacos com código de barra, alguns dos quais contêm itens que a polícia tirou de minha casa no sábado passado. Já estive na sala de pertences. Consigo visualizá-la. Telefones celulares tocam dentro daquele sacos. Pagers soam quando pessoas desavisadas insistem em ligar para conhecidos que estão presos ou mortos. Há também geladeiras trancadas para guardar os PERKS, ou kits de recuperação de evidências físicas, e qualquer outra evidência que possa ser perecível — como a carne de frango crua que soquei com a picareta de entalhar. “Agora, por que você socou frango cru com uma picareta de entalhar?” Berger quer mais esclarecimentos sobre essa parte de minha história um tanto estranha. “Para ver se havia alguma correlação entre os ferimentos provocados e aqueles que havia no corpo de Bray”, respondo. “Bem, o frango ainda está dentro da geladeira de evidências”, diz Marino. “Devo dizer que você com certeza bateu nele com toda a força.” “Descreva em detalhes exatamente o que você fez com o frango”, Berger me estimula, como se eu estivesse no banco de testemunhas. Estou de frente para ela e Marino no corredor de entrada e explico que coloquei peitos de frango cru numa tábua de cortar e bati neles com cada lado e borda da picareta de entalhar para perceber o padrão dos ferimentos. Tanto aqueles causados pela extremidade rombuda quanto os causados pela extremidade pontuda tinham tamanho e configuração idênticos aos dos ferimentos no corpo de Bray, em particular os das áreas esmagadas nas cartilagens e no crânio, que são excelentes para reter a forma — ou marca de ferramenta — do que as tenha penetrado. Depois abri uma fronha branca, explico. Banhei o cabo espiralado da picareta de entalhar em molho de churrasco. Que tipo de molho de churrasco?, Berger, é claro, quer saber. Recordo-me de que era um molho de churrasco Smokey Pig que eu tinha afinado até a consistência de sangue, e depois pressionei o cabo coberto de molho contra o tecido para ver que aspecto teria o padrão de transferência. Obtive as mesmas estrias que foram deixadas no sangue encontrado no colchão de Bray. A fronha com as impressões de molho de churrasco, diz Marino, foi mandada para o laboratório de DNA. Observo que isso é uma perda de tempo. Não fazemos teste para tomates. Não quero fazer graça, mas estou suficientemente frustrada para emitir uma faísca de sarcasmo. O único resultado que o laboratório de DNA vai obter da fronha, garanto, é não humano. Marino anda de um lado para outro.
Estou ferrada, ele diz, porque a picareta de entalhar que comprei e com a qual fiz todos esses testes sumiu. Ele não conseguiu encontrá-la. Procurou por ela em todos os lugares. Não está na listagem de evidências do computador. Evidentemente não foi levada à sala de evidências, nem recolhida por técnicos forenses e enviada ao laboratório mediante recibo. Sumiu. E eu não tenho nenhum recibo da compra. Agora tenho certeza disso. “Eu contei a você, do telefone do meu carro, que a tinha comprado”, lembro a ele. “É.” Ele se lembra de eu ter lhe telefonado do carro depois que saí da loja da Pleasant’s Hardware, em algum momento entre seis e meia e sete. Contei a ele que achava que o que tinha sido usado em Bray era uma picareta de entalhar. Disse que tinha comprado uma. Mas, ele observa, isso não significa que não comprei uma ferramenta assim depois do assassinato de Bray, para fabricar um álibi. “Sabe, para fazer parecer que você não possuía uma ou nem mesmo sabia com o que ela tinha sido morta até depois de o fato ocorrer.” “De que lado você está?”, digo a ele. “Você acredita nesse absurdo do Righter? Tenha dó! Não consigo mais agüentar isso.” “Isso não tem nada a ver com lado, doutora”, responde Marino, num tom áspero, enquanto Berger observa. Voltamos ao fato de que há só uma picareta: a que tem o sangue de Bray, encontrada na minha casa. Especificamente, na sala grande, sobre o tapete persa, a exatos quarenta e cinco centímetros à direita da mesa de centro de eucalipto avermelhado. A picareta de Chandonne, não a minha, continuo a dizer enquanto imagino sacos de papel marrom barato com o número de comprovante e um código de barra que representa Scarpetta — eu —, atrás da tela de arame em prateleiras Spacesaver. Apóio-me na parede do corredor de entrada e sinto tontura. É como se eu estivesse tendo uma experiência extracorpórea, olhando para mim mesma de cima, depois que algo terrível e derradeiro aconteceu. Minha ruína. Minha destruição. Estou morta como outras pessoas cujos sacos de papel marrom acabam naquela sala de evidências. Não estou morta, mas talvez seja pior ser acusada. Odeio sequer sugerir o próximo estágio de minha ruína. Isso seria excessivo. “Marino”, digo, “experimente a chave na minha porta.” Ele hesita, franzindo o cenho. Então tira o saco de provas de plástico transparente do bolso interno de seu velho casaco de couro desgastado. O vento frio bate na casa quando ele abre a porta da frente e enfia — com facilidade — a chave de aço na fechadura, e vira a chave, e a lingüeta sai e entra. “O número que está escrito nela”, digo calmamente a Marino e a Berger. “Dois-três-três. É o código do meu alarme contra ladrão.” “O quê?” Berger, pelo menos uma vez, está quase sem fala. Nós três entramos na sala grande. Dessa vez eu me empoleiro na lareira fria, como Cinderela. Berger e Marino evitam sentar no sofá arruinado, mas ficam perto de mim, me olhando, esperando uma possível explicação. Só há uma, e penso que ela é muito óbvia. “A polícia e só Deus sabe quem mais entraram e saíram da minha casa desde sábado”, começo. “Uma gaveta na cozinha. Nela há chaves de tudo. Minha casa, meu carro, meu escritório,
armários de arquivo, qualquer coisa. Então, não seria difícil alguém ter acesso a uma chave reserva da casa, e vocês tinham o código do meu alarme contra ladrão, certo?” Olho para Marino. “Quer dizer, vocês não estavam deixando minha casa desarmada depois que saíam. E o alarme estava ligado quando entramos pouco tempo atrás.” “Precisamos de uma lista de todos que estiveram dentro desta casa”, decide Berger, resoluta. “Posso lhe dizer o nome de todos de que tenho conhecimento”, responde Marino. “Mas não estive aqui todas as vezes em que alguém esteve. Então não posso dizer que sei quem são todos.” Suspiro e me recosto na lareira. Começo a nomear policiais que vi com meus próprios olhos, inclusive Jay Talley. Inclusive Marino. “E Righter esteve aqui”, acrescento. “Como eu estive”, retruca Berger. “Mas eu certamente não entrei sozinha. Não tinha nenhuma idéia de qual era seu código.” “Quem abriu a porta para você?”, pergunto. A resposta dela é olhar para Marino. Incomoda-me que ele não tenha me contado que foi o guia turístico de Berger. É irracional eu me sentir irritada. Afinal, quem melhor do que Marino? Em quem confio mais do que nele? Marino está visivelmente agitado. Ele se levanta e atravessa o vão da porta que leva à cozinha. Ouço-o abrir a gaveta onde guardo as chaves, depois ele abre a geladeira. “Bem, eu estava com você quando você encontrou essa chave no bolso de Mitch Barbosa”, Berger começa a pensar em voz alta. “Você não poderia tê-la posto lá, não poderia tê-la plantado.” Ela está elaborando isso. “Porque você não estava na cena. E não tocou no corpo desacompanhada. Quer dizer, Marino e eu estávamos lá quando você abriu o saco.” Ela explode de frustração. “E Marino?” “Ele não faria isso”, corto-a, fazendo com a mão um gesto de fastio. “De jeito nenhum. Certo, ele tinha acesso, mas de jeito nenhum. E, com base no relato que ele fez da cena do crime, ele não viu o corpo de Mitch Barbosa. Ele já estava sendo posto na ambulância quando Marino apareceu em Mosby Court.” “Então ou um dos policiais na cena fez isso...” “Ou, o que é mais provável”, termino o pensamento dela, “a chave foi colocada no bolso de Barbosa quando ele foi morto. Na cena do crime. Não quando ele foi despejado.” Marino volta tomando uma garrafa de cerveja Spaten, que Lucy deve ter comprado. Não me lembro de tê-la comprado. Nada na minha casa parece mais me pertencer, e a história de Anna me vem à mente. Estou começando a entender o modo como ela deve ter se sentido quando os nazistas ocuparam a casa de sua família. Eu me dou conta, de repente, de que as pessoas podem ser empurradas para além da raiva, das lágrimas, do protesto, até do luto. Finalmente, apenas mergulhamos num pântano escuro de aceitação. O que é, é. E o que era é passado. “Não posso mais viver aqui”, conto a Berger e Marino. “Você tem esse direito”, Marino dispara de volta, no tom agressivo e irritado que parece usar como a própria pele ultimamente. “Olhe”, digo a ele, “pare de rosnar para mim, Marino. Todos nós estamos
frustrados e esgotados. Não entendo o que está acontecendo, mas é claro que alguém ligado a nós também está envolvido no assassinato dessas duas últimas vítimas, esses homens que foram torturados, e imagino que quem plantou minha chave no corpo de Barbosa ou quer me implicar também nesses crimes, ou, o que é mais provável, está me mandando um aviso.” “Acho que é um aviso”, diz Marino. E por onde anda Rocky ultimamente?, quase pergunto a ele. “Seu querido filho Rocky”, Berger diz por mim. Marino toma um gole de cerveja e enxuga a boca com as costas da mão. Não reage. Berger olha para seu relógio e depois para nós. “Bem”, diz ela. “Feliz Natal, espero.”
30
A casa de Anna está escura e silenciosa quando entro, perto das três da manhã. Ela deixou gentilmente uma luz acesa no corredor e uma na cozinha perto de um copo de cristal e da garrafa de Glenmorangie, para o caso de eu precisar de um sedativo. Neste momento eu declino. Uma parte de mim gostaria que Anna estivesse acordada. Estou meio tentada a ficar por aqui na esperança de que ela apareça e se sente comigo. Fiquei estranhamente viciada em nossas sessões, mesmo que agora eu devesse desejar que elas nunca tivessem acontecido. Vou para a ala de hóspedes e começo a pensar sobre transferência, e me pergunto se estou tendo essa experiência com Anna. Ou talvez eu apenas me sinta solitária e melancólica porque é Natal e eu estou bem desperta e arrasada na casa de outra pessoa, depois de ter passado o dia inteiro investigando mortes violentas, inclusive uma que sou acusada de ter cometido. Anna deixou um bilhete na minha cama. Pego o elegante envelope creme e posso dizer, pelo peso e pela grossura, que ela escreveu algo longo. Deixo minhas roupas numa pilha no chão do banheiro e imagino a feiúra que deve estar impregnada no próprio tecido, por causa de onde estive e do que fiz nas últimas vinte horas. Não me dou conta, até sair do chuveiro, que as roupas carregam o cheiro do incêndio do quarto de motel. Enrolo-as em uma toalha para que possa esquecê-las até que sejam levadas para a tinturaria. Uso um dos grossos robes de dormir de Anna e estou irritável quando pego outra vez a carta. Abro-a e desdobro seis páginas duras de papel com marca-d’água. Começo a ler, convencendo-me a não ir muito depressa. Anna é cautelosa e quer que eu assimile cada palavra, porque não desperdiça palavras.
Querida Kay, Como sou uma criança da guerra, aprendi que a verdade nem sempre é o correto, o bom ou o melhor. Se a SS batesse na porta de alguém e perguntasse se havia judeus na casa, a pessoa não contava a verdade caso estivesse escondendo judeus. Quando membros da Totenkopf SS ocuparam a casa de minha família na Áustria, eu não podia dizer a verdade sobre como eu os odiava. Quando o comandante da SS de Mauthausen vinha para minha cama tantas noites e me perguntava se eu gostava do que ele fazia comigo, eu não dizia a verdade a ele. Ele contava piadas vis e sibilava em meu ouvido, imitando o som dos judeus sendo cremados, e eu ria porque tinha medo. Às vezes ele estava muito bêbado quando voltava do campo, e uma vez ele se gabou de ter matado um garoto de doze anos de Langenstein, um povoado vizinho, durante uma operação de caça da SS. Mais tarde eu soube que isso não era verdade, que o Leitstelle — chefe da Staatspolizei em Linz — é que tinha
atirado no garoto, mas acreditei no que ele me disse na época e meu medo foi indescritível. Eu também era uma criança civil. Ninguém estava seguro. (Em 1945, esse mesmo comandante morreu em Gusen e seu corpo foi exposto ao público durante dias. Eu o vi e cuspi. Essa era a verdade sobre como eu me sentia — uma verdade que eu não poderia dizer antes!) Portanto, a verdade é relativa. Depende do momento. Depende do que é seguro. A verdade é um luxo dos privilegiados, de pessoas que têm muita comida e não são obrigadas a se esconder porque são judeus. A verdade pode destruir, e portanto nem sempre é sabio ou mesmo saudável ser verdadeiro. Uma coisa estranha para uma psiquiatra admitir, não é? Dou essa lição a você por uma razão, Kay. Depois que ler minha carta, deve destruí-la e jamais admitir que ela existiu. Conheço-a bem. Uma pequena ação secreta como essa será difícil para você. Se lhe perguntarem, você não deve dizer nada sobre o que estou lhe contando aqui. Minha vida neste país seria arruinada se se soubesse que minha família alimentou e abrigou a ss, não importa que nossos corações não estivessem nisso. Era para sobreviver. Também penso que você ficaria muito prejudicada se as pessoas soubessem que sua melhor amiga é uma simpatizante dos nazistas, como estou certa de que seria chamada. E, oh, que coisa terrível de ser chamada, especialmente quando alguém os odeia como eu. Eu sou judia. Meu pai era um homem previdente e muito consciente do que Hitler pretendia fazer. No final dos anos 1930, meu pai usou suas ligações bancárias e políticas e sua riqueza para obter identidades totalmente novas para nós. Ele mudou nosso nome para Zenner e nos transferiu da Polônia para a Áustria quando eu era jovem demais para saber muita coisa. Então você pode dizer que eu vivi uma mentira desde quando consigo me lembrar. Talvez isso a ajude a entender por que não quero ser interrogada num procedimento legal e por que vou evitar isso se puder. Mas Kay, o motivo real desta longa carta não é contar minha história. Por fim, falo com você sobre Benton. Estou bem certa de que você sabe que por algum tempo ele foi meu paciente. Há cerca de três anos, ele veio me ver em meu consultório. Estava deprimido e enfrentava muitas dificuldades relacionadas ao trabalho sobre as quais não podia falar com ninguém, inclusive você. Ele disse que ao longo de sua carreira no FBI tinha visto o pior do pior — os atos mais aberrantes que se pode imaginar, e, embora fosse assombrado por eles e sofresse de várias maneiras por causa dessa exposição ao que chamava de “mal”, nunca sentira realmente medo. A maioria daquelas pessoas más não estava interessada nele, ele disse. Não queriam causar
lhe nenhum dano pessoal, e de fato apreciavam a atenção que ele dava a elas quando as entrevistava na prisão. Quanto aos muitos casos que ajudou a polícia a resolver, de novo, ele não corria perigo pessoal. Estupradores e assassinos seriais não estavam interessados nele. Mas então começaram a acontecer com ele coisas estranhas, alguns meses antes de ele vir me ver. Eu gostaria de poder me lembrar melhor, Kay, mas houve fatos incomuns. Telefonemas. Ligações que não podiam ser rastreadas porque eram feitas através de satélite (imagino que ele queria dizer telefones celulares). Ele recebia correspondência esquisita que fazia referências terríveis a você. Houve ameaças a você, de novo não rastreadas. Estava claro para Benton que quem escrevia as cartas sabia de alguma coisa pessoal sobre você. É claro que ele suspeitava muito de Carrie Grethen. Ele dizia: “Ainda não ouvimos a última palavra dessa mulher”. Mas, na época, ele não via como ela poderia estar dando os telefonemas e enviando a correspondência, porque ainda estava presa em Nova York — em Kirby. Vou resumir seis meses de conversas com Benton dizendo que ele tinha uma premonição muito forte de que sua morte era iminente. Depois ele sofreu de depressão, ansiedade, paranóia e começou a lutar com o álcool. Dizia que escondia de você as bebedeiras e que os problemas dele estavam deteriorando o relacionamento com você. Como ouvi uma parte do que você me contou durante nossas conversas, Kay, posso entender que o comportamento dele em casa mudou. Agora talvez você compreenda algumas das razões para isso. Eu queria receitar a Benton um antidepressivo leve, mas ele não me deixou. Ele se preocupava constantemente com o que ocorreria com você e Lucy se algo acontecesse com ele. Chorou abertamente ao falar disso em meu consultório. Fui eu quem sugeriu que ele escrevesse a carta que o senador Lord lhe entregou há várias semanas. Eu disse a Benton: “Imagine que você está morto e tem uma última chance de dizer alguma coisa a Kay”. Foi o que ele fez. Ele lhe disse as palavras que você leu na carta. Durante nossas sessões, sugeri a ele repetidas vezes que talvez ele soubesse mais sobre quem o estava assediando e que talvez a negação o estivesse impedindo de enfrentar a verdade. Ele hesitava. Lembro-me muito bem de que eu sentia que ele possuía informações que não podia ou não queria contar. Agora estou começando a achar que talvez eu saiba. Cheguei à conclusão de que o que começou a acontecer com Benton há vários anos e o que está acontecendo agora com você têm ligação com o filho mafioso de Marino. Rocky está envolvido com criminosos muito poderosos e odeia o pai. Ele odiaria qualquer pessoa que tivesse importância para o pai. Pode ser coincidência que Benton recebesse cartas
ameaçadoras e fosse assassinado, e depois esse assassino terrível, Chandonne, em Richmond, e agora o terrível filho de Marino seja o advogado de Chandonne? Essa estrada tortuosa não leva, pelo menos, a uma conclusão pavorosa que pretende arrasar tudo que há de bom na vida de Marino? Em meu consultório, Benton se referia com freqüência a um arquivo aud. Nele, guardava todas as cartas estranhas e ameaçadoras e outros registros de comunicações e incidentes que tinha começado a receber. Durante meses, achei que ele estava dizendo arquivo Áudio, como se se referisse a gravações feitas pela polícia. Mas um dia fiz menção a seu arquivo Áudio e ele me corrigiu e disse que o arquivo era na verdade seu arquivo A-U-D, que ele pronunciava aud. Então perguntei o que significava AUD, e ele disse A Última Delegacia. Perguntei-lhe o que ele queria dizer com isso e seus olhos se encheram de lágrimas. Suas palavras exatas foram estas: “A Última Delegacia é onde vou terminar, Anna. É lá que vou terminar”. Você não pode imaginar o que senti quando Lucy mencionou que esse é também o nome da empresa de consultoria de investigações na qual ela vai agora trabalhar em Nova York . Quando fiquei tão perturbada na noite passada, não era simplesmente por causa da intimação entregue em minha casa. O que aconteceu foi o seguinte: recebi a intimação. Liguei para Lucy porque achava que ela deveria saber o que estava acontecendo com você. Ela disse que sua “nova chefe” (Teun McGovern) estava na cidade e mencionou A Última Delegacia. Fiquei chocada. Ainda estou chocada e não entendo o que tudo isso significa. Será que Lucy sabe sobre o arquivo de Benton? De novo, isso pode ser coincidência, Kay? Apenas aconteceu de ela pensar no mesmo nome que Benton deu a seu arquivo secreto? Todas essas ligações podem ser coincidências? Agora há uma coisa chamada A Última Delegacia, que está localizada em Nova York, e Lucy vai se mudar para Nova York, o julgamento de Chandonne foi transferido para Nova York porque ele matou em Nova York há dois anos enquanto Carrie Grethen ainda estava presa em Nova York , e o antigo parceiro de assassinato de Carrie, Temple Gault, foi morto (por você) em Nova York , e Marino começou sua carreira na polícia em Nova York. E Rocky mora em Nova York . Vou encerrar lhe contando que me sinto muito mal sobre qualquer contribuição que eu possa ter dado para tornar pior sua situação atual, embora você deva ter certeza de que não pretendo dizer nada que possa ser distorcido. Nunca. Sou velha demais para isso. Amanhã, no dia de Natal, vou partir para minha casa em Hilton Head, onde ficarei até que
seja bom eu voltar para Richmond. Faço isso por várias razões. Não pretendo tornar fácil para Buford nem para ninguém mais me encontrar. E o mais importante, você precisa de um lugar para ficar. Não volte para sua casa, Kay. Sua amiga devotada, Anna
Leio e releio. Sinto náuseas ao imaginar Anna crescendo no ar envenenado de Mauthausen e sabendo o que acontecia lá. Sinto a pena mais profunda por ela ter passado a vida inteira ouvindo referências a judeus e piadas ruins a respeito de judeus e descobrindo mais sobre as atrocidades cometidas contra judeus, o tempo inteiro sabendo que é judia. Não importa como ela racionalize isso, o que seu pai fez foi covarde e errado. Suspeito que ele também sabia que Anna estava sendo estuprada pelo comandante da SS que ele abrigava e alimentava, e o pai de Anna também não fez nada a esse respeito. Coisa nenhuma. Percebo que são quase cinco da manhã. Minhas pálpebras estão pesadas, meus nervos zumbem. Não faz sentido tentar dormir. Levanto-me e vou para a cozinha fazer café. Fico algum tempo sentada diante da janela escura, olhando para um rio que não consigo ver e contemplando tudo que Anna me revelou. Muita coisa sobre os últimos anos de Benton agora faz sentido. Penso nos dias em que ele reclamava de dor de cabeça de tensão, e eu pensava que ele parecia estar de ressaca, e agora suspeito que provavelmente estava. Estava cada vez mais deprimido, distante e frustrado. Em certo sentido, entendo ele não ter me contado sobre as cartas, os telefonemas, o arquivo Aud, como ele o chamava. Mas não concordo com ele. Ele devia ter me contado. Não me recordo de ter visto um arquivo desse tipo quando olhei os pertences de Benton depois de sua morte. Mas há muita coisa daquela época de que não me lembro. Era como se eu estivesse vivendo debaixo da terra, movendo-me sempre pesadamente e muito devagar, e incapaz de saber aonde estava indo ou onde estivera. Depois da morte de Benton, Anna me ajudou a separar seus pertences. Ela limpou os armários e olhou as gavetas dele enquanto eu entrava e saía dos quartos como um inseto enlouquecido, num momento ajudando, no seguinte me lamentando e chorando. Me pergunto se ela deparou com aquele arquivo. Sei que tenho de encontrá-lo, se ele ainda existir. A primeira luz da manhã chega com um toque de azul-escuro enquanto preparo o café para Anna e o levo para seu quarto. Encosto o ouvido na porta para ver se ouço algum sinal de que ela está acordada. Tudo está quieto. Abro em silêncio a porta do quarto, entro e ponho o café sobre a mesa oval ao lado da cama dela. Anna gosta de iluminação noturna. Sua suíte é iluminada como uma passarela, com luzes em praticamente todos os receptáculos. Quando notei isso pela primeira vez, achei esquisito. Agora começo a entender. Talvez ela associe a escuridão completa com ficar sozinha e aterrorizada em seu quarto, esperando que o nazista bêbado e fedorento entre e subjugue seu corpo jovem. Não é de estranhar que ela tenha passado a vida lidando com pessoas avariadas. Ela entende pessoas avariadas. É uma estudiosa de suas próprias tragédias passadas
tanto quanto disse que eu sou das minhas. “Anna?”, sussurro. Vejo-a agitar-se. “Anna? Sou eu. Trouxe café para você.” Ela se senta, apertando os olhos, seu cabelo branco no rosto, colado em alguns lugares. Feliz Natal, começo a dizer. Em vez disso, digo “Boas férias”. “Todos estes anos eu celebro o Natal enquanto secretamente sou judia.” Ela estende a mão para pegar o café. “Não sou conhecida por uma disposição doce de manhã cedo”, diz ela. Aperto sua mão, e no escuro ela parece de repente muito velha e delicada. “Li sua carta. Não sei bem o que dizer, mas não posso destruí-la, e nós precisamos falar sobre ela”, digo. Por um instante ela pára. Penso captar alívio em seu silêncio. Então ela se mostra teimosa de novo e faz um gesto de dispensa, como se com um mero gesto pudesse descartar toda a sua história e o que me contou sobre minha própria vida. As luzes noturnas emitem sombras exageradas e profundas da mobília Biedermeier, de abajures antigos e de pinturas a óleo, em seu amplo e magnífico quarto. As cortinas de seda grossa estão puxadas. “Eu provavelmente não devia ter escrito nada daquilo para você”, ela diz com firmeza. “Eu gostaria que você tivesse escrito antes, Anna.” Ela bebe o café e puxa as cobertas para os ombros. “O que aconteceu quando você era criança não é sua culpa”, digo a ela. “As escolhas eram feitas por seu pai, não por você. Ele a protegeu em certo sentido, mas não a protegeu absolutamente. Talvez não houvesse escolha.” Ela balança a cabeça. “Você não sabe. Você não pode saber.” Não vou discutir isso com ela. “Não há monstros que possam ser comparados a eles. Minha família não tinha escolha. Meu pai bebia muito. Ficava bêbado a maior parte do tempo, e eles bebiam com ele. Até hoje não consigo cheirar aguardente.” Ela pega a xícara de café com as duas mãos. “Todos eles ficavam bêbados, isso não tinha importância. Quando o Reichminister Speer e sua comitiva visitaram as instalações em Gusen e Ebensee, eles vieram para nosso Schloss, oh, sim, nosso lindo castelinho. Meus pais fizeram um banquete suntuoso com músicos de Viena e o melhor champanhe e a melhor comida, e todos ficaram bêbados. Eu me lembro que me escondi em meu quarto, com muito medo do que viria a seguir. Me escondi debaixo da cama a noite toda e ouvi passos em meu quarto várias vezes, e numa delas alguém puxou as cobertas e praguejou. Fiquei no chão debaixo da cama a noite toda, sonhando com a música e com um dos jovens que tirava notas tão doces de seu violino. Ele olhou para mim muitas vezes e me fez corar, e, enquanto fiquei escondida debaixo da cama até tarde daquela noite, pensei nele. Ninguém que produzia tal beleza podia ser indelicado. Pensei nele a noite toda.” “O violinista de Viena?”, pergunto. “Aquele que você depois...?” “Não, não.” Anna balança a cabeça nas sombras. “Isso foi muitos anos antes de Rudi. Mas acho que foi aí que me apaixonei por Rudi, antecipadamente, sem nunca tê-lo encontrado. Eu via os músicos em seus fraques pretos e ficava
hipnotizada pela mágica que eles faziam, e queria que me roubassem do horror. Imaginava-me flutuando nas notas deles em um lugar puro. Por um momento, fui levada de volta à Áustria antes da pedreira e do crematório, quando a vida era simples, as pessoas eram decentes e divertidas e tinham jardins perfeitos e muito orgulho de suas casas. Em dias ensolarados de verão pendurávamos nossos edredons de pena de ganso nas janelas para serem ventilados pelo ar mais doce que já aspirei. E brincávamos nos campos ondulantes de grama que pareciam levar direto para o céu, enquanto meu pai caçava javali nos bosques e minha mãe costurava e cozinhava.” Ela pára, seu rosto tocado por uma tristeza doce. “Quem diria que um quarteto de cordas pudesse transformar a mais pavorosa das noites. E então, mais tarde, meu pensamento mágico me leva para os braços de um homem com um violino, um americano. E aqui estou eu. Estou aqui. Escapei. Mas nunca escapei, Kay.”
A madrugada começa a iluminar as cortinas, tornando-as cor de mel. Digo a Anna que estou contente de ela estar aqui. Agradeço por ela ter conversado com Benton e por finalmente me contar. Em certos sentidos o quadro é mais completo por causa do que entendo agora. Em outros, não é. Mal consigo delinear com nitidez a progressão de humores e mudanças que antecedeu o assassinato de Benton, mas agora sei que, mais ou menos na época em que ele estava vendo Anna, Carrie Grethen estava procurando um novo parceiro para substituir Temple Gault. Carrie tinha trabalhado em computadores antes. Era brilhante e incrivelmente manipuladora, e conseguiu abrir caminho para ter acesso a um computador no Kirby, o hospital psiquiátrico forense. Era assim que ela lançava sua rede para o mundo lá fora. Ela se ligou a um novo parceiro — outro assassino psicopata, chamado Newton Joyce. Fez isso por meio da internet, e ele a ajudou a fugir de Kirby. “Talvez ela também tenha conhecido algumas outras pessoas pela internet”, sugere Anna. “O filho de Marino, Rocky?”, digo. “Estou pensando nisso.” “Anna, você tem idéia do que aconteceu com o arquivo de Benton? O arquivo Aud, como ele o chamava?” “Eu nunca o vi.” Ela se senta ereta, decidindo que é hora de sair da cama, e as cobertas lhe envolvem a cintura. Seus braços nus parecem penosamente finos e enrugados, como se alguém tivesse extraído o ar deles. Seus seios se movimentam, caídos e flácidos, embaixo da seda escura. “Quando eu ajudei você a separar as roupas e outros pertences pessoais dele, não vi nenhum arquivo. Mas eu não toquei no escritório dele.” Eu me lembro de muito pouco. “Não.” Ela empurra as cobertas e põe os pés no chão. “Eu não faria isso. Não era uma coisa em que eu mexeria. Os arquivos profissionais dele.” Agora ela está de pé e veste um robe. “Eu simplesmente supus que você os teria olhado.” Ela olha para mim. “Você olhou, não é? E o escritório dele em Quantico? Ele já estava aposentado, então eu suponho que ele também já o havia
esvaziado.” “Ele foi esvaziado, sim.” Andamos pelo corredor até a cozinha. “Arquivos de casos teriam ficado lá. Ao contrário de alguns de seus compatriotas que se demitem do FBI, Benton não acreditava que os casos em que trabalhava pertenciam a ele”, acrescento com pesar. “Então sei que ele não tirou nenhum arquivo de caso de Quantico quando se demitiu. O que não sei é se ele teria deixado o arquivo Aud com o FBI. Se isso aconteceu, nunca o verei.” “O arquivo era dele”, observa Anna. “Correspondência para ele. Quando falava disso comigo, nunca se referia ao que estava acontecendo com ele como assunto do FBI. Parecia considerar as ameaças, os telefonemas estranhos, como algo pessoal, e que eu saiba nunca compartilhou essas coisas com outros agentes. Ele estava muito paranóico, principalmente porque algumas das ameaças envolviam você. Fui levada a acreditar que sou a única pessoa a quem ele contou. Sei disso. Eu disse a ele muitas vezes que achava que ele devia contar ao FBI.” Ela balança a cabeça. “Ele não contaria”, ela diz de novo. Jogo o filtro de café no lixo e sinto uma picada de ressentimento antigo. Benton escondeu muita coisa de mim. “Uma pena”, respondo. “Talvez, se ele tivesse contado a alguns dos outros agentes, nada disso tivesse acontecido.” “Você quer mais café?” Sou lembrada de que não fui dormir ontem à noite. “Acho que é melhor”, respondo. “Um café vienense”, diz Anna, abrindo a geladeira e escolhendo um saco de café. “Já que estou sentindo nostalgia pela Áustria hoje.” Ela diz isso com uma ponta de sarcasmo, como se estivesse se repreendendo em silêncio por divulgar detalhes de seu passado. Despeja grãos no moedor e por um momento a cozinha se enche de barulho. “Benton se desiludiu com o FBI no fim”, penso em voz alta. “Não tenho certeza se ele continuava a confiar nas pessoas que o rodeavam. Competição. Ele era o chefe da unidade e sabia que todos iam brigar por seu cargo assim que mencionasse que estava pronto para se aposentar. Como eu o conhecia, sei que ele lidava com seus problemas em total isolamento — do mesmo modo como lidava com seus casos. Se não fosse por outra coisa, Benton era um mestre da discrição.” Estou avaliando todas as possibilidades. Onde Benton teria guardado o arquivo? Onde ele poderia estar? Ele tinha sua própria sala na minha casa, onde guardava seus pertences e ligava seu laptop. Tinha gavetas para arquivos. Mas eu as examinei e nunca vi nada sequer semelhante ao que Anna descreveu. Então penso em outra coisa. Quando Benton foi assassinado em Filadélfia, ele estava num hotel. Vários sacos de seus pertences pessoais me foram devolvidos, inclusive sua pasta, que eu abri. Examinei-a como a polícia tinha feito. Sei que não vi nada parecido com um arquivo Aud, mas, se é verdade que Benton suspeitava que Carrie Grethen podia ter alguma coisa a ver com os telefonemas e os bilhetes esquisitos que estava recebendo, ele não poderia ter levado consigo o arquivo Aud quando estava trabalhando em casos novos possivelmente ligados a ela? Não poderia ter levado o arquivo para Filadélfia? Vou até o telefone e ligo para Marino. “Feliz Natal”, digo. “Sou eu.” “O quê?”, ele explode, meio adormecido. “Ah, merda. Que horas são?”
“Passa um pouco das sete.” “Sete!” Gemido. “Diabo, o Papai Noel ainda nem passou. Por que você está me ligando tão cedo?” “Marino, isto é importante. Quando a polícia examinou os pertences pessoais de Benton no quarto de hotel em Filadélfia, você também os viu?” Um bocejo grande, e ele explode em voz alta. “Diabo, preciso parar de ficar acordado até tão tarde. Meus pulmões estão me matando, preciso parar de fumar. Eu e alguns dos rapazes e o Wild Turkey fizemos uma farra ontem à noite.” Outro bocejo. “Espere. Estou despertando. Me deixe mudar de canal. Num momento é Natal, no seguinte você está me perguntando sobre Filadélfia?” “Isso mesmo. As coisas que vocês encontraram no quarto de hotel de Benton.” “Sim. Diabo, sim, eu examinei.” “Você pegou alguma coisa? Alguma coisa, por exemplo, que pudesse estar na pasta dele? Um arquivo, por exemplo, que pudesse ter cartas dentro?” “Ele tinha alguns arquivos lá. Por que você quer saber?” Estou ficando animada. Minhas sinapses estão disparando, clareando minha mente e bombeando energia para minhas células. “Onde esses arquivos estão agora?”, pergunto. “É, eu me lembro de umas cartas. Coisas esquisitas que eu achava que devia olhar com atenção. Depois Lucy explodiu Carrie e Joyce, transformandoos em isca de peixe, e acho que se pode dizer que isso excepcionalmente resolveu o caso. Merda. Ainda não consigo acreditar que ela tinha uma porra dum AR-15 no maldito helicóptero e...” “Onde estão os arquivos?”, pergunto de novo, sem conseguir conter a urgência em minha voz. Meu coração está acelerado. “Preciso ver o arquivo que tinha as cartas esquisitas. Benton o chamava de seu arquivo Aud. A-U-D. Como em A Última Delegacia. Talvez seja daí que Lucy tenha tirado a idéia do nome.” “A Última Delegacia. Você está falando de onde Lucy vai trabalhar — o lugar de McGovern em Nova York? Que diabo isso tem a ver com o arquivo na pasta de Benton?” “Boa pergunta”, digo a ele. “Tudo bem. Está em algum lugar. Vou encontrá-lo e vou para aí.” Anna voltou para seu quarto, e eu me ocupo pensando em nosso jantar de Natal enquanto espero que Lucy e McGovern cheguem. Começo a tirar comida da geladeira enquanto repasso o que Lucy me contou sobre a nova empresa de McGovern em Nova York. Lucy disse que o nome A Última Delegacia começou como uma brincadeira. Aonde você vai quando não há nenhum lugar para ir. E, na carta, Anna disse que Benton lhe contou que A Última Delegacia é onde ele terminaria. Mensagem cifrada. Enigmas. Benton acreditava que seu futuro estava de alguma forma ligado ao que ele estava guardando naquele arquivo. A Última Delegacia era a morte, considero então. Onde Benton ia terminar. Ele ia terminar morto. Era isso que ele queria dizer? Onde mais ele poderia ter terminado? Dias atrás, prometi a Anna que faria o jantar de Natal se ela não se
importasse em ter em sua cozinha uma italiana que não chega perto de um peru nem do que as pessoas enfiam em perus na época das festas. Anna fez um corajoso esforço de compra. Tem até azeite de oliva prensado a frio e mozarela de búfala fresca. Encho um panelão com água e volto ao quarto de Anna para dizer que ela não pode ir para Hilton Head ou qualquer outro lugar antes de ter comido uma pequena cucina Scarpetta e provado um pouco de vinho. Este é um dia familiar, digo enquanto ela escova os dentes. Não me preocupo com grandes júris especiais, nem com promotores, nem com qualquer outra coisa até depois do jantar. Por que ela não faz alguma coisa austríaca? Ela quase cospe a pasta de dente. Nunca, diz ela. Se nós duas ficássemos na cozinha ao mesmo tempo, acabaríamos nos matando. Por algum tempo, o humor parece melhorar na casa. Lucy e McGovern aparecem por volta das nove e empilham presentes debaixo da árvore. Começo a bater ovos e farinha, junto-os com os dedos numa tábua de cortar de madeira. Quando a massa adquire a consistência certa, embrulho-a em plástico e começo a procurar a máquina manual de macarrão que Anna afirma ter em algum lugar, enquanto pulo de um pensamento a outro, mal ouvindo o que Lucy e McGovern falam. “Não é que eu não consiga voar quando não há condições de vôo visual.” Lucy está explicando alguma coisa sobre seu novo helicóptero, que aparentemente foi entregue em Nova York. “Tenho meu controle por instrumentos. Mas não estou interessada em ter um helicóptero monomotor controlado por instrumentos, porque, só com um motor, vou querer ver o solo o tempo inteiro. Então não quero estar voando acima das nuvens em dias ruins.” “Parece perigoso”, comenta McGovern. “Não é nem um pouco. O motor dessas coisas nunca pára, mas vale a pena sempre considerar o pior cenário.” Começo a amassar a massa. É minha parte favorita da feitura de macarrão, e sempre evito usar processadores porque o calor do toque humano dá uma textura à massa fresca que é diferente de tudo que lâminas de aço agitadas podem conseguir. Entro num ritmo, empurrando, dobrando, dando meia-volta, pressionando firme com a parte de baixo de minha mão boa, enquanto também penso nos piores cenários. O que Benton pode ter pensado que seria o pior cenário para ele? Se estava pensando que sua metafórica Última Delegacia era onde ele terminaria, qual teria sido o pior cenário? É nesse momento que deduzo que ele não queria dizer morte quando dizia que terminaria na Última Delegacia. Não. Benton certamente sabia que há coisas muito piores do que a morte. “Eu dei algumas aulas a ela. Uma espécie de curso rápido. As pessoas que usam as mãos têm uma vantagem”, Lucy está dizendo a McGovern, falando a meu respeito. É onde vou terminar. As palavras de Benton cintilam em minha mente. “Certo. Porque exige coordenação.” “Tem de ser capaz de usar as duas mãos e os dois pés ao mesmo tempo. E, ao contrário de um avião, um helicóptero é intrinsecamente instável.” “É o que estou dizendo. Eles são perigosos.”
É onde vou terminar, Anna. “Não são, Teun. Você pode perder o motor a trezentos metros e pousá-lo. O ar mantém as lâminas girando. Já ouviu falar de auto-rotação? Você aterrissa em um estacionamento ou no quintal de alguém. Não pode fazer isso com avião.” O que você quis dizer , Benton? Droga, o que você quis dizer? Amasso e amasso, sempre virando a bola de massa na mesma direção, no sentido horário, porque estou usando a mão direita, evitando o gesso. “Pensei que você tinha dito que nunca se perde um motor. Quero um pouco de gemada. Marino vai fazer sua famosa gemada hoje?”, diz McGovern. “É a especialidade de ano-novo dele.” “O quê? É contra a lei gemada no Natal? Não sei como ela consegue fazer isso.” “Teimosia, é assim que ela faz.” “Não brinque. E nós aqui paradas sem fazer nada.” “Ela não vai deixar você ajudar. Ninguém toca na massa dela. Pode confiar em mim. Tia Kay, isso não está machucando seu cotovelo?” Meus olhos entram em foco quando olho para cima. Estou amassando com a mão direita e com as pontas dos dedos da esquerda. Olho para o relógio acima da pia e percebo que perdi a noção do tempo e estou amassando há quase dez minutos. “Meu Deus, em que mundo você está?” A animação de Lucy desaba quando ela me olha no rosto. “Não deixe tudo isso comê-la viva. Vai ficar tudo bem.” Ela acha que estou preocupada com o grande júri especial, quando, ironicamente, não estou nem pensando nele hoje. “Teun e eu vamos ajudá-la, estamos ajudando. O que você acha que estivemos fazendo nos últimos dias? Temos um plano sobre o qual queremos conversar com você.” “Depois da gemada”, diz McGovern com um sorriso gentil. “Benton falou alguma vez com você sobre A Última Delegacia?” Ponho para fora, quase acusando no modo feroz como olho para elas duas, depois percebendo por suas expressões confusas que elas não sabem a que estou me referindo. “Você quer dizer o que estamos fazendo agora?” Lucy franze o cenho. “O escritório em Nova York? Ele não poderia ter sabido sobre isso, a menos que você tivesse mencionado a ele que estava pensando em montar um negócio próprio.” Ela diz isso a McGovern. Divido a massa em partes menores e começo a amassar outra vez. “Sempre pensei em trabalhar por conta própria”, responde McGovern. “Mas nunca disse nada a Benton. Nós éramos totalmente consumidos pelos casos lá na Pensilvânia.” “O eufemismo do século”, Lucy acrescenta lugubremente. “Certo.” McGovern suspira e balança a cabeça. “Se Benton não tinha nenhuma pista sobre a empresa particular que vocês
planejavam iniciar”, digo então, “é possível que ele tenha ouvido vocês mencionarem A Última Delegacia — o conceito, a coisa sobre a qual você diz que costumavam brincar? Estou tentando imaginar por que ele daria esse nome a um arquivo.” “Que arquivo?”, pergunta Lucy. “Marino o está trazendo.” Termino de sovar uma parte da massa e embrulho-a bem apertada em plástico. “Estava na pasta de Benton em Filadélfia.” Explico a elas o que Anna me contou na carta, e Lucy ajuda a esclarecer pelo menos um ponto. Ela tem certeza de que mencionou a Benton a filosofia de A Última Delegacia. Ela parece se lembrar de que estava no carro com ele um dia e perguntou sobre a consultoria privada que ele tinha começado a dar depois de sua aposentadoria. Ele contou que estava tudo bem, mas era difícil administrar a logística de tocar o próprio negócio, que ele sentia falta de ter uma secretária e mais alguém para atender o telefone, esse tipo de coisa. Lucy respondeu melancolicamente que talvez todos nós devêssemos nos juntar e formar nossa própria empresa. Foi nesse momento que ela usou a expressão A Última Delegacia — uma espécie de “nossa liga”, ela diz que contou a ele. Abro panos de prato limpos e secos sobre a bancada. “Ele tinha alguma idéia de que você podia estar falando sério sobre realmente fazer isso um dia?”, pergunto. “Eu disse a ele que, se algum dia conseguisse dinheiro suficiente, ia me demitir da porra do governo”, responde Lucy. “Bem.” Encaixo rolos na máquina de macarrão e regulo para a abertura mais larga. “Qualquer pessoa que a conheça imaginaria que era só questão de tempo até você conseguir dinheiro fazendo alguma coisa. Benton sempre dizia que você era independente demais para permanecer para sempre numa burocracia. Ele não ficaria nem um pouco surpreso com o que está acontecendo com você, Lucy.” “De fato, já tinha começado a acontecer com você desde o início”, McGovern observa para minha sobrinha. “E é por isso que você não durou no FBI.” Lucy não se sente insultada. Ela pelo menos admite que cometeu erros antes, e o pior deles foi seu caso com Carrie Grethen. Não culpa mais o FBI por ter se afastado dela até ela finalmente se demitir. Achato um pedaço de massa com a palma da mão e enfio na máquina. “Estou me perguntando se Benton usou seu conceito como o nome do arquivo misterioso porque de algum modo sabia que A Última Delegacia — quer dizer, nós — investigaria um dia o caso dele”, proponho. “Que nós somos onde ele terminaria, porque o que quer que estivesse começando com aquelas cartas atormentadoras e todo o resto não ia parar, mesmo com a morte dele.” Enfio a massa de volta na máquina repetidas vezes até ter uma tira perfeita de macarrão para estender sobre uma toalha. “Ele sabia. De alguma forma ele sabia.” “De alguma forma ele sabia de tudo.” O rosto de Lucy é tocado por uma tristeza profunda. Benton está na cozinha. Nós o sentimos enquanto faço massa para o Natal e conversamos sobre o modo como a mente dele trabalhava. Ele era muito
intuitivo. Sempre pensava muito adiante de onde estava. Posso imaginá-lo projetando-se no futuro depois de sua morte e imaginando como poderíamos reagir a tudo, inclusive a um arquivo que poderíamos encontrar em sua pasta. Benton certamente saberia que, se alguma coisa acontecesse com ele — e está claro que ele temia que algo acontecesse —, eu com toda a certeza examinaria sua pasta, o que fiz. O que ele talvez não tenha previsto é que Marino examinaria a pasta primeiro e removeria um arquivo sobre o qual eu não saberia nada até agora. Ao meio-dia, Anna está com o carro pronto para ir para a praia e as bancadas de sua cozinha estão cobertas de lasanha. O molho de tomate ferve no fogão. O parmesão Reggiano e o queijo Asagio estão ralados em tigelas, e mozarela fresca descansa numa toalha e perde um pouco de sua umidade. A casa cheira a alho e fumaça de lenha, e as luzes de Natal brilham enquanto a fumaça sobe da chaminés, e quando Marino chega com seu barulho e sua falta de jeito típicos, encontra mais felicidade do que viu em qualquer uma de nós por muito tempo. Ele está usando jeans e uma camisa de brim e carrega presentes e uma garrafa de uísque de milho Virginia Lightning. Capto a borda de uma pasta de arquivos destacando-se atrás de pacotes embrulhados em uma sacola, e meu coração salta. “Ho! Ho! Ho!”, ele berra. “Feliz da porra do Natal!” É sua fala-padrão natalina, mas ele não a diz com o coração. Tenho a sensação de que ele não passou as últimas horas simplesmente procurando o arquivo Aud. Ele o examinou. “Preciso de uma bebida”, ele anuncia à casa.
31
Na cozinha, regulo o forno e cozinho a massa. Misturo os queijos ralados com ricota e começo a distribuí-los junto com molho de carne em camadas entre as fatias numa travessa funda. Anna recheia tâmaras com cream cheese e enche uma tigela com nozes salgadas, enquanto Marino, Lucy e McGovern tomam cerveja e vinho ou inventam alguma poção de festa, que no caso de Marino é um Bloody Mary temperado feito com o uísque que ele trouxe. Ele está com um ar misterioso e se embebedando rapidamente. O arquivo Aud é um buraco negro, ainda no saco de presentes, ironicamente debaixo da árvore de Natal. Marino sabe o que há naquele arquivo, mas não pergunto a ele. Ninguém pergunta. Lucy começa a pegar ingredientes para fazer cookies com pedaços de chocolate e duas tortas — uma de manteiga de amendoim, a outra de limão —, como se estivéssemos alimentando uma cidade inteira. McGovern abre um borgonha tinto Chambertin Grand Cru enquanto Anna põe a mesa, e o arquivo exerce sua atração em silêncio e com grande força. É como se todos tivéssemos feito um acordo tácito de pelo menos fazer um brinde e jantar antes de começar a falar sobre assassinato. “Alguém mais quer um Bloody?” Marino fala alto e perambula pela cozinha sem fazer nada de útil. “Ei, doutora, que tal eu preparar uma jarra?” Ele abre a geladeira, pega um punhado de sucos Spicy Hot V8 e começa a abrir as latinhas. Imagino quanto Marino teve de beber antes de chegar aqui e a segurança se destaca de minha raiva. Para começar, sinto-me insultada por ele ter posto o arquivo debaixo da árvore, como se pretendesse fazer uma piada sem graça, mórbida. O que está sugerindo? Que é meu presente de Natal? Ou é tão insensível que nem sequer lhe ocorreu que quando, sem nenhuma cerimônia, ele enfiou o saco debaixo da árvore o arquivo estava nele? Ele passa por mim me dando um encontrão e começa a espremer metades de limão no espremedor elétrico, jogando as cascas na pia. “Bem, imagino que ninguém vai me ajudar, então só vou fazer para mim”, ele murmura. “Ei!”, ele grita como se não estivéssemos todos no mesmo aposento. “Alguém pensou em comprar raiz-forte?” Anna olha para mim. Um mau humor coletivo começa a se instalar. A cozinha parece ficar mais escura e mais fria, e minha raiva me atiça. Vou explodir com Marino a qualquer momento, e estou tentando com todas as forças me conter. É Natal, digo a mim mesma. Marino pega uma colher de pau comprida e mexe com estardalhaço o Bloody Mary, ao mesmo tempo que derrama na jarra uma quantidade assustadora de uísque. “Argh.” Lucy balança a cabeça. “Pelo menos use Grey Goose.” “Não há nada que me faça beber vodca francesa.” A colher estala quando ele mexe, depois ele a põe na borda da jarra. “Vinho francês, vodca francesa. Ei. O que houve com as coisas italianas?” Ele exagera o sotaque italiano novaiorquino. “O que aconteceu c’os vizinho ?”
“Não há nada de italiano nessa merda que você está preparando”, Lucy diz a ele enquanto pega uma cerveja da geladeira. “Se você beber tudo isso, tia Kay vai levá-lo com ela para o trabalho amanhã. Só que você vai estar dentro de um saco.” Marino entorna um copo de seu perigoso preparado. “Isso me lembra”, diz ele, para ninguém em particular, “que se eu morrer, ela não vai me cortar.” Como se eu não estivesse bem aqui. “Esse é o trato.” Ele enche outro copo, e a essa altura todos nós paramos o que estávamos fazendo. Olhamos para ele. “Já faz dez anos que isso está me incomodando.” Outro gole. “Porra, essa coisa esquenta até os dedos dos pés. Não quero que ela me jogue em uma daquelas malditas mesas de aço e me corte como se eu fosse um peixe da porra do mercado. Eu, hem! Fiz um trato com as garotas da frente.” Uma referência a minhas secretárias na sala da frente. “Nada de distribuir minhas fotos. Não pensem que não sei o que acontece por lá. Elas comparam tamanhos de pinto.” Ele entorna meio copo e enxuga a boca com as costas da mão. “Ouvi dizer que elas fazem isso. Especialmente Cli-ta.” Ele faz uma brincadeira obscena com o nome de Cleta. Marino parte outra vez para a jarra e eu estendo minha mão para impedilo, enquanto minha raiva extravasa em um exército de palavras ásperas. “Chega. Que diabo deu em você? Como ousa vir aqui bêbado e ficar ainda mais bêbado? Vá dormir para ver se cura essa bebedeira, Marino. Tenho certeza de que Anna tem uma cama de reserva. Você não vai dirigir para lugar nenhum, e nenhuma de nós está disposta a agüentá-lo neste momento.” Ele me lança um olhar de desafio e de troça quando levanta outra vez o copo. “Pelo menos estou sendo honesto”, ele retruca. “Vocês não podem fingir que a única coisa que querem é um dia bom, só porque estamos na porra do Natal. Bom, e daí? Lucy se demitiu para não ser mandada embora porque é uma homossexual metida a sabichona.” “Não, Marino”, Lucy o adverte. “McGovern se demitiu, e não sei qual é a dela.” Ele aponta o dedo para Teun, insinuando que ela tem a mesma preferência de Lucy. “Anna tem de sair da porra da casa dela porque você está aqui e está sendo investigada por assassinato, e agora você se demite do emprego. Não me surpreendo nem um pouco, e vamos ver se o governador mantém você. Consultora privada. Sim.” Ele enrola as palavras e cambaleia no meio da cozinha, seu rosto borrado de vermelho. “Duvido muito. Então imaginem quem sobrou? Eu, eu mesmo e eu próprio.” Ele põe o copo com força na bancada e sai da cozinha, esbarrando numa parede, batendo numa pintura torta, tropeçando em direção à sala. “Meu Deus.” McGovern expira o ar longamente. “Caipira desgraçado”, diz Lucy. “O arquivo.” Anna olha na direção de Marino. “É esse o problema dele.”
Marino está em coma alcoólico no sofá da sala. Nada o desperta. Ele não se mexe, mas seu ronco nos alerta de que está vivo, só não tem consciência do que está ocorrendo na casa de Anna. A lasanha está pronta e aquecida no forno,
e uma torta de limão esfria dentro da geladeira. Anna partiu para a viagem de oito horas até Hilton Head, apesar de meus protestos. Fiz tudo que podia para encorajá-la a ficar, mas ela sentiu que devia ir. Já é meio da tarde. Lucy, McGovern e eu ficamos sentadas durante horas à mesa de jantar, os talheres tirados do caminho, os presentes ainda fechados debaixo da árvore, o arquivo Aud aberto diante de nós. Benton era meticuloso. Ele selou cada item em plástico transparente, e manchas roxas em alguns dos envelopes e cartas indicam que foi usada nihidrina para processar impressões digitais latentes. Os carimbos do correio são de Manhattan, todos com os mesmos três primeiros dígitos de um código postal, 100. Não é possível saber que agência enviou as cartas. Um prefixo de três dígitos só indica a cidade e que a correspondência não foi enviada por meio de uma máquina de postagem doméstica ou comercial, ou de alguma agência rural. Nesses casos, o carimbo teria cinco dígitos. Há um índice no começo do arquivo Aud e ele lista um total de sesenta e três itens com datas que vão da primavera de 1996 (cerca de seis meses antes de Benton escrever a carta que quis que me fosse entregue depois de sua morte) ao outono de 1998 (apenas alguns dias antes de Carrie Grethen fugir de Kirby). O primeiro item tem a etiqueta Prova 1, como se fosse uma evidência física a ser apresentada a um júri. É uma carta postada em Nova York no dia 15 de maio de 1996, não assinada e impressa por meio de computador numa fonte WordPerfect floreada e difícil de ler que Lucy identifica como “Ransom”.
Caro Benton, Sou o presidente do Fã-Clube dos Feios e você foi escolhido para ser nosso membro honorário! Adivinhe por quê? Os membros conseguem ficar feios de graça! Você não está animado? Aguarde notícias...
Essa carta foi seguida por cinco outras, todas num intervalo de algumas semanas entre si, todas fazendo as mesmas referências a um Fã-Clube dos Feios e a Benton se tornar o mais novo membro. O papel era simples, a mesma fonte Ransom, nenhuma assinatura, o mesmo código postal de Nova York, claramente o mesmo autor para todas. E muito esperto, até que essa pessoa enviou a sexta carta e cometeu um erro, muito óbvio para um olho investigativo, e é por isso que estou surpresa de Benton não tê-lo percebido. Na parte de trás do envelope totalmente branco há impressões de escrita que são perceptíveis quando inclino o envelope e o ilumino de diferentes ângulos. Pego um par de luvas de látex em minha bolsa e calço-as enquanto ando pela cozinha à procura de uma lanterna. Anna mantém uma na bancada, ao lado da torradeira. De volta à sala, tiro o envelope de sua capa de plástico, levanto-o pelos cantos e ilumino o papel obliquamente com a lanterna. Capto a sombra da palavra serrilhada Agente do Correio e fica claro instantaneamente para mim o que o autor desta carta fez. “Franklin D.” Decifro outras palavras. “Há uma agência de correio Franklin D. Roosevelt em Nova York? Porque definitivamente aqui está escrito N
Y, N-Y.” “Sim. A agência do meu bairro”, diz McGovern, arregalando os olhos. Ela vem para meu lado da mesa para olhar mais de perto. “Tive casos em que as pessoas tentaram criar álibis”, digo, pondo a lanterna em diferentes ângulos. “Um álibi velho e batido é que a pessoa estava num lugar diferente, muito distante, no momento do assassinato e portanto não poderia tê-lo cometido. Um modo fácil de fazer isso é enviar correspondência de algum lugar remoto no momento ou perto do momento em que o assassinato acontece, fazendo assim parecer que o assassino não poderia ser a pessoa porque ela não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo.” “Terceira Avenida”, diz McGovern. “É onde fica a agência Franklin D. Roosevelt.” “Temos parte de um endereço; uma parte está escondida pela aba. Novealguma coisa. Três A-V. Sim, Terceira Avenida. O que se faz é endereçar a carta, colocar o selo apropriado, depois pô-la dentro de outro envelope endereçado ao agente da agência do correio de onde você quer que ela seja enviada. O agente é obrigado a enviar a carta por você, com o carimbo do correio daquela cidade. Então o que essa pessoa fez foi pôr essa carta dentro de outro envelope, e quando endereçou o envelope externo, as impressões do que escreveu foram deixadas no envelope que está embaixo.” Lucy também veio para trás de mim e está inclinada bem perto para ver. “O bairro de Susan Pless”, diz ela. Não só isso, mas a carta, que é de longe a mais vil, está datada de 5 de dezembro de 1997 — o dia em que Susan Pless foi assassinada.
Ei, Benton, Como vai, garoto prestes a ficar feio? Apenas especulando, tem alguma idéia de como é olhar no espelho e querer cometer suicídio? Não? Logo vai ter. Loooogoooo. Vou trinchar você como um peru de Natal e a mesma coisa vale para a Xoxotona que você fodeu quando tirou uma folga de tentar entender pessoas como eu & você. Nem posso lhe dizer como vou gostar de usar minha grande lâmina para abrir as costuras dela. Quid pro quo, certo? Quando você vai aprender a cuidar de seus próprios assuntos?
Imagino Benton recebendo essas missivas doentias e grosseiras. Imagino-o em seu quarto na minha casa, sentado à escrivaninha com o laptop aberto e ligado no modem, sua pasta ao lado, café ao alcance da mão. Suas anotações indicam que ele determinou que a fonte era Ransom e depois pensou no significado. Obter a liberdade pagando um preço. Resgatar . Livrar-se do pecado, leio suas garatujas. Eu devia estar no corredor em meu estúdio ou na cozinha no mesmo momento em que ele lia esta carta e procurava “ransom” no dicionário, e ele nunca me disse uma palavra. Lucy sugere que Benton não teria querido me sobrecarregar, e nada de útil resultaria se eu ficasse sabendo. Eu não poderia ter
feito nada a respeito, ela acrescenta. “Cactos, lírios, tulipas”, McGovern percorre páginas do arquivo. “Então alguém estava enviando anonimamente arranjos de flores para ele em Quantico.” Começo a remexer dezenas de notas de mensagens nas quais está escrito simplesmente “desligado” e a data e a hora. As chamadas foram feitas para a linha direta dele na Unidade de Ciência Comportamental, todas designadas como fora de área pelo identificador de chamadas, o que significa que provavelmente foram feitas de um telefone celular. A única observação de Benton era pausas na linha antes de desligar. McGovern nos informa que pedidos de flores foram feitos a um florista na avenida Lexington que Benton aparentemente checou, e Lucy liga para o auxílio à lista para ver se esse mesmo florista ainda está funcionando. Está. “Ele faz uma anotação aqui sobre pagamento.” É muito difícil para mim olhar a grafia pequena e emaranhada de Benton. “Correio. Os pedidos foram feitos por correio. Dinheiro, ele escreveu a palavra ‘dinheiro’. Então, parece que a pessoa enviou o dinheiro e um pedido por escrito.” Volto ao índice. Realmente, as provas 51 a 55 são os pedidos recebidos pelo florista. Vou para essas páginas. “Geradas por computador e não assinadas. Um pequeno arranjo de tulipas por vinte e cinco dólares com instruções para ser enviado ao endereço de Benton em Quantico. Um cacto pequeno por vinte e cinco dólares, e assim por diante, envelopes com o carimbo do correio de Nova York.” “Provavelmente a mesma coisa”, diz Lucy. “Eles foram enviados por um agente do correio de Nova York. A questão é: onde eles foram postados originalmente?” Não podemos saber sem os envelopes externos, que certamente devem ter sido jogados no lixo no momento em que os empregados da agência do correio os abriram. Mesmo que tivéssemos esses envelopes, é muito improvável que o remetente tenha escrito o endereço para devolução. O máximo que poderíamos esperar seria um carimbo de correio. “Suponho que o florista simplesmente imaginou que estava lidando com algum maluco que não acredita em cartão de crédito”, comenta McGovern. “Ou alguém que estava tendo um caso.” “Ou alguém internado.” Estou, é claro, pensando em Carrie Grethen. Posso imaginá-la enviando comunicados de Kirby. Ao colocar as cartas dentro de outro envelope endereçado a um agente do correio, no mínimo ela evitava que o pessoal do hospital visse para quem ela estava enviando as cartas, fosse para um florista ou diretamente para Benton. Usar uma agência do correio de Nova York também faz sentido. Ela teria tido acesso a várias agências por meio da lista telefônica, e no meu íntimo não acho que Carrie estivesse preocupada com o fato de alguém supor que a correspondência tivesse origem na mesma cidade em que ela estava encarcerada. Ela simplesmente não queria alertar o pessoal de Kirby, e era também a pessoa mais manipuladora deste planeta. Tudo que ela fazia tinha uma razão. Ela estava tão ocupada traçando o perfil de Benton quanto ele traçando o dela.
“Se é Carrie”, observa McGovern sombriamente, “então temos de imaginar se ela de alguma forma tinha pelo menos conhecimento de Chandonne e de suas mortes.” “Ela se excitaria com isso”, respondo com raiva, e me afasto da mesa. “Ela saberia muito bem que, ao escrever uma carta para Benton datada do mesmo dia do assassinato de Susan, isso o deixaria extremamente irritado. Ele faria essa ligação, com certeza.” “E escolher uma agência do correio situada no bairro de Susan”, acrescenta Lucy. Especulamos, postulamos e continuamos até o final da tarde, quando decidimos que é hora do jantar de Natal. Depois de acordar Marino, contamos a ele o que descobrimos e continuamos a falar enquanto comemos salada, cebolas e tomates temperados com vinagre de vinho tinto doce e azeite de oliva prensado a frio. Marino engole a comida com sofreguidão, como se não comesse há dias, enchendo a boca de lasanha enquanto debatemos, especulamos e levantamos a questão: se Carrie Grethen era a pessoa que atormentava Benton e tinha alguma ligação com a família Chandonne, o assassinato de Benton foi mais do que um simples ato de psicopatia? Sua morte foi um ato do crime organizado disfarçado para parecer pessoal, insensível, louco, sendo Carrie a lugar-tenente que estava mais do que ansiosa para levá-lo a cabo? “Em outras palavras”, Marino me diz de boca cheia, “a morte dele foi como aquilo de que você está sendo acusada.” A mesa fica em silêncio. Nenhuma de nós capta exatamente o que ele quis dizer, mas então percebo. “Você está dizendo que havia um motivo real para o assassinato dele, mas que o crime foi disfarçado para parecer um assassinato serial?” Ele dá de ombros. “Exatamente como você ser acusada do assassinato de Bray e disfarçar isso para parecer que quem o praticou foi o lobisomem.” “Talvez por isso a Interpol esteja tão agitada e preocupada”, considera Lucy. Marino se serve do excelente vinho francês, que ele entorna como se fosse Gatorade. “É, a Interpol. Talvez Benton tenha se complicado de alguma maneira com o cartel e...” “Por causa de Chandonne”, interrompo, enquanto meu foco se concentra e penso que estou numa trilha que pode levar à verdade. Jaime Berger foi nossa hóspede de Natal não convidada. Ela obscureceu meus pensamentos a tarde inteira. Não consigo parar de pensar sobre uma das primeiras coisas que ela perguntou quando nos encontramos em minha sala de reuniões. Ela quis saber se alguém tinha feito o perfil dos assassinatos de Chandonne em Richmond. Ela levantou isso muito depressa, e portanto acredita claramente que a elaboração de perfis é importante. Certamente, ela teria pedido a alguém que traçasse o perfil do assassinato de Susan Pless, e suspeito cada vez mais que Benton pode muito bem ter sabido do caso. Levanto da mesa. “Por favor, sinta-se em casa”, digo em voz alta a Berger, e tenho a uma sensação crescente de desespero enquanto procuro na bolsa o cartão dela. Nele está o número do telefone de sua casa, e eu ligo da
cozinha de Anna, onde ninguém pode ouvir o que digo. Uma parte de mim está constrangida. Também estou com medo e enlouquecida. Se estiver errada, vou parecer boba. Se estiver certa, então ela deveria ter sido mais franca comigo, droga, maldita Berger. “Alô?”, uma mulher responde. “Senhorita Berger?”, digo. “Espere um pouco.” A pessoa grita: “Mãe! Para você!”. Assim que Berger atende, digo: “O que mais eu não sei a seu respeito? Porque está ficando muito claro que eu não sei muita coisa”. “Oh, Jill.” Ela deve estar falando da pessoa que atendeu o telefone. “Na verdade, eles são do primeiro casamento de Greg. Dois adolescentes. E hoje eu os venderia pela primeira oferta. Não, eu pagaria a alguém para levá-los.” “Não, não pagaria!”, diz Jill ao fundo, e ri. “Deixe-me ir para um lugar mais calmo.” Berger fala enquanto se move para alguma outra área, de onde quer que ela viva com o marido e dois filhos dos quais nunca me falou, mesmo depois de todas as horas que passamos juntas. Meu ressentimento ferve. “O que está acontecendo, Kay?” “Você conheceu Benton?”, pergunto diretamente. Nada. “Você está aí?”, falo outra vez. “Estou aqui”, diz ela, num tom calmo e sério. “Estou pensando qual a melhor maneira de lhe responder...” “Por que não começar com a verdade? Pelo menos uma vez.” “Eu sempre lhe disse a verdade”, ela responde. “Isso é ridículo. Já ouvi até os melhores entre vocês mentirem quando estão tentando manipular alguém. Sugerindo detectores de mentira, uma agulhona de soro da verdade para que as pessoas confessem, e há também mentira por omissão. Toda a verdade. Eu exijo. Pelo amor de Deus, Benton teve algo a ver com o caso de Susan Pless?” “Sim”, responde Berger. “Absolutamente sim, Kay.” “Fale comigo, senhorita Berger. Acabo de passar a tarde inteira olhando cartas e outras coisas estranhas que ele recebeu antes de ser assassinado. Elas foram processadas por uma agência de correio situada no bairro de Susan.” Uma pausa. “Eu tinha me encontrado com Benton várias vezes, e meu escritório certamente se valeu dos serviços que a Unidade de Ciência Comportamental tem a oferecer. Na época, pelo menos. Na verdade temos um psiquiatra forense que usamos agora, alguém daqui de Nova York. Eu tinha trabalhado com Benton em outros casos ao longo dos anos, meu argumento era esse. E, no momento em que soube da morte de Susan e fui para a cena do crime, liguei para ele e pedi que fosse até lá. Nós examinamos o apartamento dela, exatamente como você e eu examinamos as cenas de crime em Richmond.” “Ele alguma vez mencionou que estava recebendo correspondência e telefonemas estranhos e outras coisas? E que possivelmente havia uma ligação entre quem estava fazendo isso e quem assassinou Susan Pless?” “Eu entendo”, é tudo que ela diz.
“Entende? Que diabo você entende?” “Entendo que você sabe”, ela me responde. “A questão é: como?” Conto a ela sobre o arquivo Aud. Informo-a de que parece que Benton mandou verificar os documentos em busca de impressões digitais e estou me perguntando quem fez isso e onde, e quais podem ter sido os resultados. Ela não tem nenhuma idéia, mas diz que deveríamos submeter qualquer impressão latente ao sistema automático de identificação de impressões digitais, conhecido como AFIS. “Há selos de postagem nos envelopes”, informo a ela. “Ele não os removeu e teria de ter feito isso se quisesse verificar a existência de DNA.” Foi só nos últimos anos que a análise de DNA se tornou sofisticada o suficiente, devido à reação de polimerase em cadeia, ou PCR, para que valesse a pena analisar saliva, e talvez quem colou os selos de postagem nos envelopes tenha feito isso lambendo-os. Não tenho certeza de que mesmo Carrie soubesse, na época, que o ato de lamber um selo poderia nos fornecer sua identidade. Eu teria sabido. Se Benton tivesse me mostrado essas cartas, eu teria recomendado que ele mandasse examinar os selos. Talvez tivéssemos obtido resultados. Talvez ele não tivesse sido morto. “Na época muitas pessoas, mesmo as que trabalham em órgãos policiais, simplesmente não pensavam em coisas como essa.” Berger ainda está falando sobre os selos. “Parece que a única coisa que os policiais fazem hoje em dia é perseguir as pessoas para pegar suas xícaras de café ou toalhas com suor, lenços de papel, pontas de cigarro. É impressionante.” Tenho um pensamento incrível. O que ela está dizendo me trouxe à mente um caso na Inglaterra no qual um homem foi falsamente acusado de um roubo por causa de uma coincidência na Base Nacional de Dados de DNA sediada em Birmingham. O advogado do homem exigiu que fosse feito um novo teste do DNA recuperado do crime, dessa vez usando dez loci, ou localizações, em vez das seis padrão que haviam sido empregadas. Loci, ou alelos, são simplesmente localizações específicas no mapa genético de uma pessoa. Alguns alelos são mais comuns que outros, portanto, quanto menos comuns eles forem e quanto mais localizações forem usadas, maiores são as chances de uma coincidência — que não é literalmente uma coincidência, mas sim uma probabilidade estatística que torna quase impossível acreditar que o suspeito não cometeu o crime. No caso inglês, o suposto ladrão foi excluído depois de refeito o teste com loci adicionais. Havia uma chance de um em trinta e sete milhões de haver uma falsa coincidência, e com certeza ela aconteceu. “Quando vocês testaram o DNA do caso de Susan, usaram STR?”, pergunto a Berger. STR é a mais nova tecnologia para traçar perfis de DNA. O que ela significa é que amplificamos o DNA com PCR e olhamos para pares de base repetidos muito discriminadores chamados Short Tandem Repeats, ou Repetições Seqüenciais Curtas. Tipicamente, o que se exige das bases de dados de DNR hoje em dia é que sejam usados pelo menos treze amostras ou loci, tornando assim extremamente improvável que haja uma falsa coincidência. “Sei que os laboratórios de vocês estão muito avançados”, diz Berger. “Eles
fazem PCR há anos.” “É tudo PCR, a menos que o laboratório ainda esteja fazendo a velha análise do polimorfismo de fragmentos de restrição enzimática, que é muito confiável, mas exige um tempo interminável”, respondo. “Em 1997, a questão era quantas amostras — ou loci — eram usadas. Muitas vezes, na primeira varredura de uma amostra, o laboratório talvez não fizesse dez, treze ou quinze loci. Isso é muito caro. Se só quatro loci foram feitos no caso de Susan, por exemplo, poderia surgir uma exceção incomum. Estou supondo que o departamento do legista ainda tem o material extraído guardado no freezer deles.” “Que tipo de exceção esquisita?” “Se estivermos lidando com irmãos. E um deles tiver deixado o fluido seminal, e o outro, o cabelo e a saliva.” “Mas você testou o DNA de Thomas, certo? E ele era similar ao de JeanBaptiste, mas não o mesmo?” Não posso acreditar. Berger está ficando agitada. “Nós também fizemos isso há alguns dias com treze loci, não quatro ou seis”, respondo. “Estou supondo que os perfis tinham grande quantidade dos mesmos alelos, mas também alguns diferentes. Quanto mais amostras se faz, mais surgem diferenças. Especialmente em populações fechadas. E quando se pensa na família Chandonne, a população deles é provavelmente muito fechada, pessoas que viveram na Île de Saint-Louis durante centenas de anos e que com toda a probabilidade se casaram com parentes. Em alguns casos, endogamia — casamento entre primos, o que pode também explicar a deformidade congênita de Jean-Baptiste Chandonne. Quanto mais as pessoas fazem casamentos endogâmicos, mais aumentam as chances de ocorrerem defeitos genéticos.” “Precisamos fazer um novo teste do fluido seminal do caso de Susan”, Berger decide. “Seu laboratório faria isso de qualquer forma, já que ele está sendo acusado de assassinato”, respondo. “Mas talvez você queira estimulá-los a tornar isso uma prioridade.” “Meu Deus, esperemos que não acabe se revelando que é outra pessoa”, ela diz, frustrada. “Minha nossa, vai ser horrível se o DNA não coincidir quando eles fizerem o novo teste. Isso realmente arruinaria meu caso.” Ela está certa. Com certeza arruinaria. Mesmo Berger pode ter muita dificuldade em fazer um júri acreditar que Chandonne matou Susan se seu DNA não coincidir com o DNA do fluido seminal recuperado do corpo dela. “Vou pedir a Marino que submeta os selos e qualquer impressão latente ao laboratório de Richmond”, diz ela então. “E Kay, tenho de pedir a você que não olhe nada naquele arquivo a menos que seja na presença de uma testemunha; não olhe mais nada. Falo isso porque é melhor que você própria não apresente nenhuma evidência.” “Entendo.” Outro lembrete de que estou sob suspeita de assassinato. “Para sua própria proteção”, ela acrescenta. “Senhorita Berger, se você sabia sobre as cartas, sobre o que estava acontecendo com Benton, então o que pensou quando ele foi assassinado?”
“Além do choque e do pesar óbvios? Que ele foi morto por quem o estava atormentando. Sim, foi a primeira coisa que me veio à mente. No entanto, quando ficou claro quem eram os assassinos dele e depois eles foram mortos, não parecia haver mais nada a ser buscado.” “E se Carrie Grethen escreveu aquelas cartas, escreveu a pior delas, parece, no próprio dia em que Susan foi morta.” Silêncio. “Acho que devemos considerar que podia haver uma ligação.” Sou firme nesse ponto. “Susan pode ter sido a primeira vítima de Chandonne neste país, e quando Benton começou a investigar ele talvez tenha chegado muito perto de outras coisas que apontam para o cartel. Carrie estava viva em Nova York quando Chandonne foi para aí e matou Susan.” “E talvez Benton fosse um crime encomendado?” Berger parece estar em dúvida. “Mais do que talvez”, respondo. “Eu conhecia Benton e o modo como ele pensava. Para começar, por que ele carregava o arquivo Aud em sua pasta — por que o levou para Filadélfia, se não tinha nenhuma razão para pensar que o material esquisito guardado nele estava ligado ao que Carrie e seu cúmplice estavam fazendo? Matando pessoas e cortando o rosto delas. Tornando-as feias. E os bilhetes que Benton estava recebendo deixavam claro que ele ia se tornar feio, e com toda certeza ele estava...” “Preciso de uma cópia desse arquivo”, Berger me dispensa. É óbvio pelo seu tom que ela de repente quer desligar o telefone. “Tenho um fax aqui em casa.” Ela me dá o número.
Vou para o estúdio de Anna e passo a meia hora seguinte copiando todo o arquivo Aud, porque não posso colocar documentos laminados no aparelho de fax. Marino acabou com o borgonha e está de novo dormindo no sofá quando volto para a sala de estar, onde Lucy e McGovern estão sentadas em frente à lareira conversando, continuando a pintar cenários que só estão ficando piores quanto mais elas são influenciadas pelo álcool. O Natal corre para longe de nós. Finalmente nos reunimos para abrir os presentes às dez e meia, e Marino, grogue, brinca de Papai Noel, entregando caixas e tentando ser festivo. Mas seu humor só piorou, e qualquer tentativa de fazer graça soa mordaz. Às onze, o telefone de Anna toca. É Berger. “Quid pro quo? ”, ela começa, referindo-se à carta datada de 5 de dezembro de 1997. “Quantas pessoas não versadas em termos jurídicos usam essa expressão? É só uma idéia louca, mas fico pensando se há uma maneira de obtermos o DNA de Rocky Caggiano. Podemos também revirar tudo e não supor com tanta rapidez que Carrie escreveu essas cartas. Talvez tenha escrito. Mas talvez não.” Não consigo me concentrar quando volto aos presentes de Natal debaixo da árvore. Tento sorrir e finjo estar muito agradecida, mas não engano ninguém. Lucy me dá um relógio Breitling de aço inoxidável chamado B52, e o presente
de Marino para mim é um cupom para um ano de lenha para lareira que ele vai entregar e empilhar pessoalmente. Lucy adora o colar Whirly-Girls que mandei fazer para ela e Marino adora a jaqueta de couro que ganhou de Lucy e de mim. Anna ficaria satisfeita com um vaso de vidro artístico que encontrei para ela, mas está em algum lugar da rodovia I-95, é claro. Todos fazem tudo rápido porque as perguntas pairam pesadas no ar. Enquanto juntamos fitas amarrotadas e papel rasgado, indico a Marino com um gesto que preciso conversar em particular com ele. Sentamos na cozinha. Ele esteve em algum estágio de bebedeira o dia todo, e posso dizer que é provável que esteja se embebedando regularmente. Há uma razão para isso. “Você não pode beber desse jeito”, digo a ele enquanto sirvo para cada um de nós um copo d’água. “Isso não ajuda em nada.” “Nunca ajudou, nunca vai ajudar.” Ele esfrega o rosto. “Isso não parece fazer a mínima diferença quando estou me sentindo um merda. Neste momento, tudo é uma merda.” Seus olhos anuviados e injetados encontram os meus. Parece que Marino está outra vez prestes a chorar. “Você poderia, por algum motivo, ter alguma coisa que possa nos dar o DNA de Rocky?”, vou logo perguntando. Ele se encolhe como se eu tivesse batido nele. “O que Berger contou a você quando ligou? Era isso? Ela ligou por causa de Rocky?” “Ela está apenas seguindo a lista”, respondo. “Qualquer pessoa ligada a nós ou a Benton que possa ter um vínculo com o crime organizado. E certamente se pensa em Rocky.” Conto a ele o que Berger revelou sobre Benton e o caso de Susan Pless. “Mas ele estava recebendo aquela merda excêntrica antes de Susan ser assassinada”, ele diz. “Então, por que alguém o estaria aporrinhando se ele ainda não estava metendo o nariz em nada? Por que Rocky faria isso, por exemplo? E eu suponho que é isso que você está pensando, que talvez Rocky estivesse mandando para ele aquela merda esquisita?” Não tenho resposta. Não sei. “Bom, imagino que você vai ter de pegar DNA de mim e de Doris, porque não tenho nada de Rocky. Nem sequer cabelo. Você pode fazer isso, certo? Se você pegar o DNA da mãe e do pai, pode comparar alguma coisa, como saliva?” “Poderíamos obter uma árvore genealógica e pelo menos saber se seu filho pode ser descartado como um contribuinte do DNA nos selos.” “Tudo bem.” Ele explode. “Se é isso que você quer fazer. E, já que a Anna se mandou, será que posso fumar aqui?” “Eu não ousaria”, respondo. “E impressões digitais de Rocky?” “Esqueça isso. Além do mais, não me pareceu que Benton teve sorte com as impressões. Quer dizer, pode-se dizer que ele testou as cartas para ver se encontrava impressões e que isso parece ser o fim dessa coisa. E eu sei que você não quer ouvir isso, doutora, mas talvez seja melhor ter certeza do motivo pelo qual está se metendo em tudo isso. Não saia numa caça às bruxas porque quer punir o idiota que talvez tenha enviado aquela merda para Benton e talvez tenha algo a ver com a morte dele. Não vale a pena. Especialmente se você está pensando que foi Carrie. Ela está morta. Deixe-a apodrecer.”
“Vale a pena”, digo. “Se eu puder saber com certeza quem enviou aquelas cartas a ele, para mim vale a pena.” “Sei. Ele disse que A Última Delegacia era onde ele ia terminar. Bom, parece que terminou”, reflete Marino. “Nós somos A Última Delegacia e estamos trabalhando no caso dele. Isso já não é alguma coisa?” “Você acha que ele levou aquele arquivo para Filadélfia porque queria ter certeza de que você ou eu o pegaríamos?” “Supondo que algo acontecesse com ele?” Concordo com a cabeça. “Talvez”, ele diz. “Ele estava preocupado de não viver mais muito tempo e queria que encontrássemos aquele arquivo se algo acontecesse com ele. Mas também é estranho. Benton não diz muita coisa no arquivo, quase como se soubesse que outras pessoas poderiam vê-lo e não quisesse que houvesse nada nele que pudesse ser visto pela pessoa errada. Você não acha interessante que não haja nenhum nome nele? Se Benton tinha suspeitos em mente, por que nunca mencionou ninguém?” “O arquivo é críptico”, concordo. “Então quem ele temia que visse o arquivo? Os policiais? Porque se alguma coisa acontecesse com ele, ele sabia que os policiais iam olhar tudo que ele tinha. E olharam. Os policiais de Filadélfia examinaram tudo que ele tinha no quarto de hotel e depois me entregaram. E ele também imaginaria que você ia ver essa coisa em algum momento. E talvez Lucy também.” “Acho que a questão é que ele não podia ter certeza de quem veria o arquivo. Então ele tomou cuidado, ponto. E Benton era conhecido por ser cuidadoso.” “Sem falar”, continua Marino, “que ele estava lá ajudando o ATF. Então ele pode ter pensado que o ATF veria o arquivo, certo? O ATF de Lucy. McGovern era do ATF e chefiava a equipe de resposta que trabalhou nos incêndios que Carrie e o babaca ajudante dela estavam provocando, para disfarçar o fato de que tinham o hobbyzinho asqueroso de cortar o rosto das pessoas, certo?” Marino aperta os olhos. “Talley é do ATF”, diz ele. “Talvez devêssemos pegar o DNA dele, daquele filho-da-puta. Ruim demais.” Ele me olha daquele jeito outra vez. Acho que Marino jamais vai me perdoar por eu ter dormido com Jay Talley. “Você provavelmente tinha a porra do DNA dele, sem trocadilho. Em Paris. Será que você não tem alguma mancha que esqueceu de lavar?” “Cale a boca, Marino”, digo delicadamente. “Estou ficando com síndrome de abstinência.” Ele se levanta e vai até o armário de bebidas. Agora é hora de bourbon. Ele despeja Booker’s num copo e volta para a mesa. “Não seria muito interessante se ficasse claro que Talley está envolvido em tudo, de cabo a rabo? Talvez fosse por isso que ele quisesse que você fosse à Interpol. Ele queria sondar para ver se você sabia o que Benton sabia? Porque sabe de uma coisa? Talvez, quando Benton estava investigando o assassinato de Susan, ele tenha começado a perceber alguma merda que o estava levando para perto demais de uma verdade que Talley não pode se dar ao luxo de permitir que ninguém saiba.”
“Do que você está falando?” Lucy está na cozinha. Não a ouvi entrar. “Acho que é um trabalho para você.” Marino olha para ela com seus olhos inchados enquanto entorna o bourbon. “Por que você e Teun não investigam Talley e descobrem se ele está metido em alguma sujeira? Porque acredito de todo o coração que eles estão metidos em tudo quanto é sujeira. E a propósito”, agora para mim, “no caso de você não saber, ele é um dos caras que levaram Chandonne para Nova York . Isso não é interessante? Ele acompanha a entrevista de Berger. Passa seis horas no carro com o cara. Ora, eles provavelmente estão tomando uma cerveja agora — ou talvez já tenham tomado.” Lucy olha para fora pela janela da cozinha, com as mãos nos bolsos do jeans, obviamente desconcertada por Marino e constrangida por ele. Ele está suando e é desrespeitoso, e num momento está cheio de ódio e despeito, e no minuto seguinte está tristonho. “Sabe o que eu não consigo agüentar?”, Marino insiste. “Não consigo agüentar maus policiais que se livram de tudo porque todo mundo é covarde demais para ir em cima deles. E ninguém que tocar em Talley, nem tentar, porque ele fala todas essas línguas e foi para Harvard e é um cara maravilhoso e poderoso...” “Você realmente não sabe do que está falando”, diz Lucy a Marino, e agora McGovern está na cozinha. “Você está errado. Jay não é inatingível e você não é a única pessoa neste planeta que tem dúvidas sobre ele.” “Sérias dúvidas”, ecoa McGovern. Marino se levanta e se encosta na bancada. “Posso lhe contar o que sabemos até agora”, Lucy me diz. Ela está relutante e cheia de dedos porque ninguém, realmente, tem muita certeza do que sinto por Jay. “Não me agrada muito fazer isso, porque não há nada definitivo. Mas até agora não está cheirando nada bem.” Ela olha para mim como se esperasse uma deixa. “Bom”, digo a ela. “Vamos ouvir.” “É. Sou todo ouvidos”, responde Marino. “Pesquisei o nome dele em um monte de bases de dados. Nenhum registro em tribunais criminais ou civis, nenhuma penhora nem julgamento etcetera. Não que eu esperasse que ele fosse um criminoso sexual, um pai caloteiro ou ausente, ou um procurado ou coisa do tipo, e não há nenhuma evidência de que o FBI, a CIA ou mesmo o ATF tenha um arquivo sobre ele em seus sistemas de dados. Mas uma simples pesquisa em registros de propriedade levantou um alerta. Antes de mais nada, ele tem um apartamento num condomínio em Nova York onde certamente hospedou alguns amigos — inclusive gente de alto escalão dos órgãos policiais”, ela diz a Marino e a mim. “Um lugar de mais de três milhões de dólares cheio de antigüidades, no Central Park . Jay andou se gabando de que a casa é dele. Bom, não é. Está registrada no nome de uma empresa.” “Não é incomum pessoas ricas terem propriedades registradas em nomes de empresas, por motivos de privacidade e também para proteger ativos de litígio”, observo. “Eu sei. Mas essa empresa não é dele”, retruca Lucy. “A menos que ele seja dono de uma empresa de transporte aéreo.”
“Meio esquisito, certo?”, acrescenta McGovern. “Considerando a quantidade de empresas de transporte em que a família Chandonne está envolvida. Então, talvez haja uma ligação. Mas é meio cedo para dizer.” “Para mim não é nenhuma surpresa”, murmura Marino, mas seus olhos se acendem. “É, eu me lembro muito bem de ele bancar o ricaço de Harvard, certo, doutora? Você se lembra, eu fiquei imaginando por que ele estava de repente num Learjet, e depois nós estamos no Concorde indo para a França. Eu sabia que a Interpol não pagava nada daquela merda.” “Ele nunca devia ter se gabado daquela casa”, observa Lucy. “Obviamente ele tem o mesmo calcanhar-de-aquiles que outros babacas têm: ego.” Ela olha para mim. “Ele queria impressioná-la, então põe você num vôo supersônico — diz que ganhou as passagens porque elas eram para a polícia. E com certeza sabemos que as companhias aéreas às vezes fazem esse tipo de coisa. Mas também estamos verificando isso, para ver quem fez as reservas e qual foi a história.” “Minha grande pergunta”, McGovern continua, “é obviamente se aquela casa pode ser da família Chandonne. E dá para imaginar quantas camadas vai ser preciso remover para chegar até eles.” “Diabo, eles provavelmente são donos da porra do prédio inteiro”, diz Marino. “E de mais metade de Manhattan.” “E quanto a funcionários de empresas?”, pergunto. “Algum nome interessante?” “Conseguimos nomes, mas até agora eles não significam nada de importante”, responde Lucy. “Esses casos envolvendo papéis levam muito tempo. Nós os examinamos e depois tudo e todos que estão ligados a eles, e a coisa continua infindavelmente.” “E onde se encaixam Mitch Barbosa e Rosso Matos?”, pergunto. “Ou não se encaixam? Porque alguém retirou uma chave da minha casa e pôs no bolso de Barbosa. Você acha que foi Jay?” Marino bufa e toma um gole de bourbon. “Tem meu voto”, ele retruca. “Isso e o roubo de sua picareta de entalhar. Não posso pensar em nenhuma pessoa que fizesse isso. Conheço cada um dos caras que foram lá, na sua casa. A menos que Righter tivesse feito isso, e ele é covarde demais, e eu realmente não acho que ele seja desonesto.” Não é que a sombra de Jay não tenha passado por nossos pensamentos várias vezes antes. Sabemos que ele estava na minha casa. Sabemos que ele está com raiva de mim. Todos nós temos questionamentos consideráveis sobre o caráter dele, mas se ele plantou a chave ou a roubou da minha casa e a passou para outra pessoa, então isso o implica diretamente no homicídio com tortura de Barbosa, e muito provavelmente também no de Matos. “Onde está Jay agora? Alguém sabe?” Olho para o rosto de cada um deles. “Bom, ele estava em Nova York. Isso foi na quarta-feira. Depois nós o vimos ontem à tarde no condado de James City. Não tenho nenhuma idéia de onde ele possa estar neste exato minuto”, responde Marino. “Há algumas outras coisas que você talvez queira saber.” Lucy se dirige a mim. “Uma em particular é realmente esquisita, mas eu ainda não consigo saber
do que se trata. Na pesquisa de crédito, encontrei dois Jay Talley com endereços diferentes e números da previdência social diferentes. Um Jay Talley obteve seu número da previdência em Phoenix entre 1960 e 1961. Não poderia ser Jay, a menos que ele tenha mais de quarenta anos, e ele tem o quê? Não é muito mais velho do que eu. Trinta e poucos, no máximo? Um segundo Jay Talley que encontrei obteve seu número da previdência social entre 1936 e 1937. Nenhuma data de nascimento, mas ele teria de ser um dos primeiros que obtiveram o número, logo depois da lei de previdência social de 1935, então sabe Deus que idade esse Jay Talley já tinha quando obteve o número. Ele tinha de estar pelo menos com setenta anos, e com certeza ele anda muito e usa caixas postais em vez de endereços físicos. Ele também comprou muitos carros, às vezes trocando de carro duas vezes por ano.” “Talley alguma vez lhe disse onde nasceu?”, Marino me pergunta. “Ele disse que passou a maior parte da infância em Paris e que depois sua família se mudou para Los Angeles”, respondo. “Você estava na lanchonete quando ele disse isso. Na Interpol.” “Nenhum registro de nenhum dos dois ter vivido em Los Angeles algum dia”, diz Lucy. “E por falar em Interpol”, diz Marino, “eles não o checaram antes de deixá-lo trabalhar lá?” “É óbvio que devem ter checado, mas não extensamente”, responde Lucy. “Ele é um agente do ATF. Supõe-se que esteja limpo.” “E quanto a um nome do meio?”, pergunta Marino. “Sabemos o dele?” “Ele não tem. Nada nos registros pessoais dele no ATF.” McGovern dá um sorriso torto. “E nem o Jay Talley que obteve o número de previdência antes do dilúvio. Só isso já é incomum. A maioria das pessoas tem nomes do meio. No arquivo dele na central consta que ele nasceu em Paris e viveu lá até os seis anos. Mas depois disso supostamente se mudou para Nova York com seu pai francês e sua mãe americana, e não há nenhuma menção a Los Angeles. No formulário que preencheu para o ATF, afirma ter estudado em Harvard, mas quando procuramos a confirmação disso descobrimos que não existe registro de nenhum Jay Talley que tenha freqüentado Harvard.” “Puta que pariu”, exclama Marino. “As pessoas não verificam nada quando olham esses formulários? Apenas acreditam quando alguém diz que foi para Harvard ou foi bolsista Rhodes ou disputou a prova de salto com vara nas Olimpíadas? E contratam a pessoa e dão a ela um distintivo e uma arma?” “Bem, não vou dar à corregedoria o alerta de que talvez devessem checálo um pouco mais detalhadamente”, diz McGovern. “Temos de tomar cuidado para que ninguém dê uma informação secreta a ele primeiro, e é difícil dizer quem são os amigos dele na central.” Marino ergue os braços e se espreguiça. Estala o pescoço. “Estou de novo com fome”, ele diz.
32
O quarto de hóspedes da casa de Anna tem vista para o rio, e nos últimos dias improvisei uma escrivaninha na frente da janela. Isso exigiu uma mesinha, que cobri com uma toalha para não arranhar o acabamento acetinado, e da biblioteca roubei uma cadeira giratória inglesa de couro verde-maçã. A princípio, fiquei desanimada por ter esquecido de pegar meu laptop, mas descobri um consolo inesperado ao escrever com caneta-tinteiro e deixar os pensamentos fluírem através de meus dedos e cintilarem em tinta preta. Minha grafia é horrorosa, e a idéia de que ela tem alguma coisa a ver com o fato de eu ser médica provavelmente é verdadeira. Há dias em que tenho de assinar o nome ou as iniciais quinhentas vezes, e suponho que garatujar descrições grosseiras e medidas com a mão calçada em luvas ensangüentadas também cobrou seu preço. Desenvolvi um ritual na casa de Anna. Todas as manhãs, vou para a cozinha e me sirvo uma xícara do café que foi programado para ser filtrado exatamente às cinco e meia. Volto para o quarto, fecho a porta e sento junto à janela, escrevendo diante de um quadrado de vidro de completa escuridão. Em minha primeira manhã aqui, fiquei esboçando aulas que estou programada para dar na escola de investigação de morte, vizinha ao instituto. Mas as fatalidades do transporte, a asfixia e a radiologia forense saíram completamente de minha cabeça quando a vida no rio foi tocada pela primeira luz do dia. Nesta manhã assisti fielmente ao espetáculo outra vez. Às seis e meia, a escuridão se transformou em um cinza da cor de carvão, e em poucos minutos pude visualizar as silhuetas de plátanos e carvalhos desfolhados, e depois as planícies escuras se transformaram em água e terra. Na maioria das manhãs o rio é mais quente que o ar, e um nevoeiro se desloca sobre a superfície do James. Neste exato momento ele parece o rio Estige, e quase espero que surja um homem lúgubre e fantasmagórico, vestido em trapos e empurrando com uma vara seu bote através de véus de neblina. Não espero ver animais até perto das oito horas, e eles se tornaram um enorme conforto para mim. Apaixonei-me pelos gansos selvagens que se reúnem junto ao cais de Anna em um coro de grasnados. Esquilos fazem suas tarefas subindo e descendo das árvores, as caudas enroladas como penachos de fumaça. Pássaros pairam diante de minha janela e me olham nos olhos como se quisessem saber o que estou espionando. Veados correm em bosques de inverno na margem oposta do rio e falcões de rabo vermelho fazem investidas em busca de presas. Em momentos raros e privilegiados sou agraciada com águias carecas. Suas enormes asas, seus capacetes e culotes brancos as tornam inconfundíveis, e sou confortada porque as águias voam alto e sozinhas, e vejo que elas não têm a mesma agenda que outros pássaros. Observo-as circulando ou se empoleirando brevemente em árvores, nunca permanecendo em um lugar por muito tempo e partindo de repente, e fico a imaginar, como Emerson, se acabo de receber um
sinal. Descobri que a natureza é gentil. O resto do que vivo atualmente não é. É segunda-feira, 17 de janeiro, e continuo exilada na casa de Anna. Ou pelo menos é assim que me vejo. O tempo passou devagar, de forma quase estagnada, como a água além de minha janela. As correntes de minha vida estão se movendo em certa direção, quase imperceptível, e não há nenhuma possibilidade de mudança da rota de seu progresso inevitável. Os feriados passaram e meu gesso foi substituído por ataduras Ace e uma tala. Estou dirigindo um carro alugado porque meu Mercedes está retido para outras investigações, na Hull Street and Commerce Road, no depósito de carros apreendidos, que não tem vigilância policial vinte e quatro horas por dia nem cão de guarda. Na véspera do ano-novo, alguém quebrou uma janela do meu carro e roubou o radiotransmissor, o rádio AM-FM, o CD player e sabe Deus o que mais. Já basta para a cadeia de evidências, eu disse a Marino. Há novos desdobramentos no caso Chandonne. Como eu suspeitava, quando o fluido seminal do caso de Susan Pless foi originalmente testado em 1997, só foram usadas quatro amostras. O escritório do legista de Nova York ainda usa quatro amostras para a primeira varredura, porque elas são feitas internamente e portanto é mais econômico recorrer primeiro a elas. O material congelado foi retestado usando quinze loci, e o resultado obtido foi uma nãocoincidência. Jean-Baptiste Chandonne não foi o doador do fluido seminal, nem seu irmão, Thomas. Mas há tantos alelos em comum, os perfis de DNA são tão incrivelmente próximos, que só podemos supor que há um terceiro irmão, e foi esse irmão que fez sexo com Susan. Ficamos desnorteados. Berger está enlouquecida. “O DNA contou a verdade e nos ferrou”, ela me disse ao telefone. A dentição de Chandonne coincide com as marcas de mordida, e sua saliva e seu cabelo estavam no corpo ensangüentado, mas ele não fez sexo vaginal com Susan Pless pouco antes de ela morrer. Talvez isso não seja suficiente para um júri nesta época de DNA. Um grande júri de Nova York terá de decidir se é suficiente para um indiciamento, e achei incrivelmente irônico quando Berger disse isso. Parece que não é preciso muita coisa para me acusar de assassinato, nada mais do que boatos e a suposta intenção, e o fato de que realizei experimentos com uma picareta de entalhar e molho de churrasco. Durante semanas, esperei pela intimação. Ela chegou ontem, e o auxiliar do xerife estava em seu bom humor costumeiro quando apareceu em meu escritório, sem perceber, suponho, que o caso desta vez me envolve como acusada e não como testemunha especializada. Fui convocada a aparecer na sala 302 do John Marshall Courts Building para testemunhar diante do grande júri especial. A audiência está marcada para as duas da tarde de terça-feira, 1o de fevereiro. Alguns minutos depois das sete, estou dentro do closet, olhando tailleurs e blusas enquanto repasso tudo que preciso fazer hoje. Já sei por Jack Fielding que temos seis casos e que dois dos médicos estão no tribunal. Também tenho às dez horas uma conversa telefônica com o governador Mitchell. Escolho um terninho preto com listras azuis e uma blusa azul com punhos para abotoaduras. Vou até a cozinha pegar outra xícara de café e uma tigela da granola com alto teor de
proteína que Lucy trouxe. Sou obrigada a sorrir quando praticamente quebro os dentes ao morder o saudável e crocante presente de Lucy. Minha sobrinha está determinada a me fazer emergir de minha vida morna como uma perfeita fênix. Lavo a louça e termino de me vestir, e quando me dirijo à porta o pager toca. O número de Marino aparece no visor, seguido pelo número de emergência da polícia. Na entrada para carros da casa de Anna está a última mudança de minha vida — o carro alugado. É um Ford Explorer azul-escuro que cheira a cigarros antigos e sempre vai cheirar assim, a menos que eu faça o que Marino sugeriu e coloque um desodorizador no painel. Conecto meu telefone celular no acendedor e ligo para ele. “Onde você está?”, ele logo pergunta. “Saindo da entrada para carros.” Ligo o aquecedor e os portões de Anna se abrem para me dar passagem. Não parei nem para pegar o jornal, que Marino em seguida me diz que preciso ver, porque é claro que eu ainda não o li, senão teria ligado para ele imediatamente. “Tarde demais”, digo a ele. “Já estou na Cherokee.” Enrijeço-me como um garotinho flexionando os músculos do estômago quando ousa deixar alguém socá-lo na barriga. “Então me conte. O que há no jornal?” Suponho que a investigação do grande júri especial tenha vazado para a imprensa, e estou certa. Dirijo pela Cherokee enquanto o clima de inverno recente continua a se dissolver em gotas e poças, e a neve derretida escorrega pegajosa dos telhados. “Legista-chefe Suspeita de Assassinato Horripilante ”, Marino lê a principal manchete da primeira página. “Também tem um retrato seu”, ele acrescenta. “Parece a foto que aquela vaca tirou na frente da sua casa. A moça que caiu no gelo, lembra? Mostra você entrando em minha caminhonete. Aliás, minha caminhonete está muito bem. Você, nem tanto...” “Me conte apenas o que diz”, interrompo. Ele lê os destaques enquanto percorro as curvas fechadas da Cherokee Road. Um grande júri especial de Richmond está me investigando no assassinato da chefe de polícia interina Diane Bray, diz o jornal. A revelação é descrita como espantosa e bizarra e deixou a polícia local chocada. Embora o promotor estadual Buford Righter tenha se recusado a comentar, fontes anônimas dizem que Righter ordenou a investigação com grande tristeza depois que se apresentaram testemunhas com declarações e a polícia obteve evidências que eram impossíveis de ignorar. Outras fontes não identificadas afirmam que eu estava num choque acalorado com Bray, que acreditava que eu era incompetente e não mais estava apta a ser legista-chefe da Virgínia. Bray estava tentando me tirar do cargo e, antes de ser assassinada, disse a pessoas que em várias ocasiões eu a havia enfrentado, intimidado e ameaçado. Fontes dizem que há indicadores apontando para a possibilidade de eu ter encenado o assassinato de Bray para que ele se parecesse com o brutal assassinato de Kim Luong etc. etc. etc. Agora estou na Huguenot Road bem na hora do rush. Digo a Marino para parar. Já ouvi o suficiente.
“Continua indefinidamente”, diz ele. “Estou certa que sim.” “Eles devem ter trabalhado nisso durante os feriados, porque tem todo tipo de merda sobre você e seu histórico.” Ouço páginas virando. “A mesma coisa sobre Benton e a morte dele, e Lucy. Há uma grande barra lateral com todas as suas informações principais, onde você estudou. Cornell, Georgetown, Hopkins. As fotos de dentro são boas. Tem até uma de nós dois em uma cena de crime. Merda, é a cena de crime de Bray.” “E sobre Lucy?”, pergunto. Mas Marino está enfeitiçado pela publicidade, pelo que devem ser fotos enormes que mostram ele e eu juntos. “Nunca vi nada desse tipo.” Mais páginas virando. “Simplesmente não acaba, doutora. Até agora contei cinco matérias. Eles devem ter posto toda a porra da equipe de jornalistas trabalhando nisso sem que sequer desconfiássemos. Há inclusive uma foto aérea da sua casa...” “E sobre Lucy?”, pergunto com mais ênfase. “O que diz sobre Lucy?” “Bom, é surpreendente, há até uma foto sua e de Bray no estacionamento na cena de Luong, na loja de conveniência. Vocês duas parecem se odiar visceralmente...” “Marino!”, levanto a voz. É a única coisa que posso fazer para me concentrar na direção. “Chega, está bem!” Uma pausa, depois: “Desculpe, doutora. Porra, sei que é horrível, mas não tive chance de olhar muita coisa além da primeira página antes de falar com você. Eu não tinha idéia. Desculpe. Mas é que nunca vi nada desse tipo, a não ser quando alguém realmente famoso morre de repente”. As lágrimas me ardem nos olhos. Não comento a ironia do que ele acaba de dizer. Sinto-me como se tivesse morrido. “Deixe eu olhar essa coisa sobre Lucy”, Marino está dizendo. “É bem o que seria de se esperar. Ela é sua sobrinha, mas você sempre foi mais como a mãe dela, é formada com toda essa merda de distinção na Universidade da Virgínia, o acidente de carro sob efeito de álcool, o fato de que ela é gay, pilota helicóptero, FBI, ATF, e vai, vai, vai. E que ela quase atirou em Chandonne no jardim da sua casa. Imagino que essa é a porra da questão.” Marino volta a seu estado de irritação. Tanto quanto ele provoca Lucy, não gosta nada que outra pessoa faça isso. “Não diz que ela está em licença administrativa nem que você está escondida na casa de Anna. Pelo menos alguma coisa aqueles babacas não descobriram.” Avanço para mais perto da West Cary Street. “Onde você está?”, pergunto. “Na central. Já estou indo encontrá-la”, ele responde. “Porque você vai ter uma senhora recepção.” Ele se refere à imprensa. “Pensei que talvez você gostasse de ter companhia. Além disso, tenho algumas coisas para olhar com você. Também pensei que poderíamos tentar um pequeno truque, doutora. Vou chegar em seu escritório primeiro e esconder meu carro. Você pára em frente, na Jackson Street, em vez de ir para o estacionamento da rua 4, desce e entra, e eu estaciono seu carro. Informação dos policiais — há cerca de trinta repórteres, fotógrafos, pessoal de TV acampados no seu estacionamento, esperando que você apareça.”
Começo a concordar com ele e depois volto atrás. Não, digo. Não vou começar a brincadeira de me esconder, me esquivar e levantar pastas ou meu casaco para esconder o rosto das câmaras como se eu fosse uma chefona do crime. Absolutamente não. Digo a Marino que o encontrarei em meu escritório, mas vou estacionar como sempre e lidar com a mídia. Por um lado, minha teimosia começou a agir. Por outro, não vejo o que tenho a perder chegando ao meu trabalho como sempre e simplesmente dizendo a verdade, e a maldita verdade é que não matei Diane Bray. Nunca sequer pensei nisso, embora certamente tivesse mais aversão por ela do que por qualquer outra pessoa que conheci em minha vida. Na rua 9, paro em um farol vermelho e visto meu casaco. Observo-me no retrovisor interno para ter certeza de que estou razoavelmente composta. Retoco o batom e passo os dedos no cabelo. Ligo o rádio, abraçando-me à espera das primeiras notícias. Antecipo que as estações locais vão interromper muitas vezes a programação para lembrar a todos que sou o primeiro escândalo do novo milênio. “... Então, devo dizer isso, Jim. Quer dizer, estamos falando de alguém que poderia praticar o assassinato perfeito...” “Não brinque. Sabe, uma vez eu a entrevistei...” Mudo para outra estação, depois outra, enquanto sou ridicularizada e degradada ou simplesmente exposta, porque alguém vazou para a mídia o que se supõe seja o procedimento legal mais secreto e sagrado. Imagino quem violou esse código de silêncio, e, o que é ainda mais triste, vários nomes me vêm à mente. Não confio em Righter. Não confio em ninguém que ele tenha contatado para obter informações telefônicas ou bancárias. Mas tenho outro suspeito em mente — Jay Talley — e estou apostando que ele também foi intimado. Componho-me quando entro no estacionamento e vejo as vans das TVS e das rádios enfileiradas na rua 4 e dezenas de pessoas esperando por mim com câmeras, microfones e blocos de anotação.
Nenhum dos repórteres nota meu Explorer azul-escuro porque eles não estão esperando, e é nesse momento que percebo que cometi um sério erro tático. Faz dias que estou dirigindo um carro alugado, e não me ocorreu até agora que poderiam me perguntar por quê. Entro na vaga reservada para mim ao lado da porta da frente e sou avistada. Eles caminham na minha direção como caçadores atrás de presa grande, e me esforço para assumir meu papel. Sou a chefe. Sou reservada, equilibrada e não tenho medo. Não fiz nada de errado. Desço do carro e pego com calma minha maleta e uma pilha de pastas no banco de trás. Meu cotovelo dói embaixo de camadas de tecidos elastificados, e câmaras disparam, e microfones apontam para mim como armas sendo engatilhadas e encontrando seu alvo. “Doutora Scarpetta? A senhora pode fazer um comentário sobre...?” “Doutora Scarpetta...?” “Quando a senhora descobriu que um grande júri especial a está investigando?”
“É verdade que a senhora e Diane Bray estavam tendo desavenças...?” “Onde está seu carro?” “A senhora pode confirmar que foi basicamente expulsa de sua casa e agora não tem nem sequer seu carro?” “A senhora vai se demitir?” Viro-me de frente para eles na passagem lateral. Fico em silêncio mas firme enquanto espero que eles se aquietem. Quando percebem que pretendo responder a suas perguntas, vejo olhares surpresos, e o tom agressivo deles logo se desfaz. Reconheço muitos rostos, mas não consigo me lembrar dos nomes. Estou segura de que sempre soube os nomes dos verdadeiros soldados da mídia, que reúnem as informações nos bastidores. Lembro-me de que estão apenas fazendo seu trabalho e que não há nenhuma razão para que eu encare nada disso em termos pessoais. Tudo bem, nada pessoal. Rude, desumano, impróprio, insensível e basicamente impreciso, mas não pessoal. “Não preparei nenhuma declaração”, começo a dizer. “Onde a senhora estava na noite em que Diane Bray foi assassinada?” “Por favor”, interrompo-os. “Como vocês, eu soube recentemente que há um grande júri especial investigando o assassinato dela, e peço-lhes que respeitem a confidencialidade de um procedimento como esse, que é muito necessária. Por favor, entendam que não tenho liberdade para discutir isso com vocês.” “Mas a senhora...?” “Não é verdade que a senhora não está dirigindo seu carro porque ele está com a polícia?” Perguntas e acusações rompem o ar da manhã como uma granada enquanto caminho para meu prédio. Não tenho mais nada a dizer. Sou a chefe. Estou equilibrada e calma e não tenho medo. Não fiz nada de errado. Há um repórter de quem me lembro, pois como poderia esquecer um afro-americano alto, com cabelo branco e feições marcantes cujo nome é Washington George? Ele usa um casaco impermeável comprido e me segue enquanto tento abrir a porta de vidro que leva ao interior do prédio. “Posso lhe perguntar só uma coisa?”, diz ele. “A senhora se lembra de mim? Minha pergunta não é essa.” Um sorriso. “Eu sou Washington George. Trabalho para a Associated Press.” “Eu me lembro de você.” “Por favor, deixe-me ajudá-la nisso.” Ele segura a porta e nós entramos no saguão, onde a guarda de segurança olha para mim, e agora já conheço esse olhar. Minha notoriedade se reflete nos olhos das pessoas. Meu coração se acelera. “Bom dia, Jeff”, digo quando passo pela mesa dele. Um aceno de cabeça. Passo meu cartão de identificação de plástico sobre o olho eletrônico e a porta que leva à minha ala do prédio se abre. Washington George ainda está comigo, está dizendo alguma coisa sobre uma informação que ele acha que preciso saber, mas não estou ouvindo. Uma mulher está sentada em minha área de recepção. Está encolhida em uma cadeira e parece triste e pequena em meio a granito polido e tijolos de vidro. Este não é um bom lugar para se estar. Sempre
tenho pena de qualquer pessoa que se encontra em minha área de recepção. “Já foi atendida?”, pergunto a ela. Ela está vestida com saia preta e sapatos de enfermeira, com uma capa de chuva escura bem apertada em volta do corpo. Segura a carteira como se alguém pudesse roubá-la. “Estou só esperando”, diz ela com a voz abafada. “A senhora está aqui para ver quem?” “Bem, não sei ao certo”, ela balbucia, seus olhos nadando em lágrimas. Ela prende os soluços e o nariz começa a escorrer. “É sobre meu garoto. A senhora acha que eu poderia vê-lo? Não entendo o que vocês estão fazendo com ele aqui.” Seu queixo treme e ela enxuga o nariz com as costas da mão. “Preciso apenas vê-lo.” Fielding me deixou uma mensagem sobre os casos de hoje, e sei que um deles é um adolescente que supostamente se enforcou. Qual era o nome? White?, pergunto a ela, e ela assente com a cabeça. Benny, ela me dá o primeiro nome dele. Presumo que ela seja a sra. White, e ela assente outra vez e explica que ela e o filho mudaram o último nome para White depois que ela se casou outra vez, há alguns anos. Digo a ela para vir comigo — e agora ela está chorando muito —, e nós descobriremos o que está acontecendo com Benny. Seja lá o que Washington George tem a me contar, vai ter de esperar. “Acho que a senhora não vai querer que isso espere”, ele responde. “Tudo bem, tudo bem. Venha comigo e eu falo com você assim que puder.” Estou dizendo isso enquanto entramos em meu escritório com outra passagem de meu cartão de identificação. Cleta está digitando informações sobre casos em nosso computador, e cora instantaneamente quando me vê. “Bom dia”, ela tenta assumir seu ar alegre costumeiro. Mas seu olho tem aquele olhar, o olhar que passei a odiar e temer. Posso imaginar o que minha equipe tem conversado nesta manhã, e não me escapa que o jornal está dobrado no alto da escrivaninha de Cleta e que ela tentou cobri-lo com seu suéter. Cleta ganhou peso nos feriados e tem círculos escuros debaixo dos olhos. Estou tornando todo mundo infeliz. “Quem está cuidando de Benny White?”, pergunto a ela. “Acho que o doutor Fielding.” Ela olha para a sra. White e se levanta de sua estação de trabalho. “Posso guardar sua capa? Quer um café?” Digo a Cleta para levar a sra. White para minha sala de reuniões e que Washington George pode esperar na biblioteca médica. Encontro minha secretária, Rose. Fico tão aliviada de vê-la que esqueço meus problemas, e ela, ao me olhar, também não os reflete para mim daquele jeito dissimulado, curioso, constrangido. Rose é simplesmente Rose. No máximo, o desastre a torna mais formal do que de costume. Ela me olha nos olhos e trocamos um aperto de mãos. “Estou tão enojada que poderia vomitar sangue”, ela diz quando apareço na porta de sua sala. “A estupidez mais ridícula que já ouvi em toda a minha vida.” Ela pega seu exemplar do jornal e o sacode para mim como se eu fosse um cachorro desobediente. “Não deixe isso incomodá-la, doutora Scarpetta.” Como se fosse simples assim. “Mais merda de galinha do que o Kentucky Fried, aquele maldito Buford Righter. Ele não consegue aparecer e dizer isso na sua cara, não é? Então você tem de descobrir desse jeito?” Ela sacode o jornal de novo.
“Rose, Jack está no necrotério?”, pergunto. “Ah, meu Deus, trabalhando naquele pobre garoto.” Rose pára de falar sobre mim e sua indignação se transforma em pena. “Senhor, Senhor. Você o viu?” “Acabo de chegar...” “Parece um menininho do coro. Lindo, de olhos azuis. Senhor, Senhor. Se ele fosse meu filho...” Interrompo Rose pondo um dedo nos lábios quando ouço Cleta vindo pelo corredor com a pobre mãe do garoto. Balbucio a mãe dele para Rose e ela pára de falar. Seus olhos se demoram nos meus. Ela está inquieta e muito tensa hoje, e se vestiu toda de preto, com o cabelo puxado para trás e preso, fazendo-me lembrar de American Gothic, de Grant Wood. “Estou bem”, digo calmamente a ela. “Bem, não acredito nisso.” Seus olhos ficam marejados e ela se ocupa nervosamente com papéis. Jean-Baptiste Chandonne dizimou toda a minha equipe. Todos que me conhecem e dependem de mim estão desalentados, desnorteados. Eles não confiam mais em mim completamente e no íntimo se angustiam, preocupados com o que vai acontecer com suas vidas e seus empregos. Sou lembrada do meu pior momento na escola, quando tinha doze anos — precoce, como Lucy. A mais jovem da minha classe. Meu pai morreu naquele ano letivo no dia 23 de dezembro, e a única coisa boa que consigo encontrar no fato de ele ter esperado até dois dias antes do Natal é que pelo menos os vizinhos estavam relaxando do trabalho, a maioria em casa, cozinhando e assando bolos. Na boa tradição italiana católica, a vida de meu pai foi celebrada com abundância. Durante vários dias, nossa casa ficou cheia de risadas, lágrimas, comida, bebida e canções. Quando voltei à escola depois do ano-novo, tornei-me ainda mais incansável em minhas conquistas e explorações cerebrais. Obter notas perfeitas nos exames não era mais suficiente. Eu estava desesperada por atenção, desesperada para agradar, e implorava às freiras por projetos especiais, qualquer projeto, não importava o quê. Finalmente, eu ficava andando pela escola a tarde inteira, batendo apagadores nos degraus da escada, ajudando as professoras a dar notas, organizando os boletins. Fiquei muito boa no uso de tesouras e grampeadores. Quando havia necessidade de cortar letras do alfabeto ou números e montá-los exatamente em palavras, frases, calendários, as freiras me procuravam. Martha era uma menina da minha classe de matemática que se sentava na minha frente e nunca falava. Ela se virava muito para olhar para mim, fria mais curiosa, sempre tentando captar as notas circuladas em vermelho no alto da minha lição de casa e das minhas provas, com a esperança de ter tirado notas mais altas do que eu. Um dia, depois de uma prova de álgebra especialmente difícil, notei que irmã Teresa caminhava em minha direção decididamente irritada. Ela esperou até que eu estivesse limpando outra vez os apagadores, agachada nos degraus de estuque, batendo, criando nuvens de poeira de giz no sol tropical de inverno, e eu olhei para cima. Lá estava ela em seu hábito, enorme
como um gigante, um pássaro antártico de cara feia usando um crucifixo. Alguém tinha me acusado de colar na prova de álgebra e, embora irmã Teresa não identificasse a fonte dessa mentira, eu não tinha dúvida da culpada: Martha. A única maneira de eu provar minha inocência era fazer outra vez a prova e tirar outra nota perfeita. Irmã Teresa passou a me observar de perto depois disso. Eu nunca ousava levantar os olhos do que estivesse fazendo em minha carteira. Alguns dias se passaram. Eu estava esvaziando cestos de lixo, só nós duas na classe, e ela me disse que eu devia rezar constantemente para que Deus me mantivesse livre do pecado. Eu devia agradecer a nosso Pai Celestial pelos grandes dons que tenho e pedir que Ele me mantivesse honesta, porque eu era tão inteligente que poderia dar um jeito de escapar de muitas coisas. Deus sabe tudo, disse irmã Tereza. Eu não posso enganar Deus. Protestei dizendo que era honesta e que não tentava enganar Deus, e que ela mesmo podia perguntar a Deus. Comecei a chorar. “Eu não colo”, soluçei. “Quero meu pai.” Quando eu estava na Johns Hopkins, no primeiro ano da faculdade de medicina, escrevi a irmã Teresa uma carta e contei aquele incidente deturpado e injusto. Reiterei minha inocência, ainda incomodada, ainda furiosa por ter sido falsamente acusada e por as freiras não terem me defendido e nunca mais estarem seguras a meu respeito depois daquilo. Enquanto estou na sala de Rose agora, mais de vinte anos depois, penso sobre o que Jaime Berger disse na primeira vez em que nos encontramos. Ela jurou que a dor tinha apenas começado. Claro que ela estava certa. “Antes de todos saírem hoje”, digo a minha secretária, “eu gostaria de conversar com eles. Por favor, informe a todos sobre isso, Rose. Vamos ver como o dia caminha e encontrar um tempo. Vou verificar o que houve com Benny White. Por favor, certifique-se de que a mãe dele esteja bem, eu logo voltarei para falar com ela.” Sigo pelo corredor, passando pela sala de espera, e encontro Washington George na biblioteca médica. “Só tenho um minuto”, digo a ele com ar distraído. Ele está olhando livros numa prateleira, sua agenda a seu lado como uma pistola que ele poderia usar. “Ouvi um boato”, diz ele. “Se você souber que é verdade, talvez consiga verificar. Se não souber, bom, talvez deva saber. Buford Righter não vai ser o promotor em sua audiência no grande júri especial.” “Não sei nada sobre isso”, respondo, disfarçando a indignação que sempre sinto quando a imprensa conhece detalhes antes de mim. “Mas nós trabalhamos em muitos caso juntos”, acrescento. “Eu não esperaria que ele quisesse lidar com isso.” “Suponho que sim, e o que entendo é que um promotor especial foi indicado. É nisso que quero chegar. Você sabe disso?” Ele tenta ler meu rosto. “Não.” Também estou tentando ler o rosto dele, esperando captar um prenúncio que possa evitar que eu sofra um ataque violento. “Ninguém sugeriu à senhora que Jaime Berger foi indicada para obter seu indiciamento, doutora Scarpetta?” Ele me olha nos olhos. “Pelo que entendo, essa é uma das razões pelas quais ela veio para cá. A senhora examinou os casos de Luong e Bray com ela e tudo mais, mas eu ouvi de uma fonte muito boa que isso é uma armação. Suponho que a senhora diria que ela tem atuado secretamente.
Righter montou isso antes de Chandonne supostamente ter aparecido em sua casa. Entendo que Berger está atuando há semanas.” A única coisa que consigo dizer é “Supostamente?”. Estou chocada. “Bem”, diz Washington George, “suponho por sua reação que a senhora não foi informada de nada disso.” “Imagino que você não pode me dizer quem é sua fonte confiável”, respondo. “Não.” Ele ri um pouco, um tanto constrangido. “Então a senhora não pode confirmar?” “É claro que não posso”, digo enquanto me recomponho. “Olhe, vou continuar cavando, mas quero que saiba que gosto da senhora e que a senhora sempre foi bastante legal comigo.” Ele continua. Mal ouço o que ele diz. Só consigo pensar em Berger passando horas comigo no escuro, no carro dela, na minha casa, na casa de Bray, e o tempo todo ela estava fazendo anotações mentais para usar contra mim na audiência do grande júri especial. Meu Deus, não é de surpreender que ela saiba tantas coisas sobre minha vida. Provavelmente examinou minhas ligações telefônicas, informações bancárias, extratos de cartão de crédito, e entrevistou todos que me conhecem. “Washington”, digo, “estou com a mãe de uma pobre pessoa que acabou de morrer e não posso mais ficar aqui falando com você.” Saio andando. Não me importa que ele pense que sou grosseira. Passo pelo banheiro de mulheres, e no vestiário ponho um avental de laboratório e protetores de papel nos sapatos. A sala de autópsia está cheia de sons, todas as mesas ocupadas com os infelizes. Jack Fielding está manchado de sangue. Ele já abriu o filho da sra. White e está inserindo uma seringa com uma agulha tamanho 14 na aorta para extrair sangue. Jack me lança um olhar frenético e apavorado quando ando até sua mesa. As notícias da manhã estão por todo o seu rosto. “Mais tarde.” Levando a mão antes que ele consiga fazer qualquer pergunta. “A mãe dele está no meu escritório.” Indico o corpo. “Merda”, diz Fielding. “Merda é a única coisa que tenho a dizer sobre toda essa porra de mundo.” “Ela quer vê-lo.” Pego um pano de uma bolsa que está sobre uma maca e enxugo o rosto delicadamente bonito do garoto. Seu cabelo é da cor de feno e, exceto pelo rosto congestionado, sua pele é rosada. Ele tem uma penugem sobre o lábio superior e os primeiros sinais de pêlos púbicos, seus hormônios apenas começando a despertar, preparando-se para uma vida adulta que não estava destinado a ter. Há um sulco estreito e escuro em volta do pescoço, que sobe em ângulo até a orelha direita, onde a corda foi amarrada. No mais, seu corpo jovem e forte não tem nenhuma evidência de violência, nenhuma sugestão de que ele teria qualquer razão no mundo para não viver. Suicídios podem ser muito desafiadores. Ao contrário da crença popular, as pessoas raramente deixam bilhetes. Elas nem sempre falam sobre seus sentimentos na vida e às vezes seus corpos mortos também não têm muito a dizer. “Maldição”, murmura Jack. “O que sabemos sobre isso?”, pergunto a ele.
“Só que tinha começado a agir de maneira estranha na escola por volta da época do Natal.” Jack pega a mangueira e lava a cavidade do peito até ela ficar brilhante como a parte interna de uma tulipa. “O pai dele morreu de câncer do pulmão há alguns anos.” A água bate. “Aquele maldito Stanfield, puta que pariu. O que há por lá? Algo especial? Três porras de casos dele em quatro semanas.” Jack lava o bloco de órgãos. Eles brilham em tons fortes na tábua de cortar, esperando para serem violados pela última vez. “Ele aparece o tempo todo, como a porra dum indesejável.” Jack pega uma faca cirúrgica grande do carrinho. “Então esse garoto vai à igreja ontem, volta para casa e se enforca no bosque.” Quanto mais Jack Fielding usa a palavra “porra”, mais perturbado ele fica. Está extremamente perturbado. “E Stanfield?”, pergunto de forma melancólica. “Eu achava que ele estava se demitindo.” “Eu gostaria que estivesse. O cara é um idiota. Liga para falar desse caso, e adivinhe o quê? Aparentemente, ele foi para a cena. O garoto está pendurado em uma árvore e Stanfield corta a corda para soltá-lo.” Sinto que sei o que vem a seguir. “Ele corta o nó.” Eu estava certa. “Ele tirou fotos primeiro, espero.” “Estão lá.” Ele aponta com a cabeça para o balcão do outro lado da sala. Vou olhar as fotos. São dolorosas. Parece que Benny nem parou em casa para trocar de roupa quando veio da igreja, mas foi direto para o bosque, jogou uma corda de náilon por cima do galho de uma árvore, deu um laço em uma ponta e passou a outra por ele. Então fez outro laço com um nó de correr simples e o pôs sobre a cabeça. Nas fotos, ele está vestido com um terno azul-marinho e uma camisa branca. No chão há uma gravata de listras vermelhas e azuis, ou deslocada pela corda ou porque talvez ele a tenha tirado antes. Ele está de joelhos, os braços pendendo ao lado do corpo, a cabeça caída, uma posição típica de suicídio por enforcamento. Não tenho muitos casos em que as pessoas ficam totalmente suspensas, com os pés fora do chão. A questão é pressionar suficientemente os vasos sangüíneos do pescoço para que o sangue oxigenado que chega ao cérebro não seja suficiente. Bastam dois quilos de pressão para comprimir as veias jugulares, e um pouco mais que o dobro disso para fechar as carótidas. O peso da cabeça contra o nariz é suficiente. A inconsciência é rápida. A morte chega em minutos. “Vamos fazer isso.” Volto para onde Jack está. “Cubra-o. Vamos pôr algumas folhas plastificadas sobre ele para que o sangue não extravase. E vamos dar à mãe dele a oportunidade de vê-lo antes que você faça qualquer outra coisa com ele.” Ele respira profundamente e joga o bisturi de volta no carrinho. “Vou falar com ela e ver o que mais podemos descobrir.” Saio. “Avise Rose quando você estiver pronto. Obrigada, Jack.” Paro para olhá-lo nos olhos. “Vamos conversar depois? Nunca tomamos aquele café. Nem nos desejamos Feliz Natal.” Encontro a sra. White na minha sala de reuniões. Ela parou de chorar e está num espaço profundo e deprimido, com um olhar parado, sem vida. Ela mal
me focaliza quando entro e fecho a porta. Conto a ela que acabo de ver Benny e que vou permitir que ela o veja em alguns minutos. Seus olhos se enchem de lágrimas outra vez, e ela quer saber se ele sofreu. Digo-lhe que ele logo deve ter ficado inconsciente. Ela quer saber se ele morreu porque não conseguiu respirar. Respondo que não sabemos todas as respostas agora, mas é improvável que suas vias aéreas tenham sido obstruídas. Benny talvez tenha morrido de danos cerebrais causados por hipóxia, mas estou mais inclinada a suspeitar que a compressão dos vasos sangüíneos causou uma resposta vasovagal. Em outras palavras, seu coração parou de bater e ele morreu. Quando menciono que ele estava ajoelhado, ela sugere que talvez estivesse rezando para que o Senhor o levasse para casa. Talvez, respondo. Ele podia muito bem estar rezando. Conforto a sra. White da melhor forma que consigo. Ela me informa que um caçador estava procurando um veado no qual atirara antes e encontrou o corpo de seu filho. Benny não podia estar morto havia muito tempo porque tinha desaparecido depois da missa, por volta de meio-dia e meia, e a polícia foi à casa dela por volta das cinco da tarde. Contaram-lhe que o caçador tinha encontrado Benny mais ou menos às duas horas. Então pelo menos ele não ficou lá sozinho muito tempo, ela insiste em dizer. E foi bom ele ter seu Novo Testamento no bolso do paletó, porque nele estavam escritos o nome e o endereço dele. Foi assim que a polícia descobriu quem era e localizou sua família. “Senhora White”, digo, “estava acontecendo alguma coisa com Benny ultimamente? Como foi na igreja ontem de manhã? Estava acontecendo algo que a senhora saiba?” “Bem, ele anda rabugento.” Agora ela está mais calma. Fala sobre Benny como se ele estivesse sentado na área de recepção esperando por ela. “Ele vai fazer doze anos no mês que vem, e a senhora sabe como é essa fase.” “O que a senhora quer dizer com ‘rabugento’?” “Ele ia muito para seu quarto e fechava a porta. Fica lá ouvindo música com os fones de ouvido. Anda meio insolente de vez em quando, e ele não costumava ser assim. Fiquei preocupada.” Sua voz se contrai. Ela pisca, lembrando-se de repente de onde está e do porquê. “Eu só não sei por que teve de fazer uma coisa dessas!” As lágrimas parecem jorrar de seus olhos. “Sei que há uns garotos na igreja com quem ele tem tido muitos problemas. Eles o provocam muito, o chamam de bonitinho.” “Alguém o provocou ontem?”, pergunto. “Isso pode muito bem ter acontecido. Eles todos estão na escola dominical juntos. E houve muitas conversas, sabe, sobre aquelas mortes na área.” Ela faz outra pausa. Não quer continuar por um caminho que leva a um assunto que para ela é estranho e aberrante. “Os dois homens mortos antes do Natal?” “Sim, sim. Aqueles que dizem que foram amaldiçoados, porque não foi assim que a América começou, sabe. Com pessoas fazendo coisas desse tipo.” “Amaldiçoados? Quem diz que eles foram amaldiçoados?” “É o que se fala. Há muita conversa”, ela continua, respirando fundo. “E Jamestown fica bem ao lado da estrada. Sempre ouvi histórias sobre pessoas
vendo fantasmas de John Smith e Pocahontas e tudo mais. Então esses homens são assassinados bem perto dali, perto da ilha de Jamestown, e há toda essa conversa sobre eles serem, bem, a senhora sabe. Serem anormais, e é por isso que alguém os matou, suponho. Ou pelo menos é o que ouvi dizer.” “A senhora e Benny conversaram sobre tudo isso?” Meu coração fica mais pesado a cada momento. “Um pouco. Quer dizer, todo mundo tem falado sobre aqueles homens mortos e queimados e torturados. As pessoas têm fechado a porta das casas mais do que o normal. Foi meio assustador, tenho de admitir. Então Benny e eu discutimos isso, sim, discutimos. Para lhe dizer a verdade, ele ficou muito mais rabugento desde que tudo isso aconteceu. Então talvez seja isso que o perturbou.” Silêncio. Ela olha para a mesa. Não consegue decidir qual tempo verbal usar quando fala sobre o filho morto. “Isso e o fato de os outros garotos o chamarem de bonitinho. Benny odiava isso, e eu não o culpo. Sempre digo a ele, Espere só até você crescer e ficar mais bonito do que todos os outros. E as garotas fazerem fila. Isso vai dar uma lição a eles.” Ela sorri um pouco e começa a chorar outra vez. “Ele realmente é muito sensível a isso. E a senhora sabe como as crianças conseguem provocar.” “É possível que ele tenha sido provocado ontem na igreja?”, tento adivinhar. “A senhora acha que talvez os garotos tenham feito comentários sobre os chamados crimes de ódio, sobre gays, e talvez sugerido...?” “Bem”, ela deixa escapar. “Bem, sim. Sobre maldições contra pessoas que são anormais e más. A Bíblia é muito clara. ‘Deus os abandonou às paixões infames’”, ela cita. “Alguma possibilidade de que Benny estivesse preocupado com sua sexualidade, senhora White?” Meu tom é muito gentil, mas firme. “Isso é muito normal em garotos que estão entrando na adolescência. Muita confusão sobre identidade sexual, esse tipo de coisa. Especialmente hoje em dia. O mundo é um lugar complicado, muito mais complicado do que era antes.” O telefone toca. “Com licença, é só um minuto.” Jack está na linha. Benny está pronto para ser visto. “E Marino está aqui procurando você. Diz que tem uma informação importante.” “Diga a ele onde estou.” Desligo. “Benny me perguntou se fizeram aquelas coisas horríveis com aqueles homens porque eles são... Ele usou a palavra esquisitos”, diz a senhora White. “Eu disse que podia muito bem ter sido um castigo de Deus.” “Como ele reagiu a isso?”, pergunto a ela. “Não me lembro de ele ter dito nada.” “Quando foi isso?” “Faz umas três semanas. Logo depois que descobriram aquele segundo corpo e saíram todas as notícias dizendo que eram crimes de ódio.” Imagino se Stanfield tem alguma idéia de quanto dano causou ao vazar detalhes da investigação para seu maldito cunhado. A sra. White está falando com nervosismo, e seu pavor aumenta a cada passo que ela dá pelo corredor. Acompanho-a até a frente do escritório e através de uma porta que nos leva à
pequena sala de observação. Lá há um sofá e uma mesa. Na parede há uma pintura de um sossegado campo inglês. Do lado oposto à área de sentar há uma parede de vidro. Ela está coberta por uma cortina. Do outro lado está a geladeira, onde se pode entrar. “Por que a senhora não se senta e se acomoda?”, digo à sra. White, e toco em seu ombro. Ela está tensa, assustada, seus olhos cravados na cortina fechada. Ela se senta na beira do sofá, as mãos apertadas com força no colo. Abro a cortina e Benny está coberto de azul, um lençol azul enfiado debaixo do queixo para esconder a marca da faixa. Seu cabelo molhado está penteado para trás, os olhos estão fechados. A mãe está congelada na beira do sofá. Nem parece respirar. Olha para o vazio, sem compreender. Franze o cenho. “Como é que o rosto dele ficou assim tão vermelho?”, ela pergunta, num tom quase de acusação. “A corda evitou que o sangue voltasse para seu coração”, explico. “Então o rosto dele está congestionado.” Ela se levanta e vai para mais perto da janela. “Oh, meu bebê”, ela sussurra. “Meu filhinho querido. Você está no paraíso agora. Nos braços de Jesus no paraíso. Olhe, o cabelo dele está todo molhado, como se tivesse acabado de ser batizado. Vocês devem ter dado um banho nele. Só preciso saber que ele não sofreu.” Não posso dizer isso a ela. Imagino que, quando ele apertou o laço em volta do pescoço, o rugido da pressão em sua cabeça foi muito assustador. Ele tinha iniciado o processo de terminar com sua vida, e ficou desperto e alerta durante tempo suficiente para que sentisse a morte chegar. Sim, ele sofreu. “Não muito”, é o que digo. “Ele não sofreu muito, senhora White.” Ela cobre o rosto com as mãos e chora. Puxo a cortina e guio-a para a saída. “O que vocês vão fazer com ele agora?”, ela pergunta enquanto me segue inexpressivamente. “Vamos terminar de examiná-lo e fazer alguns testes, apenas para ver se há mais alguma coisa que precisamos saber.” Ela faz que sim com a cabeça. “A senhora gostaria de se sentar um pouco? Podemos lhe servir alguma coisa?” “Não, não. Só quero ir embora.” “Sinto muito por seu filho, senhora White. Nem posso lhe dizer o quanto sinto. Se a senhora tiver alguma pergunta, ligue para mim. Se eu não estiver disponível, alguém aqui vai ajudá-la. Vai ser difícil, e a senhora vai passar por muitas coisas. Então por favor ligue, se pudermos ajudar.” Ela pára no saguão e aperta minha mão. Olha intensamente para mim. “A senhora tem certeza de que alguém não fez isso com ele? Como sabemos com certeza que foi ele quem fez?” “Agora, não há nada que nos faça pensar que outra pessoa fez isso”, garanto a ela. “Mas vamos investigar todas as possibilidades. Ainda não terminamos. Alguns dos testes demoram semanas.” “Vocês não vão mantê-lo aqui durante semanas!”
“Não, ele vai estar pronto para sair em algumas horas. A funerária pode vir buscá-lo.” Estamos na sala da frente, e eu a acompanho por uma porta de vidro, de volta ao saguão. Ela hesita, como se não estivesse muito certa do que fazer. “Obrigada”, diz. “A senhora foi muito gentil.” Não é muito freqüente me agradecerem. Meus pensamentos estão tão pesados quando volto a minha sala que quase esbarro em Marino antes de percebê-lo. Ele está esperando por mim logo depois da porta e tem papéis na mão, e seu rosto irradia animação. “Você não vai acreditar nisto”, diz ele. “Estou a ponto de acreditar em qualquer coisa”, respondo penosamente enquanto quase caio na grande cadeira de couro atrás de minha escrivaninha atulhada. Suspiro. Espero que Marino tenha vindo me contar que Jaime Berger é a promotora especial. “Se for sobre Berger, já sei”, digo. “Um repórter da Associated Press me contou que ela foi indicada para me indiciar. Ainda não decidi se isso é bom ou ruim. Diabo, não consigo decidir nem se me importo com isso.” Marino tem uma expressão confusa no rosto. “Não brinque. Ela? Como ela vai fazer isso? Ela foi aprovada no exame da ordem na Virgínia?” “Não é preciso”, respondo. “Ela pode aparecer pro hac vice.” Essa expressão significa para esta ocasião específica, e explico a ele que, a pedido de um júri especial, o tribunal pode conceder a um advogado de fora do estado uma permissão especial para participar de um caso, mesmo que a pessoa não tenha licença para praticar a advocacia na Virgínia. “E Righter?”, pergunta Marino. “O que ele vai fazer durante tudo isso?” “Alguém no gabinete do promotor estadual vai ter de trabalhar com ela. Meu palpite é que ele vai ser o segundo e deixar o questionamento para ela.” “Tivemos uma mudança esquisita no caso do Fort James Motel.” Ele me conta as novidades. “Vander tem trabalhado muito nas impressões que obteve dentro do quarto, e você não vai acreditar”, ele diz outra vez. “Adivinhe quem apareceu? Diane Bray. Não estou brincando com você. Uma perfeita impressão latente ao lado do interruptor de luz logo que se entra no quarto — a maldita impressão digital latente de Bray. É claro que temos as impressões do cara morto, mas nenhuma outra coincidência com nenhuma outra pessoa, exceto Bev Kiffin, como seria de se esperar. As impressões dela estão na Bíblia de Gideão, por exemplo, mas as dele não, nem as de Matos. Isso também é interessante. Parece que Kiffin talvez seja a pessoa que abriu a Bíblia naquela página.” “Eclesiastes”, lembro a ele. “É. Uma impressão latente nas páginas abertas, impressão digital de Kiffin. E lembre-se, ela disse que não tinha aberto a Bíblia, então perguntei a ela por telefone e ela continua dizendo que não abriu. Portanto, estou suspeitando muito do envolvimento dela, especialmente porque sabemos que Bray esteve naquele mesmo quarto antes do cara que foi morto lá. O que Bray estava fazendo naquele motel? Você pode me dizer?” “Talvez a venda de remédios que ela fazia a tenha levado até lá”, respondo. “Não consigo pensar em outro motivo. Certamente, um motel não é o
tipo de lugar onde se esperaria que ela estivesse.” “Bingo.” Marino aponta um dedo para mim como uma pistola. “E o marido de Kiffin supostamente trabalha para a mesma transportadora na qual Barbosa trabalhava, certo? Embora ainda não tenhamos encontrado nenhum registro de alguém chamado Kiffin que dirija um caminhão nem nada do tipo — não conseguimos sequer localizá-lo em nenhum lugar, o que tenho de admitir que é estranho. E sabemos que a Overland faz contrabando de remédios e armas, certo? Talvez faça mais sentido se ficar claro que Chandonne é a pessoa que deixou aqueles cabelos no acampamento. Talvez estejamos falando do cartel de sua família, hem? Talvez seja isso que o tenha trazido a Richmond — os negócios da família. E quando ele estava na área, simplesmente não conseguiu controlar seu hábito de estraçalhar mulheres.” “Também pode ajudar a explicar o que Matos estava fazendo aqui”, acrescento. “Não brinque. Talvez ele e Jean-Baptiste fossem colegas. Talvez alguém da família tenha enviado Matos à Virgínia para farejar o menino Johnny, tirá-lo de circulação para que ele não cantasse para ninguém nada a respeito dos negócios de sua família.” Há infinitas possibilidades. “O que nada disso explica é por que Matos foi assassinado e quem o matou. Nem por que Barbosa foi morto”, observo. “Não, mas sinto que estamos ficando quentes”, responde Marino. “Eu sinto uma comichão e acho que, se a coçarmos, podemos encontrar Talley. Talvez seja ele o elo perdido em tudo isso.” “Bem, ele aparentemente conheceu Bray em Washington”, digo. “E ele tem vivido na mesma cidade onde a família Chandonne tem sua sede.” “E ele também sempre consegue estar na cena quando Jean-Baptiste está”, acrescenta Marino. “E eu acho que vi o babaca outro dia. Parei num farol vermelho e lá está uma grande motocicleta preta Honda na faixa ao lado da minha. Não o reconheci de início porque ele estava com um capacete com um visor escuro cobrindo o rosto, mas ele estava olhando para a minha caminhonete. Estou bem certo de que era Talley, e ele olhou para o outro lado bem rápido. Babaca.” Rose me chama pelo interfone para dizer que o governador está ligando para nossa conversa por telefone das dez horas. Aceno para que Marino feche a porta da sala e espero na linha por Mitchell. Mais uma vez a realidade se intromete. Sou levada de volta a meus apuros e a sua ampla difusão. Tenho a sensação de que sei exatamente o que o governador tem em mente. “Kay?” Mike Mitchell está sério. “Fiquei muito chateado ao ver jornal hoje de manhã.” “Eu também não estou feliz com ele”, informo. “Eu a apóio e vou continuar a apoiá-la”, ele diz, talvez para me aliviar do que planeja me informar, que não pode ser bom. Não respondo. Também suspeito que ele sabe sobre Berger e provavelmente teve algo a ver com o fato de ela ser indicada promotora especial. Não falo nisso. Não faz sentido. “Acho que à luz de suas atuais circunstâncias”, ele prossegue, “é melhor que você abra mão de suas obrigações até que esse assunto seja resolvido. E, Kay, não é porque eu acredite em nenhuma palavra disso.” Isso também não é o mesmo que ele
dizer que acha que sou inocente. “Mas até as coisas se acalmarem, creio que não seria prudente você continuar a dirigir o sistema de medicina legal do estado.” “Você está me demitindo, Mike?”, pergunto à queima-roupa. “Não, não”, ele responde depressa, e seu tom é gentil. “Vamos só deixar passar a audiência do grande júri especial, e a partir daí veremos o que fazer. Não desisti de você nem de sua idéia de ser uma contratada. Vamos apenas esperar que isso acabe”, ele diz outra vez. “É claro que farei o que você quiser”, digo a ele com todo o devido respeito. “Mas devo dizer que não acho que interesse ao estado que eu me retire de casos em andamento que ainda precisam de minha atenção.” “Kay, isso não é possível.” Ele é um político. “Estamos falando de duas semanas, supondo que sua audiência acabe bem.” “Meu Deus”, retruco. “Tem de acabar.” “Estou certo de que vai.” Saio do telefone e olho para Marino. “Bem, é isso.” Começo a jogar coisas em minha maleta. “Espero que eles não troquem as fechaduras depois que eu sair.” “Realmente, o que ele podia fazer? Quando a gente pensa nisso, doutora, o que ele podia fazer?” Marino se resigna a essa inevitabilidade. “Eu apenas gostaria de saber quem vazou a história para a mídia.” Fecho a maleta e travo as fechaduras. “Você foi intimado, Marino?”, pergunto. “Nada é confidencial. Você pode muito bem me contar.” “Você sabia que eu seria.” Ele tem uma expressão dolorosa no rosto. “Não deixe os desgraçados pegarem você, doutora. Não desista.” Levanto minha maleta e abro a porta da sala. “Vou fazer tudo menos desistir. De fato, tenho muitas coisas a fazer.” Sua expressão pergunta: o quê? Acabei de receber ordens do governador para não fazer nada. “Mike é um bom sujeito”, diz Marino. “Mas não o pressione. Não dê a ele um motivo para demiti-la. Por que você não vai para algum lugar por alguns dias? Talvez ver Lucy em Nova York. Ela não foi para Nova York? Ela e Teun? Apenas fique fora daqui até a audiência. Eu gostaria que você fizesse isso para eu não ter de me preocupar com você a cada minuto. Não gosto nem de você estar lá na casa de Anna totalmente só.” Respiro fundo e tento esconder minha fúria e minha mágoa. Marino está certo. Não faz sentido eu incomodar o governador e piorar as coisas. Mas agora me sinto, acima de qualquer outra coisa, expulsa da cidade, e não ouvi uma palavra de Anna, e isso também me machuca. Estou quase chorando, e me recuso a chorar em meu escritório. Desvio os olhos de Marino, mas ele capta meus sentimentos. “Ei”, diz ele, “você tem todo o direito de não se sentir bem. Tudo isso é péssimo, doutora.” Atravesso o corredor e pego um atalho pelo banheiro feminino, a caminho do necrotério. Turk está costurando Benny White e Jack está sentado preenchendo papéis no balcão. Puxo uma cadeira para perto de meu assistente e colho vários cabelos caídos dele. “Você tem de parar de perder cabelo”, digo, tentando esconder minha perturbação. “Você vai me contar por que seu cabelo
cai o tempo todo?” Tenho pensado em perguntar a ele há semanas. Como sempre, muita coisa aconteceu e Jack e eu não conversamos. “Basta você ler o jornal”, ele diz, depondo a caneta. “Isso vai lhe dizer por que meu cabelo está caindo.” Seus olhos estão pesados. Faço que sim com a cabeça e entendo o que ele quer dizer. É o que eu esperava. Jack sabe há muito tempo que estou com sérios problemas. Talvez Righter tenha entrado em contato com ele semanas atrás e começado a pescar, assim como fez com Anna. Pergunto a Jack se é esse o caso e ele admite que é. Diz que foi um fracasso. Ele odeia política e administração, e não quer meu cargo nem nunca vai querer. “Você me faz parecer bom”, ele diz. “Sempre fez, doutora Scarpetta. Eles podem pensar que eu devo ser indicado chefe. Então o que vou fazer? Não sei.” Ele corre os dedos pelo cabelo e perde mais alguns fios. “Só quero que tudo volte ao normal.” “Acredite, eu também”, digo, quando o telefone toca e Turk o atende. “Isso me lembra uma coisa”, diz Jack. “Temos recebido ligações estranhas aqui. Eu lhe contei isso?” “Eu estava aqui quando recebemos uma”, respondo. “Alguém afirmando ser Benton.” “Que coisa doentia”, ele diz, enojado. “É a única ligação de que estou informada”, acrescento. “Doutora Scarpetta?”, grita Turk. “Você pode atender? É Paul.” Vou até o telefone. “Como vai, Paul?”, pergunto a Paul Monty, o diretor estadual dos laboratórios forenses. “Primeiro, quero que você saiba que todos neste maldito edifício estão torcendo por você, Kay”, ele diz. “Absurdo. Eu li todo aquele absurdo e praticamente cuspi meu café. E nós estamos trabalhando muito.” Ela fala dos testes de evidências. Deve haver uma ordem igualitária na elaboração de evidências — como é correto, nenhuma vítima deve ser mais importante que outra e ser passada para a frente da fila. Mas há também um código tácito, da mesma forma que nos filmes policiais. As pessoas cuidam dos seus. É um fato. “Obtivemos alguns resultados interessantes que eu queria lhe passar pessoalmente”, continua Paul Monty. “Os cabelos do acampamento — aqueles que você suspeita que são de Chandonne? Bem, o DNA coincide. O mais interessante é que uma comparação de fibras mostra que a roupa de cama de algodão do acampamento coincide com fibras coletadas do colchão no quarto de Diane Bray.” Forma-se um cenário. Chandonne tirou a roupa de cama de Diane Bray depois de assassiná-la e fugiu para o acampamento. Talvez tenha dormido sobre elas. Ou talvez simplesmente as tenha jogado fora. Mas, seja qual for o caso, podemos definitivamente colocar Chandonne no Fort James Motel. Paul não tem nada mais a relatar no momento. “E o fio dental que encontrei na privada?”, pergunto. “No quarto onde Matos foi morto?” “Nenhuma coincidência nele. O DNA não é de Chandonne, nem de Bray, nem de nenhum dos suspeitos costumeiros”, ele diz. “Talvez algum hóspede
anterior do motel? Pode ser que não esteja relacionado.” Volto ao balcão, onde Jack continua a me contar sobre os telefonemas estranhos. Ele diz que houve vários. “Eu atendi um deles, e a pessoa, um cara, perguntou por você, diz que é Benton e desliga”, conta Jack . “Turk atendeu na segunda vez. O cara diz para dizer a você que ele ligou e que vai se atrasar uma hora para o jantar, identificase como Benton e desliga. Então acrescente isso à mistura. Não admira que eu esteja ficando careca.” “Por que você não me contou?” Pego, distraída, fotos Polaroid do corpo de Benny White na maca antes de ser despido. “Achei que você já tinha merda suficiente. Devia ter lhe contado. Eu errei.” A vista desse garoto vestido com sua melhor roupa de domingo e dentro de um saco aberto em cima de uma maca é muito incongruente. Sinto-me bastante entristecida quando noto que a calça dele é um pouco curta e que suas meias não combinam exatamente, uma preta, a outra azul. Sinto-me pior. “Você encontrou alguma coisa inesperada nele?” Já falei bastante sobre meus problemas. Na verdade, eles não parecem muito importantes quando olho para fotos de Benny e penso em sua mãe na sala de observação. “Sim, uma coisa me deixou encafifado”, diz Jack . “A história é que ele voltou para casa da igreja e não entrou em casa. Sai do carro e vai para o estábulo, dizendo que está bem e que está tentando encontrar seu canivete — acha que talvez esteja em sua caixa de apetrechos de pesca e que se esqueceu de tirá-lo quando voltou para casa da pescaria recentemente. Ele não volta para casa. Em outras palavras, ele não almoçou no domingo. Mas esse rapazinho tem o estômago cheio.” “Você pode dizer o que talvez ele tenha comido?”, pergunto. “Sim. Pipoca, por exemplo. E parece que comeu cachorro-quente. Então eu ligo para a casa dele e falo com seu padrasto. Pergunto se Benny pode ter comido alguma coisa na igreja, e ele me diz que não. O padrasto não tem nenhuma idéia sobre de onde veio a comida”, responde Jack . “Isso é muito estranho”, comento. “Então ele volta para casa da igreja e sai para se enforcar, mas primeiro pára em algum lugar para comer pipoca e cachorro-quente?” Levanto-me do balcão. “Alguma coisa está errada nesse quadro.” “Se não fosse pelo conteúdo gástrico, eu diria que é claramente um suicídio.” Jack permanece sentado, olhando para mim. “Eu poderia matar Stanfield por ele ter cortado o nó. Aquele trapalhão.” “Talvez devêssemos dar uma olhada no local onde Benny foi enforcado”, decido. “Ir à cena.” “Eles vivem em uma fazenda no condado de James City”, diz Jack. “Bem ao lado do rio, e aparentemente o bosque onde ele foi enforcado fica na borda do campo, a cerca de um quilômetro e meio da casa.” “Vamos”, digo a ele. “Talvez Lucy possa nos dar uma carona.”
Do hangar em Nova York até a HeloAir em Richmond é um vôo de duas horas, e Lucy ficou mais do que feliz de poder mostrar o veículo de sua nova empresa. O plano é simples. Ela vai pegar Jack e eu e nos deixar na fazenda, depois nós três vamos verificar o local onde Benny White supostamente se matou. Também quero ver o quarto dele. Em seguida, vamos deixar Jack em Richmond e eu volto com Lucy para Nova York , onde vou ficar até a audiência do grande júri especial. Isso tudo está planejado para amanhã de manhã, e o detetive Stanfield não tem interesse em nos encontrar na cena. “Para quê?”, são as primeiras palavras que lhe saem da boca. “Para que vocês precisam ir lá?” Quase menciono o conteúdo gástrico que não faz sentido. Chego perto de perguntar se havia alguma coisa que Stanfield tenha observado da qual suspeitasse. Mas me contenho. Alguma coisa me pára. “Se você puder apenas me dar as indicações para chegar à casa deles”, digo a ele. Ele descreve onde a família de Benny mora, bem ao lado da rodovia 5, eu não tenho como errar porque há uma pequena loja no cruzamento, e eu preciso virar à esquerda nessa loja. Ele me dá marcos que não serão fáceis de ver do ar. Finalmente extraio dele que a fazenda fica a pouco mais de um quilômetro da barca perto de Jamestown, e é nesse momento que me dou conta pela primeira vez de que a fazenda de Benny White fica muito perto do Fort James Motel and Campground. “Ah, sim”, diz Stanfield quando lhe pergunto sobre isso. “Ele estava bem ali, na mesma área dos outros. Era isso que tinha deixado o garoto tão perturbado, segundo a mãe dele.” “A que distância a fazenda fica do motel?”, pergunto. “Logo do outro lado do riacho que há nela. Não é bem uma fazenda.” “Detetive Stanfield, há alguma possibilidade de que Benny conhecesse os filhos de Bev Kiffin, os dois garotos dela? Entendo que Benny gostava de pescar.” Visualizo a vara de pescar encostada na janela no andar de cima da casa de Mitch Barbosa. “Olhe, eu sei da história de ele supostamente pegar seu canivete na caixa de apetrechos, mas não acho que foi isso que ele fez. Acho que ele só queria dar uma desculpa para se afastar de todos”, responde Stanfield. “Sabemos onde ele conseguiu a corda?” Desconsidero as irritantes suposições de Stanfield. “O padrasto dele diz que há todos os tipos de corda no estábulo”, responde Stanfield. “Bom, eles chamam aquilo de estábulo, mas é onde eles guardam lixo. Perguntei a ele o que havia lá, e ele disse que era só lixo. Sabe, tive um pressentimento de que Benny talvez tenha encontrado Barbosa lá, pescando, e sabemos que Barbosa tratava bem os garotos. Isso com certeza ajudaria a explicar o que aconteceu. E a mãe dele disse que o garoto andava tendo pesadelos e estava muito perturbado pelas mortes. Morto de medo, como ela disse. Agora o que você deve fazer é ir direto para o riacho. Você vai ver o estábulo na margem do campo, e depois o bosque bem à direita. Há uma trilha com vegetação crescida, e o lugar onde ele se enforcou fica uns cinco metros adiante nessa trilha, onde há uma plataforma para caçar veados. É impossível
você não vê-la. Eu não subi nela, na plataforma, para cortar a corda, só cortei a extremidade que estava em volta do pescoço dele. Então ela ainda deve estar exatamente ali. A corda deve estar bem ali onde estava.” Abstenho-me de demonstrar minha completa aversão ao trabalho desleixado de Stanfield. Não sondo mais nada nem sugiro a ele que devia fazer exatamente o que ameaçou: demitir-se. Ligo para a sra. White para informá-la de meus planos. A voz dela é baixa e magoada. Ela está atordoada e aparentemente não consegue entender que queremos pousar um helicóptero em sua fazenda. “Precisamos de uma clareira, um campo plano, uma área onde não haja linhas telefônicas nem muitas árvores”, explico. “Nós não temos uma pista.” Ela diz isso várias vezes. Por fim, passa o telefone ao marido. O nome dele é Marcus. Ele me conta que eles têm um campo de soja entre a casa e a rodovia 5, e que há também um silo pintado de verde-escuro. Não há nenhum outro silo nessa área, nenhum pintado de verde-escuro, acrescenta. Ele concorda que pousemos nesse campo. O resto do meu dia é longo. Trabalho no escritório e reúno minha equipe antes de eles irem para casa. Explico o que está acontecendo em minha vida e asseguro a cada um deles que seu emprego não corre risco. Também deixo claro que não fiz nada de errado e estou confiante em que meu nome será limpado. Não conto a eles que me demiti. Eles já sofreram abalos suficientes e não precisam de um terremoto. Não embalo itens do escritório nem levo nada além da minha maleta, como se tudo estivesse bem e eu fosse ver todos na manhã seguinte, como sempre. Agora são nove da noite. Estou na cozinha de Anna, mordiscando uma fatia grossa de queijo cheddar e bebendo uma taça de vinho tinto, relaxada, indisposta a anuviar meu pensamento e simplesmente achando quase impossível engolir comida sólida. Perdi peso. Não sei quanto. Não tenho apetite e desenvolvi uma rotina deplorável de sair da casa periodicamente para fumar. A cada meia hora mais ou menos, tento falar com Marino, sem sucesso. E fico pensando sobre o arquivo Aud. Ele mal saiu de minha mente desde que o olhei no dia de Natal. O telefone toca perto da meia-noite, e suponho que seja Marino finalmente retornando meu recado enviado pelo pager. “Scarpetta”, respondo. “É Jaime”, a voz característica e confiante de Berger soa na linha. Paro, surpresa. Mas então me lembro: Berger parece não ter nenhuma hesitação em falar com pessoas que ela pretende mandar para a prisão, não importa o horário. “Estive falando com Marino pelo telefone”, ela começa. “Então entendo que você sabe da minha situação. Ou suponho que deva dizer nossa situação. E na verdade você deve se sentir bem com ela, Kay. Não quero lhe dar lições, mas me permita lhe dizer uma coisa. Apenas fale com os jurados do mesmo modo como falou comigo. E tente não se preocupar.” “Acho que estou além da preocupação”, respondo. “Estou ligando principalmente para lhe passar algumas informações. Temos o DNA dos selos. Os selos das cartas do arquivo Aud”, ela me informa, como se estivesse de novo lendo minha mente. Então agora os laboratórios de Richmond estão tratando diretamente com ela, penso. “Parece que Diane Bray
estava em todos os lugares, Kay. No mínimo ela lambeu aqueles selos, e só posso supor que ela escreveu as cartas e foi suficientemente esperta para não deixar suas impressões nelas. As impressões que foram deixadas em várias das cartas são de Benton, provavelmente de quando ele as abriu antes de perceber o que eram. Suponho que ele sabia que as impressões eram dele. Não sei por que ele não fez uma anotação sobre isso. Estou só me perguntando se Benton alguma vez mencionou Bray a você. Alguma razão para pensar que eles se conheciam?” “Não me lembro de ele tê-la mencionado”, respondo. Meus pensamentos estão travados. Não posso acreditar no que Berger acaba de dizer. “Bem, certamente ele poderia tê-la conhecido”, continua Berger. “Ela estava em Washington. Ele estava a alguns quilômetros de lá, em Quantico. Não sei. Mas o fato de ela mandar essas coisas para ele me deixa desconcertada, imagino se ela queria que as cartas fossem postadas em Nova York para que ele acreditasse que a correspondência excêntrica era de Carrie Grethen.” “E sabemos que ele seguiu esse raciocínio”, lembro a ela. “Então também temos de imaginar se Bray possivelmente — apenas possivelmente — teve algo a ver com o assassinato dele”, Berger acrescenta o toque final. Surge em minha mente a idéia de que ela está outra vez me testando. O que ela espera? Que eu deixe escapar algo incriminador. Bom. Bray teve o que lhe estava reservado ou Ela teve o que merecia. Ao mesmo tempo, não sei. Talvez seja a voz de minha paranóia e não a realidade. Talvez Berger esteja simplesmente dizendo o que tem em mente, nada mais. “Imagino que ela nunca mencionou Benton a você”, diz Berger. “Não que eu me recorde”, respondo. “Não me lembro de Bray jamais ter dito uma palavra sobre Benton.” “O que não consigo entender”, continua Berger, “é a coisa de Chandonne. Se considerarmos que Jean-Baptiste Chandonne conhecia Bray — digamos, que eles estavam juntos nos negócios —, então por que ele a mataria? E do modo como a matou? Isso me parece incoerente. Não se encaixa direito. O que você acha?” “Talvez você devesse me informar sobre meus direitos antes de me perguntar o que acho do assassino de Bray”, digo. “Ou talvez você devesse guardar suas perguntas para a audiência.” “Você não foi detida”, ela responde, e não consigo acreditar no que ouço. Ela parece sorrir. Eu a diverti. “Você não precisa ser informada de seus direitos.” Ela volta a ficar séria. “Não estou jogando com você, Kay. Estou pedindo sua ajuda. Você devia estar muito contente de ser eu quem vai estar naquela sala interrogando testemunhas, e não Righter.” “Apenas lamento que qualquer pessoa vá estar naquela sala. Ninguém deveria estar. Não na minha opinião”, digo a ela. “Bem, há duas peças-chave que temos de imaginar.” Ela está impenetrável e tem mais a me contar. “O fluido seminal no caso de Susan Pless não é de Chandonne. E agora temos essa novíssima informação sobre Diane Bray. É só instinto. Mas acho que Chandonne não conhecia Diane Bray. Não
pessoalmente. De jeito nenhum. Acho que todas as vítimas dele são pessoas que ele só conhecia à distância. Ele observava e seguia e fantasiava. E essa, a propósito, era também a opinião de Benton, quando ele traçou o perfil do caso de Susan.” “Na opinião dele a pessoa que a assassinou também deixou o fluido seminal?”, pergunto. “Ele nunca achou que houvesse mais de uma pessoa envolvida”, Berger concede. “Até seus casos em Richmond, ainda estávamos procurando aquele cara bem-vestido e de boa aparência que jantou com ela no Lumi. Certamente não estávamos procurando um autoproclamado lobisomem com uma doença genética, naquele momento não estávamos.”
Imagine se eu conseguiria dormir bem depois de tudo isso. Não consigo. Acordo e durmo outra vez o tempo inteiro, de vez em quando pegando o rádiorelógio para verificar o horário. As horas avançam imperceptível e pesadamente, como geleiras. Sonho que estou em casa e tenho um filhote, uma adorável fêmea de labrador retriever com orelhas longas e pesadas e pés enormes, e o rosto mais doce que se pode imaginar. Ela me lembra os animais de pelúcia Gund na FAO Schwarz, a adorável loja em Nova York onde eu costumava comprar surpresas para Lucy quando ela era criança. No meu sonho, essa ficção lacerada que teço em meu estado de semiconsciência, estou brincando com a cachorrinha, fazendo cócegas nela, e ela está me lambendo, balançando o rabo furiosamente. Então de algum modo estou entrando outra vez na minha casa, e está escuro e frio e não sinto ninguém em casa, nenhuma vida, silêncio absoluto. Chamo a cachorrinha — não consigo me lembrar do nome dela — e a procuro freneticamente em todos os lugares. Acordo no quarto de hóspedes de Anna, chorando, soluçando, simplesmente gritando.
33
A manhã chega e a névoa paira como fumaça enquanto voamos baixo sobre as árvores. Lucy e eu estamos sozinhas em sua nova máquina porque Jack acordou com dores e tremores. Ele ficou em casa, e suspeito que sua doença seja auto-induzida. Acho que está de ressaca, e temo que a tensão insuportável que levei para o departamento tenha estimulado nele maus hábitos. Ele estava perfeitamente satisfeito com sua vida. Agora tudo mudou. O Bell 407 é preto com faixas brilhantes. Tem cheiro de carro novo e se movimenta com a força suave de seda grossa enquanto vamos para leste, a dois mil e quinhentos metros acima do solo. Estou preocupada com o mapa regional que está em meu colo, tentando casar traçados de redes elétricas, estradas e trilhos de ferrovias com aqueles sobre os quais passamos. Não é que não saibamos exatamente onde estamos, porque o helicóptero de Lucy tem equipamentos de navegação suficientes para pilotar o Concorde. Mas sempre que me sinto como estou me sentindo agora tendo a ser obsessiva com uma tarefa, qualquer tarefa. “Duas antenas a mais ou menos uma hora.” Mostro a ela no mapa. “Cento e cinqüenta metros acima do nível do mar. Não devem interferir, mas não consigo vê-las ainda.” “Estou olhando”, diz ela. As antenas devem estar bem abaixo do horizonte, o que significa que não são um perigo mesmo que cheguemos perto. Mas tenho uma fobia especial por obstruções, e há mais delas surgindo o tempo todo neste mundo de comunicação constante. O controle de tráfego aéreo de Richmond se anuncia pelo ar, dizendonos que o serviço de radar terminou e que podemos adotar um código de condições de vôo visual. Mudo a freqüência do transponder para 200 enquanto mal distingo as antenas alguns quilômetros adiante. Elas não têm luzes estroboscópicas de alta intensidade e não são nada mais que linhas retas fantasmáticas em meio à grossa névoa cinza. Aponto para elas. “Já as vi”, responde Lucy. “Odeio essas coisas.” Ela pressiona o cíclico para a direita, fazendo uma curva bem para o norte das antenas, não querendo nenhum contato com elas, pois os pesados cabos de aço são como francoatiradores. Ele pegam a gente primeiro. “O governador vai ficar chateado se descobrir que você está fazendo isso?”, a pergunta de Lucy soa dentro de meu fone de ouvido. “Ele me disse para tirar férias do trabalho”, respondo. “Estou fora do departamento.” “Então você vai para Nova York comigo”, diz ela. “Você pode ficar em meu apartamento. Fico realmente contente por você sair do emprego, desistir de ser chefe, começar a trabalhar por conta própria. Quem sabe você acaba em Nova York trabalhando com Teun e comigo?” Não quero magoar seus sentimentos. Não conto a ela que não estou
contente. Quero ficar aqui. Quero ficar na minha casa e trabalhar no meu emprego como sempre, e isso nunca mais será possível. Sinto-me como uma fugitiva, digo a minha sobrinha, cuja atenção está fora da cabine, seus olhos jamais se desviando do que ela está fazendo. Falar com alguém que está pilotando um helicóptero é como estar ao telefone. A pessoa realmente não nos vê. Não há nenhum gesto nem toque. O sol está ficando mais forte e a névoa mais fina, quanto mais voamos para leste. Abaixo de nós, riachos cintilam como entranhas da terra, e o rio James brilha, branco como neve. Descemos mais e mais, passando sobre Susan Constant, Godspeed e Discovery, réplicas em tamanho real dos navios que trouxeram cento e quatro homens e garotos para a Virgínia em 1607. Ao longe, vejo o obelisco projetando-se entre as árvores da ilha de Jamestown, onde arqueólogos estão fazendo, a partir dos mortos, o levantamento da primeira colônia inglesa na América. Uma barca leva lentamente carros pela água em direção a Surry. “Estou vendo um silo verde a nove horas”, observa Lucy. “Você acha que é ele?” Sigo os olhos dela na direção de uma pequena fazenda que dá para um riacho. Do outro lado da estreita faixa de água barrenta, telhados e velhos trailers destacando-se de grossos pinheiros tornam-se o Fort James Motel and Campground. Lucy circula a fazenda a cento e cinqüenta metros de altura, certificando-se de que não há nenhum risco, como linhas de transmissão. Ela calcula o tamanho da área e parece satisfeita quando abaixa o coletivo e diminui a velocidade para sessenta nós. Começamos nossa aproximação de uma clareira entre os bosques e da casinha de tijolo onde Benny White passou seus curtos doze anos. A grama morta redemoinha enquanto Lucy pousa o helicóptero com suavidade, sentindo sutilmente o solo, assegurando-se de que ele é plano. A sra. White sai da casa. Olha para nós, uma mão protegendo os olhos do sol, e então um homem alto de terno se junta a ela. Eles ficam na varanda enquanto aguardamos o desligamento de dois minutos. Quando descemos e caminhamos para a casa, percebo que os pais de Benny se vestiram para nos receber. Parece que eles acabaram de sair da igreja. “Nunca pensei que uma coisa como essa aterrissaria em minha fazenda.” O sr. White olha para o helicóptero com uma expressão pesada no rosto. “Entre”, diz a sra. White. “Posso servir café ou alguma outra coisa para vocês?” Conversamos sobre nosso vôo, falamos de trivialidades, e a ansiedade é intensa. Os White sabem que estou aqui porque devo estar imaginando cenários agourentos sobre o que realmente aconteceu com seu filho. Parecem supor que Lucy faz parte da investigação e quando falam se dirigem a nós duas. A casa é muito limpa e mobiliada de forma agradável, com cadeiras grandes e confortáveis, tapetes trançados e luminárias de latão. O piso é de tábuas de pinho largas, e as paredes de madeira são pintadas de branco e cheias de aquarelas com cenas da Guerra de Secessão. Ao lado da lareira na sala de estar há prateleiras que estão cheias de balas de canhão, balas Minié, um kit de cozinha de rancho, garrafas antigas e todo tipo de artefatos que provavelmente são da Guerra de Secessão. Quando o sr. White nota meu interesse, explica que é um
colecionador. Ele é um caçador de tesouros e esquadrinha a área com um detector de metais quando não está ocupado no escritório. Ele é contador. Sua fazenda não é produtiva, mas está na família há mais de cem anos, ele conta a Lucy e a mim. “Suponho que eu seja apenas um fanático por história”, ele prossegue. “Encontrei até alguns botões da Revolução Americana. A gente nunca sabe o que vai encontrar por aqui.” Estamos na cozinha e a sra. White está pegando um copo d’água para Lucy. “E Benny?”, pergunto. “Ele tinha interesse em caçar tesouros?” “Ah, claro que tinha”, responde sua mãe. “É claro que ele estava sempre esperando encontrar um verdadeiro tesouro. Como ouro.” Ela começou a aceitar a morte do filho e fala dele no passado. “Sabe, a velha história de os confederados esconderem todo aquele ouro que nunca foi encontrado. Bem, Benny achava que ia encontrá-lo”, diz o sr. White, segurando um copo d’água como se não tivesse certeza do que fazer com ele. Ele o põe no balcão sem beber uma gota. “Ele adorava sair, aquele gostava mesmo. Sempre pensei que era muito ruim não trabalharmos mais na fazenda porque acho que ele realmente teria gostado disso.” “Especialmente animais”, acrescenta a sra. White. “Aquele garoto adorava os animais mais do que qualquer pessoa que já conheci. Tinha um coração muito bom.” Ela começa a chorar. “Se um passarinho voava pela janela, ele saía correndo da casa e tentava encontrá-lo, e depois vinha histérico se a pobre coisinha tivesse quebrado o pescoço, que é o que normalmente acontece.” O padrasto de Benny olha para fora da janela, com uma expressão de dor no rosto. A mãe fica em silêncio. Ela está lutando para se manter inteira. “Benny comeu alguma coisa antes de morrer”, digo a eles. “Acho que o doutor Fielding deve ter perguntado a vocês sobre isso para saber se ele possivelmente comeu alguma coisa na igreja.” O sr. White balança a cabeça, ainda olhando para fora. “Não, senhora. Eles não servem comida na igreja, a não ser nas ceias de quarta-feira à noite. Se Benny comeu alguma coisa, com certeza não sei onde foi.” “Ele não comeu aqui”, acrescenta a sra. White com ênfase. “Eu preparei uma peça de carne assada para o almoço de domingo, e, bem, ele não almoçou. Carne assada era um de seus pratos favoritos.” “Ele tinha pipoca e cachorro-quente no estômago”, digo. “Parece que ele os comeu não muito tempo antes de morrer.” Procuro ter certeza de que entendem a esquisitice disso e que o fato exige uma explicação. Os dois têm expressões de desconcerto. Seus olhos se acendem de fascinação e confusão. Dizem que não têm nenhuma idéia concreta de onde Benny teria conseguido essas porcarias, como eles chamam. Lucy pergunta sobre vizinhos, se talvez Benny poderia ter parado na casa de alguém antes de ir para o bosque. De novo, não conseguem imaginá-lo fazendo uma coisa dessas, não na hora do almoço, e os vizinhos são principalmente idosos e nunca dariam a Benny uma refeição ou mesmo salgadinhos sem ligar para seus pais primeiro
para ter certeza de que isso era correto. “Eles não iam estragar o almoço dele sem nos perguntar.” A sra. White tem certeza disso. “Vocês se importariam se eu visse o quarto dele?”, digo então. “Às vezes eu sinto melhor como era um paciente se posso ver onde ele passava o tempo sozinho.” Os White parecem um pouco incertos. “Bem, imagino que não tem problema”, decide o padrasto. Eles nos levam por um corredor até os fundos da casa, e no caminho passamos por um quarto de dormir à esquerda que parece um quarto de menina, com cortinas rosa-claro e uma colcha rosa. Há cartazes de cavalos nas paredes, e a sra. White explica que esse é o quarto de Lori. Ela é a irmã mais nova de Benny e neste momento está na casa da avó em Williamsburg. Ela ainda não voltou para a escola e não vai voltar até o enterro, que é amanhã. Embora não digam, acho que pensaram que não era uma boa idéia a criança estar aqui quando a legista aparecesse vinda do céu e começasse a fazer perguntas sobre a morte violenta de seu irmão. O quarto de Benny é uma coleção de animais de pelúcia: dragões, ursos, pássaros, esquilos, felpudos e doces, muitos deles cômicos. Há dezenas. Seus pais e Lucy ficam junto à porta, sem entrar, enquanto entro e paro no meio do quarto, olhando em volta, deixando que o ambiente fale comigo. Pendurados na parede, há quadros brilhantes feitos com Magic Marker, mais uma vez de animais. Eles mostram imaginação e uma grande dose de talento. Benny era um artista. O sr. White me conta da porta que Benny adorava levar seu bloco de desenhos para fora e desenhar árvores, pássaros, tudo que via. Ele também sempre desenhava quadros para dar de presente às pessoas. O sr. White continua a falar enquanto sua mulher chora em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou olhando para um desenho na parede à direita da cômoda. O quadro colorido e imaginativo retrata um homem em um pequeno bote. Ele usa um chapéu de aba larga e está pescando, a vara inclinada como se ele estivesse tendo sorte. Benny desenhou um sol brilhante e algumas nuvens, e ao fundo, na praia, há um prédio quadrado com muitas janelas e portas. “Esse é o riacho atrás de sua fazenda?”, pergunto. “Isso mesmo”, diz o sr. White, pondo um braço em volta da mulher. “Está tudo bem, querida”, fica dizendo a ela, engolindo forte, como se também ele pudesse começar a chorar. “Benny gostava de pescar?”, a voz de Lucy vem do corredor. “Estou só imaginando, porque algumas pessoas que gostam muito de animais não gostam de pescar. Ou então soltam os peixes.” “Isso é interessante”, digo. “Tudo bem se eu olhar dentro do armário?”, pergunto aos White. “Vá em frente”, diz o sr. White sem hesitação. “Não, Benny não gostava de pegar nada. A verdade é que ele só gostava de sair no bote ou encontrar um lugar para ficar na praia. Na maior parte do tempo ficava lá sentado, desenhando.” “Então este deve ser o senhor.” Olho de volta para o quadro do homem no bote.
“Não, acho que deve ser o pai dele”, responde melancolicamente o sr. White. “O pai dele costumava sair no bote com ele. A verdade é que eu não saía no bote.” Ele faz uma pausa. “Bem, não sei nadar, então não me sinto muito à vontade na água.” “Benny era um pouco tímido com seus desenhos”, diz a sra. White, com voz trêmula. “Acho que ele gostava de levar a vara de pescar porque, bem, a senhora sabe, ele achava que ela o fazia parecer igual aos outros garotos. Acho que ele nem se preocupava em levar isca. Não consigo imaginá-lo matando nem uma minhoca, muito menos um peixe.” “Pão”, diz o sr. White. “Ele pegava pão, como se fosse enrolá-lo em bolas. Eu costumava dizer-lhe que ele não ia pegar nada muito grande se só usasse pão como isca.” Olho ternos, camisas e camisetas em cabides, e sapatos enfileirados no piso. As roupas são conservadoras e parecem ter sido escolhidas pelos pais. Apoiada no fundo do armário há uma espingarda de chumbo, e o sr. White diz que Benny atirava em alvos e latas. Não, ele nunca usava a espingarda em pássaros ou nada parecido. É claro que não. Ele não conseguia nem pegar um peixe, repetem os pais. Sobre a escrivaninha há uma pilha de livros escolares e uma caixa de pincéis Magic Markers. Em cima desta há um caderno de desenhos, e eu pergunto aos pais de Benny se eles o olharam. Dizem que nunca fizeram isso. Tudo bem se eu olhar? Eles fazem que sim com a cabeça. Fico parada diante da escrivaninha. Não me sento nem ajo de nenhuma maneira como se me sentisse em casa no quarto do filho morto deles. Sou respeitosa com o caderno de desenhos e viro as páginas com cuidado, olhando desenhos meticulosos a lápis. O primeiro é um cavalo em um pasto e é surpreendentemente bom. É seguido por vários esboços de falcões pousados em uma árvore desfolhada, com água no fundo. Benny desenhou uma velha cerca quebrada. Desenhou várias cenas de neve. O caderno está cheio até a metade, e todos os esboços são coerentes entre si, até que chego ao último. Então o humor e o tema decididamente mudam. Há uma cena noturna de um cemitério, uma lua cheia atrás de árvores nuas iluminando fracamente lápides inclinadas. Depois olho para uma mão, uma mão musculosa com o punho fechado, e então encontro a cachorra. Ela é gorda e tosca, suas tetas estão à mostra e seu pêlo está eriçado, e ela está agachada, como se se sentisse ameaçada. Olho para os White. “Benny alguma vez falou sobre a cachorra dos Kiffin?”, pergunto a eles. “Uma cachorra chamada Mister Peanut?” O padrasto assume uma expressão peculiar, e seus olhos brilham de lágrimas. Ele suspira. “Lori é alérgica”, diz ele, como se isso respondesse à minha pergunta. “Ele estava sempre se queixando do modo como eles tratavam aquela cachorra”, ajuda a sra. White. “Benny queria saber se podíamos ficar com Mister Peanut. Ele queria a cachorra e dizia que achava que os Kiffin abririam mão dela, mas nós não podíamos.” “Por causa de Lori”, infiro. “Ela também era uma cachorra velha”, acrescenta a sra. White.
“Era?”, pergunto. “Bem, é realmente triste”, diz ela. “Logo depois do Natal, Mister Peanut não parecia estar se sentindo bem. Benny disse que a pobre cachorra estava tremendo e se lambendo muito, como se estivesse sentindo dor, a senhora sabe. Então há mais ou menos uma semana ela deve ter ido embora para morrer, a senhora sabe como os animais fazem isso. Benny saía para procurar Mister Peanut todos os dias. Aquilo me cortava o coração. Aquele garoto realmente adorava aquela cachorra”, acrescenta a sra. White. “Acho que essa era a principal razão para ele ir lá — brincar com Mister Peanut —, e ele procurou por ela em todos os lugares.” “Foi quando o comportamento dele começou a mudar?”, sugiro. “Depois que Mister Peanut desapareceu?” “Foi mais ou menos nessa época”, responde o sr. White, e nenhum deles parece suportar entrar no quarto de Benny. Ficam segurando o vão da porta como se estivessem sustentando as paredes. “A senhora não acha que ele fez uma coisa daquelas por causa de uma cachorra, acha?” Ele está quase deplorável quando pergunta.
Uns quinze minutos depois, seguimos juntas na direção do bosque, deixando os pais na casa. Eles não foram à plataforma de caça onde Benny estava enforcado. O sr. White me contou que sabia da plataforma e a viu muitas vezes quando estava fora com seu detector de metais, mas nem ele nem a mulher conseguem ir até lá neste momento. Pergunto-lhes se acham que outras pessoas conheciam o lugar onde Benny morreu — preocupa-me que curiosos possam ter perambulado por lá, mas os pais acham que ninguém sabe exatamente onde o corpo de Benny foi encontrado. A menos que o detetive tenha contado às pessoas por lá, acrescenta o sr. White. O campo onde aterrissamos fica entre a casa e o riacho, um pedaço de terra inculta que parece não ter visto um arado em muitos anos. A leste, há quilômetros de bosques, um silo quase na praia, acumulando ferrugem e escuro como um farol grosso e cansado, que parece olhar por cima da água para o Fort James Motel and Campground. Quando imagino Benny visitando os Kiffin, pergunto-me como ele chegava lá. Não há ponte sobre o riacho, que tem cerca de trinta metros de largura e não tem nenhum escoadouro. Lucy e eu seguimos a trilha através do bosque, olhando em todos os lugares onde pisamos. Há linha de pescar emaranhada presa nas árvores perto da água, e noto alguns cartuchos de espingarda velhos e latas de refrigerante. Não caminhamos mais do que cinco minutos quando deparamos com o esconderijo de caça. Parece uma casa de árvore decapitada que alguém montou às pressas, com degraus de madeira pregados no tronco. Uma corda de náilon amarelo esgarçada pende de uma viga e é agitada por uma brisa leve que sopra da água e sussurra através das árvores. Paramos e ficamos em silêncio enquanto olhamos em volta. Não vejo nenhum lixo — nem sacos nem embalagens de pipoca, e nenhum sinal de que Benny poderia ter comido aqui. Chego mais perto da corda. Stanfield a cortou a cerca de um metro do solo, e, como Lucy é mais atlética do que eu, sugiro que
ela suba na plataforma e remova a corda com cuidado. Pelo menos podemos dar uma olhada no nó na outra ponta. Primeiro tiro fotos. Testamos os degraus pregados na árvore, e eles parecem suficientemente firmes. Lucy está usando um casaco grosso almofadado que não parece atrapalhar quando ela sobe, e ela toma cuidado quando chega à plataforma, empurrando e batendo em tábuas para ter certeza de que podem suportar seu peso. “Parece bem firme”, ela me informa. Pego um rolo de fita de evidências e ela abre um canivete Buck Tool. Uma coisa que sei dos agentes do ATF É que eles carregam seus kits de ferramentas portáteis, que incluem lâminas, chaves de fenda, alicates, tesouras. Pode ser que precisem deles em cenas de incêndio, se não for por outro motivo, para tirar pregos das solas das botas reforçadas com aço. Os agentes do ATF se sujam. Enfrentam todos os tipos de riscos. Lucy corta a corda acima do nó e cola as pontas juntas. “Apenas um nó direito duplo”, diz ela, deixando cair a corda e a fita para mim. “Apenas um bom nó de escoteiro, e a ponta está derretida. Quem cortou a ponta derreteu-a para que ela não se desfizesse.” Isso me deixa um pouco surpresa. Eu não esperava que alguém se preocupasse com um detalhe desses se estivesse cortando uma corda para se enforcar com ela. “Atípico”, comento com Lucy quando ela desce. “Sabe de uma coisa?, vou ser ousada e dar uma olhada.” “Mas tome cuidado, tia Kay. Há alguns pregos enferrujados para fora. E cuidado com lascas”, diz ela. Imagino se Benny poderia ter adotado essa velha plataforma como um forte na árvore. Aperto tábuas cinzentas desgastadas, uma depois da outra, e subo, grata por estar usando calça cáqui e botas de meio cano. Dentro do esconderijo de caça há um banco onde o caçador pode se sentar enquanto espera que um cervo desavisado apareça. Testo o banco empurrando-o, e ele parece bom, então me sento. Benny era só alguns centímetros mais alto do que eu, portanto agora tenho a visão que ele tinha, supondo que ele tenha vindo aqui. Tenho uma forte sensação de que ele fez isso. Alguém esteve aqui. Senão, o piso da plataforma estaria coberto de folhas mortas, e não está. “Você notou como está limpo aqui em cima?”, digo a Lucy. “Provavelmente ainda está sendo usado por caçadores”, ela responde. “Um caçador vai se preocupar em varrer as folhas às cinco da manhã?” Deste ponto de vista, tenho uma visão abrangente da água e consigo ver os fundos do motel e sua piscina escura e lodosa. A fumaça sai da chaminé da casa de Kiffin. Visualizo Benny sentado aqui espionando a vida enquanto desenhava e talvez fugisse da tristeza que devia sentir desde a morte do pai. Posso imaginar muito bem, pois me lembro de minha própria vida de criança. O esconderijo seria um lugar perfeito para um garoto solitário e criativo, e a apenas alguns metros da beira da água há um grande carvalho com o tronco coberto de kudzu, como se estivesse usando polainas. Consigo imaginar um falcão de rabo vermelho sentado num galho lá no alto. “Acho que talvez ele tenha desenhado aquela árvore daqui”, digo a Lucy. “Ele tinha uma visão muito boa do acampamento.” “Imagino se ele viu alguma coisa”, Lucy joga para mim.
“Não brinque”, respondo sombriamente. “E alguém podia estar olhando de volta”, acrescento. “Nesta época do ano, sem folhas nas árvores, talvez ele fosse visível aqui. Especialmente se alguém tivesse um binóculo e tivesse algum motivo para estar olhando para cá.” No mesmo momento em que digo isso, ocorre que alguém pode estar olhando para nós agora. Sinto um calafrio enquanto desço. “Você está com sua pistola na mochila, não está?”, digo a Lucy quando ponho os pés no chão. “Eu gostaria de seguir essa trilha e ver aonde ela leva.” Pego a corda, enrolo-a e ponho-a dentro de um saco plástico, que depois enfio em um bolso do casaco. A fita de evidências está dentro de minha sacola. Lucy e eu seguimos pela trilha. Encontramos mais cartuchos de espingarda e até uma flecha da temporada de arco-e-flecha. Entramos mais fundo no bosque, a trilha dando voltas em torno do riacho, nenhum som, a não ser o de árvores gemendo quando há uma rajada de vento, ou o estalar de galhos sob nossos pés. Quero ver se a trilha nos leva até o outro lado do riacho, e ela faz isso mesmo. É uma caminhada de apenas quinze minutos até o Fort James Motel, e terminamos no bosque entre o motel e a rodovia 5. Benny certamente pode ter vindo até aqui depois da igreja. Há meia dúzia de carros no estacionamento do motel, alguns deles alugados, e uma grande motocicleta Honda estacionada perto da máquina de Coca. Lucy eu andamos em direção à casa de Kiffin. Aponto para o acampamento onde encontramos a roupa de cama e o carrinho de bebê, e sinto uma mistura de raiva e tristeza ao pensar em Mister Peanut. Não confio na história de a cachorra supostamente ter saído para morrer. Preocupa-me que Bev Kiffin tenha feito alguma coisa cruel, talvez até envenenado a cachorra, e pretendo perguntar a ela o que aconteceu, além de várias outras coisas. Não me interessa como ela vai reagir. A partir de hoje, estou encalhada, sem cargo, suspensa de minha profissão. Não posso saber com certeza se jamais voltarei a exercer a medicina legal. Posso ser demitida e ficar marcada para sempre. Diabo, posso terminar na prisão. Sinto que nos olham enquanto subimos os degraus da varanda da frente da casa de Kiffin. “Este lugar dá arrepios”, Lucy sussurra. Um rosto aparece atrás da cortina e sai de nossa vista quando o filho mais velho de Bev Kiffin me pega olhando para ele. Toco a campainha e o garoto abre a porta, o mesmo que vi quando estive aqui. Ele é alto e pesado e tem um rosto cruel, marcado pela acne. Não consigo dizer sua idade, mas imagino que tenha doze, talvez catorze anos. “Você é a moça que esteve aqui outro dia”, ele me diz com um olhar duro. “Isso mesmo”, respondo. “Você pode dizer a sua mãe que a doutora Scarpetta está aqui e precisa falar com ela?” Ele sorri como se soubesse um segredo maldoso que acha engraçado. Reprime uma risada. “Ela não está aqui agora. Está ocupada.” Os olhos dele se endurecem e olham na direção do motel. “Como é seu nome?”, Lucy pergunta a ele. “Sonny.” “Sonny, o que aconteceu com Mister Peanut?”, pergunto casualmente.
“Aquela cachorra idiota”, diz ele. “Imaginamos que alguém a tenha roubado.” Acho impossível acreditar que alguém teria roubado aquela cachorra velha e esgotada, e ela não era amistosa com estranhos. No máximo, eu esperaria que ela tivesse sido atropelada por um carro. “Ah, é? Isso é muito ruim”, Lucy responde a Sonny. “Por que você acha que alguém a roubou?” Sonny é apanhado de surpresa pela pergunta. Seu olhar é inexpressivo e ele começa a contar várias mentiras, interrompendo-se o tempo todo. “É..., apareceu um carro aqui de noite. Eu o ouvi, sabe, e uma porta se fechou e ela estava latindo, então foi isso. Ela foi embora. Zack chora o tempo todo por causa disso.” “Quando ela desapareceu?”, quero saber. “Ah, não sei.” Ele dá de ombros. “Na semana passada.” “Bem, Benny também ficou muito chateado com isso”, comento, observando a reação dele. De novo aquele olhar frio. “Os garotos na escola chamavam ele de maricas. Ele era mesmo maricas. Foi por isso que ele se matou. Todo mundo diz isso”, responde Sonny, com uma dureza assombrosa. “Pensei que vocês dois eram amigos.” Lucy está ficando agressiva com ele. “Ele me irritava”, responde Sonny. “Sempre vinha aqui brincar com aquela maldita cachorra. Ele não era meu amigo. Era amigo de Zack e de Mister Peanut. Eu não ando com nenhum maricas.” Um motor de motocicleta ruge estrondosamente. O rosto de Zack aparece na janela à direita da porta da frente, e ele está chorando. “Benny veio aqui no último domingo?”, pergunto logo a Sonny. “Depois da igreja? Lá pelo meio-dia e meia, uma hora. Ele comeu cachorro-quente com você?” Sonny é de novo apanhado de surpresa. Ele não esperava esse detalhe sobre os cachorros-quentes e agora está numa enrascada. Sua curiosidade é maior do que sua enganação, e ele diz: “Como você sabe que nós comemos cachorro-quente?”. Ele franze o cenho enquanto a motocicleta que vimos há alguns minutos ronca pela trilha suja que leva do motel à casa de Kiffin. Quem quer que esteja nela vem bem em nossa direção, vestido com roupa de couro vermelho e preta, o rosto obscurecido por um capacete escuro com um visor tingido. Mas há algo familiar na pessoa. A percepção me deixa atordoada. Jay Talley pára e desce da motocicleta, jogando rapidamente uma perna por cima da grande sela. “Sonny, entre na casa”, ordena Jay. “Agora.” Ele diz isso com frieza, como se conhecesse muito bem o garoto. Sonny volta para dentro da casa e a porta se fecha. Zack sumiu da janela. Jay tira o capacete. “O que você está fazendo aqui?”, Lucy pergunta a ele, e ao longe vejo Bev Kiffin caminhando em nossa direção, segurando uma espingarda, vindo do motel, onde posso supor que ela estava com Jay. Sinais de alerta pipocam em
todos os lugares dentro de minha cabeça, e nem Lucy nem eu fazemos a ligação com suficiente rapidez. Jay está abrindo o zíper de sua grossa jaqueta de couro e quase instantaneamente ele tem uma pistola na mão, uma pistola preta descansando a seu lado. “Porra”, diz Lucy. “Pelo amor de Deus, Jay.” “Eu realmente preferia que você não tivesse vindo aqui”, ele me diz num tom frio e calmo. “Eu realmente preferia que você não tivesse.” Ele aponta a pistola na direção do motel. “Venha. Vamos ter uma conversinha.” Correr. Mas não há nenhum lugar para correr. Se eu correr, ele pode atirar em Lucy. Pode atirar em mim pelas costas. Ele levanta a pistola e aponta para o peito de Lucy enquanto solta a mochila dela. Com certeza ele sabe o que há dentro dela. Então pega minha sacola e me revista, certificando-se de que explora meu corpo intimamente, para me degradar, para me pôr no meu lugar, para se deleitar com a fúria que dança no rosto de Lucy enquanto ela é obrigada a assistir. “Não”, digo calmamente a ele. “Jay, pode parar agora.” Ele sorri, e uma fúria sombria cintila em um rosto que poderia ser grego. Poderia ser italiano. Poderia ser francês. Bev Kiffin nos alcança e aperta os olhos quando olha para mim. Ela usa o mesmo casaco de lenhador vermelho que estava usando na semana passada, e seu cabelo está desgrenhado como se ela acabasse de sair da cama. “Ora, ora”, diz ela. “Algumas pessoas nunca entendem a mensagem de que não são bem-vindas, não é?” Ela desvia os olhos de mim e olha fixo para Jay. Sem que me digam, sei que eles dormiram juntos, e cada palavra que Jay já me disse vira fábula. Agora entendo por que a agente Jilison McIntyre ficou perplexa quando eu disse que o marido de Bev Kiffin era motorista da Overland. McIntyre trabalhava disfarçada. Era ela que fazia a contabilidade da empresa. Saberia se houvesse um empregado chamado Kiffin. A única ligação com aquela transportadora infestada de criminosos era a própria Bev Kiffin, e o contrabando de armas e remédios que acontece lá está ligado ao cartel Chandonne. Respostas. Eu as tenho, e agora é tarde demais. Lucy vem para perto de mim, seu rosto duro como concreto. Ela não demonstra nenhuma reação enquanto caminhamos sob a ameaça de uma pistola, passando por trailers enferrujados que suspeito que estão desocupados por uma razão. “Laboratórios de droga”, digo a Jay. “Vocês estão fazendo drogas sintéticas aqui também? Ou talvez apenas estocando rifles de assalto e outras coisas que terminam na rua matando pessoas?” “Kay, cale a boca”, ele diz gentilmente. “Bev, você cuida dela.” Ele indica Lucy. “Encontre um bom quarto para ela e certifique-se de que ela está confortável.” Bev Kiffin ri um pouco. Ela bate na parte de trás da perna de Lucy com a espingarda. Agora estamos no motel, e vejo carros estacionados e não encontro nenhum sinal de outro ser humano. Benton surge em flashes em minha mente. Meu coração se acelera e a percepção me invade o cérebro. Bonnie e Clyde. Costumávamos nos referir a Carrie Grethen e Newton Joyce como Bonnie e Clyde. O casal assassino. O tempo inteiro estivemos tão certos de que eles eram os responsáveis pelo assassinato de Benton. Mas nunca soubemos com certeza
com quem Benton ia se encontrar naquela tarde em Filadélfia. Por que ele foi sozinho e não contou a nenhum de nós? Ele era mais esperto que isso. Nunca teria concordado em encontrar Carrie Grethen, ou Newton Joyce, ou mesmo um estranho com alguma informação, porque nunca teria confiado em um estranho com alguma suposta informação quando estava na cidade tentando encontrar uma assassina serial ardilosa e má como Carrie. Paro no estacionamento enquanto Kiffin abre a porta e espera que Lucy siga na frente dela para um dos quartos. Quarto 14. Lucy não olha para mim, e a porta se fecha atrás dela e de Kiffin. “Você matou Benton, não matou, Jay?” Declaro isso como um fato. Ele põe uma mão em minhas costas, a pistola apontada e me tocando enquanto ele pára atrás de mim e diz para eu abrir a porta. Entramos no quarto 15, o mesmo que Kiffin me mostrou quando eu quis ver que tipo de colchão e roupa de cama ela usava nesta espelunca. “Você e Bray”, digo a Jay. “Foi por isso que ela enviou cartas de Nova York , tentando fazer parecer que elas eram de Carrie, para fazer Benton supor que eram escritas lá de onde ela estava presa, em Kirby.” Jay fecha a porta e faz um gesto com a pistola, quase aborrecido, como se eu fosse cansativa e ele não estivesse gostando disso. “Sente-se.” Meus olhos miram o teto, procurando parafusos com olhal. Pergunto-me onde está a pistola de ar quente e se ela faz parte de meu destino. Fico parada onde estou, perto da cômoda com sua Bíblia de Gideão, mas esta não está aberta em nenhum capítulo especial sobre vaidade ou qualquer outra coisa. “Só queria saber se dormi com a pessoa que matou Benton.” Olho direto para Jay. “Você vai me matar? Vá em frente. Mas você já fez isso quando o matou. Então eu imagino que você pode me matar duas vezes, Jay.” É estranho, não sinto medo, só resignação. Minha dor, minha angústia é por causa de minha sobrinha, e espero que o som de uma espingarda sacuda estas paredes. “Você não pode deixá-la fora disso?”, pergunto de qualquer forma, e Jay sabe que falo de Lucy. “Eu não matei Benton”, diz ele, e tem o rosto lívido de pessoas que se adiantam e atiram num presidente. Pálido, sem nenhuma expressão, um zumbi. “Carrie e o amigo babaca dela fizeram aquilo. Eu dei o telefonema.” “Telefonema?” “Liguei para ele para marcar o encontro. Isso não foi difícil. Eu sou um agente”, ele gosta de me lembrar. “Carrie administrou tudo de lá. Carrie e aquele gângster assassino com quem ela se enganchou.” “Então você armou uma cilada para ele”, digo, simplesmente. “Provavelmente também ajudou Carrie a fugir.” “Ela não precisou de muita ajuda. Um pouco”, ele responde sem nenhuma inflexão na voz. “Ela era como muitas pessoas neste negócio. Pegam as mercadorias e ferram um cérebro que já está ferrado. Ela começou a agir por conta própria. Anos atrás. Se vocês não tivessem resolvido o problema, nós teríamos. Porque ela estava no fim de sua vida útil.” “Envolvida nos negócios da família, Jay?” Alfineto-o com os olhos. A pistola está a seu lado e ele se recosta na porta. Não tem medo de mim. Sou como uma corda de arco muito esticada, prestes a arrebentar, esperando,
ouvindo qualquer som no quarto ao lado. “Todas essas mulheres assassinadas — com quantas delas você dormiu primeiro? Como Susan Pless.” Balanço a cabeça. “Eu só quero saber se você ajudou Chandonne ou ele o seguiu e se serviu do que você deixou para trás?” Os olhos de Jay me olham mais intensamente. Sondei a verdade. “Sabe, você é muito jovem para ser Jay Talley, seja lá quem fosse ele”, digo depois. “Jay Talley sem nenhum nome do meio. E você não estudou em Harvard, e duvido que jamais tenha morado em Los Angeles, não quando criança. Ele é seu irmão, não é, Jay? Aquela horrível deformidade que se autodenomina lobisomem? Ele é seu irmão, e o DNA de vocês é tão próximo que numa varredura de rotina vocês poderiam ser gêmeos idênticos. Você sabe que seu DNA é o mesmo que o dele numa varredura de rotina? Usando-se quatro amostras, vocês dois são exatamente o mesmo.” A raiva pisca. O belo e vaidoso Jay jamais gostaria de pensar que seu DNA fosse sequer similar ao de alguém tão feio e hediondo como Jean-Baptiste Chandonne. “E o corpo no contêiner do cargueiro. Aquele que você nos ajudou a acreditar que é do irmão — Thomas. O DNA dele também tinha muitos pontos em comum, mas não tantos quanto o seu — do fluido seminal que você deixou no corpo de Susan Pless antes de ela ser brutalizada. Thomas é um parente? Não é irmão? O quê? Um primo? Você também o matou? Você o afogou em Antuérpia ou foi Jean-Baptiste que fez isso? Então você me atraiu para a Interpol, não porque precisasse de minha ajuda no caso, mas porque queria ver o que eu sabia. Queria ter certeza de que não sei o que Benton provavelmente estava começando a imaginar: que você é um Chandonne”, digo, e Jay não reage. “Você provavelmente planeja os negócios para seu pai, e é por isso que entrou num órgão policial, para ser um babaca disfarçado, um espião. Sabe Deus quantos negócios você desviou — conhecendo tudo que os mocinhos estão fazendo e depois voltando tudo contra eles nas costas deles.” Balanço a cabeça. “Deixe Lucy ir embora”, digo a ele. “Eu farei o que você quiser. Apenas a deixe ir embora.” “Não posso.” Ele nem sequer começa a discutir o que acabei de dizer. Jay olha para a parede, como se pudesse ver através dela. Posso dizer que está imaginando o que está acontecendo no quarto ao lado, por que está tudo tão quieto. Meus nervos ficam mais tensos. Por favor, Deus, por favor, Deus. Por favor. Pelo menos faça com que seja rápido. Não permita que ela sofra. Jay tranca a fechadura e prende a corrente contra ladrões. “Tire as roupas”, diz ele, não mais usando meu nome. É mais fácil matar pessoas que foram despersonalizadas. “Não se preocupe”, ele acrescenta bizarramente. “Não vou fazer nada. Apenas tenho de fazer parecer que foi outra coisa.” Olho para o teto. Ele sabe no que estou pensando. Está pálido e suando quando abre uma gaveta da cômoda e tira de lá vários parafusos com olhal e uma pistola de ar quente, uma pistola de ar quente vermelha. “Por quê?”, pergunto a ele. “Por que eles?” Refiro-me aos dois homens que agora acredito que Jay assassinou.
“Você vai aparafusar estes no teto por mim”, ele me diz. “Lá naquela viga. Agora suba na cama e faça isso e não tente nada.” Ele põe os parafusos sobre a cama e acena com a cabeça para que eu os pegue e faça o que ele ordena. “É o que se torna necessário quando as pessoas se metem onde não deviam.” Ele pega um pedaço de pano e corda na gaveta. Fico parada onde estou, apenas olhando para ele. Os parafusos brilham como peltre na cama. “Matos veio aqui para encontrar Jean-Baptiste e foi preciso um pouco de persuasão para saber exatamente o que ele tinha em mente e quem dera a ordem a ele, que não foi o que você pensa.” Jay tira a jaqueta de couro e a estende sobre uma cadeira. “Não a família, mas um primeiro-tenente que não quer que Jean-Baptiste comece a falar e arruíne uma coisa que é boa para muitas pessoas. Uma coisa na família...” “Sua família, Jay”, lembro a ele de sua família e que o conheço pelo nome. “É.” Ele me encara. “É, porra, minha família. Nós cuidamos uns dos outros. Não importa o que a pessoa faça, família é família. Jean-Baptiste é um problema, quer dizer, qualquer pessoa pode olhar para ele e ver isso, e entender por que ele tem seu problema.” Não digo nada. “É claro que nós não aprovamos”, prossegue Jay, como se estivesse falando de um garoto que está atirando nas lâmpadas da rua ou bebendo cerveja demais. “Mas ele tem nosso sangue, e ninguém toca em nosso sangue.” “Alguém tocou em Thomas”, respondo, e ainda não peguei os parafusos nem subi na cama. Não tenho nenhuma intenção de ajudá-lo a me atormentar. “Você quer saber a verdade? Aquilo foi um acidente. Thomas não sabia nadar. Ele tropeçou em uma corda e caiu do tombadilho, ou algo do tipo”, ele me diz. “Eu não estava lá. Ele se afogou. Jean-Baptiste queria levar o corpo dele para bem longe do estaleiro, longe de outras coisas que aconteciam lá, e não queria que o identificassem.” “Bobagem”, respondo. “Me desculpe, mas Jean-Baptiste deixou um bilhete com o corpo. Bon Voyage Le Loup-garou. Alguém faz isso quando não quer chamar a atenção para alguma coisa? Eu não acho. Talvez seja melhor você verificar de novo a história do seu irmão. Talvez sua família tome conta da família. Talvez Jean-Baptiste seja uma exceção. Parece que ele não toma conta da família coisa nenhuma.” “Thomas era um primo.” Como se isso reduzisse o crime. “Levante-se e faça o que eu digo.” Ele indica os parafusos, e está começando a ficar com raiva, muita raiva. “Não”, eu me recuso. “Faça o que você tem de fazer, Jay”, e digo o tempo todo o nome dele. Eu o conheço. Não vou deixá-lo fazer isso comigo sem dizer o nome dele e olhar para ele no olho. “Não vou ajudá-lo a me matar, Jay.” Um baque soa no quarto ao lado, como se alguma coisa tivesse se virado ou caído no chão, e depois há uma explosão e meu coração cambaleia. As lágrimas me fazem engasgar e me enchem os olhos. Jay se encolhe e então seu rosto fica impassível. “Sente-se”, ele me diz. Quando não faço isso, ele chega
mais perto e me empurra na cama enquanto choro. Choro por Lucy. “Seu filho-da-puta desgraçado”, exclamo. “Você também matou aquele garoto? Você levou Benny e o enforcou, um garoto de doze anos?” “Ele não devia ter vindo aqui. Mitch também não devia. Eu conhecia Mitch. Ele me viu. Não havia nada que eu pudesse fazer.” Jay fica em cima de mim como se não soubesse ao certo o que fazer. “Então você matou o garoto.” Enxugo os olhos com as costas das mãos. A confusão pisca nos olhos de Jay. Ele tem um problema com o garoto. O resto de nós não o incomoda, mas o garoto sim. “Como você pôde ficar parado lá vendo ele se enforcar? Um garoto? Um garoto vestido com seu terno de domingo.” Jay levanta a mão e me dá um tapa no rosto. Acontece tão rápido que no começo nem sinto. Minha boca e meu nariz ficam entorpecidos e começam a picar, e alguma coisa molhada pinga. O sangue pinga em meu colo. Deixo-o cair enquanto tremo toda e olho fixo para Jay. Agora é mais fácil para ele. Ele começou o processo. Ele me empurra contra a cama e abre bem meus braços e pernas, segurando os braços com seus joelhos, e meu cotovelo fraturado grita enquanto ele força minhas mãos acima de minha cabeça e luta para amarrá-las com a corda. O tempo todo ele está rosnando sobre Diane Bray. Está zombando de mim, me contando que ela conhecia Benton, e Benton nunca me contou que Bray tinha uma coisa por ele? Porque se Benton tivesse sido um pouco mais legal com ela, talvez ela o tivesse deixado em paz. Talvez ela tivesse me deixado em paz. Minha cabeça martela. Mal entendo o que ele diz. Eu realmente pensava que Benton teve um caso apenas comigo? Fui estúpida a ponto de pensar que Benton traía sua mulher, mas nunca me traiu? Que porra de estúpida sou eu? Jay se levanta para pegar a pistola de ar quente. As pessoas fazem o que fazem, ele diz. Benton teve alguma coisa com Bray em Washington, e depois, quando ele se livrou dela, e fez isso muito rápido, esse crédito é dele, ela não ia deixar passar. Não Diane Bray. Jay está tentando me amordaçar e fico balançando a cabeça de um lado para outro. Meu nariz está sangrando. Não vou conseguir respirar. Bray pegou Benton de jeito, tudo bem, e era em parte por isso que ela queria se mudar para Richmond, para ter certeza de que também arruinaria minha vida. “Um senhor preço a pagar por trepar com alguém algumas vezes.” Jay sai da cama outra vez. Está suando, seu rosto está pálido. Luto para respirar pelo nariz, e meu coração está batendo como uma metralhadora enquanto meu corpo inteiro começa a entrar em pânico. Tento me convencer a me acalmar. Hiperventilar só vai tornar mais difícil minha respiração. Pânico. Tento inalar e o sangue está pingando do fundo de minha garganta, e tusso e gaguejo enquanto meu coração explode contra as costelas, como punhos tentando derrubar uma porta. Bate, bate, bate, e a imagem do quarto fica granulada e não consigo mais me mexer.
34
Duas semanas depois
Aqueles que se reuniram em minha honra são pessoas comuns. Estão sentados quietos, até reverentes, quase em choque. Não é possível que não tenham sabido de tudo que esteve no noticiário. Seria preciso que alguém vivesse no interior da África para não saber o que aconteceu nas últimas semanas, especialmente o que aconteceu no condado de James City numa pocilga que é uma armadilha para turistas e que se revelou como o olho de uma tempestade monstruosa de corrupção e mal. Tudo parecia muito quieto naquele acampamento arruinado e cheio de mato. Não consigo imaginar como muitas pessoas ficaram em barracas ou no motel e não tinham nenhuma idéia da violência que acontecia em volta. Como um furacão que é levado para o mar, as forças violentas fugiram. Pelo que sabemos, Bev Kiffin não morreu. Nem Jay Talley. Ironicamente, agora ele é considerado um alerta vermelho pela Interpol: as mesmas pessoas com quem ele trabalhava antes o estão perseguindo numa ação furiosa e diversificada. Kiffin também é um alerta vermelho. A suposição é que Jay Talley e Kiffin fugiram dos Estados Unidos e estão escondidos em algum lugar no exterior. Jaime Berger está de pé diante de mim. Estou na tribuna das testemunhas, de frente para um júri de três mulheres e cinco homens. Dois são brancos, cinco são afro-americanos, um é asiático. As raças de todas as vítimas de Chandonne estão representadas, embora isso não tenha sido deliberado por ninguém, tenho certeza. Mas parece justo, e estou contente. A porta de vidro da sala do tribunal foi coberta com papel marrom para garantir que os curiosos, a mídia, não consigam olhar o que acontece aqui dentro. Jurados, testemunhas e eu entramos no tribunal por uma rampa no subsolo, da mesma forma que os prisioneiros são escoltados para seus julgamentos. O segredo gela o ar e os jurados olham para mim como se eu fosse um fantasma. Meu rosto está amarelo-esverdeado de velhas contusões, meu braço esquerdo está outra vez engessado e ainda tenho queimaduras de corda em volta dos pulsos. Só estou viva porque Lucy estava usando um protetor para o corpo. Eu não tinha idéia disso. Quando ela me pegou no helicóptero, usava um colete à prova de bala debaixo da jaqueta acolchoada. Berger está me perguntando sobre a noite em que Diane Bray foi assassinada. É como se eu fosse uma casa onde há uma música diferente tocando em cada aposento. Estou respondendo às perguntas dela, e no entanto estou pensando em outras coisas, outras imagens me vêm à mente e ouço outros sons em diferentes áreas de minha psique. De alguma forma consigo me concentrar em meu testemunho. A fita da caixa registradora da picareta de entalhar que comprei é mencionada. Então Berger lê o relatório do laboratório que foi passado ao tribunal para registro, assim como o protocolo de autópsia, o exame toxicológico e todos os outros relatórios. Berger descreve a picareta de
entalhar aos jurados e me pede que explique como as superfícies da picareta estão correlacionadas com os horrendos ferimentos de Bray. Isso demora um pouco, e olho para os rostos daqueles que estão aqui para me julgar. As expressões variam de passivas a intrigadas, a horrorizadas. Uma mulher fica visivelmente enjoada quando descrevo áreas esmagadas do crânio e um globo ocular que estava praticamente arrancado, ou pendendo da órbita. Berger observa que, de acordo com o relatório do laboratório, a picareta de entalhar recuperada na minha casa estava enferrujada. Ela me pergunta se a picareta que comprei da loja de ferramentas depois do assassinato de Bray estava enferrujada. Digo que não. “Uma ferramenta como essa poderia enferrujar em apenas algumas semanas?”, ela me pergunta. “Na sua opinião, doutora Scarpetta, o sangue na picareta de entalhar foi a causa de a picareta estar nesta condição — na condição da que foi recuperada de sua casa, aquela que a senhora diz que Chandonne levou com ele quando a atacou?” “Na minha opinião, não”, respondo, sabendo que é do meu interesse responder assim. Mas não importa. Eu diria a verdade mesmo que não fosse do meu interesse. “Por um lado, a polícia deve, como um procedimento de rotina, ter certeza de que a picareta está seca quando ela é colocada em um saco de evidências”, acrescento. “E os cientistas que receberam a picareta de entalhar para exame dizem que ela estava enferrujada, certo? O que quero dizer é que estou lendo este relatório do laboratório corretamente, não estou?” Ela sorri ligeiramente. Está vestida com um terno preto com faixas azul-claras, e anda em pequenas passadas enquanto desenvolve o caso. “Eu não sei o que os laboratórios disseram”, respondo. “Não vi esses relatórios.” “É claro que não. A senhora está fora do trabalho há mais ou menos dez dias. E, humm, este relatório só foi apresentado anteontem.” Ela olha para a data datilografada nele. “Mas ele diz que a picareta de entalhar na qual há sangue de Bray estava enferrujada. Parecia velha, e acredito que o funcionário da Pleasant’s Hardware Store afirma que a picareta que a senhora comprou na noite de 17 de dezembro — quase vinte e quatro horas depois do assassinato de Bray — certamente não parecia velha. Era novinha em folha. Correto?” Mais uma vez, não posso dizer o que o funcionário da loja declarou, lembro a Berger da tribuna enquanto os jurados captam cada palavra, cada gesto. Fui excluída de todos os depoimentos das testemunhas. Berger está simplesmente me fazendo perguntas que não posso responder para que possa contar aos jurados o que quer que eles saibam. O que é traiçoeiro e maravilhoso em qualquer procedimento de grande júri é que o advogado de defesa não está presente e não há juiz — ninguém para objetar às perguntas de Berger. Ela pode me perguntar qualquer coisa, e faz isso, porque, em um dos raros exemplos neste planeta, uma promotora está tentando mostrar que a acusada é inocente. Berger pergunta a que horas cheguei em casa de Paris e saí para fazer compras no supermercado. Ela menciona minha ida ao hospital para visitar Jo naquela noite, e a conversa por telefone com Lucy depois disso. A janela se
estreita. Fica mais e mais apertada. Quando tive tempo para ir correndo à casa de Bray, bater nela até ela morrer, plantar evidências e encenar o crime? E por que eu me preocuparia em comprar uma picareta de entalhar quase vinte e quatro horas depois do fato, a menos que fosse com o propósito que declarei o tempo todo: realizar testes? Ela deixa essas questões pairarem, enquanto Buford Righter está sentado na mesa da promotoria e estuda anotações em um bloco de memorandos. Ele evita olhar para mim o máximo que consegue. Respondo a Berger ponto por ponto. Fica cada vez mais difícil eu falar. A parte interna da minha boca foi escoriada pela mordaça, e depois os ferimentos ficaram ulcerados. Não tive feridas bucais desde quando era criança e tinha esquecido como elas são dolorosas. Quando minha língua ulcerada bate em meus dentes enquanto falo, parece que tenho um defeito de fala. Sinto-me fraca e esgotada. Meu braço esquerdo lateja, outra vez engessado porque foi novamente ferido quando Jay puxou meus braços com força acima de minha cabeça e os amarrou à cabeceira da cama. “Percebo que a senhora está tendo alguma dificuldade para falar.” Berger faz uma pausa para observar isso. “Doutora Scarpetta, sei que isto está fora do tema.” Nada está fora do tema para Jaime Berger. Ela tem uma razão para cada respiro, cada passo que dá, cada expressão em seu rosto — tudo, absolutamente tudo. “Mas podemos fazer uma pequena digressão?” Ela pára de andar e põe as palmas das mãos para cima, contraindo os ombros. “Penso que seria instrutivo se a senhora contasse ao júri o que lhe aconteceu na semana passada. Sei que o júri deve estar se perguntando por que a senhora está machucada e tendo dificuldade de falar.” Ela enfia as mãos nos bolsos da calça e pacientemente me estimula a contar minha história. Desculpo-me por não estar em minha melhor forma no momento, e os jurados riem. Conto-lhes sobre Benny e seus rostos se afligem. Os olhos de um homem se enchem de lágrimas quando descrevo os desenhos do garoto que me levaram à plataforma de caça onde acredito que Benny passava grande parte de seu tempo observando o mundo e registrando-o em imagens em seus cadernos de desenhos. Expresso meus temores de que o jovem Benny talvez tenha deparado com criminosos. Seu conteúdo gástrico, explico, não pôde ser explicado pelo que sabemos sobre as últimas horas de sua vida. “E às vezes pedófilos — molestadores de crianças — atraem crianças com doces, comida, algo que as seduza. A senhora teve casos como esse, doutora Scarpetta?”, Berger me pergunta. “Sim”, respondo. “Infelizmente.” “A senhora poderia nos dar um exemplo de um caso em que uma criança foi atraída por comida ou doces?” “Há alguns anos recebemos o corpo de um garoto de oito anos”, apresento um caso de minha experiência pessoal. “Na autópsia, determinei que ele tinha sido asfixiado quando o perpetrador forçou o garoto, uma criança de oito anos, a praticar sexo oral. Recuperei goma do estômago da criança, um chumaço bem grande de chiclete. Depois ficou claro que um vizinho adulto tinha dado quatro tabletes de chiclete ao garoto, Dentyne, e esse homem de fato confessou o assassinato.”
“Portanto a senhora tinha bons motivos, baseada em seus anos de experiência, para ficar preocupada quando encontrou pipoca e cachorro-quente no estômago de Benny White”, declara Berger. “Está correto. Eu fiquei muito preocupada”, respondo. “Por favor, continue, doutora Scarpetta”, diz Berger. “O que aconteceu quando a senhora saiu da plataforma de caça e seguiu a trilha através do bosque?”
Há uma jurada sentada na fileira da frente das cadeiras reservadas ao júri, a segunda a partir da esquerda, que me lembra minha mãe. Ela está acima do peso e deve ter perto de setenta anos, no mínimo, e usa um vestido desalinhado, azul com estampa floral. Não tira os olhos de mim, e sorrio para ela. Ela parece ser uma mulher gentil, com muito bom senso, e estou muito contente de minha mãe não estar aqui, de estar em Miami. Acho que ela não tem nenhuma idéia do que está acontecendo em minha vida. Não lhe contei. A saúde de minha mãe é fraca e ela não precisa se preocupar comigo. Fico olhando para a jurada com vestido de estampa floral enquanto descrevo o que aconteceu no Fort James Motel. Berger sugere que eu dê informações circunstanciais sobre Jay Talley, como nos conhecemos e nos tornamos íntimos em Paris. Na sugestão e nas conclusões de Berger estão tramados acontecimentos inexplicáveis que transpiraram depois que Chandonne me atacou: o desaparecimento da picareta de entalhar que comprei para fins de pesquisa; a chave da minha casa achada no bolso de Mitch Barbosa — um agente secreto do FBI que foi torturado e assassinado e que eu nunca encontrara. Berger pergunta se Jay esteve alguma vez na minha casa, e é claro que esteve. Portanto ele teria tido acesso a evidências. Sim, confirmo. E teria sido do interesse de Jay me incriminar e confundir a questão da culpa de seu irmão, certo? Berger pára de andar outra vez, fixando os olhos em mim. Não estou certa de poder responder à pergunta. Ela volta a andar. Quando ele me atacou no quarto de motel e me amordaçou, eu arranhei seus braços, não foi? “Sei que lutei com ele”, respondo. “E quando terminou, eu tinha sangue debaixo das unhas das mãos. E pele.” “Não sua pele? Você pode ter se arranhado durante a luta?” “Não.” Ela volta a sua mesa e mexe na papelada, procurando outro relatório de análise laboratorial. Buford Righter está fechado, sentado rigidamente, tenso. O exame de DNA feito no material encontrado em minhas unhas não coincide com meu DNA. Coincide com o DNA da pessoa que ejaculou dentro da vagina de Susan Pless. “E essa pessoa teria sido Jay Talley”, diz Berger, balançando a cabeça, andando outra vez. “Portanto, temos um agente policial federal que fez sexo com uma mulhar imediatamente antes de ela ser brutalmente assassinada. O DNA desse homem também é tão semelhante ao DNA de Jean-Baptiste Chandonne que podemos concluir quase com certeza que Jay Talley é um
parente próximo, muito provavelmente um irmão de Jean-Baptiste Chandonne.” Ela dá alguns passos, com um dedo nos lábios. “Sabemos que o verdadeiro nome de Jay Talley não é Jay Talley. Ele é uma mentira viva. Ele bateu na senhora, doutora Scarpetta?” “Sim. Ele deu um tapa no meu rosto.” “Ele a amarrou à cama e aparentemente pretendia torturá-la com uma pistola de ar quente?” “Essa foi minha impressão.” “Ele ordenou que a senhora se despisse, amarrou-a e amordaçou-a, e claramente ia matá-la?” “Sim. Ele deixou claro que ia me matar.” “Por que ele não a matou, doutora Scarpetta?” Berger diz isso como se não acreditasse em mim. Mas é uma encenação. Ela acredita em mim. Agora ela acredita. Olho para a jurada que me lembra minha mãe. Explico que eu estava tendo uma terrível dificuldade de respirar depois que Jay me amarrou e me amordaçou. Estava em pânico e comecei a hiperventilar, o que significa, explico, que estava respirando tão rápido e tão superficialmente que não conseguia inalar oxigênio suficiente. Meu nariz estava sangrando e inchado e a mordaça me impedia de respirar pela boca. Fiquei inconsciente e, quando recuperei os sentidos, Lucy estava no quarto. Fui desamarrada, a mordaça removida, e Jay Talley e Bev Kiffin tinham ido embora. “Agora já ouvimos o testemunho de Lucy”, diz Berger, movendo-se pensativa na direção dos jurados. “Portanto, sabemos pelo testemunho dela o que aconteceu depois que você desmaiou. O que ela lhe contou quando você recobrou os sentidos, doutora Scarpetta?” Em um julgamento, eu dizer o que Lucy disse constituiria um rumor. Mais uma vez, Berger consegue se livrar de praticamente qualquer coisa neste procedimento singularmente privado. “Ela me contou que tinha usado um colete à prova de balas, é..., um protetor para o corpo”, respondo à pergunta. “Lucy disse que houve uma conversa no quarto...” “Entre Lucy e Bev Kiffin”, esclarece Berger. “Sim. Lucy disse que estava encostada na parede e Bev Kiffin estava com a espingarda apontada para ela. E ela atirou e o colete de Lucy absorveu o tiro, e, embora ela estivesse muito ferida, estava bem, e tirou a espingarda da senhora Kiffin e saiu correndo do quarto.” “Porque sua primeira preocupação nesse momento era com a senhora. Ela não ficou lá para dominar Bev Kiffin porque a prioridade de Lucy era a senhora.” “Sim. Ela me disse que começou a bater nas portas. Ela não sabia em que quarto eu estava, então correu para os fundos do motel porque há janelas nos fundos que dão para a piscina. Ela encontrou meu quarto, me viu na cama e quebrou a janela com a coronha da espingarda e entrou. Ele tinha ido embora. Aparentemente, ele e Bev Kiffin saíram pela frente e pegaram a motocicleta dele e fugiram. Lucy diz que se lembra de ter ouvido uma motocicleta enquanto estava tentando me reanimar.”
“A senhora teve informações de Jay Talley desde então?” Berger pára e me olha nos olhos. “Não”, digo, e pela primeira vez neste longo dia a raiva desperta. “E quanto a Bev Kiffin? A senhora tem alguma idéia de onde ela está?” “Não. Nenhuma idéia.” “Portanto eles são fugitivos. Ela deixa para trás dois filhos. E uma cachorra — a cachorra da família. A cachorra da qual Benny White tanto gostava. Talvez até o motivo de ele ter ido ao motel depois da igreja. Corrija-me se minha memória me trair. Mas Sonny Kiffin, o filho, não disse alguma coisa sobre provocar Benny? Alguma coisa sobre Benny ter ido à casa dos Kiffin antes da igreja para ver se Mister Peanut tinha sido encontrada? Que a cachorra tinha, aspas, apenas saído para nadar e que se Benny voltasse mais tarde ele poderia ver Mister Peanut? Sonny não disse ao detetive Marino tudo isso depois do fato, depois de Jay Talley e Bev Kiffin terem tentado matar a senhora e sua sobrinha e depois fugido?” “Não sei de primeira mão o que Sonny contou a Pete Marino”, respondo — não que Berger queira realmente que eu responda. Ela só quer que o júri ouça a pergunta. Meus olhos ficam embaçados quando penso naquela cachorra velha e deplorável e no que sei com certeza que aconteceu com ela. “A cachorra não tinha saído para nadar — não voluntariamente —, está certo, doutora Scarpetta? A senhora e Lucy não encontraram Mister Peanut enquanto esperavam a chegada da polícia no acampamento?”, continua Berger. “Sim.” As lágrimas jorram.
Mister Peanut estava atrás do motel, no fundo da piscina. Tinha tijolos amarrados nas patas traseiras. A jurada de vestido florido começa a chorar. Outra jurada ofega e põe uma mão sobre os olhos. Olhares de indignação e mesmo de ódio passam de rosto a rosto, e Berger deixa o momento, este momento horrível e doloroso, ficar na sala. A imagem cruel de Mister Peanut é uma demonstração imaginada para a sala do tribunal que é vívida e insuportável, e Berger não a afasta. Silêncio. “Como alguém poderia fazer uma coisa como essa!”, a jurada de vestido florido exclama enquanto fecha sua carteira e enxuga os olhos. “Que pessoas malvadas!” “Filhos-da-mãe é o que eles são.” “Graças a Deus. O bom Senhor estava cuidando da senhora, Ele com certeza estava.” Um jurado balança a cabeça, dirigindo a mim esse comentário. Berger dá três passos. Seu olhar percorre o júri. Ela olha um bom tempo para mim. “Obrigada, doutora Scarpetta”, ela diz calmamente. “Com certeza há algumas pessoas más e horríveis lá”, ela gentilmente diz em benefício do júri. “Agradeço à senhora por passar este tempo conosco quando todos sabemos que a senhora está com dores e tem vivido um inferno. É isso mesmo.” Ela volta a olhar para o júri. “Inferno.” Todos balançam a cabeça. “O inferno, está certo”, a jurada com vestido florido me diz, como se eu
não soubesse. “A senhora com certeza passou por ele. Quero fazer uma pergunta. Podemos perguntar, não é?” “Por favor”, responde Berger. “Sei o que acho”, a jurada de vestido florido comenta para mim. “Mas sabe de uma coisa? Vou lhe dizer algo. Do jeito como foi criada, se uma pessoa não diz a verdade, leva palmadas no traseiro, e falo de palmadas fortes.” Ela projeta o queixo para a frente, numa justa indignação. “Nunca soube de pessoas fazerem as coisas de que vocês todos falaram aqui. Acho que nunca mais vou conseguir dormir. Eu estou falando sério.” “De alguma forma eu consigo entender”, respondo. “Então eu vou dizer logo o que quero dizer.” Ela olha para mim, seus braços apertando a grande carteira verde. “A senhora fez aquilo? A senhora matou a moça da polícia?” “Não, senhora”, digo com a mesma força com que sempre disse tudo em minha vida. “Não matei.” Esperamos uma reação. Todos estão sentados muito quietos, sem falar, sem perguntas. Os jurados estão satisfeitos. Jaime Berger vai para sua mesa e pega papéis. Ela os arruma e bate com eles na mesa para alinhá-los. Deixa as coisas se assentarem antes de olhar para cima. Encara cada um dos jurados, depois olha para mim. “Não tenho mais perguntas”, diz. “Senhoras e senhores.” Ela vai para bem perto da grade, inclinando-se na direção do júri como se estivesse olhando para um grande navio, e na verdade está. A senhora com vestido florido e seus colegas são minha passagem para sair de águas revoltas e perigosas. “Sou uma caçadora da verdade profissional”, Berger se descreve em palavras que nunca ouvi um promotor usar. “Minha missão — sempre — é encontrar a verdade e honrá-la. Foi por isso que me pediram para vir a Richmond — para revelar a verdade certa, absoluta. Todos vocês ouviram que a justiça é cega.” Ela espera, reconhecendo acenos de cabeça. “O bem, a justiça cega no sentido de que deve ser extremamente não partidária, imparcial, perfeitamente justa com todas as pessoas. Mas” — ela percorre com o olhar os rostos dos jurados — “não somos cegos à verdade, somos? Vimos o que se passou dentro desta sala. Posso dizer que vocês entenderam o que se passou dentro desta sala e que vocês não são cegos. Vocês teriam de ser cegos para não verem o que é tão aparente. Esta mulher” — ela se vira para mim e me aponta — “doutora Kay Scarpetta, não merece mais nossos questionamentos, nossas dúvidas, nossa sondagem dolorosa. Em sã consciência, não posso permitir isso.” Berger faz uma pausa. Os jurados estão como que petrificados e praticamente não piscam enquanto olho para ela. “Senhoras e senhores, agradeço a vocês por sua decência, seu tempo, seu desejo de fazer o que é certo. Vocês podem voltar para seus empregos agora, para suas casas e suas famílias. Estão dispensados. Não há caso. Caso dispensado. Bom dia.” A senhora de vestido florido sorri e suspira. Os jurados começam a bater palmas. Buford Righter olha para suas mãos, cruzadas em cima da mesa. Ponhome de pé e a sala roda quando abro a porta de vai-e-vem e saio da tribuna das testemunhas.
MINUTOS DEPOIS
Sinto-me como se estivesse saindo de um blecaute e evito contato visual com repórteres e outros que esperam além da porta de vidro coberta de papel que me escondeu do mundo exterior e agora me devolve a ele. Berger me acompanha até a pequena sala de testemunhas vizinha, e Marino, Lucy e Anna levantam-se instantaneamente, esperando apreensivos e animados. Eles intuem o que aconteceu, eu simplesmente balanço a cabeça confirmando e consigo dizer: “Bem, está tudo bem. Jaime foi magistral”. Finalmente chamo Berger pelo primeiro nome enquanto me dou conta vagamente de que, embora tenha estado dentro desta sala de testemunhas vezes sem conta na última década, esperando explicar a morte a jurados, nunca imaginei que um dia estaria neste tribunal para me explicar. Lucy me agarra, levantando-me do chão, eu tremo por causa do braço ferido e ao mesmo tempo rio. Abraço Anna. Abraço Marino. Berger espera no vão da porta, por uma vez sem se intrometer. Também a abraço. Ela começa a enfiar pastas e blocos em sua pasta e veste o casaco. “Estou fora daqui”, ela anuncia, toda séria outra vez, mas eu detecto seu entusiasmo. Puxa, ela está orgulhosa de si e tem mesmo de estar. “Não sei como lhe agradecer”, digo a ela com o coração cheio de gratidão e respeito. “Não sei nem o que dizer, Jaime.” “Amém a isso”, exclama Lucy. Minha sobrinha está usando um elegante terno preto e parece uma linda advogada ou médica, o que quer que ela queira ser. Posso dizer pelo modo como seus olhos se fixam em Berger que Lucy reconhece a mulher atraente e impressionante que Berger é. Lucy não pára de olhar para ela e parabenizá-la. Minha sobrinha é efusiva. Na verdade, ela está flertando. Está flertando com minha promotora especial. “Tenho de voltar para Nova York”, Berger me diz. “Lembra do meu grande caso lá?”, ela me recorda secamente de Susan Pless. “Bem, há trabalho a ser feito. Quando você pode aparecer para tratarmos do caso de Susan?” Berger fala sério, acho. “Vá”, diz Marino, em seu terno azul-marinho amarrotado, com uma gravata vermelha que é um pouco curta. A tristeza atravessa seu rosto. “Vá para Nova York, doutora. Vá agora. Com certeza você não vai querer estar aqui por algum tempo. Deixe a agitação se acalmar.” Não respondo, mas ele está certo. Estou quase sem fala no momento. “Você gosta de helicópteros?”, Lucy pergunta a Berger. “Ninguém jamais me poria naquela coisa”, Anna começa a falar. “Não existe nenhuma lei da física que explique que uma dessas coisas seja capaz de voar. Nenhuma.” “É, e também não existe nenhuma lei da física que explique por que as abelhas conseguem voar”, Lucy responde bem-humorada. “Coisas gordas com asas miudinhas. Blllbbllbllblll.” Ela imita uma abelha voando, os dois braços
enlouquecidos, atordoados. “Caramba, você está de novo tomando remédio?” Marino rola os olhos para minha sobrinha. Lucy põe o braço em volta de mim e caminhamos para fora da sala de testemunhas. Berger já foi para o elevador, sozinha, com sua pasta debaixo do braço. A seta de descida se acende e a porta se abre. Pessoas de aparência um tanto desagradável saem, chegando para seu dia de julgamento ou para ver alguma outra pessoa ir para o inferno. Berger segura as portas para Marino, Lucy, Anna e eu. Há repórteres perambulando por ali, mas eles nem se incomodam em tentar se aproximar de mim, pois deixo claro balançando a cabeça que não tenho nada a comentar e quero que me deixem em paz. A imprensa não sabe o que acaba de acontecer no procedimento do grande júri especial. O mundo não sabe. Não foi permitida a presença de jornalistas dentro da sala do tribunal, mesmo que eles obviamente saibam que eu estava programada para aparecer hoje. Vazamentos. Haverá mais, estou certa. Não importa, mas percebo que Marino é sábio em sugerir que eu saia da cidade, pelo menos por algum tempo. Meu humor desce lentamente, assim como o elevador. Paramos com um tranco no térreo. Encaro a realidade e tomo uma decisão. “Eu vou”, digo calmamente a Jaime Berger enquanto saímos do elevador. “Vamos pegar o helicóptero e ir para Nova York. Eu ficaria honrada de ajudá-la como puder. É minha vez, senhorita Berger.” Berger pára no saguão cheio e barulhento e muda sua pasta gorda e surrada para o outro braço. Uma das tiras de couro se soltou. Ela me olha nos olhos. “Jaime”, ela me lembra. “Vejo você no tribunal, Kay”, ela diz.O crepúsculo frio cede sua cor arroxeada à completa escuridão, e me sinto agradecida porque as cortinas de meu quarto são pesadas o bastante para absorver até a mais tênue sugestão de minha silhueta enquanto me movo arrumando as malas. A vida não poderia ser mais anormal do que é agora. “Quero beber alguma coisa”, anuncio ao abrir uma gaveta da cômoda. “Quero acender a lareira, tomar uma bebida e fazer uma massa. Talharim amarelo e verde, pimentão, lingüiça. Le pappardelle del Cantunzein. Eu sempre quis tirar um ano sabático, ir à Itália, aprender italiano, aprender mesmo. Falar italiano. Não só os nomes das comidas. Ou talvez a França. Vou para a França. Talvez eu vá para lá neste exato minuto”, acrescento com um tom de desamparo mesclado com raiva. “Eu poderia viver em Paris. Tranqüilamente.” É meu jeito de rejeitar a Virgínia e todos que estão nela. O capitão Pete Marino, da polícia de Richmond, domina meu quarto como um farol espesso, suas mãos gigantes enfiadas nos bolsos do jeans. Ele não se oferece para me ajudar a arrumar a maleta e as sacolas abertas sobre a cama, pois me conhece o bastante para nem pensar nisso. Marino pode parecer um caipira, falar como um caipira, mas é espertíssimo, sensível e muito perceptivo. Neste exato momento, por exemplo, ele se dá conta de um fato simples: não faz nem vinte e quatro horas um homem chamado Jean-Baptiste Chandonne caminhou pela neve debaixo de uma lua cheia e, usando de astúcia, entrou em minha casa. Já estou intimamente familiarizada com o modus operandi de Chandonne, portanto posso visualizar com segurança o que ele teria feito comigo se tivesse a chance. Mas não consigo me sujeitar a imagens anatomicamente corretas de meu próprio corpo morto a marteladas, e ninguém poderia descrever uma coisa dessas com mais precisão do que eu. Sou patologista forense, formada em direito, a legista-chefe da Virgínia. Fiz a autópsia de duas mulheres que Chandonne matou recentemente aqui em Richmond e revisei os casos de sete outras que ele assassinou em Paris. Para mim, é mais seguro dizer o que ele fez com aquelas vítimas: bateu nelas com selvageria, mordeu-lhes os seios, mãos e pés, brincou com o sangue delas. Ele nem sempre usa a mesma arma. Na noite passada, estava armado com uma picareta de entalhar, uma ferramenta peculiar usada por pedreiros. É muito parecida com uma picareta comum. Sei com certeza o que uma picareta de entalhar pode fazer a um corpo humano porque Chandonne usou uma — a mesma, presumo — em Diane Bray, sua segunda vítima em Richmond, a policial que ele matou há dois dias, na quinta-feira. “Que dia é hoje?”, pergunto ao capitão Marino. “Sábado, não é?” “É. Sábado.” “Dezoito de dezembro. Uma semana para o Natal. Boas-festas.” Abro um bolso lateral da maleta.
“É. Dezoito de dezembro.” Ele me olha como se eu fosse alguém que pode sem mais nem menos perder a razão a qualquer momento, e seus olhos injetados refletem uma prudência que permeia minha casa. A desconfiança no ar é palpável. Para mim ela tem gosto de poeira. Cheira a ozônio. É úmida. O silvo molhado de pneus na rua, a confusão de pés, vozes e conversa pelo rádio formam uma desarmonia infernal enquanto os agentes da lei ocupam minha propriedade. Sou violada. Cada centímetro de minha casa é exposto, cada faceta de minha vida é desnudada. Posso muito bem ser um corpo nu em uma de minhas mesas de aço no necrotério. Portanto, Marino sabe que não deve perguntar se pode me ajudar a fazer as malas. Ah, sim, tenho certeza de que ele sabe muito bem que é melhor não ousar sequer pensar em tocar em alguma coisa, um sapato, uma meia, uma escova de cabelo, um vidro de xampu, nem mesmo o item mais insignificante. A polícia me pediu para deixar a robusta casa de pedra de sonho que construí em meu calmo e cercado condomínio no West End. Dá para imaginar? Estou certa de que Jean-Baptiste Chandonne — Le Loup-garou ou O Lobisomem, como ele próprio se chama — está sendo mais bem tratado do que eu. A lei proporciona a pessoas como ele todos os direitos imagináveis: conforto, sigilo, acomodação grátis, comida e bebida grátis, e assistência médica grátis na ala forense da Faculdade de Medicina da Virgínia, de cujo corpo docente faço parte. Marino não tomou banho nem dormiu nas últimas vinte e quatro horas, no mínimo. Quando passo por ele, sinto o cheiro medonho do corpo de Chandonne e sou apunhalada pela náusea, uma torção ardente em meu estômago que me bloqueia o cérebro e me deixa instantaneamente coberta de suor frio. Eu me aprumo e inspiro profundamente para dissipar a alucinação olfativa, quando minha atenção é atraída, para além das janelas, por um carro que desacelera. Sou capaz de reconhecer a pausa mais sutil no tráfego e saber quando ela se tornará alguém estacionando na frente da casa. É um ritmo que passei horas ouvindo. As pessoas ficam pasmas. Os vizinhos se viram para olhar e param no meio da rua. Cambaleio numa estranha embriaguez de emoções, num minuto aturdida, no seguinte, apavorada. Oscilo da exaustão à mania, da depressão à tranqüilidade, e por baixo de tudo há uma excitação efervescente, como se meu sangue estivesse cheio de gás. Uma porta de carro se fecha diante da casa. “O que foi?”, me queixo. “Quem é agora? O FBI?” Abro outra gaveta. “Marino, chega.” Faço com as mãos o gesto de vá se ferrar. “Tire-os da minha casa, todos eles. Agora.” A fúria bruxuleia como miragens sobre asfalto quente. “Assim eu posso acabar de arrumar as malas e ir embora daqui. Eles não podem sair só o tempo suficiente para que eu vá embora?” Minhas mãos tremem enquanto remexo as meias. “Já é demais eles estarem em meu jardim.” Jogo um par de meias numa sacola. “É demais eles estarem aqui de qualquer jeito.” Outro par. “Eles podem voltar quando eu sair.” E lanço outro par e erro, e me abaixo para pegá-lo. “Eles podiam pelo menos me deixar andar por minha própria casa.” Outro par. “E me deixar ir embora em paz, sem ninguém bisbilhotando.” Guardo um par na gaveta. “Por que diabos estão na minha cozinha?” Mudo de idéia e pego as meias que acabei de guardar. “Por que estão em meu escritório? Eu disse a eles para
não entrarem lá.” “Nós temos de olhar tudo, doutora”, é o que Marino tem a dizer. Ele senta no pé de minha cama, e isso também é errado. Quero dizer a ele que saia de minha cama e de meu quarto. É a única coisa que posso fazer para não ordenar a ele que saia de minha casa e possivelmente de minha vida. Não importa há quanto tempo eu o conheço nem por quantas coisas passamos juntos. “Como está o cotovelo, doutora?” Ele aponta o gesso que imobiliza meu braço esquerdo, parecendo uma chaminé de fogão. “Está fraturado. A dor é infernal.” Fecho a gaveta com força. “Está tomando seu remédio?” “Vou sobreviver.” Ele observa cada movimento meu. “Você precisa tomar aquele troço que eles lhe deram.” De repente invertemos os papéis. Eu ajo como o policial rude enquanto ele é lógico e calmo como a advogada-médica que eu devo ser. Volto ao closet revestido de cedro e começo a juntar blusas e colocá-las na maleta, certificandome de que os botões de cima estejam abotoados, alisando a seda e o algodão com a mão direita. Meu cotovelo esquerdo lateja como uma dor de dente, minha carne transpira e coça dentro do gesso. Passei a maior parte do dia no hospital — engessar um membro fraturado não é um procedimento demorado, mas os médicos insistiram em me examinar com cuidado para ter certeza de que eu não tinha outros ferimentos. Expliquei várias vezes que ao fugir de casa caí na escada da frente e fraturei o cotovelo, nada mais. Jean-Baptiste Chardonne não teve nenhuma chance de me tocar. Escapei e estou bem, fiquei repetindo enquanto tirava uma radiografia atrás da outra. A equipe do hospital me reteve para observação até o fim da tarde, e houve um entra-e-sai de detetives na sala de exame. Eles pegaram minhas roupas. Minha sobrinha, Lucy, teve de me levar alguma coisa para vestir. Não dormi nada. O som do telefone perfura o ar como uma lâmina. Pego a extensão ao lado da cama. “Doutora Scarpetta”, anuncio no bocal, e minha voz dizendo meu nome me lembra de chamadas no meio da noite, quando atendo ao telefone e um detetive me dá notícias muito ruins sobre uma cena de morte em algum lugar. Ouvir meu grave auto-anúncio usual dispara a imagem que até agora tentei evitar: meu corpo violentado em minha cama, sangue salpicado por todo o quarto, este quarto, e meu médico-legista assistente atendendo a ligação, e a expressão em seu rosto quando o policial — provavelmente Marino — conta a ele que fui assassinada e que alguém, sabe Deus quem, precisa comparecer à cena do crime. Ocorre-me que possivelmente ninguém de meu departamento poderia atender ao chamado. Eu ajudei a Virgínia a projetar o melhor plano de emergência de qualquer estado do país. Podemos lidar com um grande desastre aéreo, com a explosão de uma bomba no estádio ou com uma enchente, mas o que funcionaria se algo acontecesse comigo? Trazer um patologista forense de uma jurisdição vizinha, talvez Washington, suponho. O problema é que conheço quase todos os patologistas forenses da costa Oeste e morreria de pena de quem tivesse de lidar com meu corpo morto. É muito difícil trabalhar em um caso quando se conhece a vítima. Esses pensamentos voam por minha mente como
pássaros sobressaltados quando Lucy me pergunta ao telefone se preciso de alguma coisa, e garanto a ela que estou ótima, o que é perfeitamente ridículo. “Bom, ótima você não pode estar”, ela retruca. “Fazendo as malas”, digo. “Marino está comigo e eu estou fazendo as malas”, repito, enquanto meus olhos se fixam, congelados, em Marino. A atenção dele vaga por toda parte, e me dou conta de que ele nunca esteve em meu quarto antes. Não quero nem imaginar suas fantasias. Conheço-o há muitos anos e sempre tive consciência de que seu respeito por mim é misturado com insegurança e atração sexual. Ele é um brutamontes com uma barrigona de cerveja e um rosto grande e desgostoso, e seu cabelo descolorido migrou de forma nada atraente da cabeça para outras partes do corpo. Ouço minha sobrinha ao telefone enquanto os olhos de Marino se movem tateantes por meus espaços privados: minhas cômodas, meu closet, as gavetas abertas, o que estou pondo nas malas e meus seios. Quando Lucy levou tênis, meias e uma roupa de ginástica para o hospital, não pensou em incluir um sutiã, e o melhor que pude fazer quando cheguei aqui foi me cobrir com um velho e volumoso avental de laboratório que uso como guarda-pó quando faço alguma tarefa em casa. “Imagino que eles não querem você aí”, a voz de Lucy soa na linha. É uma longa história, mas minha sobrinha é agente do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo (ATF), e quando a polícia chegou não conseguiu tirá-la de minha propriedade com suficiente rapidez. Talvez saber algumas coisas seja algo perigoso, e eles temiam que uma agente federal importante se incluísse na investigação. Não sei, mas ela está se sentindo culpada por não estar aqui para me defender na noite passada e eu quase ter sido assassinada, e agora de novo por não estar aqui para me defender. Deixo claro que não a culpo de modo algum. Também não consigo parar de imaginar como minha vida teria sido diferente se ela estivesse em casa comigo quando Chandonne apareceu — e não na rua cuidando de uma namorada. Talvez Chandonne tivesse sabido que eu não estava sozinha e ficasse longe, ou fosse surpreendido por outra pessoa na casa e tivesse fugido, ou tivesse deixado para me matar no dia seguinte, ou na noite seguinte, ou no Natal, ou no novo milênio. Ando compassadamente enquanto ouço as explicações e os comentários ofegantes de Lucy no telefone sem fio, e quando passo pelo espelho de corpo inteiro vejo meu reflexo. O cabelo louro e curto está desgrenhado, a sobrancelha está contraída numa mistura de franzido e quase lágrimas. O avental de laboratório está encardido e manchado e não é nada adequado a uma chefe. Estou muito pálida. O desejo de uma bebida e um cigarro é atipicamente forte, quase insuportável, como se quase ter sido assassinada tivesse me transformado numa junkie instantânea. Imagino estar sozinha em minha casa. Nada aconteceu. Estou curtindo um cigarro, um copo de vinho francês, talvez um bordeaux, porque o bordeaux é menos complicado que o borgonha. O bordeaux é como um velho bom amigo que não precisamos decifrar. Dissipo a fantasia com o fato: não importa o que Lucy fez ou deixou de fazer. No fim, Chandonne teria vindo me matar, e tenho a sensação de que um terrível julgamento esteve esperando por mim durante toda a minha vida, marcando minha porta como o Anjo da Morte. O bizarro é que ainda estou aqui.
1
Sei pela voz de Lucy que ela está apavorada. Minha brilhante e vigorosa sobrinha, agente federal, piloto de helicóptero e obcecada por condicionamento físico, raramente fica apavorada. “Estou realmente me sentindo mal”, ela continua a se repetir ao telefone, enquanto Marino mantém sua posição em minha cama e eu ando. “Pois não devia”, digo a ela. “A polícia não quer ninguém aqui, e pode acreditar que você não gostaria de estar aqui. Suponho que você esteja com Jo, e isso é ótimo.” Digo isso a ela como se não fizesse nenhuma diferença para mim, como se não me incomodasse o fato de ela estar lá e não aqui e eu não tê-la visto o dia inteiro. Mas faz diferença. Me incomoda. Porém, tenho o hábito de oferecer às pessoas uma saída. Não gosto de ser rejeitada, especialmente por Lucy Farinelli, que criei como uma filha. Ela hesita antes de responder. “Na verdade estou no centro, no Jefferson.” Tento entender isso. O Jefferson é o melhor hotel da cidade, e não sei por que ela iria para um hotel, muito menos um elegante e caro. As lágrimas me fazem arder os olhos e eu as retenho à força, pigarreando, abafando a angústia. “Ah”, digo. “Que bom. Imagino que Jo esteja com você no hotel.” “Não, com a família dela. Olhe, eu acabei de fazer o check-in. Tenho um quarto para você. Que acha de eu ir buscá-la?” “Um hotel provavelmente não é uma boa idéia neste momento.” Ela pensou em mim e quer que eu esteja com ela. Sinto-me um pouco melhor. “Anna me pediu para ficar com ela. Considerando tudo, acho que para mim é melhor ira para a casa dela. Ela também convidou você. Mas você já deve ter se instalado.” “Como Anna soube?”, pergunta Lucy. “Ela ouviu no noticiário?” Como o atentado contra minha vida aconteceu tarde da noite, só estará nos jornais amanhã de manhã. Mas suponho que tenha havido uma tempestade de notícias no rádio e na televisão. Ao pensar nisso agora, não imagino como Anna soube. Lucy diz que precisa ficar no hotel, mas vai tentar me visitar à noite. Desligamos. “Se a mídia descobrir que você está num hotel, não vai lhe faltar mais nada. Eles vão estar atrás de tudo quanto é arbusto”, diz Marino, o cenho muito franzido, numa expressão apavorante. “Onde ela está?” Repito o que Lucy me contou e quase desejo não ter falado com ela. Só serviu para me deixar pior. Aprisionada, sinto-me aprisionada, como se estivesse dentro de um sino de mergulho a uma profundidade de trezentos metros, desconectada, atordoada, o mundo a minha volta de repente irreconhecível e surreal. Estou entorpecida, mas cada um de meus nervos pega fogo. “O Jefferson?”, diz Marino. “Você deve estar brincando! Ela ganhou na loteria, por acaso? Não pensou que a mídia pode descobrir que ela está lá? Parece que tem merda na cabeça!”
Volto a arrumar as malas. Não consigo responder às perguntas dele. Estou cansada de perguntas. “E ela não foi para a casa da Jo. Ah”, prossegue, “que interessante. Eu nunca achei que aquilo ia durar.” Ele boceja alto e coça o rosto gordo e troncudo enquanto me olha a dobrar conjuntos de saia e blusa sobre uma cadeira, continuando a pegar roupas para o trabalho. Para ser justa com Marino, devo reconhecer que ele tentou se controlar, e até ser atencioso, desde quando cheguei em casa do hospital. Para ele é difícil ter um comportamento decente até nas melhores circunstâncias, que certamente não são aquelas em que se encontra agora. Ele está esgotado, sem dormir e alimentado por cafeína e junk food, e não permito que fume em minha casa. Para que ele se descontrolasse e retomasse seu caráter rude e desbocado, era só uma questão de tempo. Testemunho a metamorfose e fico estranhamente aliviada com ela. Estou desesperada por coisas conhecidas, por mais desagradáveis que sejam. Marino começa a falar sobre o que Lucy fez na noite passada, quando parou na frente da casa e descobriu Jean-Baptiste Chandonne e eu em meu jardim nevado. “Olhe, não é que eu a culpe por querer estourar os miolos do delinqüente”, ele comenta. “Mas é aí que entra o treinamento que a gente recebe. Não importa se é sua tia ou seu filho que está envolvido, você tem de fazer o que foi treinado para fazer, e ela não fez isso. Com toda a certeza não fez. O que ela fez foi enlouquecer.” “Eu vi você enlouquecer algumas vezes”, lembro a ele. “Bom, na minha opinião eles nunca deveriam tê-la jogado naquele trabalho secreto em Miami.” Lucy está alocada na unidade do ATF em Miami e veio para cá, entre outros motivos, para passar os feriados. “Às vezes as pessoas se aproximam demais dos bandidos e começam a se identificar com eles. Lucy está em modo de matar. Ela está louca pra atirar, doutora.” “Isso não é justo.” Percebo que peguei pares de sapatos demais. “Me diga o que você teria feito se tivesse chegado a minha casa primeiro em vez dela.” Interrompo o que estou fazendo e olho para ele. “Pelo menos parar um nanossegundo e avaliar a situação antes de ir lá botar um revólver na cabeça do babaca. Que merda. O cara estava tão atrapalhado que não conseguia nem ver o que estava fazendo. Ele estava se esgoelando por causa dessa porcaria química que você jogou nos olhos dele. Nesse momento ele não estava armado. Não ia machucar ninguém. Isso era óbvio. E também era óbvio que você estava ferida. Então, se fosse eu, tinha chamado uma ambulância, e Lucy nem pensou em fazer isso. Ela é imprevisível, doutora. E eu não quero ela na casa com tudo que está acontecendo aqui. Foi por isso que nós a entrevistamos na delegacia, pegamos suas declarações em um lugar neutro para acalmá-la.” “Não considero uma sala de interrogatório um lugar neutro”, retruco. “Bom, a casa onde sua tia Kay quase foi massacrada também não é exatamente um lugar neutro.” Não discordo dele, mas seu tom está envenenado pelo sarcasmo. Começo a me sentir ofendida. “Seja como for, tenho de lhe dizer que tive uma sensação realmente ruim
a respeito de ela ficar sozinha num hotel agora”, ele acrescenta, coçando o rosto de novo, e por mais que diga o contrário ele acha minha sobrinha o máximo e faria qualquer coisa por ela. Ele a conhece desde quando ela tinha dez anos, e a apresentou a caminhonetes, motores grandes, revólveres e toda espécie dos chamados interesses masculinos pelos quais ele agora a critica por ter em sua vida. “Eu posso dar uma checada na pilantrinha depois que deixar você na casa de Anna. Não que eu ache que alguém se importe com minhas sensações ruins”, ele retrocede vários pensamentos. “Como no caso de Jay Talley. Claro, isso não é problema meu. Aquele desgraçado egoísta.” “Ele me esperou o tempo inteiro no hospital”, defendo Jay mais uma vez, desviando o ciúme indisfarçado de Marino. Jay é o encarregado no ATF pelos contatos com a Interpol. Não o conheço muito bem, mas dormi com ele em Paris há quatro dias. “E eu fiquei lá treze ou catorze horas”, continuo, enquanto Marino praticamente revira os olhos. “Não chamo isso de egoísmo.” “Porra!”, diz Marino. “Onde é que você ouviu esse conto de fadas?” Seus olhos queimam de ressentimento. Ele desprezou Jay desde a primeira vez em que pôs os olhos nele, na França. “Eu não posso acreditar. Ele fez você pensar que ele esteve no hospital o tempo todo? Ele nem esperou por você! Isso é totalmente absurdo. Ele levou você até lá na porra do carro branco dele e voltou imediatamente para cá. Depois ligou perguntando quando você estaria pronta para ser dispensada e voltou ao hospital para pegá-la.” “O que me parece inteiramente razoável.” Escondo minha consternação. “Não fazia sentido ele ficar lá sentado sem fazer nada. E ele não me disse que ficou lá o tempo todo. Eu é que supus isso.” “Claro, e por quê? Porque ele fez você supor isso. Ele fez você pensar uma coisa que não é verdade, e você nem se incomoda com isso? No meu livro, isso é conhecido como falha de caráter. É chamado mentir... O que é?”, ele muda abruptamente o tom. Alguém está no vão da porta de meu quarto. Uma oficial uniformizada em cujo crachá de identificação se lê M. I. Calloway entra no quarto. “Desculpe”, de pronto ela se dirige a Marino. “Capitão, eu não sabia que o senhor estava aqui.” “Bom, agora sabe.” Ele dirige a ela um olhar lúgubre. “Doutora Scarpetta?” Os grandes olhos dela parecem bolas de pinguepongue, quicando para um lado e para outro entre mim e Marino. “Preciso perguntar à senhora sobre o frasco. Onde o frasco do produto químico, a formulina...” “Formalina”, corrijo-a calmamente. “Certo”, ela diz. “Exatamente, quer dizer, onde exatamente estava o frasco quando a senhora o pegou?” Marino permanece no pé da minha cama, como se tivesse sentado ali todos os dias de sua vida. Começa a sentir falta dos cigarros. “A mesa de centro na sala grande”, respondo a Calloway. “Eu já disse isso a todo mundo.” “Sim, senhora, mas onde na mesa de centro? É uma mesa bem grande. Realmente sinto muito por incomodá-la com isso. Mas estamos tentando reconstruir como tudo aconteceu, porque depois vai ficar mais difícil lembrar.”
Marino saca lentamente um Lucky Strike do maço. “Calloway?” Ele nem olha para ela. “Desde quando você é detetive? Acho que não me lembro de você na Equipe A.” Ele é o chefe da unidade de crimes violentos do Departamento de Polícia de Richmond, conhecida como Equipe A. “Nós só não temos certeza de onde o frasco estava, capitão.” As bochechas dela estão em brasa. Os tiras provavelmente imaginaram que uma mulher vir aqui me interrogar seria menos intrusivo do que um homem. Talvez seus colegas a tenham enviado por essa razão, ou talvez ela tenha recebido a tarefa simplesmente porque ninguém mais queria se meter comigo. “Quando você entra na sala grande e fica de frente para a mesa de centro, é o canto direito da mesa mais perto de você”, digo a ela. Passei por isso muitas vezes. Nada é claro. O que aconteceu é um borrão, uma torção irreal da realidade. “E esse é aproximadamente o lugar onde a senhora estava quando jogou o produto químico nele?”, Calloway pergunta. “Não. Eu estava do outro lado do sofá. Perto da porta de correr de vidro. Ele estava me perseguindo e eu terminei ali”, explico. “E depois que a senhora correu direto para fora da casa...?” Calloway rabisca algo em seu bloquinho de anotações. “Pela sala de jantar”, eu a interrompo. “Onde estava minha pistola, onde eu a pusera na mesa da sala de jantar, mais cedo. Não é um bom lugar para deixá-la, reconheço.” Minha mente vagueia. Tenho a sensação de que estou com um grave jet lag. “Apertei o alarme de pânico e saí pela porta da frente. Com a pistola, a Glock . Mas escorreguei no gelo e fraturei o cotovelo. Não consegui puxar o cursor, não com uma mão só.” Ela anota isso também. Minha história é aborrecida e repetida. Se eu tiver de contá-la mais uma vez, talvez perca as estribeiras, e nenhum tira neste planeta já me viu perder as estribeiras. “A senhora não a disparou?” Ela levanta os olhos em minha direção e umedece os lábios. “Eu não consegui engatilhá-la.” “A senhora não tentou dispará-la?” “Não sei o que você quer dizer com tentar. Eu não consegui engatilhá-la.” “Mas a senhora tentou?” “Você precisa de um tradutor ou algo do tipo?” Marino entra em erupção. O modo ameaçador como ele olha para M. I. Calloway me faz lembrar o ponto vermelho com que uma mira de laser marca uma pessoa antes da partida da bala. “A pistola não estava engatilhada e ela não a disparou, pegou isso?”, ele repete de forma lenta e rude. “Quantos cartuchos há no pente?” Ele se dirige a mim. “Dezoito? É uma Glock Dezessete, leva dezoito no pente e um na câmara, certo?” “Não sei”, digo a ele. “Provavelmente não são dezoito, definitivamente não. É difícil conseguir colocar tantas balas porque a mola é dura, a mola no pente.”
“Certo, certo. Você se lembra da última vez que disparou essa arma?” “Na última vez em que eu estive no estande de tiro. Faz pelo menos alguns meses.” “Você sempre limpa suas armas depois que vai ao estande de tiro, não é, doutora?” “Sim.” Estou no meio do meu quarto, piscando. Minha cabeça dói e as luzes me ferem os olhos. “Você olhou a arma, Calloway? Quer dizer, você a examinou, certo?” Mais uma vez ele crava nela seu olhar de laser. “Então, qual é o problema?” Ele sacode a mão para ela como se ela fosse uma chata estúpida. “Me diga o que encontrou.” Ela hesita. Sinto que não quer dar a informação na minha frente. A pergunta de Marino paira pesada como umidade prestes a se precipitar. Decido pegar duas saias, uma azul-marinho, uma cinza, e dobro-as sobre a cadeira. “Há catorze cartuchos no pente”, Calloway diz a ele num tom militar robótico. “Não havia nenhum na câmara. Não estava engatilhada. E parece limpa.” “Muito bem. Então não estava engatilhada e ela não a disparou. E era uma noite escura e tempestuosa e três índios estavam sentados em volta de uma fogueira. Vamos ficar dando voltas sem sair do lugar ou vamos em frente?” Ele está suando e o cheiro de seu corpo sobe com seu calor. “Olhe, não há nada novo a acrescentar”, digo, de repente à beira das lágrimas, fria e tremendo, e sentindo de novo o horrível fedor de Chandonne. “E por que a senhora estava com o frasco em casa? E o que exatamente havia nele? Aquela substância que a senhora usa no necrotério, certo?” Calloway se posiciona de modo a tirar Marino de sua linha de visão. “Formalina. Uma solução de formaldeído a dez por cento conhecida como formalina”, digo. “É usada no necrotério para fixar tecidos, sim. Secções de órgãos. Pele, nesse caso.” Joguei um produto químico cáustico nos olhos de outro ser humano. Eu o mutilei. Talvez o tenha cegado permanentemente. Imagino-o preso com correias em uma cama na ala prisional do nono andar da Faculdade de Medicina da Virgínia. Salvei minha vida e não sinto nenhuma satisfação com isso. Só me sinto arrasada. “Então a senhora tinha tecido humano em casa. A pele. Uma tatuagem. Daquele corpo não identificado no porto? Aquele que estava no contêiner do cargueiro?” O som da voz de Calloway, de sua caneta, das páginas virando, me lembra os repórteres. “Não quero parecer estúpida, mas por que a senhora teria algo assim em casa?” Explico que tivemos muita dificuldade em identificar o corpo do porto. Não tínhamos nada além de uma tatuagem, na verdade, e na semana passada fui a Petersburg e pedi a um tatuador experiente para examinar a tatuagem, que levei em minha valise. Depois vim direto para casa, e é por isso que a tatuagem em seu frasco de formalina estava em minha casa a noite passada. “Normalmente eu não teria algo desse tipo em casa”, acrescento.
“A senhora a manteve em casa por uma semana?”, ela pergunta com uma expressão de dúvida. “Estava acontecendo muita coisa. Kim Luong foi assassinada. Minha sobrinha quase foi morta em um tiroteio em Miami. Fui convocada a viajar para fora do país, para Lyon, na França. A Interpol queria me ver, para conversar sobre sete mulheres que ele” — me refiro a Chandonne — “provavelmente tinha assassinado em Paris e sobre a suspeita de que o homem morto no contêiner do cargueiro pudesse ser Thomas Chandonne, o irmão, irmão do assassino, ambos filhos desse cartel criminoso Chandonne que metade das forças policiais do universo tem tentado liquidar para sempre. Depois a chefe de polícia interina Bray foi assassinada. Eu devia ter devolvido a tatuagem ao necrotério?” Minha cabeça lateja. “Sim, com certeza devia. Mas eu estava distraída. E esqueci.” Quase grito com ela. “A senhora esqueceu”, repete a oficial Calloway, enquanto Marino ouve com uma fúria crescente, tentando deixá-la fazer seu trabalho e ao mesmo tempo a desprezando. “Doutora Scarpetta, a senhora tem outras partes de corpos em sua casa?”, Calloway pergunta então. Uma estocada de dor penetra em meu olho direito. Estou começando a ter uma enxaqueca. “Que porra de pergunta é essa?”, Marino ergue a voz mais um decibel. “Eu só não queria que de repente esbarrássemos em alguma outra coisa do tipo fluidos corporais ou produtos químicos ou...” “Não, não.” Balanço a cabeça e volto minha atenção para uma pilha de calças e camisas pólo cuidadosamente dobradas. “Só lâminas.” “Lâminas?” “Para histologia”, explico vagamente. “Para quê?” “Calloway, acabou.” As palavras de Marino soam como um pequeno martelo de leiloeiro enquanto ele se levanta da cama. “Eu só quero ter certeza de que não precisamos nos preocupar com outros riscos”, ela diz a ele, e suas bochechas vermelhas e o brilho em seus olhos desmentem sua subordinação. Ela odeia Marino. Muita gente odeia. “O único risco com que você tem que se preocupar é aquele para o qual você está olhando”, Marino retruca. “Que tal dar à doutora um pouco de privacidade, adiar um pouco as perguntas idiotas?” Calloway é uma mulher sem queixo, nada atraente, com quadris largos e ombros estreitos, e seu corpo está tenso de raiva e constrangimento. Ela se vira e sai do quarto, suas pisadas absorvidas pela passadeira persa do corredor. “O que ela está pensando? Que você coleciona troféus ou algo do tipo?”, diz Marino. “Que você traz para casa suvenires como o porra do Jeffrey Dahmer?* Faça-me o favor.” “Não agüento mais isso.” Arrumo as camisas pólo perfeitamente dobradas na sacola. “Vai ter de agüentar, doutora. Mas não tem de agüentar mais nada por hoje.” Exausto, ele volta a sentar no pé de minha cama. “Mantenha seus detetives longe de mim”, aviso a ele. “Não quero ver mais
nenhum policial. Não fui eu que fiz algo errado.” “Se eles conseguirem mais alguma coisa vão me informar. Esta investigação é minha, mesmo que pessoas como Calloway ainda não tenham percebido. Mas não é comigo que você tem que se preocupar. É como pegar uma senha e entrar na fila da delicatessen, de tanta gente que quer falar com você.” Empilho calças em cima das camisas pólo, depois inverto a ordem, pondo as camisas em cima para que não fiquem enrugadas. “Claro que não chega nem perto da quantidade de pessoas que quer falar com ele.” Ele se refere a Chandonne. “Todos esses especialistas em perfil psicológico e psiquiatras forenses e a mídia e o diabo a quatro.” Marino percorre a lista do Quem é Quem. Paro de guardar coisas. Não tenho nenhuma intenção de pegar lingerie enquanto Marino assiste. Recuso-me a escolher produtos de toalete com ele testemunhando tudo. “Preciso ficar alguns minutos sozinha”, digo a ele. Ele fica olhando para mim, os olhos vermelhos, o rosto da cor de vinho. Até sua careca está vermelha, e ele está todo amarrotado, de jeans e camiseta, com uma barriga de grávida de nove meses, as botas Red Wing enormes e sujas. Posso ver sua mente trabalhando. Ele não quer me deixar sozinha e parece estar ponderando preocupações que não vai dividir comigo. Um pensamento paranóide surge como fumaça escura em minha mente. Ele não confia em mim. Talvez pense que sou uma suicida. “Marino, por favor. Você não pode ficar lá fora e manter as pessoas longe enquanto termino aqui? Vá até meu carro e pegue minha valise de cena do crime no porta-malas. Se eu for chamada para fazer alguma coisa... bom, preciso estar com ela. A chave está na gaveta do armário da cozinha, a de cima à direita — onde guardo todas as minhas chaves. Por favor. Aliás, pensando bem, preciso do meu carro. Imagino que vou pegar meu carro, e você pode deixar a valise nele.” Estou num redemoinho de confusão. Ele hesita. “Você não pode pegar seu carro.” “Que merda!”, deixo escapar. “Não me diga que eles têm de examinar meu carro também. Isso é insano.” “Olhe. A primeira vez que seu alarme disparou ontem à noite, foi porque alguém tentou entrar em sua garagem.” “O que você quer dizer com alguém?”, retruco, enquanto a dor da enxaqueca me queima as têmporas e me turva a visão. “Nós sabemos exatamente quem. Ele arrombou a porta de minha garagem porque queria que o alarme disparasse. Ele queria que a polícia viesse até aqui. Assim não pareceria estranho se a polícia voltasse um pouco depois porque um vizinho tinha informado sobre a hipótese de haver um ladrão em minha propriedade.” Foi Jean-Baptiste Chardonne quem voltou. Ele personificava a polícia. Ainda não consigo acreditar que fui enganada por isso. “Nós ainda não temos todas as respostas”, diz Marino. “Por que não consigo parar de sentir que você não acredita em mim?” “Você precisa ir para a casa de Anna e dormir.”
“Ele não tocou em meu carro”, asseguro. “Não entrou em minha garagem. Não quero que ninguém toque em meu carro. Quero pegá-lo hoje à noite. Só quero que você deixe a valise no porta-malas.” “Hoje à noite, não.” Marino sai e bate a porta. Estou desesperada por uma bebida, para interromper as ferroadas elétricas em meu sistema nervoso central, mas o que posso fazer? Andar até o bar e dizer aos policiais que saiam de meu caminho enquanto encontro o scotch? Saber que bebida alcoólica provavelmente não vai aliviar em nada minha dor de cabeça não me abala. Estou tão infeliz que não me preocupo com o que pode me fazer bem ou não agora. No banheiro, remexo em outras gavetas e deixo cair vários batons no chão. Eles rolam entre o vaso e a banheira. Estou tonta quando me abaixo para pegá-los, tateando desajeitada com o braço direito, e tudo isso é ainda mais difícil porque sou canhota. Paro para avaliar os perfumes bem organizados no toucador e pego com todo o cuidado o frasquinho com tampa de metal dourado de 24, Faubourg, de Hermès. Seu toque é frio. Ergo a ponta do vaporizador até a altura do nariz e o cheiro erótico picante que Benton Wesley adorava me enche os olhos de lágrimas, e meu coração parece que vai fatalmente sair do ritmo. Há mais de um ano que não uso esse perfume, desde quando Benton foi assassinado. Agora eu fui assassinada, digo a ele em minha mente latejante. E ainda estou aqui, Benton, ainda estou aqui. Você era um especialista em perfis psicológicos do FBI, sabia como dissecar as psiques de monstros e interpretar e prever o comportamento deles. Você teria pressentido que isso iria acontecer, não teria? Teria previsto e evitado. Por que você não estava aqui, Benton? Eu estaria bem se você estivesse aqui. Percebo alguém batendo na porta de meu quarto. “Só um minuto”, grito, pigarreando e enxugando os olhos. Jogo água fria no rosto e ponho o perfume Hermès na sacola. Vou até a porta, esperando ver Marino. Mas quem entra é Jay Talley, em uniforme de combate do ATF e com uma barba de um dia que torna sinistra sua beleza morena. É um dos homens mais bonitos que já conheci, com um corpo primorosamente esculpido e uma sensualidade que exala de seus poros como música. “Só vim dar um alô antes de você sair.” Seus olhos fulminam os meus. Parecem me sentir e me explorar do jeito como suas mãos e sua boca fizeram há quatro dias na França. “O que posso lhe dizer?” Deixo-o entrar no quarto e de repente me dou conta de meu aspecto. Não quero que ele me veja assim. “Tenho de sair de minha própria casa. É quase Natal. Meu braço está doendo. Minha cabeça está doendo. Tirando isso, estou ótima.” “Eu levo você até a casa da doutora Zenner. Eu gostaria de fazer isso, Kay.” Absorvo vagamente a idéia de que ele sabe onde vou passar a noite. Marino prometeu que meu paradeiro seria mantido em segredo. Jay fecha a porta e pega minha mão, e a única coisa que consigo pensar é que ele não esperou por mim no hospital e agora quer me levar para outro lugar. “Deixe-me ajudá-la com isso. Eu me preocupo com você”, ele diz. “Ninguém parecia muito preocupado ontem à noite”, replico, me
lembrando de que quando ele me trouxe para casa do hospital e eu lhe agradeci por me esperar, por estar lá, ele não sugeriu nem uma vez que não tinha ficado lá. “Você e toda a sua equipe de resposta inicial lá e o desgraçado simplesmente anda até a porta de minha casa”, prossigo. “Você voa de Paris até aqui para liderar uma maldita Equipe Internacional de Resposta em sua grande caçada a esse cara, e que piada! Que filme ruim — todos aqueles policiais grandões com o equipamento e os rifles de assalto deles, e o monstro vem passeando até minha casa.” Os olhos de Jay começam a vagar por áreas de minha anatomia como se elas fossem locais de parada que ele está autorizado a revisitar. Que ele possa pensar em meu corpo num momento como este me deixa chocada e com uma sensação de repulsa. Em Paris achei que estava me apaixonando por ele. Diante dele aqui em meu quarto, e vendo-o francamente interessado no que está debaixo de meu avental, percebo que não o amo nem um pouco. “Você está só indisposta. Meu Deus, e por que não estaria? Estou preocupado com você. Estou aqui para apoiá-la.” Ele tenta me tocar e eu me afasto. “Nós tivemos uma tarde.” Já disse isso a ele antes, mas agora falo sério. “Algumas horas. Um encontro, Jay.” “Um erro?” A mágoa torna sua voz cortante. Uma raiva sombria pisca em seus olhos. “Não tente transformar uma tarde em uma vida, em algo com significado permanente. Não é por aí. Sinto muito. Pelo amor de Deus.” Minha indignação cresce. “Não queira nada de mim agora.” Ando para longe dele, gesticulando com meu braço bom. “O que você está fazendo? Que diabo você está fazendo?” Ele levanta a mão e segura a cabeça, desviando meus golpes, reconhecendo seu erro. Não consigo saber se ele é sincero. “Não sei o que estou fazendo. Sendo estúpido, deve ser isso”, ele diz. “Não pretendo nada. Estúpido, sou estúpido por sentir o que sinto por você. Não jogue isso em mim. Por favor.” Ele me olha intensamente e abre a porta. “Estou aqui para apoiá-la, Kay. Je t’aime.” Percebo que Jay tem um modo de dizer adeus que me faz sentir que talvez eu nunca mais o veja. Um pânico atávico excita minha psique mais profunda, e resisto à tentação de chamá-lo para me desculpar, prometer que logo vamos sair para jantar ou beber. Fecho os olhos e esfrego as têmporas, me recostando um pouco no pé da cama. Digo a mim mesma que não sei o que estou fazendo agora e não devo fazer nada. Marino está no corredor, um cigarro apagado preso no canto da boca, e posso senti-lo tentando me ler e entender o que acabou de acontecer enquanto Jay estava em meu quarto com a porta fechada. Meu olhar se demora no corredor vazio, eu meio que esperando que Jay reapareça e ao mesmo tempo apavorada com essa idéia. Marino pega minha bagagem, e os policiais se calam quando me aproximo. Evitam olhar em minha direção enquanto se movem por minha sala grande, os cintos de utilidades rangendo, o equipamento que eles manipulam estalando e batendo. Um investigador tira fotos da mesa de centro, o flash explodindo branco e brilhante. Outra pessoa está gravando um vídeo
enquanto um técnico de cena do crime instala uma fonte de luz alternativa chamada Luma-Lite, que pode detectar impressões digitais, drogas e fluidos corporais que não são visíveis a olho nu. Em meu prédio, no centro da cidade, há um Luma-Lite que uso rotineiramente em corpos em cenas de crime e no necrotério. Ver um Luma-Lite dentro de minha casa me dá uma sensação indescritível. Há manchas de poeira escura nos móveis e nas paredes, e o tapete persa colorido foi enrolado, expondo o carvalho francês antigo que está embaixo. No chão, há um abajur de mesa desligado da tomada. O segundo sofá tem crateras no lugar das almofadas, o ar está gorduroso e acre com o odor residual de formalina. Ao lado da sala grande e perto da porta da frente fica a sala de jantar, e pela porta aberta sou saudada pela visão de um saco de papel marrom selado com fita amarela usada para identificar evidências, datado, rubricado e etiquetado como roupas Scarpetta. Dentro dele estão calça, suéter, meias, sapatos, sutiã e calcinha que eu estava usando ontem à noite, roupas tiradas de mim no hospital. O saco e outras evidências e flashes e equipamentos estão em cima de minha adorada mesa de jantar de eucalipto avermelhado, como se ela fosse uma bancada de trabalho. Os policiais puseram capas nas cadeiras, e em todos os lugares há impressões digitais sujas e molhadas. Minha boca está seca, minhas juntas, debilitadas de vergonha e raiva. “Ei, Marino!”, rosna um policial. “Righter está procurando você.” Buford Righter é o promotor estadual. Procuro localizar Jay. Ele não está em lugar nenhum. “Diga a ele para pegar um número e esperar na fila”, Marino se aferra a sua alusão à delicatessen. Acende o cigarro quando abro a porta da frente, e o ar frio me pica o rosto e me faz lacrimejar. “Você pegou minha valise de cena do crime?”, pergunto a ele. “Está na caminhonete”, ele diz, como um marido condescendente a quem se pediu para pegar o livro de bolso da mulher. “Por que Righter está ligando?”, quero saber. “Bando de voyeurs”, ele resmunga. A caminhonete de Marino está na rua em frente à casa, e dois pneus enormes deixaram uma trilha em meu gramado nevado revolvido. Buford Righter e eu trabalhamos juntos em muitos casos ao longo dos anos, e me sinto ofendida por ele não ter me perguntado diretamente se podia vir a minha casa. Aliás, ele não entrou em contato comigo para saber como estou e me dizer que está contente por eu estar viva. “Se você quer saber, as pessoas só querem ver sua casa”, diz Marino. “Então dão essas desculpas sobre a necessidade de verificar uma coisa ou outra.” A neve derretida penetra em meus sapatos enquanto ando com todo cuidado até a entrada para carros. “Você não tem idéia de quantas pessoas me perguntam como é sua casa. Até parece que você é a lady Di ou alguém do tipo. Além disso, Righter mete o nariz em tudo, não consegue agüentar ficar fora do circuito. É o maior caso desde Jack, o Estripador. Righter está nos torrando o saco.”
De repente, flashes explodem numa seqüência gaguejante de luz branca brilhante e eu quase escorrego. Xingo bem alto. Os fotógrafos conseguiram passar pela guarita da segurança do condomínio. Três deles correm para mim num clarão de flashes enquanto luto com um braço para subir no banco da frente da caminhonete. “Ei!”, Marino grita para o transgressor mais próximo, uma mulher. “Sua vaca desgraçada!” Ele investe para cima dela, tentando bloquear a câmera, e ela perde o pé. Cai sentada com violência na rua escorregadia, e seu equipamento emite um baque e se espalha. “Estúpido!”, ela grita para ele. “Estúpido!” “Entre na caminhonete! Entre na caminhonete!”, Marino grita para mim. “Babaca!” Meu coração bate tão forte que pressiona as costelas. “Vou processar você, seu babaca!” Mais flashes, e eu prendo o casaco na porta ao fechá-la, e tenho de abrir e fechar de novo enquanto Marino enfia minha bagagem na traseira e pula para o assento do motorista, dando partida no motor, que ronca como o de um iate. A fotógrafa está tentando se levantar, e me ocorre que eu devia verificar se ela não está ferida. “Devíamos ver se ela não se machucou”, digo, olhando para fora pela janela. “De jeito nenhum. Nem fodendo.” A caminhonete dá uma guinada para entrar na rua, joga para um lado e para outro e acelera. “Quem são eles?” A adrenalina bombeia. Pontos azuis flutuam diante de meus olhos. “Uns panacas. É isso o que eles são.” Ele agarra o microfone do radiotransmissor. “Unidade nove”, anuncia. “Unidade nove”, retorna o controlador. “Não preciso de fotos minhas, de minha casa...”, levanto a voz. Cada célula de meu corpo se acende para protestar contra a injustiça de tudo isso. “Contate a unidade três-vinte, peça a ele para me ligar no celular.” Marino segura o microfone colado à boca. A unidade três-vinte responde a ele no ato, o celular vibrando como um enorme inseto. Marino abre o aparelho e fala. “A mídia achou um jeito de entrar no condomínio. Fotógrafos. Acho que eles estacionaram em algum lugar de Windsor Farms, seguiram a pé, pularam a cerca e passaram por aquela área gramada aberta atrás da guarita da segurança. Mande unidades para procurar carros que estejam estacionados onde não deveriam estar e reboque todos. Eles invadiram a propriedade da doutora, prenda-os.” Ele termina a ligação, fechando o aparelho como se fosse o capitão Kirk e tivesse acabado de ordenar que a Enterprise atacasse. Diminuímos a marcha na guarita da segurança e Joe sai dela. É um velho que sempre se orgulhou de usar seu uniforme marrom da Pinkerton, e é muito legal, educado e protetor, mas eu não gostaria de depender dele e de seus colegas para nada além da triagem de visitantes. Eu não devia estar nem um pouco surpresa de Chandonne ter entrado no condomínio, e agora a mídia. O rosto flácido e enrugado de Joe fica constrangido quando ele percebe que estou na caminhonete.
“Ei, cara”, Marino diz, áspero, pela janela aberta, “como os fotógrafos entraram aqui?” “O quê?” Joe entra instantaneamente no modo de proteção, seus olhos apertados enquanto ele olha para a escorregadia rua vazia, as luzes de vapor de sódio formando auras amarelas no alto dos postes. “Na frente da casa da doutora. Pelo menos três deles.” “Eles não vieram por aqui”, declara Joe. Volta para a guarita e pega o fone. Nós seguimos em frente. “Isso é o máximo que podemos fazer, doutora”, diz Marino. “Você pode também enfiar a cabeça na areia, porque vai haver fotos e merda em tudo quanto é canto.” Olho pela janela para as adoráveis casas georgianas brilhando de festividade natalina. “A má notícia é que seu risco de segurança acaba de subir mais um quilômetro.” Ele está fazendo um sermão, me dizendo o que já sei e não tenho nenhum interesse em discutir agora. “Porque agora meio mundo vai ver sua bela e elegante casa e saber exatamente onde você mora. O problema, e isso é que me deixa muito preocupado, é que coisas como essas fazem aparecer outros delinqüentes. Dá idéias a eles. Eles começam imaginando que você é uma vítima e ficam excitados com isso, como aqueles babacas que vão ao tribunal, para ficar ouvindo relatos de casos de estupro.” Ele desacelera até parar no cruzamento da Canterbury Road com a West Cary Street, e faróis passam por nós quando um sedã compacto de cor escura vira e reduz a velocidade. Reconheço o rosto estreito e insípido de Buford Righter olhando para a caminhonete de Marino. Righter e Marino abaixam os vidros das janelas. “Você está saindo...?”, Righter começa a dizer, quando seus olhos passam por Marino e pousam em mim, surpresos. Tenho a sensação enervante de que sou a última pessoa que ele quer ver. “Sinto muito por seu problema”, Righter diz estranhamente a mim, como se o que está acontecendo em minha vida não passasse de um problema, um inconveniente, algo desagradável. “É, estou indo embora.” Marino dá uma tragada no cigarro, nada solícito. Ele já expressou sua opinião sobre Righter aparecer em minha casa. É uma coisa desnecessária, e mesmo que realmente ache que é tão importante ele próprio examinar a cena do crime, por que não fez isso antes, quando eu estava no hospital? Righter aperta mais o casaco em torno do pescoço, a luz das lâmpadas da rua cintilando em seus óculos. Ele assente com a cabeça e me diz: “Cuide-se. Fico contente de você estar bem”, resolvido a admitir o que chamou de meu problema. “Isto é realmente difícil para todos nós.” Um pensamento me toma antes de ser externado em palavras. “Falo com você”, ele promete a Marino. Os vidros das janelas sobem. Prosseguimos. “Me dê um cigarro”, digo a Marino. “Suponho que ele não veio a minha casa hoje cedo”, digo então. “Bom, para falar a verdade, veio. Por volta das dez da manhã.” Ele me oferece o maço de Lucky Strike sem filtro e a chama sobe do isqueiro que ele
segura diante de mim. A raiva serpeia em minhas entranhas, e minha nuca está quente, a pressão em minha cabeça é quase insuportável. O medo se revolve dentro de mim como uma fera que desperta. Fico indelicada, empurrando o isqueiro do painel, deixando descortesmente o braço de Marino estendido com o isqueiro Bic aceso. “Obrigada por me contar”, retruco abruptamente. “Você se importa de eu perguntar quem mais esteve em minha casa? E quantas vezes? E por quanto tempo ficaram lá, e no que tocaram?” “Ei, não venha descontar em mim”, ele adverte. Eu conheço esse tom. Ele está prestes a perder a paciência comigo e com minha confusão. Somos como sistemas atmosféricos prestes a colidir, e não quero que isso aconteça. A última coisa de que preciso agora é uma guerra com Marino. Puxo a fumaça até a ponta soltar espirais amarelas brilhantes e inalo profundamente, e o soco do tabaco puro me faz rodopiar. Andamos vários minutos em inflexível silêncio, e quando finalmente falo, minha voz soa entorpecida, meu cérebro febril vidrado como as ruas, a dor pesada da depressão se espalhando por minhas costelas. “Sei que você só está fazendo o que precisa ser feito. Aprecio sua atitude”, forço as palavras. “Mesmo que não demonstre.” “Você não precisa explicar nada.” Ele suga o cigarro, nós dois lançando ondas de fumaça na direção de nossas janelas parcialmente abertas. “Sei exatamente como você está se sentindo”, ele acrescenta. “Acho difícil você saber.” O ressentimento me sobe pela garganta como bile. “Nem eu mesma sei.” “Eu entendo muito mais do que você reconhece”, ele diz. “Um dia você vai ver isso, doutora. Não há meio de você ver isso agora, e eu lhe digo que não vai melhorar nada nos próximos dias e semanas. É assim que funciona. O dano real ainda nem começou. Já perdi a conta de quantas vezes vi isso, o que acontece com as pessoas quando elas são vitimizadas.” Eu não quero absolutamente ouvir nem uma palavra sobre isso. “É ótimo você estar indo para onde vai”, ele diz. “É exatamente o que o médico mandou fazer, em mais de um sentido.” “Não vou ficar com Anna porque o médico mandou”, retruco irritada. “Vou ficar com ela porque é minha amiga.” “Você é uma vítima e tem de lidar com esse fato, e precisa de ajuda para lidar com isso. Não importa que você seja uma advogada-médica-chefe índia.” Marino não pára de falar, em parte porque está procurando briga. Ele quer um foco para sua raiva. Posso ver o que está por vir, e a raiva sobe rastejando por meu pescoço e me esquenta a raiz dos cabelos. “Ser vítima é o grande equalizador”, segue Marino, a maior autoridade mundial no assunto. Pronuncio as palavras lentamente. “Eu não sou vítima.” Minha voz tremula como fogo. “Há uma diferença entre ser vitimizada e ser vítima. Não sou um espetáculo de feira de distúrbios de personalidade.” Meu tom murcha. “Não me tornei o que ele queria me tornar” — claro que falo de Chandonne — “e, mesmo que ele tivesse conseguido fazer o que queria, eu não seria o que ele tentou projetar em mim. Estaria apenas morta. Não mudada. Nem nada menos do que sou. Apenas morta.”
Sinto Marino recuar em seu espaço escuro e alto do outro lado de sua enorme caminhonete de macho. Ele não entende o que digo ou sinto e provavelmente nunca entenderá. Reage como se eu o esbofeteasse no rosto ou lhe desse uma joelhada no saco. “Eu estou falando de realidade”, ele revida. “Um de nós dois tem de fazer isso.” “A realidade é que estou viva.” “É. Um baita dum milagre.” “Eu devia saber que você faria isso.” Fico calma e fria. “É tão previsível. As pessoas culpam a presa e não o predador, criticam o ferido e não o idiota que feriu.” Tremo no escuro. “Vá se danar. Vá se danar, Marino.” “Até agora eu não consigo acreditar que você abriu a porta!”, ele grita. O que aconteceu comigo o faz sentir-se impotente. “E onde estavam vocês?” Torno a lembrá-lo de um fato desagradável. “Seria ótimo se pelo menos um ou dois tivessem ficado de olho em minha propriedade. Já que vocês estavam tão preocupados com a possibilidade de ele vir me procurar.” “Eu falei com você pelo telefone, lembra?” Ele ataca de outro ângulo. “Você disse que estava bem. Eu lhe disse para não se mexer, que nós íamos descobrir onde o filho-da-puta estava escondido, que sabíamos que ele tinha saído para algum lugar, provavelmente procurando outra mulher para bater e morder e essa merda toda. E o que você faz, Doutora Policial? Abre a porra da porta quando alguém bate! À meia-noite! ” Eu pensei que a pessoa era da polícia. Ele disse que era da polícia. “Por quê?” Marino agora está gritando, socando o volante como uma criança descontrolada. “Hem? Por quê? Porra, me diga!” Sabíamos fazia dias quem era o assassino, que ele era o anormal espiritual e físico chamado Chandonne. Sabíamos que ele era francês e onde sua família de criminosos morava em Paris. A pessoa que bateu na porta de minha casa não tinha nem um sinal de sotaque francês. Polícia. Não chamei a polícia, falei, sem abrir a porta. Senhora, recebemos um chamado a respeito de um elemento suspeito em sua propriedade. Está tudo bem? Ele não tinha um pingo de sotaque. Jamais pensei que ele falasse sem sotaque. Isso nunca me ocorreu, nem uma vez. Mesmo que eu revivesse a noite passada, continuaria não me ocorrendo. A polícia tinha acabado de sair de minha casa quando o alarme soou. Não pareceu nada suspeito que eles voltassem. Supus incorretamente que estavam vigiando minha propriedade. Foi muito rápido. Abri a porta e a luz da entrada estava apagada, e senti o mau cheiro, como de cachorro molhado, na noite fria e escura. “Oi! Tem alguém aí?”, Marino grita, cutucando com força meu ombro. “Não toque em mim!”, digo num sobressalto, ofego e me afasto bruscamente dele, e a caminhonete dá uma guinada. O silêncio que se segue torna o ar pesado como água a centenas de metros de profundidade, e imagens
horríveis ressurgem em meus pensamentos mais sombrios. A esquecida cinza do cigarro está tão comprida que não consigo jogá-la no cinzeiro a tempo. Chamusco meu colo. “Você pode virar no Shopping Center Stonypoint, se quiser”, digo a Marino. “É mais rápido.”
* Assassino serial americano que matou dezessete homens entre 1978 e 1991. Em seu apartamento, foram descobertos restos do corpo de onze de suas vítimas. Condenado à prisão perpétua em Wisconsin (onde não há pena de morte), acabou sendo morto por outro prisioneiro. (N. T.)
2
A imponente casa em estilo neoclássico da dra. Anna Zenner assoma iluminada na noite, na margem sul do rio James. A mansão, como os vizinhos a chamam, tem grandes colunas coríntias e é um exemplo local da crença de Thomas Jefferson e George Washington de que a arquitetura da nova nação deveria expressar a grandiosidade e a dignidade do mundo antigo. Anna é do mundo antigo, uma alemã de primeira. Creio que ela nasceu na Alemanha. Pensando nisso agora, não me lembro de ela ter me dito alguma vez onde nasceu. Luzes brancas de festa cintilam nas árvores, e as velas nas muitas janelas da casa de Anna brilham calorosamente, me fazendo lembrar dos Natais em Miami durante o final dos anos 1950, quando eu era criança. Na rara ocasião em que a leucemia de meu pai esteve em remissão, ele adorava nos levar para passear de carro por Coral Gables para olhar abobalhados casas que ele chamava de villas, como se de algum modo sua capacidade de nos mostrar lugares assim o tornasse parte daquele mundo. Lembro-me de fantasiar sobre as pessoas privilegiadas que viviam naquelas casas, com seus muros graciosos e Bentleys e festas de churrasco ou camarão sete dias por semana. Ninguém que vivia daquele jeito podia ser pobre ou doente, ou considerado lixo por pessoas que não gostavam de italianos ou de católicos, nem de imigrantes chamados Scarpetta. Esse é um nome incomum de uma linhagem sobre a qual realmente não sei muito. Os Scarpetta vivem neste país há duas gerações, pelo menos é o que afirmava meu pai, mas não sei quem são os outros Scarpetta. Nunca os conheci. Me disseram que eles vieram de Verona, que meus antepassados eram agricultores e trabalhadores de ferrovia. Estou certa de que só tenho uma irmã, mais nova do que eu, chamada Dorothy. Foi casada por pouco tempo com um brasileiro que tinha o dobro da idade dela e que supostamente é o pai de Lucy. Digo supostamente porque, no caso de Dorothy, só um exame de DNA me convenceria de com quem ela estava na cama na ocasião em que minha sobrinha foi concebida. O quarto casamento de minha irmã foi com um Farinelli, e depois disso Lucy parou de mudar de sobrenome. À exceção de minha mãe, sou a única Scarpetta que sobrou, que eu saiba. Marino pára diante dos formidáveis portões de ferro preto e seu braço comprido se estica para pressionar o botão do intercomunicador. Um zunido eletrônico e um clique alto, e os portões se abrem lentamente como as asas de um corvo. Não sei por que Anna trocou sua terra natal pela Virgínia e nunca se casou. Nunca perguntei a ela por que se estabeleceu como psiquiatra clínica nesta modesta cidade sulista, quando poderia ter ido para qualquer lugar. Não sei por que de repente estou me perguntando sobre a vida dela. Pensamentos são falhas esquisitas. Saio com cuidado da caminhonete de Marino e piso no pavimento de granito. É como se eu estivesse com problemas de software. Todos
os tipos de arquivo se abrem e se fecham espontaneamente, e mensagens de sistema estão piscando. Não tenho certeza da idade exata de Anna, só de que ela tem por volta de setenta e cinco anos. Pelo que sei, ela nunca me contou onde fez faculdade ou a escola de medicina. Trocamos informações e opiniões durante anos, mas raramente nossas vulnerabilidades e fatos íntimos. De repente fico muito incomodada por saber tão pouco sobre Anna, e me sinto envergonhada enquanto subo os degraus limpíssimos da frente de sua casa, um por vez, escorregando minha mão boa ao longo do frio corrimão de ferro. Ela abre a porta e seu rosto perspicaz se suaviza. Ela olha para meu gesso grosso e curvo, para a tipóia azul, depois encontra meus olhos. “Kay, estou tão contente de ver você”, diz, me saudando do modo como sempre faz. “Como vai, doutora Zenner?”, pergunta Marino. Seu entusiasmo é exagerado quando ele abandona seu jeito característico para mostrar como é popular e charmoso e como se importa pouco comigo. “Tem alguma coisa cheirando mmm-mmm bem. Está cozinhando para mim de novo?” “Hoje não, capitão.” Anna não tem nenhum interesse nele nem em sua fanfarronice. Ela beija minhas duas bochechas, tomando cuidado com meu ferimento e sem me apertar com força, mas sinto seu coração no leve toque de seus dedos. No vestíbulo, Marino põe minhas malas sobre um esplêndido tapete de seda, acima do qual um candelabro de cristal cintila como gelo se formando no espaço. “Você pode levar um pouco de sopa”, ela diz a Marino. “Tenho bastante. Muito saudável. Sem gordura.” “Se não tem gordura, é contra a minha religião. Vou cair fora.” Ele evita olhar para mim. “Onde está Lucy?” Anna me ajuda a tirar o casaco, e eu luto para fazer a manga passar pelo gesso, e fico consternada ao perceber que ainda estou usando o avental de laboratório. “Você não tem nenhum autógrafo nele”, ela diz, porque ninguém assinou meu gesso, nem vai assinar. Anna tem um senso de humor árido e elitista. Ela pode ser muito engraçada sem dar nem um sinal de sorrir, e quem não estiver atento e não pensar rápido perde completamente a piada. “Sua casa não é suficientemente boa, então ela está no Jefferson”, Marino comenta com ironia. Anna entra no closet do hall para pendurar meu casaco. Minha energia nervosa está se dissipando depressa. A depressão me aperta o peito com mais força e aumenta a pressão em volta de meu coração. Marino continua a fingir que não existo. “É claro que ela pode ficar aqui. Ela é sempre bem-vinda e eu gostaria muito de vê-la”, Anna me diz. Mesmo depois de décadas, seu sotaque alemão não se atenuou. Ela ainda fala em refeições nutritivas, adotando ângulos canhestros para transmitir um pensamento do cérebro para a língua e raramente usando contrações. Sempre acreditei que ela prefere o alemão e só fala inglês porque não tem escolha. Pela porta aberta vejo Marino sair. “Por que você se mudou para cá, Anna?” Agora estou falando sem seqüência lógica. “Para cá? Você quer dizer esta casa?” Ela me observa.
“Richmond. Por que Richmond?” “Isso é fácil. Amor.” Ela diz isso de forma prosaica, sem nenhum traço de sentimento a respeito do assunto. A temperatura diminuiu com o cair da noite, e as enormes botas de Marino trituram a camada de neve dura. “Que amor?”, pergunto a ela. “Uma pessoa que se revelou uma perda de tempo.” Marino chuta o estribo para soltar a neve antes de entrar em sua caminhonete pulsante, o motor roncando como as entranhas de um grande navio, a descarga lançada com força do escapamento. Ele sente que estou olhando e finge em grande estilo que não percebe ou não se importa enquanto fecha a porta e engata a primeira. A neve é expelida dos enormes pneus quando o carro começa a andar. Anna fecha a porta da frente enquanto permaneço diante dela, perdida num vórtice de pensamentos e sentimentos espiralantes. “Precisamos instalar você”, ela me diz, tocando em meu braço e acenando para que eu a siga. Recobro a consciência. “Ele está com raiva de mim.” “Se ele não estivesse com raiva de alguma coisa — ou sendo grosseiro —, eu pensaria que ele está doente.” “Ele está com raiva de mim porque eu quase fui assassinada.” Minha voz soa muito cansada. “Todo mundo está com raiva de mim.” “Você está esgotada.” Ela pára no corredor da entrada para ouvir o que tenho a dizer. “Será que eu devo me desculpar porque alguém tentou me matar?” Os protestos desmoronam. “Eu pedi isso? Fiz alguma coisa errada? Tudo bem, eu abri a porta. Não fui perfeita, mas estou aqui, não estou? Estou viva, não estou? Nós todos estamos vivos e bem, não estamos? Por que todo mundo está com raiva de mim?” “Nem todo mundo está”, replica Anna. “Por que a culpa é minha?” “Você acha que a culpa é sua?” Ela me estuda com uma expressão que só pode ser descrita como radiológica. Anna enxerga diretamente meus ossos. “É claro que não”, replico. “Sei que a culpa não é minha.” Ela tranca a porta, depois liga o alarme e me leva para a cozinha. Tento me lembrar da última vez que comi ou de que dia da semana é hoje. Então tenho um vislumbre. Sábado. Já perguntei isso várias vezes. Vinte horas se passaram desde que quase morri. A mesa está posta para dois, e um grande caldeirão de sopa cozinha em fogo brando no fogão. Sinto cheiro de pão assando e de repente fico nauseada e ao mesmo tempo morta de fome, e apesar de tudo isso registro um detalhe. Se Anna estava esperando Lucy, por que a mesa não foi posta para três? “Quando Lucy vai voltar para Miami?” Anna parece ler meus pensamentos enquanto levanta a tampa do caldeirão e mexe a sopa com uma colher comprida de madeira. “O que você quer beber? Scotch?” “Um forte.” Ela desarrolha uma garrafa de uísque puro malte Glenmorangie Sherry
Wood Finish e derrama sua preciosa essência rosada sobre o gelo em copos de cristal lapidado. “Não sei bem quando Lucy vai embora. Na verdade, não tenho a menor idéia.” Começo a preencher as lacunas para ela. “O ATF esteve envolvido em um flagrante em Miami que acabou mal, muito mal. Houve um tiroteio. Lucy...” “Sim, sim, Kay, eu conheço essa parte.” Anna me entrega meu drinque. Ela pode soar impaciente mesmo quando está muito calma. “Apareceu tudo no noticiário. E eu liguei para você. Lembra? Nós falamos sobre Lucy.” “Ah, está certo”, murmuro. Anna senta na cadeira em frente à minha, cotovelos na mesa, inclinandose para conversar. É uma mulher maravilhosamente saudável e intensa, alta e firme, uma Leni Riefenstahl esclarecida além de seu tempo e não intimidada pelos anos. O conjunto de ginástica azul que ela está usando dá a seus olhos o mesmo tom surpreendente de centáureas, e seu cabelo prateado está puxado para trás em um rabo-de-cavalo elegante preso por uma faixa de veludo preto. Não sei se ela foi submetida a uma cirurgia plástica ou qualquer outro procedimento cosmético, mas suspeito que a medicina moderna tem algo a ver com sua aparência. Anna poderia facilmente passar por uma mulher em seus cinqüenta anos. “Suponho que Lucy veio ficar com você enquanto o incidente é investigado”, ela comenta. “Posso imaginar a burocracia.” O flagrante acabou da pior maneira possível. Lucy matou dois membros de um cartel internacional de contrabando de armas, que agora sabemos estar ligado à família de criminosos Chandonne. Lucy inadvertidamente feriu Jo, uma agente da DEA que na época era sua namorada. Burocracia não é a palavra certa para isso. “Mas acho que você não conhece a parte sobre Jo”, digo a Anna. “A parceira dela na HIDTA.” “Eu não sei o que é HIDTA.” “Área de Alta Intensidade de Tráfico de Drogas. Uma força-tarefa constituída de diferentes órgãos policiais que trabalham com crimes violentos. ATF, DEA, FBI, polícia de Miami-Dade”, digo a ela. “Quando o flagrante desandou há duas semanas, Jo foi baleada na perna. Descobriu-se que a bala saiu da arma da própria Lucy.” Anna ouve, bebericando o scotch. “Então Lucy atirou em Jo acidentalmente, e depois, é claro, o que vem à tona é o relacionamento pessoal delas”, continuo. “Que foi muito tenso. Não sei o que está acontecendo com elas agora, para dizer a verdade. Mas Lucy está aqui. Imagino que ela vá ficar até o fim dos feriados, mas depois, quem sabe?” “Eu não sabia que ela e Janet tinham rompido”, observa Anna. “Faz muito tempo.” “Eu sinto muito.” Ela está sinceramente incomodada com as notícias. “Eu gostava muito de Janet.” Já faz bastante tempo que não se fala de Janet. Lucy nunca diz nada sobre ela. Percebo que sinto muita falta de Janet e ainda penso que ela exercia uma influência madura e estabilizadora sobre minha sobrinha. Para ser honesta,
realmente não gosto de Jo. Não sei ao certo por quê. Talvez, considero enquanto pego meu drinque, seja simplesmente porque ela não é Janet. “E Jo está em Richmond?”, Anna procura saber mais da história. “Ironicamente, ela é daqui, embora não seja por isso que ela e Lucy terminaram juntas. Elas se conheceram em Miami, no trabalho. Jo vai passar um tempo se recuperando em Richmond, com os pais, imagino. Não me pergunte se isso vai dar certo. Eles são cristãos fundamentalistas e não exatamente apóiam o estilo de vida da filha.” “Lucy nunca escolhe nada fácil”, diz Anna, e está certa. “Tiros e mais tiros. Por que ela tem essa ligação com matar pessoas? Graças a Deus ela não matou de novo.” O peso em meu peito fica mais forte. Meu sangue parece ter se transformado em metal pesado. “Que ligação é essa que ela tem com matar?”, Anna instiga. “O que aconteceu dessa vez me preocupa. Se for verdade o que ouvi na TV.” “Eu não liguei a TV. Não sei o que estão dizendo.” Dou um gole em meu uísque e penso de novo em cigarros. Já parei tantas vezes. “Ela quase o matou, o tal francês, Jean-Baptiste Chandonne. Ela estava com a arma apontada para ele, mas você a impediu.” Os olhos de Anna me perfuram o crânio, sondando segredos. “Me conte.” Descrevo a ela o que aconteceu. Lucy tinha ido à Faculdade de Medicina da Virgínia para levar Jo do hospital para casa, e quando elas chegaram a minha casa, depois da meia-noite, Chandonne e eu estávamos no gramado da frente. A Lucy que evoco em minha memória parece uma pessoa estranha e violenta que não conheço, seu rosto irreconhecivelmente distorcido pela fúria quando ela apontou a pistola para ele, o dedo no gatilho, e eu implorei a ela que não atirasse. Ela estava berrando com ele, xingando-o enquanto eu gritava não, não, Lucy, não! Chandonne estava tomado por um pânico indizível, cego e agitado, esfregando neve nos olhos queimados com produto químico, gemendo e implorando que alguém o ajudasse. Nesse momento, Anna interrompe minha história. “Ele estava falando francês?”, ela pergunta. A pergunta me pega de surpresa. Tento lembrar. “Acho que sim.” “Então você entende francês.” Paro de novo. “Bem, tive aulas de francês no colegial. Só sei que na hora me pareceu que ele estava gritando para que eu o ajudasse. Eu tinha a impressão de entender o que ele dizia.” “Você tentou ajudá-lo?” “Eu estava tentando salvar a vida dele, tentando impedir Lucy de matá-lo.” “Mas você fez isso por Lucy, não por ele. Você não estava realmente tentando salvar a vida dele. Estava tentando impedir Lucy de arruinar a vida dela.” Pensamentos colidem, anulando um ao outro. Não replico. “Ela queria matá-lo”, continua Anna. “Essa era claramente a intenção dela.” Faço que sim com a cabeça, olhando para o vazio, revivendo tudo. Lucy,
Lucy. Gritei repetidamente o nome dela, tentando desfazer o encantamento homicida que a dominava. Lucy. Rastejei para mais perto dela no gramado nevado. Abaixe a arma. Lucy, você não quer fazer isso. Por favor . Abaixe a arma. Chandonne rolava e se contorcia, emitindo os sons horríveis de um animal ferido, e Lucy estava de joelhos, em posição de combate, a arma tremendo nas duas mãos enquanto ela a apontava para a cabeça dele. Então pés e pernas nos cercaram. Agentes do ATF e da polícia em uniforme de combate escuro segurando rifles e pistolas formigavam em meu gramado. Nenhum deles sabia o que fazer enquanto eu implorava a minha sobrinha que não matasse Chandonne a sangue-frio. Já chega de matança, imploro a Lucy enquanto me ponho a centímetros dela, meu braço esquerdo fraturado e inútil. Não faça isso. Não faça isso, por favor. Nós amamos você. “Você tem certeza de que Lucy tinha intenção de matá-lo, mesmo ele estando indefeso?”, pergunta Anna outra vez. “Sim”, respondo. “Tenho certeza.” “Então devemos considerar que talvez não fosse necessário para ela matar aqueles homens em Miami?” “Aquilo foi totalmente diferente, Anna”, retruco. “E não posso culpar Lucy pelo modo como ela reagiu quando o viu na frente de minha casa — ele e eu no chão, na neve, a menos de trinta centímetros um do outro. Ela sabia muito bem por que ele tinha ido a minha casa, o que ele planejava para mim. Se você fosse Lucy, como se sentiria?” “Não consigo imaginar.” “Está certo”, replico. “Acho que ninguém pode imaginar algo desse tipo até acontecer. Sei que, se fosse eu que estivesse dirigindo e fosse Lucy que estivesse no jardim, e ele tivesse tentado matá-la, eu...” Paro, analisando a hipótese, sem ser realmente capaz de completar o pensamento. “Você o teria matado”, Anna conclui o que deve suspeitar que eu ia dizer. “Bem, eu poderia.” “Mesmo que ele não fosse uma ameaça? Ele não estava totalmente apavorado, cego e imprestável?” “É difícil saber se a outra pessoa está imprestável, Anna. O que eu podia saber lá na neve, no escuro, com um braço quebrado, aterrorizada?” “Ah. Mas você sabia o bastante para convencer Lucy a não matá-lo.” Ela se levanta e eu a observo enquanto ela tira uma concha do suporte de ferro para panelas suspenso no alto e enche grandes tigelas de louça de barro, o vapor subindo em nuvens aromáticas. Ela põe a sopa na mesa, me dando tempo para pensar sobre o que acabou de dizer. “Você já parou para pensar que sua vida parece uma de suas certidões de óbito mais complicadas?” Então ela diz “Devido a, devido a, devido a ”. Faz gestos com as mãos, conduzindo sua orquestra de ênfases. “Você se encontra agora numa determinada posição devido a isso e aquilo e devido a etcétera, etcétera, e tudo remonta ao ferimento original. A morte de seu pai.” Faço um esforço para me lembrar do que contei a ela sobre meu passado. “Você é quem é na vida porque se tornou uma estudiosa da morte muito
cedo”, ela continua. “A maior parte de sua infância você viveu com a morte de seu pai.” A sopa é de frango com verduras, e eu detecto folhas de louro e xerez. Não sei se consigo comer. Anna calça luvas e tira pãezinhos do forno. Serve pão quente em pratinhos com manteiga e mel. “Parece que seu carma é retornar à cena, por assim dizer, repetidamente”, ela analisa. “A cena da morte de seu pai, daquela perda original. Como se de algum modo você fosse desfazê-la. Mas você só faz repeti-la. O padrão mais antigo da natureza humana. Eu o vejo todos os dias.” “Isso não tem nada a ver com meu pai.” Pego minha colher. “Não tem nada a ver com minha infância, e, para falar a verdade, a última coisa que me preocupa agora é minha infância.” “Isso tem a ver com não sentir.” Ela puxa sua cadeira e senta outra vez. “Com aprender a não sentir porque sentir era muito doloroso.” A sopa está quente demais e ela a mexe preguiçosamente com uma pesada colher de prata gravada. “Quando você era criança, não podia viver com a destruição iminente em sua casa, o medo, o pesar, a raiva. Você se fechou.” “Às vezes a gente precisa fazer isso.” “Nunca é bom fazer isso.” Ela balança a cabeça. “Às vezes fazer isso é sobreviver”, discordo. “Fechamento é negação. Quando você nega o passado, vai repeti-lo. Você é uma prova viva disso. Sua vida tem sido uma perda após outra desde a perda original. Ironicamente, você transformou a perda em profissão, a médica que ouve os mortos, a médica que senta à cabeceira dos mortos. Seu divórcio de Tony. A morte de Mark. Depois o ano passado, o assassinato de Benton. Depois Lucy no tiroteio, e você quase a perdeu. E agora, finalmente, você. Perdas e mais perdas.” A dor da morte de Benton é horrivelmente viva. Temo que seja sempre viva, que eu nunca escape do oco, do eco de salas vazias em minha alma e da angústia em meu coração. Sinto-me de novo ultrajada toda vez que penso nos policiais em minha casa tocando inadvertidamente coisas que pertenceram a Benton, esfregando suas pinturas, procurando lama no belo tapete que ele me deu de presente de Natal. Ninguém sabendo. Ninguém se importando. “Um padrão como esse”, comenta Anna, “se não for detido, adquire uma energia irrefreável e suga tudo para dentro de seu buraco negro.” Digo a ela que minha vida não está num buraco negro. Não nego que há um padrão. Eu teria de ser impenetrável como lodo para não percebê-lo. Mas em um aspecto discordo inflexivelmente. “Me incomoda muito ouvir você sugerir que eu o levei até a porta de minha casa”, digo a ela, me referindo outra vez a Chandonne, que mal suporto chamar pelo nome. “Que de algum modo eu fiz tudo para levar um assassino a minha casa. Se é isso que estou ouvindo de você. Se é mesmo isso que você está dizendo.” “É o que estou perguntando.” Ela passa manteiga num pãozinho. “É o que estou perguntando a você, Kay”, ela repete sombriamente. “Anna, em nome de Deus, como você pode pensar que eu de algum modo provocaria meu próprio assassinato?”
“Porque você não seria a primeira nem a última pessoa a fazer algo assim. Não é consciente.” “Não eu. Nem subconsciente nem inconscientemente”, afirmo. “Há muita profecia auto-realizada aqui. Você. Depois Lucy. Ela quase se tornou aquilo que ela combate. Tome cuidado com quem você escolhe como inimigo, porque muito provavelmente é com ele que você se torna mais parecido”, Anna lança no ar a citação de Nietzsche. Ela serve palavras que me ouviu dizer no passado. “Eu não quis que ele fosse a minha casa”, repito devagar e monocordicamente. Continuo evitando dizer o nome de Chandonne porque não quero dar a ele o poder de ser uma pessoa real para mim. “Como ele soube onde você mora?”, Anna continua seu interrogatório. “Saiu no noticiário várias vezes ao longo dos anos, infelizmente”, conjeturo. “Não sei como ele sabia.” “O quê? Ele foi à biblioteca e procurou seu endereço em microfilmes? Essa criatura deformada de modo tão hediondo que raramente saía à luz do dia? Essa anomalia congênita com cara de cachorro, com praticamente cada centímetro do rosto e do corpo coberto com lanugem comprida, com cabelos claros de bebê? Ele foi à biblioteca pública?” Ela deixa o absurdo disso pairar sobre nós. “Não sei como ele sabia”, repito. “Onde ele estava escondido não é longe de minha casa.” Estou ficando transtornada. “Não me culpe. Ninguém tem o direito de me culpar pelo que ele fez. Por que você está me culpando?” “Nós criamos nossos mundos. Nós destruímos nossos mundos. É simples assim, Kay”, ela me responde. “Não posso acreditar que você pense nem por um minuto que eu queria que ele viesse atrás de mim. Logo eu.” Uma imagem de Kim Luong lampeja. Eu me lembro de ossos faciais fraturados se despedaçando sob meus dedos calçados com luvas de látex. Me lembro do pungente odor doce de sangue coagulado no depósito quente e sem ar para onde Chandonne arrastou o corpo moribundo de Kim, para poder liberar sua luxúria frenética, batendo, mordendo e se lambuzando com o sangue dela. “Aquelas mulheres também não provocaram isso”, digo com emoção. “Eu não conhecia essas mulheres”, diz Anna. “Não posso falar do que elas fizeram ou deixaram de fazer.” Uma imagem de Diane Bray lampeja, sua beleza arrogante violentada, destruída e exposta cruamente no colchão nu de seu quarto. Ela estava completamente irreconhecível quando ele acabou com ela, parecendo odiá-la mais completamente que a Kim Luong — mais completamente que às mulheres que acreditamos que ele tenha assassinado em Paris antes de vir para Richmond. Erguendo a voz, pergunto a Anna se Chandonne se reconheceu em Bray e isso excitou seu ódio por si próprio até o nível mais alto. Diane Bray era esperta e fria. Era cruel e abusava do poder com a mesma prontidão com que respirava. “Você tinha todos os bons motivos para odiá-la”, é a resposta de Anna. Isso me faz parar em minhas trilhas mentais. Não respondo de imediato. Tento me lembrar se alguma vez disse que odiava alguém ou, pior, se realmente
me senti culpada por isso. Odiar outra pessoa é errado. Nunca é certo. O ódio é um crime do espírito que leva a crimes da carne. É o ódio que leva tantos de meus pacientes a minha porta. Digo a Anna que não odiava Diane Bray, embora ela achasse que era sua missão me subjugar e quase tenha conseguido minha demissão. Bray era patologicamente ciumenta e ambiciosa. Mas não, digo a Anna, eu não odiava Diane Bray. Ela era má, concluo. Mas não merecia o que ele fez com ela. E certamente ela não provocou aquilo. “Você acha que não?” Anna questiona tudo. “Você não acha que ele fez com ela, simbolicamente, o que ela estava fazendo com você? Obsessão. Meterse à força em sua vida quando você estava vulnerável. Atacar, degradar, destruir — uma subjugação que a excitava, talvez até sexualmente. O que é que você me disse tantas vezes? As pessoas morrem do modo como vivem.” “Muitas delas.” “E ela?” “Simbolicamente, como você diz?”, replico. “Talvez.” “E você, Kay? Você quase morreu do modo como vive?” “Eu não morri, Anna.” “Mas quase morreu”, ela repete. “E antes de ele ir até sua porta, você tinha quase desistido. Você quase parou de viver quando Benton morreu.” Meus olhos lacrimejam. “O que você acha que aconteceria com você se Diane Bray não tivesse morrido?”, Anna pergunta então. Bray dirigia o Departamento de Polícia de Richmond e enganava as pessoas que importavam. Em pouquíssimo tempo, construiu um nome na Virgínia, e ironicamente seu narcisismo, sua sede de poder e reconhecimento, ao que parece, talvez tenham sido o que atraiu Chandonne para ela. Pergunto-me se ele primeiro a perseguiu. Pergunto-me se ele me perseguiu, e suponho que a resposta às duas perguntas é que provavelmente ele fez isso. “Você acha que ainda seria legista-chefe se Diane Bray estivesse viva?” O olhar de Anna é inabalável. “Eu não a deixaria ganhar.” Provo minha sopa e meu estômago se agita. “Não importa quão diabólica ela fosse, eu não teria permitido que isso acontecesse. Sou eu que decido minha vida. Ela é minha para eu fazer dela o que quiser.” “Talvez você esteja contente por ela ter morrido”, diz Anna. “O mundo está melhor sem ela.” Empurro o jogo americano e tudo que está nele para bem longe de mim. “A verdade é essa. O mundo fica melhor sem pessoas como ela. O mundo seria melhor sem ele.” “Melhor sem Chandonne?” Concordo com um movimento de cabeça. “Então talvez você desejasse que Lucy o matasse, afinal?”, ela sugere calmamente, e Anna sabe como exigir a verdade sem ser agressiva ou sentenciosa. “Talvez você acionasse a chave, como se diz?” “Não.” Balanço a cabeça. “Não, eu não aciono a chave para ninguém. Não consigo comer. Sinto muito ter lhe dado tanto trabalho. Espero não estar ficando doente.”
“Já falamos o suficiente por ora.” Anna de repente é a mãe decidindo a hora de dormir. “Amanhã é domingo, um dia bom para ficar em casa, se aquietar e descansar. Vou zerar minha agenda, cancelar todos os compromissos para segunda-feira. E depois vou cancelar a terça e a quarta e o resto da semana, se for preciso.” Tento objetar, mas ela não ouve. “O bom de ter a minha idade é que posso fazer o que quiser”, ela acrescenta. “Estou de plantão para as emergências. Mas nada além disso. E neste momento você é minha maior emergência, Kay.” “Eu não sou uma emergência.” Levanto-me da mesa. Anna me ajuda com a bagagem e me conduz por um longo corredor que leva à ala oeste de sua majestosa casa. O quarto de hóspedes onde devo ficar por um período indeterminado é dominado por uma grande cama de madeira de teixo que, como a maior parte da mobília da casa, é Biedermeier dourado desbotado. A decoração é contida, com linhas retas e simples, mas acolchoados e travesseiros e pesadas cortinas que caem em cascatas de seda champanhe sobre o piso de madeira de lei indicam sua verdadeira natureza. A motivação de Anna na vida é o conforto dos outros, curar e banir o medo e celebrar a beleza pura. “Do que mais você precisa?” Ela pendura minhas roupas. Ajudo a guardar outros itens nas gavetas da cômoda e me dou conta de que estou tremendo de novo. “Você precisa de alguma coisa para dormir?” Ela enfileira meus sapatos no chão do closet. Tomar um Ativan ou algum outro sedativo é uma proposta tentadora à qual resisto. “Sempre tive medo de tornar isso um hábito”, respondo vagamente. “Você pode ver como eu sou com o cigarro. Não sou confiável.” Anna olha para mim. “É muito importante que você consiga dormir, Kay. Não há amigo melhor para a depressão.” Não tenho certeza do que ela está dizendo, mas sei o que tem em mente. Eu estou deprimida. Provavelmente vou continuar deprimida, e a privação de sono torna tudo muito pior. Em toda a minha vida, a insônia me atacou como artrite, e quando me tornei médica tive de resistir ao hábito fácil de abusar de minha própria loja de doces. As drogas controladas sempre estiveram disponíveis. E sempre fiquei longe delas. Anna me deixa e eu sento na cama com as luzes apagadas, olhando no escuro, meio acreditando que quando a manhã chegar descobrirei que o que aconteceu é apenas mais um de meus pesadelos, outro horror que rastejou de minhas camadas mais profundas quando eu não estava exatamente consciente. Minha voz racional sonda meu interior como uma lanterna, mas não dispersa nada. Não consigo iluminar nenhum significado para o fato de eu quase ter sido mutilada e morta, nem para como isso afeta o resto de minha vida. Não consigo senti-lo. Não consigo entendê-lo. Meu Deus, me ajude. Me deito de lado e fecho os olhos. Com Deus me deito, minha mãe costumava rezar comigo, mas eu sempre pensava que as palavras eram realmente mais para meu pai em seu leito de doente no corredor. Às vezes, quando minha mãe saía de meu quarto, eu inseria pronomes masculinos nos versos. Se ele morrer antes de acordar, rezo ao
Senhor que leve sua alma, e chorava até dormir.
3
Sou acordada na manhã seguinte por vozes na casa e tenho a sensação perturbadora de que o telefone tocou a noite toda. Não sei ao certo se isso foi um sonho. Por um momento pavoroso não tenho idéia de onde estou, então vou aos poucos me dando conta, numa onda nauseante e assustadora. Levanto-me apoiando-me nos travesseiros e fico parada por um momento. Posso perceber através das cortinas fechadas que o sol está outra vez ausente, não oferecendo nada além de cinza. Visto um robe felpudo que está pendurado atrás da porta do banheiro e calço um par de meias antes de me aventurar a sair para ver quem mais está na casa. Espero que o visitante seja Lucy, e é. Ela e Anna estão na cozinha. Pequenos flocos de neve caem além das amplas janelas que dão para o quintal e o rio azul-acinzentado. Árvores nuas delineadas sombriamente em oposição ao dia movem-se devagar ao vento, e fumaça de lenha sobe da casa do vizinho mais próximo. Lucy está vestida com um agasalho de ginástica desbotado que restou de quando ela fez os cursos de computação e robótica no MIT. Aparentemente penteou seu cabelo curto castanho-avermelhado com os dedos, e parece incomumente soturna, com um olhar injetado e vítreo que associo a excesso de bebida na noite passada. “Você acabou de chegar?”, digo, abraçando-a. “Na verdade, ontem à noite”, ela responde, me apertando com força. “Não pude resistir. Pensei em vir para cá e nós fazermos um baile do pijama. Mas você já tinha entregado os pontos. A culpa é minha, por ter chegado tão tarde.” “Ah, não.” Sinto um buraco por dentro. “Você devia ter me acordado. Por que não acordou?” “Sem chance. Como está o braço?” “Não dói muito.” Isso não é inteiramente verdade. “Você saiu do Jefferson?” “Não, ainda estou lá.” A expressão de Lucy é ilegível. Ela cai no chão e tira a calça do agasalho, deixando à mostra uma bermuda de ginástica brilhante de spandex. “Temo que sua sobrinha tenha sido uma má influência”, diz Anna. “Ela trouxe uma ótima garrafa de Veuve Clicquot e nós ficamos acordadas até tarde. Eu não ia deixá-la voltar para o centro.” Sinto uma pontada de dor, ou talvez seja ciúme. “Champanhe? Estamos celebrando alguma coisa?”, pergunto. Anna responde encolhendo levemente os ombros. Está preocupada. Sinto que carrega muitos pensamentos pesados que não quer expor na minha frente, e imagino se o telefone realmente tocou ontem à noite. Lucy abre o zíper de sua jaqueta, revelando mais náilon azul e preto brilhante que adere como pintura a seu corpo forte e atlético.
“Sim. Celebrando”, diz Lucy, com amargura na voz. “O ATF me pôs em licença administrativa.” Não posso acreditar que ouvi direito. Licença administrativa é o mesmo que suspensão. É o primeiro passo para a demissão. Olho para Anna em busca de algum sinal de que ela já sabia disso, mas ela parece tão surpresa quanto eu. “Eles me puseram na praia.” A gíria do ATF para suspensão. “Vou receber uma carta na semana que vem, por aí, que vai citar todas as minhas transgressões.” Lucy simula um ar blasé, mas conheço-a bem demais para ser enganada. A raiva é praticamente a única coisa que vi saindo dela nos últimos meses e anos, e está lá agora, fundida debaixo de suas muitas camadas complexas. “Eles vão me dar todas as razões pelas quais devo ser demitida, e eu posso apelar. A menos que eu decida mandar tudo à merda e me demita. E eu posso fazer isso. Não preciso deles.” “Por quê? Por que aconteceu isso? Não foi por causa dele.” Refiro-me a Chandonne. Com raras exceções, quando um agente esteve em um tiroteio ou algum outro incidente crítico, a rotina é envolvê-lo imediatamente em apoio dos colegas e atribuir a ele uma tarefa menos estressante, como uma investigação de incêndio criminoso, em vez do perigoso trabalho secreto que Lucy estava fazendo em Miami. Se a pessoa é emocionalmente incapaz de lidar com a situação, pode-se até conceder a ela uma licença por trauma. Mas licença administrativa é outra história. É punição, pura e simples. Lucy ergue os olhos para mim de seu lugar no chão, com as pernas estiradas e as mãos plantadas atrás das costas. “É a velha história do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come”, ela retruca. “Se eu tivesse atirado nele, teria de pagar. Não atirei e tenho de pagar.” “Você esteve num tiroteio em Miami, e logo depois você vem para Richmond e quase atira em outra pessoa.” Anna declara a verdade. Não importa se a outra pessoa é um assassino serial que invadiu minha casa. Lucy tem um histórico de recorrer à força que antecede mesmo o incidente em Miami. Seu passado problemático pesa fortemente na cozinha de Anna como uma frente de baixa pressão. “Sou a primeira a admitir isso”, retruca Lucy. “Todos queríamos acabar com ele. Você não acha que Marino queria?” Seu olhar encontra o meu. “Você acha que todos os policiais, todos os agentes que apareceram em sua casa não queriam puxar o gatilho? Eles acham que eu sou uma espécie de mercenária, uma psicótica que se excita matando pessoas. Pelo menos é isso que estão sugerindo.” “Você precisa de uma pausa”, diz Anna com franqueza. “Talvez seja isso e nada mais.” “Não é só isso. Ora, se um dos meus colegas tivesse feito o que fiz em Miami, seria um herói. Se um deles quase matasse Chandonne, os executivos em Washington estariam aplaudindo sua contenção, não o acusando por quase fazer algo. Como se pode punir alguém por quase fazer algo? Na verdade, como se pode jamais provar que alguém quase fez algo?”
“Bem, eles vão ter de provar”, minha porção advogada e investigadora diz a ela. Ao mesmo tempo me lembro de que Chandonne quase fez algo comigo. Mas ele não fez realmente, não importa qual fosse sua intenção, e sua defesa legal final vai extrair muito desse fato. “Eles podem fazer o que quiserem”, diz Lucy, enquanto a mágoa e a raiva crescem. “Podem me demitir. Ou me levar de volta e estacionar meu traseiro em uma escrivaninha numa salinha sem janela em algum lugar de Dakota do Sul ou do Alasca. Ou me enterrar em algum departamentozinho, como o de audiovisual.” “Kay, você ainda não tomou café.” Anna tenta dissipar a tensão crescente. “Então talvez esse seja o meu problema. Talvez seja por isso que nada faz sentido esta manhã.” Vou para a cafeteira perto da pia. “Alguém mais quer?” Não há outros interessados. Encho uma xícara enquanto Lucy se curva em alongamentos extremos, e é sempre assombroso vê-la se mover, líquida e maleável, seus músculos chamando atenção sem deliberação ou estardalhaço. Tendo começado a vida gorducha e lenta, ela passou anos se construindo como uma máquina que responde do modo que ela exige, muito semelhante ao helicóptero que ela pilota. Talvez seja seu sangue brasileiro que acrescenta o fogo escuro a sua beleza, mas Lucy é eletrizante. As pessoas fixam os olhos nela em todos os lugares aonde ela vai, e sua reação é, no máximo, dar de ombros. “Não sei como você pode sair para correr num tempo como este”, Anna diz a ela. “Eu gosto da dor.” Lucy bate em seu bolso traseiro, onde está uma pistola. “Nós precisamos falar mais sobre isso, imaginar o que você vai fazer.” A cafeína desfibrila meu lento coração e com um tranco me devolve a clareza de raciocínio. “Depois de correr, vou me exercitar na academia”, diz Lucy. “Vou demorar um pouco.” “Dor e mais dor”, Anna reflete. Quando olho para minha sobrinha, só consigo pensar em como é extraordinária e em como a vida foi injusta com ela. Lucy nunca conheceu seu pai biológico, e então Benton apareceu e foi o pai que ela nunca teve, e ela também o perdeu. Sua mãe é uma mulher autocentrada, que compete demais com Lucy para conseguir amá-la, se é que minha irmã, Dorothy, é capaz de amar alguém, e realmente não acredito que seja. Lucy é possivelmente a pessoa mais inteligente e complexa que conheço. Isso não lhe valeu muitos fãs. Ela sempre foi irreprimível, e ao vê-la sair voando da cozinha como um corredor olímpico, armada e perigosa, me lembro de quando ela começou o primário, aos quatro anos e meio de idade, e foi reprovada por mau comportamento. “Como é que alguém pode ser reprovado por mau comportamento?”, perguntei a Dorothy quando ela me telefonou furiosa para se queixar da terrível dificuldade de ser mãe de Lucy. “Ela fala o tempo todo, interrompe os outros alunos e está sempre levantando a mão para fazer perguntas!”, Dorothy despejou ao telefone. “Você sabe o que a professora escreveu no relatório dela? Aqui! Deixe eu ler para você! Lucy não trabalha nem brinca bem com os outros. Ela é exibida e sabe-tudo
e está constantemente desmontando coisas, como o apontador de lápis e maçanetas de porta.” Lucy é gay. Isso é provavelmente o mais injusto de tudo, porque é algo que ela não pode superar nem controlar. A homossexualidade é injusta porque cria injustiça. Por isso fiquei infeliz quando descobri essa parte da vida de minha sobrinha. Não quero, desesperadamente, que ela sofra. Também me obrigo a admitir que consegui ignorar o óbvio até agora. O ATF não vai ser generoso nem magnânimo, e Lucy provavelmente sabe disso há algum tempo. A administração em Washington não vai olhar para tudo o que ela realizou, vai focalizá-la com as lentes distorcidas do preconceito e do ciúme. “Vai ser uma caça às bruxas”, digo depois de Lucy ter saído. Anna quebra ovos em uma tigela. “Eles querem que ela saia, Anna.” Ela joga as cascas na pia, abre a geladeira, tira uma caixa de leite e olha a data de validade. “Há quem pense que ela é uma heroína”, ela diz. “Os órgãos policiais toleram as mulheres. Não as celebram nem punem aquelas que se tornam heroínas. Esse é o segredinho sujo sobre o qual ninguém quer falar”, digo. Anna bate vigorosamente os ovos com um garfo. “É uma história igual à nossa”, continuo. “Fizemos faculdade de medicina em uma época em que tínhamos de nos desculpar por pegar os lugares dos homens. Em alguns casos, éramos evitadas, sabotadas. Na turma do primeiro ano de minha faculdade havia três outras mulheres. Quantas havia na sua?” “Em Viena era diferente.” “Viena?” Meus pensamentos evaporam. “Onde eu me formei”, ela me informa. “Ah.” Sinto-me de novo culpada quando fico sabendo de mais um detalhe sobre minha amiga. “Quando cheguei aqui, tudo que você está dizendo sobre a situação das mulheres hoje era exatamente igual.” A boca de Anna forma uma linha dura enquanto ela põe os ovos batidos em uma frigideira de ferro fundido. “Eu me lembro de como era quando me mudei para a Virgínia. De como fui tratada.” “Pode acreditar que sei tudo sobre isso.” “Eu estava trinta anos a sua frente, Kay. Você realmente não sabe tudo sobre isso.” Os ovos cozinham e borbulham. Eu me apóio no balcão, tomando café preto, desejando ter estado acordada quando Lucy chegou na noite passada, padecendo porque não falei com ela. Tive de descobrir as novidades dela assim, quase como um a propósito. “Ela conversou com você?”, pergunto a Anna. “Sobre o que acabou de nos contar?” Ela dobra os ovos repetidas vezes. “Pensando nisso agora, acho que ela apareceu com champanhe porque queria contar a você. Um efeito muito inadequado, considerando as novidades.” Ela tira muffins ingleses multigrão da torradeira. “É fácil supor que os psiquiatras têm essas conversas aprofundadas com todo mundo, quando na verdade as pessoas raramente me contam seus
verdadeiros sentimentos, mesmo quando me pagam por hora.” Ela leva nossos pratos para a mesa. “Basicamente, as pessoas me contam o que pensam. Esse é o problema. As pessoas pensam demais.” “Eles não vão fazer estardalhaço.” Estou de novo preocupada com o ATF quando Anna e eu sentamos uma de frente para a outra. “Vão atacar de forma dissimulada como o FBI. E na verdade o FBI a dispensou pela mesma razão. Ela era a estrela em ascensão deles, um gênio da computação, piloto de helicóptero, a primeira mulher na Equipe de Resgate de Reféns.” Percorro o currículo de Lucy enquanto a expressão de Anna fica cada vez mais cética. Nós duas sabemos que é desnecessário que eu recite tudo isso. Ela conhece Lucy desde quando ela era criança. “Então a carta gay foi jogada.” Não consigo parar. “Bem, ela saiu do FBI para o ATF, e lá vamos nós outra vez. A história se repete o tempo todo. Por que você está me olhando assim?” “Porque você está se consumindo com os problemas de Lucy, quando os seus são maiores que o Mont Blanc.” Minha atenção vagueia para fora da janela. Um gaio azul bebe água no bebedouro de pássaros, as penas eriçadas, sementes de girassol caindo e salpicando como grãos de chumbo a terra nevada. Dedos pálidos de luz do sol sondam a manhã nublada. Giro nervosamente minha xícara de café em pequenos círculos sobre a mesa. Meu cotovelo lateja lenta e profundamente enquanto comemos. Sejam quais forem meus problemas, resisto a falar sobre eles, como se verbalizá-los de algum modo lhes desse vida — como se eles já não a tivessem. Anna não me pressiona. Ficamos em silêncio. Os talheres tinem ao bater nos pratos e a neve cai mais grossa, congelando arbustos e árvores e pairando como uma névoa sobre o rio. Volto a meu quarto e tomo um demorado banho quente, meu gesso apoiado na banheira. Estou me vestindo com dificuldade, me dando conta de que provavelmente nunca conseguirei dar nó em cadarços só com uma mão, quando a campainha toca. Pouco depois, Anna bate na porta e pergunta se estou vestida. Pensamentos florescem sombrios e revolvem-se como tempestades. Não estou esperando companhia. “Quem é?”, grito. “Buford Righter”, ela diz.
4
Pelas costas, o promotor estadual é chamado de muitas coisas: Easy Righter (ele é fraco), Righter Wrong (indeciso), Fighter Righter (tudo menos), Booford (apavorado com a própria sombra).* Sempre alinhado, sempre apropriado, Righter é sempre o cavalheiro virginiano que foi treinado para ser, na zona rural do condado da Carolina de suas raízes. Ninguém o ama. Ninguém o odeia. Ele não é temido nem respeitado. Righter não tem bala. Não consigo me lembrar de jamais tê-lo visto emocionado, por mais cruel ou triste que fosse o caso. Pior, ele é melindroso quando se trata de detalhes que levo ao fórum, preferindo se concentrar em aspectos da legislação, e não na assombrosa desordem humana deixada pelas violações da lei. O resultado de sua evitação do necrotério é que ele não é versado em ciência e medicina forense como deveria ser. De fato, é o único promotor público que conheço que não parece se importar em estipular a causa da morte. Em outras palavras, ele permite que os registros escritos falem pelo legista no tribunal. Isso é uma paródia. Para mim, constitui negligência. Quando o legista não está no tribunal, em certo sentido, o corpo também não está, e os jurados não visualizam a vítima nem o que ela passou durante o processo de morte violenta. Termos clínicos em protocolos simplesmente não evocam o terror do sofrimento, e por essa razão é normalmente a defesa, e não a promotoria, que quer estipular a causa da morte. “Buford, como vai?” Estendo a mão e ele olha para meu gesso e minha tipóia, depois para meus cadarços desamarrados e para a fralda de minha camisa, pendurada. Ele nunca me viu usando nada menos que um tailleur ou terninho e sempre em um cenário adequado a minha posição profissional, e suas sobrancelhas se franzem numa expressão que supostamente evidencia compaixão e compreensão amáveis, a humildade e o cuidado daqueles escolhidos por Deus para governar as criaturas menores. Esse tipo é abundante entre as primeiras famílias da Virgínia, pessoas empoeiradas e privilegiadas que refinaram a habilidade de disfarçar seu elitismo e sua arrogância embaixo de uma pesada aura de fardo, como se para eles fosse dificílimo serem quem são. “Eu é que pergunto: como vai você?”, ele diz, voltando a sentar-se na bela sala de estar oval de Anna, com teto abobadado e vista para o rio. “Realmente não sei como responder, Buford.” Escolho uma cadeira de balanço. “Toda vez que alguém pergunta, minha mente é reinicializada.” Anna deve ter acabado de acender a lareira e desapareceu, e tenho a sensação incômoda de que sua ausência representa mais do que a cortesia de não se intrometer. “Não fico nem um pouco surpreso. Não sei nem como você é capaz de funcionar depois do que passou.” Righter fala com um sotaque virginiano arrastado e xaroposo. “Claro que peço desculpas por chegar assim sem pedir licença, Kay, mas aconteceu uma coisa, uma coisa inesperada. Bela residência,
não é?” Ele continua a inspecionar o ambiente. “Ela construiu ou já existia?” Não sei nem quero saber. “Vocês são muito próximas, eu deduzo”, ele acrescenta. Não sei ao certo se ele está só de lero-lero ou jogando verde. “Ela tem sido uma boa amiga”, replico. “Sei que ela acha você o máximo. O que quer dizer”, ele segue, “que você não poderia estar sob melhores cuidados neste momento, na minha opinião.” Fico ofendida por ele estar sugerindo que estou sob os cuidados de alguém, como se eu fosse uma paciente numa enfermaria, e digo isso. “Oh, entendo.” Ele continua sua varredura das pinturas a óleo nas paredes rosa-claras, dos objetos decorativos de vidro, das esculturas e da mobília européia. “Então vocês não têm uma relação profissional? Nunca tiveram?” “Não literalmente”, respondo irritada. “Nunca tive uma consulta com ela.” “Ela alguma vez receitou medicamentos para você?”, ele continua, afável. “Não que eu me lembre.” “Puxa, nem acredito que é quase Natal.” Righter suspira, sua atenção vagando entre mim e o rio. Para usar um termo de Lucy, ele está ridículo em suas calças bávaras de lã verde-escura presas por botão e enfiadas em botas de borracha forradas de lã e sola grande. Usa também um suéter de lã xadrez Burberry abotoado até o queixo, como se estivesse em dúvida sobre se hoje vai escalar uma montanha ou jogar golfe na Escócia. “Bem”, ele diz, “vou lhe contar por que estou aqui. Marino me ligou há umas duas horas. Houve um desenvolvimento imprevisto no caso Chandonne.” A punhalada da traição é instantânea. Marino não me disse nada. Ele nem se preocupou em saber como estou esta manhã. “Vou resumir para você da melhor maneira possível.” Righter cruza as pernas e pousa gravemente as mãos no colo, uma fina aliança de casamento e um anel de formatura da Universidade da Virgínia cintilando na luz artificial. “Kay, estou certo de que você sabe que a notícia sobre o que aconteceu em sua casa e a subseqüente apreensão de Chandonne apareceu em todos os noticiários. E estou dizendo em todos mesmo. Tenho certeza de que você acompanhou isso e pode apreciar a magnitude do que vou lhe dizer.” O medo é uma emoção fascinante. Estudei-o infindavelmente e costumo dizer às pessoas que o melhor exemplo de como ele funciona é a reação de outro motorista quando seu carro surge na frente dele e quase bate. Em segundos o pânico se transforma em raiva e a outra pessoa enfia a mão na buzina, faz gestos obscenos ou, hoje em dia, atira em você. Faço a progressão completa, o medo estridente transformando-se em fúria. “Não acompanhei o noticiário deliberadamente, e com certeza não vou apreciar a magnitude do que você vai me dizer”, replico. “Nunca aprecio ter minha privacidade violada.” “Os assassinatos de Kim Luong e Diane Bray chamaram muita atenção, mas nada comparável a isto — a tentativa de assassinato contra você”, ele continua. “Suponho, então, que você não viu o Washington Post de hoje.” Apenas olho para ele, fervilhando.
“Foto de primeira página de Chandonne na maca sendo carregado para o pronto-socorro, seus ombros peludos saindo dos lençóis como uma espécie de cachorro de pêlo comprido. Claro, o rosto dele estava coberto por ataduras, mas certamente se podia perceber como ele é grotesco. E os tablóides. Você pode imaginar. Lobisomem em Richmond, A Bela e a Fera, esse tipo de coisa.” O desprezo se insinua na voz dele, como se o sensacionalismo fosse obsceno, e sou sujeitada a uma imagem indesejável dele fazendo amor com a esposa. Posso visualizá-lo trepando de meias. Suspeito que ele considera o sexo uma indignidade, o juiz de biologia primitivo anulando seu eu superior. Ouvi rumores. No banheiro dos homens, ele não usa mictórios nem privadas na frente de ninguém. Lava as mãos compulsivamente. Tudo isso está zumbindo em minha mente enquanto ele continua sentado de modo tão apropriado e revela a degradante exposição pública que Chandonne me causou. “Você sabe se apareceram fotos de minha casa em algum lugar?”, tenho de perguntar. “Havia fotógrafos quando eu saí de casa na noite passada.” “Bem, eu sei que alguns helicópteros sobrevoaram a casa esta manhã. Alguém me contou”, ele responde, fazendo-me suspeitar no mesmo instante que voltou a minha casa e testemunhou isso ele próprio. “Tirando fotografias aéreas.” Ele olha fixo para a neve caindo. “Imagino que o clima pôs um fim nisso. A guarita de segurança tem impedido a entrada de poucos carros. A imprensa, os curiosos. De uma forma imprevista, é ótimo você estar com a doutora Zenner. É engraçado como as coisas se resolvem.” Ele pára, olhando outra vez para o rio. Um bando de gansos selvagens circula, como se esperando instruções da torre. “Normalmente, eu recomendaria que você não voltasse para sua casa até depois do julgamento...” “Até depois do julgamento?”, interrompo. “Se o julgamento fosse aqui”, ele passa à revelação seguinte, que eu automaticamente suponho seja uma referência a uma mudança de foro. “O que você está dizendo é que o julgamento provavelmente será transferido para fora de Richmond”, interrompo. “E o que você entende por normalmente ?” “Era o que eu ia lhe dizer. Marino recebeu um telefonema do gabinete do promotor distrital de Manhattan.” “Hoje de manhã? É esse o novo desenvolvimento?” Estou desconcertada. “O que Nova York tem a ver com isso?” “Foi há umas duas horas”, ele prossegue. “A chefe da divisão de crimes sexuais, uma mulher chamada Jaime Berger — um nome esquisito, soletra-se JA-I-M-E, mas pronuncia-se Jamie. Talvez você tenha ouvido falar dela. De fato eu não me surpreenderia se vocês se conhecessem.” “Nunca fomos apresentadas”, replico. “Mas ouvi falar nela.” “Sexta-feira, 15 de dezembro, há dois anos”, continua Righter, “o corpo de uma mulher negra de vinte e oito anos foi encontrado em Nova York, num apartamento na região da Segunda Avenida com a rua 77, Upper East Side. Aparentemente uma mulher que era meteorologista na TV, é..., apresentava a previsão do tempo, na CNBC. Não sei se você soube do caso.”
Contra minha vontade, começo a fazer ligações. “Quando ela não apareceu no estúdio naquela manhã bem cedo, a manhã do dia 15, e não atendeu o telefone, alguém foi procurá-la. A vítima” — Righter puxa uma minúscula agenda do bolso de trás da calça e folheia as páginas —, “o nome é Susan Pless. Bem, o corpo dela está em seu quarto, sobre o tapete ao lado da cama. Roupas rasgadas da cintura para cima, rosto e cabeça tão machucados que parece que ela esteve num desastre aéreo.” Ele olha para mim. “E isso é uma citação, a parte do desastre de avião — supostamente foi essa a descrição que Berger deu a Marino. Qual era a palavra que você costumava usar? Lembra do caso em que os adolescentes bêbados estavam correndo numa picape e um deles decidiu pendurar metade do corpo fora da janela e teve a infelicidade de encontrar uma árvore?” “Atolamento”, respondo em voz baixa enquanto absorvo o que ele está dizendo. “Rosto afundado devido a um forte impacto, como o que se pode encontrar em desastres aéreos ou em casos nos quais as pessoas pularam ou caíram de lugares altos e bateram primeiro o rosto. Há dois anos?” Meus pensamentos rodopiam. “Como isso é possível?” “Não vou contar os detalhes sanguinários.” Ele folheia mais páginas de sua agenda. “Mas havia marcas de mordida, inclusive nas mãos e nos pés, e muitos cabelos claros compridos e esquisitos aderidos ao sangue, que à primeira vista se presumiu serem pêlos de animal. Talvez um gato angorá de pêlos longos ou algo do tipo.” Ele levanta os olhos para mim. “Você deve estar captando o sentido.” O tempo todo supusemos que a viagem de Chandonne a Richmond era a primeira que ele fazia aos Estados Unidos. Não temos nenhuma razão lógica para essa suposição além do fato de o imaginarmos como uma espécie de Quasímodo que passou a vida escondido no porão da casa de sua poderosa família em Paris. Também supusemos que veio de navio de Antuérpia a Richmond ao mesmo tempo que o cadáver de seu irmão seguia em nossa direção. Será que erramos nisso também? Digo tudo isso a Righter. “Você sabe o que a Interpol conjeturou, de qualquer forma”, ele comenta. “Que ele estava a bordo do Sirius usando um nome falso”, recordo, “um homem chamado Pascal, que foi imediatamente levado ao aeroporto quando o navio chegou ao porto aqui em Richmond no começo de dezembro. Supostamente uma emergência familiar exigiu que ele voasse de volta para a Europa.” Repito a informação que recebi de Jay Talley quando me encontrava na Interpol de Lyon na semana passada. “Mas ninguém o viu realmente a bordo do avião, portanto se supôs que Pascal era na verdade Chandonne e que ele não voou para lugar nenhum, ficou aqui e começou a matar. Mas se esse cara entra e sai dos Estados Unidos com tanta facilidade, é impossível saber quanto tempo ele ficou no país, quando ele chegou aqui ou qualquer outra coisa. Chega de teorias.” “Bem, suponho que muitas delas podem acabar sendo revistas antes de tudo acabar. Sem pretender desrespeitar a Interpol ou qualquer outra pessoa.” Righter cruza de novo as pernas e parece estranhamente satisfeito. “Ele foi localizado? O tal Pascal?” Righter não sabe, mas especula que, seja quem for o verdadeiro Pascal — supondo que ele exista —, provavelmente é apenas mais uma maçã podre
envolvida com o cartel do crime da família Chandonne. “Mais um cara com nome falso, possivelmente até um sócio do cara morto que estava no contêiner”, Righter especula. “O irmão, imagino. Thomas Chandonne, que temos certeza de que estava envolvido nos negócios da família.” “Suponho que Berger ouviu a notícia da detenção de Chandonne, soube de seus assassinatos e nos telefonou”, digo. “Considerando o modus operandi, isso está correto. Ela diz que o caso de Susan Pless sempre a perseguiu. Berger está com uma pressa infernal para comparar o DNA. Aparentemente conseguiu sêmen e eles obtiveram um perfil com base nele, já faz dois anos.” “Então no caso de Susan o sêmen foi analisado”, pondero, um tanto surpresa, porque laboratórios com excesso de trabalho e poucos recursos financeiros não analisam provas de DNA até que haja um suspeito para comparar — especialmente quando não há um banco de dados extenso a ser verificado na esperança de uma coincidência. Em 1997, o banco de dados de Nova York nem sequer existia. “Isso significa que eles tinham originalmente um suspeito?”, pergunto. “Acho que eles tinham um cara em mente, mas o resultado não bateu”, responde Righter. “Só sei que eles conseguiram um perfil e vamos levar o DNA de Chandonne para o legista de lá imediatamente — na verdade, a amostra já deve estar a caminho. Para dizer o óbvio, temos de saber se há uma coincidência antes da citação de Chandonne aqui em Richmond. Temos de nos antecipar, e a boa notícia é que ganhamos de presente pelo menos alguns dias extras devido à condição médica dele, às queimaduras químicas nos olhos dele.” Ele fala como se eu não tivesse nada a ver com isso. “Eu meio que gosto do momento precioso de que você sempre fala, aquele breve período de tempo que se tem para salvar alguém que sofreu um acidente horrível ou coisa assim. Este é nosso momento precioso. Vamos comparar as amostras de DNA e ver se Chandonne é de fato a pessoa que matou a mulher em Nova York há dois anos.” Righter tem o hábito irritante de repetir coisas que eu disse, como se isso de algum modo o deixasse imune, por permanecer ignorante sobre assuntos que realmente importam. “E as marcas de mordida?”, pergunto. “Havia alguma informação sobre elas? Chandonne tem uma dentição muito incomum.” “Sabe, Kay”, ele diz, “eu realmente não tratei desse tipo de detalhe.” É claro que ele não trataria. Tento obter a verdade, a verdadeira razão pela qual ele veio me ver esta manhã. “E se o DNA apontar para Chandonne? Você quer saber antes da citação dele aqui? Por quê?” É uma pergunta retórica. Acho que sei por quê. “Você não quer que ele seja citado aqui. Pretende transferi-lo para Nova York e deixar que ele seja julgado lá primeiro.” Ele evita meus olhos. “Por que você faria isso, Buford?”, prossigo, enquanto me convenço de que isso é exatamente o que ele decidiu. “De modo que você possa lavar as mãos em relação a ele? Enviá-lo para a prisão de Riker’s Island e se livrar dele? E não fazer justiça aos casos aqui? Sejamos honestos, Buford, se eles conseguirem uma condenação por assassinato em primeiro grau em Manhattan, você não vai se
preocupar em julgá-lo aqui, vai?” Ele me dá um de seus olhares sinceros. “Todos na comunidade sempre respeitaram muito você”, ele me surpreende ao dizer. “Sempre respeitaram?” O alarme me atinge como água fria. “E não respeitam mais?” “Só estou lhe dizendo que entendo como você se sente — que você e essas outras pobres mulheres merecem que ele seja punido em toda a extensão da...” “Então imagino que o desgraçado simplesmente vai se livrar do que tentou fazer comigo”, corto-o impetuosamente. Por baixo de tudo isso está o medo. O medo da rejeição. O medo do abandono. “Imagino que ele simplesmente vai se livrar do que fez a essas outras pobres mulheres, como você diz. Estou certa?” “Eles têm pena de morte em Nova York”, ele replica. “Ah, pelo amor de Deus”, exclamo enojada. Fixo meu olhar nele intensamente, energicamente, como o foco da lente de aumento que eu usava em experiências infantis para queimar buracos no papel e em folhas mortas. “E alguma vez eles a aplicaram?” Ele sabe que a resposta é nunca. Ninguém jamais é executado em Manhattan. “E também não há nenhuma garantia de que ela seria aplicada na Virgínia”, Righter responde aceitavelmente. “O acusado não é cidadão americano. Ele tem uma doença ou deformidade bizarra ou seja lá o que for. Não sabemos nem se ele fala inglês.” “Ele certamente falou inglês quando foi a minha casa.” “Pelo que sabemos, ele pode escapar com base em insanidade.” “Suponho que isso dependa da capacidade do promotor, Buford.” Righter pisca. Os músculos de sua mandíbula se tensionam. Ele parece uma paródia hollywoodiana de um contador — todo abotoado e com óculos pequenos — que acabou de ser submetido a um cheiro ofensivo. “Você falou com Berger?”, pergunto a ele. “Deve ter falado. Você não poderia ter aparecido com isso por conta própria. Vocês dois fizeram um acordo.” “Nós trocamos idéias. Há pressões, Kay. É preciso avaliar isso. Por um lado, ele é francês. Você tem idéia de como os franceses reagiriam se tentássemos executar um de seus compatriotas aqui na Virgínia?” “Ah, meu Deus”, deixo escapar. “Isso não tem nada a ver com pena de morte. Tem a ver com punição, ponto. Você sabe como eu me sinto em relação à pena de morte, Buford. Sou contra. E fico cada vez mais contra à medida que envelheço. Mas ele devia ser responsabilizado pelo que fez aqui na Virgínia, droga.” Righter não diz nada, e olha de novo pela janela. “Então você e Berger concordaram que, se o DNA Coincidir, Manhattan pode ficar com Chandonne”, resumo. “Pense bem. Isso é o melhor que podemos esperar em termos de mudança de foro, por assim dizer.” Righter me olha outra vez. “E você sabe muito bem que o caso nunca seria julgado aqui em Richmond com toda a publicidade e tal. Nós provavelmente seríamos todos mandados para um tribunal rural a um milhão de quilômetros daqui, e você gostaria de agüentar isso por semanas, talvez
meses?” “Está certo.” Levanto-me e remexo a lenha com o atiçador de brasas, o calor me batendo no rosto, fagulhas subindo pela chaminé como um bando de estorninhos espectrais. “Que Deus não permita que sejamos incomodados.” Empurro a lenha usando meu braço bom, como se tentasse apagar o fogo. Volto a sentar, corada e à beira das lágrimas. Sei tudo sobre síndrome de estresse póstraumático e aceito que estou com esse distúrbio. Vivo ansiosa e me sobressalto facilmente. Há pouco tempo sintonizei uma estação local de música clássica e Pachelbel me encheu de pesar e comecei a soluçar. Conheço os sintomas. Engulo em seco e me aprumo. Righter me observa em silêncio, com um olhar cansado de nobreza triste, como se fosse Robert E. Lee se lembrando de uma batalha dolorosa. “O que vai acontecer comigo?”, pergunto. “Ou eu devo apenas tocar a vida como se nunca tivesse trabalhado com esses horríveis assassinatos — como se eu nunca tivesse feito a autópsia das vítimas dele ou fugido de minha vida quando ele entrou à força em minha casa? Qual será meu papel nisso, Buford, supondo que ele seja julgado em Nova York?” “Isso caberá à senhorita Berger”, ele responde. “Almoços grátis.” É uma expressão que uso quando me refiro a vítimas que nunca obtêm justiça. No cenário que Righter está sugerindo, eu, por exemplo, seria um almoço grátis, porque Chandonne jamais será julgado em Nova York pelo que tentou fazer comigo em Richmond. De forma ainda mais ultrajante, ele não receberá nem um tapa na mão pelos assassinatos que cometeu aqui. “Você acaba de jogar esta cidade inteira aos lobos”, digo a ele. Ele percebe o duplo sentido no mesmo momento que eu. Vejo isso em seus olhos. Richmond já foi jogada a um lobo, Chandonne, cujo modus operandi quando ele começou a matar na França era deixar bilhetes assinados Le Loupgarou, O Lobisomem. Agora a justiça para as vítimas desta cidade estará nas mãos de estranhos ou, mais precisamente, não haverá justiça nenhuma. Tudo pode acontecer. Tudo vai acontecer. “E se a França pedir que ele seja extraditado?”, desafio Righter. “E se Nova York autorizar a extradição?” “Nós podemos citar e se até a lua ficar azul”, ele diz. Olho para ele com franco desprezo. “Não tome isso como algo pessoal, Kay.” Righter me lança de novo aquele olhar pio e triste. “Não transforme isso em sua guerra pessoal. Nós só queremos pôr o bastardo fora de ação. Não importa quem consiga fazer isso.” Levanto da minha cadeira. “Bem, importa sim. Com toda certeza importa”, digo a ele. “Você é um covarde, Buford.” Dou as costas a ele e saio da sala. Minutos depois, atrás da porta fechada em minha ala da casa, ouço Anna indicando a saída a Righter. Obviamente, ele se demorou o suficiente para falar com ela, e imagino o que ele pode ter dito a meu respeito. Sento na beirada da cama, totalmente perdida. Não consigo me lembrar de jamais ter sentido esta solidão, este pavor, e fico aliviada quando ouço Anna vindo pelo corredor. Ela
bate de leve em minha porta. “Entre”, digo com voz vacilante. Ela fica parada no vão da porta olhando para mim. Sinto-me como uma criança, impotente, desesperada, tola. “Eu insultei Righter”, conto a ela. “Não importa se o que eu disse é verdade. Chamei-o de covarde.” “Ele acha que neste momento você está perturbada”, ela replica. “Está preocupado. Ele também é ein Mann ohne Rückgrat. Um homem sem fibra, como dizemos no lugar de onde eu venho.” Ela ri um pouco. “Anna, eu não estou perturbada.” “Por que estamos aqui quando podemos defrutar a lareira?”, ela diz. Ela pretende falar comigo. “O.k.”, concedo, “você venceu.”
(*) Aqui há vários trocadilhos: primeiro com easy rider, “aquele que leva uma vida fácil” e também título original do filme Sem destino (1969); depois com right or wrong, “certo ou errado”; em “Fighter Righter”, fighter pode ser “combatente” ou “persistente”; em Booford, boo é o nosso “buu”, som feito para assustar. (N. T.)
5
Nunca fui paciente de Anna. Aliás, nunca fiz nenhum tipo de psicoterapia, o que não quer dizer que nunca precisei. Certamente precisei. Não conheço ninguém que não possa se beneficiar de um bom aconselhamento. O problema é que sou muito reservada e não confio facilmente nas pessoas, e por boas razões. Não existe discrição absoluta. Sou médica. Conheço outros médicos. Os médicos falam uns com os outros e com a família e os amigos. Contam segredos que juram sobre Hipócrates que nunca revelarão a outra pessoa. Anna apaga as luzes. O final da manhã é nublado e escuro como o anoitecer, e as paredes pintadas de rosa refletem a luz da lareira e tornam a sala irresistivelmente aconchegante. De repente fico inibida. Anna criou condições propícias para que eu me abra. Pego a cadeira de balanço e ela puxa um divã para perto de si e se empoleira na beirada dele, me encarando como um grande pássaro curvado sobre seu ninho. “Você não vai sair desta situação se não falar.” Ela é brutalmente direta. Sinto a angústia subir pela garganta e tento engoli-la. “Você está traumatizada”, continua Anna. “Kay, você não é feita de aço. Nem mesmo você pode agüentar tanto e simplesmente continuar como se nada tivesse acontecido. Tantas vezes eu liguei para você depois da morte de Benton, e você não encontrou tempo para mim. Por quê? Porque você não queria falar.” Desta vez não consigo esconder minhas emoções. As lágrimas me escorrem pelo rosto e caem em meu colo como sangue. “Eu sempre digo a meus pacientes, quando eles não enfrentam seus problemas, que vão acabar tendo de fazer um ajuste de contas.” Anna se inclina para a frente, intensamente concentrada nas palavras que dispara direto para meu coração. “Este é o momento de você fazer um ajuste de contas.” Ela aponta para mim, os olhos fixos em meu rosto. “Agora você vai conversar comigo, Kay Scarpetta.” Mal olho para meu colo. Minha calça está salpicada de lágrimas e faço a associação disparatada de que as lágrimas são perfeitamente redondas porque caem em um ângulo de noventa graus. “Nunca vou me livrar disso”, sussurro baixinho. “Livrar-se do quê?” Isso fisga o interesse de Anna. “Do que eu faço. Tudo me faz lembrar de algo do meu trabalho. Eu não falo sobre isso.” “Quero que você fale sobre isso agora”, ela me diz. “É bobagem.” Ela espera, a pescadora paciente, sabendo que estou tocando no anzol. Então eu o pego. Dou a Anna exemplos que considero embaraçosos, se não ridículos. Conto a ela que nunca tomo suco de tomate, nem V8, nem Bloody Mary com gelo, porque quando o gelo começa a derreter parece sangue em coagulação se separando do soro. Parei de comer fígado na faculdade de
medicina, e não posso admitir a idéia de considerar qualquer tipo de órgão como algo a ser posto em minha boca. Recordo uma manhã em Hilton Head Island, em que Benton e eu estávamos andando na praia, e o recuo da arrebentação tinha deixado áreas de areia cinza ondulada que se pareciam muito com o revestimento interno do estômago. Meus pensamentos se torcem e viram onde querem, e uma viagem à França se revela pela primeira vez em anos. Em uma das raras ocasiões nas quais Benton e eu realmente nos afastamos do trabalho, fizemos o roteiro dos Grand Vins de Bourgogne e fomos recebidos pelos reverenciados domaines de Drouhin e Dugat, e provamos dos tonéis de Chambertin, Montrachet, Musigny e Vosne-Romanée. “Eu me lembro de ter me comovido de maneiras que não sou capaz de descrever.” Compartilho lembranças que nem sabia que ainda tinha. “A luz do começo da primavera variando nas colinas e a extensão nodosa de videiras de inverno podadas, todas erguendo as mãos do mesmo modo, oferecendo o melhor que têm, sua essência, a nós. E tantas vezes não sentimos seu caráter, não reservamos tempo para encontrar a harmonia em tons sutis, a sinfonia que os vinhos finos tocam em nossa língua se deixarmos.” Minha voz morre. Anna espera em silêncio que eu volte. “Como eu só ser perguntada sobre meus casos”, prossigo. “Só ser perguntada sobre os horrores que vejo, quando há tanta coisa mais em mim. Eu não sou uma emoção barata com uma tampa atarrachada.” “Você se sente sozinha”, Anna observa com delicadeza. “E incompreendida. Talvez tão desumanizada quanto seus pacientes mortos.” Não respondo a ela, mas continuo com minhas analogias, descrevendo quando Benton e eu viajamos de trem pela França durante várias semanas, terminando em Bordeaux, e os telhados se tornaram mais vermelhos no sul. O primeiro toque de primavera criava um verde bruxuleante irreal nas árvores, e veios de água e os cursos maiores eram aspirados para o mar, como os vasos sangüíneos no corpo começam e terminam no coração. “Fico constantemente chocada com a simetria na natureza, o modo como os riachos e os tributários do ar parecem o sistema de circulação, e as rochas me lembram velhos ossos espalhados”, digo. “E o cérebro começa liso e com o tempo se torna espiralado e fendido, de forma muito semelhante a como as montanhas se diferenciam ao longo de milhares de anos. Estamos sujeitos às mesmas leis da física. Mas ao mesmo tempo não estamos. O cérebro, por exemplo, não tem a aparência do que faz. Num exame grosseiro, ele é tão excitante quanto um cogumelo.” Anna concorda com a cabeça. Ela pergunta se dividi alguma dessas reflexões com Benton. Digo que não. Ela quer saber por que não me senti disposta a compartilhar coisas que lhe parecem percepções inofensivas com ele, meu amado, e digo a ela que preciso pensar sobre isso um minuto. Não tenho certeza da resposta. “Não.” Ela me estimula. “Não pense. Sinta.” Eu pondero. “Não. Sinta, Kay. Sinta.” Ela põe a mão sobre o coração. “Eu tenho de pensar. Foi pensando que cheguei aonde cheguei na vida”, retruco defensivamente, de modo abrupto, saindo do espaço incomum no qual acabei de estar. Agora estou de volta à sala de Anna e entendo tudo que
aconteceu comigo. “Você chegou aonde chegou na vida sabendo”, ela diz. “E saber é perceber. Pensar é o modo como processamos o que percebemos, e muitas vezes pensar mascara a verdade. Por que você não quis partilhar seu lado mais poético com Benton?” “Porque eu realmente não reconheço esse lado. É um lado inútil. Comparar o cérebro com um cogumelo no tribunal, por exemplo, não levaria a lugar nenhum”, respondo. “Ah.” Outra vez Anna concorda com a cabeça. “Você faz analogias no tribunal o tempo todo. É por isso que é uma testemunha tão eficaz. Você evoca imagens para que pessoas comuns possam entender. Por que você não contou a Benton as associações que acaba de me contar?” Paro de me balançar e reposiciono o braço quebrado, descansando o gesso no colo. Desvio a cabeça da direção de Anna e olho para o rio lá fora, sentindome de repente tão evasiva quanto Buford Righter. Dezenas de gansos selvagens se reuniram em volta do velho plátano. Eles estão sobre o gramado como cabaças escuras de pescoço comprido, e arfam e batem as asas, e dão bicadas em busca de comida. “Não quero atravessar esse espelho”, digo a ela. “Não é só que eu não quisesse contar a Benton. Eu não quero contar a ninguém. Não quero contar de jeito nenhum. E ao não repetir imagens e associações involuntárias, eu não, bem, eu não...” Mais uma vez Anna assente com a cabeça, agora de forma mais profunda. “Ao não reconhecê-las, você não convida sua imaginação a trabalhar”, ela conclui meu pensamento. “Eu tenho de ser clínica, objetiva. Pelo menos você devia entender.” Ela me observa antes de responder. “É isso? Ou pode ser que você esteja evitando o sofrimento insuportável que com toda certeza provocaria se permitisse que sua imaginação se envolvesse em seus casos?” Ela chega mais perto, apoiando os cotovelos nos joelhos, gesticulando. “E se, por exemplo” — ela pára de falar de um modo dramático — “você pudesse pegar os fatos da ciência e da medicina e usar a imaginação para reconstruir em detalhes os últimos minutos da vida de Diane Bray? E se você pudesse evocar isso como um filme e assistir — vê-la ao ser atacada, ver sua hemorragia, ela ser mordida e espancada? Vê-la morrer?” “Isso seria indizivelmente medonho”, mal respondo. “Como seria convincente se um júri pudesse ver um filme como esse”, ela diz. Impulsos nervosos fervem por baixo de minha pele como milhares de peixinhos. “Mas se você atravessasse esse espelho, como você chama”, ela continua, “onde isso poderia terminar?” Ela joga as mãos para cima. “Ah. Talvez não terminasse, e você seria obrigada a assistir ao filme da morte de Benton.” Fecho os olhos. Resisto a ela. Não. Por favor, Senhor, não me faça ver isso. Um vislumbre de Benton no escuro, uma pistola apontada para ele e o som de catraca, o estalo do aço quando o algemam. Insultos. Eles o insultariam, Senhor FBI, você é tão esperto, o que vamos fazer agora, Senhor Especialista em Perfis
Psicológicos? Você pode ler nossas mentes, nos decifrar , prever? Hein? Ele não responderia. Não perguntaria nada a eles enquanto eles o levavam à força para um pequeno depósito de um mercado da vizinhança na margem oeste da Universidade da Pensilvânia que fechara às cinco da tarde. Benton ia morrer. Eles o atormentariam e torturariam, e essa era a parte em que ele se concentraria — como abreviar o medo e a degradação que ele sabia que eles lhe infligiriam se tivessem tempo. A escuridão e o riscar de um fósforo. O rosto dele oscilando à luz de uma pequena chama que tremula com cada agitação do ar quando aqueles dois desgraçados psicopatas se deslocam no espaço atulhado de um mercadinho de merda de um paquistanês que eles incendiaram depois que ele morreu. Minhas pálpebras se abrem. Anna está falando comigo. O suor frio escorre por meu corpo como insetos. “Desculpe. O que você disse?” “Muito, muito doloroso.” O rosto dela se derrete de compaixão. “Nem consigo imaginar.” Benton entra em minha mente. Ele usa sua calça cáqui preferida e seus tênis de corrida Saucony. Era a única marca que ele usava, e eu costumava chamá-lo de meticuloso porque ele era muito específico quando realmente gostava de alguma coisa. E ele está com o velho moleton da Universidade da Virgínia que Lucy deu a ele, azul-escuro com letras laranja brilhantes, que com o passar dos anos ficou muito desbotado e macio. Ele cortou as mangas porque eram muito curtas, e sempre gostei da aparência dele naquele velho suéter surrado, com seu cabelo prateado, seu perfil limpo, os mistérios por trás de seus intensos olhos escuros. As mãos dele estão levemente curvadas em torno dos braços de sua cadeira. Ele tem dedos de pianista, longos e finos, expressivos quando fala, e sempre gentis quando me tocam, o que com o tempo ocorre cada vez menos. Estou dizendo isso em voz alta a Anna, falando no presente sobre um homem que está morto há mais de um ano. “Que segredos você acha que ele escondeu de você?”, pergunta Anna. “Que mistérios você via nos olhos dele?” “Ah, meu Deus. Principalmente sobre trabalho.” Minha respiração tremula, meu coração foge de medo. “Ele guardava muitos detalhes só para si. Detalhes sobre o que via em certos casos, coisas que achava tão terríveis que ninguém mais devia passar por elas.” “Nem você? Existe alguma coisa que você não tenha visto?” “O medo delas”, falo calmamente. “Eu não tenho de ver o terror delas. Não quero ouvir seus gritos.” “Mas você o reconstrói.” “Não é a mesma coisa. Com certeza não é. Muitos dos assassinos com quem Benton lidou gostavam de fotografar, gravar os sons e em alguns casos vídeos do que faziam com as vítimas. Benton tinha de assistir. E ouvir. Eu sempre sabia. Ele chegava com um aspecto sombrio. Não falava muito durante o jantar, nem comia muito, e nessas noites bebia mais que o normal.” “Mas ele não lhe contava...” “Nunca”, interrompo-a emocionada. “Nunca. Esse era o Cemitério Indígena dele e ninguém estava autorizado a entrar nele. Eu lecionei em uma
escola de investigação de mortes em Saint Louis. Isso foi no começo de minha carreira, antes de eu me mudar para cá, quando ainda era subchefe em Miami. Eu estava fazendo um curso sobre afogamento e resolvi que, como já estava lá, ia freqüentar a escola a semana inteira. Uma tarde, um psiquiatra forense deu uma aula sobre homicídio sexual. Ele mostrou slides de vítimas vivas. Uma mulher estava presa a uma cadeira e seu agressor tinha amarrado uma corda em um de seus seios e inserido agulhas no mamilo. Até hoje não consigo suportar a visão dos olhos dela. Eles eram lagos escuros cheios de terror, e sua boca estava muito aberta enquanto ela gritava. E eu vi videoteipes”, prossigo monotonamente. “Uma mulher, raptada, atada, torturada e prestes a receber um tiro na cabeça. Ela choraminga, pedindo a mãe. Implorando, gritando. Acho que ela estava em um porão, a imagem era escura, granulosa. O som da pistola disparando. E o silêncio.” Anna não diz nada. A lareira estala e pipoca. “Eu era a única mulher numa sala com cerca de sessenta policiais”, acrescento. “Pior ainda, então, porque as vítimas eram mulheres e você era a única mulher”, diz Anna. Sinto raiva quando me lembro do modo como alguns homens olhavam para os slides e os videoteipes. “A mutilação sexual excitava alguns deles”, digo. “Eu podia ver no rosto deles, podia sentir. Acontecia a mesma coisa com alguns dos especialistas em perfil psicológico, colegas de Benton na unidade. Eles descreviam o modo como Bundy* estuprava uma mulher por trás enquanto a estrangulava. Os olhos abaulados, a língua projetada. Ele tinha orgasmo enquanto ela morria. E esses homens com quem Benton trabalhava gostavam um pouco demais de contar isso. Você tem idéia de como é isso?” Fixo nela um olhar que é afiado como uma unha. “Ver um corpo morto, ver fotos, vídeos, de alguém brutalizado, de alguém sofrendo e aterrorizado, e perceber que as pessoas em volta de você estão secretamente gostando? Que elas consideram aquilo excitante?” “Você acha que Benton também sentia isso?” “Não. Ele testemunhava essas coisas toda semana, talvez até todo dia. Excitante, nunca. Ele tinha de ouvir os gritos delas.” Comecei a divagar. “Ele tinha de ouvi-las chorar e implorar. Aquelas pobres pessoas não sabiam. Mesmo que soubessem, não poderiam ter evitado.” “Não sabiam? O que aquelas pessoas não sabiam?” “Que os sádicos sexuais só ficam mais excitados com os gritos. Com as súplicas. Com o medo”, respondo. “Você acha que Benton gritou ou suplicou quando seus assassinos o seqüestraram e o levaram para aquele prédio escuro?” Anna está prestes a conseguir o que quer. “Eu vi o relatório da autópsia dele.” Escorrego para meu esconderijo clínico. “Não há na verdade nada nele que me diga definitivamente o que aconteceu antes da morte. Ele estava muito queimado pelo fogo. Muito tecido desapareceu, não foi possível ver, por exemplo, se ele ainda tinha pressão sangüínea quando eles o cortaram.”
“Ele tinha um ferimento de bala na cabeça, não tinha?”, Anna pergunta. “Sim.” “O que você acha que aconteceu primeiro?” Fico olhando para ela em silêncio. Não reconstruí o que provocou a morte dele. Nunca fui capaz de me convencer a fazer isso. “Visualize, Kay”, diz Anna. “Você sabe, não é? Você trabalhou com mortes demais para não saber o que aconteceu.” Minha mente está escura, tão escura quanto aquele mercadinho em Filadélfia. “Ele fez alguma coisa, não fez?” Ela pressiona, inclinando-se em minha direção, quase se encostando no divã. “Ele venceu, não foi?” “Venceu?” Pigarreio. “Venceu! Eles cortaram o rosto dele e o queimaram e você diz que ele venceu?” Ela espera que eu faça a ligação. Quando não digo nada mais, ela se levanta e anda até a lareira, tocando de leve meu ombro ao passar. Joga outra acha no fogo, olha para mim e diz: “Kay, me responda uma coisa. Por que eles atirariam nele depois do fato?”. Esfrego os olhos e suspiro. “Cortar o rosto fazia parte do modus operandi”, ela prossegue. “Do que Newton Joyce gostava de fazer com suas vítimas.” Ela se refere ao cruel parceiro da cruel Carrie Grethen — um par de psicopatas que fariam Bonnie e Clyde parecerem personagens de um desenho animado de manhã de sábado de minha juventude. “Remover o rosto delas e guardar no freezer como suvenir, e como o rosto de Joyce era tão tosco, tão marcado pela acne”, Anna continua, “ele roubava o que invejava, a beleza. Certo?” “Certo, suponho. Até onde podemos ir com essa teoria sobre o motivo de as pessoas fazerem o que fazem.” “E era importante que Joyce fizesse as excisões cuidadosamente e não danificasse os rostos. Por isso ele não atirava nas vítimas, certamente não na cabeça. Ele não queria correr o risco de causar nenhum dano ao rosto, ao couro cabeludo. E atirar é muito fácil.” Anna dá de ombros. “Rápido. Talvez misericordioso. É muito melhor receber um tiro do que ter o rosto cortado. Então por que Newton Joyce e Carrie Grethen atiraram em Benton?” Anna está de pé diante de mim. Levanto os olhos para ela. “Ele disse alguma coisa”, respondo, lentamente, finalmente. “Deve ter dito.” “Sim.” Anna volta a sentar. “Sim, sim.” Ela me encoraja com as mãos, como se orientasse o tráfego a atravessar um cruzamento. “O quê, o quê? Me diga, Kay.” Respondo que não sei o que Benton disse a Newton Joyce e Carrie Grethen. Mas ele disse ou fez alguma coisa que levou um deles a perder o controle do jogo. Foi um impulso, uma reação involuntária, quando um deles encostou a arma na cabeça de Benton e puxou o gatilho. Bum. E a diversão acabou. Não importa o que fizessem a ele depois disso, não tinha importância. Ele estava morto ou morrendo. Inconsciente. Ele não sentiu a faca. Talvez nem a tenha visto.
“Você conhecia Benton muito bem”, diz Anna. “E conhecia seus assassinos, ou pelo menos conhecia Carrie Grethen — você tivera experiências com ela no passado. O que você acha que Benton disse, e para quem? Quem atirou nele?” “Eu não posso...” “Você pode.” Olho para ela. “Quem perdeu o controle?” Ela me faz ir mais longe do que jamais pensei que poderia ir. “Ela.” Puxo isso do fundo. “Carrie. Porque era uma questão pessoal. Ela estivera em volta de Benton desde os velhos tempos, desde o começo, quando estava em Quantico, na Unidade de Pesquisa de Engenharia.” “Onde ela também conheceu Lucy muitos anos atrás, talvez há uns dez anos.” “Sim, Benton conhecia Carrie, provavelmente tão bem quanto se pode conhecer uma mente de réptil como a dela”, acrescento. “O que ele disse a ela?” Os olhos de Anna estão cravados em mim. “Provavelmente alguma coisa sobre Lucy”, digo. “Alguma coisa sobre Lucy que insultaria Carrie. Ele insultou Carrie, escarneceu dela a respeito de Lucy, creio que foi isso.” Tenho uma conexão direta entre meu subconsciente e minha língua. Não preciso nem pensar. “Carrie e Lucy eram amantes em Quantico”, Anna acrescenta mais uma peça. “As duas trabalhavam no computador de inteligência artificial na Unidade de Pesquisa de Engenharia.” “Lucy era estagiária, apenas uma adolescente, uma criança, e Carrie a seduziu. Elas trabalhavam juntas no sistema de computação. Eu consegui esse estágio para Lucy”, acrescento com amargura. “Eu, sua tia influente e poderosa.” “Não resultou exatamente no que você pretendia, não é?”, sugere Anna. “Carrie a usou.” “Fez Lucy virar gay?” “Não. Eu não chegaria a tanto”, digo. “Não é possível fazer as pessoas virarem gays.” “Fez Benton morrer? Isso você pode admitir?” “Não sei, Anna.” “Um passado volátil, uma história pessoal. Sim. Benton disse algo sobre Lucy, e Carrie se descontrolou e atirou nele”, resume Anna. “Ele não morreu do modo como eles planejaram.” Ela soa triunfante. “Não morreu.” Eu me balanço em silêncio, olhando lá fora para uma manhã cinza que se tornou turbulenta. O vento sopra em rajadas violentas que arremessam galhos e caules mortos pelo quintal de Anna, fazendo-me lembrar das raivosas árvores lançando maçãs em Dorothy em O mágico de Oz. Então Anna se levanta de repente, como se se lembrasse de um compromisso. Ela me deixa para ir cuidar de outros afazeres na casa. Por ora, já falamos o suficiente. Decido me retirar para a cozinha, e é lá que Lucy me encontra por volta do meio-dia, depois de ter
feito seus exercícios. Estou abrindo uma lata de tomates quando ela entra, os primeiros estágios de um molho marinara borbulhando no fogão. “Quer ajuda?” Ela olha para cebolas, pimentas e cogumelos na tábua de cortar. “Deve ser meio difícil cortar com uma mão só.” “Pegue um banco”, digo a ela. “Talvez você fique impressionada de ver como eu consigo me virar sozinha.” Exagero a bravata quando termino de abrir a lata sem ajuda, e ela sorri enquanto puxa um banco do outro lado do balcão e senta. Ainda está usando as roupas de ginástica, e seus olhos têm uma aparência, uma luz secreta, que me lembra o rio refletindo a luz do sol de manhã bem cedo. Equilibro uma cebola com dois dedos de minha mão esquerda imobilizada e começo a fatiar. “Lembra do nosso jogo?” Ponho as fatias horizontalmente e começo a picar. “Quando você tinha dez anos? Ou você não consegue se lembrar de algo tão distante? Eu com certeza nunca vou esquecer”, digo em um tom que pretende fazer Lucy se recordar de como era uma pirralha impossível quando criança. “Aposto que você não faz a menor idéia de quantas vezes eu teria posto você de licença administrativa, se pudesse.” Arrisco expor essa verdade dolorosa. Talvez esteja me sentindo atrevida por causa de minha conversa franca com Anna, que me deixou nervosa e ao mesmo tempo alegre. “Eu não era tão ruim assim.” Os olhos de Lucy dançam porque ela adora ouvir como era um terrorzinho quando ficava comigo, em criança. Deixo cair punhados de cebola picada no molho e mexo. “Soro da Verdade. Lembra do jogo?”, pergunto a ela. “Eu chegava em casa, normalmente do trabalho, e podia saber pelo aspecto de seu rosto que você tinha aprontado alguma coisa. Então sentava você numa grande cadeira vermelha na sala, lembra? Era ao lado da lareira em minha antiga casa em Windsor Farms. E levava para você um copo de suco e lhe dizia que era soro da verdade. E você bebia e confessava.” “Como na vez que eu formatei seu computador enquanto você estava fora.” Ela dá uma gargalhada. “Só dez anos e formata meu disco rígido. Eu quase tive um ataque do coração”, lembro. “Ei, mas eu fiz uma cópia de todos os seus arquivos antes. Eu só queria lhe dar um susto.” Ela realmente está gostando disso. “Bom, eu quase mandei você de volta para casa.” Enxugo as pontas dos dedos da mão esquerda com um pano de prato, para que meu gesso não fique cheirando a cebola, enquanto sinto uma onda de suave tristeza. Não me lembro realmente do motivo pelo qual Lucy veio ficar comigo em sua primeira visita a Richmond, mas eu não sabia cuidar de crianças, era nova no emprego e estava sob uma tremenda pressão. Houve uma espécie de crise com Dorothy. Talvez ela tenha fugido e se casado de novo, ou talvez eu fosse uma tonta. Lucy me adorava e eu não estava acostumada a ser adorada. Sempre que ia visitá-la em Miami, ela me seguia pela casa toda, para todo lugar aonde eu ia, movendo-se tenazmente junto com meus pés, como uma bola de futebol. “Você não ia me mandar de volta para casa.” Lucy está me provocando, mas percebo a dúvida em seus olhos. O medo de não ser querida se baseia em
sua experiência de vida. “Só porque eu não me sentia capaz de cuidar de você”, retruco, me encostando na pia. “Não porque você não estivesse me deixando louca, de tão irritante que era.” Ela ri de novo. “Mas não, eu não teria mandado você de volta para casa. Nós duas ficaríamos arrasadas. Eu não conseguiria.” Balanço a cabeça. “Dou graças a Deus por nosso joguinho. Era praticamente o único jeito de eu saber o que se passava dentro de você ou que travessura fazia quando eu saía de casa, para trabalhar ou qualquer outra coisa. Então, preciso lhe servir um suco ou um copo de vinho, ou vai me contar o que está acontecendo com você? Eu não nasci ontem, Lucy. Você não está hospedada num hotel só por prazer. Está aprontando alguma coisa.” “Não sou a primeira mulher que eles forçam a sair”, ela começa. “Você seria a melhor mulher que eles já forçaram a sair”, respondo. “Lembra de Teun McGovern?” “Vou me lembrar dela pelo resto da vida.” Teun — que se pronuncia TiUn — foi a primeira supervisora de Lucy no ATF em Filadélfia, uma mulher extraordinária que foi maravilhosa comigo quando Benton foi morto. “Por favor, não me diga que aconteceu alguma coisa com Teun”, digo preocupada. “Ela se demitiu faz uns seis meses”, replica Lucy. “Parece que o ATF queria que ela se mudasse para Los Angeles e fosse a SAC daquela divisão de campo. A pior atribuição da face da Terra. Ninguém quer Los Angeles.” Um SAC é um agente especial encarregado, e pouquíssimas mulheres nos órgãos policiais federais acabam dirigindo divisões de campo inteiras. Lucy me diz que a resposta de McGovern foi se demitir e abrir uma espécie de empresa particular de investigações. “A Última Delegacia”, diz ela, se animando. “Um nome bem legal, não é? Baseada em Nova York. Teun está reunindo investigadores de incêndios criminosos, especialistas em bombas, policiais, advogados, todos os tipos de pessoas para ajudar, e em menos de seis meses já conseguiu clientes. Virou meio que uma sociedade secreta. Há um verdadeiro alvoroço nas ruas. Quando der merda, chame A Última Delegacia — aonde você vai quando não há mais nenhum lugar para ir.” Mexo o molho de tomate borbulhante e provo um pouco. “Obviamente você tem estado em contato com Teun desde que saiu de Filadélfia.” Ponho algumas colherinhas de azeite de oliva. “Dane-se. Acho que vai servir, mas não para o molho da salada.” Levanto a garrafa e fecho a cara. “O azeite de oliva é prensado ainda com os caroços, é como espremer laranjas sem descascá-las, em boa coisa não pode dar.” “Por que será que eu tenho a impressão de que Anna não é uma aficionada de coisas italianas?”, Lucy comenta com sarcasmo. “Bom, nós só precisamos educá-la. Lista de compras.” Aponto com a cabeça na direção de um bloco de notas e uma caneta ao lado do telefone. “Primeiro item, azeite de oliva extravirgem italiano do tipo integrado — descaroçado antes de prensado. Mission Olives Supremo é um muito bom, se você conseguir encontrar. Nem um vestígio de amargor.” Lucy toma nota. “Teun e eu mantivemos contato”, ela me informa. “Você está envolvida de alguma forma no que ela está fazendo?” Sei que é
para isso que a conversa se dirige. “Eu não diria isso.” “Alho amassado. Na seção de refrigerados, em potinhos. Vou dar uma de preguiçosa.” Pego uma tigela de carne magra picada que cozinhei bem e da qual tirei a gordura. “Não é um bom momento para eu amassar alho.” Ponho a carne no molho. “Quanto você está envolvida?” Abro a geladeira e olho nas gavetas. É claro que Anna não tem ervas frescas. Lucy suspira. “Puxa, tia Kay. Não tenho certeza se você vai querer ouvir essa história.” Até pouco tempo atrás, minha sobrinha e eu não conversávamos muito, e nossas conversas foram sempre superficiais. No ano passado, foram raras as ocasiões em que nos vimos. Ela se mudou para Miami, e depois da morte de Benton nós duas nos isolamos em verdadeiros bunkers. Tento ler as histórias escondidas nos olhos de Lucy e começo instantaneamente a imaginar possibilidades. Suspeito do relacionamento dela com McGovern, e suspeitava no ano passado, quando todas nós fomos convocadas para uma cena de incêndio criminoso catastrófico em Warrenton, Virgínia, um homicídio disfarçado de incêndio que acabou se revelando o primeiro de vários tramados por Carrie Grethen. “Orégano, manjericão e salsa frescos”, dito a lista de compras. “E uma fatia pequena de parmesão Reggiano. Lucy, basta você me dizer a verdade.” Procuro temperos. McGovern tem mais ou menos minha idade e é solteira — ou pelo menos era, na última vez que a vi. Fecho a porta de um armário e encaro minha sobrinha. “Você e Teun estão envolvidas?” “Nós não éramos desse jeito.” “Não eram?” “Na verdade, você é quem pode falar sobre isso”, Lucy diz com rancor. “Que tal você e Jay?” “Ele não trabalha para mim”, replico. “E com certeza eu não trabalho para ele. E não quero falar sobre ele. Estamos falando sobre você.” “Odeio quando você me rejeita, tia Kay”, ela diz calmamente. “Não estou rejeitando você”, me desculpo. “Só me preocupo quando pessoas que trabalham juntas ficam muito próximas. Acredito em limites.” “Você trabalhava com Benton.” Ela aponta outra de minhas exceções a minhas próprias regras. Bato com a colher na panela. “Fiz muitas coisas na vida que digo para você não fazer. E digo porque cometi o erro antes.” “Você alguma vez já fez um bico?” Lucy estende a base da coluna e gira os ombros. Franzo o cenho. “Bico? Não que eu me lembre.” “Tudo bem. Hora do soro da verdade. Eu faço um bico ilegal e Teun é a maior financiadora — a principal acionista de A Última Delegacia. Aí está. Toda a verdade. Você vai ouvi falar dela.” “Vamos sentar.” Conduzo-nos para a mesa e puxamos cadeiras. “Tudo começou acidentalmente”, Lucy inicia. “Há uns dois anos, criei uma ferramenta de busca para meu uso particular. Nesse meio-tempo, eu ouvia
falar das fortunas que as pessoas estavam ganhando com tecnologia para internet. Então eu pensei, que se dane, e vendi a ferramenta de busca por setecentos e cinqüenta mil dólares.” Não fico chocada. As possibilidades de ganho de Lucy só foram limitadas pela escolha profissional que ela fez. “Depois tive outra idéia, quando apreendi um punhado de computadores numa batida”, ela continua. “Eu estava ajudando a recuperar e-mails deletados e isso me fez pensar em como todos nós somos vulneráveis a ter os fantasmas de nossas comunicações eletrônicas invocados para nos assustar. Então imaginei uma maneira de misturar e-mails. Fragmentá-los, para usar uma linguagem figurativa. Agora existem vários pacotes de software para esse tipo de coisa. Eu ganhei uma porrada de dinheiro com esse brainstorm.” Minha pergunta seguinte não é nada diplomática. O ATF sabe que ela inventou tecnologia que poderia frustrar os esforços dos órgãos policiais para recuperar os e-mails dos criminosos? Lucy responde que alguém ia acabar aparecendo com essa tecnologia, e que a privacidade das pessoas que cumprem a lei também precisa ser protegida. A ATF não sabe das atividades empresariais dela nem que ela tem investido em invenções para a internet e em ações. Até este momento, só seu consultor financeiro e Teun McGovern têm conhecimento do fato de que Lucy é uma multimilionária que está comprando seu próprio helicóptero. “Então foi assim que Teun conseguiu montar seu próprio negócio em uma cidade tão cara como Nova York”, suponho. “Exatamente”, diz Lucy. “E é por isso que eu não vou brigar com o ATF, ou pelo menos é uma boa razão para eu não fazer isso. Se brigasse com eles, a verdade sobre o que andei fazendo no meu tempo livre provavelmente iria aparecer. O Departamento de Assuntos Internos, o gabinete do inspetor-geral, todo mundo iria fuçar. Eles encontrariam mais pregos para cravar em minha reputação enquanto me pendurariam em sua absurda cruz burocrática. Por que diabos eu ia querer fazer isso comigo?” “Se você não combater a injustiça, outros vão sofrer com ela, Lucy. E talvez essas pessoas não tenham milhões de dólares, um helicóptero e uma empresa em Nova York a que possam recorrer quando tentarem começar uma vida nova.” “É exatamente para isso que existe A Última Delegacia”, ela replica. “Combater a injustiça. Mas eu vou combatê-la do meu jeito.” “Legalmente, esse seu bico não está incluído no âmbito do caso que o ATF está movendo contra você, Lucy”, diz minha porção advogada. “Mas ganhar dinheiro por fora questiona minha veracidade, supostamente, não é?” Ela mostra o outro lado da coisa. “ O ATF acusou você de faltar com a verdade? Chamaram você de desonesta?” “Bom, não. Isso não vai constar de nenhuma carta deles. Com certeza. Mas a verdade, tia Kay, é que eu descumpri as regras. Ninguém deve ganhar dinheiro de outra fonte enquanto está empregado pelo ATF, pelo FBI ou por qualquer outro órgão policial federal. Não concordo com essa proibição. Ela não é justa.
Os tiras fazem bicos. Nós, não. Eu acho que sempre soube que não ia ficar muito tempo com os federais.” Ela se levanta da mesa. “Então cuidei do meu futuro. Talvez estivesse apenas cheia de tudo. Não quero passar o resto da vida recebendo ordens de outras pessoas.” “Se você quer sair do ATF, faça com que isso seja uma escolha sua, não deles.” “A escolha é minha”, ela diz, com um traço de irritação na voz. “Acho melhor eu ir ao mercado.” Vou até a porta, de braços dados com ela. “Obrigada”, digo. “Você me contar significa tudo para mim.” “Vou ensinar a você como pilotar helicóptero.” Ela veste o casaco. “Talvez seja mesmo o caso”, digo. “Estive em um bocado de espaços desconhecidos hoje. Imagino que um pouco mais não vai ter importância.”
(*) Theodore Robert Bundy, um dos mais terríveis assassinos seriais americanos, matou 35 mulheres em quatro anos. Condenado à morte na cadeira elétrica, foi executado em 1989. (N. T.)
6
Durante anos correu a piada grosseira de que os virginianos vão a Nova York em busca de arte e Nova York vem à Virgínia em busca de um lugar para jogar o lixo. O prefeito Giuliani quase começou outra guerra civil quando fez essa piada maliciosa durante a guerra muito divulgada com Jim Gilmore, na época governador da Virgínia, sobre o direito que Manhattan tinha de despachar milhões de toneladas de lixo nortista para nossos aterros sanitários sulistas. Posso imaginar a reação quando se começar a falar que também temos de ir a Nova York em busca de justiça. Durante todo o meu período como legista-chefe da Virgínia, Jaime Berger tem sido a chefe da unidade de crimes sexuais do gabinete do promotor distrital de Manhattan. Embora nunca tenhamos nos encontrado, muitas vezes somos mencionadas juntas. Diz-se que, entre as profissionais do sexo feminino, eu sou a mais famosa patologista forense do país, e ela, a mais famosa promotora. Até agora, a única reação que eu talvez tenha tido a essa afirmação é que não quero ser famosa e não confio nas pessoas que são, e que do sexo feminino não deveria ser um adjetivo. Quando se trata de homens bem-sucedidos ninguém fala em médico do sexo masculino ou presidente de empresa do sexo masculino. Nos últimos dias, passei horas no computador de Anna pesquisando Berger na internet. Tentei não ficar impressionada, mas não consegui. Não sabia, por exemplo, que ela é bolsista Rhodes ou que depois da eleição de Clinton ela fez parte da lista de candidatos a secretário de Justiça e, segundo a revista Time, ficou particularmente aliviada quando a escolhida foi Janet Reno. Berger não queria abrir mão de atuar na promotoria. Supostamente, ela recusou cargos na magistratura e ofertas assombrosas de firmas de advocacia pela mesma razão, e é tão admirada por seus pares que eles criaram uma bolsa na área de serviço público com o nome dela em Harvard, onde se graduou. Estranhamente, fala-se muito pouco sobre sua vida pessoal, exceto que ela joga tênis — muito bem, é claro. Ela se exercita com um treinador três manhãs por semana em um clube de Nova York e corre de cinco a seis quilômetros por dia. Seu restaurante preferido é o Primola. Me consolo um pouco com o fato de ela gostar de comida italiana. Agora é quarta-feira, comecinho da noite, e Lucy e eu estamos fazendo compras de Natal. Olhei e comprei tudo que pude agüentar, a mente envenenada por preocupações, o braço doendo loucamente dentro de seu casulo de gesso, a vontade de fumar beirando a luxúria. Lucy está em algum lugar dentro do Regency Mall cuidando de sua lista, e eu procuro um lugar onde possa fugir da multidão agitada. Milhares de pessoas esperaram até três dias antes do Natal para encontrar presentes especiais e atenciosos para as pessoas que são importantes em suas vidas. Vozes e movimento ininterrupto se combinam em um bramido constante que causa um curto-circuito entre pensamentos e a conversa normal, e a música de festa eletrônica deixa meus nervos, que já estão vibrando,
completamente defasados. Encaro a vitrine da Sea Dream Leather, de costas para pessoas barulhentas que, como dedos inábeis num piano, empurram, param e forçam a passagem sem alegria. Pressionando o celular contra a orelha, cedo a um novo vício. Checo meu correio de voz, provavelmente pela décima vez hoje. Ele se tornou minha escassa ligação secreta com minha existência anterior. Recorrer a minhas mensagens é a única maneira de eu conseguir me sentir em casa. Há quatro chamadas. Rose, minha secretária, ligou para saber como estou me mantendo. Minha mãe deixou uma longa queixa sobre a vida. O serviço de atendimento a clientes da AT&T tentou me avisar a respeito de uma cobrança, e meu legista assistente, Jack Fielding, precisa falar comigo. Ligo imediatamente para ele. “Quase não consigo escutar você”, sua voz arranhada soa em um de meus ouvidos, enquanto cubro o outro com a mão. Ao fundo, um de seus filhos chora. “Não estou num lugar bom para falar”, digo a ele. “Nem eu. Minha ex está aqui. Deus seja louvado!” “O que aconteceu?”, digo. “Uma pessoa da promotoria de Nova York acabou de me ligar.” Chocada, me controlo para parecer calma, quase indiferente, quando pergunto a ele o nome dessa pessoa. Ele diz que Jaime Berger ligou para a casa dele há algumas horas. Queria saber se ele assistira à autópsia que fiz em Lim Kuong e Diane Bray. “Interessante”, comento. “Seu número não está fora da lista telefônica?” “Righter deu a ela”, ele me informa. A paranóia se inflama. A dor da traição irrompe. Righter deu a ela o número de Jack , e não o meu? “Por que ele não disse a ela para me ligar?”, pergunto. Jack faz uma pausa enquanto mais uma criança se junta ao coro desordenado em sua casa. “Não sei. Eu disse a ela que não assisti oficialmente. Foi você que fez as autópsias. Não sou listado nos protocolos como testemunha. Eu disse que ela precisa realmente falar com você.” “O que ela respondeu quando você lhe contou isso?” “Começou a me fazer perguntas, obviamente tem cópia dos relatórios.” Righter de novo. Cópias do relatório inicial de investigação do médicolegista e dos protocolos de autópsia vão para o gabinete do promotor estadual. Sinto-me tonta. Agora parece que dois promotores me desdenharam, e o medo e a perplexidade se juntam como um exército de formigas causticantes, ocupando meu mundo interior, ferroando minha psique. O que está acontecendo é sinistro e cruel. Está além de qualquer coisa que jamais imaginei em meus momentos mais intranqüilos. A voz de Jack soa distante através da estática que parece uma projeção do caos em minha mente. Entendo que Berger estava muito calma e soava como se estivesse num telefone de carro, depois algo sobre promotores especiais. “Eu pensava que eles só eram convocados para o presidente ou para a cidade de Waco ou coisa do tipo”, ele diz, quando a ligação de repente fica nítida e ele grita — para a ex-mulher, suponho — “Você pode levá-los para o outro quarto? Estou no telefone! Puta que pariu”, ele deixa escapar, “olhe, jamais
tenha filhos”. “Como assim, promotor especial ?”, indago. “Que tipo de promotor especial?” Jack faz uma pausa. “Eu imagino que eles a estão mandando para cá para atuar no caso porque Fighter Righter não quer fazer isso”, ele responde com um nervosismo repentino. Na verdade, soa evasivo. “Parece que eles tiveram um caso em Nova York.” Tomo cuidado com o que digo. “É por isso que ela está envolvida, pelo menos foi o que eu soube.” “Você quer dizer um caso como o nosso?” “Há dois anos.” “Não diga! Para mim é novidade. Tudo bem. Ela não disse nada sobre isso. Só quer saber dos casos daqui”, diz Jack . “Quantos para a manhã, até agora?”, indago sobre o trabalho que temos para amanhã. “Até agora cinco. Incluindo um esquisito que vai ser um pé no saco. Homem jovem, branco — talvez hispânico —, encontrado dentro de um quarto de motel. Parece que o quarto foi incendiado. Nenhuma identificação. Uma agulha enfiada no braço dele, portanto não sabemos se é um caso de overdose de droga ou de inalação de fumaça.” “Não vamos falar disso num telefone celular”, eu o corto, olhando em volta. “Falamos disso amanhã de manhã. Eu vou cuidar dele.” Depois de uma longa pausa de surpresa, ele diz: “Você tem certeza? Porque eu...”. “Tenho certeza, Jack.” Não fui ao trabalho a semana inteira. “Tchau.” Devo encontrar Lucy em frente à Waldenbooks às sete e meia, e me aventuro a reingressar na multidão agitada. Assim que paro no lugar combinado percebo um homem familiar, grande e de aspecto mal-humorado, subindo pela escada rolante. Marino morde um pretzel macio e lambe os dedos enquanto mantém os olhos grudados na adolescente que está um degrau acima dele. O jeans e o suéter justos não fazem nenhum mistério sobre as curvas, depressões e elevações da jovem, e mesmo desta distância posso ver que Marino está mapeando os caminhos dela e imaginando como seria viajar por eles. Observo-o ser levado por degraus de aço apinhados de gente, totalmente envolvido com o pretzel, mastigando de boca aberta, com lascívia. A calça jeans baggy desbotada se encaixa abaixo de sua pança protuberante, e suas mãos grandes parecem luvas de beisebol projetando-se das mangas de um blusão vermelho da Nascar. Um boné da Nascar cobre sua careca, e ele usa ridículos óculos de aro de metal do tamanho usado por Elvis. Seu rosto carnudo está sulcado pela insatisfação e tem a aparência preguiçosa e avermelhada de dissipação crônica, e sinto um sobressalto ao me dar conta de como ele é infeliz em seu corpo, de quanto ele combate a carne que agora lhe decepciona tanto. Marino me faz pensar em alguém que cuidou muito mal de seu carro, forçandoo demais, deixando-o enferrujar e se desmanchar, e depois odiando-o violentamente. Imagino Marino fechando o capô com toda força e chutando os pneus.
Trabalhamos em nosso primeiro caso juntos logo depois que eu me mudei de Miami para cá, e desde o começo ele foi grosseiro, condescendente e positivamente chato. Eu tinha certeza de que, ao aceitar o cargo de legista-chefe da Virgínia, havia cometido o maior erro de minha vida. Em Miami, eu conquistara o respeito dos órgãos policiais e da comunidade médica e científica. A imprensa me tratava razoavelmente bem e eu desfrutava de uma ascensão a um estrelato de pequena grandeza que me dava confiança e tranqüilidade. O gênero não parecia ser um problema até eu conhecer Peter Marino, filho de uma família de trabalhadores italianos esforçados de New Jersey, ex-policial de Nova York, agora divorciado da namorada de infância, pai de um filho sobre o qual nunca fala. Ele parece a iluminação excessiva de um camarim. Eu estava relativamente confortável comigo mesma até ver meu reflexo nele. Neste instante, estou perturbada o bastante para aceitar que as falhas que ele me atribui são provavelmente verdadeiras. Ele me vê encostada na vitrine da loja, guardando o celular na bolsa, as sacolas de compras a meus pés, e aceno para ele. Marino manobra sua corpulência entre pessoas simpáticas que no momento não estão pensando em assassinos, julgamentos ou promotores de Nova York. “O que você está fazendo aqui?”, ele me pergunta, como se eu estivesse invadindo um local proibido. “Comprando seu presente de Natal”, digo. Ele dá outra mordida no pretzel. Ao que parece, foi a única coisa que comprou. “E você?”, indago. “Vim sentar no colo de Papai Noel e tirar uma foto.” “Não pare por minha causa.” “Bipei para Lucy. Ela me disse onde você provavelmente estava neste zoológico. Achei que talvez precisasse de alguém para carregar as sacolas, já que está meio desprovida de braços no momento. Como você vai fazer autópsias com essa coisa?” Ele indica meu gesso. Sei por que ele está aqui. Detecto o bramido distante de informação que vem em minha direção como uma avalanche. Suspiro. Lenta, mas seguramente, estou me rendendo ao fato de que minha vida só vai piorar. “Tá bom, Marino, o que foi?”, pergunto. “O que aconteceu agora?” “Doutora, vai estar no jornal amanhã.” Ele se abaixa para pegar minhas sacolas. “Righter me ligou agora há pouco. O DNA bate. Parece que o Lobisomem atacou a moça do tempo em Nova York há dois anos, e aparentemente o babaca decidiu que está forte o suficiente para deixar a Faculdade de Medicina da Virgínia e não vai lutar contra a extradição para a Big Apple — feliz da vida de sair depressinha da Virgínia. É uma coincidência estranha o filho-da-puta decidir deixar a cidade no mesmo dia do serviço em memória de Bray.” “Que serviço é esse?” Pensamentos se chocam vindos de todas as direções. “Na St. Bridget.” Eu também não sabia que Bray era católica e por acaso freqüentava a igreja da qual faço parte. Uma sensação sinistra me sobe pela espinha. Não importa qual mundo eu ocupe, parecia que a missão dela era invadi-lo e me eclipsar. Que ela pudesse sequer ter tentado fazer isso em minha modesta igreja
me lembra de como ela era absolutamente cruel e arrogante. “Então Chandonne é transportado para fora de Richmond no mesmo dia em que devemos dar adeus à última mulher que ele assassinou”, continua Marino, de olho em cada comprador que passa por nós. “Não acho que a escolha do momento seja coincidência. A cada movimento que ele fizer, a imprensa vai correr para lá como um rebanho. Então ele vai ofuscar Bray, surrupiar o brado dela, porque a mídia vai estar muito mais interessada no que ele está fazendo do que em quem aparece para mostrar consideração por uma de suas vítimas. Se alguém aparecer por lá. Eu sei que não vou, não depois de toda a merda que ela fez para tornar minha vida feliz. Ah, e é claro que enquanto estamos aqui conversando Berger está vindo para cá. Imagino que com um nome desses ela provavelmente não festeja o Natal”, ele acrescenta. Localizamos Lucy ao mesmo tempo que uma gangue de garotos barulhentos e agitados. Eles têm cortes de cabelo hiperdescolados, usam jeans cargo praticamente abaixo da virilha e fazem exageradas caras de espanto, babando por minha sobrinha, que usa legging preta, botas militares desgastadas e uma jaqueta de piloto antiga que resgatou de algum brechó de roupas de época. Marino lança a seus admiradores um olhar que seria mortal se o clarão de ódio no coração de uma pessoa pudesse penetrar a pele e perfurar órgãos vitais. Os garotos andam aos soquinhos, gingam, arrastando os pés em enormes tênis de basquete de couro, e eu penso em filhotes de cachorro que ainda não conseguem se sustentar sobre as patas. “O que você comprou para mim?”, Marino pergunta a Lucy. “Um suprimento de um ano de raiz de maca.” “Que diabo é raiz de maca?” “Na próxima vez que você for jogar boliche com uma mulher realmente gostosa, vai apreciar meu presente”, diz ela. “Você não comprou mesmo isso para ele.” Quase acredito nela. Marino bufa. Lucy ri, parecendo jovial demais para quem está prestes a ser demitida, milionária ou não. Quando saímos para o estacionamento, o ar está úmido e muito frio. Faróis cegam minha visão no escuro, e em todos os lugares para onde olho só vejo carros e pessoas apressados. Festões prateados bruxuleiam nos postes de iluminação, e os motoristas circulam como tubarões, procurando vagas perto das entradas do shopping, como se andar algumas centenas de metros fosse a pior coisa que pudesse acontecer a uma pessoa. “Odeio esta época do ano. Eu queria ser judia”, comenta Lucy com ironia, como se soubesse da alusão feita há pouco por Marino à etnia de Berger. “Berger era promotora distrital quando você começou em Nova York?”, pergunto-lhe enquanto ele põe meus pacotes na velha Suburban verde de Lucy. “Tinha acabado de começar.” Ele fecha a porta traseira. “Nunca fui apresentado a ela.” “O que você soube dela?”, pergunto. “Realmente gostosa, com tetas enormes.” “Marino, você é tão evoluído”, diz Lucy. “Ei.” Ele balança a cabeça ao se despedir. “Não me pergunte uma coisa se você não quer saber a resposta.”
Vejo seu corpanzil indistinto se mover no meio de uma confusão de faróis, compradores e sombras. O céu está leitoso à luz de uma lua imperfeita, e a neve cai em flocos pequenos e lentos. Lucy sai da vaga e entra com cuidado numa fila de carros. Em seu chaveiro, balança um medalhão de prata gravado com o logo das Whirly-Girls, um nome aparentemente frívolo para uma associação internacional muito séria de mulheres que pilotam helicóptero. Lucy, que não se associa a nada, é uma associada ardorosa, e me sinto agradecida porque, apesar de tudo o mais estar dando errado, pelo menos o presente de Natal dela está guardado com segurança em uma de minhas sacolas. Meses atrás, conspirei com a joalheria Schwarzchild’s para que eles fizessem um colar de ouro das WhirlyGirls para Lucy. O momento é perfeito, especialmente considerando as recentes revelações sobre os planos de vida dela. “O que exatamente você vai fazer com seu helicóptero? Você vai mesmo ter um?”, pergunto. Em parte, quero desviar a conversa de Nova York e Berger. Ainda estou irritada pelo que Jack disse ao telefone, e uma sombra caiu sobre minha psique. Algo mais me incomoda e não estou bem certa do que é. “Um Bell quatro-zero-sete, é, vou ter um.” Lucy mergulha numa sucessão infindável de lanternas vermelhas que flui preguiçosamente pela Parham Road. “O que eu planejo fazer com ele? Voar, é isso. E usá-lo na empresa.” “Quanto a essa nova atividade, o que vai acontecer agora?” “Bom, Teun está morando em Nova York. Então minha nova sede vai ser lá.” “Me fale mais sobre Teun”, sugiro. “Ela tem família? Onde ela vai passar o Natal?” Lucy dirige olhando fixo para a frente, sempre o piloto sério. “Me deixe voltar um pouco atrás, lhe contar uma historinha, tia Kay. Quando ela soube do tiroteio em Miami, entrou em contato comigo. Então eu fui a Nova York na semana seguinte e passei por momentos muitos difíceis.” Eu me lembro muito bem. Lucy desapareceu, deixando-me em pânico. Eu a localizei por telefone em Greenwich Village, onde ela estava no Rubyfruit, na Hudson, um lugar badalado no Village. Lucy estava transtornada. E bebendo. Achei que estava com raiva e magoada por causa de problemas com Jo. Agora a história está mudando bem diante de meus olhos. Lucy está envolvida financeiramente com Teun McGovern desde o último verão, mas foi só nesse incidente em Nova York na semana passada que ela tomou a decisão de mudar toda a sua vida. “Ann me pergunta se há alguém para quem ela possa ligar”, Lucy explica. “Eu não estava exatamente com disposição para voltar para meu hotel.” “Ann?” “Uma ex-policial. É a dona do bar.” “Ah, tudo bem.” “Confesso que eu estava muito cansada, e disse a Ann para tentar Teun”, diz Lucy. “A próxima coisa de que me lembro é Teun entrando no bar. Ela me encheu de café e nós ficamos a noite toda conversando. Principalmente sobre minha situação com Jo, com o ATF, com tudo. Eu não estava feliz.” Ela olha para mim. “Acho que estou pronta para uma mudança há muito, muito tempo.
Naquela noite tomei uma decisão. Ela já estava tomada mesmo antes de essa outra coisa acontecer.” Essa outra coisa quer dizer Chandonne tentar me matar. “Graças a Deus Teun estava lá comigo.” Ela não se refere ao bar. Está falando de McGovern estar lá em geral, e sinto a felicidade se irradiar de algum espaço profundo em seu âmago. A psicologia comum dita que outras pessoas e tarefas não podem fazer você feliz. Você próprio tem de se fazer feliz. Mas isso não é totalmente verdade. Ao que parece, McGovern e A Última Delegacia fazem Lucy feliz. “E já fazia algum tempo que você estava envolvida com A Última Delegacia?” Estimulo-a a continuar com a história. “Desde o último verão? Foi aí que surgiu a idéia?” “Começou como uma piada nos velhos tempos, em Filadélfia, quando Teun e eu ficamos quase enlouquecidas por burocratas lobotomizados, por pessoas que só atrapalhavam, por assistir como vítimas inocentes são trituradas pelo sistema. Nós imaginamos uma organização fictícia que apelidei de A Última Delegacia. Nós dizíamos: Aonde você vai quando não há nenhum lugar para ir?”. Seu sorriso é forçado e sinto que sua novidade entusiasmada está prestes a ganhar nuances questionáveis. Lucy vai me dizer algo que não quero ouvir. “Acho que você percebe que isso significa que preciso me mudar para Nova York”, ela diz. “Logo.” Righter cedeu o caso a Nova York e agora Lucy vai se mudar para Nova York . Aumento o aquecimento e aperto mais o casaco em volta do corpo. “Acho que Teun encontrou um apartamento para mim no Upper East Side. A uns cinco minutos a pé do parque. Na 67 com a Lexington”, ela diz. “Foi rápido”, comento. “E é perto de onde Susan Pless foi morta”, acrescento, como se esse fosse um sinal agourento. “Por que essa parte da cidade? O escritório de Teun fica perto de lá?” “A alguns quarteirões. Ela está a apenas algumas portas da décima nona delegacia, e aparentemente conhece alguns caras do Departamento de Polícia de Nova York que trabalham naquela área.” “E Teun nunca tinha ouvido falar em Susan Pless, nesse assassinato? É estranho pensar que ela foi parar a apenas algumas quadras de lá.” Sou arrastada pela negatividade. Não consigo evitar. “Ela sabe sobre o assassinato porque nós discutimos o que está acontecendo com você”, Lucy responde. “Antes disso ela nunca tinha ouvido falar no caso. Nem eu. Imagino que a preocupação de nossa vizinhança é o Estuprador do East Side, e na verdade isso foi uma coisa em que nos envolvemos. Esses estupros vêm acontecendo há uns cinco anos, o mesmo cara, gosta de louras de trinta a quarenta e poucos anos, normalmente elas tomaram alguns drinques, acabaram de sair do bar, e ele as ataca quando elas estão indo para seus apartamentos. O primeiro DNA De John Doe* de Nova York. Temos seu DNA, mas não temos uma identidade.” Todos os caminhos parecem levar a Jaime Berger. O Estuprador do East Side seria com toda certeza um caso de alta prioridade para o gabinete dela. “Vou pintar meu cabelo de louro e começar a ir a pé para casa tarde da noite”, Lucy ironiza, e acredito que ela seria capaz de fazer isso. Quero dizer a Lucy que o caminho que ela escolheu é estimulante e que
estou animada por ela, mas as palavras não saem. Ela morou em muitos lugares que não ficam perto de Richmond, mas, por alguma razão, agora parece que finalmente está saindo de casa de vez, que é uma adulta. De repente viro minha mãe, criticando, apontando os inconvenientes, as desvantagens, levantando o tapete para olhar aquele canto que não vi quando limpei a casa, olhando meu boletim cheio de As e comentando que vergonha é eu não ter amigos, provando o que cozinho e achando que falta alguma coisa. “O que você vai fazer com seu helicóptero? Vai mantê-lo lá?”, ouço-me dizer a minha sobrinha. “Parece que isso vai ser um problema.” “Provavelmente em Teterboro.” “Então você vai ter de ir até New Jersey quando quiser voar?” “Não é tão longe.” “E também tem o custo de vida lá. E você e Teun...”, persisto. “Qual o problema com Teun e eu?” A voz de Lucy perdeu a animação. “Por que você fica insistindo nisso?” A raiva aparece. “Eu não trabalho mais para ela. Ela não é mais do ATF nem minha supervisora. Não há nada de errado em sermos amigas.” Minhas impressões digitais estão por toda a cena do crime de seu desapontamento, sua mágoa. Pior, os ecos de Dorothy estão em minha voz. Estou envergonhada de mim mesma, profundamente envergonhada. “Lucy, me desculpe.” Estendo o braço e pego a mão dela com as pontas dos dedos de minha mão engessada. “Não quero que você vá embora. Estou me sentindo egoísta. Estou sendo egoísta. Me desculpe.” “Eu não vou deixar você. Vou ficar indo e voltando. São só duas horas de helicóptero. Está tudo bem.” Ela olha para mim. “Por que você não vem trabalhar com a gente, tia Kay?” Ela expõe o que posso perceber que não é uma idéia nova. Obviamente, ela e McGovern discutiram muito sobre mim, inclusive meu possível papel na empresa delas. Essa percepção me dá uma sensação peculiar. Resisti a contemplar meu futuro e de repente ele surge diante de mim como uma grande tela vazia. Embora em minha mente eu saiba que o modo como vivi até agora é passado, ainda não aceitei essa verdade em meu coração. “Por que você não se estabelece por conta própria em vez de esperar o Estado dizer a você o que fazer?”, continua Lucy. “Você alguma vez pensou nisso a sério?” “Esse sempre foi o plano para depois”, respondo. “Bom, o depois está aqui”, ela me diz. “O século XX termina exatamente em nove dias.”
(*) John Doe: nome usado nos Estados Unidos, para homens cuja identidade é desconhecida ou mantida em segredo, especialmente em tribunais (no caso de mulheres, usa-se Jane Doe). (N. T.)
7
É quase meia-noite. Estou sentada diante da lareira na cadeira de balanço entalhada à mão que é a única sugestão de rusticidade na casa de Anna. Ela pôs sua cadeira em um ângulo deliberado para que possa olhar para mim mas eu não tenha de olhar para ela, se eu me vir numa descoberta sensível de minha própria evidência psicológica. Aprendi ultimamente que nunca sei o que posso encontrar durante minhas conversas com Anna, como se eu fosse uma cena de crime que investigo pela primeira vez. As luzes estão apagadas na sala de estar, a lareira, em seus estágios finais de apagamento. A incandescência se espalha por carvões crepitantes que emitem tons de laranja enquanto conto a Anna sobre uma noite de domingo em novembro, pouco mais de um ano atrás, quando Benton demonstrou por mim um ódio que não lhe era característico. “Quando você diz que não era característico, quer dizer o quê?”, pergunta Anna, em seu tom grave e calmo. “Ele estava acostumado com minhas peregrinações tarde da noite quando eu não conseguia me aquietar, quando ficava acordada até tarde e trabalhava. Na noite em questão ele caiu no sono enquanto lia na cama. Isso não era incomum, e era minha deixa de que agora eu podia usar o tempo como quisesse. Anseio pelo silêncio, a solidão absoluta que se instala quando o resto do mundo está inconsciente e não precisa de algo de mim.” “Você sempre sentiu essa necessidade?” “Sempre”, digo a ela. “É quando me animo. Entro em mim mesma quando estou absolutamente só. Preciso do tempo. Tenho de tê-lo.” “O que aconteceu na noite que você menciona?”, ela pergunta. “Eu me levantei e tirei o livro do colo dele, apaguei a luz”, respondo. “O que ele estava lendo?” A pergunta dela me pega de surpresa. Tenho de pensar. Não me lembro claramente, mas me parece que Benton estava lendo sobre Jamestown, a primeira colônia inglesa na América, que fica a menos de uma hora de carro a leste de Richmond. Ele estava muito interessado em história e tinha se especializado em história e psicologia na faculdade, e depois sua curiosidade a respeito de Jamestown foi inflamada quando arqueólogos começaram a fazer escavações lá e descobriram o forte original. Lentamente tudo volta a minha mente: o livro que Benton estava lendo na cama era uma coletânea de narrativas, muitas delas escritas por John Smith. Não me recordo do título, digo a Anna. Suponho que o livro ainda está em algum lugar de minha casa, e a idéia de deparar com ele um dia desses me aflige. Prossigo com minha história. “Saí do quarto, fechei a porta sem fazer barulho e fui pelo corredor até meu escritório”, digo. “Você sabe que quando faço autópsias tiro secções de cada órgão e às vezes de ferimentos também. O tecido vai para o laboratório de histologia, para que sejam feitas lâminas que tenho de revisar. Nunca consigo manter em dia os ditados usando o microgravador e costumo levar pastas de
lâminas para casa, e é claro que a polícia me perguntou sobre tudo isso. É engraçado, mas minhas atividades normais parecem mundanas e inquestionáveis até serem inspecionadas por outros. É aí que percebo que não vivo como as outras pessoas.” “Por que você acha que a polícia queria saber sobre as lâminas que você poderia ter em casa?”, pergunta Anna. “Porque eles queriam saber de tudo.” Volto a minha história sobre Benton, descrevendo que estava em meu escritório, curvada sobre o microscópio, perdida em neurônios tingidos de metal pesado que pareciam um enxame de criaturas roxas e douradas de um olho só, com tentáculos. Senti uma presença atrás de mim e ao me virar vi Benton parado na soleira da porta, o rosto tomado por um brilho lúgubre e agourento, como fogo-de-santelmo antes de um raio cair. Não consegue dormir?, ele me perguntou, num tom indelicado e sarcástico que não parecia o dele. Empurrei a cadeira para longe de meu poderoso microscópio Nikon. Se você conseguir ensinar essa coisa a trepar , não vai precisar de mim para nada, ele disse, e seus olhos me fuzilaram com a fúria brilhante das células que eu estava olhando. Vestido só com a calça do pijama, Benton estava pálido na meia-luz que emanava do abajur em minha escrivaninha, seu peito arfante e molhado de suor, as veias encordoadas em seus braços, o cabelo prateado grudado na testa. Perguntei a ele qual era o problema afinal, e ele me mandou voltar para a cama, me cutucando com o dedo. Nesse momento Anna me interrompe. “Não houve nada antes disso? Nenhum tipo de aviso?” Ela também conhecia Benton. Esse não era ele. Era um alienígena que invadira o corpo de Benton. “Nada”, respondo. “Nenhum aviso.” Eu me balanço lentamente, sem parar. A madeira incandescente pipoca. “O último lugar para onde eu queria ir com ele naquele momento era a cama. Talvez ele tenha sido o principal especialista em perfil psicológico do FBI, mas, apesar de todas as suas façanhas na leitura de outras pessoas, ele conseguia ser frio e fechado como uma pedra. Eu não tinha a intenção de ficar olhando para o escuro a noite toda enquanto ele ficava deitado de costas para mim, mudo, mal respirando. Mas violento e cruel ele não era. Ele nunca me falara de maneira tão degradante e ofensiva. Podia não haver outras coisas entre nós, Anna, mas havia respeito. Nós sempre nos tratamos com respeito.” “E ele disse a você o que havia de errado?” Sorrio com amargura. “Quando ele fez o comentário grosseiro sobre eu ensinar meu microscópio a trepar, isso me disse.” Benton e eu nos sentíamos à vontade vivendo na minha casa, mas ele nunca deixou de se sentir um hóspede. A casa é minha e tudo nela é meu. No último ano de vida, ele estava desiludido com a carreira, e quando reflito sobre aquele período agora percebo que ele estava cansado, sem propósito e com medo de ficar velho. Tudo isso minou nossa intimidade. A parte sexual de nosso relacionamento virou um aeroporto abandonado que parecia normal de longe, mas não tinha ninguém na torre de controle. Nenhuma aterrissagem, nenhuma decolagem, só um precário contato
ocasional, porque achávamos que devíamos, por causa da acessibilidade e do hábito, imagino.” “Quando vocês faziam sexo, quem normalmente tomava a iniciativa?”, pergunta Anna. “No fim, só ele. Mais por desespero do que por desejo. Talvez até por frustração. É, frustração”, concluo. Anna me observa, seu rosto em sombras que se aprofundam à medida que o fogo morre. Seu cotovelo está apoiado no braço da poltrona, o queixo descansa sobre o indicador, numa pose que ficou associada aos momentos intensos que passamos juntas nas últimas noites. A sala de estar dela se tornou um confessionário escuro onde consigo estar emocionalmente recém-nascida e nua e não sentir vergonha. Não vejo nossas sessões como terapia, e sim como um sacerdócio de amizade que é sagrado e seguro. Comecei a contar a outro ser humano como sou. “Vamos voltar à noite em que ele ficou tão irritado”, Anna pilota. “Você consegue se lembrar de quando exatamente foi isso?” “Apenas algumas semanas antes de ele ser assassinado.” Falo calmamente, hipnotizada por carvões que parecem pele de jacaré em brasa. “Benton sabia de minha necessidade de espaço. Mesmo nas noites em que transávamos, não era incomum eu esperar até que ele dormisse e me levantar furtivamente, como uma adúltera, para ir ao meu escritório. Ele era compreensivo com minhas infidelidades.” Sinto que Anna sorri no escuro. “Raramente ele se queixava quando esticava o braço para me tocar e sentia um espaço vazio no meu lado da cama”, explico. “Ele aceitava minha necessidade de ficar sozinha, ou parecia que aceitava. Eu nunca soube como meus hábitos noturnos o magoavam, até aquela noite em que ele entrou em meu escritório.” “Eram realmente seus hábitos noturnos?”, indaga Anna. “Ou seu distanciamento?” “Eu não me vejo como uma pessoa distanciada.” “Você se vê como alguém que se liga aos outros?” Analiso, buscando em todos os lugares dentro de mim uma verdade que sempre temi. “Você se ligou a Benton?”, prossegue Anna. “Vamos começar por ele. Ele foi seu relacionamento mais significativo. Certamente foi o mais longo.” “Se eu me liguei a ele?” Encaro a pergunta como uma bola de tênis que estou prestes a sacar, sem ter certeza do ângulo, do efeito ou da força. “Sim e não. Benton foi um dos homens mais atraentes e mais gentis que conheci. Sensível. Profundo e inteligente. Eu podia falar com ele sobre qualquer coisa.” “Mas falava? Tenho a impressão de que não falava.” É claro que Anna está me sacando muito bem. Suspiro. “Não tenho certeza se alguma vez falei com alguém sobre absolutamente qualquer coisa.” “Talvez Benton fosse digno de confiança”, ela sugere. “Talvez”, retruco. “Sei que havia lugares profundos em mim que ele nunca alcançou. E eu também não queria que ele fizesse isso, não queria que houvesse algo tão intenso, tão próximo. Suponho que o fato de termos começado como
começamos explique isso em parte. Ele era casado. Sempre voltava para casa, para a mulher dele, Connie. Isso aconteceu durante anos. Nós estávamos em lados opostos de uma parede, separados, só nos tocando quando conseguíamos saltar acima dela. Meu Deus, eu jamais faria isso de novo, não importa com quem.” “Culpa?” “Claro”, respondo. “Todo bom católico sente culpa. No começo, eu me sentia terrivelmente culpada. Nunca fui do tipo que infringe regras. Não sou como Lucy, ou talvez eu deva dizer que ela não é como eu. Se as regras são irracionais e ignorantes, ela as infringe a torto e a direito. Droga, eu não levo nem multa por excesso de velocidade, Anna.” Nesse momento ela se inclina para a frente e ergue a mão. É seu sinal. Eu disse algo importante. “Regras”, ela diz. “O que são regras?” “Uma definição? Você quer uma definição de regras?” “O que são as regras para você? Sim, quero sua definição.” “Certo e errado”, respondo. “O que é legal versus o que é ilegal. Moral versus imoral. Humano versus desumano.” “Dormir com uma pessoa casada é imoral, errado, desumano?” “No mínimo é estúpido. Mas é errado, sim. Não um erro fatal, nem um pecado imperdoável, nem ilegal, mas é desonesto. Sim, definitivamente desonesto. É infringir uma regra, sim.” “Então você admite que é capaz de praticar uma desonestidade.” “Admito que sou capaz de ser estúpida.” “E desonesta?” Ela não me deixa fugir da questão. “Todo mundo é capaz de qualquer coisa. Meu caso com Benton era desonesto. Eu indiretamente menti porque escondi o que estava fazendo. Apresentei uma fachada aos outros, inclusive a Connie, que era falsa. Simplesmente falsa. Então eu sou capaz de enganar, de mentir? É evidente que sou.” A confissão me deprime profundamente. “E quanto ao homicídio? Qual é a regra para o homicídio? Errado? Imoral? É sempre errado matar? Você matou”, diz Anna. “Para me defender.” Quanto a isso me sinto forte e segura. “Só quando não tinha nenhuma escolha, porque a pessoa ia me matar ou matar mais alguém.” “Você cometeu um pecado? Não matarás.” “Absolutamente não.” Agora estou ficando frustrada. “É fácil fazer julgamentos sobre questões que se olha de longe, do ponto de vista da moralidade e do idealismo. É diferente quando você é confrontada por um assassino que está segurando uma faca encostada na garganta de outra pessoa ou tentando pegar uma pistola para matar você. O pecado seria não fazer nada, permitir que uma pessoa inocente morresse. Não sinto nenhum remorso”, digo a Anna. “O que você sente?” Fecho os olhos por um momento, a luz da lareira atravessando minhas pálpebras. “Náusea. Não consigo pensar naquelas mortes sem ficar nauseada. O que eu fiz não foi errado. Não tive escolha. Mas eu também não chamaria isso de certo, imagino que você entenda a diferença. Quando Temple Gault estava se
esvaindo em sangue na minha frente e implorando minha ajuda, não tenho realmente palavras para descrever como me senti, nem como me sinto agora ao me lembrar daquilo.” “Isso aconteceu no túnel do metrô em Nova York. Há uns quatro ou cinco anos?”, ela pergunta, e eu concordo com a cabeça. “O ex-parceiro de Carrie Grethen no crime. Gault era o mentor dela, em certo sentido. Está certo?” Concordo de novo. “Interessante”, diz ela. “Você matou o parceiro de Carrie e depois ela matou o seu. Uma ligação, talvez?” “Não faço a menor idéia. Nunca olhei para isso dessa maneira.” A idéia me deixa chocada. Nunca me ocorreu e agora parece tão óbvia. “Gault mereceu morrer, na sua opinião?”, ela pergunta. “Algumas pessoas diriam que ele perdeu o direito de viver neste mundo e que estamos muito melhor sem ele. Mas, meu Deus, eu não teria escolhido ser a pessoa que executaria a sentença, Anna. Nunca, nunca. O sangue estava jorrando dos dedos dele. Eu vi medo em seus olhos, terror, pânico, o demônio que havia nele tinha sumido. Ele era apenas um ser humano morrendo. E eu tinha causado aquilo. E ele chorava e implorava que eu fizesse o sangramento parar.” Parei de balançar a cadeira. Sinto toda a atenção de Anna em mim. “Sim”, digo finalmente. “Sim, é horrível. Simplesmente horrível. Às vezes eu sonho com ele. Como eu o matei, ele sempre fará parte de mim. Esse é o preço que eu pago.” “E Jean-Baptiste Chandonne?” “Eu não quero machucar mais ninguém.” Olho fixamente para o fogo que se extingue. “Pelo menos ele está vivo?” “Isso não me traz nenhum alívio. Como é que eu posso me consolar? Pessoas como ele não param de machucar os outros, mesmo depois que estão presas. O demônio continua vivo. Esse é meu enigma. Não quero que elas morram, mas conheço o dano que causam enquanto estão vivas. Por qualquer lado que você encare a coisa, é um jogo de perde-perde”, digo a Anna. Ela não diz nada. Seu método é oferecer mais silêncios do que opiniões. O desgosto palpita em meu peito e meu coração bate em um staccato de medo. “Suponho que eu seria punida se tivesse matado Chandonne”, acrescento. “Sem dúvida serei punida porque não o fiz.” “Você não pôde salvar a vida de Benton.” A voz de Anna preenche o espaço entre nós. Balanço a cabeça enquanto meus olhos se enchem de lágrimas. “Você acha que devia ter conseguido defendê-lo, também?”, ela pergunta. Engulo em seco, e espasmos dessa perda agonizante me roubam a capacidade de falar. “Você não o ajudou, Kay? E agora sua penitência é erradicar os monstros, talvez? Fazer isso por Benton, porque você deixou os monstros o matarem? Porque você não o salvou?” Minha impotência, meu ultraje fervem. “Ele próprio não se salvou, danese. Benton caminhou para seu assassinato como um cachorro ou um gato caminham para morrer, porque era hora. Droga!” Ponho tudo para fora. “Droga! Benton estava sempre reclamando de rugas, e incômodos, e dores, mesmo durante os primeiros anos de nosso relacionamento. Você sabe que ele
era mais velho do que eu. Talvez por isso envelhecer o ameaçasse mais. Não sei. Mas quando ele estava com quarenta e poucos anos, não conseguia olhar para o espelho sem balançar a cabeça e se queixar. ‘Não quero ficar velho, Kay.’ Era isso o que ele dizia. “Me lembro de uma vez, no fim da tarde, quando estávamos tomando banho juntos e ele se queixava de seu corpo. ‘Ninguém quer ficar velho’, eu disse a ele. ‘Mas eu não quero mesmo — a ponto de pensar que não consigo sobreviver a isso’, ele respondeu. ‘Nós temos de sobreviver à velhice. É egoísta não fazer isso, Benton’, eu disse. ‘E, além disso, nós não sobrevivemos à juventude?’ Ah! Ele achou que eu estava sendo irônica. E eu não estava. Perguntei a ele quantos dias de nossa juventude tinham sido gastos esperando pelo amanhã. Porque de algum modo o amanhã ia ser melhor. Ele pensou nisso por um momento enquanto me puxava mais para perto na banheira, me tocando e me acariciando debaixo do vapor de água quente perfumada com lavanda. Naqueles dias, quando nossas células se eletrizavam instantaneamente assim que entravam em contato, ele sabia exatamente como me deixar excitada. Naquela época, quando era bom. ‘É’, ele considerou, ‘é verdade. Eu sempre esperei pelo amanhã, achando que o amanhã ia ser melhor. Isso é sobrevivência, Kay. Se você não achar que amanhã ou no próximo ano ou no ano depois do próximo vai ser melhor, para que se preocupar?’” Paro de falar por um momento, balançando a cadeira. Digo a Anna: “Bom, ele parou de se preocupar. Benton morreu porque não acreditava mais que o que havia no futuro era melhor que o passado. Não importa que tenha sido outra pessoa que tirou a vida dele. Foi Benton que decidiu”. Minhas lágrimas secaram e me sinto oca por dentro, derrotada e furiosa. A luz fraca me ilumina o rosto quando olho para o clarão da lareira. “Eu quero que você se ferre, Benton”, murmuro para carvões fumacentos. “Que se ferre por ter desistido.” “Foi por isso que você transou com Jay Talley?”, pergunta Anna. “Para ferrar Benton? Para puni-lo por deixar você, por morrer?” “Se foi isso, não foi consciente.” “Como você se sente?” Tento sentir. “Morta. Depois que Benton foi assassinado...?” Considero isso. “Morta”, concluo. “Me sinto morta. Não consegui sentir nada. Eu penso que transei com Jay...” “Não o que você pensa. O que você sente”, me lembra ela gentilmente. “Sim. O problema todo era esse. Querer sentir, ficar desesperada para sentir alguma coisa, qualquer coisa”, digo a ela. “Transar com Jay ajudou você a sentir alguma coisa, qualquer coisa?” “Eu penso que fez eu me sentir vulgar”, respondo. “Não o que você pensa”, ela me lembra outra vez. “Eu senti fome, desejo, raiva, egoísmo, liberdade. Ah, sim, liberdade.” “Liberdade da morte de Benton, ou talvez de Benton? Ele era um tanto reprimido, não era? Era cauteloso. Tinha um superego muito poderoso. Benton Wesley era um homem que fazia as coisas do modo apropriado. Como era o sexo com ele? Era apropriado?”, Anna quer saber. “Atencioso”, digo. “Gentil e sensível.”
“Ah. Atencioso. Bem, isso já é alguma coisa”, diz Anna, com uma insinuação de ironia que chama a atenção para o que acabei de revelar. “Nunca era suficientemente faminto, nunca puramente erótico.” Falo com mais franqueza. “Tenho de admitir que muitas vezes eu ficava pensando enquanto estávamos transando. É bastante ruim pensar enquanto falo com você, Anna, mas ninguém devia pensar enquanto transa. Não devia haver pensamentos, só um prazer insuportável.” “Você gosta de sexo?” Rio, surpresa. Jamais alguém me perguntou uma coisa dessas. “Ah, sim, mas varia. Já tive sexo muito bom, sexo bom, sexo certo, sexo chato, sexo ruim. O sexo é uma criatura estranha. Não tenho nem certeza do que penso do sexo. Mas espero não ter tido o premier grand cru do sexo.” Aludo ao bordeaux superior. O sexo é muito parecido com o vinho, e, para falar a verdade, meus encontros com amantes normalmente terminam na parte village do vinhedo: na parte baixa da encosta, bastante comum e de preço modesto — realmente, nada especial. “Não acredito que já tive meu melhor sexo, minha harmonia sexual mais profunda, mais erótica, com outra pessoa. Não tive, ainda não, de jeito nenhum.” Estou divagando, falando aos solavancos enquanto tento entender e argumentar comigo sobre se quero pelo menos entender. “Não sei. Bom, imagino que tenha de me perguntar como deve ser importante, de como é importante.” “Considerando como você ganha a vida, Kay, você deve saber como o sexo é importante. Sexo é poder. É vida e morte”, declara Anna. “Claro, no que você vê, estamos falando principalmente sobre um poder do qual se abusou terrivelmente. Chandonne é um bom exemplo. Ele se satisfaz sexualmente subjugando, causando sofrimento, brincando de Deus e decidindo quem vive e quem morre, e como.” “Com certeza.” “O poder o excita sexualmente. Excita a maioria das pessoas.” “É o maior afrodisíaco”, concordo. “Se as pessoas forem honestas a esse respeito.” “Diane Bray é outro exemplo. Uma mulher bela e provocante que usava seu sex appeal para subjugar, para controlar os outros. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho”, diz Anna. “É a impressão que ela dava”, digo. “Você acha que ela tinha atração sexual por você?”, pergunta Anna. Avalio isso clinicamente. Incomodada com a idéia, mantenho-a longe de mim e a estudo como um órgão que estou dissecando. “Isso nunca me passou pela cabeça”, decido. “Então provavelmente não existia, senão eu teria captado os sinais.” Anna não me responde. “Possivelmente”, tergiverso. Anna não compra a idéia. “Você não me contou que ela tentou usar Marino para ser apresentada a você?”, ela me lembra. “Que ela queria almoçar com você, fazer amizade, conhecê-la, e tentou conseguir isso por meio dele?” “Foi o que Marino me disse”, respondo. “Porque ela tinha atração sexual por você, talvez? Isso teria sido sua
subjugação final, não seria? Se ela não só arruinasse sua carreira, mas ao fazê-lo se servisse de seu corpo e portanto se apropriasse de cada aspecto de sua existência? Não é isso o que Chandonne e outros como ele fazem? Eles também devem sentir atração. Acontece simplesmente que eles a expressam de uma forma diferente da que as outras pessoas usam. E nós sabemos o que você fez com Chandonne quando ele tentou expressar sua atração por você. Foi o maior erro dele, não? Ele a olhou com desejo e você o cegou. Pelo menos temporariamente.” Ela pára de falar, o queixo apoiado no dedo, os olhos firmes em mim. Agora estou olhando diretamente para ela. Tenho de novo aquela sensação. Quase a descreveria como um aviso. Simplesmente não consigo nomeá-la. “O que você teria feito se Diane Bray tentasse expressar sua atração sexual por você, supondo que ela existisse? Se ela tivesse lhe passado uma cantada?”, Anna continua a cavar. “Eu tenho maneiras de desviar propostas indesejadas”, respondo. “De mulheres, também?” “De qualquer pessoa.” “Então você já recebeu propostas de mulheres?” “Uma vez ou outra, ao longo dos anos.” É uma pergunta óbvia com uma resposta óbvia. Não vivo numa caverna. “Sim, certamente convivi com mulheres que mostram um interesse a que não posso corresponder”, digo. “Não pode ou não quer?” “As duas coisas.” “E como você se sente quando é uma mulher que a deseja? É diferente de quando é um homem?” “Você está tentando descobrir se eu sou homofóbica, Anna?” “Você é?” Considero isso. Vou até o mais fundo que consigo para ver se me sinto desconfortável com a homossexualidade. Sempre me apressei a garantir a Lucy que não tenho nenhum problema com relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo além das dificuldades que eles trazem. “Não tenho nenhum problema com isso”, respondo. “Realmente e verdadeiramente. Só que não é minha preferência. Não é minha escolha.” “As pessoas escolhem?” “Em certo sentido.” Disso tenho certeza. “E digo isso porque acredito que as pessoas sentem muitas atrações que não são aquilo com que se sentiriam mais à vontade, e portanto não as põem em prática. Posso entender Lucy. Eu a vi com suas namoradas e de certa forma invejo a proximidade delas, porque, embora enfrentem a dificuldade de ir contra a maioria, elas também têm a vantagem da amizade especial que as mulheres são capazes de ter entre si. É mais difícil homens e mulheres serem almas gêmeas, terem uma amizade profunda. Isso eu admito. Mas penso que a diferença importante entre mim e Lucy é que não espero ser a alma gêmea de um homem, e os homens a fazem sentir-se subjugada. E a verdadeira intimidade não pode ocorrer sem um equilíbrio de poder entre os indivíduos. Então, como não me sinto subjugada pelos homens, escolho-os fisicamente.” Anna não diz nada. “Isso é provavelmente o máximo de
entendimento que jamais terei desse assunto”, acrescento. “Nem tudo pode ser explicado. Lucy e as atrações e necessidades dela não podem ser completamente explicadas. Nem as minhas.” “Você realmente não acha que pode ser a alma gêmea de um homem? Então talvez suas expectativas sejam baixas demais? É possível?” “Muito possível.” Quase rio. “Se alguém merece ter baixas expectativas, sou eu, depois de todos os relacionamentos que ferrei”, acrescento. “Você já sentiu atração por uma mulher?”, Anna finalmente chega ao ponto. Imaginei que chegaria. “Conheci algumas mulheres muito interessantes”, admito. “Me lembro de na adolescência ter tido paixões por professoras.” “Com paixões você quer dizer sentimentos sexuais?” “Paixões envolvem sentimentos sexuais. Por mais inocentes e ingênuas que sejam. Muitas garotas se apaixonam por professoras, especialmente quando estão numa escola paroquial cujo corpo docente é formado exclusivamente por mulheres.” “Freiras.” Rio. “Sim, imagine se apaixonar por uma freira.” “Imagino que algumas dessas freiras também se apaixonam umas pelas outras”, observa Anna. Sou invadida por uma nuvem negra de incerteza e constrangimento, e um aviso se insinua em minha consciência. Não sei por que Anna está tão concentrada em sexo, particularmente sexo homossexual, e penso na possibilidade de ela ser lésbica e por isso nunca ter se casado, ou talvez estar me testando para ver como eu reagiria se finalmente, depois de tantos anos, ela me contasse a verdade a seu respeito. Fico magoada de pensar que talvez ela tenha, por medo, escondido de mim um detalhe tão importante. “Você me disse que se mudou para Richmond por amor.” É a minha vez de sondar. “E a pessoa se revelou uma perda de tempo. Por que você não voltou para a Alemanha? Por que você ficou em Richmond, Anna?” “Eu cursei medicina em Viena, e sou da Áustria, não da Alemanha”, ela me conta. “Cresci num Schloss, um castelo, que era de minha família fazia centenas de anos, perto de Linz, à margem do rio Danúbio, e durante a guerra os nazistas viviam na casa conosco. Minha mãe, meu pai, minhas duas irmãs mais velhas e meu irmão mais novo. E da janela eu podia ver a fumaça do crematório a uns quinze quilômetros de distância, em Mauthausen, um campo de concentração de péssima fama, uma imensa pedreira onde os prisioneiros eram forçados a minerar granito, subindo centenas de degraus com enormes blocos de pedra nas costas, e se eles cambaleassem eram surrados ou empurrados para o abismo. Judeus, republicanos espanhóis, russos, homossexuais. “Todos os dias, nuvens escuras de morte tingiam o horizonte, e eu via meu pai com o olhar vidrado e suspirando quando ele pensava que ninguém estava olhando. Eu podia sentir sua dor e sua profunda vergonha. Como não podíamos fazer nada a respeito do que acontecia, era fácil se refugiar na negação. A maioria dos austríacos negava o que estava acontecendo em nosso belo país. Isso para mim era imperdoável, mas não podia ser evitado. Meu pai era muito rico e
influente, mas ir contra os nazistas era terminar em um campo ou ser morto no ato. Ainda posso ouvir as risadas e o tilintar de copos em minha casa, como se aqueles monstros fossem nossos melhores amigos. Um deles começou a ir ao meu quarto à noite. Eu tinha dezessete anos. Isso durou dois anos. Eu nunca disse uma palavra porque sabia que meu pai não podia fazer nada, e suspeito que ele sabia do que ocorria. Ah, sim, estou certa disso. Eu me preocupava com que a mesma coisa acontecesse com minhas irmãs, e tenho certeza de que acontecia. Depois da guerra, concluí minha educação e conheci um estudante de música americano em Viena. Ele era um ótimo violinista, muito animado e espirituoso, e eu vim para os Estados Unidos com ele. Principalmente porque eu não conseguia mais viver na Áustria. Não conseguia viver com aquilo que minha família tinha evitado enxergar, e mesmo agora, quando vejo o campo de minha terra natal, a imagem é tingida de fumaça escura e agourenta. Às vezes eu a vejo em minha mente. Sempre.” A sala de estar de Anna está gelada, e as brasas espalhadas na lareira parecem dezenas de olhos irregulares brilhando no escuro. “O que aconteceu com o músico americano?”, pergunto a ela. “Suponho que a realidade se apresentou.” Sua voz está afetada pela tristeza. “Uma coisa era ele se apaixonar por uma jovem psiquiatra austríaca em uma das cidades mais belas e mais românticas do mundo. Outra bem diferente era trazê-la para a Virgínia, para a ex-capital dos confederados, onde as pessoas ainda têm bandeiras da Confederação por toda parte. Comecei minha residência na Faculdade de Medicina da Virgínia e James tocou na sinfônica de Richmond por vários anos. Então ele se mudou para Washington e nós rompemos. Ainda bem que não nos casamos. Pelo menos eu não tive essa complicação, nem filhos.” “E sua família?” “Minhas irmãs morreram. Tenho um irmão em Viena. Ele está envolvido em negócios bancários, como meu pai. Acho que devíamos dormir um pouco”, diz Anna. Sinto calafrios quando entro debaixo das cobertas, e estico as pernas e ponho um travesseiro debaixo de meu braço quebrado. Falar com Anna me deixou muito instável, como terra prestes a desmoronar. Sinto dores fantasmas em partes de mim que fazem parte do passado, não existem mais, e meu espírito está sobrecarregado pelo fardo adicional da história que ela contou sobre sua vida. É claro que ela não se disporia a expor seu passado para a maioria das pessoas. Uma associação com o nazismo é um estigma terrível, mesmo agora, e considerar esse fato me leva a pintar a conduta e a vida privilegiada de Anna numa tela muito diferente. Não importa que ela tivesse tão pouca possibilidade de escolher quem ficava na casa de sua família quanto tinha de opinar sobre com quem faria sexo quando tinha dezessete anos. Se outros soubessem, ela não seria perdoada. “Meu Deus”, murmuro, de olhos pregados no teto do quarto de hóspedes de Anna. “Meu querido Deus.”
8
Mesmo nos momentos em que estou mais sobrecarregada e atrapalhada, gosto do lugar onde trabalho. Estou sempre consciente de que o sistema de medicina legal que chefio é provavelmente o melhor do país, se não do mundo, e de que co-dirijo o Instituto de Ciência e Medicina Forense da Virgínia, a primeira academia de treinamento desse tipo. E posso fazer tudo isso em uma das mais avançadas instalações forenses que já conheci. Nosso novo prédio de trinta milhões de dólares, com doze mil metros quadrados, é chamado Biotech II e é o centro do Biotechnology Research Park, que transformou de forma assombrosa o centro de Richmond ao substituir implacavelmente lojas de departamento abandonadas e outras construções de madeira por elegantes edifícios de tijolo e vidro. O Biotech recuperou uma cidade que continuou a ser maltratada durante muito tempo depois de aqueles agressores nortistas terem dado o último tiro. Quando me mudei para cá, no final dos anos 1980, Richmond liderava regularmente a lista das cidades com taxas mais altas de homicídio per capita nos Estados Unidos. As empresas fugiam para condados vizinhos. Praticamente ninguém ia ao centro depois do horário de trabalho. Não se pode mais dizer isso. Notavelmente, Richmond está se tornando uma cidade de ciência e esclarecimento, e confesso que nunca achei que isso fosse possível. Confesso que odiava Richmond quando me mudei para cá, por razões muito mais profundas que a grosseria de Marino ou a falta que eu sentia de Miami. Acredito que as cidades têm personalidade; elas assumem a energia das pessoas que as ocupam e as governam. Durante sua pior época, Richmond era teimosa e intolerante, e sofria com a arrogância ferida de uma cidade decadente que agora era controlada pelas próprias pessoas que ela antes dominava ou em alguns casos possuía. Havia um exclusivismo enlouquecedor que levava pessoas como eu a sentirem-se diminuídas e solitárias. Em tudo isso eu detectava os vestígios de danos e indignidades antigos, com a mesma certeza com que os descubro em corpos. Descobria tristeza espiritual na névoa pesarosa que durante os meses do verão paira como fumaça de batalha sobre pântanos e grupos intermináveis de pinheiros esqueléticos e é arrastada ao longo do rio, envolvendo as feridas de pilhas de tijolos e fundições e campos de prisioneiros que restaram daquela guerra horrível. Eu sentia compaixão. Não desisti de Richmond. Nesta manhã, luto contra minha crença crescente de que Richmond desistiu de mim. Os topos dos edifícios do centro da cidade desapareceram em meio às nuvens, a neve torna o ar espesso. Olho para fora pela janela de minha sala, distraída por grandes flocos levados pelo vento, enquanto os telefones tocam e as pessoas passam pelo corredor. Preocupa-me a possibilidade de o governo da cidade e do estado suspenderem suas atividades. Isso não pode acontecer no primeiro dia de minha volta ao trabalho. “Rose?”, grito para minha secretária na sala ao lado. “Você está
acompanhando a previsão do tempo?” “Neve”, ela responde. “Posso imaginar. Eles ainda não suspenderam nada, não é?” Pego meu café e fico em silêncio, maravilhada com a implacável tempestade branca que tomou nossa cidade. Países das maravilhas invernais costumam adornar o município a oeste de Charlottesville e a norte de Fredericksburg, e Richmond é excluída. A explicação que sempre ouvi é que em nossa área o rio James aquece o ar apenas o suficiente para substituir a neve por chuvas geladas que se precipitam como as tropas de Grant para paralisar a Terra. “Acúmulo possivelmente de vinte centímetros. Redução no final da tarde com zonas de baixa pressão na faixa de vinte a trinta milibares.” Rose deve ter acessado uma atualização da previsão de tempo na internet. “As máximas não devem ultrapassar a temperatura de congelamento nos próximos três dias. Parece que teremos um Natal branco. Não é ótimo?” “Rose, o que você vai fazer no Natal?” “Nada demais”, ela responde. Passo os olhos por pilhas de arquivos de casos e certidões de óbito e afasto anotações de mensagens telefônicas, correspondência e memorandos internos. Não consigo ver o tampo de minha escrivaninha e não sei por onde começar. “Vinte centímetros? Vão declarar estado de emergência”, comento. “Precisamos descobrir se alguma coisa vai fechar além das escolas. O que na minha programação ainda não foi cancelado?” Rose está cansada de gritar para mim através da parede. Anda até minha sala, elegante em uma calça cinza e um suéter branco de gola alta, seu cabelo grisalho preso em uma trança. Raramente ela está sem minha agenda grande, e logo a abre. Corre o dedo sobre o que está anotado para hoje, esquadrinhando através de seus óculos de leitura. “O mais evidente é que agora temos seis casos e ainda não são nem oito horas”, ela informa. “Você foi convocada para o tribunal, mas tenho a sensação de que isso não vai acontecer.” “Qual é o caso?” “Vamos ver. Mayo Brown. Acho que não me lembro dele.” “Uma exumação”, lembro. “Homicídio por envenenamento, um caso muito duvidoso.” O caso está em algum lugar em minha escrivaninha. Começo a procurá-lo e sinto a tensão nos músculos do pescoço e dos ombros. Na última vez que vi Buford Righter em minha sala, foi para tratar desse mesmo caso, que estava fadado a não criar nada além de confusão no tribunal, mesmo depois de eu passar quatro horas explicando a ele o efeito de diluição nos níveis de droga quando o corpo é embalsamado, e que não há nenhum método satisfatório para quantificar a taxa de degradação em tecido embalsamado. Examinei os relatórios de toxicologia e preparei Righter para a defesa da diluição. O fluido de embalsamamento remove o sangue e dilui os níveis de droga, instruí-o. Portanto, se o nível de codeína do morto estiver no ponto mais baixo da escala de dose gravemente letal, antes do embalsamamento o nível só podia estar mais alto. Expliquei meticulosamente que é nisso que ele precisa se concentrar porque a defesa vai turvar as águas com a contraposição entre heroína e codeína. Estávamos sentados na mesa oval em minha sala de reuniões particular,
papéis espalhados a nossa frente. Righter tende a ficar muito descontrolado quando está confuso, frustrado ou apenas entediado. Ele permaneceu o tempo todo pegando relatórios e olhando para eles com desaprovação, depois guardando-os, bufando como uma baleia quando vem à tona. “Isso é grego”, dizia. “Como é possível fazer o júri entender coisas do tipo 6-monoacetilmorfina é um marcador para heroína, e como ele não foi detectado, isso não significa necessariamente que a heroína estava presente, mas se estivesse presente, isso significaria que a heroína também estava? Em contraposição a dizer que a codeína é medicinal?” Eu disse a ele que meu argumento era esse, justamente aquilo em que ele não queria se concentrar. Agarre-se à questão da diluição, eu disse — que o nível tinha de ser mais alto antes de a pessoa ser embalsamada. A morfina é um metabolito da heroína. E também é um metabolito da codeína e, quando a codeína é metabolizada no sangue, obtemos níveis muito baixos de morfina. Não podemos dizer nada definitivo aqui, exceto que não temos marcador para heroína, e não temos níveis de codeína e morfina, o que indica que o homem tomou alguma coisa — voluntariamente ou não — antes de morrer; pintei o cenário para ele. E era uma dose muito mais alta do que é indicado agora, por causa do embalsamamento, enfatizei mais uma vez. Mas esses resultados provam que a mulher do cara o envenenou com Tylenol Três, por exemplo? Não. Não se imobilize no beco sem saída da 6-monoacetilmorfina, eu disse vezes sem conta a Buford Righter. Percebo que estou obcecada. Sentada a minha escrivaninha, vasculho irritada pilhas de trabalho acumulado enquanto me angustio por causa da quantidade de problemas que tive de enfrentar para preparar Righter para mais um caso, prometendo que estaria lá para apoiá-lo, como sempre estive. É uma pena que ele não pareça inclinado a devolver o favor. Sou um almoço grátis. Todas as vítimas de Chandonne na Virgínia são almoços grátis. Simplesmente não posso aceitar isso e também estou começando a ficar muito ressentida com Jaime Berger. “Bom, verifique com os tribunais”, digo a Rose. “E, a propósito, ele está sendo liberado da Faculdade de Medicina da Virgínia agora de manhã.” Resisto a dizer o nome de Jean-Baptiste Chandonne. “Aguarde os telefonemas costumeiros da mídia.” “Ouvi no noticiário que uma promotora de Nova York está na cidade.” Rose folheia as páginas de minha agenda. Não quer olhar para mim. “Não seria ótimo se ela ficasse coberta de neve?” Levanto de minha escrivaninha, tiro o avental de laboratório e o penduro nas costas da cadeira. “Imagino que não recebemos nenhum chamado dela.” “Ela não ligou para cá, não para você.” Minha secretária sugere que sabe que Berger procurou Jack ou pelo menos alguém além de mim. Estou muito traquejada em manter a cabeça ocupada com as tarefas e desviar qualquer esforço da parte de outra pessoa para sondar uma área que prefiro evitar. “Para abreviar as coisas”, digo antes que Rose me dê um de seus olhares significativos, “vamos pular a reunião da equipe. Precisamos tirar esses corpos daqui antes que o tempo piore.” Rose é minha secretária há dez anos. É minha mãe no trabalho. Ela me conhece melhor do que qualquer outra pessoa, mas não abusa de sua posição me empurrando para onde não quero ir.
x
x
x
CONTINUA
x
x
x
A curiosidade sobre Jaime Berger chia na superfície dos pensamentos de Rose. Posso ver as perguntas surgindo em seus olhos. Mas ela não pergunta. Sabe muito bem como me sinto sobre o caso ser julgado em Nova York e não aqui, e que não quero falar sobre isso. “Acho que o doutor Chong e o doutor Fielding já estão no necrotério”, ela diz. “Ainda não vi a doutora Forbes.” Ocorre-me que mesmo que o caso de Mayo Brown vá adiante hoje — mesmo que os tribunais não fechem por causa da neve —, Righter não vai me ligar. Ele vai estipular meu relatório e convocar um toxicologista para depor, no máximo. Não há maneira de Righter me encarar depois que o chamei de covarde, especialmente porque a acusação é verdadeira e uma parte dele deve saber disso. Provavelmente ele vai encontrar um jeito de me evitar pelo resto de sua vida, e esse pensamento desagradável leva a outro quando cruzo o hall. O que tudo isso me pressagia? Empurro a porta do banheiro feminino e faço a transição dos tapetes e painéis civilizados para uma série de vestiários, um mundo de riscos biológicos, desolação e ataques violentos aos sentidos. No caminho, livramo-nos dos sapatos e da roupa, guardando-os em segurança em armários com chave verdeazulados. Mantenho um par Nike especial estacionado perto da porta que dá para a sala de autópsia. Os calçados jamais devem pisar outra vez o território dos vivos, e quando for hora de me livrar deles vou queimá-los.
Ponho desajeitadamente o paletó, a calça e a blusa branca de seda em cabides, meu cotovelo esquerdo latejando. Luto para me enfiar em uma beca cirúrgica Mega Shield, que tem palas frontais e mangas resistentes a vírus, costuras seladas e uma gola hermeticamente fechada que é um elegante colarinho alto. Ponho os protetores de calçados, depois touca e máscara cirúrgicas. O toque final de minha proteção contra fluidos é um escudo para o rosto, para evitar que meus olhos sejam atingidos por salpicos que contenham horrores como hepatite ou HIV. Portas de aço inoxidável abrem-se automaticamente, e meus pés fazem som de papel sobre o piso de vinil cor da pele com acabamento em epóxi do setor de autópsia, onde há risco biológico. Médicos de azul pairam sobre cinco mesas de aço inoxidável brilhante presas a pias de aço, a água correndo, tubos sugando, as radiografias em caixas de luz formando uma galeria em branco-epreto de sombras em forma de órgãos, ossos opacos e pequenos fragmentos de bala brilhantes que, como lascas de metal soltas em aviões, quebram coisas, provocam vazamentos e interrompem o funcionamento de engrenagens vitais. De grampos dentro de gabinetes de segurança, pendem cartões de amostras de DNA que foram tingidos com sangue. Secando debaixo de uma coifa, parecemse estranhamente com bandeirinhas japonesas. De monitores de TV em circuito fechado instalados nos cantos, um motor de carro ruge alto no estacionamento, uma funerária que chega para entregar ou pegar uma encomenda. Esse é meu teatro. É onde atuo. Por mais que a média das pessoas possa achar indesejáveis os odores, as visões e os sons mórbidos que correm para me saudar, sinto-me abrupta e...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades