



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Analisando o que passou, a impressão que se tem é de que foi um jeito muito estranho de começar uma guerra. Apenas um dos participantes fazia ideia do que estava realmente acontecendo, e mesmo assim por mero acaso.
A passagem da escritura tinha sido antecipada por causa de uma morte na família do advogado, que tomaria um voo noturno para o Havaí dali a duas horas.
Era a primeira vez que o Sr. Yamata fechava um negócio em solo americano. Embora fosse dono de muitas propriedades nos Estados Unidos, os detalhes legais tinham sido sempre deixados por conta de outros advogados, invariavelmente cidadãos americanos, que faziam exatamente o que eram pagos para fazer, em geral sob a supervisão de um dos empregados do Sr. Yamata. Dessa vez, porém, era diferente. Havia várias razões para isso. Uma delas era que a compra era pessoal, e não jurídica. Outra, era que não precisaria se afastar muito de casa; duas horas, no máximo, em um jato executivo. O Sr. Yamata explicara ao advogado que a propriedade seria usada como casa de campo para os fins de semana. Com o preço do metro quadrado atingindo níveis astronômicos em Tóquio, poderia comprar centenas de hectares pelo preço de um apartamento de cobertura não muito grande em sua cidade de residência. A vista da casa que pretendia construir no promontório seria deslumbrante, o Pacífico azul, as outras ilhas do arquipélago das Marianas no horizonte, o ar tão puro como em nenhum outro lugar da terra. Por todas essas razões, o Sr. Yamata oferecera uma soma principesca, com um sorriso nos lábios.
Havia, porém, mais uma razão.
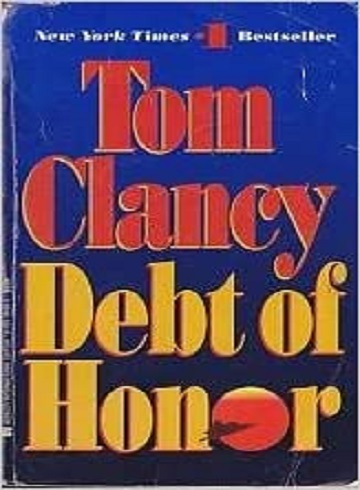
Os vários documentos circularam pela mesa redonda, parando diante de cada assento para que as assinaturas pudessem ser apostas nos lugares corretos, marcados com papéis adesivos amarelos, e depois chegou a hora de o Sr. Yamata enfiar a mão no bolso do paletó e tirar um envelope. Ele retirou um cheque de dentro do envelope e entregou-o ao advogado.
— Obrigado, senhor — disse o advogado, no tom respeitoso que os americanos sempre adotavam quando havia muito dinheiro envolvido. Era interessante como seriam capazes de fazer qualquer coisa por dinheiro. Até três anos antes, a compra de terras naquela ilha por um cidadão japonês teria sido ilegal, mas o advogado certo, o caso certo e a quantidade certa de dinheiro haviam mudado as coisas. — A transferência de propriedade será registrada esta tarde.
Yamata olhou para o vendedor com um sorriso cordial, despediu-se com um aceno de cabeça, levantou-se e deixou o escritório. Havia um carro à sua espera do lado de fora. Yamata sentou-se no banco do carona e fez um gesto seco para o motorista. O negócio estava concluído; não havia mais necessidade de ser simpático.
Como a maioria das ilhas do Pacífico, Saipan é de origem vulcânica.
Um pouco a leste fica a fossa das Marianas, um abismo de onze quilômetros de profundidade que marca o local onde uma placa tectônica mergulha debaixo de outra. O resultado é uma coleção de montanhas gigantescas em forma de cone, das quais as ilhas constituem apenas a parte visível. O Toyota Land Cruiser seguiu uma estrada em um estado razoável de conservação na direção norte, contornando o monte Achuago e o Mariana Country Club para chegar à ponta Marpi, onde parou.
Yamata saltou do veículo, varrendo com o olhar algumas construções que logo seriam demolidas, mas em vez de caminhar até o local onde seria construída sua nova casa, dirigiu-se para a beira do penhasco. Embora já tivesse mais de sessenta anos, caminhava com passos firmes e decididos no terreno irregular. Se aquilo tinha sido uma fazenda, pensou, jamais passara de uma fazenda pobre, pouco hospitaleira. Como tinha sido toda aquela ilha, mais de uma vez e por mais de um motivo.
O rosto do japonês estava impassível quando chegou à beira do que os locais chamavam de pedra Banzai. Uma brisa marinha soprava, e ele podia ver e ouvir as ondas marcharem em fileiras infindáveis até se chocarem com as pedras na base do rochedo as mesmas pedras que haviam dilacerado os corpos dos seus pais e irmãos quando eles, como tantos outros, preferiram pular a ser capturados pelos fuzileiros navais americanos. O suicídio coletivo deixara os americanos chocados, mas isso era uma coisa que o Sr. Yamata jamais admitiria.
O empresário bateu palmas e fez uma mesura, tanto para chamar a atenção dos espíritos desencarnados para sua presença como para mostrar que reconhecia a influência desses espíritos sobre seu próprio destino. Era apropriado, pensou, que com essa transação 50,016% das terras de Saipan estivessem em mãos japonesas, mais de cinquenta anos depois que sua família morrera nas mãos dos americanos.
Sentiu um súbito arrepio e atribuiu-o à emoção do momento, ou talvez à proximidade dos espíritos dos ancestrais. Embora os corpos tivessem sido levados pelas ondas, certamente seu kami jamais deixara esse lugar, e esperara pela sua volta. Estremeceu e abotoou o paletó. Sim, construiria uma casa, mas só depois de fazer o que era necessário.
Primeiro, tinha de destruir.
Do outro lado do mundo, era um daqueles momentos perfeitos. O taco recuou, afastando-se da bola, em um arco perfeito, parou por um momento, e depois refez o caminho, no sentido oposto, ganhando velocidade. O homem que o segurava deslocou o peso de uma perna para a outra. No momento apropriado, suas mãos fizeram a cabeça do taco girar em torno de um eixo vertical, de modo que, ao atingir a bola, estivesse exatamente perpendicular à trajetória desejada. O ruído foi revelador — uma tacada perfeita (era um taco de cabeça de metal). Isso, e o choque transmitido pelo cabo de grafite, disseram ao golfista tudo que queria saber. Não precisava nem olhar. Completou o golpe antes de voltar a cabeça para acompanhar a trajetória da bola.
Infelizmente, não era Ryan que segurava o taco.
Jack balançou a cabeça com um sorriso amarelo enquanto se abaixava para colocar sua bola no lugar.
— Boa bola, Robby.
O contra-almirante Robert Jefferson Jackson, da Marinha dos Estados Unidos, ficou por um instante em silêncio, os olhos de aviador observando a bola começar a descida e depois rolar pelo fairway, a uns duzentos e cinquenta metros de onde se encontravam. O impulso ainda a fez percorrer uns trinta metros. Ele só falou quando a bola parou, bem no centro.
— Eu preferia que ela tivesse ido um pouco mais longe.
— Uma pena, não é? — observou Ryan, enquanto se preparava para jogar. Joelhos dobrados, costas retas, cabeça baixa mas não muito, mão firme no taco, sim, acho que está tudo certo. Tentou fazer o que o professor do clube lhe ensinara na semana anterior, e na outra semana, e na outra... levantando o taco... e tornando a baixá-lo...
...não foi de todo mau; apenas alguns metros à direita do fainvay, cobrindo uma distância de cento e oitenta metros, a melhor primeira tacada que dera em... em todos os tempos. Atingira a mesma distância que Robby teria conseguido com um taco número sete. A única coisa boa era que eram apenas 7:45 da manhã e não havia ninguém por perto para ver o vexame.
Pelo menos a bola não caiu na água Há quanto tempo você joga, Jack? Faz mais de dois meses.
Jackson sorriu enquanto se dirigia para o carrinho.
— Comecei no meu segundo ano em Annapolis. Tenho mais experiência que você. Não esquente a cabeça e aproveite o dia.
O dia realmente estava lindo. O Greenbrier fica no meio das montanhas da Virgínia Ocidental, um refúgio que data do final do século XVIII.
Naquela manhã de outubro, o grande vulto branco do prédio principal do hotel estava emoldurado por amarelos e vermelhos, as árvores decíduas entrando no seu ciclo anual de fogo outoniço.
— Eu não tinha esperança de derrotá-lo — admitiu Ryan, entrando no carrinho.
O outro olhou para ele e riu.
— Não tem a menor chance. Faça como eu, Jack. Agradeça a Deus por não ter que trabalhar hoje.
Nenhum dos dois se encontrava de férias, embora ambos estivessem necessitados. Também não estavam satisfeitos com os cargos que ocupavam no momento. Robby fora indicado para um posto burocrático no Pentágono. No caso de Ryan, para sua surpresa, tinha sido uma volta ao mundo dos negócios em vez do lugar de professor que desejara — ou pelo menos julgara desejar — quando estava na Arábia Saudita, fazia dois anos e meio.
Talvez fosse a ação, pensou... ela se tornara um vício?, perguntou-se Jack, escolhendo um taco de ferro número três. Não seria suficiente para chegar ao green, mas era o que sabia usar melhor. Sim, era da ação que sentia mais falta no momento.
— Leve o tempo que quiser, e não tente matar a bola. Ela já está morta, entende?
— Sim, senhor. Tem razão, almirante.
— Não levante a cabeça. Deixe que eu olho para você.
— Está bem, Robbie. — Saber que Robbie não riria dele, por pior que fosse a tacada, só servia para piorar as coisas. Mudando de ideia no último momento, aprumou um pouco mais o corpo antes de desferir o golpe. A recompensa foi um som gratificante: Pá. A bola estava a trinta metros de distância quando ergueu os olhos para acompanhar a trajetória, um pouco à esquerda do alvo... mas começando a descrever uma curva para a direita.
Jack? O que foi? — perguntou Ryan, sem virar a cabeça.
— Você se dá bem com o número três — respondeu Jackson, rindo, enquanto tentava avaliar onde cairia a bola. — Talvez seja melhor usá-lo para todas as tacadas.
Jack teve que se controlar para guardar o taco sem tentar enrolar o cabo no pescoço do amigo. Deu uma gargalhada quando o carrinho se pôs de novo em movimento, subindo a colina em direção à bola de Robby, um pontinho branco no tapete verde.
— Sente falta de pilotar? — perguntou, com ar inocente.
Robby olhou para ele.
— Você também sabe jogar sujo — comentou. Mas era verdade. Cumprira a última missão como piloto, fora promovido e se candidatara ao posto de comandante do Centro de Testes da Aviação Naval, na Base Aeronaval de Patuxent River, Maryland, onde seu título real teria sido Primeiro Piloto de Testes da Marinha dos Estados Unidos. Em vez disso, porém, Jackson estava trabalhando no J-3, a diretoria de operações do Estado-Maior Conjunto. Planos de Guerra, uma função estranha, que exigia um guerreiro em um mundo onde a guerra estava se tornando uma coisa do passado. Era melhor para sua carreira, mas muito menos satisfatório do que a posição que postulara. Jackson tentou afastar a frustração com um encolher de ombros. Afinal, já pilotara muito na vida. Começara com os Phantom e fora promovido para os Tomcat. Comandara uma esquadrilha, depois um grupo de esquadrilhas, e fora promovido a oficial superior ainda jovem, com base em uma carreira irrepreensível. Na posição para a qual se candidatara, seria sido comandante de um grupo de combate, algo que no passado lhe parecera um sonho inatingível. Agora, perguntava-se para onde tinha ido todo aquele tempo e o que o esperava no futuro. — O que acontece quando envelhecemos? Alguns se dedicam ao golfe, Rob.
— Ou voltam a se interessar pelo mercado financeiro — replicou Jackson.
Um taco número oito, pensou. Ryan acompanhou-o até onde estava a bola.
— Mercado futuro — lembrou Jack. — Você não tem queixas, não é? O comentário fez o piloto — na ativa ou não, Robby seria sempre um piloto para si mesmo e para os amigos — levantar a cabeça e sorrir.
— Fez muita coisa pelos meus cem mil, Sir John — admitiu Jackson, dando sua tacada. Era uma forma de se desforrar. A bola tocou a grama, quicou, e rolou até parar a cinco metros do buraco.
— O suficiente para me dar aulas de golfe de graça?
— Está mesmo precisando. — Robby parou e sua fisionomia mudou de expressão. — Fizemos muita coisa juntos, Jack. Mudamos o mundo. E para melhor, não foi?
— De certa forma, você tem razão — concordou Jack, com um sorriso contrafeito. Alguns rotulavam isso de acabar com a história, mas o doutorado de Ryan era nessa área, e a ideia despertava nele sentimentos ambivalentes.
— Você gosta do que está fazendo agora?
— Volto para casa toda noite, geralmente antes das seis. Tenho tempo de ver todos os jogos da liga infantil no verão e quase todos os jogos de futebol no outono. Quando Sally começar a namorar, não estarei em um maldito VC-20B a caminho do fim do mundo para uma reunião que no final não vai servir para nada — declarou Jack, com um largo sorriso. — Acho que isso para mim é mais importante até do que ser um bom golfista.
— É melhor que pense assim, porque acho que nem Arnold Palmer, nosso famoso jogador de golfe, conseguiria corrigir seus vícios. Mas vou tentar — acrescentou Robby — porque Cathy me pediu.
Jack bateu na bola com muita força e teve que dar outra tacada para chegar ao green — em uma posição desfavorável — onde três putts o deixaram com uma contagem de sete, contra quatro de Robby, o par para aquele buraco.
— Se eu jogasse como você, viveria xingando a mim mesmo — observou Jackson, a caminho do segundo tee. Ryan não teve tempo de retrucar. Estava usando um bip no cinto, é claro. Era um bip via satélite, do tipo que pode localizá-lo praticamente em qualquer lugar. Túneis profundos ou grandes massas de água ofereciam alguma proteção, mas não muita. Jack tirou-o do cinto. Devia ser o negócio com a Silicon Alchemy, embora tivesse deixado instruções. Talvez alguém estivesse precisando de clipes. Olhou para o número que aparecera no visor de cristal líquido.
— Pensei que a sede da sua empresa ficasse em Nova York — comentou Robby. O código de área que o visor estava mostrando era 202, não o 212 que Jack esperava ver.
— E fica. Faço a maior parte do meu trabalho de Baltimore, via computador, mas uma vez por semana tenho que pegar o trem e ir até lá. — Ryan franziu a testa. 757-5000. O telefone do Serviços de Mensagens da Casa Branca. Olhou para o relógio. Eram 7:55 da manhã, uma hora que deixava clara a urgência da mensagem. Mas não era exatamente uma surpresa, era?, perguntou-se. Não para ele, que todo dia lia os jornais. Na verdade, estava admirado de que não o tivessem chamado mais cedo. Esperava que o chamassem antes. Foi até o carrinho e tirou do saco de tacos um telefone celular. Na verdade, era a única coisa que havia no saco que sabia usar direito.
Levou apenas três minutos para combinar os detalhes, enquanto Robby esperava a seu lado, curioso. Sim, estava no The Greenbrier. Sim, sabia que havia um aeroporto não muito longe dali. Quatro horas? Menos de uma hora para ir e voltar, não mais do que uma hora no local de destino. Estaria de volta na hora do jantar. Teria tempo até mesmo para terminar a partida de golfe, tomar um banho e trocar de roupa antes de partir, disse Jack a si mesmo, fechando o telefone e guardando-o no saco de tacos. Era uma das vantagens de dispor do melhor serviço de táxi do mundo. O problema era que depois que o fisgavam, não o deixavam mais em paz. A mordomia servia apenas para tornar a escravidão mais confortável. Jack sacudiu a cabeça enquanto se preparava para encarar o segundo buraco, e a interrupção teve um estranho efeito. A tacada em direção ao segundo fairway terminou na grama, a cento e noventa metros, e Ryan caminhou em silêncio de volta para o carrinho, imaginando o que diria a Cathy.
As instalações eram novas e imaculadas, mas tinham algo de obsceno, pensou o engenheiro. Seus compatriotas odiavam o fogo, mas detestavam ainda mais o tipo de objeto que aquela sala tinha sido projetada para fabricar. Não conseguia tirar uma coisa da cabeça. Era como se houvesse um inseto zumbindo no aposento — algo extremamente improvável, já que cada molécula de ar daquela sala limpa passara pelo melhor sistema de filtragem que seu país fora capaz de desenvolver. A competência dos colegas engenheiros era motivo de orgulho para esse homem, especialmente porque ele próprio podia ser enquadrado entre os melhores. Era esse orgulho que o fazia seguir em frente, pensou, tentando esquecer o zumbido imaginário enquanto inspecionava os instrumentos. Afinal, se os americanos eram capazes, e também os russos, os ingleses, os franceses, os chineses e até mesmo os indianos e paquistaneses, por que não eles? Tinha de haver uma simetria, afinal.
Em outra parte do edifício, o material especial estava sendo grosseiramente moldado naquele exato momento. Agentes de compra tinham levado muito tempo para adquirir os preciosos componentes. Eles eram escassos.
A maioria fora fabricada em outros países, mas alguns tinham sido feitos no próprio país para serem usados no exterior. Tinham sido inventados para uma finalidade, depois adaptados para outras, mas a possibilidade sempre existira — distante, porém real — de que a aplicação original os atraísse de volta. Aquilo se tornara uma brincadeira institucional para o pessoal de produção das várias empresas, algo para não ser levado a sério.
Agora, porém, eles levariam isso a sério, pensou o engenheiro. Apagou as luzes e fechou a porta. Tinha um prazo a cumprir, e começaria naquele mesmo dia, depois de algumas horas de sono.
Embora já tivesse estado ali muitas vezes, Ryan jamais perdera um respeito quase religioso pelo lugar, e a maneira como chegara naquele dia não contribuía para torná-lo mais prosaico. Um carro discreto tinha ido buscá-lo no hotel e o levara ao aeroporto. A aeronave estava à sua espera, naturalmente, um bimotor executivo na extremidade da pista, sem nada de especial a não ser as insígnias da Força Aérea dos Estados Unidos e o fato de que a tripulação usava uniformes verde-oliva. Sorrisos cordiais, mas respeitosos.
Um sargento para assegurar que ele sabia usar o cinto de segurança corretamente e discorrer mecanicamente a respeito dos procedimentos de segurança e emergência. Um olhar para trás de um piloto que tinha um horário a cumprir e estavam a caminho, com Ryan imaginando onde estavam os papéis que o preparariam para o encontro e bebericando uma Coca-Cola da Força Aérea dos Estados Unidos. Arrependeu-se de não ter vestido o terno mais novo e lembrou-se de que decidira deliberadamente não fazê-lo. Uma coisa estúpida, indigna de alguém como ele. Quarenta e sete minutos de voo e pista livre na base de Andrews. A única coisa que deixaram de fora foi o voo de helicóptero, porque daria muito na vista.
Recebido com deferência por um major da Força Aérea, que o encaminhara a um carro oficial barato com um motorista lacônico, Ryan recostou-se no assento e fechou os olhos enquanto o major ocupava o lugar do carona.
Tentou dormir. Já vira a Suitland Parkway e conhecia o caminho de cor. Da Suitland Parkway para a 1-295, saindo logo depois para entrar na 1395; pegar a saída da Maine Avenue. Naquela hora do dia, logo depois do almoço, o trânsito era calmo; não levaram muito tempo para chegar à guarita da West Executive Drive, onde o sentinela, para surpresa de Ryan, limitou-se a acenar para que passassem. A entrada com um toldo do porão da Casa Branca o esperava com um rosto familiar.
— Olá, Arnie — disse Jack, estendendo a mão para o secretário do presidente. Arnold van Damm era muito bom no que fazia, e Roger Durling precisara de sua ajuda na fase de transição. Mais tarde, o presidente Durling comparara seu secretário com Arnie, e este levara vantagem na comparação.
Não mudara muito, observou Ryan. As mesmas camisas L.L. Bean, a mesma expressão de honestidade no rosto, mas Arnie estava mais velho e mais cansado que da última vez que o vira. Ora, quem não estava?
— A última vez que conversamos, você me liberou de todas as amarras — disse Jack, para se pôr logo a par da situação.
— Todos cometemos enganos, Jack.
Oh-oh. Ryan se colocou imediatamente em guarda, mas mesmo assim o aperto de mão o fez transpor o umbral. Os agentes do Serviço Secreto que estavam de guarda tinham um passe pronto para ele, e tudo correu bem até que o detector de metais começou a apitar. Ryan entregou a chave do hotel e tentou de novo, disparando mais uma vez o alarma. A única outra peça de metal que tinha no corpo, com exceção do relógio, era um pivô.
— Desde quando você joga golfe? — perguntou van Damm, com uma risada que combinava com a expressão do agente mais próximo.
— É bom saber que vocês não andam me espionando. Há dois meses, e ainda não passei da barreira dos cento e dez.
O secretário indicou com um gesto a escadaria da esquerda.
— Sabe por que chamam o esporte de “golfe”?
— Sei, porque a palavra “merda” já estava tomada. — Ryan parou no patamar. — O que está acontecendo, Arnie?
— Acho que você sabe — foi tudo que conseguiu como resposta.
— Olá, Dr. Ryan! — A agente especial Helen D'Agustino continuava bonita como sempre e ainda trabalhava para a Segurança do Presidente. — Venha comigo, por favor.
A presidência não é um trabalho que mantenha um homem jovem.
Roger Durling tinha sido um paraquedista acostumado a galgar colinas no Planalto Central do Vietnã, ainda fazia seu cooper e, segundo a imprensa, gostava de jogar squash para manter a forma, mas, naquela tarde, parecia um homem cansado. Mais importante, refletiu Jack rapidamente, era o fato de que fora levado sem demora para ver o presidente, sem ter que esperar em uma das muitas antessalas, e os sorrisos nos rostos das pessoas com quem estivera no caminho tinham uma mensagem inconfundível. Durling levantou-se com uma presteza destinada a mostrar a satisfação que sentia em revê-lo. Ou talvez algo mais.
— Como vai o negócio de corretagem, Jack? O aperto de mão que acompanhou a pergunta foi firme e seco, mas tinha um quê de urgência.
— Ele me mantém ocupado, Sr. presidente.
— Nem tanto. Estava jogando golfe na Virgínia Ocidental? — perguntou Durling, convidando Ryan com um gesto a sentar-se perto da lareira. — Isto é tudo — disse aos dois agentes do Serviço Secreto que tinham entrado com Ryan. — Obrigado.
— É o meu vício mais recente, senhor — explicou Ryan, ouvindo a porta se fechar atrás dele. Era estranho que o deixassem ficar tão perto do chefe do Executivo sem a presença protetora dos agentes do Serviço Secreto, especialmente depois de ficar tanto tempo fora do governo.
Durling sentou-se e recostou-se no assento. Sua linguagem corporal mostrava vigor, do tipo que emanava mais da mente do que do corpo.
Chegara a hora de falar de negócios.
— Eu podia dizer que lamento interromper suas férias, mas não vou fazer isso — declarou o presidente dos Estados Unidos. — Teve dois anos de férias, Dr. Ryan. Agora elas terminaram.
Dois anos. Durante os primeiros dois meses, não fizera absolutamente nada, a não ser examinar algumas propostas de emprego como professor universitário, levar a mulher até a porta de manhã cedo (ela estava fazendo residência médica no Johns Hopkins), preparar a merenda das crianças e dizer a si mesmo como era bom relaxar. Levara esses dois meses para admitir a si mesmo que a falta de atividade era mais enervante do que qualquer atividade que desempenhara na vida. Apenas três entrevistas depois, estava de volta ao ramo de investimentos, podia apostar corrida com a mulher de manhã para ver quem saía primeiro de casa, queixar-se da corrida de ratos... e provavelmente preservar a sanidade. Ao mesmo tempo, ganhara algum dinheiro, mas mesmo isso, admitiu a si mesmo, não tinha mais muita graça.
Não, ainda não encontrara seu lugar, e começava a duvidar de que um dia fosse encontrá-lo.
— Sr. presidente, já faz algum tempo que o recrutamento terminou — protestou Jack, com um sorriso.
Era um comentário atrevido; arrependeu-se quase de imediato de ter falado naquele tom.
— O senhor já disse “não” uma vez ao seu país.
A censura pôs um fim aos sorrisos. Será que Durling estava tão estressado assim? Bem, tinha todo o direito de estar, e com a tensão viera a impaciência, o que era estranho em um homem cuja função principal diante do público era ser cordial e tranquilizador. Mas Ryan não fazia parte do público, fazia?
— Senhor, naquela ocasião eu estava exausto. Não acha que eu seria o último a...
— Acho. Conheço muito bem sua ficha — declarou Durling. — O suficiente para saber que talvez não estivesse aqui hoje se não fosse pelo que fez na Colômbia há alguns anos. Prestou bons serviços à pátria, Dr. Ryan, e agora que teve algum tempo de folga, e a oportunidade de se divertir no mercado financeiro... com grande sucesso, pelo que me consta... acho que chegou a hora de o recebermos de volta.
— Em que posto, senhor? — quis saber Jack.
— No final do corredor, dobrando à direita. Os últimos ocupantes não se saíram muito bem — observou Durling. Cutter e Elliot já não eram grande coisa; o conselheiro de Segurança Nacional escolhido por Durling se revelara um desastre. Seu nome era Tom Loch, e estava demissionário, segundo o jornal que lera naquela manhã. Parecia que a imprensa estava certa, para variar. — Não vou perder mais tempo. Precisamos do senhor. Eu preciso do senhor.
— Sr. presidente, sinto-me lisonjeado, mas a verdade é que...
— A verdade é que tenho uma agenda cheia, o dia tem apenas vinte e quatro horas e minha administração já vacilou várias vezes. No processo, não servimos ao país tão bem como deveríamos. Não posso dizer isso fora desta sala, mas posso e devo dizer aqui. O Departamento de Estado vai mal. O Departamento de Defesa vai mal.
— Fiedler está indo muito bem no Tesouro — objetou Ryan. — E se está com dificuldades no Departamento de Estado, por que não promove Scott Adler? Ele é jovem, mas tem muita visão.
— Não sem uma supervisão direta deste escritório, e não tenho tempo para isso. Vou contar a Buzz Fiedler que ele conta com sua aprovação — acrescentou Durling com um sorriso.
— Ele é um técnico brilhante, e é disso que precisamos do outro lado da rua. Se é necessário combater a inflação, pelo amor de Deus, muito melhor fazer a coisa de uma vez...
— ... e assumir os riscos políticos — completou Durling. — Foi exatamente o que eu disse a ele. Proteja o dólar e reduza a inflação a zero, custe o que custar. Acho que é a pessoa indicada para isso. Os resultados iniciais são animadores.
Ryan fez que sim com a cabeça. — Acho que o senhor está certo.
— Está bem, vá em frente.
Durling entregou-lhe uma pasta.
— Leia.
— Sim, senhor.
Jack começou a folhear as páginas, passando rapidamente pelas advertências de praxe a respeito do que aconteceria se revelasse a alguém o que estava prestes a ler. Como de costume, as informações protegidas pela Lei de Segurança dos Estados Unidos não eram muito diferentes das que qualquer cidadão poderia conseguir no Time, mas não tão bem escritas. Estendeu a mão direita para a xícara de café. Estava mais acostumado com canecas sem asa. A porcelana da Casa Branca podia ser fina, mas não era nada prática. Estar ali era como visitar um patrão muito rico. Aqueles encontros eram simplesmente...
— O assunto não me é estranho, mas não pensei que fosse tão... interessante — murmurou Jack.
— “Interessante”? — repetiu Durling, com um sorriso que passou despercebido. — Está sendo gentil.
— Mary Pat agora é vice-diretora de Operações? Ryan levantou os olhos para ver o presidente assentir secamente.
— Ela esteve aqui faz um mês para defender uma expansão do seu setor.
— Foi muito convincente. Al Trent acaba de conseguir a autorização do comitê.
Jack riu.
— Do Departamento da Agricultura ou do Interior, desta vez? —Aquela parte do orçamento da CIA nunca era aprovada abertamente. A Diretoria de Operações sempre conseguia parte dos fundos por vias tortuosas.
— Saúde e Serviços Humanos, penso eu.
— Mas ainda vai levar dois ou três anos para...
— Eu sei. — Durling remexeu-se no assento. — Escute, Jack, se era tão importante para você, por que...
— Senhor, se conhece bem minha ficha, sabe por quê.
— Faça-me o favor, Jack teve vontade de dizer, quanto espera que eu... Mas não, não podia, não ali, não para aquele homem, de modo que voltou a concentrar a atenção na pasta, lendo o mais rapidamente possível.
— Eu sei, foi um erro desprezar a prata da casa. Foi o que Trent e Fellows me disseram. Foi o que a Sra. Foley me disse. Este cargo às vezes pode ser um peso, Jack Ryan levantou os olhos e estava prestes a sorrir quando viu o rosto do presidente. Havia um cansaço em volta dos olhos que Durling era incapaz de esconder. Foi então que Durling viu a expressão no rosto de Jack.
— Quando pode começar? — perguntou o presidente dos Estados Unidos.
O engenheiro estava de volta, acendendo as luzes e olhando para as máquinas-ferramentas. O escritório do supervisor tinha paredes de vidro e era ligeiramente elevado, de modo que podia observar todas as atividades da oficina sem um esforço maior do que o de levantar a cabeça. Em poucos minutos, os técnicos começariam a chegar; sua presença no escritório antes do restante do pessoal — em um país onde chegar duas horas mais cedo era considerado normal — mostraria a seriedade com que encarava aquele trabalho. O primeiro homem chegou apenas dez minutos depois, pendurou o casaco e foi fazer café. Café, e não chá, pensaram os dois ao mesmo tempo.
Surpreendentemente ocidental. Os outros chegaram em bando, ao mesmo tempo ressentidos e invejosos do colega, pois todos notaram que o escritório do chefe estava aceso e ocupado. Poucos fizeram ginástica nos postos de trabalho, tanto para relaxar como para mostrar sua dedicação. Quando faltavam exatamente duas horas para o serviço começar, o chefe saiu do escritório e reuniu a equipe para a primeira palestra da manhã a respeito do que estavam fazendo. Todos sabiam, é claro, mas mesmo assim tiveram de ouvir. A fala levou dez minutos, e em seguida foram trabalhar. Não era absolutamente um jeito estranho de começar uma guerra.
O jantar foi elegante, servido em um enorme salão de teto muito alto, ao som de piano, violino e o ocasional tilintar de cristal. A conversa à mesa foi superficial, ou pelo menos assim pareceu a Jack, enquanto ele saboreava o vinho e degustava o prato principal. Sally e o pequeno Jack estavam indo bem na escola e Kathleen faria dois anos dali a um mês. Já se tornara a rainha da casa de Peregrine Cliff, a menina dos olhos do pai e o terror da creche. Robby e Sissy, que não tinham filhos apesar de todos os esforços, eram tios honorários dos filhos de Ryan e se orgulhavam tanto das crianças como Jack e Cathy. Havia um resquício de tristeza nisso, pensou Jack, mas a vida era assim mesmo, e imaginou se Sissy ainda chorava quando pensava no assunto e Robby estava ausente em alguma missão. Jack, que não tinha irmãos, sentia-se mais próximo do amigo do que se ele fosse seu irmão e achava que ele merecia melhor sorte. Quanto a Sissy... bem, Sissy era um anjo de mulher. Imagino como o governo estará se saindo.
— Provavelmente estão preparando um plano para invadir Bangladesh — observou Jack, levantando os olhos e entrando outra vez na conversa.
— Isso foi na semana passada — informou Jackson, com um sorriso.
— Como eles conseguem passar sem nós? — perguntou Cathy, em tom distraído, provavelmente preocupada com um paciente.
— Seja como for, a temporada de concertos só começa no mês que vem — declarou Sissy.
— Mmmmm — fez Ryan, baixando os olhos para o prato, sem saber como contar a novidade.
— Jack, eu já sei — disse Sally, finalmente. — Você não sabe disfarçar.
— Quem...
— Ela perguntou onde você estava — explicou Robby. — Um oficial de marinha não mente.
— Achou que eu ficaria zangada? — perguntou Cathy ao marido.
— Achei.
— Vocês não sabem como é — explicou Cathy aos amigos. — Toda manhã, ele pega o jornal e começa a resmungar. Toda noite, assiste ao noticiário da TV e começa a resmungar. Todo domingo, passa horas vendo os programas de entrevistas e não para de resmungar. Jack — perguntou, sem levantar a voz —, você acha que eu conseguiria viver sem praticar medicina?
— Acho que não, mas não é a mesma...
— Não, não é, mas entendo como se sente. Quando vai começar? — quis saber Caroline Ryan.
1
EX-ALUNOS
Havia uma universidade em algum lugar do Meio Oeste, ouvira Jack uma vez no rádio, que projetara um instrumento para medir as condições no interior de um tornado. Toda primavera, alunos de pós-graduação e um professor ou dois escolhiam uma faixa promissora de terra e, ao observar a chegada de um tornado, tentavam colocar o instrumento, chamado “Toto” — que outro nome poderia ter? — diretamente no caminho da tempestade que se aproximava. Até o momento, não tinham conseguido sucesso. Talvez houvessem escolhido o lugar errado, pensou Ryan, olhando pela janela para as árvores sem folhas do Lafayette Park. O escritório do conselheiro de Segurança Nacional do presidente era mais ciclônico do que a maioria das regiões da Terra, e, infelizmente, muito mais fácil de entrar.
— Você sabe — disse Ryan, recostando-se no assento —, as coisas deviam ser mais simples do que são. — E eu pensei que fossem, absteve-se de acrescentar.
— Antigamente, o mundo tinha regras — observou Scott Adler. — Agora, não tem mais.
— Como está se saindo o presidente, Scott?
— Quer saber a verdade? — perguntou Adler, querendo dizer: Estamos na Casa Branca, lembra-se? e imaginando se a conversa estaria sendo gravada. — Metemos os pés pelas mãos na Coreia, mas conseguimos sair a tempo. Graças a Deus que soubemos contornar a situação na Iugoslávia, porque não teríamos a mesma sorte naquele maldito lugar. Nossas relações com a Rússia não vão lá muito bem. Todo o continente africano é um saco de gatos. A única coisa que fizemos certo ultimamente foi aquele tratado comercial...
— Que não inclui o Japão e a China — completou Ryan.
— Ei, você e eu demos um jeito no Oriente Médio, lembra-se? Aquele foi um bom trabalho.
— Qual é o lugar mais quente no momento? — Ryan não queria elogios pelo trabalho que fizera no Oriente Médio. O “sucesso” tivera consequências muito desagradáveis e era a principal razão para seu afastamento do governo.
— É melhor colocar isso no plural — sugeriu Adler.
Ryan concordou com a cabeça.
— O que me diz do secretário de Estado?
— Henson? É um político — respondeu o agente de carreira do Serviço Secreto.
E orgulhoso da profissão, pensou Jack consigo mesmo. Adler começara a trabalhar para o Departamento de Estado logo depois de se formar no primeiro lugar da turma na Fletcher School, e galgara todos os postos da carreira, passando por todos os percalços e politicagens internas que lhe custaram o amor da primeira mulher e boa parte do cabelo. Tinha de ser o amor à pátria que lhe dava forças, pensou Jack. Filho de um sobrevivente de Auschwitz, Adler se importava com a América de uma forma que poucos podiam imitar. Melhor ainda: seu amor não era cego, mesmo agora que ocupava um cargo de confiança e não uma posição de carreira. Como Ryan, estava à disposição do presidente, e mesmo assim tivera a honestidade de responder às perguntas de Jack com franqueza.
— Pior ainda — emendou Ryan. — É advogado. Eles sempre atrapalham a vida da gente.
— O velho preconceito — observou Adler, com um sorriso, antes de usar um pouco dos próprios poderes de análise. — Você está maquinando alguma coisa, não está? Ryan fez que sim com a cabeça.
— Um ajuste de contas. Tenho dois homens trabalhando nele no momento.
A tarefa combinava perfuração e extração de petróleo, a ser seguida por um trabalho delicado de acabamento, e tinha de ser terminada a tempo. Os furos estavam quase prontos. Não fora fácil perfurar a rocha basáltica do vale nem mesmo uma vez, quanto mais dez, cada poço com quarenta metros de profundidade por dez de diâmetro. Entretanto, uma turma de novecentos homens, trabalhando em três turnos, conseguira superar o cronograma oficial em duas semanas, isso sem abrir mão de nenhuma das precauções.
Seis quilômetros de trilhos tinham sido instalados a partir da linha de Shin-Kansen mais próxima; em cada centímetro desses trilhos, as torres que seriam normalmente usadas para sustentar a rede elétrica serviam de apoio para seis quilômetros de redes de camuflagem.
A história geológica daquele vale japonês devia ter sido interessante, pensou o superintendente de obras. As montanhas a leste eram tão íngremes, que só se via o sol uma hora depois de nascer. Não admira que os engenheiros de estradas de ferro tivessem olhado para aquele vale e escolhido outro trajeto.
A estreita garganta — que, em certos locais, não chegava a ter dez metros de largura na base — tinha sido aberta por um rio, há muito represado, e o que restara era essencialmente uma trincheira cavada na pedra, como se fosse o resíduo de uma guerra. Ou o preparativo para uma, pensou. Aquilo era óbvio, afinal, apesar do fato de que ninguém lhe dissera nada a não ser para se manter de boca fechada a respeito do projeto. Só havia duas maneiras de sair daquele lugar: diretamente para cima ou pelas extremidades. Um helicóptero seria capaz da primeira proeza, um trem da segunda, mas para conseguir qualquer outra coisa seria preciso violar as leis da balística, o que certamente constituía uma empreitada muito difícil.
Enquanto olhava, uma grande escavadeira Kowa despejou mais uma carga de pedra britada em um vagão aberto. Era o último carro da composição, e logo a locomotiva diesel levaria o comboio até a linha principal, onde seria substituída por uma máquina elétrica convencional, de bitola larga.
— Está pronto — disse-lhe o empregado, apontando para o buraco.
No fundo do poço, um homem segurava a ponta de uma trena. Quarenta metros, exatamente. A profundidade já tinha sido medida com o auxílio de um laser, é claro, mas a tradição exigia que a medição fosse verificada pelas mãos humanas de um profissional experiente, e por isso lá embaixo estava um mineiro de meia-idade, cujo rosto brilhava de contentamento. E que não tinha a menor ideia da finalidade do projeto.
— Hai — disse o superintendente, com um gesto de cabeça e depois uma mesura mais formal de aprovação para o homem, que se apressou em responder ao cumprimento. O próximo trem traria uma grande misturadora de cimento. As peças de revestimento pré-moldado já estavam empilhadas ao lado daquele poço... e, para dizer a verdade, ao lado de todos os outros, prontas para serem instaladas. Ao terminar o primeiro furo, aquele grupo superara o competidor mais próximo em cerca de seis horas e o mais atrasado em não mais do que dois dias — irregularidades nas rochas do subsolo tinham sido um problema no Poço Número 6; era de admirar que o atraso não fosse maior. Teria de conversar com eles, congratulá-los pelo esforço hercúleo, para que não se envergonhassem por terem sido os últimos. Os operários do Poço 6 eram sua melhor turma; pena que tivessem encontrado um terreno tão adverso.
— Ainda temos três meses; vamos cumprir o prazo — declarou o capataz, com confiança.
— Quando o Número Seis estiver pronto, vamos dar uma festa para os operários. Eles merecem.
— Isto não é nada agradável — observou Chávez.
— Além do mais, faz calor — concordou Clark.
O ar-condicionado do Range Rover estava enguiçado, ou talvez tivesse morrido de desespero. Felizmente, tinham água à vontade em garrafas.
— Mas é um calor seco — replicou Ding, como se isso importasse quando estava fazendo quarenta e cinco graus à sombra.
— Hoje de noite vai esfriar. Talvez a temperatura chegue a uns vinte e cinco graus.
— Anda bem que me lembrei de trazer um suéter, Sr. C.
Chávez enxugou o suor da testa antes de usar de novo os binóculos. Apesar de serem de boa qualidade, não ajudavam muito, pois permitiam apenas uma visão melhor do ar trêmulo que se agitava como a superfície de um mar tempestuoso. Não havia seres vivos naquela região, a não ser um ou outro abutre, e àquela altura eles certamente haviam limpado as carcaças de todas as criaturas que tivessem cometido o erro de nascer ali. E dizer que achara estéril o deserto de Mojave, pensou Chávez. Pelo menos era habitado por coiotes...
Era sempre a mesma coisa, pensou Clark. Vinha fazendo trabalhos como aquele havia... trinta anos? Não tanto tempo assim, mas quase. Por Deus, trinta anos! Anda não tivera chance de exercer suas habilidades em um lugar onde realmente se sentisse bem, mas isso não lhe parecia terrivelmente importante no momento. Não era fácil manter a missão em segredo. A traseira do Rover estava coalhada de equipamentos de prospecção e caixas com amostras de rocha, o suficiente para convencer os analfabetos locais de que poderia haver um enorme depósito de molibdênio naquela montanha isolada. Os locais conheciam perfeitamente o aspecto do ouro — quem não conhecia? — mas o mineral chamado afetuosamente pelos mineiros de “Molly-be-damned” era um mistério para os não iniciados, exceto pelo valor de mercado, que todos sabiam ser considerável. Clark usava essa desculpa com frequência. Uma descoberta geológica oferecia às pessoas o tipo correto de sorte para despertar sua inevitável ambição. Eles simplesmente adoravam a ideia de que havia algo valioso debaixo dos seus pés, e John Clark gostava de desempenhar o papel de geólogo, comunicando a boa nova com uma expressão séria e honesta e pedindo o maior sigilo possível.
Olhou para o relógio. O encontro fora marcado para dentro de noventa minutos, na hora do crepúsculo, mas chegara mais cedo, para examinar a área.
O local era quente e deserto, o que não chegava a ser surpresa, e ficava a trinta quilômetros da montanha que estariam discutindo em alguns momentos.
Havia um cruzamento nas proximidades, entre duas estradas de terra, uma na direção genérica norte—sul e outra na direção leste—oeste, ambas claramente visíveis, apesar da areia e cascalho soprados pelo vento, que deveriam ter coberto todos os vestígios de presença humana. Clark estava intrigado. A seca prolongada não ajudara em nada, mas mesmo com chuvas ocasionais era difícil imaginar que alguém se dispusesse a viver ali. Mesmo assim, algumas pessoas tinham feito essa opção, e, até onde sabia, podiam muito bem continuar a fazê-lo, nas ocasiões em que havia capim para as cabras comerem... e não havia bandidos com armas para roubar as cabras e matar os pastores. Os dois agentes da CIA não tinham mais o que dizer um ao outro e ficaram sentados no carro, com as janelas abertas, bebendo água e suando.
Quando os caminhões apareceram, o sol estava quase se pondo. Viram primeiro as nuvens de poeira, como esteiras de lanchas a motor, amarelas à luz mortiça do fim do dia. Em um país tão vazio e atrasado, como era possível que soubessem fazer os caminhões andarem? Alguém devia ser capaz de mantê-los em funcionamento, o que era algo notável. Ironicamente, significava que nem tudo estava perdido para aquele lugar desolado. Se os bandidos podiam fazer isso, os mocinhos também seriam capazes. E era essa a razão para Clark e Chávez estarem ali, não era? O primeiro caminhão chegou bem antes dos outros. Era antigo, provavelmente um caminhão militar, embora, no estado em que se encontrava a carroçaria, o país de origem e o nome do fabricante fossem impossíveis de identificar. Circulou o Rover dos agentes a cerca de cem metros, enquanto os ocupantes observavam-nos de uma distância prudente, entre eles um homem atrás do que parecia uma metralhadora russa de 12,7mm montada na traseira do caminhão. “Policiais”, era como o chefe os chamava. Antes, o nome tinha sido “técnicos”. Depois de algum tempo, pararam, saltaram do veículo e ficaram ali parados, olhando para o Rover, segurando os rifles G3, velhos, sujos, mas provavelmente ainda funcionando. Os homens logo seriam menos importantes. Afinal, o caq já começara a circular. Chávez avistou um homem sentado à sombra de um dos caminhões, mascando a erva.
— Os filhos da puta não podiam pelo menos fumar a droga? — perguntou o agente, irritado.
— Faz mal aos pulmões, Ding. Você sabe disso.
A pessoa que iriam encontrar naquela noite ganhava um bom dinheiro com a droga. Na verdade, quase dois quintos do produto nacional bruto do país eram investidos naquele comércio, sustentando uma pequena frota de aviões que a trazia da Somália. Isso deixava Clark e Chávez indignados, mas sua missão nada tinha a ver com o fato. Estavam ali para cobrar uma dívida antiga. O general Mohammed Abdul Corp — a patente fora inventada pelos repórteres, que não sabiam como chamá-lo — tinha sido uma vez o responsável pela morte de vinte soldados americanos. Para ser mais exato, isso acontecera fazia dois anos, um tempo longo o suficiente para que o caso tivesse sido esquecido pela imprensa, principalmente porque, depois de matar os soldados americanos, o general voltara à sua atividade normal, que era matar os compatriotas. Era por essa última razão que Clark e Chávez estavam nominalmente no caso, mas a justiça assumia muitas formas e muitas cores, e Clark não tinha nenhuma objeção em executar uma tarefa paralela. O fato de que Corp também era traficante de tóxicos parecia um presente especial de um Deus bem-humorado.
— Vamos lavar o rosto antes que ele chegue aqui? — perguntou Ding, mais tenso agora, e demonstrando isso apenas um pouco.
Os quatro homens continuavam sentados perto do caminhão, mascando o caq e olhando para eles, com os rifles no colo, a metralhadora do caminhão totalmente esquecida. Eram a guarda avançada do general.
Clark sacudiu a cabeça.
— Perda de tempo.
— Merda, estamos aqui há seis semanas.
— Tudo para um único encontro. Mas era assim que as coisas funcionavam, não era? Eu estava mesmo precisando suar três quilos — observou Clark, com um sorriso também tenso. Provavelmente mais do que três, pensou. — E preciso tempo para fazer essas coisas direito.
— Como será que Patsy está se saindo na faculdade? — murmurou Ding, quando mais nuvens de poeira se aproximaram.
Clark não respondeu. Parecia-lhe vagamente impróprio que a filha achasse o parceiro exótico, interessante... e charmoso, admitiu Clark para si mesmo. Embora Ding fosse mais baixo que a moça — Patsy saíra à mãe, alta e esguia — e tivesse uma educação cheia de lacunas, John tinha de reconhecer que Chávez trabalhara mais duro que qualquer homem que conhecera para se transformar em algo que o destino fizera o possível para lhe negar. O rapaz estava com trinta e um anos. Rapaz?, perguntou-se Clark. Dez anos mais velho que sua filhinha querida, Patrícia Dóris Clark. Poderia ter falado muita coisa a respeito de como era difícil a vida de um agente, mas Ding teria argumentado que a decisão não era sua, e não era mesmo. Sandy também pensava assim. O que Clark não podia aceitar era a ideia de que Patricia, sua menina, pudesse fazer sexo com... Ding? Sua parte de pai achava a ideia desagradável, mas o restante dele tinha que admitir que um dia também fora jovem. As filhas, repetiu para si mesmo, eram o castigo de Deus por você ser homem; você vivia com medo de que elas encontrassem acidentalmente alguém como... como você naquela idade. No caso de Patsy, a semelhança em questão era simplesmente grande demais para que a aceitasse com facilidade.
— Concentre-se na missão que temos pela frente, Ding.
— Entendido, Sr. C.
Clark não precisou virar a cabeça. Podia ver o sorriso no rosto do amigo. Também o sentiu evaporar-se quando novas nuvens de poeira apareceram no horizonte.
— Vamos pegar você, seu filho da mãe — murmurou Ding, de volta à realidade do momento. Não eram apenas os soldados americanos mortos.
Pessoas como Corp destruíam tudo que tocavam, e aquela parte do mundo precisava de uma oportunidade. Aquela oportunidade poderia ter chegado dois anos antes, se o presidente tivesse ouvido seus generais, e não as Nações Unidas. Bem, pelo menos ele parecia estar aprendendo, o que não era mau para um presidente.
O sol estava quase se pondo, e a temperatura começara a cair. Mais caminhões. Torceram para que não fossem muitos mais. Chávez desviou o olhar para os quatro homens que estavam a cem metros de distância.
Discutiam animadamente, embriagados pelo caq. Normalmente, seria perigoso aproximar-se de homens drogados armados com rifles, mas naquela noite o perigo estava do lado contrário, como às vezes acontecia. O segundo caminhão agora estava claramente visível e aproximou-se bem rápido. Os dois agentes da CIA saltaram do Rover para esticar as pernas e cumprimentar os recém-chegados, com cautela, é claro.
A guarda pessoal do general, constituída por “policiais” de elite, não era melhor do que a guarda avançada, embora alguns homens desse último grupo usassem a camisa desabotoada. Q primeiro a se aproximar cheirava a uísque, provavelmente roubado do estoque particular do general. Isso era uma afronta direta ao Corão... mas o tráfico de drogas também era. Uma das coisas que Clark apreciava nos sauditas era a forma direta e peremptória como castigavam esse tipo de criminoso.
— Olá. — Clark sorriu para o homem. — Meu nome é John Clark. Este é o Sr. Chávez. Estamos à espera do general, como ficou combinado.
— O que estão carregando? — perguntou o “policial”, surpreendendo Clark com seu conhecimento de inglês. John levantou o saco de amostras de rochas, enquanto Ding mostrava um par de instrumentos eletrônicos.
Depois de um exame sumário do veículo, eles foram poupados até mesmo de uma revista séria, o que foi uma surpresa agradável.
Corp chegou logo depois, acompanhado por sua força de segurança mais confiável, se é que se podia chamá-la assim. Viajavam em um jipe russo tipo ZIL O “general” estava em um Mercedes que pertencera a um burocrata do governo antes que o governo do país se desintegrasse.
Conhecera melhores dias, más provavelmente ainda era o melhor automóvel do país. Corp usava seu melhor uniforme, uma camisa caqui do lado de fora de calças cotelê, com algo parecido com divisas nos ombros e botas que tinham sido engraxadas na semana anterior. O sol acabara de se pôr. Logo estaria escuro; várias estrelas já eram visíveis na atmosfera transparente do deserto.
O general era um homem elegante, pelo menos em sua própria opinião.
Aproximou-se com passos firmes e estendeu a mão. Enquanto a apertava, Clark imaginou o que teria sido feito do dono do Mercedes. Provavelmente fora assassinado com os outros membros do governo. Tinham morrido em parte por incompetência, mas principalmente de barbarismo, provavelmente nas mãos do homem cuja mão firme e amistosa estava agora apertando.
— Terminaram o levantamento? — perguntou Corp, surpreendendo outra vez Clark com seu inglês.
— Sim, senhor. Terminamos. Posso lhe mostrar?
— É claro.
Corp acompanhou-os até o Rover. Chávez pegou um mapa topográfico e algumas fotos de satélite comerciais.
— Este pode ser o maior depósito desde aquele do Colorado, e a pureza é extraordinária. Bem aqui — mostrou Clark, apontando para o mapa com uma vareta de metal.
— A trinta quilômetros de onde estamos...
Clark sorriu.
— O senhor sabe de uma coisa? Estou há muitos anos neste negócio, mas até hoje essas coisas me deixam fascinado. Há bilhões de anos, uma grande bolha desse material deve ter subido do centro da Terra. — Sua aula era poética. Tinha muita prática, e a verdade era que Clark lia livros de geologia como passatempo, guardando as frases de mais efeito para seu trabalho.
— Seja como for — interveio Ding, aproveitando sua deixa minutos depois —, a cobertura não vai ser problema, e conhecemos a localização exata do depósito.
— Como conseguiram isso? — quis saber o general. Os mapas do seu país eram produto de outra época, muito menos sofisticada.
— Com isto, general — afirmou Ding, entregando-lhe um pequeno aparelho.
— O que é? — perguntou Corp.
— Um localizador GPS — explicou Chávez. — E assim que sabemos onde estamos, general. Basta apertar este botão.
Corp apertou o botão indicado e observou o visor da caixa de plástico verde. Primeiro ele forneceu a hora exata e depois começou a calcular a posição, revelando que estava captando os sinais de um, depois três e finalmente quatro satélites do sistema global de posicionamento.
— Um aparelhinho incrível — observou o general, embora conhecesse apenas metade da história. Ao apertar o botão, também enviara um sinal de rádio. Era muito fácil esquecer que se encontravam a menos de duzentos quilômetros do oceano Indico e que logo além do horizonte podia haver um navio com uma grande plataforma no convés. Plataforma que estava vazia no momento, porque o helicóptero que costumava ocupá-la decolara fazia uma hora e estava agora pousado em local seguro, sessenta quilômetros ao sul.
Corp olhou mais uma vez para o localizador GPS antes de devolvê-lo.
— Que barulho foi esse? — perguntou, quando Ding pegou o aparelho.
— As pilhas estão soltas, general — explicou Chávez, com um sorriso.
— Era a única pistola de que dispunham, e não era muito grande. O general ignorou a irrelevância e voltou-se para Clark.
— Quanto? — perguntou de forma lacônica.
— Bem, para determinar o tamanho exato do depósito, vamos levar...
— Estou falando de dinheiro, Sr. Clark.
— A Anaconda está disposta a lhe oferecer cinquenta milhões de dólares, general. Vamos lhe pagar em quatro prestações de doze milhões e quinhentos mil dólares, mais dez por cento do lucro líquido das operações de mineração. Tudo em dólares.
— A jazida vale mais do que isso. Eu conheço o valor do molibdênio.
O general tinha lido um exemplar do Financial Times a caminho da reunião.
— Mas vamos levar dois anos no mínimo, talvez três, para começar as operações. Anda não decidimos qual o melhor meio de levar o minério até a costa. De caminhão, talvez, ou pode ser que valha a pena construir uma via férrea, se o depósito for tão grande como pensamos. O investimento inicial será da ordem de trezentos milhões de dólares.
— Preciso de mais dinheiro para manter meus homens satisfeitos. Você precisa entender isso — argumentou Corp.
Se o general fosse um homem honrado, pensou Clark, aquela poderia ser uma negociação interessante. Corp queria o dinheiro para a compra de armas e reconquistar a nação que tinha sido dele um dia. A ONU o afastara do poder, mas não conseguira neutralizá-lo. Relegado a uma perigosa obscuridade no interior do país, sobrevivera durante o último ano do tráfico de caq, e conseguira recursos suficientes para tornar-se novamente uma ameaça para o estado. Com as novas armas, poderia retomar o governo e pedir um preço muito maior pela exploração das jazidas de molibdênio. Era um plano diabólico, pensou Clark, mas relativamente óbvio, imaginado por ele próprio para tirar aquele filho da mãe do buraco onde se escondia.
— Entendo, general, nós também estamos preocupados com a estabilidade política da região — concordou John, com um sorriso de cumplicidade para mostrar que sabia aonde o outro queria chegar. Os americanos eram pessoas pragmáticas; pelo menos, assim pensavam Corp e os outros.
Chávez estava mexendo no localizador GPS, atento ao mostrador de cristal líquido. Um retângulo preto apareceu no canto superior direito. Ding tossiu para limpar a garganta da areia do deserto e coçou o nariz.
— Está bem — disse Clark. — O senhor é um homem sério, e apreciamos isso. Vamos pagar os cinquenta milhões de uma vez. Em uma conta na Suíça? Assim é melhor — admitiu Corp, fazendo suspense. Foi até a traseira do Rover e apontou para o bagageiro.
— Essas são as amostras de rocha?
— São, general — respondeu Clark, fazendo que sim com a cabeça.
Passou-lhe uma pedra de um quilo de minério de “Molly-be-damned” de alta pureza, que fora encontrada no Colorado e não na África. — Quer mostrá-la aos seus homens?
— O que é aquilo? — perguntou o general, apontando para dois objetos no bagageiro.
— Nossas lanternas, general. — Clark sorriu enquanto pegava uma delas. Ding imitou-o.
— Você tem uma arma aí dentro! — exclamou Corp, surpreso, apontando para um fuzil de ferrolho. Dois dos guarda-costas aproximaram-se.
— Estamos na África, general. Precisávamos de alguma coisa para nos defendermos dos...
— Leões? — Corp achou muito engraçado. Voltou-se e explicou aos ”policiais”, que começaram a rir da estupidez dos americanos.
— Nós matamos todos os leões — explicou o general, quando os risos cessaram. — Não existem animais selvagens nesta região.
Clark, pensou o general, tinha aceitado a gozação sem se perturbar, ali de pé, com a lanterna na mão. Parecia uma lanterna potente.
— Para que serve isso?
— Bem, não gostamos muito de ficar no escuro, e quando acampamos fora, costumo tirar fotos à noite.
— Isso mesmo — confirmou Ding. — Essas belezinhas funcionam muito bem.
Voltou-se e verificou onde estavam os seguranças do general. Havia dois grupos, um de seis homens, outro de quatro, mais os dois guarda-costas e Corp em pessoa.
— Quer que eu tire um retrato dos seus homens? — perguntou Clark, sem pegar a câmara.
Nesse momento, Chávez acendeu a lanterna e apontou-a para o maior dos dois grupos distantes. Clark cuidou dos três homens reunidos em torno do Rover. As “lanternas” funcionaram perfeitamente. Em menos de três segundos, os dois agentes da CIA puderam desligá-las e começar a amarrar as mãos dos homens.
— Pensou que tínhamos esquecido? — perguntou a Corp o agente da CIA quinze minutos depois, quando ouviram o ruído de rotores.
Àquela altura, os doze seguranças de Corp estavam deitados de bruços na areia, as mãos amarradas atrás das costas com o tipo de cordas de plástico usadas pelos policiais quando estão sem algemas. Tudo que o general podia fazer era gemer e contorcer-se no chão. Ding acendeu vários sinalizadores e distribuiu-os em círculo, perto do Rover. O primeiro helicóptero Blackhawk UH-60 circulou com cautela o local, iluminando o solo com um holofote.
— PERDIGUEIRO, aqui é CAIXEIRO VIAJANTE.
— Boa noite, CAIXEIRO VIAJANTE, aqui é PERDIGUEIRO. Podem descer! — disse Clark pelo rádio.
O helicóptero pousou bem longe da área iluminada. Os comandos surgiram da escuridão como fantasmas, as armas prontas para disparar.
— Clark? — chamou uma voz muito tensa.
— Aqui! — respondeu John, acenando. — Nós o pegamos.
Um capitão dos comandos aproximou-se: um jovem de tipo latino, o rosto sujo de tinta de camuflagem, usando um uniforme especial para o deserto. Era tenente da última vez que pisara no continente africano e se lembrava muito bem da missa pela alma dos colegas de pelotão. Trazer os comandos de volta fora ideia de Clark, uma ideia fácil de concretizar. Mais quatro soldados foram se juntar ao capitão Diego Checa. Os outros se dispersaram para revistar os “policiais”.
— O que vamos fazer com esses caras? — perguntou um deles, apontando para os dois guarda-costas do general.
— Deixe-os onde estão — respondeu Ding.
— Sim, senhor — disse o soldado, tirando do cinto um par de algemas de aço, apesar de já estarem com as mãos amarradas. O capitão Checa encarregou-se de algemar Corp pessoalmente. Ele e um sargento carregaram o homem, enquanto Clark e Chávez apanhavam a bagagem pessoal no Rover e acompanhavam os soldados até o Blackhawk. Um dos comandos ofereceu um cantil a Chávez.
— Oso mandou lembranças — disse o segundo-sargento.
Ding olhou para ele.
— O que ele está fazendo no momento?
— Frequentando a Escola de Primeiros-Sargentos. Ficou muito triste por não poder vir. Sou Gomez, R., segundo-sargento do Um-Sete-Cinco. Também estava aqui naquele dia.
— Você faz a coisa parecer muito fácil — estava dizendo Checa a Clark, a alguns metros de distância.
— Seis semanas — respondeu o agente, em um tom casual cuidadosamente estudado, como exigiam as regras. — Quatro semanas para montar a armadilha, duas semanas para marcar o encontro, seis horas de espera e uns dez segundos para imobilizá-los.
— Tudo de acordo com o figurino — observou Checa, oferecendo a Clark um cantil com Gatorade.
Os olhos do capitão fixaram-se no agente. Independentemente de quem fosse, pensou Checa, parecia velho demais para aquele tipo de atividade.
Foi então que reparou melhor nos olhos de Clark.
— Como vocês conseguem fazer essas coisas? — perguntou Gomez para Chávez, na porta do helicóptero.
Os outros se aproximaram para ouvir a resposta. Ding deu uma olhada no seu equipamento e respondeu: — Somos mágicos! Gomez pareceu frustrado com a resposta.
— Vamos deixar todos esses caras aí? — perguntou.
— Vamos. Não passam de traficantes. — Chávez olhou para trás pela última vez. Mais cedo ou mais tarde, um deles conseguiria soltar as mãos, pegaria uma faca e cortaria as amarras dos outros “policiais”; então eles poderiam se preocupar com as algemas de aço dos dois guarda-costas. — É no chefão que estamos interessados.
Gomez voltou-se e olhou para o horizonte.
— Existem leões ou hienas por aqui? Ding sacudiu a cabeça. “Que pena”, pensou o sargento.
Os comandos estavam sacudindo as cabeças quando afivelaram os cintos no helicóptero. Assim que decolaram, Clark colocou na cabeça um par de fones e esperou que a ligação fosse completada.
— PEDRA-CHAVE, aqui é PERDIGUEIRO — começou.
Por causa da diferença de fuso horário, passava um pouco do meio-dia em Washington. A transmissão em UHF do helicóptero foi captada pelo USS Tripoli e enviada para um satélite. Chegando aos Estados Unidos, a mensagem foi encaminhada diretamente para o telefone da mesa de Ryan.
— Sim, PERDIGUEIRO, aqui é PEDRA-CHAVE.
Ryan não reconheceu a voz de Clark, mas as palavras eram inteligíveis, apesar da estática: — Está na gaiola. Nenhum dos nossos se machucou. Repito: o passarinho está na gaiola e nenhum dos nossos se machucou.
— Entendido, PERDIGUEIRO. Faça a entrega como planejado.
Não é para isso que estou aqui, pensou Jack, colocando o fone no gancho. Em princípio, não devia se envolver em operações daquele tipo, mas o presidente insistira. Levantou-se e dirigiu-se à Sala Oval.
— Conseguiram pegá-lo? — perguntou Helen D'Agustino, ao cruzar com ele no corredor.
— Você não devia saber de nada — protestou Jack.
— O chefe está preocupado — explicou Helen, sem se perturbar.
— Diga a ele que pode parar de se preocupar.
— Essa era uma conta que precisávamos acertar. Bem-vindo de volta ao governo, Dr. Ryan.
O passado assombraria outro homem naquele dia.
— Prossiga — disse a psicóloga.
— Foi horrível — declarou a mulher, baixando os olhos. — Nunca tinha me acontecido nada semelhante e... — embora falasse em um tom monótono, sem demonstrar emoção, foi a aparência que deixou a médica mais preocupada.
A paciente tinha trinta e cinco anos e deveria ser esbelta, miúda e loura, mas em vez disso tinha o rosto inchado pela comida e bebida em excesso e os cabelos muito maltratados. A pele, que poderia ser clara, era apenas pálida e refletia a luz como gesso, de uma forma baça que nenhuma maquilagem conseguiria disfarçar. Apenas a dicção revelava o que a paciente tinha sido um dia, e sua voz rememorava os acontecimentos de três anos atrás como se a mente estivesse funcionando em dois níveis, o da vítima e o de um observador, imaginando, de forma fria e distante, se aquilo teria se passado realmente com ela.
— Eu sei quem ele é, trabalhei para ele, gostava dele... — A mulher fez uma pausa e engoliu em seco antes de prosseguir. — O que estou querendo dizer é que o admiro, admiro todas as coisas que faz, todas as coisas que defende. — Levantou os olhos e parecia estranho que estivessem secos como celofane, refletindo a luz em uma superfície lisa, isenta da lágrimas. — Ele é tão atraente, tão participante, tão...
— Está tudo bem, Barbara.
Como acontecia com frequência, a psicóloga teve de lutar contra o impulso de estender a mão para a paciente, mas sabia que era preciso permanecer isenta, era preciso esconder a revolta que estava sentindo com o que acontecera àquela mulher inteligente e capaz. Acontecera nas mãos de um homem que usava sua posição e poder para atrair mulheres como uma lâmpada atraía mariposas, girando em torno do seu brilho em espirais, aproximando-se mais e mais até serem destruídas. A imagem era tão parecida com a da vida naquela cidade! Desde então, Barbara rompera com dois homens, ambos os quais poderiam ter sido bons parceiros, com os quais poderia levar uma vida feliz. Aquela era uma mulher brilhante, que cursara a Universidade de Pensilvânia, com um mestrado em ciências políticas e um doutorado em administração pública. Não era nenhuma secretária deslumbrada ou estagiária inexperiente e talvez fosse mais vulnerável por causa disso, pois tinha qualificações para subir na carreira e consciência da própria capacidade, precisando apenas de um pequeno empurrão para chegar ao topo, cruzar a linha de chegada ou qualquer que fosse o eufemismo da moda na capital. O problema é que a linha só podia ser cruzada num sentido, e o que ficava além não era fácil de ver do outro lado.
— Sabe de uma coisa? Eu acabaria cedendo — declarou Barbara, em um rompante de franqueza. — Ele não precisava...
— Sente-se culpada por causa disso? — perguntou a Dra. Clarice Golden. Barbara Linders assentiu. A médica sufocou um suspiro e prosseguiu, com suavidade: — Você acha que de alguma forma o...
— Se o encorajei? — A moça fez que sim com a cabeça. — Foi o que ele me disse. Você me encorajou. Deve ser verdade.
— Não, não é, Barbara. Agora precisa me contar tudo que aconteceu — insistiu Clarice. Eu simplesmente não estava no clima. Não que não fosse capaz de fazer isso com ele, em outro dia, em outras circunstâncias, mas naquele dia não estava me sentindo bem. Não tinha nada quando cheguei ao escritório, mas acho que estava ficando resfriada ou coisa parecida, porque depois do almoço fiquei um pouco enjoada e pensei em ir para casa mais cedo. Entretanto, era o dia em que estávamos preparando as emendas da lei de direitos civis que ele apoiava, de modo que tomei dois comprimidos de Tylenol e por volta das nove só restávamos nós dois no escritório. Minha especialidade era direitos humanos — explicou Barbara. — Eu estava sentada no sofá do escritório, e ele estava andando para lá e para cá, como costuma fazer quando põe a cabeça para funcionar. De repente, colocou-se atrás de mim e disse, sem mais nem menos: “Você tem cabelos lindos, Barbara”, e eu respondi: “Obrigada.” Perguntou como eu estava me sentindo e eu disse que não estava passando muito bem. Ele disse que conhecia um remédio muito bom para isso: conhaque — contou a moça, falando cada vez mais rápido, como se quisesse passar por aquela parte da narrativa o mais depressa possível, como uma pessoa apertando a tecla fast forward de um videocassete durante os comerciais.
— Não o vi colocar nada no meu drinque. Havia sempre uma garrafa de Rémy no aparador ao lado da escrivaninha, e mais algumas coisas, também, acho. Bebi de um gole só. “Ele ficou ali parado, me olhando, sem dizer nada, só olhando para mim, como se soubesse o que estava para acontecer. Foi como... não sei. Percebi que alguma coisa não estava certa, que eu estava ficando tonta, fora de controle.
A paciente interrompeu-se por alguns segundos, e a Dra. Golden teve oportunidade de observá-la... como ele havia feito, pensou. A ironia a deixou envergonhada, mas aquela era a sua profissão; estava fazendo isso para ajudá-la, não para magoá-la. A moça estava vendo de novo a cena. Era possível perceber isso nos seus olhos. Como se sua mente fosse em videocassete, a cena desfilou diante dela, e Barbara Linders estava simplesmente descrevendo o que via e não relatando a terrível experiência a que fora submetida. Durante dez minutos, contou exatamente o que ocorrera, com todos os detalhes, a mente de profissional treinada assumindo o controle. Apenas quando terminou foi que as emoções voltaram à tona.
— Ele não precisava me violentar. Podia ter... pedido. Eu teria... quero dizer, em outro dia, no fim de semana... eu sabia que ele era casado, mas gostava dele, e...
— O fato é que ele a violentou, Barbara. Primeiro a drogou, depois a violentou.
Desta vez, a Dra. Golden se inclinou para a frente e apertou a mão de Barbara entre as suas, porque agora estava tudo terminado. Barbara Linders contara toda a sórdida história, provavelmente pela primeira vez desde que acontecera. Durante todo aquele tempo, provavelmente revivera alguns segmentos, em especial a pior parte, mas aquela era a primeira vez que recapitulava os eventos em ordem cronológica, do começo ao fim, e o impacto da narrativa fora tão traumático e catártico como tinha de ser.
— Tem de haver mais — disse a Dra. Golden, quando a moça parou de chorar.
— Tem razão — respondeu Barbara, imediatamente, sem parecer surpresa com a afirmação da psicóloga. — Aconteceu com pelo menos outra mulher do escritório, Lisa Beringer. Ela... ela se matou um ano depois. Bateu com o carro no pilar de uma ponte. Pareceu acidente, Lisa tinha bebido, mas deixou um bilhete. Fui arrumar a mesa dela... e encontrei isto.
Para surpresa da médica, Barbara Linders abriu a bolsa e tirou alguma coisa. A “mensagem” estava em um envelope azul, seis páginas de papel de carta personalizado cobertas com a letra miúda e regular de uma mulher que decidira acabar com a vida, mas queria que alguém soubesse por quê.
Clarice Golden, Ph.D., tinha visto outros bilhetes de suicidas e lamentava que as pessoas pudessem agir de forma tão precipitada. Os bilhetes quase sempre falavam de uma dor grande demais para ser suportada, mas em geral revelavam a mente desesperada de alguém que poderia ter sido salvo, curado e devolvido a uma vida feliz e produtiva se tivesse a iniciativa de dar um simples telefonema ou conversar com um amigo íntimo. Foram necessários apenas dois parágrafos para a doutora perceber que Lisa Beringer tinha sido apenas mais uma dessas vítimas desnecessárias. Uma mulher que se sentia infeliz, fatalmente infeliz, em um escritório cheio de pessoas que teriam todo o prazer em ajudá-la.
Os especialistas em saúde mental são treinados para esconder as emoções, um talento necessário por motivos óbvios. Clarice Golden trabalhava no ramo havia pouco menos de trinta anos e a seus dons naturais acrescentara uma vida de experiência profissional. Especialmente capaz no auxílio a vítimas de abusos sexuais, sabia mostrar compaixão, compreensão e apoio em grande quantidade e surpreendente qualidade, mas, embora real, tudo aquilo era um disfarce para seus verdadeiros sentimentos. A médica odiava os predadores sexuais tanto quanto qualquer policial, talvez até mais.
Um guarda via o corpo da vítima, via seus hematomas e suas lágrimas, ouvia seus soluços. A psicóloga ia mais fundo, explorava suas memórias malditas, tentando encontrar um meio de exorcizá-las. O estupro era um crime contra a mente, não contra o corpo, e por mais chocantes que fossem os sinais visíveis de violência, piores ainda eram as feridas ocultas que Clarice Golden dedicara a vida a curar. Um pessoa doce, sensível, que jamais seria capaz de usar de violência para vingar os crimes, mesmo assim não podia deixar de odiar aquelas criaturas.
Entretanto, aquele era um caso especial. Mantinha um relacionamento de trabalho com as divisões de crimes sexuais de todas as delegacias de polícia em um raio de cem quilômetros, mas aquele crime ocorrera em um prédio federal e teria que descobrir a quem cabia a responsabilidade pela investigação. Para isso, conversaria com o vizinho, Dan Murray, do FBI.
Além disso, havia mais uma complicação. O criminoso em questão era senador na época, e por isso tinha direito a um escritório no Capitólio.
Desde então, porém, mudara de emprego. Em vez de senador pela Nova Inglaterra, agora era vice-presidente dos Estados Unidos.
O ComSubPac fora um dos cargos mais importantes de toda a Marinha, mas isso era coisa do passado. O primeiro grande comandante fora o vice-almirante Charles Lockwood, e de todos os homens que derrotaram o Japão, apenas Chester Nimitz e talvez Charles Layton haviam gozado de maior prestígio. Foi Lockwood, naquele mesmo escritório nas colinas perto de Pearl Harbor, que enviou Mush Morton, Dick C. Kane, Gene Fluckey e os outros heróis legendários para fazer a guerra em seus submersíveis. O mesmo escritório, a mesma porta, até mesmo uma placa idêntica — Comandante da Força de Submarinos da Esquadra do Pacífico —, mas o posto agora era mais baixo. O contra-almirante Bart Mancuso, da Marinha dos Estados Unidos, sabia que tivera sorte de chegar até onde chegara. Essa era a boa notícia.
A má notícia era que comandava uma força em vias de extinção.
Lockwood administrara uma frota autêntica de submarinos e embarcações de apoio. Mais recentemente, Austin Smith coordenara os movimentos de quarenta submarinos no maior oceano do mundo, mas Mancuso estava reduzido a dezenove submarinos ligeiros e seis submarinos lança-mísseis, sendo que os últimos tinham sido todos retirados de serviço e estavam em Bremerton, esperando para ser desmontados. Nenhum deles seria conservado, nem mesmo como peça de museu, o que não deixava Mancuso aborrecido, como seria de esperar. Jamais gostara dos submarinos lança-mísseis, nem do propósito a que se destinavam, nem do tedioso programa de patrulha, nem da obstinação dos comandantes. Criado a bordo de submarinos ligeiros, sempre preferira estar onde havia ação.
Estava. Porque agora tudo terminara. A missão dos submarinos ligeiros movidos a energia nuclear mudara muito desde o tempo de Lockwood.
Depois de serem caçadores de embarcações de superfície, como navios de guerra e navios mercantes, tinham-se especializado na eliminação de submarinos inimigos, da mesma forma como os aviões de caça eram dedicados ao extermínio dos primos estrangeiros. Com a especialização viera um reforço nos equipamentos e no treinamento da tripulação, até que se haviam tornado os mestres supremos daquela arte. Nada podia suplantar um submarino nuclear na caça a outro submarino.
O que ninguém esperava era que os submarinos nucleares do inimigo deixassem de existir. Mancuso passara a vida se preparando para algo que esperava que jamais viesse a acontecer: detectar, localizar, perseguir e destruir submarinos soviéticos, fossem eles lança-mísseis ou submarinos ligeiros. Na verdade, conseguira uma proeza de que nenhum outro comandante de submarino podia se orgulhar: ajudara a capturar um submarino russo, um feito que ainda estava entre as realizações mais secretas do seu país — capturar era muito mais valioso do que destruir, não era? Logo depois, porém, o mundo mudara. Ele contribuíra para isso, e com orgulho. A União Soviética não existia mais.
Infelizmente, com o fim da União Soviética, a Marinha Soviética também encerrara suas atividades, e sem submarinos inimigos para se preocupar, o país, como fizera muitas vezes no passado, agradecera aos seus guerreiros esquecendo-os totalmente. Não havia mais missões para os submarinos. A outrora poderosa Marinha Soviética não passava de uma lembrança. Na semana anterior, examinara fotos tiradas por satélites das bases de Petropavlovsk e Vladivostok. Todas as embarcações conhecidas dos soviéticos — dos russos! — estavam ancoradas; em alguns cascos já se podia ver manchas avermelhadas de ferrugem.
As outras possíveis missões? Falar em perseguir navios mercantes, só como piada — pior ainda, os porta-aviões da classe Orion, com uma carga de aeronaves P-3C, também projetadas para caçar submarinos, tinham modificado havia muito tempo os aviões para transportar mísseis terra-ar e podiam viajar dez vezes mais depressa do que qualquer submarino; na hipótese improvável de alguém querer afundar um navio mercante, podiam fazê-lo melhor e mais depressa.
O mesmo se podia dizer dos navios de guerra, ou pelo menos do que restava deles. A triste verdade, se é que se podia falar assim, era que a Marinha dos Estados Unidos, mesmo depois de todos os cortes de verbas, era capaz de destruir quaisquer outras três marinhas do mundo em menos tempo que os inimigos levariam para reunir as forças e distribuir uma nota à imprensa comunicando sua intenção de atacar.
Sendo assim, o que fazer? Mesmo quando se ganha o campeonato, ainda existem adversários para enfrentar na próxima temporada. Neste jogo, porém, o mais sério dos jogos humanos, a vitória era definitiva. Não havia mais inimigos no mar, restavam muito poucos em terra, e no caminho do novo mundo, a força de submarinos seria o primeiro de muitos grupos uniformizados a ficar sem trabalho. A única razão pela qual o ComSubPac continuava a existir era a inércia da burocracia. Havia um Com-alguma-coisa-Pac para todas as outras forças, de modo que a força de submarinos precisava de um oficial graduado no mesmo nível militar e social das outras forcas, aérea, de superfície e de serviços.
Dos dezenove submarinos ligeiros, apenas sete se encontravam no momento em serviço no mar. Quatro estavam sendo reformados, e os estaleiros estavam prolongando o trabalho o máximo possível para justificar a própria existência. Os outros permaneciam ancorados no porto, enquanto a tripulação e o pessoal de apoio encontravam coisas novas e interessantes para fazer, de modo a justificar a sua existência e identidade militar/civil. Dos sete submarinos em serviço, um estava seguindo um submarino ligeiro nuclear chinês; aqueles submarinos eram tão barulhentos, que Mancuso torcia para que o operador de sonar não voltasse com os tímpanos estourados. Espreitá-los era uma tarefa tão difícil quanto vigiar um cego em um estacionamento vazio ao meio-dia. Os outros dois estavam envolvidos em pesquisa ambiental, rastreando cardumes de baleias em alto-mar, não para os caçadores de baleias, mas para a comunidade ecológica. Com isso, os submarinos tinham feito uma grande descoberta para os ecologistas. Havia muito mais baleias do que se pensava. Elas não estavam tão ameaçadas de extinção como se dizia, e em consequência as contribuições para os vários grupos de defesa do meio ambiente tinham diminuído. Para Mancuso, não fazia a menor diferença. Ele não tinha nada a favor ou contra as baleias.
Os outros quatro submarinos passavam o tempo fazendo exercícios, em geral uns contra os outros. Entretanto, os ecologistas também não haviam esquecido a Força de Submarinos da Esquadra do Pacífico dos Estados Unidos. Depois de protestarem contra a construção e operação dos submarinos durante trinta anos, agora estavam protestando contra sua retirada de serviço. Mais da metade do tempo de trabalho de Mancuso era dedicada a escrever relatórios, responder a perguntas e explicar as respostas com maiores detalhes.
— Esses caras são uns ingratos — rosnou Mancuso. Ele estava ajudando com as baleias, não estava? O almirante bebeu um gole de café e pegou mais uma pasta no arquivo.
— Boas notícias, marujo — disse uma voz conhecida.
— Quem deixou você entrar?
— Sou amigo do seu chefe — respondeu Ron Jones. — Ele me disse que você está enterrado em papéis até o pescoço.
— Ele está certo — concordou Mancuso, levantando-se para cumprimentar o recém-chegado. O Dr. Jones também tinha seus problemas. O fim da Guerra Fria levara o governo a não renovar muitos contratos com as empreiteiras, e Jones era especialista em sistemas de sonar para uso em submarinos. A diferença era que Jones ganhara muito dinheiro nos bons tempos. — Quais são as boas notícias? Nosso novo software de processamento foi otimizado para localizar mamíferos marinhos de grande porte. O Chicago acaba de chamar. Eles localizaram mais vinte jubartes no golfo do Alasca. Acho que vou conseguir o contrato com a Administração Nacional do Oceano e da Atmosfera. Agora posso pagar seu almoço — concluiu Jones, acomodando-se em um sofá de couro. Gostava do Havaí, e estava vestido de acordo, com uma camisa esporte e tênis Reebok de passeio, sem meias.
— Não sente saudade dos bons tempos? — perguntou Bart, com um ar de aborrecimento.
— Está falando de passar dois meses no fundo do mar, dentro de um tubo de aço, cheirando como o interior de uma lata de óleo, tendo como vista um quarto cheio de armários, comendo a mesma comida toda semana, vendo filmes antigos em uma televisão do tamanho de uma folha de papel, trabalhando seis horas sim e doze horas não, conseguindo talvez cinco horas de sono decente por noite, sentindo-me mais tenso do que um neurocirurgião na hora de operar? Sim, Bart, sinto saudade. — Jones parou por um segundo para refletir. — Saudade do tempo em que era suficientemente jovem para achar tudo isso divertido. Nós nos saímos bem, não foi?
— Melhor do que a média — admitiu Mancuso. — Como é essa história de baleias? O novo software que meu pessoal preparou consegue captar a respiração e os batimentos cardíacos dos animais. O sinal é bem claro.
— Quando esses camaradas estão nadando... bem, se você encostasse um estetoscópio neles, provavelmente os tímpanos se encontrariam no meio da sua cabeça.
— O software foi desenvolvido inicialmente com que objetivo? Rastrear submarinos da classe Kilo, é claro. — Jones riu e olhou pela janela para a base naval quase deserta. — Mas isso é confidencial. Trocamos algumas centenas de linhas do programa, mudamos a embalagem e oferecemos o produto à Administração do Oceano e da Atmosfera Nacional.
Mancuso poderia ter dito alguma coisa a respeito de levar aquele software para o golfo Pérsico para seguir os submarinos da classe Kilo dos iranianos, mas o serviço de inteligência comunicara que um deles estava desaparecido.
Provavelmente atravessara no caminho de um superpetroleiro e fora esmagado, simplesmente imprensado contra o fundo raso daquele golfo por petroleiro cuja tripulação nem chegara a notar o desastre. Independentemente do que tivesse ocorrido, todos os outros submarinos estavam no cais. Talvez os iranianos simplesmente tivessem desistido de usar os submarinos, quem sabe? — As coisas por aqui estão muito paradas —comentou Jones, apontando para o que fora um dia uma das maiores bases navais de todo o planeta.
Não havia um único porta-aviões à vista, apenas dois cruzadores, meia divisão de contratorpedeiros, aproximadamente o mesmo número de fragatas, cinco navios de serviço. — Quem comanda hoje em dia a Esquadra do Pacífico, um suboficial? — Fale baixo, Ron, que alguém pode gostar da sua ideia!
2
FRATERNIDADE
— Conseguiu falar com ele? — quis saber o presidente Durling.
— Há menos de meia hora — respondeu Ryan, sentando-se.
— Ninguém se feriu? Aquilo era importante para o presidente. Era importante para Ryan, também, mas não com a mesma intensidade mórbida.
— Clark disse que não houve baixas entre o nosso pessoal.
— E quanto ao outro lado? A pergunta viera de Brett Hanson, o atual secretário de Estado. Choate School e Yale. O governo estava ficando cheio de ex-alunos de Yale, pensou Ryan, mas Hanson não era tão bom quanto o último com quem trabalhara.
Baixo, magro e muito ativo, Hanson era um homem cuja carreira oscilara entre o serviço público, trabalhos de consultoria, um bico como comentarista do PBS, a rede de TV educativa americana — posição de grande prestígio —, e uma clientela lucrativa em uma das firmas de advocacia mais conceituadas da cidade. Era especialista em legislação comercial e internacional, uma habilidade que já usara para negociar contratos entre empresas multinacionais. Era muito bom nisso, reconhecia Jack. Infelizmente, aceitara o cargo de secretário de Estado pensando que poderia usar as mesmas táticas para lidar com outros países.
Ryan levou um segundo ou dois para responder.
— Não perguntei.
— Por quê? Jack poderia ter dito várias coisas, mas achou que era hora de tomar uma atitude. Por isso, optou por uma alfinetada: — Por que isso não era importante. O objetivo da operação, senhor secretário, era capturar Corp. Isso foi conseguido. Daqui a cerca de trinta minutos, ele será entregue às autoridades do seu país para ser julgado de acordo com a lei, seja ela qual for. — Ryan não se dera ao trabalho de descobrir.
— Isso é a mesma coisa que matá-lo.
— Não é culpa minha se não é popular em seu próprio país, senhor secretário. Também foi responsável pela morte de soldados americanos. Se decidíssemos eliminá-lo nós mesmos, não teria sido assassinato, e sim uma simples operação de defesa nacional. Pelo menos, seria assim em outra época — admitiu Ryan. As coisas tinham mudado, e Ryan precisava se adaptar à nova realidade. — Em vez disso, estamos agindo como bons cidadãos do mundo, capturando um perigoso bandido internacional e entregando-o ao governo do seu país, que o submeterá a julgamento por tráfico de drogas, considerado um crime muito grave em todas as nações civilizadas. O que vai acontecer em seguida é problema da justiça local. Estamos falando de um país com o qual mantemos relações diplomáticas e outros acordos informais de assistência, e cujas leis, portanto, devemos respeitar.
Hanson não gostou. Isso ficou óbvio pela forma como se remexeu na cadeira. Entretanto, teve de ouvir tudo calado, porque não tinha escolha.
Nos últimos meses, o Departamento de Estado anunciara meia dúzia de vezes que os americanos apoiavam aquele governo. O que mais incomodava Hanson era o fato de um novato passar-lhe a perna.
— Pode ser que agora esse país tenha uma chance de se aprumar, Brett — observou Durling, colocando seu selo pessoal de aprovação na operação WALKMAN. — Oficialmente, não tivemos nada a ver com o que aconteceu.
— Sim, senhor presidente.
— Jack, acertou em cheio quando escolheu esse tal de Clark. O que vamos fazer com ele?
— Eu deixaria isso por conta do DCI, senhor. Talvez outra Intelligence Star... — propôs Ryan, torcendo para que Durling transmitisse a sugestão a Langley. Senão, poderia dar um telefonema discreto para Mary Pat. Mas estava na hora de aparar as arestas, uma atividade nova para Ryan. — Senhor secretário, caso não saiba, nossos homens receberam ordens para só matar o inimigo em defesa própria.
— Preferia que tivesse submetido o plano ao nosso departamento — resmungou Hanson.
Respire fundo, disse Ryan a si mesmo. A confusão fora culpa do Departamento de Estado e do antecessor de Ryan. Depois de invadir o país para restabelecer a ordem, ameaçada pelos comandantes militares — um termo inventado pela imprensa para rotular criminosos comuns —, as grandes potências tinham decidido, depois que a missão esbarrara em sérias dificuldades, que os “comandantes militares” em questão tinham de fazer parte da “solução política” do problema. O fato de que o problema fora criado pelos comandantes militares em primeiro lugar foi convenientemente esquecido. Era a falta de lógica de tudo aquilo que deixava Ryan mais irritado. Será que não ensinavam lógica em Yale? Provavelmente era uma disciplina opcional, pensou. No Boston College, era obrigatória.
— Está feito, Brett — declarou Durling, tranquilamente. — Ninguém vai lamentar a morte do Sr. Corp. Qual o próximo item na agenda? — perguntou o presidente a Ryan.
— Os indianos estão ficando agitados. Colocaram a marinha de prontidão e estão realizando operações perto da fronteira com o Sri Lanka...
— Já fizeram isso antes — interveio o secretário de Estado.
— Não na presente escala, e não gosto da forma como estão conduzindo as conversações com os “Tigres do Tâmil”, ou qualquer que seja o nome que esses maníacos estão usando agora. Negociar com um grupo de guerrilheiros que operam no território de um vizinho não pode ser considerado como uma demonstração de amizade.
Aquela era uma nova preocupação do governo americano. As relações entre as duas ex-colônias inglesas sempre tinham sido cordiais, mas havia anos que os tamis da ilha de Sri Lanka se rebelavam contra o governo central. Os habitantes do Sri Lanka, que tinham parentes da Índia, pediram ao país vizinho que enviasse tropas para auxiliá-los. A Índia concordara, mas o que começara como uma operação de paz estava se tornando uma ocupação forçada. Havia rumores de que o governo do Sri Lanka pediria em breve que os soldados indianos se retirassem. Havia também rumores de que os indianos alegariam “dificuldades técnicas” para adiar a retirada.
Somado a isso, havia o que o ministro do Exterior da Índia dissera ao embaixador dos Estados Unidos durante uma recepção, em Nova Déli.
— Como o senhor sabe — dissera o ministro, depois de alguns drinques a mais, mas provavelmente de forma premeditada —, aquele oceano ao sul do nosso país é chamado de oceano Índico, e criamos uma marinha para defendê-lo. Com o fim da ameaça da antiga União Soviética, não entendemos por que a Marinha dos Estados Unidos julga necessário manter uma força na região.
O embaixador dos Estados Unidos era uma indicação política — por alguma razão, o posto na Índia se tornara uma posição de prestígio, apesar do clima — mas também constituía uma exceção notável à imagem que Scott Adler fazia da profissão. O ex-governador da Pensilvânia sorrira e murmurara alguma coisa a respeito da liberdade dos mares, mas enviara uma mensagem cifrada para os Estados Unidos antes de se recolher naquela noite. Adler precisava aprender que nem todos eram estúpidos.
— Não vemos nenhuma indicação de atos agressivos por parte da Índia — afirmou Hanson, depois de um momento de reflexão.
— O elemento étnico é preocupante. A Índia não pode se expandir para o norte, com as montanhas no caminho. O oeste está fora de questão; os paquistaneses também possuem artefatos nucleares. A leste fica Bangladesh — para que arranjar problemas? O Sri Lanka oferece possibilidades estratégicas concretas, talvez como um trampolim.
— Para onde? — quis saber o presidente.
— Para a Austrália. Muito espaço, muitos recursos naturais, uma população relativamente pequena e um exército insignificante.
— Não acredito que isso seja possível — declarou o secretário de Estado.
— Se os Tigres aprontarem mais alguma, é provável que a Índia envie mais tropas para Sri Lanka. O passo seguinte pode ser a anexação, e de repente nos veremos diante de uma potência imperialista fazendo um jogo perigoso do outro lado do mundo e deixando nervosos nossos aliados históricos.
— E não seria difícil para os indianos ajudar os Tigres a aprontarem mais alguma. Era tão fácil usar fanáticos como bucha de canhão... A história mostra que é muito mais simples abortar essas ambições no nascedouro.
— E por isso que a Marinha não se retira do oceano Índico — observou Hanson.
— Verdade — admitiu Ryan.
— Temos força suficiente para impedir que eles saiam da linha? No momento, sim, senhor presidente, mas não gosto da forma como os recursos da Marinha estão sendo usados até o limite. Todos os porta-aviões, a não ser os dois que foram para o estaleiro, ou estão em missão ou se preparando para alguma missão. Nossas reservas estratégicas foram reduzidas praticamente a zero. — Ryan fez uma pausa antes de prosseguir, sabendo que estava indo longe demais, mas disposto a fazê-lo. — Os cortes foram excessivos, senhor. Nossos homens fazem o que podem, mas não sei até quando poderemos aguentar.
— Eles simplesmente não são tão poderosos quanto pensávamos. A situação mudou muito — afirmou Raizo Yamata. Estava usando um elegante quimono de seda e sentava-se no chão, em frente à tradicional mesa baixa.
Os outros convidados olharam discretamente para os relógios. Eram quase três horas da manhã, e embora aquela fosse uma das melhores casas de gueixas da cidade, estava ficando tarde. Raizo Yamata, entretanto, era um anfitrião cativante. Um homem de grande riqueza e sagacidade, pensaram os outros. Ou pelo menos a maioria deles.
— Eles vêm nos protegendo há várias gerações — argumentou um homem.
— De quem? De nós mesmos? — protestou Yamata, em tom inflamado.
Isso agora era permitido.
Embora os homens reunidos em torno da mesa fossem muito bem-educados, eram todos velhos conhecidos, quando não amigos íntimos, e tinham consumido uma quantidade considerável de álcool. Nessas circunstâncias, as regras do convívio social mudavam um pouco. Podiam falar abertamente.
Palavras que normalmente seriam consideradas insultuosas agora seriam aceitas com naturalidade, contestadas com veemência, e no final ninguém ficaria magoado. Isso também era uma regra, mas, como acontece com a maioria das regras, existia apenas na teoria. Embora nenhuma amizade fosse acabar por causa daquelas palavras, tampouco elas seriam esquecidas.
— Quantos de nós — prosseguiu Yamata — foram vítimas desses indivíduos? Os japoneses presentes notaram que Yamata evitara usar o termo ”bárbaros”. O motivo era a presença dos outros dois homens. Um deles, o vice-almirante V. K. Chandraskatta, era um comandante-de-esquadra da Marinha da Índia, atualmente de licença. O outro, Zhang Han San (o nome queria dizer “Montanha Gelada” e não tinha sido escolhido pelos pais) era um veterano diplomata chinês que trabalhava para a missão comercial em Tóquio. O segundo era aceito com mais facilidade do que o primeiro. Com sua pele morena e feições angulosas, Chandraskatta era tolerado pelos japoneses com fria polidez. Embora se tratasse de um aliado em potencial, além de ser uma pessoa culta e extremamente inteligente, era ainda mais gaijin do que o chinês, e os oito zaibatsu reunidos em torno da mesa imaginavam poder sentir o cheiro do indiano, apesar de haverem bebido muito saque, o que entorpecia os sentidos. Por essa razão, Chandraskatta ocupava o lugar de honra, à direita de Yamata, e o zaibatsu imaginou se ele desconfiaria de que a suposta homenagem era na verdade uma forma sofisticada de mostrar que não se sentiam totalmente à vontade na sua presença. Provavelmente, não. Tratava-se de um bárbaro, afinal.
— Eles não são tão poderosos como no passado, admito, mas posso lhe assegurar, Yamata-san — observou Chandraskatta, no seu melhor inglês britânico —, que ainda conservam um poderio naval considerável. Os dois porta-aviões que mantêm no meu oceano são suficientes para infundir respeito à minha marinha.
Yamata olhou para ele.
— Não poderiam derrotá-los, nem com submarinos? Não — respondeu o almirante, com toda a franqueza, ainda sóbrio, apesar de toda a bebida, e imaginando aonde o outro estava querendo chegar com toda aquela conversa. — E preciso que entenda que esta discussão é meramente especulativa... uma experiência científica, digamos assim. — Chandraskatta ajeitou o quimono que Yamata lhe dera, para torná-lo um membro do grupo, como explicara na ocasião. — Se queremos derrotar uma esquadra inimiga, devemos aproximar-nos o bastante para que os navios estejam ao alcance dos nossos armamentos. Com os dispositivos eletrônicos de que dispõem, eles podem acompanhar nossos movimentos a grande distância; sabem de tudo que está acontecendo em um raio de, digamos, seiscentos quilômetros. Como não somos capazes de manter uma cobertura equivalente, como poderíamos intimidá-los? Foi por isso que ainda não invadiram o Sri Lanka? — perguntou Tanzan Itagake.
— E uma das razões — concordou o almirante.
— De quantos porta-aviões eles dispõem no momento? — prosseguiu Itagake.
— Na Esquadra do Pacífico? Quatro. Dois no nosso oceano e dois no Havaí.
— E os outros dois? — quis saber Yamata.
— O Kitty Hawk e o Ranger estão passando por grandes reformas e não voltarão a navegar a não ser daqui a um e três anos, respectivamente. Todos esses porta-aviões pertencem à Sétima Esquadra. A Primeira Esquadra não tem nenhum. A Marinha dos Estados Unidos conta apenas com mais cinco porta-aviões. Estão lotados na Segunda e na Sexta Esquadras, mas um deles vai parar para reformas daqui a seis semanas. — Chandraskatta sorriu. Suas informações estavam perfeitamente atualizadas e fazia questão de que os outros soubessem disso. — Quero que compreendam que por mais desfalcada que a Marinha dos Estados Unidos pareça estar, em comparação com o que era há apenas... quanto tempo? cinco anos atrás? Comparada com o que era há cinco anos, ela pode parecer enfraquecida, mas comparada com qualquer outra marinha do mundo, ainda é extremamente poderosa. Um dos seus porta-aviões poderia fazer frente a todos os outros porta-aviões existentes no mundo.
— Você concorda, então, que os porta-aviões são a arma mais poderosa de que eles dispõem? — perguntou Yamata.
— Naturalmente. — Chandraskatta mudou a posição dos objetos que estavam sobre a mesa. No centro, colocou uma garrafa vazia de saque. — Imagine que isso aqui seja um porta-aviões. Desenhe um círculo de mil quilômetros em torno dele. Nada pode penetrar nesse círculo sem permissão do porta-aviões e suas aeronaves. Caso necessário, eles podem aumentar o raio para mil e quinhentos quilômetros com relativa facilidade. Mesmo que isso não aconteça, porém, ainda são capazes de controlar uma vasta região. Acabe com esses porta-aviões e eles serão apenas mais uma marinha de fragatas. O difícil é acabar com eles — concluiu o almirante, usando uma linguagem simples, para que os industriais entendessem.
Chandraskatta estava certo ao supor que aqueles financistas não conheciam muita coisa a respeito de assuntos militares. Entretanto, subestimara sua capacidade de aprender. O almirante vinha de um país com uma tradição guerreira pouco conhecida fora de suas fronteiras. Os indianos haviam detido Alexandre o Grande, enfraquecido seu exército, ferido o conquistador da Macedônia, talvez mortalmente, e colocado um ponto final na sua expansão, algo que nem os persas nem os egípcios tinham sido capazes de fazer. Tropas indianas haviam lutado ao lado de Montgomery, ajudando-o a derrotar Rommel... e tinham esmagado o Exército japonês em Imphal, um fato que não tinha intenção de mencionar, pois um dos presentes pertencera àquele exército na condição de soldado raso. Imaginou o que teriam em mente, mas no momento estava contente em desfrutar da sua hospitalidade e responder a suas perguntas, por mais elementares que fossem. O orgulhoso oficial se remexeu, sentindo falta de uma cadeira e de uma bebida decente. O saque que aqueles civis serviam estava mais para água do que para gim, sua bebida preferida.
— E se isso fosse possível? — perguntou Itagake.
— Nesse caso, como eu já disse — respondeu o almirante, pacientemente —, estariam reduzidos a uma marinha de fragatas. Naves esplêndidas, reconheço, mas a “bolha” que cada navio controla é muito menor. Uma fragata pode ser usada para proteger uma posição, mas jamais para projetar o poder a distância.
Percebeu que sua escolha de palavras interrompera a discussão por um instante. Um dos japoneses encarregou-se de esclarecer as sutilezas linguísticas, e Itagake logo levantou a cabeça com um longo “Ahhhh”, como se tivesse acabado de aprender uma verdade profunda. Chandraskatta encarava o que acabava de dizer como um fato óbvio, esquecendo-se por um momento de que as coisas profundas em geral são óbvias. Entretanto, reconheceu que algo de importante acabara de ocorrer.
O que vocês querem? Daria muita coisa para conhecer a resposta a essa pergunta. Independentemente do que fosse, poderia ser útil para os seus propósitos, contanto que soubesse que terreno estava pisando. Não lhe passou pela cabeça que os japoneses estavam pensando exatamente a mesma coisa a seu respeito.
— Eles estão queimando bastante óleo — observou o chefe de operações, iniciando a reunião da manhã.
O USS Dwight D. Eisenhower estava em um curso de zero-nove-oito graus, leste quarta a sudeste, duzentas milhas náuticas a sudeste do atol de Felidu. A velocidade da esquadra era de dezoito nós, mas aumentaria quando as operações de voo estivessem para começar. O mapa de operações principal fora atualizado quarenta minutos antes a partir dos dados de radar de uma aeronave de observação E-3C Hawkeye, e, realmente, a Marinha da Índia estava queimando muito óleo combustível, ou o que quer que estivessem usando para mover os navios.
A formação que tinha diante dos olhos poderia ser muito bem a de um Grupo de Combate da Marinha dos Estados Unidos. Os dois porta-aviões indianos, Viraat e Vikrant, estavam no centro de uma formação circular, padrão inventado por um americano chamado Nimitz havia quase oitenta anos. Eram escoltados de perto pelos contratorpedeiros lança-mísseis Delhi e Misore, construídos na Índia e armados com um sistema SAM (Surface-Air Missile, ou seja, Míssil Terra-Ar), a respeito do qual havia poucas informações disponíveis... o que era sempre uma preocupação para os pilotos. O segundo anel era composto pela versão indiana dos velhos contratorpedeiros russos da classe Kashin, também equipados com sistemas SAM. Mais interessantes, porém, eram dois outros fatores.
— Os navios de reabastecimento Rajaba Gan Palan e Shakti se juntaram ao grupo de combate depois de uma breve parada em Trivandrum...
— Quanto tempo passaram no porto? — perguntou Jackson.
— Menos de vinte e quatro horas — respondeu o comandante Ed Harrison, o chefe de operações. — Fizeram um serviço rápido, senhor.
— Provavelmente se limitaram a encher os tanques. Qual a capacidade deles? Treze mil toneladas de óleo combustível cada um, mais mil e quinhentas toneladas de querosene de jato. O Deepak, que é da mesma classe, separou-se do grupo e rumou para noroeste, provavelmente em direção a Trivandrum, depois de conduzir operações de reabastecimento.
— Então eles estão fazendo o possível para manter os tanques cheios.
— Interessante. Prossiga — ordenou Jackson.
— Parece que quatro submarinos estão acompanhando o grupo. Temos a posição aproximada de um deles e perdemos outros dois por aqui — Harrison desenhou com a mão um círculo no mapa. — Desconhecemos a localização do quarto submarino, senhor. Estamos trabalhando nisso.
— E quanto aos nossos submarinos? — perguntou Jackson ao comandante do grupo.
— O Santa Fé está próximo de nós e o Greeneville se mantém entre nós e eles. O Cheyenne está mais próximo do grupo de combate, como guarda avançado — respondeu o contra-almirante Mike Dubro, entre dois goles de café.
— O plano para hoje, senhor — prosseguiu Harrison —, é lançar quatro F/A-l 8E e aviões-tanque com instruções para se dirigirem para leste até este ponto, denominado PONTO BAUXITA, de onde rumarão para noroeste, depois se aproximarão até uma distância de cinquenta quilômetros do grupo de combate dos indianos, voarão em círculos durante meia hora e por fim voltarão ao PONTO BAUXITA para se reabastecer e voltar para bordo, depois de um tempo de voo de quatro horas e quarenta e cinco minutos. Para que os quatro aviões pudessem cumprir a missão, seriam necessários oito aviões-tanque para reabastecê-los em pleno ar, tanto na ida como na volta. Isso correspondia a quase todos os aviões-tanque a bordo do lhe. Então queremos que eles pensem que ainda estamos daquele lado. — Jackson assentiu e sorriu, sem comentar a respeito do esforço extra que isso exigiria dos pilotos. — Continua fazendo das suas, pelo que vejo, Mike.
— Eles ainda não conhecem nossa posição. Queremos que as coisas continuem assim — acrescentou Dubro.
— Como estão carregados os Insetos? — perguntou Robby, usando o apelido do F/A-l8 Hornet, “Inseto de Plástico”.
— Quatro Harpoon cada um. Dos brancos — acrescentou Dubro. Na Marinha, os mísseis de treinamento eram pintados de azul e os mísseis de verdade recebiam a cor branca. Os Harpoon eram mísseis terra-ar. Jackson não precisava perguntar pelos mísseis ar-ar Sidewinder e AMR, que faziam parte do equipamento básico do Hornet.
— O que eu gostaria de saber é o que pretendem com isso — observou o comandante do grupo.
Era o que todos gostariam de saber. O grupo de combate indiano — era assim que o chamavam, na falta de um nome melhor — estava no mar fazia oito dias, navegando ao largo da costa meridional do Sri Lanka. O grupo tinha a missão ostensiva de apoiar as forças de paz do Exército da Índia, empenhadas em combater os Tigres do Tâmil. Só havia um senão: as bases dos Tigres do Tâmil ficavam na parte norte da ilha, e a esquadra indiana se aproximara pelo sul. Os dois porta-aviões manobravam frequentemente para se manter afastados dos navios mercantes, permanecendo fora do alcance visual da ilha, mas dentro do alcance aéreo. Não era difícil evitar a Marinha do Sri Lanka. O maior vaso de guerra de que o país dispunha poderia ser um excelente iate a motor para um novo-rico, mas não passava disso. Para resumir: a Marinha da Índia estava executando uma operação secreta muito longe do local onde costumava conduzir seus treinamentos.
A presença de navios de reabastecimento significava que pretendiam permanecer ali por um tempo considerável, e também que os indianos poderiam executar levantamentos da ilha sem nenhuma pressa. Na verdade, a Marinha da Índia estava operando exatamente como a Marinha dos Estados Unidos vinha fazendo havia várias gerações. Acontece que os Estados Unidos não tinham nada a fazer no Sri Lanka.
— Estão realizando exercícios diariamente? — perguntou Robby.
— Não falharam nem uma vez — confirmou Harrison. — Daqui a pouco um par de Harrier vai se perfilar como os nossos Hornet, de maneira amistosa, é claro.
— Não gosto disso — interveio Dubro. — Conte sobre o exercício da semana passada.
— Foi interessante de ver. — Harrison chamou os registros computadorizados, que podiam ser mostrados em uma velocidade maior que a normal.
— Pegamos o exercício praticamente desde o início, senhor.
Olhando para a tela, Robby viu o grupo de contratorpedeiros destacar-se da formação principal e rumar para sudoeste, o que naquela ocasião significava dirigir-se quase diretamente para o Lincoln, despertando a atenção dos americanos. De repente, os contratorpedeiros indianos dispersaram-se e rumaram para o norte em alta velocidade. Com os radares e os rádios desligados, os navios dirigiram-se então para leste, ainda se movendo bem rápido.
— O comandante do grupo de contratorpedeiros usou uma tática para despistar. Os porta-aviões evidentemente esperavam que os navios rumassem para leste e usassem essa frente estacionária para se esconder. Como pode ver, foi para lá que os aviões se dirigiram. — O erro permitira que os contratorpedeiros se aproximassem bastante dos porta-aviões antes que os Harrier decolassem para enfrentá-los.
Nos dez minutos da gravação, Robby teve certeza de que acabara de assistir a um ataque simulado contra um grupo de porta-aviões inimigo, lançado por um grupo de contratorpedeiros cuja disposição de sacrificar as naves e as vidas dos tripulantes em uma missão suicida era evidente. O mais preocupante era que o ataque fora um sucesso. Embora todos os contratorpedeiros provavelmente teriam sido afundados, alguns deles, pelo menos, conseguiriam penetrar nas defesas locais dos porta-aviões e danificar os alvos. Por maiores e mais resistentes que fossem os porta-aviões, não era preciso infligir muitos danos para tornar impossíveis as operações de pouso e decolagem. E isso era tão bom como afundá-los.
Os indianos possuíam os únicos porta-aviões daquele oceano, exceto pelos americanos, cuja presença, Robby sabia, os incomodava. A finalidade do exercício não era afundar seus próprios porta-aviões.
— Não tem a sensação de que não somos queridos por aqui? — perguntou Dubro, com um sorriso irônico.
— Tenho a sensação de que precisamos conhecer melhor suas intenções. Ainda estamos no escuro, Mike.
— Pensa que não sei? — observou Dubro.
— Quais são as intenções deles em relação ao Ceilão? — O nome antigo do país era mais fácil de lembrar.
— Não temos nenhuma informação a respeito. — Como suplente da J-3, a diretoria de planejamento do Estado-Maior Conjunto, Robby tinha acesso a praticamente todos os dados conseguidos pela comunidade de informações dos Estados Unidos. — Mas o que você acaba de me mostrar é muito eloquente.
Bastava olhar para a tela, observar onde estava o mar, onde estava a terra, onde estavam os navios. A Marinha da Índia estava manobrando de modo a colocar-se entre o Sri Lanka e qualquer um que tentasse aproximar-se do Sri Lanka vindo do sul. Como a Marinha dos Estados Unidos, por exemplo. Praticara um ataque contra uma força desse tipo. Pretendia permanecer no mar por um longo tempo. Se fosse apenas um exercício, tratava-se de um exercício extremamente oneroso.
— E se não fosse? Como saber a diferença? Onde estão os anfíbios? Não estão aqui — respondeu Dubro.
— Fora disso, não sei. Não tenho recursos para investigar e não há informações disponíveis. Os indianos contam com um total de dezesseis naves anfíbias LST e imagino que pelo menos doze deles possam operar em conjunto. O suficiente para transportar uma brigada pesada em uma operação de desembarque. Existem algumas praias favoráveis no litoral norte da ilha. Não podemos alcançá-las daqui, pelo menos não tão bem como eu gostaria. Preciso de mais recursos, Robby.
— Sabe que não posso atendê-lo, Mike.
— Dois submarinos. Você pode ver que não estou exagerando. — Os dois submarinos nucleares seriam usados para cobrir o golfo de Mannar, o ponto mais provável de desembarque. — Também preciso de mais informações, Rob.
— Entendo. — Jackson fez que sim com a cabeça. — Verei o que posso fazer. Quando partirei?
— Daqui a duas horas.
Jackson estaria voando em um jato antissubmarino S-3 Viking. O ”Hoover”, como era conhecido, tinha uma grande autonomia de voo. Isso era importante. Seu destino era Cingapura, para dar a impressão de que o grupo de combate de Dubro se encontrava a sudeste do Sri Lanka e não a sudoeste. Jackson refletiu que voara quarenta mil quilômetros apenas para assistir a uma exposição de meia hora e ouvir a opinião de um militar experiente. Chegou a cadeira um pouco para trás, enquanto Harrison mudava a tela para uma escala menor. Ela agora mostrava o Abraham Lincoln rumando para nordeste a partir de Diego Garcia, contribuindo com mais um grupo de esquadrilhas para o poder aéreo sob o comando de Dubro.
Iria precisar dele. As operações necessárias para vigiar os indianos — especialmente para fazê-lo sem serem percebidos — estavam exigindo um grande esforço por parte de pilotos e aeronaves. Havia simplesmente oceanos demais no mundo para ser cobertos por apenas oito porta-aviões, mas ninguém em Washington parecia estar ligando para isso. O Enterprise e o Stennis estavam sendo reformados para substituir o Ike e o Abe dali a alguns meses, mas mesmo assim haveria um período durante o qual a presença americana naquela parte do mundo ficaria reduzida ao mínimo.
Os indianos não podiam deixar de saber. Afinal, era impossível esconder das famílias o dia em que os grupos de combate voltariam para casa. Os indianos ficariam sabendo, e o que fariam com base nessa informação?
— Olá, Clarice.
Murray levantou-se para cumprimentar a convidada para o almoço.
Pensava nela como a sua Dra. Ruth particular. Baixinha, ligeiramente acima do peso, a Dra. Golden era cinquentona, com olhos azuis e a eterna expressão de quem está prestes a contar uma piada particularmente engraçada. Tinha sido a semelhança entre eles que consolidara a amizade.
Ambos eram profissionais sérios e competentes, e ambos se disfarçavam como pessoas extremamente sociáveis. Eram a vida de qualquer festa a que comparecessem, mas por trás das gargalhadas e sorrisos estavam mentes aguçadas que perdiam muito pouco e colecionavam muito. Murray pensava em Clarice como uma eficiente detetive, e Clarice tinha exatamente a mesma opinião a respeito de Murray.
— A que devo esta honra, madame? — perguntou Dan, com a educação de costume.
O garçom apareceu com os cardápios, e a médica esperou pacientemente que ele se afastasse. Foi a primeira indicação para Murray de que o caso era sério, e embora o sorriso permanecesse nos seus lábios, os olhos se estreitaram um pouco, fixando-se na recém-chegada.
— Preciso da alguns conselhos, Sr. Murray — respondeu a Dra. Golden.
— De quem é a jurisdição para um crime cometido em um prédio federal?
— Do FBI, sem dúvida alguma — respondeu Dan, recostando-se no assento e apalpando a pistola de serviço. Tratar de negócios para Murray era sinônimo de tratar de crimes violentos, e verificar que a pistola ainda estava no lugar de costume funcionava como uma espécie de pedra de toque pessoal, um lembrete de que, por mais pomposo que fosse o título pendurado na porta do seu escritório, começara investigando assaltos a bancos na Divisão de Campo da Filadélfia, e a arma e a insígnia ainda faziam dele um membro efetivo na melhor força policial do país.
— Mesmo no Capitólio? — perguntou Clarice.
— Mesmo no Capitólio — repetiu Murray. O silêncio que se seguiu o deixou surpreso. A Dra. Golden não costumava ser reticente. Sempre era possível saber o que ela estava pensando... bem, corrigiu Murray, sempre era possível saber o que ela queria revelar. A médica, como ele, tinha seus pequenos truques. — Conte-me tudo, Dra. Golden.
— Estou falando de estupro.
Murray assentiu e pousou o cardápio sobre a mesa.
— Está certo. Em primeiro lugar, fale-me da sua paciente.
— Trinta e cinco anos, solteira, nunca se casou. Quem me indicou foi uma ginecologista, uma velha amiga minha. Quando me procurou, estava extremamente deprimida. Já tivemos três consultas.
Apenas três consultas, pensou Murray. Clarice era uma pessoa extremamente perspicaz. Por Deus, seria boa nos interrogatórios, com aquele sorriso suave, aquela voz maternal...
— Quando foi que aconteceu? — Os nomes podiam ficar para depois. Murray começaria com os fatos.
— Há três anos.
O agente do FBI — ele ainda preferia ser chamado de “Agente Especial”, em lugar do título oficial de vice-diretor assistente — franziu a testa. — É um longo tempo, Clarice. Não há provas materiais, suponho.
— Não, é a palavra dela contra a dele... a não ser por uma coisa. — A médica enfiou a mão na bolsa e tirou fotocópias ampliadas da carta de Lisa.
Murray leu as páginas devagar, enquanto a Dra. Golden o observava, à espera de uma reação.
— Que merda! — suspirou Dan, enquanto o garçom os rondava a cinco metros de distância, pensando que se tratasse de um repórter e uma informante, o que era relativamente comum em Washington. — Onde está o original? No meu escritório. Tomei muito cuidado com ele — afirmou a médica.
A afirmação trouxe um sorriso aos lábios de Murray. O fato de se tratar de papel personalizado já ajudava em alguma coisa. Além disso, o papel conservava relativamente bem as impressões digitais, especialmente quando conservado em um lugar frio e seco, como costumava acontecer com as cartas. As impressões digitais da assessora legislativa em questão certamente teriam sido recolhidas como parte do processo de admissão, o que significava que a autora provável daquele documento poderia ser positivamente identificada. A carta continha datas, lugares, eventos, e também anunciava o desejo de morrer. Isso tornava o documento equivalente ao depoimento de um moribundo e portanto aceitável como prova em um processo criminal. O advogado de defesa protestaria (eles sempre protestavam), o protesto seria recusado pelo juiz (isso acontecia sempre), e os jurados ouviriam cada palavra, inclinando-se para a frente a fim de ouvir melhor a voz vinda do túmulo. Só que nesse caso não haveria jurados, pelo menos a princípio.
Murray não gostava de casos de estupro. Como homem e como policial, aquele tipo de crime deixava-o revoltado. Considerava uma ofensa ao seu sexo que alguém pudesse cometer tamanha covardia. Mais irritante, do ponto de vista profissional, era o fato de que na maioria das vezes os casos de estupro se resumiam à palavra da vítima contra a palavra do agressor.
Como a maioria dos investigadores, Murray encarava com reservas o depoimento das testemunhas. As pessoas não eram boas observadoras, e as vítimas de estupro, traumatizadas pela experiência, eram péssimas testemunhas, ainda mais quando pressionadas pelo advogado de defesa. As provas materiais, por outro lado, eram alguma coisa concreta, indiscutível.
Murray adorava aquele tipo de prova.
— Isto é suficiente para começar um processo? Murray olhou para ela e afirmou, com convicção: — Sim, senhora.
— E quem vai...
— Minha posição atual... bem, sou uma espécie de versão para uso externo de assistente executivo de Bill Shaw. Conhece Bill, não conhece?
— Apenas de nome.
— Tudo que ouviu falar sobre ele é verdade — assegurou-lhe Murray. — Fomos colegas de turma em Quântico e começamos da mesma forma, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Um crime é um crime, somos policiais e este é o nome da música, Clarice.
Entretanto, no mesmo momento em que a boca proclamava sua fé no órgão a que pertencia, o cérebro estava dizendo: Que merda! As repercussões políticas seriam imprevisíveis. O presidente não merecia um abacaxi daqueles. Entretanto, quem merecia? Barbara Linders e Lisa Beringer não mereciam ser violentadas por alguém em quem confiavam. A conclusão era simples: trinta anos antes, Daniel E. Murray se formara na Academia do FBI, em Quântico, Virgínia; levantara a mão direita para o céu e prestara um juramento. Havia certas escolhas duvidosas. Sempre haveria. Um bom agente tinha que usar o bom senso, saber quais as leis que podiam ser ignoradas e até que ponto. Entretanto, não até este ponto, não esta lei. Bill Shaw pensava igual a ele. Abençoado pelo destino para ocupar uma posição tão apolítica quanto era possível em Washington, D.C., Shaw construíra sua reputação com base na integridade e estava velho demais para mudar.
Um caso como esse teria de começar em seu escritório do sétimo andar.
— Preciso perguntar-lhe: acha que ela está falando a verdade?
— Falando como profissional, tenho todas as razões para acreditar que minha paciente está contando a verdade em todos os detalhes.
— Ela está disposta a testemunhar?
— Está.
— O que acha da carta?
— Também bastante autêntica, psicologicamente falando.
Murray pensava o mesmo, mas alguém — primeiro ele, depois outros agentes e finalmente os jurados — precisava ouvir a opinião de um especialista.
— E agora? — perguntou a psicóloga.
Murray se levantou, para surpresa e decepção do garçom, que aguardava, solícito.
— Agora vamos direto à nossa sede falar com Bill. Ele não hesitará em abrir um processo e nomear um investigador para o caso. Eu, Bill e o investigador atravessaremos a rua para conversar com o secretário de Justiça. Depois disso, é difícil dizer. Nunca tivemos um caso parecido, pelo menos no passado recente, e não sei exatamente como proceder. Sua paciente receberá o tratamento padrão. Extenuantes e difíceis interrogatórios. Vamos entrevistar a família e os amigos da Sra. Beringer, procurar cartas, diários. Mas isso é apenas o lado técnico. O lado político vai ser muito delicado. — E por essa razão, como Dan bem sabia, ele ficaria responsável pelo caso. Outro Que merda! cruzou-lhe a mente quando se lembrou da parte da Constituição em que se basearia a investigação. A Dra. Golden viu a hesitação em seus olhos e interpretou-a erradamente, o que para ela era muito raro.
— Minha paciente merece...
Murray piscou os olhos com força. E daí? perguntou-se. Um crime é um crime.
— Eu sei, Clarice. Ela merece justiça. O mesmo acontece com Lisa Beringer. Sabe de uma coisa? O mesmo se pode dizer dos Estados Unidos da América.
Ele não parecia um engenheiro de software. Não tinha nada de desleixado.
Usava ternos listrados e andava sempre com uma maleta de executivo.
Alguém poderia achar que se tratava de um disfarce imposto pela clientela a que servia e pela atmosfera profissional da região, mas a verdade pura e simples era que gostava de se vestir bem.
A operação seria bem simples. O cliente usava computadores de grande porte Stratus, máquinas compactas, possantes, que podiam ser facilmente ligadas em rede — na verdade, eram a plataforma escolhida para muitas BBS por causa do preço acessível e alta confiabilidade. Havia três deles na sala.
”Alpha” e “Beta” — cujos nomes apareciam em letras brancas nos painéis frontais de plástico azul — eram os principais e assumiam o trabalho em dias alternados, com um sempre funcionando como reserva do outro. A terceira máquina, “Zulu”, fora reservada para emergências; quando Zulu estava funcionando, era sinal de que havia uma equipe de manutenção trabalhando no local ou a caminho de lá. Outra instalação, idêntica sob todos os aspectos, exceto quanto ao número de funcionários, ficava do outro lado do East River, em um endereço diferente, com uma fonte de energia diferente, linhas telefônicas diferentes e ligações diferentes via satélite. Os dois edifícios eram estruturas resistentes ao fogo, de vários andares, com um sistema automático convencional de combate ao fogo do lado de fora da sala do computador e um sistema DuPont 1301 no interior da sala, capaz de debelar um incêndio em questão de segundos. Os computadores dispunham de baterias capazes de mantê-los funcionando durante doze horas.
Infelizmente, por razões ambientais e de segurança, o código de construção civil de Nova York não permitia que os edifícios contassem com geradores próprios, o que era uma dor de cabeça para os engenheiros de sistemas, pagos para se preocupar com essas coisas. E eles se preocupavam, apesar do fato de que a duplicação, as elaboradas redundâncias que em um contexto militar eram chamadas de “defesa em profundidade” protegiam o sistema contra qualquer perigo imaginável.
Bem, quase qualquer perigo.
No painel frontal de cada um dos computadores havia uma porta SCSI (Small Computer Systems Interface, ou Interface para Pequenos Computadores). Aquilo era uma novidade dos modelos mais recentes, um reconhecimento implícito ao fato de que os microcomputadores tinham se tornado tão potentes que eram capazes de carregar informações com mais facilidade do que o velho método de fita magnética.
Neste caso, o terminal de entrada estava sempre ligado ao sistema.
Acoplado ao painel geral de controle do sistema, que controlava Alpha, Beta e Zulu, havia um Power PC de terceira geração, ao qual estava ligada uma unidade de disco removível Bernoulli. Conhecida como “torradeira”, porque seu disco se parecia com uma fatia de pão de forma, a máquina tinha uma capacidade de armazenamento de um gigabyte, muito maior do que o necessário para carregar aquele programa.
— Tudo bem? — perguntou o engenheiro.
O controlador do sistema usou o mouse para selecionar Zulu em um menu. Um operador sênior atrás dele confirmou que ele fizera a opção correta. Alpha e Beta estavam envolvidos em um trabalho de rotina e não podiam ser perturbados.
— O Zulu é todo seu, Chuck.
— Entendido — respondeu Chuck com um sorriso. O engenheiro que gostava de ternos listrados enfiou o cartucho no receptáculo e esperou que o ícone apropriado aparecesse na tela. Selecionou-o com o mouse, abrindo uma nova janela onde aparecia o conteúdo de PORTA-1, o nome que escolhera para o cartucho.
A nova janela indicava apenas dois arquivos: INSTALL e ELECTRACLERK-2.4.0. Um programa antivírus automático imediatamente examinou os dois arquivos, declarando que estariam limpos depois de cerca de cinco segundos.
— Tudo em ordem, Chuck — informou o controlador do sistema. O supervisor concordou com a cabeça.
— Posso fazer a alteração?
— Vá em frente.
Chuck Searls clicou duas vezes com o mouse no ícone INSTALL. Uma mensagem apareceu no monitor: Are you sure vou want to replace “Electra-Clerk 2.3.1” with the new program “Electra-Clerk 2.4.0”? (Tem certeza de que deseja substituir “ElectraClerk 2.3.1” pelo novo programa “Electra-Clerk 2.4-0”?) Searls escolheu com o mouse a opção “YES”. Apareceu outra mensagem: Are You Really Sure???? (Tem realmente certeza????)
— Quem colocou isso aí?
— Fui eu — respondeu o controlador do sistema, com um sorriso.
— Engraçadinho — resmungou Searls, escolhendo de novo a opção YES.
A torradeira entrou em ação. Searls gostava de sistemas que podia ouvir enquanto funcionavam, o clic-clic das cabeças se combinando com o zumbido do disco girando. O programa tinha apenas cinquenta megabytes e foi copiado em apenas alguns segundos, menos tempo que o engenheiro levou para abrir uma garrafa de água mineral e beber um gole.
— Pronto — disse Searls, afastando a cadeira do teclado. — Quer fazer um teste? Voltou-se para olhar pela janela. A sala do computador era cercada por paredes de vidro, mas ao longe podia ver o porto de Nova York. Um navio de passageiros de porte médio, pintado de branco, estava deixando o cais.
Qual seria seu destino?, pensou. Algum lugar quente, com areia branca, céu azul e sol o tempo todo. Um lugar muito diferente de Nova York, com certeza. Ninguém faria um cruzeiro para um lugar como a Big Apple. Como seria bom estar a bordo daquele navio, fugindo do vento gelado do outono.
Melhor ainda seria não voltar nele, pensou Searls, com um sorriso amargo.
Bem, os aviões eram mais rápidos, e também vendiam passagens só de ida...
Usando o console de controle, o controlador do sistema colocou Zulu em paralelo com os outros computadores. As 16:10:00, horário de Nova York, a máquina começou a reproduzir o trabalho executado simultaneamente por Alpha e Beta, com uma diferença. Segundo o monitor, o Zulu rodava ligeiramente mais depressa. Naquele tipo de tarefa, o Zulu normalmente ficaria para trás, mas agora estava tão rápido que tinha de “esperar” pelos outros computadores por alguns segundos a cada minuto.
— Que beleza, Chuck! — observou o controlador do sistema.
Searls esvaziou a garrafa de água mineral, jogou-a na cesta de papéis e aproximou-se.
— Pois é. Tirei umas dez mil linhas de código. Não eram as máquinas, era o programa. Levei algum tempo para encontrar os atalhos certos. Acho que agora está tudo funcionando bem.
— O que foi exatamente que mudou? — perguntou o operador sênior, que entendia muito d<* programação.
— Alterei a hierarquia do sistema, a forma e o modo como os dados são encaminhados às diferentes placas para serem processados em paralelo. O sincronismo ainda precisa de alguns ajustes. Acho que posso resolver isso em um mês ou dois, além de cortar um pouco de gordura da interface de entrada.
O controlador do sistema rodou o primeiro programa de teste. O resultado apareceu quase de imediato.
— Seis por cento mais rápido que o dois-ponto-três-ponto-um. Nada mau.
— Precisávamos desses seis por cento — comentou o supervisor, dando a entender que aquilo ainda não era suficiente. O serviço às vezes era pesado, e, como todo mundo na Depository Trust Company, vivia com medo de não conseguir os resultados a tempo.
— Mande-me alguns dados no final da semana e talvez eu consiga arranjar para você mais alguns pontos percentuais — prometeu Searls.
— Bom trabalho, Chuck.
— Obrigado, Bud.
— Quem mais está usando o programa?
— Esta versão? Ninguém. Uma versão parecida, desenvolvida sob medida, está rodando nas máquinas do CHIPS.
— Bem, ninguém entende tanto do programa quanto você — observou o supervisor, de forma magnânima.
Teria sido menos magnânimo se refletisse um pouco a respeito da situação.
O supervisor ajudara a projetar todo o sistema. Todas as redundâncias, todos os sistemas de segurança, a forma como as fitas eram removidas das máquinas à noite e transportadas para outras cidades. Fizera parte de uma comissão encarregada de estabelecer as salvaguardas necessárias para o negócio em que estava envolvido. Entretanto, a busca de eficiência — além, ironicamente, da busca de segurança — tinha criado uma vulnerabilidade da qual, compreensivelmente, não se dava conta. Todos os computadores usavam os mesmos programas. Isso era inevitável. Diferentes programas em diferentes computadores, como línguas diferentes sendo faladas em um escritório, dificultariam ou mesmo impediriam a comunicação entre as máquinas, o que seria intolerável. Em consequência, apesar de todas as salvaguardas, as seis máquinas sob sua responsabilidade tinham um ponto fraco: todas falavam a mesma língua. Tinham de falar. Elas constituíam o elo mais importante, embora o menos conhecido, do comércio americano.
Mesmo nesse caso, a DTC não ignorava totalmente os perigos em potencial. O ELECTRA-CLERK 2.4.0 não seria carregado em Alpha e Beta até que tivesse passado uma semana funcionando no Zulu, e esperariam mais uma semana antes de carregá-lo nos computadores do outro prédio, que eram chamados de “Charlie”, “Delta” e “Tango”. Essa medida tinha por objetivo assegurar que a versão 2.4.0 era eficiente e “robusta”, um termo de engenharia adotado pelo pessoal de informática. Em pouco tempo, todos se acostumariam com a nova versão, mais rápida e eficiente.
Todas as máquinas Stratus falariam exatamente a mesma linguagem, trocando informações em uma conversação eletrônica de uns e zeros, como amigos reunidos em torno de uma mesa para falar de negócios.
Em pouco tempo todos conheceriam a mesma piada. Alguns poderiam achar graça, mas não os empregados da DTC.
3
CONGREGAÇÃO
— Então, estamos todos de acordo? — perguntou o chairman da Federal Reserve Board.
Os presentes fizeram que sim com a cabeça. Não fora uma decisão difícil. Pela segunda vez nos últimos três meses, o presidente Durling dera a conhecer discretamente, através do secretário do Tesouro, que não teria objeções a outro aumento de meio ponto no Discount Rate, isto é, na taxa de juros que a Federal Reserve cobrava dos bancos a que emprestava dinheiro — de quem mais tomariam emprestadas somas tão vultosas, a não ser do governo federal? Qualquer aumento dessa taxa, naturalmente, era repassado imediatamente ao público em geral.
Os homens e mulheres reunidos em torno da mesa de carvalho polido praticavam um jogo delicado. Eles controlavam a quantidade de dinheiro presente na economia americana. Como se estivessem abrindo e fechando as comportas de uma represa, tinham o poder de regular o meio circulante, procurando mantê-lo em níveis adequados.
O processo, naturalmente, era bem mais complexo do que esta imagem poderia sugerir. A maior parte desse dinheiro na verdade não existia. O órgão responsável pela impressão da moda, o Bureau of Engraving and Printing, localizado a menos de dois quilômetros de distância dali, não dispunha de papel e tinta suficientes para imprimir as notas correspondentes às quantias que a Federal Reserve liberava diariamente. “Dinheiro”, no caso, era apenas uma expressão eletrônica, uma forma de enviar a seguinte mensagem: Você, o First National Bank of Podunk, dispõe a partir de agora de mais três milhões de dólares, soma que pode emprestar à Mercearia do Joe, ou ao posto de gasolina de Jeff Brown, ou a qualquer um que se disponha a construir uma casa no regime de hipoteca, financiada em vinte anos. Poucas dessas pessoas eram pagas em dinheiro — com cartões de crédito, o risco de roubo era menor, os desfalques tornavam-se quase impossíveis e, mais importante ainda, não era preciso dispor de funcionários para contar e recontar as notas e transportá-las de um lado para outro. Em consequência, o que aparecia pela mágica de uma mensagem de fax ou correio eletrônico era emprestado por escrito, para ser pago mais tarde por outra expressão teórica, em geral um cheque preenchido em uma pequena tira de papel especial, frequentemente decorada com a imagem de uma águia ou um barco de pesca em um lago imaginário, porque a competição entre os bancos era intensa e as pessoas gostavam desses pequenos detalhes.
O poder das pessoas presentes naquela sala era tão grande, que mesmo elas raramente paravam para pensar a respeito. Através de uma simples decisão, acabavam de tornar mais caros todos os produtos americanos. Todos os empréstimos para a compra da casa própria, todas as prestações das vendas a prazo, todos os saldos devedores dos cartões de crédito tinham aumentado de imediato. Graças a essa decisão, todas as pessoas físicas e jurídicas dos Estados Unidos dispunham de menos dinheiro para gastar em benefícios para os empregados ou presentes de Natal. O que começara com uma nota para a imprensa atingiria em breve todas as carteiras do país. Os preços de todos os bens de consumo, de microcomputadores a chicle de bola, sofreriam um aumento inevitável, reduzindo ainda mais o poder aquisitivo da população.
E isso era ótimo, pensou o chairman. Todos os indicadores sugeriam que a economia estava ligeiramente superaquecida. Havia um risco real de que a inflação aumentasse. Na verdade, um pouco de inflação era inevitável, mas o aumento da taxa de juros a manteria dentro de limites toleráveis. Os preços teriam que subir um pouco, e o aumento da taxa de juros faria com que subissem ainda mais.
Era um exemplo de combater fogo com fogo. Com o aumento dos juros, o número de empréstimos e de vendas a prazo tenderia a cair, diminuindo a quantidade de dinheiro em circulação e portanto a pressão da demanda, o que a longo prazo faria os preços estabilizarem-se, evitando algo que todos eles consideravam muito mais nocivo para a economia do que uma flutuação momentânea da taxa de juros.
Como ondas se irradiando de uma pedra atirada no meio de um lago, haveria muitos outros efeitos. Os juros dos bônus do Tesouro teriam um aumento. Esses bônus representavam a dívida interna do governo. Os cidadãos — na verdade, instituições, como bancos, fundos de pensão e firmas de investimentos, que tinham que manter aplicado o dinheiro dos clientes enquanto aguardavam uma boa oportunidade no mercado de ações — emprestavam dinheiro, eletronicamente, ao governo, por um prazo que variava de três meses a trinta anos; em troca, o governo pagava juros (que, naturalmente, esperava recuperar através dos impostos). Na prática, o aumento da taxa de juros da Federal Reserve obrigaria o governo a oferecer uma taxa de juros mais atraente no próximo leilão de bônus do Tesouro. Assim, o custo de rolagem da dívida interna também aumentaria, forçando o governo a reduzir os gastos, diminuindo o meio circulante e aumentando a taxa de juros para o público em geral para um valor maior do que o sinalizado pela Federal Reserve.
Finalmente, o simples aumento das taxas de juros seria suficiente para tornar o mercado acionário menos atraente para os investidores, já que os juros oferecidos pelo governo eram mais “seguros” do que os lucros, mais especulativos, esperados por uma empresa cujos produtos e/ou serviços tinham que competir no mercado.
Em Wall Street, investidores individuais e analistas financeiros, que acompanhavam os indicadores econômicos, aceitaram fleumaticamente a notícia, que chegou no final da tarde (em geral, os aumentos da taxa de juros eram anunciados depois do fechamento dos mercados) e se programaram para “desovar” (vender) suas posições em alguns itens. Isso faria com que as cotações de várias ações caíssem no dia seguinte, provocando uma queda da Média Industrial Dow Jones. Na verdade, esse indicador não era uma média, mas a soma do valor de mercado de trinta ações muito negociadas, com a Allied Signal em uma das extremidades do alfabeto, a Woolworth’s na outra e a Merck no meio. Sua utilidade principal era fornecer à imprensa alguma coisa para divulgar à população, que em sua maioria não sabia exatamente o que ele representava. A queda do “Dow” deixaria algumas pessoas nervosas, aumentando a oferta de ações e levando a novas quedas na bolsa, até que outros investidores entrevissem a oportunidade de comprar ações por um preço mais barato do que seu valor real. Isso faria com que o Dow (e outros indicadores do mercado) aumentasse novamente até atingir um ponto de equilíbrio, restaurando a confiança do mercado. E dizer que todas essas mudanças tinham sido impostas por um punhado de pessoas em uma sala de reuniões em Washington, D.C., pessoas cujos nomes não eram conhecidos pela maioria dos analistas de investimentos e muito menos pelo público em geral! O interessante era que todos aceitavam o processo como uma coisa tão normal como as leis da física, apesar do fato de se tratar de algo tão etéreo quanto um arco-íris. O dinheiro não existia em termos concretos. Mesmo o dinheiro “de verdade” não passava de um papel impresso com tinta especial. O que lastreava o dinheiro não era ouro ou outro bem valioso, mas apenas a crença coletiva de que o dinheiro valia alguma coisa porque todos os outros aceitavam aquele valor.
Em última análise, o sistema monetário dos Estados Unidos e de todos os outros países do mundo era um grande exercício de psicologia, um estado mental que se refletia em todos os outros setores da economia. Se o dinheiro era simplesmente uma questão de fé coletiva, então o mesmo se podia dizer de todo o resto.
O que a Federal Reserve fizera naquela tarde era uma experiência controlada de primeiro abalar essa fé e depois permitir que se restabelecesse sozinha, de acordo com a disposição natural dos crentes. Entre esses crentes podiam ser incluídos os membros da própria Federal Reserve Board, porque eles sabiam como funcionava o sistema... ou pelo menos julgavam saber. Individualmente, podiam afirmar, de brincadeira, que ninguém compreendia como o sistema operava, da mesma forma como nenhum deles seria capaz de explicar a natureza de Deus, mas, da mesma forma como os teólogos estavam sempre procurando investigar e explicar a outros a natureza de uma divindade, era sua missão manter as coisas em andamento, tornar a estrutura abstrata uma coisa real e tangível, sem jamais admitir que se baseava em algo ainda menos concreto do que as notas que levavam no bolso para as poucas ocasiões em que o uso de um cartão de crédito seria inconveniente.
A eles fora confiada, da mesma forma distante com que as pessoas confiavam nos eclesiásticos, a missão de manter a estrutura em que sempre se baseara a fé profana, proclamando a realidade de algo que não se podia ver, uma estrutura cujas manifestações palpáveis eram encontradas apenas em edifícios de concreto e nas pessoas que neles trabalhavam. E tudo funcionava muito bem, repetiam para si próprios. Não funcionava? Sob vários aspectos, Wall Street era a parte dos Estados Unidos onde os japoneses, em especial os que vinham de Tóquio, se sentiam mais à vontade.
Os edifícios eram tão altos que escondiam quase totalmente o céu; as ruas, tão engarrafadas, que um visitante de outro planeta poderia ter a impressão de que os táxis amarelos e limusines eram a forma de vida dominante na região. As pessoas caminhavam anonimamente nas calçadas sujas, com passos firmes e olhar distante, tanto para mostrar que tinham o que fazer como para evitar até mesmo o contato visual com possíveis competidores, que, na maioria dos casos, não passavam de simples transeuntes. A cidade inteira de Nova York tirara o seu comportamento daquele lugar: brusco, rápido, impessoal, duro na forma, mas não na substância. Os habitantes gostavam de pensar que estavam no centro da ação e se preocupavam tanto com seus objetivos individuais e coletivos que se ressentiam de que os outros pensassem exatamente da mesma forma. Nesse sentido, era um mundo perfeito. Todos se pareciam. Ninguém dava a mínima para seu semelhante. Pelo menos, a impressão era essa. Na verdade, as pessoas que trabalhavam ali tinham cônjuges e filhos, interesses e passatempos, desejos e sonhos, como em qualquer outro lugar do mundo; entre oito da manhã e seis da tarde, porém tudo estava subordinado às regras do negócio. O negócio, naturalmente, era dinheiro, um tipo de produto que não conhecia limites nem lealdades. E era assim que no quinquagésimo oitavo andar do número seis da Columbus Lane, no novo edifício-sede do Columbus Group, uma mudança na direção estava ocorrendo.
A sala era impressionante sob todos os aspectos. Duas das paredes eram feitas de nogueira maciça, e não lambris, conservada com aparência impecável por uma equipe de artesãos muito bem remunerados. As outras duas eram grossas placas de vidro que iam do carpete até o teto falso de Celotex, oferecendo uma vista panorâmica do porto de Nova York e adjacências. O carpete era espesso o suficiente para engolir sapatos... e produzir um desagradável choque elétrico, que os frequentadores habituais tinham aprendido a tolerar. A mesa de reuniões era coberta com granito vermelho de doze metros de comprimento e as cadeiras em volta valiam quase dois mil dólares cada uma.
O Columbus Group, fundado havia apenas onze anos, passara sucessivamente de mais um pequeno empreendimento para enfant térrible, sério competidor e um dos melhores do setor até chegar à posição atual de liderança na comunidade dos fundos de investimentos. Fundada por George Winston, a empresa agora controlava um verdadeiro exército de equipes de gerenciamento de fundos. As três equipes principais eram chamadas de Santa Maria, Pinta e Nina, porque quando Winston fundara a empresa, com vinte e nove anos de idade, acabara de ler o livro A Descoberta do Novo Mundo pela Europa, de Samuel Eliot Morison, e, maravilhado com a coragem, visão e puro espírito de aventura dos incansáveis navegadores da escola do infante Dom Henrique, decidira traçar seu próprio curso com base no exemplo daqueles homens notáveis. Agora, com quarenta anos e imensamente rico, achava que chegara a hora de se aposentar, cultivar rosas, fazer longos cruzeiros no seu iate de noventa pés. Na verdade, seus planos imediatos envolviam passar os próximos meses aprendendo a pilotar o Cristobal com a mesma competência com que dirigira sua firma, e depois reproduzir as viagens de descobrimento, uma a cada verão, até esgotar os exemplos a seguir e talvez escrever um livro contando suas experiências.
Winston era um homem de estatura modesta, que parecia bem maior por causa de sua personalidade. Um fanático pela forma física — a tensão era a grande assassina de Wall Street —, o homem positivamente brilhava com a confiança infundida por seu soberbo condicionamento. Entrou na sala de reuniões já repleta com o ar do presidente eleito chegando à sede da campanha para comemorar a vitória, com passos rápidos e seguros, um leve sorriso nos lábios. Satisfeito com aquele momento de glória de sua vida profissional, cumprimentou com a cabeça o convidado principal.
— Yamata-san, é um prazer tornar a vê-lo — disse George Winston, estendendo a mão. — Sinto que tenha tido que vir de tão longe para se encontrar comigo.
— Nenhuma distância é muito grande para um evento desta importância — replicou o industrial japonês.
Winston acompanhou o outro até a extremidade mais distante da mesa antes de voltar ao seu lugar à cabeceira. Havia hordas de advogados e executivos de investimentos entre os dois — como times de futebol prestes a se defrontar, pensou Winston, enquanto passava por eles, procurando não demonstrar o que sentia.
Era a única maneira de cair fora, disse Winston a si mesmo. Nada mais teria funcionado. Os primeiros seis anos da empresa tinham sido a maior alegria de sua vida. Começar com menos de vinte clientes, ganhar dinheiro e estabelecer uma sólida reputação ao mesmo tempo. Trabalhar em casa, recordou, o cérebro à frente dos passos que cobriam a distância entre o computador e o telefone, preocupar-se com o sustento da família, consolar-se com o apoio da esposa, sempre a seu lado apesar de estar grávida pela primeira vez — e de gêmeos, ainda por cima!—sem jamais desperdiçar uma oportunidade de demonstrar seu amor e confiança, apostando na sua capacidade e instinto profissional. Com trinta e cinco anos, sua obra já estava praticamente concluída. Dois andares de um edifício de escritórios no centro da cidade, uma equipe de jovens e brilhantes “cientistas de foguetes” para cuidar dos detalhes. Foi então que pensou pela primeira vez em se aposentar.
Além de aplicar o dinheiro dos clientes, Winston investira também seu próprio dinheiro, é claro, de modo que sua fortuna pessoal, descontados os impostos, chegava a seiscentos e cinquenta e sete milhões de dólares. Não tinha confiança suficiente para deixar todo esse dinheiro nas mãos de outrem; além disso, estava preocupado com os rumos atuais do mercado. Por isso, resgatara todas as suas cotas e pretendia investir o dinheiro em aplicações de risco mínimo. Parecia um estranho curso de ação para uma pessoa como ele, mas a verdade era que não queria mais se preocupar com negócios. Tornar-se ”conservador” podia ser monótono, implicaria necessariamente renunciar a grandes oportunidades futuras, mas, como vinha se perguntando havia anos, para que continuar a luta? Era dono de seis mansões, cada uma com dois automóveis de luxo, um helicóptero, um jatinho executivo que ainda não terminara de pagar e o iate Cristobal, seu brinquedo favorito. Tinha tudo que jamais desejara, e mesmo em investimentos conservadores, sua fortuna pessoal continuaria a crescer mais depressa do que a taxa de inflação porque não tinha como gastar nem mesmo os juros das aplicações.
Assim, dividira seus recursos em pacotes de cinquenta milhões de dólares, aplicando em todos os segmentos do mercado através de colegas do ramo de investimentos que ainda não tinham ficado famosos mas em cuja integridade e discernimento podia confiar. Vinha fazendo esses investimentos fazia três anos, com muita discrição, enquanto procurava um sucessor à altura a quem transferir a propriedade do Columbus Group.
Infelizmente, o único que se apresentara fora aquele japonês baixinho.
“Propriedade” não era bem o termo. Os verdadeiros donos eram os investidores que deixavam seu dinheiro sob custódia nos fundos pertencentes ao grupo, em uma demonstração de confiança que Winston sempre fora o primeiro a reconhecer. Mesmo depois de tomar a decisão, a consciência ainda o incomodava. Aquelas pessoas acreditavam nele e em sua equipe, mas principalmente nele, porque a porta mais importante tinha o seu nome escrito. A confiança de tanta gente era uma carga pesada que suportara por muito tempo com orgulho e dedicação, mas agora estava na hora de parar.
Chegara o momento de pensar na família, cinco filhos e uma esposa fiel que estavam cansados de “compreender” que o papai tinha de passar a maior parte do tempo longe de casa. As necessidades de muitos. As necessidades de poucos. Mas os poucos estavam mais próximos, não estavam? Raizo Yamata teria de empenhar boa parte da fortuna pessoal e uma parcela considerável dos recursos de suas numerosas indústrias para cobrir os fundos que Winston estava retirando. Por mais discretamente que Winston se portasse, e por mais compreensível que fosse sua atitude para alguém familiarizado com o mundo dos negócios, mesmo assim a mudança causaria inquietações. Assim, era necessário que o substituto se apressasse a cobrir todas as retiradas com seu próprio dinheiro. Com isso, a confiança seria automaticamente restaurada. Além disso, a operação serviria para consolidar o casamento entre os sistemas financeiros japonês e americano.
Enquanto Winston observava, foram assinados instrumentos que “permitiam” a transferência internacional de fundos que mantivera os executivos dos bancos trabalhando até tarde da noite em seis países. Um homem de coragem, esse Raizo Yamata.
Não, corrigiu-se Winston, só podia ter certeza de que Yamata era um homem extremamente rico. Desde que deixara a Wharton School, conhecera muitos operadores brilhantes e ambiciosos, todos eles pessoas astutas, inteligentes, que procuravam esconder sua natureza predatória por trás de uma fachada de despreocupação e bom humor. Logo desenvolvera um instinto para reconhecer aquele tipo de gente. Não era difícil. Talvez Yamata pensasse que sua herança racial o tornava indecifrável, da mesma forma como sem dúvida se considerava mais esperto do que os americanos. Talvez sim, talvez não, pensou, olhando para o outro lado da mesa de doze metros.
Por que o homem não demonstrava nenhum contentamento? Os japoneses também tinham emoções. Aqueles com quem fizera negócios no passado tinham sido muito afáveis, satisfeitos como qualquer outro homem por fechar um bom negócio na Street. Depois de alguns drinques, não eram muito diferentes dos americanos. Oh, um pouco mais reservados, um pouco tímidos, talvez, mas sempre educados. Apreciava as boas maneiras dos japoneses, uma área em que os nova-iorquinos certamente deixavam muito a desejar. Era isso, pensou Winston. Yamata era educado, mas de uma forma forçada. Comportava-se como mandava o figurino, e a timidez não tinha nada a ver com isso. Parecia um pequeno robô...
Não, também não era isso, pensou Winston, quando os papéis foram empurrados em sua direção. As barreiras de Yamata simplesmente eram mais espessas do que a média, para esconder melhor o que ele sentia. Por que levantara essas barreiras? Não eram necessárias naquele caso, eram? Naquela sala, encontrava-se entre iguais; mais do que isso, estava cercado por sócios. Acabara de aplicar boa parte do seu dinheiro, colocar seu bem-estar pessoal no mesmo barco que muitos dos presentes. Ao transferir quase duzentos milhões de dólares para o país, tornara-se proprietário de mais de 1% dos fundos administrados pelo Columbus Group, o que o tornava o maior investidor da empresa. Com isso, controlava cada dólar, ação e opção administrados pelo grupo. O Columbus Group não era a maior empresa da Street, mas tinha uma posição de liderança. As pessoas olhavam para a Columbus em busca de ideias e tendências. Yamata adquirira mais do que uma firma de investimentos. Agora ocupava uma posição de destaque na hierarquia dos financistas americanos. Seu nome, praticamente desconhecido nos Estados Unidos até recentemente, seria agora pronunciado com respeito, o que merecia pelo menos um sorriso de sua parte, pensou Winston. Mas Yamata não estava sorrindo.
A última folha de papel foi colocada à frente de Winston por um dos seus principais assistentes, que, assim que assinasse, passaria a prestar serviços a Yamata. Parecia tão fácil! Uma assinatura, uma pequena quantidade de tinta azul disposta de uma certa maneira, e lá se iam onze anos de sua vida. Uma assinatura transferia seu negócio para um homem que se recusava a se deixar conhecer.
Ora, para que preciso conhecê-lo? Ele vai tentar ganhar dinheiro para si mesmo e para os outros, como eu fiz. Winston pegou a caneta e assinou sem levantar os olhos. Por que você não investigou primeiro? Ouviu o espocar da rolha de uma garrafa de champanha e levantou a cabeça para ver os sorrisos nos rostos dos ex-empregados. Ao consumar o negócio, tornara-se um símbolo para eles. Quarenta anos de idade, rico, realizado, aposentado, com muito tempo ainda para se divertir sem ter de trabalhar; era a esse ponto que todos que ali trabalhavam gostariam de chegar.
Por mais brilhantes que fossem, poucos teriam coragem de tentar. Mesmo assim, quase todos os que tentassem seriam malsucedidos, pensou Winston, mas ele era a prova viva de que era possível. Por mais cínicos e calejados que fossem esses analistas de investimentos — ou fingissem ser —, todos no fundo alimentavam o mesmo sonho, o de acumular uma fortuna e cair fora, afastar-se da tensão quase insuportável de estar constantemente à procura de oportunidades de investimentos em pilhas de relatórios e análises, criar uma reputação, atrair pessoas e seu dinheiro, fazer coisas boas para eles e para si próprio... e cair fora. O pote de ouro estava no arco-íris, e o fim do arco-íris representava uma saída. Um barco a vela, uma casa na Flórida, outra nas ilhas Virgens, outra em Aspen... dormir até as oito quando sentisse vontade; jogar golfe. Era uma visão do futuro muito agradável.
Mas por que não agora? Meu Deus, o que estava fazendo? Amanhã de manhã, acordaria e não saberia o que fazer. Era possível se desligar do mundo dos negócios como quem fecha uma torneira? É um pouco tarde para se arrepender, George, disse para si próprio, estendendo a mão para receber a taça de Moèt e bebendo o gole de praxe.
Levantou a taça para brindar a Yamata, porque isso também era de praxe.
Foi então que viu o sorriso, esperado mas surpreendente. Era o sorriso de um homem vitorioso. Por quê? perguntou-se Winston. Tinha sido um negócio justo, sem “ganhadores” nem “perdedores”. Winston estava tirando seu dinheiro, Yamata entrando com o dele. Mas lá estava aquele sorriso nos seus lábios. Era uma nota discordante, principalmente porque se sentia incapaz de interpretá-lo. Começou a pensar furiosamente, enquanto a champanha borbulhante lhe queimava a garganta. Se ao menos o sorriso fosse amistoso e cordial... mas não era. Seus olhos se encontraram, a doze metros de distância, em um olhar que ninguém mais percebeu, e embora não tivesse ocorrido nenhuma batalha e fosse impossível identificar um vencedor, era como se uma guerra estivesse sendo travada.
Por quê? Instintos. Winston logo recorreu ao seu. Havia uma coisa... o quê? Algo de desagradável em Yamata. Seria ele um daqueles que encaravam qualquer transação como um combate? Winston tinha sido assim, havia muito tempo, mas amadurecera. A competição era sempre dura, mas tinha de ser travada em termos civilizados. Na Street, todo mundo competia com todo mundo, também, por segurança, por conselhos, por consensos, mas era uma competição amistosa, em que todos obedeciam às mesmas regras.
Você não está no mesmo jogo que nós, não é?, teve vontade de perguntar, tarde demais.
Winston experimentou um novo truque, interessado no jogo que começara de forma tão inesperada. Levantou a taça e brindou em silêncio ao sucessor, enquanto os outros conversavam sobre trivialidades. Yamata imitou o gesto, e sua postura se tornou ainda mais arrogante, mostrando claramente que sentia desprezo pelo homem que acabara de se vender a ele.
Você teve tanto cuidado para esconder seus sentimentos ate agora... por que não julga mais necessário fazê-lo? Está claro que se considera um vencedor, que acabou de conquistar algo muito importante que eu desconheço. O que pode ser? Winston desviou os olhos para as águas do porto, lisas como um espelho. Sentiu-se subitamente entediado com o jogo, pouco interessado na competição que aquele japonês baixinho considerava como vencida. Droga, disse para si próprio, eu estou de fora. Não perdi nada. Conquistei a liberdade. Fiquei com meu dinheiro. Fiquei com tudo. Está bem, você pode ficar com a empresa e ganhar muito dinheiro, ter lugar garantido em qualquer clube ou restaurante da cidade, repetir para si mesmo como você é importante, e se considera isso como uma vitória, tudo bem. Mas não se trata de uma vitória sobre ninguém, concluiu Winston.
Foi uma pena. Winston pegara as coisas no ar, como costumava fazer; identificara todos os elementos importantes. Entretanto, pela primeira vez em muitos anos, não conseguira reuni-los para formar um todo coerente.
Não era culpa sua. Entendia profundamente do seu jogo e simplesmente supusera, de forma errada, que não havia outro jogo na cidade.
Chet Nomuri se esforçava muito para não ser um cidadão americano. A sua era a quarta geração da família nos Estados Unidos; o primeiro ancestral chegara à América logo depois da virada do século, antes que o “acordo de cavalheiros” entre Japão e Estados Unidos restringisse as imigrações. A lembrança fazia-o sentir-se ofendido. Mais desagradável ainda era o que ocorrera com os avós e bisavós, apesar de gozarem de plena cidadania americana. O avô estava disposto a provar sua lealdade ao país e servira no 4422 Regimento de Combate, voltando para casa com duas condecorações Coração Púrpura e divisas de primeiro-sargento apenas para descobrir que o negócio da família — materiais de escritório — tinha sido desapropriado por uma ninharia e a família enviada para um campo de internação. Com paciência estoica, começara tudo de novo, fundara uma nova firma, Móveis para Escritório do Veterano de Guerra, e ganhara dinheiro suficiente para mandar os filhos para a universidade. O pai de Chet era cirurgião vascular, um homem pequeno, jovial, que nascera no cativeiro e cujos pais, por essa razão — e para agradar aos seus pais — tinham mantido algumas das antigas tradições, como a língua.
E haviam feito um bom trabalho, pensou Nomuri. Conseguira superar o problema do sotaque em questão de semanas e agora, sentado na casa de banhos de Tóquio, todos à sua volta tentavam adivinhar em que região do Japão ele nascera. Nomuri levava consigo várias identidades diferentes. Ele era agente da CIA, ironicamente a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e sem o conhecimento do Departamento de Estado. Uma das coisas que aprendera com o pai cirurgião era olhar para a frente, para as coisas que ainda podia fazer, e não para trás, para o que não podia mais mudar. Era dessa forma que a família Nomuri conseguira vencer na América, em silêncio, discretamente, mas com muita competência, disse Chet para si próprio, mergulhado até o pescoço na água morna.
As regras da casa de banho eram simples. Você podia conversar sobre qualquer assunto que não fosse negócios e podia até mesmo falar de negócios, contanto que se limitasse a frivolidades. Dentro desses limites elásticos, praticamente tudo estava aberto a discussão naquele foro surpreendentemente descontraído dentro da mais formal de todas as sociedades.
Nomuri chegava ali todo dia à mesma hora, e vinha fazendo isso havia tanto tempo, que as pessoas que encontrava o conheciam e se sentiam à vontade com ele. Já sabia tudo que havia para saber a respeito das famílias dos outros frequentadores, e eles sabiam tudo a respeito da sua — ou melhor, da família fictícia que criara e que agora para ele era tão real quanto o bairro de Los Angeles onde passara a adolescência.
— Preciso arranjar uma amante — declarou Kazuo Taoka, pela décima vez. — Desde que nosso filho nasceu, minha mulher só quer saber de ficar vendo televisão.
— As mulheres gostam é de reclamar — concordou outro assalariado.
Houve uma série de murmúrios de aprovação por parte dos outros homens que estavam na piscina.
— Uma amante pode ser dispendiosa, tanto em termos de dinheiro como de tempo — observou Nomuri de um canto da piscina, imaginando de que as esposas se queixariam em suas casas de banho.
Dos dois, o tempo era o mais importante. Todos aqueles jovens executivos — bem, eles não eram exatamente executivos, mas a fronteira entre o que na América pareceria um cargo subalterno e uma posição real de comando era pouco nítida no Japão — tinham uma boa vida, mas o preço para isso era uma lealdade à empresa a que serviam só comparável à dos mineiros de carvão de Tennessee Ernie Ford. Quando se levantavam, ainda estava escuro. Viajavam de trem até o centro da cidade, trabalhavam até tarde em escritórios acanhados e quando chegavam em casa, a esposa e os filhos já estavam dormindo. Apesar do que aprendera na TV e em relatórios antes de viajar para o Japão, Nomuri sentira um choque ao constatar de perto que as pressões dos negócios ameaçavam destruir a estrutura social do país e que a própria família estava em perigo. Aquilo o surpreendia ainda mais porque a força da tradicional família japonesa tinha sido a única coisa que permitira que seus próprios ancestrais sobrevivessem na América, onde o racismo se revelara um obstáculo aparentemente intransponível.
— Dispendiosa, sim — concordou Taoka, preguiçosamente —, mas onde mais um homem pode conseguir aquilo de que precisa? Isso é verdade — observou alguém, do outro lado da piscina. Não se tratava propriamente de uma piscina, mas era grande demais para ser chamada de banheira. — Custa muito dinheiro, mas acho que vale a pena.
— E mais fácil para os chefões — comentou Nomuri em seguida, imaginando até onde a conversa poderia chegar. Anda estava no início do trabalho, estabelecendo as bases antes de mergulhar na missão propriamente dita, prosseguindo sem pressa, de acordo com as recomendações de Ed e Mary Pat.
— Yamata-san é que é feliz — observou outro assalariado, com um risinho de despeito.
— Oh? — fez Taoka.
— Ele é amigo de Goto — prosseguiu o homem, em tom conspirador.
— O político... ah, sim, é claro! Nomuri relaxou o corpo e fechou os olhos, deixando que a água a mais de quarenta graus o envolvesse, fingindo desinteresse enquanto colocava para funcionar o gravador interno do seu cérebro.
— Político — murmurou, com ar sonolento. — Hum.
— Tive de entregar alguns papéis a Yamata-san no mês passado, em um lugar discreto, não muito longe daqui. Na verdade, os papéis diziam respeito ao negócio que ele fechou há algumas horas. Estava com Goto. Eles me mandaram entrar. Acho que Yamata-san queria me deixar com inveja. A garota que estava com eles... — a voz assumiu um tom sonhador. — Alta e loura. Seios maravilhosos...
— Onde se pode comprar uma amante americana? — perguntou outro homem, de forma grosseira.
— E ela conhecia seu lugar — prosseguiu o narrador. — Ficou ali sentada, esperando pacientemente, enquanto Yamata-san examinava os papéis. Não parecia nada envergonhada. Tinha seios maravilhosos — repetiu.
Então o que dizem a respeito de Goto é verdade, pensou Nomuri. Como é que pessoas como ele conseguem chegar tão longe na política?, perguntou-se o agente. Menos de um segundo depois, estava se recriminando pela estupidez da pergunta. Desde a Guerra de Troia que os políticos vinham se comportando daquela forma.
— Continue falando — insistiu Taoka, em tom malicioso.
O homem descreveu a cena com mais detalhes, prendendo a atenção de todos, que já haviam ouvido tudo que havia para ouvir a respeito das esposas dos outros e se sentiam excitados com a descrição de uma “nova” mulher com todos os detalhes anatômicos.
— Quem está interessado nelas? — observou Nomuri, de olhos fechados. — São altas demais, têm pés muito grandes, não sabem se portar e...
— Deixe o homem contar sua história — repreendeu-o uma voz ansiosa.
Nomuri deu de ombros, rendendo-se ao entusiasmo juvenil da maioria, enquanto sua mente registrava cada palavra. O assalariado era uma pessoa observadora, e em menos de um minuto o agente dispunha de uma descrição bastante completa. O relatório iria parar em Langley, porque a CIA mantinha um arquivo a respeito dos hábitos pessoais dos políticos de todo o mundo. Não havia conhecimentos inúteis em sua profissão, embora estivesse atrás de informações de aplicação mais imediata do que as preferências sexuais de Goto.
A reunião teve lugar na Fazenda, oficialmente conhecida como Camp Peary, um centro de treinamento da CIA localizado à margem da Interstate 64 entre Williamsburg e Yorktown, na Virgínia. As latas de refrigerante circularam, enquanto os dois homens debruçavam-se sobre os mapas e falavam sobre a operação de seis semanas que tinha sido concluída de forma tão satisfatória. De acordo com a CNN, o julgamento de Corp começaria na semana seguinte. Ninguém tinha dúvidas a respeito do veredicto. Em algum lugar daquele país equatorial, alguém já comprara uns cinco metros de corda grossa, embora os dois agentes não soubessem de onde viria a madeira para construir a forca. Provavelmente teria de ser importada, pensou Clark. Não tinha visto uma única árvore durante sua estada no país.
— Parece que foi um trabalho limpo, rapazes — observou Mary Patrícia Foley, depois de ouvir a versão final.
— Obrigado, madame — replicou Ding, polidamente. — John é um excelente professor.
— E Ding é um excelente aluno — observou Clark, com um sorriso. — Como vai Ed?
— Anda aprendendo qual é o seu lugar — respondeu a vice-diretora de Operações, com um sorriso malicioso. Ela e o marido haviam frequentado juntos a Fazenda, e Clark fora um dos seus instrutores. Uma das melhores duplas marido e mulher a serviço da CIA, a verdade era que Mary Pat tinha mais talento para serviços de campo, enquanto Ed se sentia mais à vontade em trabalhos de planejamento. Nessas circunstâncias, Ed deveria ocupar a posição mais graduada, mas as pressões para a nomeação de Mary Pat tinham sido irresistíveis, politicamente falando, e na verdade os dois trabalhavam juntos como vice-diretores, embora o título oficial de Ed fosse algo nebuloso. — Vocês dois merecem umas férias, e, a propósito, vão receber um elogio especial da presidência. — Aquilo não era novidade para os dois agentes.
— John, sabe de uma coisa? Acho que está na hora de voltar às origens. — Com isso, estava se referindo a uma posição permanente de instrutor ali na costa da Virgínia.
A CIA estava expandindo seus recursos humanos, o termo burocrático usado para designar um aumento do número de agentes (conhecidos como espiões entre os inimigos dos Estados Unidos). A Sra. Foley queria que Clark ajudasse a treinar esses agentes. Afinal, fizera um bom trabalho com ela e o marido, vinte anos antes.
— Nada feito, até eu me aposentar. Gosto de trabalhar na rua.
— Ele é teimoso assim mesmo, madame — comentou Chávez, com um sorriso. — Deve ser próprio da idade.
A Sra. Foley não insistiu. Os dois formavam uma das suas melhores duplas de agentes, e não estava ansiosa para acabar com a parceria.
— Está certo, rapazes. Estão dispensados. Oklahoma e Nebraska jogam esta tarde.
— Como vão as crianças, MP? — perguntou Clark, usando o apelido de Mary Pat, conhecido apenas pelos íntimos.
— Vão bem, John. Obrigada por perguntar. — A Sra. Foley levantou-se e dirigiu-se para a porta. Um helicóptero a levaria de volta para Langley.
Ela também não queria perder o jogo.
Clark e Chávez trocaram o olhar que acompanha a conclusão de um trabalho bem feito. A operação WALKMAN era coisa do passado, aprovada oficialmente pela CIA e, no caso, também pela Casa Branca.
— Hora de comemorar, Sr. C.
— Quer uma carona? Até que seria bom — respondeu Ding.
John Clark examinou o parceiro da cabeça aos pés. Sim, estava com outro aspecto. Os cabelos pretos tinham sido aparados e penteados; não havia sinal da barba espessa que ocultara parte do seu rosto na África. Ele se dera ao luxo de vestir terno e gravata! Clark achou que estava procurando impressionar sua filha, mas, se pensasse um pouco, teria se lembrado que Ding fora um soldado, e que os soldados que voltavam da guerra gostavam de apagar todos os vestígios dos aspectos mais duros de sua profissão. Ora, não podia censurar o rapaz por procurar mostrar-se apresentável, podia? Independentemente de quais fossem os seus defeitos, Ding sempre tinha sido uma pessoa educada.
— Vamos.
A caminhonete Ford de Clark estava estacionada no lugar de costume e quinze minutos depois ele entrava na garagem da sua casa. Situada fora do perímetro de Camp Peary, era uma casa comum, de dois andares, mais vazia no momento do que estivera no passado. Margaret Pamela Clark, a filha mais velha, fora estudar longe de casa, na Marquette University. Patrícia Dóris Clark escolhera uma escola mais próxima, William and Mary, em Williamsburg, onde cursava o pré-médico. Patsy estava na porta, à espera.
— Papai! — Um abraço e um beijo, seguidos por algo que se tornara de repente muito mais importante. — Ding! — Apenas um abraço, dessa vez, observou Clark, sem se deixar enganar.
— Olá, Pats.
Ding não largou mais a mão da jovem quando os dois entraram juntos na casa.
4
ATIVIDADE
— Nossas necessidades são diferentes — insistiu um dos negociadores.
— Como assim? — perguntou o outro, pacientemente.
— O aço, o desenho do tanque, essas coisas não podem ser alteradas com facilidade. Não sou engenheiro, mas o pessoal encarregado do projeto me assegurou que é assim, e que o produto final será prejudicado se essas peças não corresponderem às especificações. Além disso — prosseguiu, sem nenhuma pressa —, há a questão do intercâmbio das peças. Como sabe, muitos dos carros montados em Kentucky são exportados de volta para o Japão, e no caso de danos ou necessidade de substituição, é muito melhor poder contar com as peças de reposição locais. Se fôssemos usar os componentes americanos que está propondo, isso seria impossível. — Seiji, estamos falando de um tanque de gasolina. Ele é feito de... de quê? Cinco pedaços de aço galvanizado, estampados e soldados entre si, com uma capacidade interna total de noventa litros. Não existem peças móveis envolvidas — observou o representante do Departamento de Estado, intervindo no processo e desempenhando o papel que lhe cabia. Fizera um bom trabalho ao fingir irritação, usando o nome próprio do japonês. Acontece que o próprio aço, a fórmula, as proporções dos diferentes elementos na liga foram otimizados para atender às especificações do fabricante...
— Que são as mesmas no mundo inteiro.
— Infelizmente, não é bem assim. Nossas especificações são mais rigorosas, muito mais do que as de outros fabricantes e, sinto dizer, mais rigorosas do que as da Deerfield Autopeças. Por esse motivo, somos forçados a recusar sua proposta.
Isso colocava um ponto final nas negociações. O empresário japonês recostou-se no assento, muito elegante no seu terno Brooks Brothers e gravata Pierre Cardin, procurando não parecer excessivamente triunfante.
Tinha muita experiência naquele tipo de trabalho e se sentia perfeitamente à vontade. Afinal, o jogo estava ficando cada vez mais fácil.
— Estamos muito desapontados — declarou o representante do Departamento do Comércio dos Estados Unidos, que na verdade não esperava que as coisas terminassem de outra forma, virando a página para abordar o item seguinte da pauta de negociações do Programa de Nacionalização da Indústria. Era como uma peça grega, pensou consigo mesmo, uma mistura de tragédia de Sófocles com comédia de Aristófanes. Sabia-se exatamente qual seria o desfecho antes mesmo de começar. Estava absolutamente certo ao pensar assim, mas de uma forma que jamais poderia suspeitar.
O roteiro da peça fora determinado fazia vários meses, muito antes que as negociações se encaminhassem para aquela questão; analisando o que aconteceu, um observador isento certamente chegaria à conclusão de que tudo não passara de um mero acidente, apenas mais uma daquelas estranhas coincidências que ajudam a escrever a história das nações e dos seus líderes.
Como costuma ocorrer na maioria desses casos, as coisas começaram com um pequeno erro, difícil de evitar apesar de todas as precauções. Um fio elétrico em mau estado fez com que a corrente elétrica aplicada a um tanque de galvanização fosse menor do que o normal. Em consequência, as chapas de aço receberam uma camada protetora mais fina que o previsto, embora à primeira vista parecessem perfeitamente normais. As chapas defeituosas foram empilhadas, envolvidas com cintas de aço e embrulhadas em plástico.
O erro iria se agravar durante os processos de acabamento e montagem.
A fábrica onde ocorreu o incidente não pertencia a nenhuma empresa automobilística. Como acontecia com as firmas americanas, as grandes montadoras de automóveis — que projetavam e comercializavam os veículos — compravam a maior parte dos componentes de pequenas empresas de autopeças. No Japão, a relação entre as montadoras e as fornecedoras de peças era ao mesmo tempo estável e implacável. Estável, porque os negócios entre as empresas geralmente duravam muitos anos; implacável porque as exigências das montadoras eram ditatoriais, pois havia sempre no ar a ameaça de que passassem a comprar as peças em outra firma, embora essa possibilidade jamais fosse discutida abertamente. As referências eram sempre indiretas, como comentários elogiosos a respeito de uma empresa menor, ou quanto à inteligência dos filhos do dono dessa empresa, ou com relação a encontros casuais com o dono da empresa em uma casa da banho ou estádio de beisebol. O tipo de referência era menos importante do que o conteúdo da mensagem, que era sempre bastante claro. Em consequência, as pequenas firmas de autopeças não correspondiam à imagem de indústria japonesa que os outros países estavam acostumados a ver e respeitar nas redes de televisão. Os operários não usavam guarda-pós com o logotipo da empresa, não almoçavam no mesmo refeitório que os executivos, não trabalhavam em oficinas imaculadamente limpas. Os salários também estavam um pouco aquém do que era pago pelas montadoras, e embora a estabilidade no emprego estivesse se tornando uma coisa do passado mesmo para os técnicos mais qualificados, ela nunca existira para esse tipo de operários.
Em uma dessas fábricas anônimas, as chapas de aço mal galvanizado foram desembrulhadas e introduzidas manualmente, uma a uma, nas máquinas de corte. Nessas máquinas, as chapas foram transformadas em peças retangulares e as bordas aparadas — o restante seria recolhido e enviado de volta à siderúrgica, para reciclagem — até que cada peça tivesse as dimensões exatas especificadas pelo projetista, sempre com uma tolerância menor que um milímetro, mesmo no caso desse componente relativamente grosseiro, no qual o dono do automóvel provavelmente jamais teria a oportunidade de pôr os olhos. As peças foram aquecidas e estampadas em outra máquina e soldadas para formar um cilindro oval. Em seguida, as outras peças foram ajustadas e soldadas no lugar por um processo mecânico que podia ser supervisionado por apenas um operário. O cano que seria usado para encher o tanque era adaptado a um furo preexistente em um dos lados, enquanto o cano que levava ao motor se encaixava em um orifício quase na base. Antes de deixarem a fábrica, os tanques recebiam um revestimento de um composto anticorrosivo à base de cera e epóxi. O composto deveria aderir firmemente ao aço, protegendo assim o tanque de gasolina contra a corrosão e consequentes vazamentos de combustível.
Tratava-se de um exemplo típico da soberba engenharia japonesa, só que naquele caso específico não funcionou como devia por causa do fio elétrico em mau estado no tanque de galvanização. O revestimento não chegou a aderir ao aço, embora sua rigidez intrínseca lhe permitisse manter a forma por um tempo suficiente para passar na inspeção visual, terminada a qual os tanques foram transportados por uma esteira rolante para o setor de embalagens da fábrica. Ali, os tanques foram acondicionados em caixas de papelão fornecidas por outra empresa e levados de caminhão para um depósito, onde metade dos tanques fora colocada em outros caminhões para ser entregue à montadora e a outra parte despachada de navio para os Estados Unidos no interior de containers. Nos Estados Unidos, os tanques seriam montados em automóveis praticamente iguais aos fabricados no Japão, em uma fábrica pertencente à mesma empresa multinacional; a única diferença era que essa fábrica ficava nas colinas de Kentucky e não na planície de Kwanto, nos arredores de Tóquio.
Tudo isso ocorrera meses antes que a questão entrasse na pauta do Programa de Nacionalização da Indústria. Milhares de automóveis tinham sido montados com os tanques de gasolina defeituosos e todos haviam passado pelo excelente sistema de controle de qualidade das duas fábricas, separadas por dez mil quilômetros de terra e mar. Os veículos montados no Japão tinham sido carregados a bordo dos navios mais horríveis jamais fabricados, transportadores de automóveis parecidos com barcaças avantajadas, que em seguida foram enfrentar as tempestades outonais do Pacífico Norte. A maresia chegou aos automóveis através do sistema de ventilação dos navios. As consequências foram mínimas, até que um dos navios atravessou uma frente de alta pressão e a umidade do ar aumentou rapidamente. Com isso, o vapor de água condensou-se na superfície interna dos tanques, formando uma solução salina que penetrou no revestimento deficiente, logo começando a atacar o aço, corroendo e enfraquecendo a fina chapa de metal destinada a conter gasolina de noventa e duas octanas.
Independentemente dos seus defeitos, Corp enfrentara a morte com dignidade, observou Ryan. Acabara de assistir a uma gravação da CNN que a emissora julgara imprópria para ser colocada no noticiário regular. Depois que o general fez um discurso de duas páginas, cuja tradução estava no colo de Ryan, colocaram-lhe o laço no pescoço e abriram o alçapão. A câmara da CNN mostrou o corpo balançando no ar, o que encerrava um capítulo na história do país. Mohammed Abdul Corp. Ditador, assassino, traficante de drogas. Morto por enforcamento.
— Espero que não tenhamos acabado de criar um mártir — observou Brett Hanson, quebrando o silêncio no escritório de Ryan.
— Senhor secretário — disse Ryan, voltando a cabeça para ver que o outro estava lendo a tradução das últimas palavras de Corp —, esse homem tem apenas uma coisa em comum com os mártires.
— Qual é, Ryan?
— Está morto. — Jack fez uma pausa, para que suas palavras produzissem mais efeito. — Esse cara não morreu por Deus ou pela pátria. Morreu porque cometeu muitos crimes. Também não foi executado por matar americanos, e sim por assassinar seus próprios compatriotas e vender narcóticos. Não vejo como alguém poderia considerá-lo um mártir. Caso encerrado — concluiu Jack, jogando as folhas de papel no lixo.
— O que nós temos sobre a Índia?
— Oficialmente, nenhuma novidade.
— Mary Pat? — perguntou Jack, dirigindo-se à representante da CIA.
— Uma brigada fortemente mecanizada está realizando exercícios intensivos no sul do país. Temos fotografias aéreas tiradas há dois dias. Eles parecem estar ensaiando uma grande manobra.
— Alguma informação local?
— Não dispomos de efetivos na área — admitiu a Sra. Foley, repetindo o que parecia ter se tornado a desculpa preferida da CIA. — Sinto muito, Jack. Sabe que vamos levar anos para ter agentes em todos os lugares que desejamos.
Ryan praguejou em silêncio. Fotos de satélites podiam ser muito valiosas, mas não passavam de fotos; mostravam apenas formas, não ideias.
Ryan precisava conhecer as ideias. Mary Pat estava fazendo o possível para remediar a situação, lembrou-se.
— Segundo a Marinha, a esquadra indiana tem se mantido muito ativa, e seu padrão de operações sugere uma missão de barragem.
As fotos dos satélites revelavam que as embarcações de guerra anfíbia da Marinha da Índia estavam divididas em dois grupos. Um deles se encontrava no mar, a cerca de trezentos quilômetros da base. O outro estava no momento na base, em operações de manutenção. A base ficava a uma boa distância do local onde a brigada mecanizada realizava seus exercícios, mas havia uma via férrea ligando a base do exército à base naval. Os analistas estavam no momento examinando os pátios de manobras daquela via férrea.
Pelo menos para isso serviam os satélites.
— Nada a informar, Brett? Pelo que eu me lembre, nosso embaixador na Índia é uma pessoa muito competente.
— Não quero que ele se exponha demais. Isso poderia prejudicar nossa posição — declarou o secretário de Estado.
A Sra. Foley teve de se conter para não rolar os olhos.
— Senhor secretário — insistiu Ryan, pacientemente —, em vista do fato de que no momento não podemos contar nem com informações nem com nenhum tipo de influência, qualquer coisa que conseguirmos poderá ser útil. Quer que eu me comunique com ele ou prefere fazê-lo? Ele é meu funcionário, Ryan.
Jack respirou fundo antes de responder à provocação. Detestava disputas territoriais, embora elas constituíssem aparentemente o esporte favorito dos membros do Poder Executivo.
— Ele é funcionário dos Estados Unidos. A rigor, trabalha para o presidente. Meu dever é informar o presidente a respeito do que está acontecendo na Índia, e para isso preciso de informações. Acione-o, por favor. Ele dispõe de um agente da CIA e três adidos militares. Quero que todos sejam acionados. O objetivo é caracterizar melhor os possíveis preparativos para a invasão de um país soberano. Não queremos que isso ocorra.
— Não acredito que a Índia fosse capaz de cometer tal loucura — afirmou Brett Hanson, sem muita convicção. — Jantei várias vezes com o ministro do Exterior e ele não me deu a menor indicação...
— Está certo — interrompeu Ryan, para que o outro não se expusesse ainda mais ao golpe que estava para desferir. — Está certo, Brett. Acontece que as pessoas mudam de ideia, e os indianos parecem ansiosos para ver nossa esquadra pelas costas. Preciso dessas informações. Estou lhe pedindo que acione o embaixador Williams para descobrir o que for possível. Ele é um homem inteligente e confio no seu discernimento. Este é um pedido pessoal de minha parte, mas o presidente pode transformá-lo em uma ordem. O que me diz, senhor secretário? Hanson pesou as alternativas e fez que sim com a cabeça com o máximo de dignidade que pôde aparentar. Ryan acabara de resolver um problema na África que vinha incomodando Roger Durling havia mais de dois anos e por isso estava nas boas graças do presidente. Não era todo dia que um empregado do governo aumentava as chances de reeleição de um presidente.
A suspeita de que a CIA tinha sido responsável pela prisão de Corp já chegara aos meios de comunicação e fora desmentida apenas para constar por um porta-voz da Casa Branca. Não era a maneira mais correta de conduzir a política externa, mas era uma maneira que agradava ao público.
— Vamos falar da Rússia — disse Ryan em seguida, encerrando uma discussão e começando outra.
O engenheiro do complexo espacial de Yoshinobu sabia que não era o primeiro homem a refletir sobre a beleza do mal. Certamente não em seu país, no qual a paixão pelo artesanato provavelmente começara com a atenção dedicada às espadas, as katanas de um metro de comprimento dos samurais. Para fabricar esse tipo de espada, o aço era martelado, dobrado, martelado novamente e dobrado novamente vinte vezes, em um processo de laminação através do qual um milhão de camadas de aço se formavam a partir da peça original. O método exigia uma paciência quase infinita por parte do futuro proprietário, forçado a aguardar por um longo tempo até que sua arma ficasse pronta, exibindo uma resignação não muito condizente com aquele período histórico. Entretanto, não havia outra maneira, porque o samurai precisava da sua espada e apenas o mestre artesão era capaz de fabricá-la.
Hoje em dia, porém, as coisas eram diferentes. O samurai moderno — se é que se podia chamá-lo assim — usava telefone celular e exigia resultados imediatos. Bem, ele teria de esperar, pensou o engenheiro, olhando para o objeto que tinha diante dos olhos.
Na verdade, o objeto era falso, mas o engenheiro não podia deixar de admirar a perfeição da falsificação e a beleza de todo o projeto. Os conectores laterais não passavam de imitações, mas apenas seis funcionários sabiam disso, e o engenheiro foi o último deles a descer a escada que ligava o último andar da torre de lançamento ao nível imediatamente abaixo. Dali, usou o elevador para chegar à base de concreto, onde um ônibus esperava para levá-lo à casamata de controle. Depois de entrar no ônibus, o engenheiro tirou o capacete de plástico branco e começou a relaxar. Dez minutos depois, estava sentado em uma confortável cadeira giratória, bebendo chá. Sua presença ali e na torre de lançamento não era realmente necessária, mas quando se constrói alguma coisa, tem-se vontade de acompanhá-la até o fim, e, além disso, Yamata-san teria insistido.
O foguete lançador H-I 1 era um novo modelo. Aquele seria apenas o segundo teste. Ele se baseava na tecnologia russa, em um dos últimos projetos de míssil balístico intercontinental que os russos tinham desenvolvido antes que a União Soviética deixasse de existir, e Yamata-san conseguira comprar o projeto por uma ninharia (embora tivesse de pagar em dólares, avista), passando em seguida todos os planos e dados ao seu pessoal técnico para serem adaptados e melhorados. Tinha sido uma tarefa relativamente simples. O uso de um aço mais resistente na carcaça e equipamentos eletrônicos de última geração no sistema de controle haviam economizado quase 1.200 quilogramas, e a substituição do combustível líquido por um composto mais avançado levara a um aumento teórico do empuxo do motor da ordem de 17%. Uma realização e tanto para a equipe de projeto, suficiente para atrair o interesse dos engenheiros americanos da NASA, três dos quais se encontravam ali na casamata, como observadores. Não era irônico? A contagem regressiva transcorreu sem novidades. O guindaste móvel foi retirado. Holofotes iluminavam o foguete, que se equilibrava na plataforma de concreto como um monumento... mas não do tipo que os americanos imaginavam.
— Não esperava que o pacote de instrumentos fosse tão grande — comentou um dos observadores da NASA.
— Queremos ter certeza de que estaremos em condições de lançar um satélite de grande porte — explicou um dos engenheiros japoneses.
— Bem, lá vamos nós...
A ignição do motor fez com que as imagens dos monitores de TV ficassem superexpostas por um momento, até que os circuitos eletrônicos compensassem automaticamente o aumento de luminosidade. O foguete H-l 1 saltou literalmente da plataforma, seguido por uma coluna de fogo e deixando uma trilha de fumaça.
— O que vocês fizeram com o combustível? — perguntou o engenheiro da NASA, surpreso.
— Melhoramos a química — respondeu o japonês, que, em vez de olhar para a tela, se concentrava em um painel de indicadores. — Usamos um controle de qualidade mais eficiente. Aumentamos a pureza do oxidante.
— Os russos nunca foram muito bons nessa parte — concordou o americano.
Ele está olhando mas não vê, disseram a si mesmos os dois engenheiros. Yamata-san estava certo. Era espantoso.
Câmaras controladas pelo radar acompanharam a trajetória do foguete no céu sem nuvens. O H-ll subiu verticalmente durante os primeiros trezentos metros e depois descreveu uma curva suave, elegante, enquanto sua imagem se reduzia a um ponto amarelo-claro. A trajetória de voo tornou-se cada vez mais horizontal, até que o foguete estava viajando quase paralelamente ao solo.
— BECO — murmurou o homem da NASA, exatamente no momento apropriado. BECO significava booster-engine cut off, a separação do foguete auxiliar, porque estava pensando em termos de um veículo lançador de satélites. — Separação... ignição do segundo estágio...
Acertara em cheio. Uma das câmaras mostrou a queda do primeiro estágio, ainda brilhando com a queima do combustível residual quando caiu no mar.
— Pretendem recuperá-lo? — perguntou o americano.
— Não.
Quando o contato visual foi perdido, todas as cabeças voltaram-se para os equipamentos de telemetria. O foguete ainda estava acelerando, exatamente no curso previsto, rumando para sudeste. Vários mostradores eletrônicos exibiam o progresso do H-ll, tanto de forma gráfica como numérica.
— A trajetória está um pouco alta, não está? Optamos por uma órbita muito excêntrica — explicou o gerente do projeto. — Assim, o tempo de vida do satélite será de apenas algumas semanas, apenas o tempo suficiente para verificarmos se os cálculos estão corretos. Já existe lixo suficiente lá em cima.
— Tem razão. Aqueles detritos em órbita acabarão colocando em risco nossas missões tripuladas. — O homem da NASA hesitou por um momento antes de fazer uma pergunta delicada: — Qual é a carga útil? — Cinco toneladas, aproximadamente.
O engenheiro da NASA assoviou.
— Tudo isso? — Quatro mil e quinhentos quilos era o número mágico. Se você era capaz de colocar uma massa dessa ordem em órbita de baixa altitude, estava em condições de lançar satélites geossíncronos de comunicações. Quatro mil e quinhentos quilos correspondiam ao peso do satélite mais o estágio necessário para atingir a altitude na qual o satélite permaneceria estacionário em relação à Terra. — Qual é o empuxo do terceiro estágio? Essa informação é confidencial — respondeu o japonês, com um sorriso.
— Bem, daqui a noventa segundos vamos ficar sabendo — replicou o americano, olhando para o painel de instrumentos.
Seria possível que os japoneses tivessem desenvolvido algo de novo? Não era provável, mas, na dúvida, a NASA estava com uma câmara de observação acompanhando o H-l 1. Os japoneses não sabiam disso, é claro.
A NASA dispunha de instalações de rastreamento no mundo inteiro para acompanhar as atividades espaciais americanas e também de outras nações.
As estações da ilha de Johnston e do atol de Kwajalein tinham sido montadas originalmente como parte do projeto Guerra nas Estrelas e para observar os lançamentos de mísseis soviéticos.
A câmara de rastreamento da ilha de Johnston se chamava Bola Âmbar. Os seis técnicos que a operavam não tiveram dificuldade para localizar o H-l 1, depois de serem alertados a respeito do lançamento por um satélite do Departamento de Defesa, que também tinha sido projetado e lançado para observar os testes dos mísseis soviéticos. Uma coisa do passado remoto, disseram para si mesmos.
— Parece mesmo um 19 — comentou o chefe da equipe, fazendo com que todos concordassem com a cabeça.
— A trajetória também confere — observou outro técnico, depois de verificar o curso e a distância.
O segundo estágio foi ejetado. O terceiro estágio e a carga útil estão em trajetória balística... parece que eles ligaram o terceiro estágio... epa! A tela ficou vazia.
— Sinal perdido, sinal de telemetria perdido! — exclamou uma voz no alto-falante do centro de controle.
O engenheiro-chefe dos japoneses resmungou alguma coisa que soou como um palavrão para o representante da NASA, cujos olhos procuraram os indicadores do painel. Perda de sinal momentos após a ignição do terceiro estágio. Isso só podia querer dizer uma coisa.
— Já passamos por isso mais de uma vez — declarou o americano, como consolo. O problema era que os combustíveis de foguete, especialmente os combustíveis líquidos usados nos estágios finais, eram extremamente explosivos. O que poderia fazê-los explodir? A NASA e os militares dos Estados Unidos tinham passado os últimos quarenta anos tentando responder a essa pergunta.
O engenheiro de armamentos não perdeu a calma, como acontecera com o controlador de voo, o que o observador da NASA a seu lado atribuiu corretamente a puro profissionalismo. Entretanto, o homem da NASA não sabia que ele era um engenheiro de armamentos e que até aquele ponto tudo estava correndo exatamente de acordo com os planos. Os tanques de combustível do terceiro estágio tinham sido preparados para explodir assim que a carga útil fosse ejetada.
A carga útil era um objeto de forma cônica com cento e oitenta centímetros de diâmetro e duzentos e seis centímetros de altura. O objeto era feito de urânio-238, o que seria suficiente para deixar os homens da NASA ao mesmo tempo surpresos e preocupados. Um metal de alta densidade, o urânio também era um excelente refratário, o que queria dizer que resistia muito bem ao calor. O mesmo material fora usado em muitos veículos espaciais americanos, mas nenhum deles fora lançado pela NASA.
Na verdade, objetos de tamanhos e formas muito semelhantes tinham sido instalados nas ogivas das poucas armas estratégicas nucleares de que os Estados Unidos ainda dispunham e estavam desmontando para cumprir um tratado com a Rússia. Mais de trinta anos antes, um engenheiro da AVCO observara que como o urânio-238 constituía um excelente revestimento térmico para proteger as ogivas nucleares dos mísseis balísticos do calor gerado pela reentrada na atmosfera e ao mesmo tempo era necessário como invólucro dos artefatos nucleares, por que não fazer com que a carcaça da ogiva fosse parte integrante da bomba? A ideia fora testada e aprovada; a partir da década de 1960, dispositivos desse tipo tinham sido incorporados ao arsenal estratégico dos Estados Unidos.
A carga útil instalada a bordo do H-l 1 era uma réplica exata de um artefato nuclear, e enquanto a Bola Âmbar e outros dispositivos de rastreamento acompanhavam os restos do terceiro estágio, o cone de urânio caía de volta na terra, sem que as câmaras americanas se interessassem em observá-lo, pois, afinal, era supostamente apenas um pacote de instrumentos que não conseguira atingir a velocidade necessária para entrar em órbita.
Os americanos também não sabiam que o navio Takuyo, que navegava em círculos a meio caminho entre a ilha da Páscoa e o litoral do Peru, não estava pesquisando os cardumes de peixes, como se supunha. Dois quilômetros a leste do Takuyo, flutuava no mar uma balsa de borracha contendo um transmissor de rádio e um localizador GPS. O navio não dispunha de um aparelho de radar capaz de rastrear mísseis balísticos, mas isso não era necessário; tornada incandescente pelo atrito com o ar, a ogiva surgiu como um meteoro no céu da madrugada, bem na hora marcada, deixando um rastro de fogo que assustou os tripulantes, embora tivessem sido alertados para o fenômeno. Todas as cabeças voltaram-se rapidamente para acompanhá-la até o ponto de impacto, a apenas duzentos metros da balsa. Os cálculos mostraram mais tarde que o impacto ocorrera a exatamente duzentos e sessenta metros do local programado. Não era um resultado perfeito, e, para decepção de alguns, o erro tinha sido uma ordem de grandeza maior do que para os mísseis americanos de última geração, mas, para os fins a que se propunha, o teste podia ser considerado plenamente satisfatório. Melhor ainda, a experiência fora realizada sem que ninguém desconfiasse de nada. Momentos depois, a ogiva liberou uma boia inflável, que serviu para mantê-la perto da superfície. Um bote lançado pelo Takuyo já estava a caminho a fim de recolhê-la para que os dados colhidos pelos seus instrumentos pudessem ser analisados.
— Vai ser muito difícil, não é? — perguntou Barbara Linders.
— É verdade — concordou Murray.
Não podia mentir para a moça. Nas últimas duas semanas, tinham ficado bons amigos. Mais próximos, na verdade, do que a Sra. Linders se sentia com sua analista. Durante aquele período, discutiram todos os aspectos da agressão mais de dez vezes, gravando em fita cada palavra, preparando transcrições das gravações, verificando todos os fatos, até a cor dos móveis e do carpete do escritório do ex-senador. Houve algumas discrepâncias, mas todas sem importância. A essência do caso não tinha sido afetada. Nada disso, porém, mudava o fato de que seria muito difícil.
Murray fora encarregado do caso, agindo como representante pessoal do diretor, Bill Shaw. Murray comandava uma equipe de vinte e oito agentes, dois dos quais inspetores e quase todos os outros homens experientes na faixa dos quarenta, escolhidos por sua competência (havia também meia dúzia de jovens agentes para fazer pequenos serviços). O próximo passo seria uma entrevista com um procurador da Justiça. Já haviam escolhido a pessoa: Anne Cooper, vinte e nove anos, formada em direito pela Universidade de Indiana, especialista em casos de agressão sexual. Uma mulher elegante, alta, negra e fervorosamente feminista, para ela o nome do réu não teria a menor importância em um caso como aquele.
Era a parte fácil.
Depois viria a parte difícil. O “réu” em questão era o vice-presidente dos Estados Unidos, e a Constituição dizia que ele não podia ser tratado como um cidadão comum. No seu caso, o “grande júri” seria a Comissão de Justiça da Câmara de Deputados. Oficialmente, Anne Cooper trabalharia em cooperação com o presidente e os membros da comissão, embora na prática ela fosse a responsável pelo processo; a “ajuda” da comissão se limitaria a algumas aparições públicas e ao vazamento de informações para a imprensa.
A tempestade começaria, explicou Murray, quando o presidente da comissão fosse informado a respeito do problema. As acusações logo viriam a público; a dimensão política tornava isso inevitável. O vice-presidente Edward J. Kealty negaria com veemência todas as acusações, e seus advogados começariam a investigar a vida de Barbara Linders. Descobririam as coisas que Murray já ouvira diretamente dos lábios da moça, muitas delas desagradáveis, e o público não seria informado, a princípio, de que as vítimas de estupro, especialmente as que não denunciavam o agressor, sofriam uma profunda perda da autoestima, frequentemente acompanhada por desvios do comportamento sexual. (Agindo sob a impressão de que a atividade sexual era a única coisa que os homens esperavam dela, a vítima se tornava promíscua, em uma busca frustrada de autoafirmação.) Barbara Linders passara por esse processo: tratamentos contra a depressão, meia dúzia de empregos, dois abortos. O fato de que tudo aquilo era consequência do ataque que sofrera, e não uma indicação de irresponsabilidade, tinha de ser demonstrado perante a comissão, porque uma vez que os fatos viessem a público, ela não teria como se defender, não poderia falar abertamente, enquanto os advogados e investigadores do outro lado teriam todas as oportunidades para atacá-la de forma tão covarde e cruel quanto Ed Kealty, só que em público. A imprensa estava ali para isso.
— Não é justo — declarou a moça, no final.
— Barbara, você está enganada. Não só é justo, como necessário — explicou Murray. — Sabe por quê? Porque quando pedirmos o impeachment daquele filho da mãe, não haverá nenhuma dúvida quanto à sua culpa. O julgamento pelo Senado será mera formalidade. Depois que perder o cargo, poderemos colocá-lo diante de um júri de verdade e será condenado como criminoso que é. Vai ser duro para você, mas quando ele for para a cadeia, vai ser ainda mais duro para ele. E assim que o sistema funciona. Não é perfeito, mas é o melhor que temos. Quando estiver tudo terminado, Barbara, terá sua dignidade de volta, e ninguém jamais poderá tirá-la novamente de você.
— Tem razão. Chega de fugir, Sr. Murray.
A moça mudara muito em duas semanas. Parecia mais forte a cada dia que passava. Murray imaginou se continuaria assim durante o julgamento.
— Por favor, chame-me de Dan. E assim que meus amigos me chamam.
— O que foi que você não quis dizer em frente de Brett?
— Temos um agente no Japão... — começou a Sra. Foley, sem mencionar o nome de Chet Nomuri. A explicação levou alguns minutos.
Ryan não estava propriamente surpreso. Ele mesmo dera a ideia alguns anos antes, ali na Casa Branca, ao então presidente Fowler. Muitos altos funcionários do Executivo pediam demissão e imediatamente começavam a trabalhar como lobistas ou consultores de empresas japonesas, ou mesmo do governo japonês, por um salário muito maior do que o anterior. Isso deixava Ryan preocupado. Embora não fosse propriamente ilegal, podia ser considerado no mínimo pouco ético. Entretanto, havia mais. Ninguém muda de emprego e passa a receber imediatamente um salário dez vezes maior. Tinha de haver um processo de aliciamento, durante o qual o funcionário em questão seria instado a demonstrar sua utilidade. Acontece que a única forma de fazê-lo seria passar informações sigilosas aos futuros patrões, enquanto ainda se encontrava a serviço do governo americano. E isso era espionagem, um crime previsto no Capítulo 18 do Código Penal.
A CIA e o FBI haviam montado uma operação conjunta para investigar o assunto, cujo nome de código era Operação SÂNDALO. Era aí que entrava Nomuri.
— O que conseguimos apurar até o momento?
— Nada de importante — respondeu Mary Pat — Mas descobrimos algumas coisas interessantes sobre Horoshi Goto. Ele não é propriamente um santo.
Contou o que sabia a respeito do político.
— Ele não gosta muito de nós, não é? Exceto quando são americanas jovens e bonitas, ao que parece.
— Não é alguma coisa que a gente possa usar facilmente — observou Ryan, recostando-se no assento. Sentia-se em uma posição desconfortável, especialmente porque sua filha mais velha estava na época de começar os namoros, coisa que os pais sempre tinham dificuldade para aceitar. — Existem muitos pecadores neste mundo, MP, e não podemos salvar a todos — afirmou, sem muita convicção.
— Alguma coisa cheira mal neste caso, Jack.
— Por que diz isso? Não sei. Talvez por Goto estar sendo aparentemente tão irresponsável. Daqui a algumas semanas, o cara pode ser o novo primeiro-ministro; conta com um apoio considerável no zaibatsu. O governo atual está enfraquecido. Devia estar bancando o estadista, e não o garanhão. Exibir a moça daquela forma...
— Outra cultura, outros costumes. — Ryan cometeu o erro de fechar por um momento os olhos cansados, e ao fazê-lo sua imaginação mostrou uma imagem que correspondia à descrição da Sra. Foley. Ela é uma cidadã americana, Jack. São pessoas como ela que pagam seu salário. Abriu os olhos.
— Confia no seu agente? E muito inteligente. Faz seis meses que está no Japão.
— Ele já recrutou alguém?
— Não, recebeu ordens para ir com calma. No Japão, isso é necessário. As regras daquela sociedade são diferentes das nossas. Mas já identificou alguns possíveis candidatos e está trabalhando neles.
— Yamata e Goto... isso não faz sentido! Yamata acaba de assumir o controle de um grupo da Street, o Columbus Group, que pertencia a George Winston. Conheço George pessoalmente.
— Um grupo de firmas de investimentos?
— Isso mesmo. George colocou-as à venda e Yamata resolveu comprá-las. Estamos falando de muito dinheiro, MP. Cem milhões de dólares, no mínimo. Agora você me diz que um político conhecido pelas suas posições contrárias aos Estados Unidos é amigo de um industrial que acaba de aderir ao nosso sistema... Quem sabe Yamata está apenas tentando explicar ao sujeito as verdades da vida?
— O que sabe sobre o Sr. Yamata? A pergunta pegou Jack de surpresa.
— Eu? Quase nada. Para mim, é apenas um nome. Sei que dirige um grande conglomerado de empresas. Ele é uma das pessoas que você está investigando?
— É, sim.
Ryan dirigiu-lhe um sorriso irônico.
— MP, tem certeza de que as coisas já estão suficientemente complicadas? Ou acha melhor acrescentar mais uma incógnita?
Em Nevada, os aviadores esperaram que o sol se pusesse atrás das montanhas antes que começar o que pretendiam que fosse um exercício de rotina, embora com algumas modificações de última hora. Os suboficiais do exército eram todos homens experientes, mas mesmo assim estavam empolgados com a primeira visita oficial à “Terra dos Sonhos”, como o pessoal da Força Aérea chamava as instalações secretas de Groom Lake. Ali eram testadas as aeronaves “invisíveis”; a região estava coalhada de sistemas de radar e outros dispositivos para testar até que ponto elas eram realmente invisíveis.
Quando finalmente escureceu, os pilotos decolaram para o teste daquela noite. A missão consistiria em voar até Nellis, executar um ataque simulado e voltar a Groom Lake, tudo isso sem serem detectados. Não seria fácil.
Jackson, usando seu capacete do J-3, estava observando a inclusão mais recente à frota de aeronaves invisíveis da Força Aérea. O Comanche poderia ter algumas aplicações interessantes, especialmente no setor de operações especiais, ao qual o Pentágono parecia atribuir importância cada vez maior.
Ouvira dizer que aqueles exercícios de treinamento eram um espetáculo digno de ser assistido, e estava ali para verificar se era verdade...
— Fogo, fogo, fogo! — disse o copiloto pelo canal reservado, noventa minutos depois. Em seguida, comentou com o piloto, através do intercomunicador: — Cara, que vista linda! A Base Aérea de Nellis abrigava o maior grupo de caças da Força Aérea, aos quais naquela noite tinham ido se juntar duas esquadrilhas visitantes que participavam da operação Bandeira Vermelha. Assim, o Comanche dispunha de mais de cem alvos para o canhão de vinte milímetros, e apontou sucessivamente a arma para várias filas de aviões. As luzes dos cassinos de Las Vegas eram visíveis a distância quando ele completou a manobra, deixando o caminho livre para os outros dois Comanches e voltando a uma altitude de quinze metros antes de tomar o rumo nordeste.
— Fomos apanhados de novo. Alguém continua nos rastreando — informou o copiloto.
— O suficiente para nos derrubar? Estão tentando, mas... minha nossa! Um caça F-15C passou por cima deles, tão perto, que a turbulência fez o Comanche sacudir um pouco. Uma voz se fez ouvir no canal reservado.
— Se eu estivesse pilotando um E, vocês estariam fritos.
— Ainda bem que não está. Vejo você em terra.
— Entendido. Desligo.
O caça afastou-se, balançando as asas em sinal de despedida.
— Sandy, temos boas e más notícias — comentou o copiloto.
Invisíveis, mas não o suficiente. Os dispositivos antidetecção instalados no Comanche eram suficientes para enganar os mísseis dirigidos pelo radar, mas aqueles malditos aviões com suas grandes antenas e sofisticados sistemas eletrônicos continuavam recebendo sinais, provavelmente originários do rotor, pensou o piloto. Precisavam melhorar aquela parte da aeronave. A boa nova era que o F-15C não era capaz de derrubá-los com os mísseis guiados pelo radar, e usar um míssil rastreador de calor seria perda de tempo, mesmo no ar frio do deserto. Entretanto, o F-15E, que dispunha de equipamento de visão noturna, poderia abatê-los com seu canhão de vinte milímetros. Era algo para ser lembrado. Nada no mundo era perfeito, mas, assim mesmo, o Comanche era o helicóptero mais sofisticado jamais construído.
O suboficial Sandy Richter olhou para cima. No ar frio e seco do deserto, podia ver os pontinhos brilhantes que eram os satélites E-3A. Não estavam muito longe. Uns nove mil quilômetros, calculou. Foi então que uma ideia interessante lhe ocorreu. Aquele cara da Marinha parecia uma pessoa esclarecida. Talvez, se soubesse apresentar seus planos a ele, tivesse uma oportunidade de colocá-los em prática...
— Estou ficando cansado de tudo isso — estava dizendo o presidente Durling em seu escritório, que ficava diagonalmente oposto ao de Ryan, na Ala Oeste. Os primeiros dois anos tinham sido tranquilos, mas fazia alguns meses que nada parecia dar certo. — O que foi agora? Tanques de gasolina — respondeu Marty Caplan. — A Deerfield Autopeças, de Massachusetts, desenvolveu um método para fabricar tanques de praticamente qualquer forma e capacidade a partir de chapas comuns de aço. É um processo robotizado, extremamente eficiente. Eles se recusam a cedê-lo aos japoneses...
— Fica no distrito de Al Trent? — interrompeu o presidente.
— Fica.
— Desculpe. Continue, por favor. — Durling bebeu um pouco de chá.
O excesso de café começara a fazer mal ao seu estômago. — Qual o motivo da recusa? E uma das empresas que quase foram à falência por causa da competição dos japoneses. Esta conservou a antiga equipe administrativa. Eles enxugaram os quadros, contrataram alguns engenheiros jovens e brilhantes e arregaçaram as mangas. Acabaram conseguindo meia dúzia de inovações importantes.
— Acontece que esta é a mais importante para aumentar a eficiência do processo. Eles dizem que são capazes de fabricar os tanques, embalá-los, despachá-los para o Japão e vendê-los por um preço menor do que o do produto local. Os tanques também são mais resistentes. Mesmo assim, não conseguimos convencer os japoneses a usá-los nem nos carros que eles fabricam aqui. E uma repetição do caso das placas de computador — concluiu Caplan.
— Como é possível que o custo do frete não...
— É fácil de explicar, senhor presidente. — Foi a vez de Caplan interromper. — Os navios japoneses de transporte de automóveis chegam aqui repletos e voltam quase vazios. O custo do frete de retorno é ridiculamente pequeno. A Deerfield entrega o produto diretamente no cais. Chegou a desenvolver um sistema de carga e descarga que praticamente elimina o tempo de espera.
— Por que vocês não insistiram?
— Não sei por que eles não insistiram — observou Christopher Cook.
Estavam em uma luxuosa mansão a poucos metros da Kalorama Road.
Aquele bairro chique do Distrito de Columbia abrigava muitos diplomatas, além de funcionários do governo, lobistas, advogados e todos os que queriam estar perto, mas não demais, do lugar onde as coisas aconteciam, isto é, o centro da cidade.
Se a Deerfield pelo menos concordasse em ceder o direito de uso da patente... — suspirou Seiji. — Nossa oferta foi bastante razoável.
E verdade — concordou Cook, tornando a encher a taça de vinho branco. Poderia ter dito: Seiji, foram eles que inventaram o processo e têm direito de valorizá-lo ao máximo, mas não disse. — Por que vocês também não...
Foi a vez de Seiji Nagumo suspirar.
— Eles foram muito espertos. Contrataram um advogado particularmente esperto no Japão e conseguiram registrar a patente em tempo recorde.
— Poderia ter acrescentado que o fato de um dos seus compatriotas ser tão mercenário o deixava envergonhado, mas isso teria sido de mau gosto nas circunstâncias. — Talvez eles acabem se mostrando razoáveis.
— Seiji, acho que seria mais prudente vocês recuarem. Pelo menos, poderiam oferecer mais pela cessão de direitos.
— Por que, Chris?
— Porque o presidente se interessou pessoalmente pelo caso. — Cork fez uma pausa, percebendo que Nagumo não sabia aonde pretendia chegar. Ele podia conhecer muito bem o lado industrial da questão, mas ainda tinha muito que aprender em matéria de política.
— A sede da Deerfield fica no distrito eleitoral de Al Trent. Ele tem muita influência no Congresso. E presidente da Comissão de Inteligência.
— E daí?
— Daí que o presidente não gostaria de desagradá-lo.
Nagumo pensou no assunto por um minuto, bebendo o vinho e olhando pela janela. Se soubesse disso, poderia ter pedido permissão para concordar com os americanos, mas não sabia e por isso insistira na sua posição. Recuar agora seria admitir que errara, algo que, como era natural, desagradava profundamente ao japonês. Decidiu que, em vez disso, recomendaria que a oferta pelos direitos de uso do processo fosse aumentada, sem saber que, para não passar por uma humilhação, estava contribuindo para uma situação que daria tudo no mundo para evitar.
5
TEORIA DA COMPLEXIDADE
As coisas raramente acontecem por uma única razão. Até mesmo os manipuladores mais espertos e habilidosos reconhecem que sua verdadeira arte está em fazerem uso do que não podem prever. Para Raizo Yamata, essa ideia muitas vezes servia de consolo. Em geral ele sabia como lidar com acontecimentos inesperados... mas nem sempre.
— Foram tempos difíceis, é verdade, mas já passamos por situações piores — estava dizendo um dos convidados. — E agora as coisas estão melhorando, não estão? Eles tiveram que recuar no caso das placas de computador — observou outro convidado, fazendo com que a maioria dos homens reunidos em torno da mesa baixa concordasse com a cabeça.
Eles não estavam entendendo, pensou Yamata consigo mesmo. As necessidades do país coincidiam exatamente com uma nova oportunidade.
Havia um novo mundo lá fora, e apesar das repetidas declarações dos americanos de que haveria uma nova ordem no novo mundo, apenas a desordem substituíra três gerações de... se não estabilidade, pelo menos previsibilidade. A simetria entre Leste e Oeste estava agora tão distante na história que parecia um sonho remoto e desagradável. Os russos ainda colhiam as consequências de uma experiência funesta, e o mesmo acontecia com os americanos, embora a maior parte dos seus sofrimentos fosse autoinfligida e tivesse ocorrido, ironicamente, depois que o equilíbrio se rompera. Em vez de conservarem o antigo poderio, os americanos, como já haviam feito outras vezes na história, tinham abdicado dele no momento em que sua supremacia era maior; era no declínio das duas antigas superpotências que estava a oportunidade para uma nação que merecia ser grande.
— Esses são apenas pequenos detalhes, meus amigos — afirmou Yamata, inclinando-se para a frente a fim de encher os cálices. — Nossa fraqueza é estrutural e não mudou nada nos últimos cem anos.
— Explique o que quer dizer, Raizo-chan — sugeriu um dos convivas mais amistosos.
— Enquanto não tivermos acesso direto aos recursos, enquanto não pudermos controlar esse acesso, enquanto funcionarmos apenas como comerciantes, continuaremos vulneráveis.
— Ah! — Do outro lado da mesa, um homem levantou a mão em sinal de discordância. — Eu não penso assim. Somos muito bons no que realmente é importante.
— O que é realmente importante? — perguntou Yamata.
— Acima de tudo, a diligência dos nossos operários, a capacidade dos nossos projetistas... — a ladainha continuou, enquanto Yamata e os outros escutavam educadamente.
— De que adianta tudo isso se não tivermos matéria-prima para nossos produtos, energia para nossas fábricas? — perguntou um dos aliados de Yamata.
— Está sugerindo que estamos de volta a mil novecentos e quarenta e um?
— Não, não é a mesma coisa... mas o espírito é o mesmo — afirmou Yamata, entrando de novo na conversa. — Naquela época, deixaram-nos sem petróleo porque eram eles que nos abasteciam. Hoje em dia, usam meios mais sutis. Naquela época, tiveram que se apropriar de nossas divisas para evitar que as gastássemos em outros mercados, certo? Hoje, desvalorizam o dólar em relação ao iene e nossas divisas ficam efetivamente retidas, não ficam? Hoje, eles nos convencem a investir no país deles e se queixam quando o fazemos. Não perdem nenhuma oportunidade para nos enganar. Quando nos vendem uma propriedade, ficam com o dinheiro e acabam tomando de volta o que nos venderam!
Os murmúrios de aprovação foram gerais, pois todos os presentes tinham passado por uma experiência semelhante. Aquele ali, pensou Yamata, havia comprado o Rockefeller Center, em Nova York, pagando o dobro do que realmente valia, mesmo naquele mercado imobiliário artificialmente inflacionado, graças às artimanhas dos corretores americanos. Em seguida, o iene valorizara-se em relação ao dólar, o que significava que o dólar valia menos do que na ocasião da compra. Se tentasse vender agora, todos sabiam, teria um enorme prejuízo. Primeiro, o mercado imobiliário em Nova York estava em baixa; em segundo lugar, e como consequência, os prédios valiam apenas metade da quantia em dólares que pagara por eles; terceiro, os dólares valiam apenas metade do que valiam em ienes na data da transação. Ele teria sorte se conseguisse recuperar metade do capital investido. Na verdade, o aluguel que estava recebendo mal cobria os juros da dívida.
Aquele outro, pensou Yamata, comprara um grande estúdio de cinema, no que fora imitado por um rival que estava sentado do outro lado da mesa. Raizo sentiu vontade de rir. O que os dois haviam adquirido? Isso era fácil de responder. Em ambos os casos, por um preço de bilhões de dólares, tinham comprado trezentos e poucos hectares de terra em Los Angeles e um pedaço de papel que os autorizava a fazer filmes. Em ambos os casos, os ex-proprietários tinham recebido o dinheiro e começado a rir, e em ambos os casos os ex-proprietários tinham mais tarde se oferecido discretamente para comprar o estúdio de volta por menos de um quarto do que os japoneses tinham pagado por ele, apenas o suficiente para saldar a dívida pendente, nem um iene a mais.
A lista era interminável. Toda vez que uma firma japonesa conseguia lucrar nos Estados Unidos e tentava reinvestir o dinheiro nos Estados Unidos, os americanos queixavam-se de que os japoneses estavam querendo roubar o país. Em seguida, aumentavam os impostos. Depois, o governo formulava uma política destinada a assegurar que os japoneses tivessem um prejuízo certo, para que os americanos pudessem comprar tudo de volta a preços aviltados, queixando-se o tempo todo de que os preços estavam muito altos. Os Estados Unidos se congratulavam por haver recuperado o controle da sua cultura, quando na realidade estavam realizando o roubo mais escandaloso da história.
— Vocês não entendem? Eles estão tentando acabar conosco, e estão conseguindo — afirmou Yamata, em tom calmo e controlado.
Era o clássico paradoxo do mundo dos negócios que todos conhecem mas quase sempre esquecem. Havia até mesmo uma máxima simples para descrevê-lo: se você pedir um dólar emprestado, ficará nas mãos do banco; se pedir um milhão de dólares, o banco ficará nas suas mãos. O Japão investira no mercado automobilístico americano, por exemplo, em uma ocasião na qual a indústria americana, acostumada a contar com uma clientela rica e cativa, estava aumentando os preços e se descuidando da qualidade, enquanto os operários sindicalizados se queixavam dos aspectos desumanizantes do seu trabalho, embora recebessem os maiores salários de toda a indústria. Os japoneses tinham entrado no mercado com modelos ainda mais modestos que a Volkswagen, carros pequenos e feios, com um acabamento de terceira e que deixavam muito a desejar em termos de segurança, mas eram superiores aos modelos americanos em um aspecto importante: a economia de combustível.
Três acidentes históricos favoreceram os japoneses. O congresso americano, aborrecido com a “ganância” das companhias de petróleo, que queriam cobrar internamente pelos seus produtos um preço igual ao internacional, impôs um teto para o preço do petróleo cru na saída do poço.
Também congelou o preço da gasolina no valor mais baixo de todo o primeiro mundo, desencorajou novos investimentos em prospecção de petróleo e estimulou Detroit a fabricar veículos grandes, pesados, que consumiam muito combustível. Em 1973, a guerra entre Israel e os países árabes obrigou os motoristas americanos a fazerem fila nos postos de gasolina pela primeira vez em trinta anos, surpreendendo um país que se julgava acima dessas coisas. Foi então que os americanos perceberam que os veículos fabricados em Detroit bebiam gasolina como se fosse água. Os carros “compactos” que os americanos tinham começado a fabricar na década anterior tinham evoluído rapidamente para veículos de porte médio, não mais eficientes do que os primos maiores. Pior ainda: todas as montadoras haviam investido recentemente em fábricas para carros grandes, o que quase levou a Chrysler à falência. O choque do petróleo não durou muito tempo, mas foi suficiente para que os americanos mudassem seus hábitos de consumo, e as empresas não tinham capital nem flexibilidade para atender rapidamente aos novos desejos do público, preocupado com a possibilidade de um novo choque do petróleo.
A consequência foi um aumento imediato nas vendas dos automóveis japoneses, especialmente nos importantes mercados da Costa Oeste, que ajudou a financiar a pesquisa e desenvolvimento de novos modelos pelas firmas japonesas, que também contrataram designers americanos para tornar seus produtos mais atraentes e utilizaram seus próprios engenheiros para melhorar a qualidade e segurança dos veículos. Assim, por ocasião do segundo choque de petróleo, em 1979, a Toyota, a Honda, a Dasun (depois Nissan) e a Subaru estavam no lugar certo com o produto certo. Foi uma época de euforia. O iene estava muito barato em relação ao dólar, o que queria dizer que os japoneses podiam conseguir bons lucros mesmo cobrando preços relativamente baixos. Os revendedores locais podiam se dar ao luxo de cobrar um ágio de mil dólares ou mais para permitir que os americanos comprassem aqueles automóveis maravilhosos. Os japoneses podiam contar, em suma, com um excelente mercado nos Estados Unidos.
O que jamais ocorrera aos homens que estavam ali reunidos, pensou Yamata, era a mesma coisa que também não ocorrera aos executivos da General Motors e aos líderes sindicais da indústria automobilística americana antes das crises do petróleo. Os dois grupos tinham suposto que a situação favorável duraria para sempre. Os dois grupos tinham se esquecido de que não existe nenhum Direito Divino dos Homens de Negócios, da mesma forma como não existe nenhum Direito Divino dos Reis. O Japão aprendera a explorar uma fraqueza da indústria automobilística americana.
Com o tempo, os Estados Unidos tinham aprendido com seus erros, e assim como as companhias japonesas tinham se aproveitado da arrogância dos americanos, da mesma forma elas quase imediatamente construíram (ou compraram) monumentos à sua própria arrogância. Enquanto isso, as companhias americanas estavam tratando de enxugar drasticamente tudo que era possível, desde os projetos dos automóveis até as folhas de pagamento, porque tinham aprendido a lição no mesmo tempo que os japoneses levaram para esquecê-la. O processo prosseguiu por algum tempo sem ser percebido, especialmente pelos participantes, que não puderam contar com a ajuda dos “analistas” dos meios de comunicação porque estes estavam ocupados demais com as árvores para poderem apreciar a floresta.
Para complicar as coisas, o câmbio mudou, como não podia deixar de mudar com tanto dinheiro fluindo em um único sentido, mas, da mesma forma como Detroit tinha sido incapaz de antever os problemas do início da década de 1980, os industriais japoneses não perceberam a tempestade que se aproximava. O iene valorizou-se em relação ao dólar, apesar de todos os esforços do banco central japonês para sustentar a moeda americana. Com essa valorização, boa parte da margem de lucro das empresas japonesas esvaiu-se. Além disso, o valor das propriedades que os japoneses tinham comprado nos Estados Unidos caiu tanto, que elas passaram a ser consideradas como investimentos deficitários. De qualquer forma, teria sido impossível transportar o Rockefeller Center para Tóquio. Tinha que ser assim. Yamata estava certo disso, mesmo que os companheiros não concordassem. O mundo dos negócios funcionava em ciclos, como uma onda; ninguém sabia como evitar que esses ciclos acontecessem.
O Japão era ainda mais vulnerável, já que, por servir ao mercado americano, a indústria japonesa era na verdade parte da economia americana e estava sujeita a todas as suas flutuações. Os americanos não permaneceriam indefinidamente mais tolos do que os japoneses; com a volta à sanidade, voltariam a usar seu poder e seus recursos naturais em toda a plenitude, e a oportunidade de Yamata estaria perdida para sempre. A oportunidade do Japão, também, pensou Yamata consigo mesmo. Isso também era importante, mas não era o que fazia seus olhos faiscarem.
O Japão jamais ocuparia um lugar de destaque enquanto seus líderes (não os do governo, mas os que estavam reunidos em torno daquela mesa) não compreendessem onde estava a grandeza de um país. A capacidade industrial não era tudo. O simples ato de cortar o suprimento de matérias-primas poderia paralisar todas as indústrias do país, e a diligência e capacidade dos operários japoneses não teriam mais influência sobre a situação do que um haiku de Buson. Uma nação era grande por causa do poder, e o poder do Japão era tão artificial quanto um poema. Mais ainda: a grandeza nacional não era algo concedido, mas algo conquistado; precisava ser reconhecida por outra grande nação (ou mais de uma) que tivesse recebido uma lição de humildade. A grandeza não era resultado de uma única qualidade nacional, mas de várias. Podia ser considerada como a autossuficiência em todos os setores... bem, no maior número possível de setores. Os companheiros tinham de compreender isso para começar a agir em seu próprio benefício e no da nação a que pertenciam. Era dever de Yamata fazer tudo que pudesse para engrandecer seu país e humilhar os países rivais, catalisar a energia dos colegas em benefício da pátria.
Entretanto, ainda não chegara a hora. Isso lhe parecia claro. Tinha muitos aliados, mas também muitos adversários, e os adversários eram difíceis de persuadir. Aceitavam alguns dos seus argumentos, mas não todos, e até que mudassem a maneira de pensar, não poderia fazer mais do que estava fazendo no momento, oferecendo conselhos, preparando o terreno.
Yamata-san era um homem de extrema paciência; sorriu educadamente e rangeu os dentes com a frustração do momento.
— Sabe de uma coisa? Acho que estou começando a pegar o jeito, declarou Ryan, sentando-se no sofá de couro à esquerda do presidente.
— Eu disse isso uma vez — observou Durling. — Custou-me um aumento de três décimos de um por cento na taxa de desemprego, uma briga com a Comissão de Meios da Câmara e uma queda de dez por cento no meu índice de popularidade. — Embora o tom de voz fosse grave, dissera isso sorrindo.
— O que houve de tão importante para você interromper meu almoço?
Jack foi direto ao assunto, embora a notícia fosse suficientemente importante para merecer um pouco de teatro: — Conseguimos um acordo com os russos e ucranianos a respeito dos últimos pássaros.
— A partir de quando? — perguntou Durling, inclinando-se para a frente e esquecendo a salada.
— O que me diz de segunda-feira que vem? — perguntou Ryan, com um sorriso vitorioso. — Aceitaram a proposta de Scott. Estão tão cansados das negociações para a limitação de armas estratégicas quanto nós. O que eles mais querem é acabar com os últimos mísseis que restam e esquecer o assunto. Nossos inspetores já estão lá e os deles estão aqui. Desta vez a coisa vai.
— Gostei de saber — afirmou Durling.
— Faz exatamente quarenta anos, chefe — disse Ryan, com entusiasmo.
— Eu era pequeno quando eles instalaram os SS-6 e nós instalamos os Atlas, pássaros muito feios com um objetivo mais feio ainda. Ajudar a acabar com eles... o seu feito vai figurar nos livros de história. Terei orgulho de contar aos meus netos que estava por perto quando isso aconteceu.
O fato de que a proposta de Adler aos russos e ucranianos tinha sido iniciativa de Ryan podia chegar a ser mencionado pela imprensa, mas provavelmente isso não aconteceria.
— Nossos netos não terão a menor ideia do que fizemos, nem vão estar interessados — interpôs Arnie van Damm, secamente.
— É verdade — admitiu Ryan.
Não havia ninguém como Arnie para colocar as coisas em termos realistas.
— Agora conte-me as más notícias — ordenou Durling.
— Isso vai nos custar cinco bilhões — declarou Jack, sem se deixar surpreender pela careta do presidente. — Vale a pena, chefe.
— Diga-me por quê.
— Presidente, desde que me conheço por gente que nosso país tem vivido sob a ameaça de armas nucleares em mísseis balísticos apontados para os Estados Unidos. Em menos de seis semanas, o último deles terá desaparecido.
— Eles já não estão apontados...
— Eu sei. Tanto os nossos como os deles estão apontados para o mar dos Sargaços, mas para mudar isso basta abrir uma janela de inspeção e mudar um circuito impresso do sistema de controle. A operação completa leva apenas dez minutos, desde o momento em que a porta de acesso ao silo é aberta, e requer apenas uma chave de fenda e uma lanterna. Na verdade, essa afirmação estava correta apenas no caso dos mísseis sovié... russos!, corrigiu-se Ryan pela milésima vez. Para os mísseis americanos, a troca de alvo exigiria mais tempo, porque os circuitos de controle eram muito mais sofisticados. Assim eram os caprichos da engenharia.
— Todos desativados, presidente, para sempre! — exclamou Ryan. — Eu sou o militarista aqui, lembra-se? O Congresso vai adorar. Asseguro-lhe que é uma pechincha! Como sempre, você sabe defender seu ponto de vista — observou van Damm.
— Onde é que o Departamento de Administração e Orçamento vai arranjar o dinheiro, Arnie? — perguntou Durling.
— Foi a vez de Ryan se encolher.
— No Departamento de Defesa, é claro.
— Antes de nos entusiasmarmos com a ideia, é bom nos lembrarmos de que já fomos bem longe.
— Quanto vamos economizar se eliminarmos nossos últimos mísseis? — perguntou van Damm.
— Vamos perder dinheiro — respondeu Jack — Já estamos pagando uma fortuna para desmontar os submarinos nucleares, e os ecologistas...
— Aquela gente maravilhosa — observou Durling.
—... mas será uma despesa isolada.
Os olhos voltaram-se para o chefe de gabinete. Seu discernimento político era invejável. O rosto cansado pesou os fatores e voltou-se para Ryan.
— Vale a pena comprar a briga. O Congresso vai contestar — informou ao presidente —, mas daqui a um ano o senhor estará dizendo ao povo americano que acabou com a espada...
—... de Dâmocles — completou Ryan.
—... dos colégios católicos — emendou Arnie, rindo. — A espada que está ameaçando os Estados Unidos há uma geração. Os jornais vão adorar, e aposto que a CNN vai aproveitar para fazer um documentário especial de uma hora, daqueles cheios de imagens bonitas e comentários inexatos.
— Que tal, Jack? — perguntou Durling, com um largo sorriso.
— Presidente, eu não entendo de política, está bem? Não basta que os últimos duzentos mísseis balísticos intercontinentais que existem no mundo estejam sendo desmontados? Não exagere, Jack. Ainda restam os chineses, ingleses e franceses. Entretanto os dois últimos fariam o que os americanos fizessem. Quanto aos chineses poderiam convencê-los a ser razoáveis, recorrendo, se necessário, a pressões comerciais. Afinal, que inimigos restariam para os chineses? — E preciso que as pessoas vejam e compreendam o que está acontecendo, Jack. — Durling voltou-se para van Damm. Ambos ignoraram as preocupações que Jack mal chegara a expressar. — Ponha a assessoria de imprensa para trabalhar no assunto. Vamos fazer a comunicação oficial em Moscou, Jack? Ryan fez que sim com a cabeça.
— Foi esse o trato, chefe.
Tudo começaria com boatos cuidadosamente plantados, que o governo a princípio se recusaria a confirmar. Mensagens sigilosas ao congresso para gerar mais boatos. Telefonemas discretos para as redes de televisão e repórteres de confiança, que estariam nos lugares certos na hora certa (o que era difícil, por causa da diferença de fuso horário de dez horas entre Moscou e as últimas bases de mísseis em território americano) a fim de registrar para a história o final do pesadelo. O processo de eliminação era um pouco complicado, razão pela qual os ecologistas americanos estavam causando problemas. No caso dos pássaros russos, as ogivas seriam removidas, o combustível líquido drenado dos tanques, os componentes eletrônicos valiosos e/ou secretos retirados e em seguida cem quilogramas de altos explosivos seriam usados para demolir a parte superior do silo, antes que ele fosse aterrado. Nos Estados Unidos, teriam de usar um processo diferente, porque os mísseis eram movidos a combustível sólido. Nesse caso, as carcaças dos mísseis seriam transportadas para Utah e abertas nas duas extremidades. Em seguida, os motores seriam ligados, transformando os mísseis nos maiores fogos de artifício do mundo e gerando nuvens de fumaça tóxica que provavelmente acabariam com alguns pássaros selvagens.
Os silos também seriam destruídos por explosões (a despeito de muitos protestos e recursos legais, a justiça decidira que as implicações para a segurança nacional do tratado internacional de desarmamento tinham precedência sobre quatro estatutos de proteção ambiental). A última explosão teria um significado especial, especialmente porque sua força seria aproximadamente igual a um décimo milionésimo do potencial de destruição antes contido no silo. Alguns números, e alguns conceitos, pensou Jack, eram grandes demais para ser apreciados corretamente, mesmo por pessoas como ele.
A história de Dâmocles se referia a um membro da corte do rei Dionísio, da Sicília, que se declarara com inveja do rei. Para lhe dar uma lição à maneira cruel e agressiva dos “grandes” homens, Dionísio chamou o cortesão, Dâmocles, para um magnífico banquete e o fez sentar-se debaixo de uma espada suspensa do teto por um fio de lã. O objetivo era mostrar que a posição do rei era tão instável quanto a segurança do convidado.
O mesmo acontecia com os Estados Unidos. Tudo que o país possuía estava sob a ameaça da espada nuclear, algo que Ryan pudera perceber claramente em Denver não fazia muito tempo. Por essa razão, desde que voltara ao governo, fizera o possível para pôr fim àquela ameaça de uma vez por todas.
— Quer se encarregar de comunicar o acordo à imprensa?
— Com muito prazer, presidente — respondeu Jack, surpreso e agradecido com a súbita demonstração de generosidade por parte de Durling.
— “Campo do Norte”? — perguntou o ministro da Defesa da China. — É um modo interessante de descrever o lugar — acrescentou, secamente.
— Então, o que acham? — quis saber Zhang Han San, que vinha de mais um encontro com Yamata.
— É estrategicamente possível, pelo menos em teoria. Deixo as estimativas econômicas a cargo dos especialistas — respondeu o marechal, sempre cauteloso, apesar da quantidade de mao-tai que consumira naquela noite.
— Os russos contrataram três firmas japonesas de prospecção. É incrível, não acha? A Sibéria Oriental permanece um território praticamente inexplorado. Oh, sim, existem as minas de ouro de Kolyma, mas o interior...
— Fez com a mão um gesto de desdém. — Agora precisam pedir a outros que façam o trabalho para eles... — O ministro interrompeu suas divagações e olhou diretamente para Zhang Han San. — O que foi, afinal, que eles descobriram? — Nossos amigos japoneses? Para começar, reservas de petróleo maiores do que as da baía de Prudhoe. — Passou uma folha de papel ao marechal.
— Aqui estão as jazidas minerais que eles localizaram nos últimos nove meses.
— Tudo isto?
— A região é quase do tamanho da Europa Ocidental, e tudo que os russos fizeram foi construir estradas de ferro. — Que idiotas! — Zhang fez um muxoxo. — Desde que tomaram o poder do czar, a solução dos problemas econômicos estava debaixo dos seus pés. Do ponto de vista de recursos minerais, a Sibéria é tão rica quanto a África do Sul, com a vantagem de possuir petróleo em abundância, coisa que falta aos sul-africanos. Como pode ver, quase todos os minérios estratégicos estão representados, e em grandes quantidades...
— Os russos já sabem?
— Em parte — declarou Zhang Han San. — Seria impossível esconder totalmente descobertas desse vulto, mas apenas metade das jazidas, as que estão assinaladas com uma estrela, chegaram ao conhecimento de Moscou.
— Então eles nada sabem a respeito das outras? Zhang sorriu.
— Exatamente.
Mesmo em uma cultura em que homens e mulheres aprendiam a controlar as emoções, o ministro não conseguiu esconder o contentamento que lhe trouxera o papel que tinha nas mãos. Elas não estavam trêmulas, mas usou-as para colocar a folha em cima da mesa e alisá-la como se fosse um pedaço da mais rica seda.
— Isso poderia duplicar a riqueza do nosso país.
— Está sendo modesto — observou o agente secreto, Zhang, que se fazia passar por diplomata e em geral se saía melhor do que a maioria dos diplomatas de carreira, para desespero destes. — Precisa se lembrar de que esta é a estimativa que nos foi fornecida pelos japoneses, camarada ministro.
— Eles reivindicam metade do que descobrirem, já que serão responsáveis pela maior parte dos investimentos...
... enquanto assumimos a maior parte dos riscos estratégicos — completou o ministro, com um sorriso. — Homenzinhos desagradáveis — acrescentou. Como aqueles com quem Zhang negociara em Tóquio, o ministro e o marechal, que continuava um pouco cético, eram veteranos. Eles também tinham memórias da guerra... mas não da guerra com os Estados Unidos.
O ministro deu de ombros. — O fato é que precisamos deles, não é mesmo?
— Podem nos superar em armamentos, mas não em número de homens — observou o marechal.
— Eles sabem disso — declarou Zhang Han San. — No momento, como diz meu contato, trata-se de uma aliança de conveniência, mas ele espera que se transforme com o tempo em um relacionamento cordial entre dois povos com os mesmos...
— Quem ficará na liderança? — interrompeu o marechal, com um sorriso cínico.
— Eles, naturalmente. Pelo menos, é o que pretendem — acrescentou Zhang Han San.
— Nesse caso, como são eles que estão nos propondo o negócio, vamos esperar que tomem a iniciativa — declarou o ministro, definindo a política a ser seguida pelo país de uma forma que não desagradasse ao seu superior, um homem baixinho com olhos de criança e uma vontade férrea. Olhou para o marechal, que concordou com a cabeça. Sua tolerância ao álcool, pensaram os outros dois simultaneamente, era notável.
— Como eu esperava — anunciou Zhang, com um sorriso. — Na verdade, como eles esperavam, já que pretendem ganhar mais com isso do que nós.
— Eles têm direito de sonhar.
— Admiro a coragem de vocês — observou o engenheiro da NASA, que estava em um balcão para visitantes, observando a oficina. Também admirava a forma como tinham conseguido financiar o projeto. O governo limitara-se a avalizar o dinheiro para que aquele conglomerado industrial adquirisse o projeto soviético e o executasse. A indústria privada era muito forte naquele país, não era? — Acho que descobrimos o que houve de errado com o terceiro estágio.
— Uma válvula defeituosa — explicou o projetista japonês. — Era um projeto soviético.
— Como assim?
— Estou querendo dizer que copiamos as válvulas usadas por eles nos tanques de combustível do terceiro estágio dos seus foguetes, mas o projeto tinha falhas. Eles tentaram economizar o máximo possível de peso, mas...
O representante da NASA franziu a testa.
— Está querendo me dizer que toda a frota de mísseis soviéticos era...
— Isso mesmo. Pelo menos um terço deles teria explodido. Achamos que os mísseis para testes mereciam cuidados especiais, mas a produção normal era, bem, tipicamente russa.
— Hum. — O americano já fizera as malas e um carro estava à espera para levá-lo ao aeroporto de Narita, onde pegaria um longo voo para Chicago. Seus olhos percorreram a oficina lá embaixo. Não era muito diferente da General Dynamics na década de 1960, no auge da Guerra Fria. Os foguetes auxiliares estavam alinhados como salsichas, quinze deles em vários estágios de montagem, lado a lado, enquanto os técnicos de guarda-pó branco realizavam suas complicadas tarefas. — Aqueles dez parecem quase prontos.
— Estão — assegurou-lhe o gerente da fábrica.
— Quando será o próximo teste? Mês que vem. Nossos três primeiros pacotes de instrumentos já estão prontos — respondeu o projetista.
— Quando vocês resolvem fazer alguma coisa, não perdem tempo, não é mesmo?
— É mais eficiente trabalhar assim.
— Então os foguetes vão sair daqui totalmente montados?
— Isso mesmo. Os tanques de combustível estarão pressurizados com gás inerte, é claro, mas uma das vantagens deste projeto é que os foguetes já saem prontos da fábrica.
— Vão ser transportados de caminhão?
— Não. De trem.
— E os pacotes de instrumentos?
— Estão sendo montados em outra fábrica. Infelizmente, o projeto é confidencial.
A outra fábrica não era visitada por estrangeiros. Na verdade, tinha poucos visitantes, apesar de estar localizada nos subúrbios de Tóquio. O cartaz do lado de fora do edifício anunciava tratar-se de um centro de pesquisa e desenvolvimento de uma grande empresa; para os vizinhos, ali eram fabricadas placas para computadores ou coisa semelhante. As linhas de alimentação que entravam na fábrica não tinham nada de extraordinário, já que as unidades que mais consumiam energia elétrica eram os aparelhos de ar condicionado e calefação, localizados em um pequeno anexo nos fundos. O movimento de entrada e saída também era modesto. O estacionamento tinha capacidade para uns oitenta automóveis, mas passava o tempo quase todo com menos da metade das vagas ocupadas. Havia uma discreta cerca de segurança, parecida com a de qualquer outra indústria de pequeno porte, e uma guarita em cada uma das duas entradas. Carros e caminhões iam e viam, e isso era tudo para um observador casual.
Do lado de dentro, porém, as coisas eram bem diferentes. Embora as duas entradas estivessem guarnecidas por homens sorridentes, que forneciam informações com toda a boa vontade a motoristas perdidos, dentro da fábrica a história era outra. As mesas de controle dispunham de compartimentos ocultos que abrigavam pistolas P-38 de fabricação alemã e os guardas tinham cara de poucos amigos. Não sabiam o que estavam guardando, é claro. Os equipamentos eram estranhos demais para ser reconhecidos. Nunca houve um documentário na TV a respeito da fabricação de artefatos nucleares.
A oficina tinha cinquenta metros de comprimento por quinze de largura e havia duas filas de máquinas-ferramentas, envolvidas por gaiolas de plástico, com sistemas de ventilação independentes entre si e do sistema geral de ventilação da oficina. Os técnicos e cientistas usavam luvas e macacões brancos parecidos com os dos operários da indústria de semicondutores; na verdade, quando saíam para fumar, os pedestres julgavam que se tratasse exatamente desse tipo de trabalhadores.
Na sala limpa, hemisférios de plutônio semiacabados chegavam em uma extremidade, eram processados em vários estágios até atingir a forma final e emergiam na outra ponta tão polidos que pareciam feitos de vidro. Cada um deles era então colocado em um suporte de plástico e carregado manualmente até um depósito fora da oficina, onde era depositado em uma prateleira individual feita de aço coberto com plástico. Qualquer contato com peças metálicas tinha de ser evitado a todo custo, porque o plutônio, além de ser radiativo e quente, devido à emissão de partículas alfa, era um metal reativo, pronto para emitir fagulhas se entrasse em contato com outro metal, o que poderia iniciar um incêndio. Na verdade, como o magnésio e o titânio, o metal era extremamente inflamável, e suas chamas, uma vez iniciadas, difíceis de apagar. Apesar de tudo, a manipulação dos hemisférios (havia vinte deles) já se tornara rotina para os engenheiros. Aquela tarefa fora concluída havia muito tempo.
A parte mais difícil eram as carcaças das ogivas, cones ocos de cento e vinte centímetros de altura e cinquenta centímetros de diâmetro na base, feitos de urânio-238, um metal vermelho-escuro e muito pesado. Com mais de quatrocentos quilogramas cada um, os cones tinham de ser perfeitamente simétricos. Como teriam de “voar”, primeiro no vácuo e depois na atmosfera, era preciso que estivessem perfeitamente equilibrados; caso contrário, a trajetória se tornaria instável. Para surpresa de todos, essa parte do projeto revelara-se a mais problemática de todas. O processo de fundição tinha sido reformulado duas vezes, e mesmo assim fazia-se girar periodicamente as carcaças, em um processo semelhante ao do balanceamento de um pneu de automóvel, mas com tolerâncias muito menores. A superfície externa das carcaças, embora lisa, não era tão bem acabada quanto as peças internas, que teriam de ser mantidas no lugar por pequenas saliências simétricas, enquanto o gigantesco fluxo de nêutrons “rápidos” bombardeava a carcaça, provocando uma reação de “fissão rápida” capaz de duplicar o poder explosivo da carga de plutônio, trítio e deutereto de lítio.
Aquela era a parte excelente, pensavam os engenheiros, especialmente aqueles que não conheciam física nuclear e tinham descoberto recentemente como o processo funcionava. O U-238, denso e difícil de usinar, era um refratário tão bom, que os americanos chegavam a usá-lo em blindagens para tanques. O atrito gerado pela reentrada na atmosfera a vinte e sete mil quilômetros por hora seria suficiente para destruir a maioria dos materiais, mas não aquele metal, pelo menos nos poucos segundos que duraria a parte final da viagem. Em seguida, o U-238 serviria para aumentar a potência da bomba. Uma solução elegante, que justificava o tempo e esforço gastos para implementá-la, pensavam os engenheiros, usando uma das palavras mais elogiosas da profissão. Depois de terminadas, as carcaças eram colocadas em um carrinho e levadas para o depósito. Só precisariam completar mais três. Para consternação geral, aquela parte do projeto estava com duas semanas de atraso.
A carcaça número 8 começou a ser usinada. Quando a bomba explodisse, o urânio-238 de que era feita seria responsável pela maior parte da precipitação radiativa. Pelo menos, era o que previam as leis da física.
Foi apenas um acidente, talvez causado pelo fato de ainda ser muito cedo.
Ryan chegou à Casa Branca pouco depois das sete, cerca de vinte minutos antes do normal, porque o tráfego na Estrada 50 estava melhor do que de costume. Em consequência, não tivera tempo de ler no caminho todos os documentos que carregava debaixo do braço quando se encaminhou para a entrada oeste. Conselheiro de Segurança Nacional ou não, Jack tinha de passar pelo detector de metais, e foi ali que esbarrou nas costas de alguém.
Esse alguém estava entregando a pistola de serviço a um agente do Serviço Secreto.
— Vocês ainda não confiam no FBI, hein? — perguntou uma voz familiar ao agente.
— Especialmente no FBI! — foi a resposta bem-humorada.
— E acho que estão muito certos — acrescentou Ryan. — Examine também o tornozelo dele, Mike.
Murray voltou-se depois de passar pelo detector.
— Não preciso mais de uma arma de reserva. — O vice-diretor assistente apontou para os papéis debaixo do braço de Jack. — Isso é maneira de tratar documentos secretos? A brincadeira de Murray tinha sido automática, uma forma de cumprimentar o velho amigo. Ryan viu que o secretário da Justiça acabara de passar e estava olhando para trás com uma certa impaciência. O que fazia ali, àquela hora, um membro do gabinete? Se se tratasse de uma questão de segurança nacional, Ryan teria sido informado, e poucos crimes justificariam uma visita à Casa Branca antes das oito da manhã. Além disso, por que estava acompanhado por Murray? Helen D'Agustino os aguardava mais adiante para levá-los pessoalmente à presença de Durling. Tudo naquele encontro acidental despertou a curiosidade de Ryan.
— O chefe está esperando — explicou Murray, em tom defensivo, notando a expressão de Jack.
— Por que não dá uma passada no meu escritório quando terminar o que tem para fazer? Estou precisando discutir um assunto com você.
— Claro — disse Murray, afastando-se sem ao menos perguntar como estavam Cathy e as crianças.
Ryan passou pelo detector, dobrou à esquerda, subiu a escada, entrou no escritório e acabou de ler os documentos. Estava começando a despachar alguns papéis quando a secretária entrou com Murray. Não havia necessidade de rodeios.
— É um pouco cedo para o S.J. aparecer por aqui, Dan. Alguma coisa que eu precise saber?
Murray sacudiu a cabeça.
— Ainda não. Sinto muito.
— Está certo — respondeu Ryan, mudando logo de tática. — É alguma coisa que eu provavelmente já sei?
— Provavelmente, mas o chefe me pediu para não comentar o assunto, e não tem nada a ver com a segurança nacional. O que você queria discutir comigo? Ryan levou um segundo ou dois para responder, enquanto pensava se valeria a pena insistir. Resolveu deixar o assunto de lado. Sabia que podia confiar na palavra de Murray... quase sempre.
— Isto é assunto sigiloso — começou Jack, antes de repetir o que Mary Pat lhe contara no dia anterior.
O agente do FBI fez que sim e escutou, impassível.
— Não é propriamente novidade, Jack Nos últimos anos, estivemos investigando discretamente vários casos em que jovens americanas foram... seduzidas? É difícil encontrar a palavra certa. As pessoas que as recrutam são muito cautelosas. As moças supostamente viajam para participar de desfiles de modas, trabalhar em comerciais, coisas assim. Algumas chegaram a fazer carreira como modelos. Por outro lado, existem indicações de que outras desapareceram. Uma delas, em particular, corresponde à descrição do seu agente. Ela se chama Kimberly alguma coisa. Não me recordo do sobrenome. O pai é capitão da polícia de Seattle e o vizinho do lado trabalha no nosso escritório em Seattle. Consultamos discretamente nossos contatos com a polícia japonesa, sem nenhum sucesso.
— Em sua opinião, o que aconteceu?
— Escute, Jack, o número de pessoas que desaparecem diariamente neste país é assombroso. Muitas jovens simplesmente fazem as malas e saem de casa para levar a vida. Acontece o tempo todo. Essa Kimberly não-sei-de-quê tem vinte anos, estava indo mal na escola e simplesmente desapareceu. Não há nenhum indício de que tenha sido sequestrada, e com vinte anos já é dona do próprio nariz, certo? Não temos direito de iniciar uma investigação criminal. Está bem, o pai dela é da polícia, o vizinho trabalha no FBI, e por isso andamos fazendo algumas perguntas aqui e ali, mas não conseguimos nenhuma pista sobre o paradeiro da moça e não há mais nada que possamos fazer, a menos que existam indicações de que algum tipo de crime foi cometido, o que não é o caso.
— Quer dizer que quando uma garota de mais de dezoito anos desaparece vocês não podem...
— Não, não podemos, a não ser que haja indícios de que um crime foi cometido. Não temos pessoal suficiente para ir atrás de todos os rapazes e moças que resolvem viver sua própria vida sem pedir licença a papai e mamãe.
— Você não respondeu à minha pergunta inicial, Dan — queixou-se Jack.
— Muitos japoneses gostam de mulheres louras e de olhos grandes. A maioria das moças desaparecidas são louras. Isso não estava claro até que uma agente nossa se lembrou de perguntar às amigas se haviam pintado recentemente o cabelo. A resposta foi afirmativa em tantos casos que passou a fazer a pergunta regularmente. Os resultados não podem ser uma simples coincidência. Sim, acho que alguma coisa pode estar acontecendo, mas não temos elementos suficientes para prosseguir — afirmou Murray. Depois de um momento, acrescentou: — Se o caso tiver implicações para a segurança nacional... bem...
— O que devo fazer? — perguntou Jack.
— Por que não pede à CIA que dê uma olhada? Ryan jamais tinha ouvido um funcionário do FBI recomendar que a CIA investigasse alguma coisa. O Bureau defendia seu território mais ferozmente do que uma ursa defende seus filhotes.
— Continue falando, Dan — pediu.
— Os japoneses têm uma grande indústria de sexo e a pornografia que mais apreciam é a americana. As mulheres que aparecem nuas nas revistas são quase todas brancas. Acontece que o país mais próximo que dispõe desse tipo de mulheres somos nós. Acreditamos que nem todas essas moças sejam apenas modelos, mas, como já disse, ainda tão temos provas suficientes para iniciar uma investigação. — Havia outro problema, que Murray não se deu ao trabalho de mencionar. Se houvesse realmente alguma atividade criminosa em andamento, não estava totalmente certo de que poderia contar com a cooperação das autoridades locais. Por outro lado, se as suspeitas fossem infundadas e o episódio chegasse ao conhecimento dos meios de comunicação, provavelmente seria denunciado como mais um exemplo de preconceito contra os japoneses. — Seja como for, parece que a CIA já tem alguns agentes operando no Japão. Entre em contato com eles. Se quiser, posso colocá-los a par de tudo que sabemos. Não é muito, mas conseguimos algumas fotografias.
— Como sabe tanta coisa?
— Através de Chuck O’Keefe, nosso agente de Seattle. Trabalhamos juntos no passado. Ele me convenceu a falar com Bill Shaw, e Bill me autorizou a fazer uma investigação discreta, mas não levou a parte alguma.
— Vou conversar sobre isso com Mary Pat.
— E o outro assunto?
— Sinto muito, amigo, mas vai ter de perguntar diretamente ao chefe.
Que droga! pensou Ryan, depois que Murray foi embora. Por que vivia cercado de segredos?
6
OLHANDO PARA DENTRO,
OLHANDO PARA FORA
Não era fácil trabalhar no Japão. Uma das razões, é claro, era o problema racial. Ao contrário do que muitos pensavam, a sociedade japonesa não tinha nada de homogênea. Os habitantes originais do país, os ainus, agora viviam quase que exclusivamente em Hokkaido, a ilha mais setentrional do arquipélago. Anda chamados de aborígines, eram mantidos à margem da sociedade japonesa de uma forma explicitamente racista. O Japão também abrigava uma minoria coreana cujos antepassados tinham sido importados na virada do século como mão de obra barata, da mesma forma como os Estados Unidos tinham estimulado a imigração, tanto na costa leste como na costa oeste. Ao contrário do que acontecera na América, o Japão negava direitos de cidadania a esses imigrantes, a menos que assumissem totalmente uma identidade japonesa, o que era estranho, pois os próprios japoneses descendiam dos coreanos, fato comprovado pelos exames de DNA, mas negado com veemência pelos japoneses das classes mais favorecidas. Todos os estrangeiros eram gaijin, um termo que, como a maioria das palavras em japonês, podia ter vários sentidos. Em geral traduzido inofensivamente como “estrangeiros”, o vocábulo tinha outras conotações... como o de ”bárbaros”, pensou Chet Nomuri, com toda a censura implícita associada ao termo inventado pelos gregos. A ironia estava no fato de que, como cidadão americano, ele próprio era um gaijin, apesar de seu sangue ser cem por cento japonês. Embora se ressentisse das políticas racistas do governo americano, que tanto mal tinham feito a sua família, bastou uma semana na terra dos ancestrais para sentir saudade do sul da Califórnia, onde a vida era simples e tranquila.
Viver e “trabalhar” ali era para Chester Nomuri uma estranha experiência. Tinha sido cuidadosamente investigado e entrevistado antes de ser aceito para participar da Operação SÂNDALO. Entrara para a CIA logo depois de se formar na Universidade da Califórnia em Los Angeles, movido apenas por um vago desejo de aventura combinado com uma tradição familiar de trabalhar para o governo, e logo descobrira, com uma certa surpresa, que adorava o que fazia. Parecia-se muito com o trabalho da polícia, e Nomuri era fã de romances e filmes policiais. Além disso, era tão interessante! Todo dia aprendia coisas novas. Era como frequentar um curso prático de história. A lição mais importante que aprendera, porém, talvez fosse a de que o bisavô tinha sido um homem de visão. Nomuri não era cego aos defeitos dos americanos, mas preferia viver ali a viver em qualquer dos países que visitara, e a esse sentimento estava associado um orgulho pelo seu trabalho, embora não soubesse exatamente qual o objetivo do que fazia. Naturalmente, todos os funcionários da CIA, até mesmo os mais graduados, compartilhavam dessa ignorância, mas Nomuri jamais chegara a aceitar totalmente o fato, mesmo depois que o alertaram na Fazenda.
Como era possível? Na certa, estavam brincando.
Ao mesmo tempo, em um paradoxo que ainda não tinha maturidade suficiente para compreender, era mais fácil ocultar sua verdadeira identidade no Japão do que nos Estados Unidos. Um bom exemplo era o metrô. Os metrôs japoneses eram tão apinhados que chegava a sentir falta de ar. Não estava preparado para um país em que os estranhos eram forçados a entrar em contato pela própria densidade populacional. Logo percebera, porém, que em consequência dessa densidade os japoneses tinham adquirido uma obsessão pela higiene pessoal e uma forma extremamente educada de se comportar com desconhecidos. As pessoas viviam se esbarrando, se esfregando, tropeçando umas nas outras; se não se comportassem daquela forma, a sociedade em que viviam se tornaria mais violenta do que a mais violenta cidade americana. Uma combinação de polidez e reserva pessoal tornava possível a convivência dos locais com as multidões, embora fosse uma coisa que ainda deixava Nomuri pouco à vontade. “O fulano precisa de espaço” era uma frase comum da UCLA. No Japão, a expressão raramente era usada, simplesmente porque não havia espaço disponível para a população em geral.
Depois havia a forma como os japoneses tratavam as mulheres. Nos vagões apinhados, os trabalhadores que viajavam sentados ou de pé liam revistas em quadrinhos, chamadas manga, que eram positivamente estranhas. Recentemente, tinha sido relançado um personagem muito popular nos anos oitenta chamado Rin-Tin-Tin. Não o cachorro bem treinado da TV americana da década de 1950, mas um cachorro com uma amante, com quem conversava e com quem mantinha... relações sexuais. Aquele tipo de história não lhe agradava, mas ali, a seu lado, viajava um executivo de meia-idade, os olhos fixos na revista, enquanto uma japonesa olhava pela janela do trem, talvez notando o que ele estava lendo, talvez não. A guerra entre os sexos no Japão certamente tinha regras diferentes daquelas a que estava acostumado, pensou Nomuri. Era melhor não pensar no assunto.
Afinal, não tinha nada a ver com sua missão... uma ideia que, como descobriria em breve, estava totalmente errada.
Não chegou a ver o mensageiro. Ali de pé no terceiro vagão do metrô, perto da porta traseira, segurando-se em uma barra presa no teto e lendo jornal, também não sentiu a introdução do envelope no bolso do sobretudo.
Era sempre assim: o sobretudo apenas ficava um pouquinho mais pesado.
Uma vez, voltara a cabeça, mas não vira absolutamente nada. Parecia que tinha escolhido a organização certa.
Dezoito minutos mais tarde, o trem chegou ao terminal, e os passageiros emergiram como uma avalanche horizontal, espalhando-se pela ampla estação.
O executivo guardou na maleta o “romance ilustrado” e foi para o trabalho, impassível como de costume. Nomuri tomou seu próprio caminho, abotoando o sobretudo e imaginando quais seriam as novas instruções.
— O presidente sabe? Ryan sacudiu a cabeça.
— Ainda não.
— Acha que deve saber? — perguntou Mary Pat Foley.
— No momento apropriado.
— Não gosto de colocar agentes em perigo por...
— Em perigo? — repetiu Jack. — Quero apenas que ele recolha algumas informações, sem fazer nenhum contato, sem expor sua identidade. De acordo com os relatórios que li até agora, tudo que tem a fazer é investigar um pouco mais a fundo.
— Sabe o que quero dizer — observou a vice-diretora de Operações, esfregando os olhos. Tinha sido um longo dia e estava preocupada com os agentes que trabalhavam para ela.
A Operação SÂNDALO começara inocentemente, se é que uma operação de espionagem em solo estrangeiro possa ser chamada de inocente.
A operação anterior fora executada conjuntamente pelo FBI e pela CIA, com resultados lamentáveis: um cidadão americano fora preso pela polícia japonesa de posse de ferramentas de arrombamento e um passaporte diplomático, que nas circunstâncias servira mais para comprometê-lo do que para ajudá-lo. A prisão tinha sido noticiada nos jornais, mas sem destaque.
Felizmente, os meios de comunicação não tinham percebido a extensão do incidente. Havia pessoas comprando informações. Havia pessoas vendendo informações. Na maioria das vezes, eram informações com o carimbo secreto , e o resultado era prejudicial aos interesses americanos, independentemente de quais fossem.
— Ele é um bom agente? — perguntou Jack.
A expressão no rosto de Mary Pat ficou um pouco mais descontraída.
— Muito bom. O garoto tem um talento natural. No momento, está aprendendo a se integrar na comunidade, desenvolvendo um círculo de amigos que lhe permita colher as informações que desejamos. Montamos um negócio de fachada para ele. Sabe que está dando lucro? Mas tem ordens para agir com extrema cautela — insistiu a Sra. Foley.
— Estou sabendo, MP — disse Ryan, com ar cansado. Mas isto é importante...
— Eu sei, Jack. Também não gostei das informações que Murray me passou.
— Acredita nelas? — perguntou Ryan, de fato interessado.
— Acredito, sim. — Fez uma pausa. — O que acontece se a investigação confirmar nossas suspeitas? Falarei com o presidente e trataremos de repatriar todas as moças que quiserem voltar.
— Eu me recuso a expor Nomuri desta forma! — protestou a Sra. Foley.
— Calma, Mary Pat Não estou sugerindo que você exponha seu agente. Ei, eu também estou cansado, certo? Então você quer que eu mande outra equipe para fazer o trabalho, com base nas informações que Nomuri conseguir?
— A operação é sua, certo? Posso lhe dizer o que fazer, mas não como.
— Faça o que achar melhor, MP.
A recomendação valeu ao Conselheiro de Segurança Nacional um sorriso amarelo e um quase pedido de desculpas.
— Está bem, Jack. Às vezes me esqueço de que sou mais antiga do que você neste trabalho.
— Os produtos químicos podem ser aproveitados — explicou o coronel russo ao coronel americano.
— Sorte de vocês. Tudo que podemos fazer é queimar os nossos, e a fumaça é altamente tóxica.
Enquanto observavam, os técnicos estenderam uma mangueira entre o puskatel do míssil e o caminhão que transportaria o tetróxido de nitrogênio para uma fábrica de produtos químicos. Mais abaixo, outra mangueira tinha sido ligada ao míssil para introduzir um gás pressurizado no tanque de oxidante, facilitando a remoção do líquido corrosivo. O corpo do míssil terminava abruptamente. Os americanos podiam ver o lugar onde estivera montada a ogiva nuclear. Agora ela se encontrava em outro caminhão, precedido por um par de carros de combate BTR-70 e seguido por outros três, a caminho do lugar onde seria desarmada para que seus componentes pudessem ser retirados. Os Estados Unidos estavam comprando o plutônio.
O trítio ficaria na Rússia; tudo indicava que seria vendido clandestinamente para a indústria de mostradores de relógios e painéis de instrumentos. O trítio tinha um valor de mercado de cerca de cinquenta mil dólares o grama e renderia um bom dinheiro para todos os envolvidos. Talvez fosse por isso, pensou o americano, que os colegas russos estavam trabalhando com tanta disposição.
Aquele era o primeiro silo de SS-19 do 53Q Regimento de Foguetes Estratégicos a ser desativado. Era ao mesmo tempo parecido e diferente dos silos americanos que estavam sendo desativados sob supervisão dos russos.
Ambos consistiam em uma grande massa de concreto reforçado, mas o silo russo ficava no meio de uma floresta, enquanto os americanos estavam todos em campo aberto, refletindo diferentes ideias a respeito de segurança.
O clima era semelhante. Mais ventoso em Dakota do Norte, por causa dos espaços abertos. A temperatura média era um pouco menor na Rússia, o que compensava o efeito do vento. Finalmente, a válvula foi fechada, a mangueira removida e o caminhão se afastou.
— Importa-se se eu olhar? — perguntou o coronel da Força Aérea dos Estados Unidos.
— Vá em frente.
O coronel russo das Forças de Foguetes Estratégicos apontou para o buraco vazio. Chegou a oferecer uma lanterna ao colega americano. Então foi a sua vez de sorrir.
Seu filho da puta!, teve vontade de exclamar o coronel Andrew Malcolm.
Havia uma poça de água fria no fundo do puskatel. Os órgãos de informações mais uma vez estavam errados. Quem teria imaginado?
— Serviço de apoio? — perguntou Ding.
— Talvez não passe de uma viagem de turismo para vocês dois — afirmou a Sra. Foley, quase acreditando nas próprias palavras.
— Qual será exatamente a nossa missão? — perguntou John Clark, ansioso para ir direto ao assunto.
Afinal, era por sua culpa que ele e Ding tinham se tornado a melhor dupla de agentes da CIA. Olhou para Chávez. O garoto percorrera um longo caminho em cinco anos. Conseguira um diploma universitário e estava prestes a terminar o curso de mestrado em nada menos do que relações internacionais. Se os professores soubessem qual era o trabalho de Ding, provavelmente arrancariam os cabelos; a ideia que faziam de relações internacionais certamente não envolvia foder outras nações... uma piada que Domingo Chávez inventara nas planícies poeirentas da África, depois de ler um livro de história como dever de casa. Precisava aprender a esconder suas emoções. Chávez ainda conservava alguma coisa do ambiente violento onde crescera, embora Clark imaginasse até que ponto aquilo seria autêntico. Em ambientes de trabalho como aquele, as pessoas precisavam de uma “reputação”. John tinha a sua. As pessoas falavam sobre ele em sussurros, pensando, estupidamente, que os apelidos e boatos jamais chegavam ao seu conhecimento. Ding queria estabelecer uma reputação, também. Isso era normal.
— Tem fotografias? — perguntou Chávez, calmamente.
A Sra. Foley passou-lhe seis fotos. Ding examinou-as uma a uma antes de entregá-las ao parceiro mais velho. Parecia incapaz de esconder seu desagrado.
— O que devemos fazer se Nomuri localizar a garota? — perguntou.
— Vocês dois devem procurá-la e perguntar se está interessada em uma passagem de volta para casa — respondeu a Sra. Foley, sem acrescentar que a moça seria exaustivamente interrogada; a CIA não dava nada de graça.
— Qual vai ser nosso disfarce? — quis saber John.
— Ainda não decidimos. Antes de viajar, precisam estudar a língua.
— Em Monterey? — perguntou Chávez com um sorriso, porque era sua cidade preferida, especialmente naquela época do ano.
— Duas semanas. Imersão total. Voam para lá esta noite. O professor de vocês será um sujeito chamado Lyalin, Oleg Yurievich. Foi major da KGB. Comandou um grupo de espionagem chamado CARDO. Foi ele que conseguiu as informações que você e John usaram para colocar a escuta a bordo daquele avião...
— Ah! — exclamou Chávez. — Se não fosse ele...
A Sra. Foley fez que sim, satisfeita com o fato de Ding haver estabelecido a ligação em um piscar de olhos.
— Isso mesmo. Lyalin mora em uma bela casa à beira-mar. Revelou-se um excelente professor de línguas, talvez por ser forçado a aprender algumas delas em tempo recorde. — Tinha sido um ótimo negócio para a CIA.
Depois de passar para o lado dos americanos, o major da KGB fora contratado oficialmente para a Escola de Línguas das Forças Armadas, onde seu salário era pago pelo Departamento de Defesa.
— Quando estiverem em condições de usar a língua local para pedir o almoço e descobrir onde fica o banheiro, já teremos arranjado um disfarce para vocês.
Clark sorriu e se pôs de pé, compreendendo que estava na hora de retirar-se.
— De volta ao trabalho, então.
— Tudo para defender a América — observou Ding, com um sorriso, deixando as fotografias na mesa da Sra. Foley, certo de que falar em defender o país era apenas uma metáfora.
Clark ouviu o comentário e também o interpretou como piada, até se lembrar de alguns fatos que apagaram o sorriso do seu rosto.
A culpa não era deles, mas da situação. Com quatro vezes a população dos Estados Unidos e apenas um terço do espaço vital, tinham de fazer alguma coisa. A população precisava de empregos, de produtos, da oportunidade de usufruir os bens de consumo que o restante do mundo apreciava. Os habitantes viam esses artigos nos aparelhos de TV, que pareciam estar presentes em toda parte, mesmo nos lugares onde não havia empregos; depois de vê-los, exigiam uma oportunidade de adquiri-los. Era só isso. É impossível dizer “não” a novecentos milhões de pessoas.
Especialmente se você é uma delas, pensou o vice-almirante V. K. Chandraskatta, sentado em uma poltrona de couro na ponte de comando do porta-aviões Viraat. Sua obrigação, expressa no juramento militar, era obedecer às ordens do governo, porém, mais do que isso, sentia-se responsável perante o povo. Bastava olhar em volta para compreender isso: oficiais e praças, especialmente os últimos, os melhores que o país conseguira reunir. Eram na maioria sinaleiros e ordenanças que haviam trocado a vida que possuíam no subcontinente pela vida do mar, e procuravam desempenhar suas tarefas o melhor possível, porque, por mais baixo que fosse o soldo, era preferível aos riscos de um mercado de trabalho em que a taxa de desemprego oscilava entre 20% e 25%. Para se tornar autossuficiente em matéria de comida, o país levara... quanto tempo? Vinte e cinco anos.
Mesmo para isso, fora preciso recorrer à caridade; o aumento da produção fora resultado da aplicação dos métodos agrícolas ocidentais, cujo sucesso ainda incomodava muitos indianos. A caridade, mesmo que bem-sucedida, era uma humilhação para o espírito nacional.
E agora, o que fazer? A economia do país estava voltando a crescer, finalmente, mas logo esbarraria em limites aparentemente intransponíveis.
A Índia necessitava de novos recursos, mas acima de tudo precisava de espaço e não tinha para onde se expandir. Ao norte ficava a maior cadeia de montanhas do planeta. A leste estava Bangladesh, um país com mais problemas do que a própria Índia. A oeste, o Paquistão, também superpovoado e um antigo inimigo religioso; qualquer conflito com esse país poderia resultar na interrupção do suprimento de petróleo aos estados muçulmanos do golfo Pérsico.
Estavam em uma situação difícil, pensou o almirante, pegando o binóculo e inspecionando a frota porque não tinha mais nada para fazer no momento. Se não tomassem nenhuma atitude, o máximo que poderiam esperar era algo um pouco melhor do que a estagnação. Se adotassem uma política de expansão territorial... mas a “nova ordem mundial” impedia-os de fazê-lo. A Índia estava sendo barrada da corrida pela grandeza pelas mesmas nações que tinham disputado essa corrida no passado e não queriam novos concorrentes.
A prova disso estava diante dos seus olhos. A Marinha da Índia era uma das maiores do mundo, guarnecida, tripulada e treinada por um custo exorbitante, navegando em um dos sete oceanos do planeta, o único a merecer o nome de um país, e mesmo assim se via em segundo lugar, sobrepujada por uma pequena parcela da Marinha dos Estados Unidos.
Isso era uma humilhação maior ainda. Os Estados Unidos tinham a ousadia de dizer à Índia o que podia e o que não podia fazer. Os Estados Unidos, com uma história de... quantos anos? Pouco mais de duzentos. Novatos. Por acaso haviam lutado contra Alexandre da Macedônia ou o grande Gêngis Khan? O objetivo original das viagens de “descobrimento” dos europeus tinha sido chegar à Índia, e aquela terra encontrada por acaso agora se atrevia a negar à pátria do almirante seu destino de grandeza. Era muita coisa para esconder atrás de uma máscara de profissionalismo, enquanto os subordinados corriam de um lado para outro, atarefados.
— Contato no radar, direção um-três-cinco, distância duzentos quilômetros — anunciou uma voz no alto-falante. — Vem em nossa direção, com uma velocidade de quinhentos nós.
O almirante voltou-se para o oficial de operações da frota e fez que sim com a cabeça. O comandante Mehta disse algumas palavras ao microfone.
Nenhuma rota aérea comercial passava por ali. Pela hora, sabia exatamente do que se tratava. Quatro caças americanos F-l 8E Hornet, lançados por um dos porta-aviões americanos a sudeste. Apareciam todo dia, de manhã e de tarde, e às vezes também no meio da noite, para mostrar que podiam fazer isso a qualquer hora, para mostrar que os americanos sabiam onde eles se encontravam e lembrar que eles não sabiam, não podiam saber onde os americanos estavam.
Pouco depois, ouviu o ruído dos motores de dois Harrier sendo ligados.
Aeronaves sofisticadas, dispendiosas, mas que não eram páreo para os caças americanos. Despacharia quatro, dois do Viraat e dois do Vikrant, para interceptar os quatro, provavelmente quatro, Hornet americanos; os pilotos acenariam, em uma demonstração de bom humor, mas seria uma mentira recíproca.
— Poderíamos ativar nossos sistemas de mísseis antiaéreos para mostrar que estamos cansados deste jogo — sugeriu o comandante Mehta.
O almirante sacudiu a cabeça.
— Não. Eles pouco sabem a respeito dos nossos mísseis e é melhor que as coisas continuem assim. — A frequência, largura de pulso e taxa de repetição dos radares indianos eram informações sigilosas, que os serviços de espionagem americanos provavelmente ainda não tinham se dado ao trabalho de descobrir. Em consequência, os americanos talvez não conseguissem interferir nos sistemas de mísseis antiaéreos. Isso não os impediria de tentar, mas não estariam seguros dos resultados, e a incerteza os deixaria preocupados. Não representava muita coisa, mas era melhor do que nada. O almirante bebeu um gole de chá, procurando manter-se imperturbável. — Não, vamos mostrar que sabemos que estão chegando, recebê-los amistosamente e permitir que se vão sem serem incomodados.
Mehta fez que sim e retirou-se sem dizer uma palavra para expressar a irritação que sentia. Não era para menos. Como oficial de operações da frota, tinha obrigação de formular um plano para derrotar a esquadra americana, caso as coisas se encaminhassem para um confronto direto. O fato de que essa tarefa era praticamente impossível não diminuía a responsabilidade de Mehta. Não era de admirar que estivesse cada vez mais nervoso. Chandraskatta pousou a xícara para apreciar a decolagem vertical dos Harrier.
— Como estão se comportando os pilotos? — perguntou ao oficial de operações aéreas.
— Sentem-se um pouco frustrados, mas continuam apresentando um desempenho impecável.
A resposta tinha sido dada com orgulho, como não podia deixar de ser.
Os pilotos eram excelentes. O almirante, de vez em quando, jantava com eles e apreciava a maneira digna como se portavam. Não havia no mundo inteiro melhores profissionais. Mais ainda: estavam ansiosos para demonstrar sua capacidade. Entretanto, a Marinha da Índia dispunha apenas de quarenta e três caças Harrier FRS 51. Os trinta que participavam da operação a bordo do Viraat e do Vikrant não eram suficientes para fazer frente às aeronaves que guarneciam um único porta-aviões americano, nem em termos de números nem de desempenho. Tudo porque eles tinham entrado primeiro na corrida, vencido e dado as inscrições como encerradas, pensou Chandraskatta, escutando a conversa dos pilotos em um canal público. Simplesmente não era justo.
— O que você queria me contar? — perguntou Jack.
— Que foi tudo uma farsa — respondeu Robby. — Aqueles pássaros precisam de manutenção regular. Sabe de uma coisa? Há mais de dois anos que eles não faziam nenhuma manutenção. Andy Malcolm falou comigo esta noite, via satélite. Ele me contou que havia água no fundo do silo que foi esvaziado.
— E daí?
— Sempre me esqueço de que você não é do ramo — desculpou-se Robby com um sorriso angelical, ou melhor, como o sorriso de um lobo em pele de cordeiro. — Quando a gente faz um buraco no chão, mais cedo ou mais tarde ele se enche de água, certo? Se você não quer que isso aconteça, tem de bombear a água para fora. A presença de água no fundo do silo significa que há muito tempo não usavam as bombas. Significa que os mísseis estavam sujeitos à umidade, à corrosão.
Jack compreendeu aonde o outro estava querendo chegar.
— Quer dizer que os pássaros...
— Provavelmente não conseguiriam nem levantar voo. A corrosão é assim mesmo. Provavelmente tinham sido dados como perdidos, porque é quase impossível consertá-los depois que se estragam. Seja como for — concluiu Jackson, jogando uma pasta fina na mesa de Ryan —, essa foi a conclusão do J-3.
— E o J-2, o que acha? — quis saber Jack, referindo-se à diretoria de informações do Estado-Maior Conjunto.
— Eles pensavam diferente, mas espero que mudem de ideia agora que os silos estão sendo desocupados. O que eu acho? — O almirante Jackson deu de ombros. — Acho que se o primeiro estava nessas condições e Ivan não tentou esconder isso de nós, vamos encontrar a mesma coisa em toda parte. Eles simplesmente não estão mais se importando.
As informações podem vir de muitas fontes, e “operadores” como Jackson eram frequentemente a melhor de todas as fontes. Ao contrário dos oficiais de informações, cuja tarefa era avaliar a capacidade do inimigo, quase sempre de forma teórica, Jackson era um homem cujo interesse pelas armas estava em fazê-las funcionar, e aprendera por experiência própria que usá-las era muito mais difícil do que olhar para elas.
— Lembra-se do tempo em que os considerávamos um bicho-papão?
— Eu nunca pensei assim, mas um débil mental com uma pistola na mão pode estragar seu dia — observou Robby. — Quanto dinheiro eles arrancaram de nós?
— Cinco giga.
— Excelente negócio para fazer com o dinheiro público. Pagamos aos russos cinco bilhões de dólares para “desativar” mísseis que jamais sairiam dos silos, a não ser que primeiro eles detonassem as ogivas nucleares. Uma pechincha, Dr. Ryan.
— Eles precisam do dinheiro, Rob.
— Eu também, meu amigo. Cara, estou raspando o fundo do cofre para conseguir combustível suficiente para manter nossos caças no ar!
Nem todos compreendiam que os tanques e navios das forças armadas dependiam de um orçamento. Embora os diferentes comandantes não sacassem exatamente de uma conta bancária, todos lançavam mão de um suprimento de materiais de consumo — combustíveis, munições, peças de reposição, até mesmo comida no caso de navios de guerra — que tinham que durar o ano inteiro. Não era incomum que um navio ficasse parado no porto durante as últimas semanas do ano fiscal porque não havia mais recursos para mantê-lo operando. Quando isso acontecia, um trabalho deixava de ser feito, uma tripulação deixava de ser treinada. De todos os órgãos federais, o Pentágono era o único que todos esperavam que sobrevivesse com um orçamento fixo, frequentemente inferior às necessidades reais do serviço.
— Até que ponto você acha que podemos continuar cortando as despesas?
— Vou falar com ele, Rob, está bem? O presidente da Comissão de Orçamento...
— Aqui entre nós, o presidente da Comissão de Orçamento pensa que operações são coisas que os médicos fazem nos hospitais. E se contar a ele que eu disse isso, pode dar adeus às aulas de golfe.
— Não vale a pena gastar um pouco para ver os russos fora do jogo? — perguntou Jack, tentando acalmar o amigo.
— Perdemos mais do que isso em cortes. Caso ainda não tenha percebido, minha Marinha está operando com quarenta por cento a menos do número total de navios. E o oceano não diminuiu de tamanho, certo? O Exército pode estar em melhor situação, reconheço, mas a Força Aérea não está, e os Fuzileiros, que são a nossa arma principal no caso de conflitos localizados, estão tirando leite de pedra.
— Está se queixando à pessoa errada, Rob.
— A coisa não fica por aí, Jack. Também estamos sobrecarregando nossos homens. Quanto menor o número de navios, mais tempo eles têm de passar fora do porto. Quando mais tempo passam fora, maiores as despesas de manutenção. É como nos dias negros do final dos anos setenta. Estamos começando a perder pessoal. É difícil convencer um homem a passar tanto tempo longe da mulher e dos filhos. Quando você perde os mais capazes, as despesas de treinamento tendem a subir. Por mais que se esforce, você começa a perder eficiência de combate — concluiu Robby, falando agora como almirante.
— Escute, Rob, eu disse praticamente a mesma coisa do outro lado do prédio, não faz muito tempo. Estou fazendo o que posso — declarou Jack, falando agora como funcionário graduado do governo.
Nesse momento, os amigos olharam um para o outro.
— Estamos ficando velhos.
Aconteceu muita coisa desde o tempo em que éramos professores da Escola Naval — admitiu Ryan. Sua voz reduziu-se a um sussurro. — Eu ensinava história e você rezava a Deus todas as noites que curasse sua perna.
— Devia ter feito mais do que isso. Estou com artrose no joelho — disse Robby. — Tenho um exame médico daqui a nove meses. Sabe o que isso significa?
— Vai ser cortado?
— Definitivamente — confirmou Jackson, impassível.
Ryan sabia o que isso significava. Para um homem que vinha pilotando jatos da Marinha havia mais de vinte anos, era sinal de que a idade finalmente o pegara. Não estava mais em condições de jogar com os garotos.
Podia explicar o cabelo grisalho como uma predisposição genética, mas ser cortado da lista de pilotos ativos significava guardar o traje de voo no armário, pendurar o capacete e reconhecer que não era mais capaz de fazer a única coisa pela qual se interessara desde os dez anos de idade e na qual se destacara durante quase toda a vida adulta. O mais irônico seria se recordar das coisas que dissera a respeito dos pilotos mais velhos quando era tenente, dos risinhos disfarçados, dos olhares que trocara com os colegas, nenhum dos quais esperara se ver na mesma situação.
— Rob, muitos caras competentes nunca tiveram chance de se candidatar ao comando de um esquadrão. Eles passam para a reserva com vinte anos de serviço, no posto de comandante, e acabam pilotando um cargueiro noturno da Federal Express.
— E ganhando um bom dinheiro.
— Já escolheu o caixão? — perguntou Jack, tentando quebrar o gelo.
Jackson levantou os olhos e sorriu.
— Merda. Se não estou mais em condições de dançar, pelo menos posso ficar olhando. Estou lhe dizendo, amigo, que se quer que a gente execute todas essas brilhantes operações que planejamos no meu escritório, vamos precisar de ajuda do outro lado do rio. Mike Dubro está fazendo um grande trabalho com os recursos de que dispõe, mas tudo tem seus limites, entende?
— Almirante, eu lhe prometo uma coisa: quando for nomeado para comandar um grupo de combate, terá um grupo de combate para comandar.
Podia não ser grande coisa, mas os dois sabiam que era o melhor que Ryan podia oferecer.
Ela era a quinta. O mais estranho era... que droga, pensou Murray no seu escritório, a seis quarteirões da Casa Branca, havia muita coisa estranha no caso. O rumo que a investigação estava tomando o deixava muito preocupado. Ele e sua equipe tinham interrogado várias mulheres que admitiram ter ido para a cama com Ed Kealty, algumas timidamente, outras sem nenhuma emoção visível, outras com orgulho e humor, mas havia cinco para quem o ato não tinha sido totalmente voluntário. No caso daquela mulher, a última, as drogas constituíam um fator adicional, e ela se sentia envergonhada, como se tivesse sido a única a cair na armadilha.
— O que acha? — perguntou Bill Shaw, depois do que tinha sido também para ele um dia cansativo.
— O caso é firme. Temos agora cinco vítimas conhecidas, quatro das quais ainda vivem. Dois casos seriam reconhecidos como estupro em qualquer tribunal. Isso sem falar de Lisa Beringer. Os outros dois envolvem o uso de drogas em uma propriedade do governo federal. Esses dois são praticamente iguais. As vítimas mencionam o mesmo rótulo na garrafa de conhaque, os mesmos efeitos, tudo.
— São boas testemunhas? — quis saber o Diretor do FBI.
— Tão boas quanto se pode esperar neste tipo de caso. Acho que está na hora de irmos em frente — acrescentou Murray.
Shaw concordou com a cabeça. Era impossível manter em segredo por muito tempo uma investigação como aquela. Algumas das pessoas interrogadas conheciam bem o acusado, e por mais cuidado que tomassem ao formular as perguntas, não precisariam de muita imaginação para adivinhar aonde queriam chegar, especialmente se já suspeitassem de que algo semelhante estava ocorrendo. Essas não testemunhas se encarregariam de alertá-lo, fosse por acreditarem na sua inocência, fosse na esperança de conseguir alguma vantagem pessoal. Criminoso ou não, o vice-presidente era um homem de considerável poder político, capaz de recompensar generosamente aqueles que o apoiavam. Em outros tempos, o FBI provavelmente não teria conseguido chegar onde chegara. Depois de uma advertência discreta do presidente, ou talvez do secretário de Justiça, os próprios agentes procurariam as vítimas e lhes ofereceriam algum tipo de reparação. A único motivo pelo qual a investigação chegara tão longe era que o FBI contava com a permissão do presidente, o aval do S.J. e estava trabalhando em um clima jurídico e moral muito diferente.
— Assim que você falar com o presidente da Comissão...
— Sim, acho que devemos convocar a imprensa e tentar fornecer as provas de que dispomos de forma organizada — concordou Murray.
Naturalmente, isso seria muito difícil. Assim que revelassem os resultados da investigação aos políticos — no caso o presidente e o representante da minoria na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados — o caso logo chegaria aos meios de comunicação. A única margem de manobra de que Murray e sua equipe dispunham era quanto à hora do dia em que fariam a comunicação. Se ela fosse feita no final do expediente, os jornais não teriam tempo de divulgá-la na manhã seguinte, para frustração dos editores do Washington Post e do New York Times. O FBI tinha de respeitar as regras do jogo. Não podia fazer nenhuma declaração impensada, pois se tratava de um processo criminal e os direitos do acusado tinham que ser protegidos com o mesmo rigor — com maior rigor, na verdade — que os direitos das vítimas, para que não pairassem dúvidas quanto à lisura do julgamento.
Vamos receber a imprensa aqui mesmo, Dan — afirmou Shaw, decidindo-se. — Pedirei ao S.J. que telefone e marque a entrevista coletiva.
— Talvez isso os faça manter a notícia de molho por algum tempo. O que foi exatamente que o presidente disse outro dia? Ele é um sujeito correto — declarou o vice-diretor assistente. — As palavras foram: “Um crime é um crime.” O presidente também dissera para lidar com o caso da forma mais discreta possível, mas isso era compreensível.
— Muito bem. Vou mantê-lo pessoalmente a par das investigações.
Nomuri foi direto para o trabalho, como de costume. Naquela noite, passaria algumas horas na casa de banho com os amigos; seu trabalho era provavelmente o mais limpo da CIA. Era também a forma mais fácil de conseguir informações que jamais descobrira, cuja eficácia aumentava fazendo-se acompanhar de uma grande garrafa de saque que agora se equilibrava, parcialmente vazia, na borda da tina de madeira.
— Preferia que você não tivesse me falado da americana — declarou Nomuri, de olhos fechados, sentado no canto de costume e deixando que o calor da água envolvesse seu corpo. A temperatura de quarenta e dois graus era suficiente para provocar uma queda na pressão arterial, que, combinada com os efeitos do álcool, produzia uma sensação de euforia.
Muitos japoneses apresentavam uma anormalidade genética chamada no Ocidente de “rubor oriental” ou, de uma forma mais politicamente correta, “embriaguez patológica”. Tratava-se na verdade de uma deficiência enzimática em consequência da qual pequenas quantidades de álcool podiam produzir efeitos consideráveis. Felizmente, nenhum membro da família de Nomuri apresentava aquele tipo de problema.
Por quê? — perguntou Kazuo Taoka, do lado oposto.
— Porque agora não consigo tirar a gaijin da cabeça! — respondeu Nomuri, em tom bem-humorado.
Um dos efeitos da casa de banho era que estimulava a camaradagem.
O homem ao lado passou a mão na cabeça do agente da CIA e começou a rir, no que foi imitado pelo restante do grupo.
— Ah, e agora quer conhecer mais detalhes, não é? — Nomuri não precisou responder. Todos se inclinaram para a frente. — Sabe de uma coisa? Você estava certo. Elas têm pés grandes demais. Os seios, também. Mas os modos... bem, isso pode ser corrigido facilmente.
— Por que não vai direto ao que interessa? — interrompeu outro membro do grupo, fingindo irritação.
— Você me dá licença para fazer um pouco de suspense? — retorquiu o narrador, provocando risadas gerais. — Sim, é verdade que os seios das americanas são grandes demais, mas todos nós precisamos fazer sacrifícios na vida, e para dizer a verdade, já vi deformidades piores...
Ele é um bom contador de histórias, pensou Nomuri. Momentos depois, ouviu o barulho de uma rolha sendo arrancada, quando outro homem se dispôs a encher os cálices. As bebidas alcoólicas eram proibidas nas casas de banho, por razões de saúde, mas a lei era ignorada com frequência, coisa rara naquele país. Nomuri estendeu a mão para o cálice, com os olhos ainda fechados, deixando bem claro para todos que estava dando asas à imaginação, enquanto as palavras do narrador atravessavam a superfície fumegante.
A descrição tornou-se mais específica, e ele constatou que combinava perfeitamente com a fotografia e outros detalhes que lhe haviam passado durante a viagem matinal de metrô. As provas ainda não eram concludentes.
Milhares de moças poderiam corresponder à descrição, e Nomuri não estava particularmente revoltado com o que ocorrera. De uma forma ou de outra, a jovem era responsável pelo próprio destino. Entretanto, não deixava de ser uma cidadã americana, e ele faria o possível para ajudá-la. Parecia um desvio irrelevante de sua missão naquele país, mas pelo menos o levara a fazer uma pergunta que aumentaria ainda mais sua integração naquele grupo. Em consequência, teria mais facilidade ainda para extrair informações do grupo no futuro.
— Não temos escolha — disse um homem em outra casa de banho, não muito longe da primeira. — Precisamos da ajuda de vocês.
Não era totalmente inesperado, pensaram os outros cinco homens. Era apenas uma questão de saber quem chegaria primeiro ao fundo do poço.
O destino fizera com que fossem aquele homem e sua empresa. Isso não diminuía sua tragédia pessoal ao se ver forçado a pedir ajuda; os outros podiam perceber que estava sofrendo, apesar de tentar manter uma máscara de impassibilidade. Além de piedade, os homens que o escutavam sentiram outra emoção: medo. Agora que acontecera uma vez, seria muito mais fácil acontecer de novo. Quem seria o próximo? Em geral, não havia uma forma mais segura de investimento do que bens imóveis, propriedades tangíveis, algo que o dono podia tocar e sentir, onde se podia construir, que os outros podiam ver e medir. Embora o Japão estivesse aumentando ligeiramente seu território através de aterros, para construir aeroportos, por exemplo, a regra ali era, como em qualquer outra parte do mundo: fazia sentido comprar terras porque a quantidade de terra disponível era limitada e porque, a longo prazo, o preço dos imóveis tendia a pelo menos acompanhar a inflação.
No Japão, porém, a situação fora distorcida por algumas peculiaridades. A política de uso da terra era caracterizada por um poder excessivo dos pequenos proprietários. Nas grandes cidades, muitos residentes dos subúrbios cultivavam legumes e verduras nos quintais. Além de pequeno — uma população equivalente à metade da população dos Estados Unidos vivia em uma área do tamanho da Califórnia —, o país não dispunha de muitas terras aráveis, e como as terras aráveis também tendiam a ser as terras que as pessoas preferiam para morar, a grande maioria da população estava concentrada nas cidades, onde o preço dos terrenos tornara-se ainda maior. O resultado da combinação de todos esses fatores aparentemente inócuos era que o valor comercial da terra ocupada apenas pela cidade de Tóquio era maior do que o de toda a terra ocupada pelos quarenta e oito estados contíguos dos Estados Unidos. E, o mais interessante, essa ficção absurda era aceita por todos como se fizesse algum sentido, quando na realidade se mostrava tão artificial quanto a mania de tulipas holandesas do século XVII.
Entretanto, como no caso da América, o que era uma economia nacional, afinal, senão uma crença coletiva? Ou assim todos haviam pensado durante uma geração. Os japoneses eram um povo frugal, que economizava boa parte da renda familiar. Essa renda era depositada nos bancos em quantidades tão grandes, que havia muito dinheiro disponível para empréstimos e portanto os juros desses empréstimos eram relativamente pequenos, o que permitia que as empresas comprassem terras e construíssem fábricas, apesar dos preços elevados. Como no caso de qualquer crescimento artificial, o processo tinha implicações perigosas. O valor inflacionado das terras era usado como garantia para outros empréstimos e para a compra de ações no mercado futuro, e assim homens de negócios supostamente inteligentes e progressistas haviam construído um elaborado castelo de cartas com base na crença de que a área metropolitana de Tóquio tinha mais valor do que toda a terra dos Estados Unidos entre Bangor e San Diego. (Os japoneses também ficaram com a impressão de que as terras americanas, que, afinal, eram muito parecidas com as japonesas, tinham que valer mais do que os americanos estavam pedindo por elas.) No início da década de 1990, a situação começou a mudar. A bolsa de valores japonesa entrou em queda, e alguns investidores tentaram vender as terras que possuíam para cobrir os prejuízos.
Foi então que descobriram, surpresos, que ninguém estava disposto a pagar o valor de mercado pelas propriedades; embora todos na teoria aceitassem esse valor, pagá-lo em dinheiro vivo era, bem, não muito realista. O resultado foi que a carta que sustentava todo o castelo tinha sido discretamente removida da base da estrutura, e estava faltando apenas uma leve brisa para que toda a construção desabasse, uma possibilidade teimosamente ignorada nas discussões dos executivos.
Até agora.
Os homens reunidos na banheira eram velhos amigos e parceiros de negócios; na notícia comunicada com tanta dignidade por Kozo Matsuda de que sua empresa estava encontrando dificuldades para honrar os compromissos, vislumbraram o desastre coletivo em um horizonte que parecia subitamente muito mais próximo do que pensavam fazia apenas duas horas. Os banqueiros presentes podiam oferecer empréstimos, mas esses afetariam adversamente a lucratividade de suas operações, fazendo cair ainda mais os preços das ações. Sim, podiam salvar o amigo da falência, que, na sociedade em que viviam, seria acompanhada por um estigma pessoal que o removeria para sempre do seu convívio. Se não o fizessem, ele teria que colocar discretamente à venda alguns edifícios de escritórios, rezando para que alguém se dispusesse a adquiri-los por uma soma não muito inferior ao valor de mercado. Entretanto, sabiam que era pouco provável que o amigo fosse bem-sucedido, pois eles próprios jamais comprariam os imóveis por aqueles preços inflacionados. E se todos viessem a saber que o “valor de mercado” era tão fictício quanto as obras de Júlio Verne, eles também sairiam prejudicados. Os banqueiros teriam de admitir que a garantia dos empréstimos, e portanto a garantia do dinheiro dos investidores, também era uma ficção vazia. A quantidade de dinheiro envolvida era tão grande que só podia ser entendida como um número abstrato, número esse que podia desaparecer de um momento para outro, como num passe de mágica. Por todos esses motivos, fariam o que tinha de ser feito. Ajudariam Matsuda, recebendo compensações em troca, é claro, mas emprestando o dinheiro de que necessitava para salvar a empresa.
O problema era que poderiam fazer isso uma vez, provavelmente duas e talvez até mesmo três vezes, mas em breve todos estariam na mesma situação, e não haveria ninguém para socorrê-los. Os seis homens baixaram os olhos, envergonhados, porque a sociedade em que viviam não admitia facilmente que seus membros compartilhassem a emoção do medo, e medo era o que todos estavam sentindo naquele momento. Em última análise, eram todos responsáveis pela situação. Governavam as empresas com mão de ferro, e a esse controle estavam associados uma vida luxuosa, um imenso poder pessoal e, naturalmente, uma responsabilidade total. Todas as decisões tinham sido tomadas por eles, afinal, e se essas decisões tinham sido errôneas, eram eles os responsáveis, em uma sociedade na qual o fracasso podia ser tão penoso quanto a morte.
— Yamata-san está certo — comentou um dos banqueiros, sem levantar a voz. — Eu é que estava errado.
Admirados com sua coragem, os outros concordaram em uníssono: — Hai.
Outro banqueiro acrescentou: — Acho que está na hora de nos aconselharmos com ele.
A fábrica estava trabalhando em dois turnos e mal conseguia dar conta das encomendas. Situada nas colinas de Kentucky, a construção ocupava quase cinquenta hectares e era cercada por um estacionamento para os operários e outro para os produtos, um pátio de manobras para os caminhões de entrega e outro para os trens de carga.
A vedete entre os carros recém-lançados nos Estados Unidos e no Japão, o Cresta, recebera o nome de uma pista de tobogã de St. Moritz, na Suíça, onde um executivo da indústria automobilística japonesa, depois de se exceder um pouco na bebida, resolvera arriscar a sorte em uma das rampas apenas para perder o controle em uma curva traiçoeira, transformando-se em um objeto balístico e deslocando o quadril no processo. Para homenagear a pista que lhe proporcionara uma lição de humildade, decidira, ainda no hospital, cultuar sua experiência em um novo carro, que na época ainda não passava de uma série de desenhos e especificações.
Como quase todos os produtos da indústria automobilística japonesa o Cresta era uma obra-prima de engenharia. Vendido a preços populares, era um veículo de tração dianteira com um moderno e econômico motor de quatro cilindros e dezesseis válvulas capaz de transportar com todo o conforto dois adultos no banco da frente e duas ou três crianças no banco traseiro. Tornara-se quase ao mesmo tempo o Carro do Ano da revista Motor Trena e a salvação de um fabricante japonês que havia três anos vinha amargando uma queda nas vendas em consequência dos esforços de Detroit para recuperar o mercado americano. O carro mais popular entre os casais jovens com filhos vinha ”carregado” de opcionais e era fabricado nos dois lados do Pacífico para atender a uma demanda mundial.
Aquela fábrica, localizada a cinquenta quilômetros de Lexington, Kentucky, era extremamente moderna sob todos os aspectos. Os empregados recebiam os mesmos salários que os sindicalizados sem precisar entrar para a United Automobile Workers, UAW; nas duas tentativas de criar um sindicato local, supervisionadas pela Junta Nacional de Relações Trabalhistas, a poderosa organização não conseguira mais do que 40% dos votos e fora embora de mãos abanando, queixando-se da estupidez dos operários.
Como em qualquer indústria moderna, havia um quê de magia no processo. Autopeças entravam por um lado do prédio e carros prontos saíam pelo outro. Alguns componentes eram fabricados nos Estados Unidos, embora não tantos quanto o governo gostaria. Na verdade, o gerente da fábrica teria preferido trabalhar com mais peças americanas, especialmente no inverno, quando as tempestades do Pacífico podiam atrasar a entrega de componentes (um atraso de apenas um dia na chegada de um navio representava uma queda considerável dos estoques, pois a fábrica operava com estoques mínimos) e a demanda dos Cresta era maior do que a capacidade de produção. A maioria das peças chegava em containers, em portos localizados nas duas costas dos Estados Unidos; elas eram transportadas de trem até a fábrica, onde eram separadas por tipo e guardadas em depósitos próximos à linha de montagem. Boa parte do trabalho era realizada por robôs, mas não havia substituto para as mãos habilidosas de um operário com dois olhos e um cérebro, e na verdade as funções automatizadas eram quase sempre operações que os empregados não gostavam de executar. O baixo preço do Cresta devia-se em grande parte à eficiência da fábrica e ao horário rigoroso, com muitas horas-extras, a que se submetiam os operários, que, dispondo pela primeira vez naquela região de empregos realmente bem pagos, se dedicavam ao trabalho com tanta diligência quanto os colegas japoneses e, como reconheciam os supervisores japoneses tanto para si próprios como nos relatórios internos da empresa, com muito mais criatividade. Apenas naquele ano, uma dúzia de inovações importantes sugeridas pelos operários daquela linha de montagem tinham sido adotadas de imediato em fábricas semelhantes situadas a dez mil quilômetros de distância. Os supervisores estavam gostando da experiência de morar nos Estados Unidos. O preço das casas e o tamanho do terreno que vinha com elas tinha sido uma agradável surpresa, e depois de superarem o desconforto inicial de se encontrarem em um país estrangeiro, todos se renderam à hospitalidade local, juntando-se aos advogados nos clubes de golfe, parando no McDonald’s para comer um hambúrguer, vendo os filhos jogar bola com os garotos da vizinhança, satisfeitos com a boa acolhida. (A empresa local de TV a cabo chegara a incluir o canal NHK para que as duzentas famílias matassem as saudades de casa.) Ao mesmo tempo, proporcionavam lucros excelentes à empresa, que, infelizmente, estava agora reduzida a cobrir apenas os custos com os Cresta produzidos na Japão graças à produtividade inesperadamente elevada da fábrica de Kentucky e à queda continuada do dólar em relação ao iene. Por esse motivo, estavam comprando mais terras naquela semana para aumentar a capacidade da fábrica em 60%. Um terceiro turno, embora possível, implicaria uma redução nos serviços de manutenção, com efeitos adversos para o controle de qualidade, um risco que a companhia não estava disposta a correr, em face da nova competição por parte de Detroit.
Logo no início da linha de montagem, dois operários eram encarregados de montar os tanques de gasolina nos chassis. Um deles, fora da linha, tirava o tanque da embalagem e o colocava em uma esteira rolante. O tanque era então transportado até o local onde se encontrava o segundo operário, cuja tarefa consistia em ajustar a peça leve mas volumosa no lugar. Suportes de plástico ajudavam a segurar o tanque até que o operário tornasse a ligação permanente; os suportes eram removidos antes que o chassi passasse para o estágio seguinte.
A mulher que trabalhava no depósito observou que uma das caixas de papelão estava úmida. Levou a mão ao nariz e sentiu cheiro de maresia. O container onde viajara aquela remessa de tanques de gasolina tinha sido mal fechado e fora invadido pela água do mar. Ainda bem, pensou a operária, que os tanques eram galvanizados e recebiam um tratamento anticorrosivo.
Parecia que uns quinze ou vinte tanques tinham sido expostos à água do mar. Pensou em contar o ocorrido ao supervisor, mas ele não estava por perto. Tinha autoridade para interromper o funcionamento da linha de montagem até que a questão dos tanques de gasolina fosse esclarecida. Ao contrário do que acontecia nas fábricas tradicionais, todos os operários tinham esse poder, mas a mulher era nova ali e o que realmente queria era contar ao supervisor o que ocorrera. Enquanto pensava no assunto, deixou a esteira vazia, o que provocou um assovio de protesto por parte do colega da linha de montagem. Afinal, chegou à conclusão de que estava se preocupando à toa. Colocou o tanque na esteira, abriu outra caixa e esqueceu o incidente. Jamais saberia que participara de uma cadeia de eventos que em breve culminaria com a morte de uma família e ferimentos em duas outras.
Dois minutos mais tarde, o tanque foi instalado no chassi de um Cresta e o conjunto continuou o caminho aparentemente interminável da linha de montagem, rumo a uma saída que nem podia ser vista daquele local. No devido tempo o restante do automóvel foi montado no chassi de aço, saindo finalmente da fábrica como um carro vermelho-maçã caramelada já encomendado por uma família de Greenville, Tennessee.
A cor tinha sido escolhida em homenagem à esposa, Candace Denton, que acabara de dar ao marido, Pierce, o primeiro filho, depois de duas filhas gêmeas, nascidas fazia três anos. Seria o primeiro carro zero quilômetro do jovem casal e era a forma que o marido encontrara para demonstrar sua felicidade. Era uma extravagância, mas Pierce tinha certeza de que encontraria uma forma de pagá-lo. No dia seguinte, o carro foi carregado em um reboque para a curta viagem até uma revendedora em Knoxville. Um telex da fábrica para a revendedora informou que o veículo estava a caminho, e ela não perdeu tempo para telefonar ao Sr. Denton e transmitir-lhe a boa notícia.
Necessitariam de um dia para fazer a revisão da revendedora, mas o carro seria entregue, com uma semana de atraso por causa da demanda, com uma licença de para-brisa e o seguro já em vigor. E um tanque cheio de gasolina, selando um destino já decidido por uma miríade de fatores.
7
CATALISADOR
Era pior porque estavam trabalhando à noite. A luz dos holofotes (dezenas deles) não substituía o que o sol lhes teria fornecido de graça. A iluminação artificial produzia estranhas sombras que sempre pareciam estar nos lugares errados; além do mais, os homens em constante movimento também produziam sombras, distraindo a atenção dos operários de sua importante missão.
Cada um dos foguetes SS-19/H-11 vinha dentro de uma cápsula. Os planos de construção dessa cápsula (que ali era chamada de casulo) tinham sido enviados juntamente com os planos dos mísseis, mais ou menos como uma decisão de última hora; afinal, a companhia japonesa pagara por todos os planos e eles estavam na mesma gaveta, de modo que foram enviados juntos. Isso era ótimo, pensou o supervisor, porque aparentemente ninguém tomara a iniciativa de requisitá-los. O SS-19 tinha sido concebido como um míssil balístico intercontinental, uma arma de guerra, e como era um projeto russo, tinham levado em conta o fato de que seria manipulado por soldados convocados para o serviço militar, com pouquíssima experiência. Sob esse aspecto, admitiu o engenheiro, haviam se revelado simplesmente geniais. Seus compatriotas tinham mania de usar a mecânica de precisão, o que com frequência resultava em produtos tão delicados que não tinham lugar no mundo real. Forçados a construir uma arma capaz de sobreviver a condições humanas e ambientais extremamente adversas, os russos desenvolveram uma cápsula de transporte e carregamento para os ”pássaros” que os protegia contra qualquer contratempo. Assim, os operários podiam montar o foguete na fábrica, com todos seus módulos e conexões, introduzi-lo na cápsula e despachá-lo para o local de destino, onde tudo que os soldados tinham a fazer era instalá-lo no silo. Em seguida, um grupo de três técnicos mais bem treinados encarregava-se de ligar os cabos de alimentação e telemetria. Embora não fosse tão simples como carregar um cartucho em um rifle, era de longe o método mais eficiente de instalar um ICBM, um míssil balístico intercontinental, que alguém jamais desenvolvera. Tão eficiente, na verdade, que os americanos o haviam imitado ao desenvolver seus mísseis MX “Peacekeeper”, todos já desativados. A existência do casulo permitia que o míssil fosse manipulado sem medo, porque todos os pontos de tensão estavam em firme contato com o interior da estrutura. Era como o exoesqueleto de um inseto, e necessário porque, apesar do aspecto imponente, o míssil era mais delicado do que um tecido vivo.
Adaptadores no interior do silo recebiam a base da cápsula e permitiam que fosse colocada na vertical e baixada para a posição definitiva. A operação completa, apesar da má iluminação, levou noventa minutos, exatamente o tempo previsto no manual soviético.
Neste caso, a guarnição do silo era composta por cinco homens. Eles ligaram os três cabos de alimentação e as quatro mangueiras que manteriam a pressão do gás nos tanques de combustível e oxidante; os tanques ainda não estavam abastecidos e precisavam ser pressurizados para manter sua integridade estrutural. Na casamata de controle, situada a seiscentos metros de distância, na encosta nordeste do vale, os três homens do grupo de controle observaram, satisfeitos, que os sistemas internos do míssil haviam entrado em funcionamento da forma esperada. Transmitiram a notícia por telefone à guarnição do silo, que sinalizou para que o trem se afastasse. A locomotiva a diesel seria desengatada do vagão vazio e iria buscar o míssil seguinte. Dois mísseis seriam instalados naquela noite, e mais dois em cada uma das quatro noites seguintes, ocupando os dez silos. Os pessoal mais graduado surpreendeu-se com o fato de as coisas terem corrido tão bem, mas ao mesmo tempo perguntou-se por que seria diferente. Afinal, era um trabalho de rotina. Por outro lado, sabiam que em breve o mundo seria um lugar muito diferente por causa do que estava acontecendo ali, e por isso, inconscientemente, esperavam que o céu mudasse de cor ou a terra tremesse cada vez que uma etapa do projeto era completada. Nenhuma das duas coisas acontecera, e agora a questão era se eles deviam se sentir aliviados ou desapontados com isso.
— Achamos que deve ser mais duro com eles — afirmou Goto, na privacidade do escritório do primeiro-ministro.
— Por quê? — perguntou o primeiro-ministro, embora já conhecesse a resposta.
— Porque estão tentando nos esmagar. Querem nos punir porque somos mais eficientes, porque fazemos um trabalho melhor, porque nossos operários são mais esforçados e mais competentes. — O líder da oposição guardava o tom agressivo para os pronunciamentos públicos. Nas conversas particulares com o líder do governo, comportava-se com extrema polidez, embora estivesse nos seus planos provocar a queda daquele homem fraco e indeciso.
— Pode não ser bem assim, Goto-san. Sabe tão bem como eu que acabamos de reafirmar nossa posição no que se refere ao arroz, aos automóveis e às placas de computador. Foram eles que cederam, e não nós.
O primeiro-ministro imaginou quais seriam as intenções de Goto. Parte da resposta era evidente. Goto estava manobrando, com a costumeira habilidade, para reagrupar as várias facções que compunham a Dieta. A maioria do primeiro-ministro era precária, e o governo adotara linha dura nas questões comerciais para conquistar o apoio dos indecisos, na maioria deputados inexpressivos, pertencentes a pequenos partidos, que a aliança de conveniência com o governo tornara muito mais importantes por representarem o fiel da balança. Nessas negociações difíceis, o primeiro-ministro sentia-se como um equilibrista na corda bamba sem uma rede de segurança. Por um lado, tinha de manter os aliados satisfeitos; por outro, não podia ofender o principal parceiro comercial do país. Era um jogo cansativo, principalmente com Goto observando-o de baixo e latindo para ele, na esperança de que o susto o fizesse perder o equilíbrio.
Como se você pudesse fazer melhor, pensou o primeiro-ministro, tornando a encher de chá verde a xícara de Goto, que agradeceu com a cabeça.
O primeiro-ministro compreendia melhor o problema básico do que o líder da oposição no parlamento. O Japão não era realmente uma democracia. Da mesma forma como nos Estados Unidos do final do século XIX, o governo era de fato, embora não de direito, uma espécie de instrumento oficial para a iniciativa privada. Na prática, o país era dirigido por um pequeno grupo de homens de negócios — esse número não chegava a trinta, ou mesmo a vinte, dependendo da maneira de calculá-lo — e a despeito do fato de que esses executivos e suas empresas pareciam estar empenhados em uma guerra sem tréguas, na verdade estavam todos no mesmo barco e formavam todos os tipos possíveis de alianças: codiretorias, sociedades, acordos. Raro era o parlamentar que não ouvia com muita atenção o que um representante do zaibatsu tinha a dizer. Mais raro ainda era o membro da Dieta que um desses homens se dignava a receber pessoalmente; quando isso acontecia, o representante do povo congratulava-se pela boa sorte, porque esses homens podiam fornecer aquilo de que os políticos mais necessitavam: fundos. Em consequência, a palavra deles era lei. O resultado era um dos parlamentos mais corruptos da Terra. Talvez “corrupto” não fosse a palavra certa, pensou o primeiro-ministro. Subserviente, talvez. Os cidadãos comuns ficavam muitas vezes revoltados com o que viam, com o que uns poucos jornalistas corajosos denunciavam, em geral em termos que, apesar de parecerem excessivamente tímidos aos ocidentais, eram tão inflamados no contexto local quanto qualquer panfleto que Emile Zola fizera circular em Paris. Entretanto, os cidadãos comuns não tinham o mesmo poder que o zaibatsu e todas as tentativas de reformar o sistema político haviam fracassado. Em consequência, o governo de uma das maiores economias do mundo tornara-se pouco mais do que o porta-voz de homens de negócios que não tinham sido eleitos por ninguém e não prestavam contas nem aos acionistas de suas empresas. Agora compreendia que eles tinham sido responsáveis até mesmo pela sua escolha... talvez como um osso atirado ao povo? pensou. Será que esperavam que fracassasse? Que destino planejavam para ele? Um governo fraco, para que a volta à normalidade pudesse ser aceita pelos cidadãos que haviam colocado toda a sua esperança em suas mãos.
Esse receio fizera com que assumisse posições em relação aos Estados Unidos que ele próprio considerava arriscadas. Agora, porém, nem mesmo isso parecia suficiente...
— Muitos veriam as coisas dessa forma — admitiu Goto com toda a educação —, e só posso cumprimentá-lo por sua coragem. Infelizmente, na prática, nosso país está sendo prejudicado. Por exemplo: a baixa cotação atual do dólar em relação ao iene tem efeitos desastrosos sobre nossos investimentos externos e só pode ser atribuída a uma política deliberada por parte dos nossos estimados parceiros comerciais.
Havia algo de estranho naquele discurso, pensou o primeiro-ministro.
Goto parecia estar recitando um texto escrito por outra pessoa. Escrito por quem? Não era difícil de adivinhar. Imaginou se Goto teria consciência de que estava em uma posição ainda pior do que a do homem que pretendia substituir. Provavelmente, não, mas isso não servia de consolo. Se Goto conseguisse seu cargo, teria ainda menor liberdade de ação; seria forçado a implementar políticas que talvez não estivessem de acordo com os interesses do país. E ao contrário do que acontecia com ele, Goto talvez fosse suficientemente ingênuo para acreditar que estava defendendo ideias que eram ao mesmo tempo originais e progressistas. Quanto tempo duraria essa ilusão? Era perigoso fazer isso com frequência, pensou Christopher Cook. Com frequência? Bem, cerca de uma vez por mês. Isso era muito? Cook era assistente do subsecretário de Estado, e não agente de espionagem, e não lera o manual dos espiões, supondo existir um manual assim.
A hospitalidade era a mesma de sempre: a comida e o excelente vinho, ambiente requintado, a lenta sucessão de tópicos, começando com perguntas totalmente inócuas a respeito da saúde da família, das partidas de golfe, da sua opinião a respeito deste ou daquele assunto do momento.
Sim, o tempo estava surpreendentemente agradável para aquela época do ano, um comentário que Seiji gostava de fazer; naquele dia, tinha toda a razão, pois o outono e a primavera em Washington eram toleráveis, mas os verões em geral eram quentes e úmidos e os invernos frios e chuvosos.
Era tedioso, mesmo para um diplomata profissional acostumado a conversas frívolas. Nagumo estava em Washington fazia tempo suficiente para esgotar os comentários originais; nos últimos meses, começara a tornar-se repetitivo. Ora, por que seria diferente dos outros diplomatas?, perguntou-se Cook, sem imaginar que uma surpresa o aguardava.
— Soube que vocês chegaram a um importante acordo com os russos — observou Seiji Nagumo, no momento em que estavam tirando os pratos do jantar.
— Como assim? — perguntou Cook, julgando que se tratasse de uma continuação da conversa inconsequente.
— Vão acelerar a eliminação dos ICBM — explicou o homem, depois de beber um gole de vinho.
— Está bem informado — comentou Cook, surpreso. — Trata-se de um assunto sigiloso.
— Pode ser, mas não é uma excelente notícia? Levantou o copo para brindar ao acordo. Cook imitou-o com prazer.
— Claro que é — concordou o funcionário do Departamento de Estado. — Como sabe, tem sido uma das metas da política externa dos Estados Unidos, desde o final da década de 1940, desde o tempo de Bernard Baruch, se não me falha a memória, eliminar todas as armas de destruição em massa e o perigo que representam para a raça humana. Como sabe muito bem...
Nagumo, surpreendentemente, interrompeu-o.
— Sei melhor do que imagina, Christopher. Meu avô morava em Nagasaki. Trabalhava como mecânico na base naval. Sobreviveu à bomba (infelizmente, a esposa não teve a mesma sorte), mas sofreu sérias queimaduras no incêndio subsequente, e me lembro muito bem das cicatrizes. A experiência apressou sua morte.
Era uma cartada cuidadosamente planejada, ainda mais que se tratava de uma mentira.
— Eu não sabia, Seiji. Sinto muito — acrescentou Cook, com toda a sinceridade.
O objetivo da diplomacia, afinal, era evitar a guerra, se isso fosse possível; se não fosse, terminá-la com um mínimo de derramamento de sangue.
— Assim, como pode imaginar, estou muito interessado na eliminação definitiva dessas armas monstruosas.
Nagumo tornou a encher o copo de Cook. Era um excelente chardonnay, que combinara muito bem com o prato principal.
— Pois bem: sua informação está correta. Não participo diretamente dessas coisas, você sabe, mas ouvi conversas a respeito no restaurante — observou Cook, informando indiretamente ao amigo que fazia as refeições no sétimo andar do edifício do Departamento de Estado e não na lanchonete do térreo.
— Admito que meu interesse pelo caso é pessoal. No dia em que o último ICBM for destruído, pretendo fazer uma comemoração pessoal e dirigir minhas preces à alma do meu avô, para assegurar-lhe que não morreu em vão. Faz ideia de quando isso vai acontecer, Christopher?
— Infelizmente, não. Esta informação não está sendo divulgada.
— Por que não? — perguntou Nagumo. — Não entendo.
— Acho que o presidente está querendo capitalizar em cima disso. De vez em quando, Roger precisa chamar a atenção do público, especialmente com a eleição se aproximando.
Seiji fez que sim com a cabeça.
— Compreendo. De modo que não se trata de uma questão de segurança nacional, não é mesmo? Cook pensou por um segundo antes de responder.
— Não, penso que não. Claro que nossa segurança vai aumentar depois que eles forem destruídos, mas o dia em que isso vai acontecer é... é um detalhe irrelevante, penso eu.
— Nesse caso, posso lhe pedir um favor?
— Qual é? — perguntou Cook, entorpecido pelo vinho, pela companhia, pelo fato de que havia vários meses vinha passando informações confidenciais a Nagumo.
— Você poderia descobrir para mim o dia exato em que o último míssil será destruído? Preciso de algum tempo para preparar a comemoração — explicou.
Cook teve vontade de dizer: Sinto muito, Seiji, mas esta é oficialmente uma questão de segurança nacional e jamais concordarei em lhe passar esse tipo de informação. A hesitação no seu rosto e a surpresa responsável por ela superaram sua impassibilidade costumeira. Começou a pensar furiosamente. Está bem, está bem, há três anos e meio vinha se encontrando com Nagumo, obtendo ocasionalmente informações importantes, graças às quais conseguira chegar ao posto que ocupava, fornecendo-lhe ocasionalmente informações importantes, porque... por quê? Porque estava cansado de trabalhar de sol a sol por uma miséria, porque uma vez um ex-colega comentara que com a experiência que adquirira em quinze anos de serviço poderia muito bem passar para a indústria privada, tornar-se um consultor ou um lobista, e, que diabo, não era como se estivesse espionando ou coisa parecida! Não, senhor, aquilo era apenas um negócio.
Atender ao pedido do amigo seria um ato de espionagem?, perguntou-se Cook. Seria? Os mísseis não estavam apontados para o Japão; nunca haviam estado. Na verdade, a julgar pelo que lera nos jornais, estavam apontados para o meio do oceano Atlântico, onde não poderiam causar mal a ninguém.
Ninguém sairia ferido se fossem disparados. Ninguém seria salvo se fossem desmontados. Assim sendo, onde estava a questão da segurança nacional? Em lugar nenhum. Que mal faria, portanto, passar adiante a informação?
— Está bem, Seiji. Verei o que consigo apurar.
— Muito obrigado, Christopher. — Nagumo sorriu. — Meus ancestrais lhe agradecem. Será um grande dia para o mundo, meu amigo, e merece ser devidamente comemorado.
Nos esportes, isso era chamado de acompanhamento. Não havia uma expressão equivalente no campo da espionagem.
— Sabe de uma coisa? Concordo com você — declarou Cook Por alguma razão, o fato de que tinha sido tão fácil dar o primeiro passo para transpor a linha invisível que ele próprio se impusera não o surpreendeu.
— Muito obrigado — disse Yamata, fazendo questão de parecer humilde. — E uma felicidade ter amigos sábios e fiéis como vocês.
— Nós é que agradecemos — insistiu, polidamente, um dos banqueiros.
— Não somos colegas? Não servimos ao nosso país, ao nosso povo, à nossa cultura com igual dedicação? Você, Ichiki-san, os templos que já restaurou.
— Ah! — Abrangeu com um gesto todos que se reuniam em torno da mesa baixa. — Todos fizemos isso, não pedindo nada em troca a não ser a oportunidade de ajudar a pátria, de contribuir para que ela recuperasse a antiga grandeza — acrescentou Yamata. — Como posso servir aos meus amigos esta noite? Assumiu uma posição de expectativa, esperando que lhe contassem o que já sabia. Os aliados, cuja identidade não era conhecida pelos outros dezenove, ocultaram tão bem quanto ele seus verdadeiros sentimentos.
Mesmo assim, havia tensão na sala, tão intensa que podia ser sentida, como se sente a presença de um estrangeiro.
Os olhos voltaram-se imperceptivelmente para Matsuda-san. Muitos realmente pensavam que Yamata se surpreenderia ao saber que ele estava em dificuldades, embora fosse fácil presumir que a proposta da reunião despertaria sua curiosidade o suficiente para levá-lo a investigar o que estava acontecendo. O dono de um dos maiores conglomerados de empresas do mundo falou em tom calmo e digno, embora um pouco triste, sem se apressar, explicando que a situação que provocara o problema de fluxo de caixa não fora resultado de má administração. A empresa começara no ramo da construção naval, expandira-se para a construção civil e atualmente também envolvia produtos eletrônicos. Matsuda assumira o comando em meados da década de 1980, fazendo com que os dividendos atingissem níveis jamais sonhados pelos acionistas. Yamata escutou a história com toda a paciência. Era interessante que os outros ouvissem falar do tempo das vacas gordas, porque, ao se identificarem com Matsuda em sua fase de sucesso, passariam automaticamente a temer que uma catástrofe semelhante se abatesse sobre suas cabeças. O fato de que o cretino resolvera investir em Hollywood, pagando uma astronômica quantia por trinta hectares no Melrose Boulevard e um pedaço de papel que dizia que estava autorizado a fazer filmes, bem, isso era mero detalhe, não era? — A corrupção e desonestidade dessas pessoas não têm limites — prosseguiu Matsuda em um tom que um padre católico poderia ouvir em um confessionário, ficando sem saber se o pecador estava renegando seus pecados ou simplesmente se lamentando pela má sorte. No caso em questão, dois bilhões de dólares tinham virado fumaça da noite para o dia.
Yamata poderia ter dito: “Bem que eu avisei”, mas a verdade era que não tinha avisado, mesmo depois que seus analistas de investimentos, americanos naquele caso particular, examinaram o mesmo negócio e recomendaram veementemente que se mantivesse de fora. Em vez disso, concordou com a cabeça.
— E evidente que não poderia prever semelhante desenlace, especialmente depois de todas as garantias que lhe foram propostas e das condições generosas que ofereceu em troca. A ética não existe para essa gente. — Yamata olhou em volta para recolher murmúrios de aprovação. — Matsudasan, quantos homens de bem poderiam acreditar que você teve alguma parcela de culpa? — Muitos — respondeu Matsuda, com muita coragem, pensaram todos.
— Não penso assim, meu amigo. Quem entre nós é mais honrado, mais perspicaz? Quem entre nós serviu a sua empresa com tanta dedicação? Raizo Yamata sacudiu a cabeça, tristemente.
— O que me preocupa, amigos, é que um destino semelhante talvez nos aguarde — declarou um banqueiro, querendo dizer que o banco emprestara dinheiro a Matsuda aceitando como garantia suas propriedades no Japão e nos Estados Unidos e que a falência do conglomerado reduziria as reservas a níveis perigosos. Embora pudesse sobreviver ao colapso da empresa, seria necessária apenas a impressão de que as reservas eram menores do que a realidade para derrubar sua instituição, e essa ideia podia aparecer no jornal em consequência de um erro de interpretação por parte de um único repórter. O resultado dessa notícia errônea, ou boato, seria uma corrida ao banco, com consequências desastrosas. O dinheiro retirado certamente seria depositado em outro lugar (afinal, era dinheiro demais para caber debaixo de colchões), e portanto poderia ser emprestado de volta por um colega banqueiro para sustentar a posição do primeiro, mas uma crise de segunda ordem, que era bem possível, seria suficiente para derrubar todo o sistema.
O que ninguém disse, e na verdade poucos pensaram, é que os homens reunidos ali, ao fazerem maus negócios, tinham sido os verdadeiros responsáveis pela crise. Era uma cegueira que todos compartilhavam... ou quase todos, pensou Yamata.
— O problema fundamental é que os alicerces econômicos desta nação não foram cravados na pedra, mas na areia — começou Yamata, falando como um filósofo. — Por mais fracos e tolos que sejam os americanos, o destino os abençoou com as matérias-primas que nos faltam. Em consequência, por mais valoroso que seja o nosso povo, estamos sempre em desvantagem.
Tinha dito tudo aquilo antes, mas agora, pela primeira vez, estavam escutando, e teve de se controlar para não demonstrar o contentamento que sentia com isso. Olhou para um deles, que sempre adotara uma posição contrária.
— Lembra-se do que você disse, que nossa verdadeira força estava na diligência dos nossos operários e na capacidade dos nossos projetistas? Estava com a razão, meu amigo. Essas são grandes qualidades; mais do que isso, são qualidades que os americanos não compartilham com a mesma abundância. Entretanto, como a sorte sorriu para os gaijin, eles podem neutralizar nossa vantagem, pois transformaram a boa sorte em poder, e é difícil lutar contra o poder. — Yamata fez uma pausa para avaliar a plateia.
Estava na hora de jogar a isca. Aquele era o momento; tinha certeza disso.
— Não, não é bem assim. Eles quiseram trilhar esse caminho, enquanto nós renunciamos a fazê-lo. Agora, portanto, devemos pagar o preço da nossa escolha. Só que também não é bem assim.
— Por que não? — perguntou um dos homens, falando por todos.
— Agora, meus amigos, a sorte sorri para nós e o caminho para a grandeza nacional se abriu à nossa frente. Em nossa adversidade, podemos, se quisermos, encontrar oportunidades.
Yamata pensou consigo mesmo que esperara quinze anos por aquele momento. Imediatamente, mudou de ideia; na verdade, esperara por muito mais tempo, desde que tinha dez anos, em fevereiro de 1944, e fora o único da família a subir a bordo do navio que o levaria de Saipan até o arquipélago japonês. Ainda podia se ver debruçado na amurada, olhando para o pai, a mãe e os irmãos mais novos parados no cais, contendo as lágrimas a custo e sabendo no fundo que jamais voltaria a vê-los.
Os americanos tinham assassinado todos eles, varrido sua família da face da terra, induzido os entes queridos a se jogar dos penhascos no mar revolto, porque para eles os japoneses, com ou sem uniforme, não passavam de animais. Yamata se lembrava das notícias sobre a guerra que ouvira no rádio, da forma como as “Águias Selvagens” do Kido Butai haviam esmagado a frota americana, do modo como os soldados invencíveis do imperador tinham empurrado os odiados fuzileiros americanos de volta para o mar, de como haviam dizimado os exércitos inimigos nas montanhas de uma ilha tomada dos alemães depois da Primeira Guerra Mundial, e mesmo então percebera a inutilidade de fingir que acreditava em mentiras, porque tinham de ser mentiras, apesar das palavras de conforto do tio. Logo as notícias do rádio mudaram, as vitórias gloriosas sobre os americanos passaram a acontecer cada vez mais perto de casa, sentiu um ódio irracional quando aquela nação vasta e poderosa se viu incapaz de conter os bárbaros e o terror dos bombardeiros, primeiro de dia e depois também à noite, arrasando seu país, uma cidade de cada vez. A luz alaranjada no céu noturno, às vezes mais perto, às vezes mais longe, as mentiras do tio, tentando explicar, e finalmente o alívio no rosto do homem quando tudo terminou.
Só que não houvera nenhum alívio para Raizo Yamata, não com a família exterminada, varrida da face de terra. No momento em que viu pela primeira vez um americano, uma figura incrivelmente alta, de cabelos ruivos e sardas na pele leitosa, que passara a mão amistosamente na sua cabeça como alguém faria com um cachorro, só conseguiu imaginar que ali estava o inimigo.
Não foi Matsuda que respondeu. Não podia ser. Tinha de ser outro, alguém cuja empresa ainda era sólida, ou aparentava sê-lo. Tinha de ser alguém que jamais concordara com ele. O homem olhou para a xícara de chá, cheia até a metade (aquela não era uma noite para se beber álcool) e pensou a respeito da própria sorte. Falou sem levantar os olhos, porque tinha medo de ver a mesma expressão nos rostos dos outros homens reunidos em torno da mesa preta e lustrosa.
— O que propõe, Yamata-san, para que possamos atingir esse objetivo?
— Sem sacanagem? — perguntou Chávez.
Estava falando em russo, porque não era permitido falar inglês ali em Monterey e ainda não sabia como dizer aquele coloquialismo em japonês.
— Quatorze agentes — respondeu Oleg Yurievich Lyalin, ex-major da KGB, tão secamente quanto seu ego permitiu.
— E eles nunca reativaram sua rede? — quis saber Clark.
— Não podiam — respondeu Lyalin com um sorriso, apontando para a própria cabeça. — A Operação CARDO foi criada por mim e acabou se transformando no meu seguro de vida.
Sem sacanagem, Clark sentiu vontade de dizer. O fato de que Ryan conseguira tirá-lo vivo de lá parecia um milagre. Lyalin fora julgado por traição pela KGB e colocado em uma cela para condenados à morte sabendo exatamente como seria a rotina. Informado de que a execução tinha sido marcada para dali a uma semana, foi conduzido à sala do comandante da prisão, onde lhe disseram que, como cidadão soviético, tinha direito de pedir clemência diretamente ao presidente; em seguida, convidaram-no a escrever uma carta nesse sentido. Os menos experientes teriam acreditado na proposta, mas Lyalin conhecia a verdade. Depois que escrevesse a carta, seria levado de volta à cela; o carrasco sairia de uma porta aberta à direita, encostaria uma pistola na sua cabeça e apertaria o gatilho. Sabendo o que sabia, não era de admirar que sua mão tremesse ao segurar a caneta esferográfica e as pernas parecessem de borracha quando foi levado para fora. Todo o ritual fora executado, e Oleg Yurievich ainda se lembrava do espanto que sentira quando chegou à cela e lhe disseram que recolhesse os pertences e acompanhasse um guarda. O espanto aumentou quando se viu de volta na sala do comandante, acompanhado por alguém que só podia ser um cidadão americano, com seu sorriso e suas roupas elegantes, aparentemente alheio aos planos malévolos da KGB.
— Eu teria mijado nas calças — observou Ding, estremecendo ao ouvir o final da história.
— Tive sorte — admitiu Lyalin, com um sorriso. — Acabara de urinar quando me tiraram da cela. Minha família estava à minha espera em Sheremetyevo. Foi um dos últimos voos da PanAm.
— Encheu a cara na viagem? — quis saber Clark.
— Oh, é claro — concordou Oleg, sem revelar que vomitara durante o longo voo até o Aeroporto Internacional JFK e depois insistira em dar uma volta de táxi pela cidade para ter certeza de que estava mesmo em Nova York.
Chávez encheu novamente o copo do professor. Lyalin estava tentando largar as bebidas fortes e se contentara com Coors Light.
— Estive em alguns lugares barra pesada, tovarich, mas esse aí deve ser de dar arrepios.
— Como está vendo, tudo acabou bem. Domingo Estebanovich, onde aprendeu a falar russo tão bem? — O garoto leva jeito, não é? — observou Clark. — Especialmente com a gíria...
— Escutem, gosto de ler, certo? E sempre que posso assisto a programas de TV em russo. Grande coisa! As últimas duas palavras foram ditas em inglês, porque os russos não tinham uma expressão equivalente.
— A verdade é que possui um talento natural para línguas, meu amigo — declarou Lyalin, levantando o copo para cumprimentá-lo.
Chávez imitou o gesto. Não tinha nem o segundo grau completo quando conseguira ser aceito pelo Exército dos Estados Unidos para trabalhar como eletricista e não como especialista em mísseis. Mais tarde, porém, tivera oportunidade de fazer o curso de graduação na Universidade George Mason e agora estava se preparando para defender a tese de mestrado. Maravilhava-se com a sorte que tivera e imaginava quantos outros meninos da favela poderiam se sair tão bem se fossem igualmente favorecidos pela sorte.
— Então a Sra. Fowley sabe que o senhor já teve uma rede de espionagem no Japão?
— Sabe, mas os agentes americanos não devem ter entrado em contato com eles. Não acredito que a CIA tentasse reativar a rede sem me contar.
— Além disso, meus agentes só obedecem a mim.
— Barbaridade! — exclamou Clark, também em inglês, porque certas coisas só se fala na língua nativa. — Aquilo era uma consequência natural da política da CIA de substituir a inteligência humana por recursos eletrônicos, que podiam ser úteis mas não eram a panaceia apregoada pelos tecnocratas. Dos mais de quinze mil funcionários da CIA, apenas quatrocentos e cinquenta trabalhavam como agentes e circulavam realmente na cidade e no campo, falando com gente de verdade e tentando descobrir o que pensavam em vez de estudar planilhas em computadores e ler artigos de jornal.
— Sabe de uma coisa? Não sei como conseguimos ganhar essa maldita guerra.
— Os Estados Unidos fizeram o possível para perdê-la mas a União Soviética se esforçou ainda mais. — Lyalin fez uma pausa. — A Operação CARDO se interessava particularmente por dados comerciais. Roubamos muitos projetos e processos industriais do Japão. Seu país tem como Princípio não usar os serviços de informações para esse fim. — Outra pausa.
— Só que não percebem uma coisa.
— O que, Oleg? — perguntou Chávez, abrindo outra Coors.
— Na prática, não existe nenhuma diferença, Domingo. Estou tentando explicar isso a eles há muito tempo. No Japão, negócios e governo são a mesma coisa. O Parlamento e os ministérios não passam de fachada, de maskirova para os impérios comerciais.
— Se o que diz é verdade, há pelo menos um governo neste planeta que sabe fazer um carro decente — brincou Chávez. Desistira de comprar o Corvette dos seus sonhos (custava uma verdadeira fortuna) e optara por um carro japonês que oferecia praticamente o mesmo desempenho pela metade do preço. Agora teria de vendê-lo, lembrou-se Ding. Não ficaria bem um homem casado dirigindo um carro esporte...
— Nyet. Precisam entender uma coisa: a oposição não é o que vocês pensam. Por que acham que é tão difícil negociar com eles? Foi uma das primeiras coisas que descobri, e a KGB aceitou de imediato esta verdade.
— Como não podia deixar de aceitar, pensou Clark. A teoria comunista previa exatamente esse tipo de “verdade”, não previa? Era muito irônico! A operação deu bons resultados? — perguntou.
— Excelentes — respondeu Lyalin. — Os japoneses são treinados para aceitar insultos sem revidar. Em consequência, escondem muitos ressentimentos. Tudo que você tem a fazer é mostrar simpatia.
Clark concordou com a cabeça, pensando: Este cara sabe o que faz. Quatorze agentes bem colocados. Ainda tinha os nomes, endereços e telefones na cabeça. Estranhamente, ninguém em Langley se interessara por eles. Talvez a culpa fosse dos malditos princípios éticos impostos à CIA pelos advogados, uma linhagem de servidor público que estava proliferando como erva daninha. Como se alguma operação da CIA pudesse respeitar os princípios éticos! Bolas, ele e Ding tinham sequestrado Corp, não tinham? No interesse da justiça, é claro, mas se o levassem para os Estados Unidos a fim de ser julgado, em vez de entregá-lo ao governo do seu país, algum advogado de defesa com elevados princípios éticos, talvez um defensor público (obstruindo a justiça de graça, pensou Clark) faria discursos inflamados, primeiro diante das câmaras de TV e depois diante do júri, afirmando que tudo que aquele patriota queria era defender seu país do imperialismo etc., etc.
— E uma fraqueza interessante — observou Chávez, pensativo. — As pessoas no fundo são as mesmas em qualquer parte do mundo, não acha? As máscaras podem ser diferentes, mas a carne por baixo é a mesma — declarou Lyalin, sentindo-se mais professor do que nunca. O comentário, dito de improviso, foi a melhor lição do dia.
De todas as lamentações humanas, sem dúvida a mais comum é Se ao menos eu soubesse. Mas não temos meios de saber, de modo que os dias de morte e tristeza começam da mesma forma que os dias de amor e felicidade. Pierce Denton preparou o carro para a viagem a Nashville. Não foi fácil. Teve de instalar assentos de segurança para as gêmeas no banco traseiro do Cresta e entre eles colocou um assento ainda menor para o filho mais novo, Matthew. As gêmeas, Jessica e Jeanine, estavam com três anos e meio, tendo sobrevivido aos “terríveis dois anos” (ou melhor, os pais tinham sobrevivido) e às aventuras simultâneas de aprender a andar e a falar. Agora, usando roupas iguais, vestido azul e malha branca, deixaram que papai e mamãe as colocassem no carro. Depois foi a vez de Matthew. Estava agitado e lamuriento, mas as meninas sabiam que o balanço do carro logo o poria para dormir, o que fazia a maior parte do tempo, a não ser quando estava mamando no peito da mãe. Era um dia importante: passariam um fim de semana na casa da vovó.
Pierce Denton, vinte e sete anos, trabalhava no pequeno departamento municipal de polícia de Greeneville, Tennessee. Anda frequentava a escola noturna para terminar o curso superior, mas não tinha outra ambição a não ser sustentar a família e levar uma vida confortável nas montanhas cobertas de árvores, onde um homem podia caçar e pescar com os amigos, frequentar uma igreja onde todos se conheciam e gozar de outros prazeres simples da vida. O trabalho era bem mais leve que o dos colegas de outros lugares, e não os invejava. Greeneville tinha a sua cota de problemas, como qualquer cidade americana, mas a violência era muito menor do que a mostrada na TV ou nas revistas especializadas que chegavam à delegacia. Às quinze para as oito da manhã, saiu da garagem de marcha à ré e ganhou a rua quase deserta, dirigindo-se para a estrada 11E. Sentia-se repousado e alerta, depois de tomar duas xícaras de café para espantar o sono. Pelo menos, tão repousado quanto era possível com um bebê dormindo no mesmo quarto que ele e a esposa, Candace. Quinze minutos depois, entrou na rodovia 81 e tomou a direção sul, com o sol da manhã pelas costas.
O tráfego era pequeno naquela manhã de sábado. Ao contrário de muitos policiais, Denton não gostava de correr, pelo menos com a família no carro; manteve a velocidade constante em cento e dez quilômetros por hora, ligeiramente acima do limite permitido de cem quilômetros, pois se divertia com a sensação de infringir a lei, contanto que fosse apenas um pouquinho. A Interstate 81 era como as outras rodovias interestaduais, larga e bem pavimentada, mesmo quando serpenteava para sudoeste, atravessando a cadeia de montanhas que interrompera a primeira expansão Para oeste dos colonizadores europeus. Em New Market, a 81 se encontrava com a 1-40 e Denton se misturou aos motoristas que vinham da Carolina do Norte. Logo estaria em Knoxville. Olhando pelo retrovisor, viu que as gêmeas já estavam cochilando e o ouvido revelou que Matthew continuava adormecido. A seu lado, Candy Denton também caíra no sono. O filho mais moço ainda não aprendera a dormir a noite toda e isso sobrecarregava a esposa, que não tinha uma noite decente de sono desde... bem, desde o nascimento de Matt, pensou o rapaz. A esposa era miúda e não passara muito bem nos últimos meses de gravidez. Candy apoiara a cabeça na janela e estava tentando recuperar o sono atrasado antes que Matthew acordasse e anunciasse em altos brados que estava com fome, embora, com um pouco de sorte, talvez só acordasse em Nashville.
A única parte difícil da viagem, se é que se podia chamá-la assim, seria em Knoxville, uma cidade de porte médio situada na margem setentrional do rio Tennessee. Era suficientemente grande para dispor de um anel rodoviário, a 1-640, que Denton evitou, preferindo seguir o caminho mais direto.
O tempo estava quente para variar. Nas seis semanas anteriores, tinha sido uma tempestade de neve atrás da outra, e Greeneville já gastara toda a verba disponível para colocar sal nas estradas. Denton atendera a pelo menos cinquenta pequenos acidentes de trânsito e dois acidentes de maior gravidade. Estava arrependido de não ter mandado lavar o Cresta na noite anterior. A pintura vermelha apresentava manchas de sal. Ainda bem que o carro viera de fábrica com um revestimento anticorrosivo na parte inferior, porque a velha caminhonete não tivera esse tipo de tratamento e estava sendo devorada pela ferrugem. Estava bem satisfeito com a nova aquisição.
Seria bom se houvesse um pouco mais de espaço para as pernas, mas o carro era de Candy, não seu, e a esposa não precisava de mais espaço. O automóvel era bem mais leve que o carro da polícia e tinha apenas metade da potência. Isso fazia com que balançasse um pouco mais. Isso podia ser uma vantagem, porque ajudava a embalar as crianças.
Aparentemente, ali nevara ainda mais do que em Greeneville. O sal acumulara-se no centro da pista como se fosse areia. Era uma pena terem de usar tanto sal; realmente acabava com os carros. Mas não o seu, pensou Denton, que lera com atenção as especificações antes de decidir presentear Candy com o Cresta vermelho.
As montanhas que atravessam diagonalmente aquela região dos Estados Unidos são chamadas de Great Smokies, um nome escolhido, segundo a tradição local, por Daniel Boone em pessoa. Na verdade, fazem parte de uma cadeia que se estende da Geórgia até o Maine, mudando de nome quase com a mesma frequência com que muda de estado. Ao longo de toda a cadeia, a umidade dos numerosos lagos e regatos combina-se com as condições atmosféricas para criar um nevoeiro quase permanente.
Will Snyder, da Pilot Lines, estava fazendo hora extra para aumentar um pouco a renda. A carreta Fruehauf, puxada por um caminhão Kenworth, levava um carregamento de carpetes fabricados na Carolina do Norte, que deveriam ser entregues a uma distribuidora em Memphis. Um motorista experiente, Snyder não se queixava de trabalhar no sábado, porque o pagamento era melhor; além disso, a temporada do futebol já terminara.
Fosse como fosse, esperava estar em casa antes do jantar. As estradas estavam com pouco movimento naquele fim de semana de inverno e chegaria mais cedo do que previra, pensou o motorista, fazendo uma curva à direita para entrar em um vale.
— Oh-oh — murmurou consigo mesmo. Não era incomum encontrar nevoeiro ali, perto da saída da estrada estadual 95 norte, a mesma que levava às instalações atômicas de Oak Ridge. A140 tinha alguns pontos críticos, e aquele era um deles. — Maldito nevoeiro! Havia duas formas de lidar com uma situação como aquela. Alguns só freavam no último momento, para não desperdiçar combustível, ou simplesmente porque não gostavam de andar em marcha lenta. Snyder agia de outra forma. Como motorista profissional, que via carros acidentados à beira de estrada quase todo dia, logo reduziu, antes mesmo que a visibilidade caísse para menos de cem metros. O pesado veículo levava muito tempo para parar; tinha um amigo que transformara um carrinho japonês em paçoca, juntamente com o velhinho que estava ao volante. Não queria que o mesmo acontecesse com ele. Reduzindo a marcha, sabia que estava aumentando consideravelmente a margem de segurança. Como precaução adicional acendeu os faróis.
Pierce Denton fez um muxoxo. Era outro Cresta, a versão esportiva C99, ainda não fabricada nos Estados Unidos, um carro preto com uma lista vermelha que passou zunindo por ele a uns cento e trinta por hora. Em Greeneville, isso teria custado uma multa de cem dólares e uma reprimenda do juiz Tom Anders. De onde tinham vindo aquelas duas garotas? Não vira nenhum sinal delas no retrovisor. A licença era provisória. As duas pareciam muito jovens; provavelmente uma delas acabara de ganhar do papai a carteira e o carro e convidara a amiga para ajudá-la a comemorar a liberdade recém-adquirida. Liberdade para fazer bobagem e ganhar uma multa logo no primeiro dia, pensou Denton. Mas aquela não era sua jurisdição, e por isso limitou-se a sacudir a cabeça. Na verdade, sentia-se mais seguro com as garotas na sua frente do que atrás.
— Credo! — exclamou Snyder.
Em uma parada para caminhões, ouvira falar que para os locais a culpa era dos “cientistas loucos” de Oak Ridge. Fosse qual fosse a razão, a visibilidade caíra subitamente para menos de dez metros. Ligou o alerta e reduziu ainda mais a velocidade. Nunca fizera o cálculo, mas com aquele peso e viajando a cinquenta quilômetros por hora, o conjunto caminhão-carreta provavelmente precisaria de mais de vinte metros para parar, e isso em estrada seca, o que não era o caso. Por outro lado... não, pensou, melhor não arriscar. Diminuiu a velocidade para trinta. Aquele trecho da 1-40 era famoso; os motoristas de caminhão diziam que era melhor perder tempo ali do que perder o bônus do seguro. Depois de reduzir a velocidade, Snyder ligou o rádio CB para transmitir um aviso aos colegas.
Era como estar dentro de uma bola de pingue-pongue, declarou no canal 19, perscrutando a massa esbranquiçada de vapor d’água à sua frente enquanto o perigo se aproximava pela retaguarda.
A cerração apanhou-as totalmente de surpresa. Denton acertara em cheio.
Fazia oito dias que Nora Dunn comemorara o décimo sexto aniversário e três que recebera a carteira; o C99 tinha apenas setenta e oito quilômetros rodados. Escolhera uma estrada bem larga para correr à vontade, porque era muito jovem e a amiga Amy Rice lhe pedira. Com o CD player a todo volume e conversando sem parar sobre os rapazes da escola, Nora mal prestava atenção à estrada; afinal, não havia nenhuma dificuldade em manter o carro entre a faixa contínua à direita e a faixa interrompida à esquerda. Além disso, não via ninguém no espelho para incomodar, e ter um carro era muito melhor do que sair com um novo namorado, porque eles sempre faziam questão de pegar o volante, como se as mulheres não soubessem dirigir direito.
Nora ficou um pouco preocupada quando a visibilidade diminuiu de repente — para quanto, não saberia dizer —, e sua reação foi tirar o pé do acelerador, fazendo com que a velocidade, que vinha mantendo em cento e trinta e cinco quilômetros diminuísse um pouco. Não havia nenhum carro atrás dela; na certa a pista estava livre à sua frente também. Os professores da escola de motoristas haviam ensinado tudo que precisava saber, mas, como era natural, não assimilara todas as lições. Algumas coisas teriam de vir com a experiência. Infelizmente, era tarde demais para isso.
A mocinha viu as luzes traseiras da carreta, mas pensou que fossem lâmpadas de rua; se dirigisse há mais tempo, saberia que não existia esse tipo de iluminação nas rodovias. De qualquer forma, teria sido tarde demais para frear. Quando viu o vulto cinzento à sua frente, estava a cem quilômetros por hora. Como a carreta estava a trinta, foi o equivalente a chocar-se com um objeto estacionário de trinta toneladas a setenta quilômetros por hora.
Era sempre um barulho extremamente desagradável. Will Snyder já o ouvira antes; para ele, parecia uma pilha de latas de alumínio sendo esmagadas por uma prensa, quando na verdade era o Cram nada musical de um carro sendo destruído pela velocidade, pela inércia, pelas leis da física que ele aprendera, não nos bancos escolares, mas com a experiência.
O choque com o lado esquerdo da traseira da carreta fez a frente do caminhão dar uma guinada para a direita, mas, felizmente, como estava devagar, conseguiu recuperar o controle e parar o veículo. Olhando para trás e para a esquerda, viu os restos de um carro japonês igual ao que o irmão queria comprar; seu primeiro pensamento foi que aqueles carros eram pequenos demais para ser seguros, como se isso fizesse alguma diferença naquelas circunstâncias. A frente estava toda amassada, e o chassi visivelmente empenado. Olhando com mais atenção, viu uma grande mancha vermelha no banco da frente.
— Oh, meu Deus! Amy Rice morreu na hora, apesar de o saco de ar do banco do carona ter funcionado como devia. Com a força da colisão, o lado direito do carro mergulhou sob a carreta, fazendo com que o robusto para-choque traseiro rasgasse a capota como se fosse uma motosserra. Nora Dunn ainda estava viva, mas inconsciente. O Cresta C99 era uma perda total, o bloco de alumínio do motor rachado ao meio, o chassi empenado e, pior de tudo, o tanque de gasolina, já danificado pela corrosão, começando a vazar.
Snyder viu a gasolina se espalhando na estrada. Manobrou rapidamente para o acostamento e saltou com o extintor de incêndio na mão. O que o salvou foi o fato de que não conseguiu chegar a tempo ao lugar do desastre.
— O que foi, Jeanine?
— Jessica! — protestou a menina, aborrecida com a confusão do pai.
— O que foi, Jessica! — emendou o pai, paciente.
— Ele está cheirando mal! — explicou Jessica, com um risinho.
— Está bem.
Pierce Denton suspirou e sacudiu a esposa pelo ombro. Foi nesse momento que viu o nevoeiro e tirou o pé do acelerador.
— O que é, querido? Matt executou a fralda.
— Está bem... — disse Candace, soltando o cinto de segurança e voltando-se para o banco traseiro.
— E melhor não fazer isso, Candy.
Denton olhou para trás, também, mas na hora errada. Quando tornou a olhar para a frente, o carro estava quase no acostamento da direita e havia um veículo parado à sua frente.
— Que merda! A sua reação instintiva foi desviar-se para a esquerda, mas estava muito à direita para conseguir, algo de que se deu conta antes mesmo de girar o volante totalmente para a esquerda. Frear com força também não ajudou.
As rodas traseiras derraparam no asfalto molhado, fazendo com que o carro deslizasse de lado em direção ao outro carro, que agora reconheceu como sendo outro Cresta. Seu último pensamento coerente foi: Será que é o mesmo que...? Apesar da cor vermelha, Snyder só viu o segundo Cresta no último momento. O caminhoneiro ainda estava a alguns metros de distância, correndo com o extintor de incêndio na mão.
A primeira coisa que ocorreu a Denton foi que a colisão poderia ter sido pior. A esposa batera com a cabeça no para-brisa, mas as crianças estavam bem amarradas, graças a Deus, e...
O que decidiu o destino dos cinco ocupantes do carro foi a corrosão.
O tanque de gasolina, como o do C99, depois de sofrer um tratamento imperfeito de galvanização, tinha sido exposto ao sal durante a viagem de navio e mais ainda nas estradas tortuosas do Tennessee. Os pontos de solda estavam particularmente vulneráveis e se soltaram com o choque. A distorção do chassi fez o tanque se arrastar na superfície da estrada; o revestimento do fundo desprendeu-se imediatamente, outro ponto fraco fez com que o tanque rachasse e a própria carcaça de aço forneceu a centelha.
O fogo dissipou parcialmente a cerração, produzindo um clarão tão forte, que os carros começaram a parar dos dois lados da estrada. Isso causou uma colisão de três veículos na outra pista, a cem metros de distância do primeiro acidente, mas não houve vítimas, e as pessoas saltaram dos carros para ver o que estava acontecendo. O fogo também atingiu a gasolina que havia vazado do carro de Nora Dunn, envolvendo a moça, que morreu carbonizada sem ter recuperado a consciência.
Will Snyder estava suficientemente próximo para ver os rostos dos cinco ocupantes do Cresta vermelho. Uma mãe e um bebê foram os dois de quem se lembraria pelo resto da vida, a mulher enfiada entre os dois bancos dianteiros, segurando o bebê, olhando na sua direção. O fogo foi uma surpresa terrível, mas Snyder não parou. A porta traseira esquerda do Cresta vermelho tinha sido aberta pelo impacto e isso lhe deu uma oportunidade, porque as chamas, pelo menos no momento, se restringiam ao lado direito do veículo acidentado. Investiu, brandindo o extintor como se fosse uma arma, enquanto o fogo se aproximava do tanque de gasolina do Cresta vermelho. Tinha apenas alguns segundos para agir, para pegar uma das três crianças e salvá-la do inferno que já começava a queimar-lhe as roupas e o rosto, enquanto as luvas protegiam as mãos que dirigiam o jato de gás para o banco traseiro. O extintor poderia salvar sua vida e a de mais alguém. Procurou o bebê no meio da nuvem de vapor, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum, e a menininha no banco da esquerda estava gritando de medo e de dor, bem na sua frente. As mãos enluvadas encontraram e soltaram o fecho do cinto e ele arrancou a menina do assento, quebrando-lhe o braço, e depois saltou para trás para escapar ao fogo. Havia um monte de neve ao lado do guardrail e Snyder se jogou sobre ele para apagar as chamas da sua roupa; em seguida, cobriu a criança com neve suja de sal para fazer o mesmo por ela, enquanto a dor que sentia no rosto era apenas um prenúncio do que o esperava. Resistiu ao impulso de olhar para trás.
Podia ouvir os gritos, mas voltar ao carro em chamas seria suicídio, e se olhasse poderia sentir-se obrigado a fazê-lo. Em vez disso, olhou para Jessica Denton, o rosto enegrecido de fuligem, a respiração difícil, e rezou para que o socorro não demorasse. Quando uma ambulância chegou, quinze minutos depois, tanto ele como a criança estavam em choque profundo.
8
INVESTIGAÇÃO
O fato de que não acontecera muita coisa digna de destaque naquele dia assegurava a cobertura da imprensa; o número de vítimas e suas idades contribuíam para aumentar o interesse da notícia. Uma das estações locais de TV de Knoxville tinha um convênio com a CNN; por esse motivo, ao meio-dia, o acidente foi mostrado no noticiário da emissora. Um caminhão de reportagem com ligação ao vivo via satélite ofereceu a um jovem repórter local a oportunidade de mostrar seu trabalho em rede nacional (ele não pretendia ficar em Knoxville para sempre); como o nevoeiro tinha finalmente se dissipado, as câmaras puderam mostrar com detalhes os restos do desastre.
— Droga — murmurou Ryan, na cozinha da sua casa. Jack tirara o sábado de folga, o que era raro, estava almoçando com a família e pretendia levá-los à missa noturna na igreja de St. Mary para poder passar a manhã de domingo em casa. No momento em que viu a cena, largou o sanduíche no prato para prestar mais atenção.
Três caminhões do corpo de bombeiros tinham se dirigido ao local do sinistro, além de quatro ambulâncias, duas das quais ainda permaneciam lá. O caminhão ao fundo estava praticamente intacto, embora o para-choque traseiro mostrasse sinais da colisão. Em primeiro plano, porém, tudo que havia eram duas massas de metal enegrecido e distorcido pelo fogo. Uma dúzia de policiais rodoviários andavam de um lado para outro, muito sérios, sem dizer nada, nem mesmo para trocar as piadas de costume a respeito de acidentes de automóvel. Então Jack viu um deles comentar alguma coisa com um colega. Os dois sacudiram a cabeça e olharam para o chão, dez metros atrás do repórter, que falava em tom monótono, dizendo as mesmas coisas pela centésima vez em sua curta carreira. Neblina. Excesso de velocidade. Os dois tanques de gasolina incendiaram-se. Seis mortos, quatro deles menores de idade. “Aqui é Bob Wright, falando da Interstate 40, perto de Oak Ridge, Tennessee. Intervalo para os comerciais”.
Jack voltou ao sanduíche, resmungando alguma coisa a respeito das injustiças da vida. Não havia razões ainda para que se interessasse pelo caso.
A quinhentos quilômetros da baía de Chesapeake, os carros estavam ensopados, porque os bombeiros voluntários tinham se julgado na obrigação de usar as mangueiras, embora soubessem de antemão que isso não ajudaria em nada os ocupantes. O fotógrafo da polícia gastou três rolos de filme colorido de 200 ASA, focalizando as bocas abertas das vítimas para provar que tinham morrido gritando. O policial mais antigo no local era o Sargento Thad Nicholson. Um policial rodoviário experiente, com mais de vinte anos de serviço, chegou a tempo de assistir à remoção dos corpos. O revólver de serviço de Pierce Denton tinha caído no asfalto, e isso, mais do que qualquer outra coisa, o identificara como colega da polícia, antes mesmo que a verificação de rotina da placa do carro tornasse o fato oficial. Quatro menores, sendo duas crianças pequenas e duas adolescentes, e dois adultos.
Era difícil aceitar tragédias como aquela, pensou o Sargento Nicholson. A morte já era uma coisa triste, mas uma morte assim, como Deus pudera permitir que acontecesse? Duas crianças... bem... Ele permitira, e não havia nada que o sargento pudesse fazer. Estava na hora de voltar ao trabalho.
Ao contrário do que Hollywood parecia pensar, aquele tipo de acidente era extremamente incomum. Os automóveis normalmente não se transformavam em bolas de fogo depois de uma colisão, e esta, como seus olhos treinados logo perceberam, não tinha sido das mais violentas. Está certo, o choque em si provocara uma morte, a da garota no banco do carona do primeiro Cresta, que fora praticamente decapitada. Mas o que dizer dos outros? Não deveriam ter morrido. O primeiro Cresta atingira a traseira do caminhão com uma velocidade relativa de uns setenta ou oitenta quilômetros por hora. Os dois sacos de ar tinham funcionado e um deles deveria ter salvo a vida da motorista. O segundo carro se chocara com o primeiro em um ângulo de trinta graus. Era estranho que um policial cometesse um erro daqueles, pensou Nicholson. Entretanto, a esposa não estava usando o cinto de segurança... talvez estivesse atendendo às crianças no banco de trás e sem querer distraíra a atenção do marido. Essas coisas aconteciam, e não havia como voltar atrás.
Das seis vítimas, uma morrera na colisão e as outras cinco no incêndio subsequente. Isso não deveria ter acontecido. Os carros não eram feitos para pegar fogo, e por isso Nicholson pediu aos auxiliares que desviassem o trânsito a um quilômetro dali; assim, os três veículos envolvidos no acidente poderiam permanecer por algum tempo onde estavam. Usou o rádio do carro para chamar investigadores de acidentes em Nashville e recomendar que o escritório local do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes fosse notificado. Por coincidência, uma das funcionárias locais desse órgão federal morava perto de Oak Ridge. A engenheira Rebecca Upton estava na cena do acidente meia hora depois de receber o chamado.
Engenheira mecânica pela Universidade do Tennessee, que naquela manhã estivera estudando para o exame profissional, vestiu o macacão branco oficial, recém-adquirido, e começou a examinar os destroços antes mesmo que os policiais especializados chegassem de Nashville, enquanto os operadores do reboque esperavam com impaciência. Vinte e quatro anos, miúda, cabelos ruivos, saiu de baixo do segundo Cresta com a pele sardenta manchada de fuligem e os olhos verdes lacrimejando por causa dos vapores de gasolina. O Sargento Nicholson passou-lhe um copo de isopor cheio de café que conseguira com um bombeiro.
— O que acha? — perguntou Nicholson, imaginando se a moça teria alguma opinião. Pelo menos, não tinha medo de sujar a roupa, o que era um bom sinal.
— Os dois tanques falharam. — Apontou com a mão. — Este aqui foi totalmente arrancado. O outro foi amassado pelo impacto e se rompeu.
— Qual era a velocidade? No momento da colisão, você quer dizer? — Nicholson sacudiu a cabeça. — Não era muito grande. Uns setenta ou oitenta, no máximo.
— Eu também penso assim. Os tanques de gasolina são projetados para resistir a choques maiores do que esse. — A moça pegou o lenço que o policial lhe ofereceu e limpou o rosto. — Obrigada, sargento.
Bebeu um gole de café e assumiu uma expressão distante.
— Em que está pensando? Rebecca olhou para o sargento.
— Estou pensando que a morte dessas seis pessoas...
— Cinco — corrigiu Nicholson. — O caminhoneiro conseguiu salvar uma das crianças.
— Oh... eu não sabia. A morte dessas pessoas não deveria ter acontecido. Não havia razão para isso. O impacto não foi tão violento assim.
— Aposto que existe uma falha de projeto nesses carros. Para onde pretende levá-los? — perguntou, sentindo-se muito profissional.
— Os carros? Para Nashville. Posso conservá-los da delegacia, se quiser.
A moça fez que sim com a cabeça.
— Está certo. Preciso falar com meu chefe. Provavelmente, vamos transformar isto em uma investigação federal. Alguma objeção? A engenheira jamais fizera algo semelhante, mas sabia que, de acordo com o regulamento, tinha autoridade para iniciar um inquérito do CNST.
Mais conhecido pelo papel que desempenhava na investigação dos acidentes de aviação, o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes também analisava acidentes incomuns envolvendo trens e veículos motorizados e tinha autoridade para requisitar a cooperação de qualquer órgão federal.
Nicholson já participara de uma investigação semelhante. Sacudiu a cabeça.
— Estou certo de que meu capitão prestará toda a colaboração necessária.
— Obrigada. — Rebecca Upton quase sorriu, mas aquele não era o lugar adequado. — Onde estão os sobreviventes? Teremos de interrogá-los.
— Foram levados de ambulância para Knoxville. É apenas um palpite, mas podem estar no Shriners. — Ele sabia que o hospital dispunha de uma excelente unidade para queimados. — Precisa de mais alguma coisa? Temos de desobstruir a estrada.
— Tomem muito cuidado com os carros.
— Vamos tratá-los com todo o carinho — assegurou-lhe o Sargento Nicholson, com um sorriso paternal.
No conjunto, pensou Rebecca, não tinha sido um mau dia. Claro que sentia pena dos ocupantes dos carros e ficara impressionada com as circunstâncias da sua morte, mas estava fazendo seu trabalho, e aquela era a primeira missão realmente importante que recebera desde que entrara para o Departamento de Transportes. Caminhou de volta para o carro, um Nissan hatchback, e despiu o macacão, vestindo em seu lugar um blusão do CNST Não era muito quente, mas pela primeira vez em sua carreira no governo, sentia-se como parte de um grupo importante, fazendo um trabalho importante, e queria que o mundo inteiro soubesse quem era e o que estava fazendo.
— Olá.
A moça levantou os olhos e deparou com o rosto sorridente de um repórter de televisão.
— O que deseja? — perguntou secamente, decidida a comportar-se com a maior dignidade possível.
— Pode nos dizer alguma coisa? Tinha baixado o microfone e o câmera, embora nas proximidades, não estava filmando no momento.
— Apenas se não revelar a fonte — declarou Becky Upton, depois de refletir por um momento.
— Está bem.
— Os dois tanques de combustível vazaram. Foi o que matou essas Pessoas.
— Isso é raro?
— Muito raro. — A moça fez uma pausa. — O CNST terá que investigar. Isso não deveria ter acontecido, entende?
— Perfeitamente.
Wright consultou o relógio. Dali a dez minutos estaria novamente ao vivo via satélite e dessa vez teria algo diferente para dizer. O repórter se afastou, de cabeça baixa, ensaiando as palavras. Que furo! O Conselho Nacional de Segurança dos Transportes vai investigar o Carro do Ano da revista Motor Trend. Existe a suspeita de um defeito de fabricação, que teria causado a morte de cinco pessoas. Imaginou se o câmera conseguiria mostrar os assentos infantis calcinados no banco traseiro do carro. Seria uma ótima cena de impacto.
Ed e Mary Patrícia Foley estavam no seu escritório, no último andar da sede da CIA. O fato de serem casados causara alguns problemas. Mary Pat fora nomeada vice-diretora de Operações, a primeira mulher a chegar a essa posição. Uma agente de grande experiência, era a metade aventureira da melhor dupla marido e mulher que a CIA jamais empregara. O marido, Ed, era menos impetuoso mas melhor planejador. Os talentos do casal complementavam-se, e embora o cargo principal fosse de Mary Pat, ela requisitara imediatamente o marido como assistente executivo e o tornara seu igual em termos práticos, mesmo que não em termos hierárquicos. Uma nova porta tinha sido aberta para que ele pudesse entrar sem passar pela secretária executiva na antessala e os dois cuidavam juntos da reduzida equipe de agentes da CIA. A relação de trabalho era tão íntima quanto o casamento, com todos os compromissos associados ao segundo, e o resultado era que a Diretoria de Operações funcionava como um relógio.
— Precisamos escolher um nome, querido.
— Que tal SOLDADO?
— Por que não COMBATENTE? Ed sorriu.
— Estamos falando de dois homens! A propósito: Lyalin disse que estão indo bem nas aulas de japonês.
— Ficarei satisfeito se aprenderem o suficiente para pedir o almoço e descobrir onde fica o banheiro. — Dominar a língua japonesa não era um desafio trivial. — Quanto quer apostar como estão falando com sotaque russo? Uma ideia lhes ocorreu ao mesmo tempo.
— Os disfarces!
— É mesmo... — Mary Pat teve vontade de rir. — Acha que alguém vai se importar? Os agentes da CIA estavam proibidos de adotar a identidade de jornalistas. Isto é, de jornalistas americanos. O regulamento fora mudado recentemente, por insistência de Ed, para refletir o fato de que boa parte dos agentes locais eram jornalistas do Terceiro Mundo. Como os dois agentes encarregados da operação falavam russo muito bem, poderiam facilmente se disfarçar de jornalistas russos. Seria uma violação do espírito do regulamento, mas não do que estava escrito. Ed Foley também tinha seus momentos de aventura.
— Oh, sim — disse Mary Pat — Clark perguntou se queremos que ele tente reativar a Operação CARDO.
— Precisamos conversar com Ryan ou o presidente a respeito — observou Ed, voltando a ser conservador.
Mas a mulher era diferente.
— Não, não precisamos. Precisamos de aprovação para usar a rede, não para verificar se ela ainda existe.
Os olhos azuis faiscaram, como faziam sempre que achava que estava sendo esperta.
— Querida, acho que está sendo um pouco ousada — advertiu Ed. Essa era precisamente uma das razões pelas quais amava a esposa. — Mas eu gosto da ideia. Está bem, contanto que se limite a verificar se a rede ainda está lá.
— Pensei que tivesse de mostrar minha superioridade, amor.
— Concordei só para você não atrasar o jantar. Podemos mandar as ordens segunda-feira de manhã.
— Vamos ter que parar no supermercado a caminho de casa. O pão acabou.
O deputado Alan Trent, de Massachusetts, estava em Hartford, Connecticut, onde pretendia tirar um sábado de folga para assistir a um jogo de basquetebol entre a Universidade de Massachusetts e a Universidade de Connecticut, ambas sérias candidatas ao título da temporada. Mas isso não o liberava totalmente do trabalho; viajara acompanhado por dois assistentes, enquanto um terceiro estava para chegar com mais trabalho. Era mais confortável ali no hotel Sheraton, próximo à Hartford Civic Arena, onde seria realizado o jogo, do que no seu escritório, e estava deitado na cama cercado de papéis — como Winston Churchill, pensou, exceto pela ausência da garrafa de champanha. O telefone ao lado da cama começou a tocar.
Trent não fez menção de atender. Tinha assistentes para isso e se acostumara a ignorar o som da campainha.
— Al, é George Wylie, da Deerfield.
Wylie costumava contribuir para as campanhas eleitorais de Trent e era dono de uma das maiores empresas do distrito, dois excelentes motivos para que o político lhe desse atenção sempre que o outro o procurava.
— Como foi que ele me descobriu aqui? — perguntou Trent para o teto, enquanto pegava o fone. — Olá, George. Como vai? Os dois assistentes viram o chefe colocar de lado o copo de refrigerante e pegar um bloco. O deputado andava sempre com uma caneta e um bloco de anotações. Depois de escrever alguma coisa, apontou para a TV e exclamou: — CNN! Estava quase na hora. Depois de um comercial e uma breve introdução, o rosto de Bob Wright apareceu na tela. Desta vez, a reportagem tinha sido gravada e editada. Uma das cenas mostrava Rebecca Upton usando o blusão do CNST; outra, os dois Cresta sendo rebocados.
— Que merda — observou um dos assistentes.
— Foram os tanques de gasolina? — perguntou Trent ao telefone.
Escutou por alguns momentos. — Que filhos da mãe! — exclamou em seguida. — Obrigado pela dica, George. Deixe comigo.
Colocou o fone de volta no gancho, endireitou o corpo e apontou para o assistente mais graduado.
— Entre em contato com o CNST em Washington. Quero falar com aquela mocinha o mais cedo possível. Nome, telefone, endereço, descubra tudo que puder a respeito dela. Depois, ligue para a secretária de Transportes.
Voltou a responder à correspondência, enquanto os assistentes falavam ao telefone. Como a maioria dos membros do Congresso, Trent estava acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Minutos depois, estava se queixando de uma emenda à criação do Serviço Nacional de Florestas pelo Departamento do Interior e fazendo anotações com uma caneta verde.
Era sua segunda demonstração de contrariedade, mas os assistentes viram quando pegou uma folha de papel almaço e uma caneta vermelha. Essa combinação significava que Trent estava realmente empenhado em alguma coisa.
Rebecca Upton estava no seu Nissan, acompanhando os reboques até Nashville, onde primeiro supervisionaria a remoção dos destroços para um depósito e depois se encontraria com o chefe do escritório local para iniciar uma investigação formal. Tinha certeza de que a papelada a manteria ocupada durante muito tempo e se surpreendeu por não estar lamentando o fim de semana perdido. Junto com o cargo recebera um telefone celular, que usava escrupulosamente apenas para ligações oficiais e apenas quando era absolutamente necessário — fazia menos de um ano que entrara para o serviço público — e por isso não atingia nem ao menos o número de ligações coberto pela tarifa básica que a empresa cobrava do governo. O telefone nunca tocara antes quando estava dirigindo, e levou um susto com o som da campainha.
— Alô? — disse, imaginando que alguém devia ter ligado para o número errado.
— Rebecca Upton?
— Ela mesma. Quem fala?
— O deputado Trent vai falar com a senhora — disse uma voz masculina.
— Hein? Quem? Alô? — disse outra voz.
— Quem fala? Você é Rebecca Upton?
— Sim, sou eu. Quem é você?
— Alan Trent, deputado pela Comunidade de Massachusetts. — Mas-sachusetts, como todos os políticos locais gostavam de proclamar, não era um simples “estado”. — Consegui seu telefone na sede do CNST. Seu supervisor é Michael Zimmer, e o número dele em Nashville é...
— Está bem, acredito no senhor. O que deseja?
— Você está investigando um acidente que aconteceu na 1-40, certo?
— Sim, senhor.
— Quero que me conte tudo que sabe.
— Deputado — disse a moça, reduzindo a marcha para poder pensar —, a investigação ainda nem começou oficialmente, e não estou autorizada a...
— Mocinha, não estou lhe pedindo para adiantar nenhuma conclusão, apenas para me contar por que achou necessário iniciar uma investigação. Estou em condições de ajudá-la. Se colaborar comigo, prometo que a secretária de Transportes ouvirá falar de você. Somos velhos amigos. Trabalhamos juntos no Congresso durante dez ou doze anos.
Meu Deus, pensou Rebecca. Era impróprio, pouco ético, provavelmente ilegal revelar informações a respeito de uma investigação do CNST. Por outro lado, a investigação ainda não começara, não é mesmo? A ideia de ter seu trabalho reconhecido era tentadora. Não sabia que seu breve silêncio podia ser facilmente interpretado do outro lado da linha e não viu o sorriso e triunfo no rosto do político.
— Deputado, eu e os guardas rodoviários que estiveram no local do acidente achamos que os tanques de gasolina dos dois carros vazaram, provocando um incêndio. Aparentemente, os tanques deveriam ter resistido ao choque. Por isso, vou recomendar ao meu supervisor que inicie uma investigação para determinar a causa do vazamento.
— Os dois tanques vazaram? — perguntou a voz.
— Sim, senhor, mas foi pior do que um vazamento. Os dois tanques sofreram sérios danos.
— Mais alguma coisa?
— Não, senhor. Pelo menos por enquanto. — Rebecca fez uma pausa.
Será que aquele sujeito pretendia realmente recomendá-la à secretária de Transportes? Se fosse verdade...
— Há alguma coisa errada em tudo isso, Sr. Trent. Escute, sou formada em engenharia e estudei ciência dos materiais. A força do impacto não justifica duas falhas estruturais catastróficas. Existem normas federais para a segurança dos automóveis e seus componentes, e essas normas excedem de longe as condições prováveis no momento do acidente. Todos os policiais com quem conversei são da mesma opinião. Precisamos fazer alguns testes para ter certeza, mas é o que penso no momento. Sinto muito, mas isso é tudo que tenho para lhe contar.
— Esta menina vai longe, pensou Trent no quarto de hotel.
— Muito obrigado, Srta. Upton. Deixei meu telefone no escritório do CNST em Nashville. Ligue para mim quando chegar lá, por favor. — Trent desligou o telefone, ficou pensativo por um minuto e depois disse a um dos assistentes: — Chame a secretária de Transportes e diga a ela que a mocinha que está investigando o desastre é muito competente... não, deixe que eu falo com ela. Paul, o laboratório do CNST está bem equipado para testar materiais? — perguntou, sentindo-se cada vez mais como Churchill planejando a invasão da Europa.
— Acho que não, mas as universidades...
— Certo.
Trent apertou um botão no telefone e discou um número de cor.
— Boa tarde, deputado — disse Bill Shaw no telefone viva voz, olhando para Dan Murray. — Eu pretendia mesmo ligar para o senhor, porque semana que vem...
— Preciso da sua ajuda, Bill.
— De que tipo de ajuda o senhor está falando? — Os deputados e senadores eram sempre “senhor” e “senhora”, mesmo para o diretor do FBI. Ainda mais quando o deputado em questão era presidente da Comissão de Inteligência, além de pertencer à Comissão de Justiça e à Comissão de Meios. Apesar de todos as suas... excentricidades... Trent sempre fora simpático ao FBI, mas a verdade era que o FBI precisava da boa vontade das três comissões. Shaw escutou e fez algumas anotações. — O chefe do nosso escritório em Nashville é Bruce Cleary, mas vamos precisar de um pedido formal do Departamento de Transportes para podermos... está bem, claro, vou esperar que ela me telefone. Estamos aqui para isso, deputado.
— Está certo. Até logo.
Shaw desligou e olhou para o colega.
— Por que Al Trent estaria interessado em um desastre de automóvel no Tennessee?
— O que ele quer de nós? — perguntou Murray, de forma objetiva.
— Que a nossa Divisão de Laboratórios apoie o CNST na investigação de um acidente. É melhor você telefonar para Bruce e lhe pedir que coloque seu técnico mais competente à nossa disposição. O desastre aconteceu esta manhã, e Trent quer os resultados para ontem.
— Ele já nos pediu alguma coisa parecida? Shaw sacudiu a cabeça.
— Nunca. Acho que devemos fazer o possível para atendê-lo. Vai participar daquela reunião em que será discutida a situação de Kealty, lembra-se? O telefone de Shaw tocou.
— A secretária de Transportes na linha três, diretor.
— Deve ser alguma coisa muito séria — observou Murray. — Levantou-se da cadeira e foi falar no telefone do escritório enquanto Shaw recebia a chamada no gabinete da secretária. — Ligue-me com o escritório de Nashville, por favor.
O depósito da polícia, para onde eram levados os veículos roubados ou acidentados, ficava ao lado da oficina onde eram consertados os carros de patrulha. Rebecca Upton nunca estivera ali, mas o lugar era velho conhecido dos motoristas dos reboques e não foi difícil segui-los. O guarda do portão gritou instruções para o primeiro motorista, e o segundo se limitou a segui-lo, acompanhado pela engenheira do CNST. Acabaram chegando a um pátio vazio, ou melhor, quase vazio. Havia seis carros da polícia no local, dois oficiais e quatro de chapa fria, além de dez homens, todos graduados, a julgar pela aparência. Um deles era o chefe de Rebecca, e pela primeira Vez a moça percebeu que o caso estava se tornando realmente sério.
A oficina dispunha de três elevadores hidráulicos. Os dois Cresta foram colocados com cuidado nos trilhos de aço e içados simultaneamente, permitindo que os presentes se colocassem debaixo deles. Rebecca era a mais baixa de todos e teve de abrir passagem para poder ver alguma coisa. Afinal, o caso era dela, ou pensava que fosse. Um fotógrafo começou a tirar fotos e ela notou que o estojo da câmara tinha a sigla “FBI” em letras amarelas.
— Puxa vida! — É evidente que houve uma falha estrutural — observou um capitão da Polícia Rodoviária, que estava encarregado da investigação do acidente.
Alguns dos presentes concordaram gravemente.
— Qual é o melhor laboratório das vizinhanças? Perguntou um homem de roupa esporte.
— A Universidade Vanderbilt seria um bom lugar para começar — observou Rebecca. — Ou melhor: por que não tentamos o Laboratório Nacional de Oak Ridge?
— Srta. Upton? — perguntou o homem. — Sou Bruce Cleary, do FBI.
— O que está fazendo...
— Vou para onde me mandam — explicou Bruce, com um sorriso. — A secretária de Transportes nos pediu para ajudar na investigação. Um técnico da nossa Divisão de Laboratórios está vindo para cá de Washington neste momento.
Não disse à moça que o técnico estava viajando em um avião do Departamento de Transportes deslocado especialmente para esse fim. Nem Bruce nem ninguém do seu escritório jamais haviam investigado um acidente de automóvel, mas as ordens tinham sido dadas pessoalmente pelo diretor, e isso era tudo que precisava saber.
Rebecca de repente se sentiu como se fosse uma plantinha no meio de uma floresta de árvores gigantescas, mas também tinha um trabalho para fazer e na verdade era a única especialista presente. Tirando uma lanterna do bolso, começou a examinar o tanque de gasolina de um dos carros. Ficou surpresa quando os outros se afastaram para lhe dar espaço. Já fora decidido que seu nome apareceria na capa do relatório. A participação do FBI não receberia nenhum destaque; seria considerada como um auxílio de rotina a uma investigação iniciada por uma jovem e brilhante engenheira do CNST Rebecca Upton receberia todo o crédito pelo trabalho dos outros, para que não parecesse tratar-se de um jogo político, embora não fosse outra coisa.
Os presentes estavam começando a desconfiar que havia grandes interesses em jogo, mas a maioria não sabia exatamente quais eram. O que sabiam era que um deputado conseguira a atenção imediata de uma secretária de Estado e do diretor do órgão independente mais importante do governo, e que ele queria resultados imediatos. Parecia que sua vontade seria atendida.
Quando examinaram a parte de baixo da massa de ferros retorcidos que, fazia apenas algumas horas, tinha sido um carro de passeio a caminho da casa da vovó, a causa do desastre pareceu óbvia. Tudo que se fazia necessário, pensou o representante do FBI, era uma análise científica do tanque de gasolina. Para isso, recorreriam a Oak Ridge, que mais de uma vez apoiara as investigações do FBI. Isso exigiria a anuência do Departamento de Energia, mas se Al Trent podia conseguir o aval de dois órgãos importantes em menos de uma hora, por que não de um terceiro?
Goto era um homem fácil de seguir, embora isso pudesse tornar-se cansativo, pensou Nomuri. Com sessenta anos, ainda conservava um vigor invejável e gostava de parecer mais moço do que era. E continuava a frequentar aquele local pelo menos três vezes por semana. Era a casa de chá que Kazuo mencionara. Não chegara a revelar o nome, mas descrevera o lugar com suficientes detalhes para que Nomuri o localizasse e depois confirmasse suas suspeitas. Tinha visto Goto e Yamata entrarem ali, nunca ao mesmo tempo, mas jamais com uma diferença maior do que alguns minutos, porque seria descortês o segundo fazer o primeiro esperar por muito tempo. Yamata sempre saía na frente e o outro esperava pelo menos mais uma hora, mas nunca mais do que duas. Hipótese, disse para si próprio: um encontro de negócios seguido por algumas horas de lazer, e, em outras noites, apenas a parte de lazer. Como em uma comédia de cinema, Goto sempre saía com ar triunfante e se dirigia rapidamente para o carro, onde o motorista estava à espera. Pelo sorriso malicioso com que abria a porta, depois de fazer uma mesura, o motorista devia saber exatamente do que se tratava. Vez sim vez não, Nomuri seguira o carro de Goto, com muito cuidado para não ser percebido. Duas vezes o perdera no trânsito, mas nas últimas duas ocasiões e em três outras acompanhara o homem até em casa e sentia-se razoavelmente seguro de que seu destino depois de cada uma dessas escapadas era sempre o mesmo. Muito bem. Agora poderia cuidar da outra parte da missão, pensou, sentado no carro, bebendo chá. Teve de esperar quarenta minutos.
Era Kimberly Norton. Nomuri enxergava bem, e a iluminação da rua foi suficiente para que tirasse algumas fotografias antes de saltar do carro.
Seguiu-a do outro lado da rua, tomando cuidado para não olhar diretamente Para a jovem, mas usando a visão periférica para não a perder de vista.
Seguir pessoas sem ser notado fazia parte do currículo da Fazenda. Naquele caso, era fácil. Embora a moça não fosse muito alta pelos padrões americanos, destacava-se na multidão, tanto pela altura como pelos cabelos louros.
Em Los Angeles, passaria totalmente despercebida, pensou Nomuri, uma jovem bonitinha em um mar de jovens bonitinhas. Não chamava a atenção pela forma de caminhar; parecia ter-se adaptado aos hábitos locais, pois andava com passos miúdos e cedia a vez aos homens, quando nos Estados Unidos o esperado seria exatamente o oposto. Quanto às roupas ocidentais, muitas japonesas vestiam-se como ela; na verdade, os trajes tradicionais pareciam ter saído de moda, refletiu, com uma certa surpresa. A jovem dobrou à direita, entrando em outra rua, e Nomuri a seguiu a uns sessenta ou setenta metros de distância, como se fosse um detetive particular ou coisa parecida. Que diabo de missão era aquela?, pensou o agente da CIA.
— Russos? — perguntou Ding.
— Jornalistas independentes. Como está a sua taquigrafia? — perguntou Clark, lendo a mensagem de telex. Mary Pat estava tendo outro ataque de esperteza, mas, para ser justo, era muito boa no que fazia. Desconfiava havia muito tempo que a CIA tinha um espião na Agência de Notícias Interfax, em Moscou. Talvez até tivesse ajudado a criá-la, pois era a principal fonte de informações políticas em Moscou. Entretanto, até onde sabia, era a primeira vez que a usavam como disfarce. A segunda parte da mensagem era ainda mais interessante. Clark passou-a a Lyalin sem comentários.
— Já era tempo — observou o russo, com um sorriso. — Vão querer nomes, endereços e telefones, certo?
— Isso ajudaria muito, Oleg Yurievich.
— Quer dizer que vamos trabalhar como espiões de verdade? — perguntou Chávez. Seria a primeira vez para ele. A maior parte do tempo, ele e Clark tinham desempenhado a função de operadores paramilitares, executando missões excessivamente difíceis ou perigosas para os agente regulares.
— Faz muito tempo que também não me envolvo em missão desse tipo, Ding. Oleg, ainda não lhe perguntei que língua usava para se comunicar com seu pessoal.
— Sempre o inglês — respondeu Lyalin. — Não revelei a ninguém que era fluente em japonês. Isso me ajudou a conseguir informações. Eles achavam que podiam falar abertamente na minha presença.
— Muito esperto de sua parte, pensou Clark. Você ficava ali parado, com cara de bobo, e as pessoas pensavam que não estava entendendo nada do que diziam.
No seu caso, e no de Ding, não seria necessário fingir. Bem, não precisavam ser superespiões para cumprir a missão a contento, pensou John. Partiriam para a Coreia na terça-feira.
Em outro exemplo de cooperação entre órgãos do governo, um helicóptero UH-1H da Guarda Nacional do Tennessee levou Rebecca Upton, três outras pessoas e os tanques de gasolina para o Laboratório Nacional de Oak Ridge.
Os tanques estavam embrulhados em plástico transparente e foram colocados em dois assentos vazios como se fossem passageiros.
A história de Oak Ridge remontava ao início da década de 1940, quando fizera parte do Projeto Manhattan, nome de código do projeto secreto para construir as primeiras bombas atômicas. Grandes edifícios ainda abrigavam uma usina de enriquecimento de urânio, embora muita coisa tivesse mudado além da construção de um heliporto.
O Huey sobrevoou a área uma vez para avaliar a direção do vento e depois pousou. Um guarda armado acompanhou o grupo até o interior, onde encontraram um cientista e dois técnicos de laboratório à espera; o secretário de Energia ligara pessoalmente para eles naquela noite de sábado.
O lado científico do caso foi decidido em menos de uma hora. Mais tempo seria necessário para testes adicionais. O relatório completo do CNST abordaria questões como o desempenho dos cintos de segurança, o comportamento dos assentos das crianças no carro de Denton, o funcionamento dos sacos de ar etc., mas todos sabiam que a parte importante, a causa das cinco mortes, era que os tanques de gasolina dos Cresta tinham sido feitos de aço inadequadamente tratado, que sofrera um sério processo de corrosão e por isso tivera sua resistência estrutural reduzida a um terço do valor previsto. O rascunho dessa conclusão foi digitado — com muitos erros — em um processador de texto, impresso e enviado por fax à sede do Departamento de Transportes, ao lado do Museu Aeroespacial do Smithsonian, em Washington. Embora o título do documento de duas páginas fosse OBSERVAÇÕES PRELIMINARES, ele seria tratado como a Sagrada Escritura. O mais impressionante, pensou Rebecca Upton, era que tudo aquilo fora feito em menos de dezesseis horas. Jamais vira o governo agir tão depressa. Que pena que não era sempre assim, pensou, antes de cair no sono no voo de volta para Nashville.
Nessa mesma noite, a Universidade de Massachusetts perdeu para a Universidade de Connecticut por 108 a 103, na prorrogação. Embora fosse um torcedor fanático da Universidade de Massachusetts, onde se formara, Trent estava sorrindo ao sair do ginásio. Conseguira a vitória em um jogo muito mais importante, pensou... embora o jogo não fosse absolutamente o que ele pensava.
Arnie van Damm não gostou de ser acordado de manhã cedo em um domingo, especialmente em um dia que reservara para descansar. Pretendia dormir até as oito, ler o jornal na mesa da cozinha, como um cidadão comum, cochilar na frente da TV depois do almoço e fingir que estava de volta a Columbus, Ohio, onde o ritmo de vida era bem mais descansado.
Seu primeiro temor foi de que tivesse havido uma tragédia nacional. O presidente Durling não costumava abusar do chefe de gabinete, e poucas pessoas conheciam seu número particular. Quando reconheceu a voz do outro lado da linha, arregalou os olhos e olhou para o teto do quarto de dormir.
— Al, espero que isto seja sério — resmungou, às sete e quinze da manhã. Depois, escutou o que o outro tinha a dizer. — Está bem, um minuto, certo? Ligou o computador (até ele tinha de usar um, para acompanhar os tempos) e consultou a agenda da Casa Branca. Ao lado do computador havia uma extensão do telefone.
— Está bem, Al, posso encaixá-lo amanhã de manhã, às oito e quinze.
— Tem certeza do que está dizendo? Escutou por mais alguns minutos, irritado com o fato de Trent haver subornado três órgãos do Poder Executivo, mas afinal ele era membro do Congresso, e um dos mais influentes; sentia-se tão à vontade exercendo o poder quanto um pato nadando.
— O que quero saber é o seguinte: o presidente me apoiará?
— Se sua informação estiver correta, acredito que sim, Al.
— Desta vez eles passaram dos limites, Arnie. Cansei de falar sobre o assunto, mas desta vez os filhos da puta mataram americanos.
— Pode me mandar um fax do relatório?
— Estou correndo para pegar um avião. Mando a você assim que chegar ao escritório.
— Então por que me telefonou agora?, van Damm teve vontade de perguntar.
— Estarei esperando — limitou-se a dizer.
A providência seguinte foi pegar o jornal de domingo na varanda. Ê incrível, pensou, folheando as primeiras páginas. A notícia mais importante do dia, talvez do ano, e ninguém ainda começou a explorá-la.
Era típico.
Estranhamente, a não ser pela atividade da máquina de fax, o restante do dia transcorreu de acordo com as previsões, o que permitiu que o chefe de gabinete do presidente se comportasse como um cidadão comum, sem sequer se preocupar com o que o esperava no dia seguinte. No fim tudo daria certo, pensou consigo mesmo antes de adormecer no sofá da sala e perder o jogo entre os Lakers e os Celtics, transmitido ao vivo do Boston Garden.
9
JOGOS DE PODER
Ainda havia alguns trunfos a serem jogados naquela segunda-feira, mas Trent já conseguira muita coisa. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos abriria, como sempre, ao meio-dia. O capelão recitou a prece, surpreso ao constatar que o presidente da Casa estava presente, que havia mais de cem deputados para ouvi-lo, em vez dos seis ou sete que em geral faziam fila para pequenos pronunciamentos a serem transmitidos pelo canal C-SPAN, e que havia muitos repórteres no setor de imprensa. A única coisa que parecia normal eram as galerias, com a cota habitual de turistas e estudantes. O capelão, intimidado, gaguejou o restante da oração e foi embora, ou por outra, fez menção de ir embora, mas decidiu ficar para ver o que estava acontecendo.
— O senhor presidente. — anunciou uma voz, sem surpreender ninguém no plenário.
O presidente da Casa já estava olhando naquela direção, tendo sido convocado por um telefonema da Casa Branca.
— A mesa reconhece o cavalheiro de Massachusetts.
Al Trent caminhou para o atril com passos rápidos. Depois que chegou lá, levou algum tempo arrumando suas anotações no suporte inclinado de madeira, enquanto três assistentes montavam um cavalete, fazendo a plateia esperar e estabelecendo o tom dramático do discurso com um silêncio eloquente. Finalmente, ele começou com a frase de praxe: — Senhor presidente, peço permissão para dirigir-me ao plenário.
— Sem objeções — respondeu o presidente da Casa, mas não automaticamente como de costume. A atmosfera era diferente, algo que todos, a não ser os turistas, podiam sentir na pele. Os próprios guias turísticos sentaram-se, o que não era comum. Oitenta membros do partido de Trent tinham comparecido à sessão, juntamente com vinte e poucos deputados da oposição, entre eles todos os líderes da minoria que se encontravam no fomento em Washington. Embora alguns desses últimos fingissem um total desinteresse, o simples fato de estarem ali era objeto de comentários por parte dos repórteres, que também tinham sido informados de que algo de importante estava para acontecer.
— Senhor presidente, no sábado de manhã, na Interstate 40, entre Knoxville e Nashville, Tennessee, cinco cidadãos americanos foram condenados a uma morte horrível pela indústria automobilística japonesa.
Trent leu os nomes e idades das vítimas do acidente e um dos assistentes mostrou o primeiro painel, uma fotografia em preto e branco da cena do acidente. O político esperou um pouco, deixando que a plateia absorvesse a imagem, imaginasse o que teriam passado os ocupantes dos dois veículos. No setor da imprensa, cópias do seu discurso e das fotografias estavam sendo distribuídas naquele momento.
— Senhor presidente, temos o dever de perguntar, primeiro, por que essas pessoas morreram, e segundo, por que sua morte deve ser discutida nesta casa.
“Uma jovem e brilhante engenheira do governo federal, a Srta. Rebecca Upton, foi chamada ao local do desastre pelas autoridades policiais e logo verificou que o acidente tinha sido causado por uma grave falha de projeto nos veículos. Mais precisamente, que o incêndio responsável pelas mortes resultara de um defeito estrutural nos tanques de combustível de ambos os carros.
“Senhor presidente, não faz muito tempo, esses mesmos tanques de gasolina foram objeto de negociações entre os Estados Unidos e o Japão.
Um produto superior, por coincidência fabricado em meu distrito eleitoral, foi proposto ao representante comercial japonês. O componente americano apresenta melhor desempenho e pode ser produzido por um custo mais baixo, graças à competência e operosidade dos trabalhadores americanos, mas foi rejeitado pelos japoneses porque supostamente deixava de atender aos rigorosos padrões da sua indústria automobilística! “Senhor presidente, esses mesmos padrões rigorosos permitiram a morte de cinco cidadãos americanos em um acidente no qual, de acordo com a Polícia Rodoviária do Tennessee e o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, os parâmetros de segurança estabelecidos por lei nos Estados Unidos há mais de quinze anos não foram de forma alguma excedidos.
Ninguém deveria ter morrido no acidente, mas uma família foi quase totalmente exterminada — se não fosse pela coragem de um motorista de caminhão, não restaria um único membro — e duas famílias estão neste instante chorando a morte de suas filhas porque os operários americanos não tiveram permissão para fornecer um componente de melhor qualidade, embora alguns modelos deste automóvel sejam produzidos aqui mesmo nos Estados Unidos! Um desses tanques defeituosos viajou dez mil quilômetros para ser instalado em um dos carros acidentados... para que pudesse matar um marido, uma esposa, uma menina de três anos e um recém-nascido, que viajavam nesse automóvel! Isso não pode continuar, senhor presidente! Os resultados preliminares da investigação do CNST, confirmados pelos cientistas do Laboratório Nacional de Oak Ridge, mostram que os tanques de gasolina dos dois automóveis, um deles fabricado no Japão e o outro montado aqui mesmo em Kentucky, não atendiam aos padrões mínimos de segurança estabelecidos há muitos anos pelo Departamento de Transportes. Em consequência, o Departamento de Transportes dos Estados Unidos decidiu tirar imediatamente de circulação todos os veículos de passageiros modelo Cresta... — Trent fez uma pausa e olhou em volta. A plateia sabia que aquilo não era tudo e continuava esperando por uma bomba.
“Conversei com o presidente a respeito desde trágico acidente e suas implicações. O Departamento de Transportes constatou que o mesmo tanque de combustível é usado em quase todos os automóveis japoneses importados pelos Estados Unidos. Assim, estou apresentando hoje uma proposta de lei, HR-12313, que autoriza o presidente a exigir que os Departamentos de Comércio, Justiça e Tesouro...
— No uso dos seus poderes — estava dizendo a porta-voz da Casa Branca na Sala de Imprensa — e no interesse da segurança, o presidente instruiu a Divisão Alfandegária do Departamento do Tesouro a inspecionar todos os carros japoneses importados nos respectivos portos de entrada para impedir a comercialização de veículos com um defeito de fabricação que há dois dias provocou a morte de cinco cidadãos americanos. Uma legislação destinada a formalizar a competência do presidente no assunto está sendo proposta pelo deputado Alan Trent de Massachusetts. A lei conta com o apoio total do presidente e esperamos que seja votada com urgência, no interesse da segurança pública.
— O termo técnico para esta medida é reciprocidade setorial — prosseguiu a porta-voz. — Isto significa que adotaremos uma legislação semelhante, em todos os detalhes, às práticas comerciais japonesas.
Levantou os olhos, à espera das perguntas. Curiosamente, não houve nenhuma.
— Mudando de assunto, a viagem do presidente a Moscou foi marcada para...
— Espere um momento — interrompeu um repórter, que levara alguns segundos para digerir o primeiro tópico. — O que foi que você acabou de dizer?
— Do que se trata, chefe? — perguntou Ryan, folheando a pasta.
— Veja a segunda página, Jack.
— Está bem. — Jack leu rapidamente. — Ah, vi isso na TV outro dia. — Olhou para o presidente. — Eles não vão gostar nem um pouquinho.
— Azar o deles — replicou o presidente Durling, friamente. — Durante um ou dois anos, conseguimos diminuir o déficit da balança comercial, mas esse novo líder está tão comprometido com os magnatas da indústria, que simplesmente não conseguimos mais fazer negócios. Agora chega. Eles param nossos carros no cais, praticamente os desmontam para ter certeza de que são “seguros” e depois repassam o custo da “inspeção” ao consumidor!
— Sei disso, chefe, mas...
— Agora chega!
Além disso, o ano da eleição estava se aproximando e o presidente precisava do apoio dos sindicatos. Não era a seara de Jack, e o conselheiro de Segurança Nacional não estava disposto a fazer daquilo um cavalo de batalha.
— Vamos falar da Rússia e dos mísseis — propôs Roger Durling.
Estava guardando o assunto mais polêmico para o final. O FBI marcara uma reunião com o pessoal do Judiciário para a tarde do dia seguinte. Não, decidiu Durling, depois de meditar por um momento, teria de telefonar para Bill Shaw e adiar o encontro. Não queria que dois assuntos tão importantes competissem pelas manchetes. Kealty teria de esperar um pouco. Contaria a Ryan, mas o caso de assédio sexual ficaria na geladeira por mais de uma semana.
A diferença de fusos horários garantia a confusão. De um lugar onde a hora local estava quatorze horas à frente da hora da costa leste, começaram a chover telefonemas para a madrugada de Washington.
A natureza irregular da decisão americana, que passara por cima dos trâmites oficiais do governo e portanto também escapara à curiosidade das pessoas que colhiam informações para seus países, pegara a todos totalmente de surpresa. O embaixador japonês em Washington estava em um restaurante famoso, almoçando com um amigo, e o mesmo provavelmente acontecia com os funcionários da embaixada, que ficava na Massachusetts Avenue, NW. Na lanchonete da embaixada e por toda a cidade, bips começaram a tocar ordenando que telefonassem imediatamente para seus escritórios, mas era tarde demais. A notícia já estava nas redes internacionais de TV; essas transmissões foram vistas no Japão e galgaram a cadeia hierárquica, até que vários zaibatsu foram acordados em uma hora totalmente imprópria. Esses homens, por sua vez, chamaram os subordinados, que já estavam de pé, e lhes ordenaram que acionassem imediatamente os lobistas. Muitos deles já estavam em ação. A maioria tinha visto a cobertura do C-SPAN do discurso de Al Trent e começara a trabalhar por conta própria, tentando limitar os prejuízos antes mesmo de receber instruções dos superiores. Foram acolhidos com frieza em todos os escritórios, mesmo por congressistas para quem contribuíam regularmente. Mas havia exceções.
— Escute — disse um senador, pensando na sua campanha para a reeleição, e precisando de fundos, como bem sabia o visitante —, não vou sair em público e declarar que se trata de uma medida injusta quando oito pessoas morreram queimadas. Vamos ter que deixar as coisas esfriarem. — Você compreende, não é?
Apenas cinco pessoas tinham morrido queimadas, pensou o lobista, mas o conselho do senador era sensato, ou teria sido em circunstâncias normais. O lobista recebia mais de trezentos mil dólares por ano pelos seus conselhos — tinha trabalhado como assistente de um senador durante dez anos antes de ver a luz — e para ser uma fonte honesta de informações.
Também era pago para distribuir fundos de campanha de uma forma não tão honesta.
— Está bem, senador — concordou, em tom compreensivo. — Não se esqueça, porém, de que esta lei pode provocar uma guerra comercial em que todos sairão prejudicados.
— Acontecimentos como este têm uma vida limitada, não duram para sempre — replicou o senador.
Aquela era a opinião de muitos analistas às cinco horas da tarde daquele dia, que correspondia a sete horas da manhã seguinte no Japão. O erro estava em esquecer o fato de que nunca houvera um acontecimento como aquele.
Os telefones estavam tocando sem parar nos escritórios de praticamente todos os membros das duas casas do Congresso. A maioria se mostrava revoltada com o que acontecera na 1-40, o que era de esperar. Havia algumas centenas de milhares nos Estados Unidos, distribuídas por todos os estados e por todos os quatrocentos e trinta e cinco distritos eleitorais, que não Perdiam nenhuma oportunidade de ligar para seus representantes em Washington para manifestar sua opinião a respeito de qualquer assunto.
Os assistentes dos congressistas atendiam aos chamados e anotavam a hora e a data, além do nome e endereço dos interlocutores — em muitos casos, não precisavam nem perguntar, porque já eram capazes de reconhecê-los Pela voz. Os telefonemas eram classificados por tópico e opinião, incorporados ao relatório diário e na maioria dos casos rapidamente esquecidos.
Outros telefonemas eram encaminhados a funcionários mais graduados, e em alguns casos aos próprios congressistas. Eram os chamados de empresários locais, na maioria industriais cujos produtos competiam diretamente no mercado com mercadorias importadas ou, em um número menor de casos, de pessoas que tinham encontrado dificuldades para fazer negócios no Japão. Esses telefonemas nem sempre resultavam em alguma medida concreta, mas não podiam ser ignorados.
Depois ter passado algum tempo na obscuridade, esgotadas as primeiras notícias, o acidente voltou a ser abordado com destaque por todos os meios de comunicação. Os noticiários de televisão mostraram fotografias do policial, da esposa e dos três filhos, e também de Nora Dunn e Amy Rice, seguidas por uma breve entrevista gravada com o heroico caminhoneiro e imagens distantes de Jessica Denton, órfã, contorcendo-se de dor no hospital, sendo tratada por enfermeiras que choravam enquanto limpavam seu rosto queimado. No momento as famílias envolvidas estavam reunidas com advogados, que lhes recomendavam o que dizer diante das câmaras e preparavam suas próprias declarações com cifrões desfilando diante dos olhos. Os repórteres encarregaram-se de registrar a reação de familiares, amigos e vizinhos, e na revolta de pessoas que haviam sofrido uma perda súbita, outros viram uma oportunidade de dar vazão aos próprios ressentimentos ou uma forma de tirar vantagem da situação.
O acontecimento mais revelador de todos, porém, foi a história do tanque de gasolina. O laudo preliminar do CNST se tornou conhecido momentos depois que sua existência foi anunciada ao plenário da Câmara.
Era uma notícia boa demais para ser ignorada. As empresas de automóveis americanas ofereceram seus engenheiros para explicar o lado científico da questão; todos observaram, com satisfação incontida, que se tratava de um exemplo clássico de uma falha de controle de qualidade de um componente muito simples, que os japoneses, afinal, não eram tão competentes como todo mundo pensava.
— É preciso entender, Tom, que o aço galvanizado é usado há mais de um século — explicou um engenheiro da Ford ao entrevistador do programa ”Notícias na Noite”, da NBC. — E desse material que são feitas as latas de lixo.
— Latas de lixo? — repetiu o entrevistador, surpreso, porque para ele as latas de lixo eram feitas de plástico.
— Há muitos anos que eles criticam nosso controle de qualidade, dizendo que nossos carros não são seguros, não são eficientes, não são bem acabados... agora, veja o que fizeram. Isto é o fim da picada, Tom — prosseguiu o engenheiro, em tom indignado. — Os tanques de gasolina dos Cresta são menos resistentes do que uma lata de lixo fabricada com tecnologia de 1890. E foi por isso que cinco pessoas morreram queimadas.
Esse comentário acidental ajudou a criar um símbolo para a tragédia.
Na manhã seguinte, cinco latas de lixo de aço galvanizado apareceram na entrada principal da fábrica do Cresta em Kentucky, acompanhadas por um cartaz com os dizeres: POR QUE VOCÊS NÃO EXPERIMENTAM UMA DESTAS? A CNN cobriu a notícia com destaque. Era tudo uma manifestação de opinião pública. As autoridades levariam semanas para descobrir o que realmente ocorrera, mas àquela altura a opinião pública e suas consequências já teriam superado a realidade havia muito tempo.
O comandante do navio Nissan Courier não ouvira falar do acidente. A embarcação, de linhas pouco elegantes, parecia um paralelepípedo de aço maciço que alguém escavara com uma grande colher para criar espaço interno. Tinham sido necessários quatro rebocadores Moran para conduzi-lo ao Terminal Marítimo Dundalk do porto de Baltimore. A área que fora um dia o primeiro aeroporto da cidade se revelara o local perfeito para receber automóveis. Apenas depois de terminadas as complexas manobras de atracação, foi que o comandante notou que o enorme pátio de carros estava quase lotado. Aquilo era muito estranho, pensou. O último navio da Nissan chegara na quinta-feira anterior, e normalmente o pátio já teria esvaziado bastante, criando vagas para a carga que trazia. Olhando mais além, viu apenas três jamantas esperando para ser carregadas; normalmente, elas formavam uma longa fila.
— Acho que eles não estavam brincando — comentou o piloto da baía de Chesapeake. Ele subira a bordo do Courier no cabo da Virgínia, mas antes assistira a uma reportagem na TV. Sacudiu a cabeça e se dirigiu para a escada de desembarque. Deixaria o agente portuário comunicar a má notícia ao comandante.
Foi exatamente o que o agente portuário fez, depois de subir a escada e se encaminhar à ponte. O estacionamento tinha vagas para mais duzentos carros, no máximo, mas até o momento não recebera nenhuma instrução quanto ao que fazer com os outros veículos. Normalmente, o navio não ficaria no porto mais do que vinte e quatro horas, tempo necessário para descarregar os automóveis e reabastecer o navio para a viagem de volta ao porto de origem, onde a mesma rotina seria repetida no sentido inverso, dessa vez carregando carros na embarcação vazia para mais uma viagem aos Estados Unidos. Os navios daquela linha obedeciam a um cronograma monótono mas impecável, cujas datas eram tão fixas quanto as estrelas do céu.
— Como assim? — perguntou o comandante.
— Todos os carros têm de ser vistoriados — explicou o agente portuário, apontando com a mão. — Dê uma olhada.
O comandante dirigiu os binóculos Nikon para o cais e viu um grupo de funcionários da Alfândega, seis ao todo, usar um macaco hidráulico para levantar um carro e examiná-lo por baixo, enquanto faziam anotações em suas pranchetas. Pareciam não ter a menor pressa. Podia vê-los balançar o corpo de um lado para outro, como se estivessem brincando, em ver de trabalhar com a diligência esperada de empregados do governo. Por isso, não associou a cena às poucas vezes em que vira inspetores da alfândega japonesa fazerem uma inspeção semelhante, mas muito mais completa, em carros americanos, alemães e suecos, nas docas de Yokohama, seu porto de origem.
— Desse jeito, teremos de esperar vários dias! — exclamou o comandante, indignado.
— Talvez não mais que uma semana — afirmou o agente, em tom otimista.
— Acontece que só há lugar para um navio neste terminal, e o Nissan Voyager vai chegar daqui a setenta horas!
— Não há nada que eu possa fazer.
— E o meu cronograma? — perguntou o comandante, de fato horrorizado.
— Também não há nada que eu possa fazer quanto a isso — declarou o agente, com toda a paciência, a um homem cujo mundo, como o conhecia, acabava de se desintegrar.
— Como podemos ajudar? — perguntou Seiji Nagumo.
— O que quer dizer com isso? — replicou o funcionário do Departamento de Comércio.
— Estou me referindo àquele terrível acidente. — Nagumo estava sendo sincero. Os japoneses tinham substituído havia muito tempo a madeira e o papel por materiais de construção mais resistentes, mas haviam herdado dos antepassados o horror pelo fogo. Um cidadão que permitia que um incêndio começasse em sua propriedade e atingisse as propriedades vizinhas não apenas estava sujeito a indenizar as vítimas como podia ser processado criminalmente. Ele se sentia envergonhado por um produto japonês ter causado uma tragédia como aquela. — Ainda não recebi nenhum comunicado oficial do meu país, mas quero lhe dizer que, pessoalmente, fiquei chocado com o que aconteceu. Asseguro-lhe que vamos fazer uma investigação minuciosa.
— É um pouco tarde para isso, Seiji. Como deve se lembrar, estivemos discutindo exatamente esta questão...
— Sim, é verdade, mas precisa entender que mesmo que tivéssemos chegado a um acordo, os tanques em questão não teriam sido recolhidos... não faria diferença para aqueles infelizes.
O negociador americano sentia-se em uma posição muito confortável. As mortes do Tennessee, bem, não podia dizer que estava satisfeito com elas, mas tivera de aguentar a arrogância daquele filho da mãe durante três anos, e a situação atual, apesar da tragédia, tinha sabor de vitória.
— Seiji-san, como eu já disse, é um pouco tarde para isso. Suponho que vocês possam nos ajudar, mas temos nosso trabalho a fazer. Afinal, deve compreender que o governo americano tem obrigação de zelar pela segurança dos cidadãos deste país. O acidente deixou claro que não cumprimos este dever a contento. Agora devemos fazer o possível para nos redimirmos.
— O que podemos fazer, Robert, é financiar a operação. Nossos fabricantes de automóveis se encarregariam de contratar inspetores de segurança para liberar os veículos nos portos de chegada e...
— Seiji, sabe muito bem que isso seria inaceitável. Não podemos permitir que inspeções oficiais sejam executadas por representantes de indústria.
Como o burocrata sabia muito bem, isso não era verdade; acontecia o tempo todo.
— No interesse de mantermos uma relação comercial amistosa, oferecemo-nos para reembolsar os gastos do governo americano nessas operações de inspeção. Nós...
O funcionário interrompeu-o com um gesto.
— Seiji, é melhor não prosseguir. Por favor... deve compreender que o que está propondo poderia ser encarado como uma tentativa de suborno.
Os dois ficaram em silêncio por algum tempo.
— Escute, Seiji, quando a nova lei for aprovada, não haverá mais problemas. Isso não levaria muito tempo. Uma avalanche de cartas e telegramas de grupos de interesse organizados às pressas — a United Auto Workers, por exemplo, que sentira o cheiro de sangue tão depressa como um tubarão — instruíra a população a se manifestar a favor da proposta de lei. A Lei Trent já era a primeira da pauta para ser votada na Câmara, e os entendidos calculavam que em menos de suas semanas estaria na mesa do presidente para ser assinada.
— Mas a Lei Trent..
O funcionário do Departamento do Comércio se inclinou para a frente.
— Seiji, qual é o problema? A Lei Trent estabelece que o presidente, assessorado por advogados aqui do departamento, terá poderes para adotar uma legislação comercial idêntica à japonesa. Em outras palavras, tudo que faremos será praticar o princípio da reciprocidade. Ora, como pode ser injusto que os americanos apliquemos aos produtos japoneses as mesmas leis que os japoneses aplicam aos nossos produtos?
Até aquele momento, Nagumo ainda não entendera perfeitamente a situação.
— Você não compreende. Nossas leis são apropriadas à nossa cultura. A cultura de vocês é diferente e...
— Sim, Seiji, eu sei. As leis que vocês adotam se destinam a proteger as indústrias locais contra práticas desleais por parte de empresas estrangeiras. O que pretendemos fazer é exatamente a mesma coisa. Essa é a má notícia. A boa notícia é que sempre que vocês abrirem mercados para nós, faremos automaticamente a mesma coisa por vocês. A verdade, Seiji, é que vamos aplicar aos produtos japoneses as leis que vocês mesmos criaram, e então veremos se essas leis são justas ou não. De que vocês podem se queixar? Há anos que vêm nos dizendo que essas leis não constituem uma barreira para o ingresso dos nossos produtos no mercado japonês, que a verdadeira razão está na falta de competitividade da indústria americana. — O funcionário recostou-se no assento e sorriu. — Pois agora vão sentir na carne se essas observações são corretas ou não. Você não vai me dizer que me levou a acreditar em falsidades, vai?
Se fosse cristão, Nagumo teria pensado: Meu Deus!, mas sua religião era animista e suas reações internas eram diferentes, embora no fundo tivessem o mesmo significado. Acabavam de chamá-lo de mentiroso, e o pior de tudo era que a acusação... procedia.
A Lei Trent, agora chamada oficialmente de Lei da Reforma do Comércio, foi explicada ao público naquela mesma noite. Sua simplicidade filosófica era elegante. Porta-vozes da administração, e Trent em pessoa no programa ”MacNeil/Lehrer”, explicaram que a lei criava uma pequena comissão de advogados e especialistas em comércio do Departamento de Comércio, assistidos por autoridades em direito internacional do Departamento de Justiça, que teria autoridade para analisar as leis de comércio de outros países, elaborar regulamentos americanos tão semelhantes quanto possível às leis estrangeiras e recomendá-los ao secretário de Comércio, que os submeteria ao presidente. O presidente, por sua vez, teria autoridade para colocar esses regulamentos em vigor através de um decreto presidencial. O decreto poderia ser vetado por maioria simples nas duas casas do Congresso, cuja autoridade em assuntos desse tipo era garantida pela Constituição.
Esta última cláusula evitaria que a lei fosse contestada na justiça com base no princípio da independência dos poderes. A Lei da Reforma do Comércio também tinha um prazo de validade. Quatro anos depois de entrar em vigor, seria automaticamente revogada, a menos que fosse novamente proposta pelo Congresso e aprovada pelo presidente em exercício. Isso fazia com que a LRC parecesse uma medida provisória cujo único objetivo era estabelecer o livre comércio de uma vez por todas. Tratava-se de uma mentira, mas uma mentira plausível, mesmo para os que sabiam disso.
— O que pode ser mais justo? — perguntou Trent na PBS. — Tudo que estamos fazendo é reproduzir as leis de outros países. Se essas leis são justas para os produtos americanos, também devem ser justas para os produtos estrangeiros. Nossos amigos japoneses — ele sorriu — vêm nos dizendo há anos que suas leis não são discriminatórias. Ótimo. Então não têm de que se queixar se também começarmos a usá-las.
O que mais divertiu Trent foi observar a aflição do homem que estava do outro lado da mesa. O ex-subsecretário de Estado, que ganhava mais de um milhão de dólares para defender os interesses da Sony e da Mitsubishi, procurava desesperadamente algo para dizer que fizesse sentido, mas nada lhe vinha à cabeça.
— Isto pode representar o início de uma verdadeira guerra comercial...— começou, apenas para ser interrompido de forma brusca.
— Escute, Sam, a Convenção de Genebra não provocou nenhuma guerra, não é mesmo? Simplesmente aplicou as mesmas regras de conduta a todos os países combatentes. Se está tentando dizer que o uso de regulamentos japoneses em portos americanos causará uma guerra, então já estamos em guerra e você está lutando do outro lado, não está? A observação foi seguida por cinco segundos de silêncio embaraçoso.
Simplesmente não havia resposta possível.
— Puxa vida! — exclamou Ryan, sentado em casa em frente à televisão, em uma hora decente para variar.
— Ele tem jeito para essas coisas — observou Cathy, levantando os olhos de algumas anotações médicas.
— É verdade — concordou o marido. — E sabe agir depressa. Não faz muito tempo que ouvi falar do caso pela primeira vez.
— Acho que ele está certo. E você? — perguntou a esposa.
— Talvez esteja sendo um pouco precipitado. — Jack fez uma pausa. — O que acha dos médicos de lá?
— Dos médicos japoneses? Não são muito bons, pelos nossos padrões.
— Verdade?
— O sistema de saúde japonês era considerado exemplar. Afinal, tudo era “gratuito”.
— Como assim?
— Eles são muito submissos — respondeu Cathy, voltando a se concentrar nas notas. — O professor tem sempre razão, esse tipo de coisa. Os mais jovens não aprendem a se virar sozinhos, e quando têm idade suficiente para se tornar professores, já não se lembram de muita coisa.
— Quantas vezes a senhora se engana, professora-adjunta de cirurgia oftálmica? — brincou Jack.
— Quase nunca — respondeu Cathy, levantando novamente os olhos —, mas jamais deixei de responder a uma pergunta dos meus alunos. No momento, temos três estudantes japoneses em Wilmer. São competentes, esforçados, mas nada versáteis. Acho que é um problema cultural. Estamos tentando endireitá-los, mas não é fácil.
— O chefe tem sempre razão...
— Nem sempre.
Cathy fez uma anotação para uma mudança de remédio. Ryan olhou para ela com o palpite de que acabara de descobrir uma coisa importante.
— Eles são bons para inventar novos tratamentos?
— Jack, por que acha que vêm para cá? Por que acha que existem tantos na universidade? Por que acha que muitos se estabelecem aqui?
Eram nove da manhã em Tóquio quando os noticiários noturnos americanos foram mostrados, via satélite, nos escritórios dos executivos. Tradutores competentes encarregaram-se de traduzir para o japonês. Os programas estavam sendo gravados para uma análise mais detalhada, mas o que os executivos ouviram foi suficiente.
Kozo Matsuda estava fora de si. Manteve as mãos no colo, fora das vistas dos outros ocupantes do escritório, para que não pudessem ver como tremiam. O que ouvira em duas línguas — seu inglês era excelente — já era preocupante; o que vira era pior ainda. Sua empresa já estava perdendo dinheiro graças a... irregularidades no mercado mundial. Um terço dos produtos da empresa eram exportados para os Estados Unidos, e se esse mercado fosse fechado...
A entrevista foi seguida por uma reportagem que mostrava o Nissan Courier ainda atracado em Baltimore e o Nissan Voyager ancorado no meio da baía de Chesapeake. Um terceiro navio acabava de passar pelo cabo da Virgínia, embora a descarga do primeiro ainda não estivesse nem na metade.
A única razão pela qual a TV mostrara aqueles navios em particular era que Baltimore ficava perto de Washington. A mesma coisa estava acontecendo nos portos de Los Angeles, Seattle e Jacksonville. Como se os carros estivessem sendo usados para transportar drogas, pensou Matsuda. Se os americanos estivessem falando sério, então...
Não, não podiam estar.
— O que acha da possibilidade de uma guerra comercial? — estava perguntando Jim Lehrer ao tal de Trent.
— Jim, há anos que venho dizendo que já estamos em guerra comercial com o Japão. O que fizemos foi simplesmente estabelecer as mesmas regras para todos os combatentes.
— Mas se a situação se agravar, os interesses americanos não serão prejudicados?
— Quais são esses interesses, Jim? Vamos permitir que criancinhas morram queimadas para proteger supostos interesses americanos? — rebateu Trent, sem pestanejar.
As palavras fizeram Matsuda se encolher. A imagem era chocante demais para um homem cuja memória de infância mais remota era a da manhã do dia 10 de março de 1945. Não tinha três anos quando a mãe o carregara para fora de casa para salvá-lo do incêndio provocado pelo 21º Comando de Bombardeiros Curtis LeMay. Passara vários anos acordando aos gritos no meio da noite e toda a vida adulta fora um pacifista convicto. Estudara história, aprendera como e por que a guerra começara, como os Estados Unidos tinham encurralado a geração anterior à sua em um canto do qual só havia uma saída... e mesmo assim uma falsa saída.
Talvez Yamata tivesse razão, pensou, talvez todo o episódio tivesse sido forjado pelos americanos. Primeiro, forçar o Japão a um confronto; depois, esmagá-lo, contendo assim a ascensão natural de um país cujo destino era desafiar a supremacia americana. Apesar de tudo, jamais conseguira compreender por que os zaibatsu da época, os membros da Sociedade do Dragão Negro, não tinham sido capazes de encontrar uma saída para o impasse, já que a guerra era uma opção inaceitável. Não seria a paz, por mais humilhante que fosse, uma solução melhor do que a terrível destruição trazida pela guerra? Agora, porém, era diferente. Agora era um deles e podia ver com clareza o abismo que os esperava se recuassem. Estariam tão errados naquela época?, perguntou-se, deixando de prestar atenção ao que estava sendo mostrado na TV. O que desejavam era apenas uma estabilidade econômica verdadeira para o país: a Esfera de Prosperidade do Leste Asiático.
Os livros de história da juventude tinham rotulado esse ideal como uma farsa, mas seria mesmo? Para que a economia do país funcionasse, ele precisava de recursos, matérias-primas, mas o Japão não dispunha de riquezas naturais, a não ser o carvão, que era muito poluente. O Japão precisava de ferro, bauxita, petróleo e muito mais, para transformar esses insumos em bens de consumo que pudessem ser exportados. O país necessitava de divisas para pagar os insumos; essas divisas eram fornecidas pelos compradores dos produtos acabados. Se o comércio com os Estados Unidos, o maior e mais importante parceiro comercial do Japão, fosse interrompido, boa parte dessas divisas deixaria de entrar. Quase sessenta bilhões de dólares! f Haveria vários reajustes, é claro. Depois das últimas notícias, o valor do iene desabaria em relação ao dólar e outras moedas fortes, o que tornaria os produtos japoneses mais baratos no mundo inteiro. Mas a Europa acompanharia os Estados Unidos. Estava certo disso. As barreiras comerciais, já mais severas do que as americanas, ficariam ainda mais rigorosas, e ao mesmo tempo o valor do iene continuaria a cair. Seria preciso cada vez mais divisas para comprar os recursos, sem os quais o país sofreria um colapso total. Como a queda de um precipício, a aceleração para baixo tornar-se-ia cada vez maior; o único consolo era que não estaria ali para ver o desenlace, porque sua empresa já teria fechado as portas há muito tempo. Ficaria arruinado, ele e os amigos. Alguns cometeriam suicídio, mas não muitos. Isso agora era uma coisa para os filmes da TV; as antigas tradições de uma cultura rica em orgulho mas pobre em quase tudo mais.
A vida era muito boa para que renunciasse a ela com tanta facilidade... seria mesmo? O que esperava o país dentro de dez anos? Uma volta à pobreza... ou... alguma coisa diferente? A decisão seria em parte sua, pensou Matsuda, porque o governo era na verdade uma extensão do pensamento coletivo de pessoas como ele.
Olhou para as mãos trêmulas pousadas no colo. Agradeceu aos dois empregados e dispensou-os com um gesto de cabeça. Só então teve coragem de colocar as mãos em cima da mesa e pegar o telefone.
Clark chamava aquele voo de “viagem sem fim”; embora a KAL os tivesse colocado na primeira classe, isso não fazia muita diferença. Nem mesmo as encantadoras aeromoças coreanas, vestidas com trajes típicos, podiam torná-lo menos monótono. Já assistira a dois dos três filmes — em outros voos —, e o terceiro era sofrível. O canal de notícias do rádio prendera sua atenção durante os quarenta minutos necessários para inteirar-se das notícias mundiais, mas depois disso se tornara repetitivo. A revista da KAL durara apenas trinta minutos — mesmo assim, com boa vontade —, e os jornais americanos não traziam nenhuma novidade. Só lhe restava rezar para o tempo passar depressa. Ding, pelo menos, tinha o material do curso para se distrair. No momento, estava lendo o clássico Dreadnought, de Massey, que falava da forma como as relações internacionais tinham-se deteriorado no século anterior porque os vários países da Europa — ou melhor, os seus líderes — não tinham conseguido fazer as reformas necessárias para manter a paz. Clark lembrava-se de ter lido a obra pouco depois que fora lançada.
—Eles foram muito inábeis, não foram? — comentou com o amigo depois de passar uma hora lendo por cima do seu ombro. Ding lia muito devagar, uma palavra de cada vez. Mas, afinal, estava estudando, não estava?
— Acho que sim, John. — Chávez levantou os olhos do livro e se espreguiçou, o que era mais fácil para ele do que para Clark, graças à sua constituição miúda. — A professora Alpher quer que eu identifique três ou quatro erros cruciais para a minha tese, decisões infelizes, esse tipo de coisa.
— Mas não foi só isso, entende? O que os líderes tinham que fazer era examinar os problemas com isenção, como se não tivessem nada a ver com eles, mas os idiotas filhos da puta jamais agiram assim. Simplesmente não sabiam ser objetivos. O outro ponto é que foram incapazes de prever as consequências dos seus atos. Tinham boas ideias, mas não se deram ao trabalho de investigar até onde essas ideias os levariam. Sabe de uma coisa? Posso identificar os erros, fazer o que ela me pediu, mas vai ser tudo embromação, John. O problema não estava nas decisões e sim nas pessoas que as tomaram. Elas simplesmente não estavam à alturas de suas responsabilidades. Não eram homens de visão, entende? — Chávez despregou os olhos do livro, grato pela interrupção. Estava lendo e estudando por mais de onze horas, parando apenas para comer e ir ao banheiro. — Estou precisando correr alguns quilômetros — resmungou, também farto de tanto ficar parado.
John consultou o relógio.
— Faltam apenas quarenta minutos. Já começamos a descida.
— Acha que os líderes de hoje são diferentes? — perguntou Ding, com voz cansada.
Clark riu.
— Meu amigo, há certas coisas na vida que não mudam nunca.
O rapaz sorriu.
— Outra é que pessoas como nós acabam sempre pagando o pato quando a coisa estoura.
Levantou-se e foi até o banheiro lavar o rosto. Olhando-se no espelho, ficou satisfeito porque passariam um dia em um esconderijo da CIA. Estava precisando tomar banho, fazer a barba e desenferrujar os músculos antes de assumir a identidade da missão. E talvez fazer algumas anotações preliminares para sua tese.
Clark olhou pela janela e viu uma paisagem coreana iluminada pelos tons róseos e incorpóreos do alvorecer. O garoto estava se transformando em um intelectual! Deu um sorriso cansado, com os olhos fechados, o rosto virado para a janela. Ding era inteligente, mas o que aconteceria quando escrevesse que os idiotas filhos da puta jamais agiram assim na tese de mestrado? Afinal, estava falando de Gladstone e Bismark! A ideia o fez rir tanto que começou a tossir no ar seco do avião. Abriu os olhos para ver o parceiro sair do banheiro da primeira classe. Ding quase esbarrou em uma das aeromoças, e embora sorrisse educadamente e chegasse para o lado para deixá-la passar, não a seguiu com os olhos, como seria de esperar em se tratando de alguém tão jovem e atraente. Era óbvio que no momento só estava interessado em uma figura feminina.
Droga, isto está ficando sério.
Murray quase explodiu: — Não podemos fazer isso! Que diabo, Bill, estamos com tudo pronto para iniciar o processo! Não podemos manter o caso em segredo por mais tempo. A informação vai vazar a qualquer momento, e isso não é justo com Kealty, e muito menos com nossas testemunhas! Não se esqueça de que trabalhamos para o presidente, Dan — observou Shaw.
— A ordem veio diretamente dele, sem passar nem mesmo pelo secretário de Justiça. E, afinal, desde quando você se preocupa com Kealty?
Na verdade, era o mesmo argumento que Shaw empregara para tentar fazer o presidente mudar de ideia. Filho da puta ou não, estuprador ou não, o vice-presidente tinha direito de ser julgado com isenção e de se defender na forma da lei. O FBI era muito escrupuloso nessas coisas, mas o motivo real pelo qual fazia questão de agir de acordo como as regras era que, assim, o réu não tinha praticamente nenhuma chance de apelar da sentença, caso fosse condenado.
— Foi por causa daquele acidente, certo?
— Certo. O presidente não quer dois assuntos tão importantes lutando por espaço na primeira página. A lei do comércio está em todas as manchetes, e ele acha que o caso Kealty pode ser adiado por uma semana ou duas. Dan, a Srta. Linders esperou vários anos; mais algumas semanas não vão fazer muita diferença...
— Você não falaria assim se estivesse no lugar dela — rebateu Murray. Depois, pareceu arrepender-se. — Desculpe, Bill. Sabe o que estou querendo dizer. — O que ele queria dizer era o seguinte: tinha um caso pronto para começar e estava louco para ir em frente. Por outro lado, era impossível dizer não a um presidente.
— Ele já falou com os congressistas. Vão ficar de boca fechada.
— Mas os assistentes não vão.
10
SEDUÇÃO
— Concordo que isso não é nada bom — admitiu Chris Cook.
Nagumo baixou os olhos para o tapete da sala. Estava surpreso demais com os acontecimentos dos últimos dias para sentir irritação. Era como se tivesse descoberto que o fim do mundo estava próximo e não houvesse nada a fazer. Oficialmente, era um funcionário do escalão intermediário do Ministério do Exterior, que não participava nas negociações de cúpula porém, era apenas uma fachada. Sua missão era preparar o terreno para as negociações do seu país e, além disso, conseguir informações a respeito do que os Estados Unidos realmente pensavam, para que os diplomatas mais graduados soubessem exatamente que atitudes deveriam tomar no início das negociações e até que ponto poderiam pressionar o adversário. Na prática, Nagumo era um agente secreto. Por isso, tinha um interesse pessoal pelo caso. Seiji se considerava um defensor e protetor do seu país e do seu povo e também uma ponte honesta entre sua terra e a América. Queria que os americanos apreciassem os japoneses e sua cultura. Também queria que consumissem os produtos japoneses. Queria que os Estados Unidos considerassem o Japão como um igual, um amigo sábio e fiel que tinha muita coisa para lhes ensinar. Os americanos eram uma raça emotiva, que frequentemente ignorava as próprias necessidades, como era fácil acontecer com crianças mimadas e orgulhosas. A posição que os americanos haviam adotado em relação ao comércio, por exemplo, era como a de um filho esbofeteando um pai. Eles não sabiam que precisavam do Japão e de seus produtos? Cook se remexeu no assento. Ele também era um diplomata experiente e sabia interpretar muito bem as expressões faciais. Eram amigos, afinal; além disso, Seiji era seu passaporte para uma vida confortável depois que deixasse o governo.
— Se isso o faz sentir-se melhor, vai ser dia treze.
— Hein? — fez Nagumo.
— O dia em que vão desativar os últimos mísseis. Você queria saber, lembra-se?
Nagumo piscou os olhos, como se estivesse tendo dificuldade para recordar a pergunta que fizera.
— Por que escolheram essa data?
— Porque o presidente estará em Moscou. Restam muito poucos mísseis. Não sei o número exato, mas não chegam a vinte de cada lado.
— Estão guardando os dois últimos para a próxima sexta-feira. O pessoal da TV foi avisado, mas ainda não divulgou a notícia. Vão instalar câmaras nas duas bases e mostrar simultaneamente as duas explosões. — Cook fez uma pausa. — De modo que já sabe quando fazer aquela cerimônia de que me falou, em homenagem a seu pai.
— Muito obrigado, Chris. — Nagumo levantou-se e foi até o bar para se servir de mais um drinque. Não sabia por que o Ministério queria aquela informação, mas cumprira a ordem e passaria a resposta adiante assim que pudesse. — Agora, meu amigo, o que podemos fazer a respeito?
— Não há muita coisa que se possa fazer, Seiji, pelo menos por enquanto. Contei-lhe a respeito dos malditos tanques, lembra-se? Eu lhe disse que esse Trent era um inimigo perigoso. Faz anos que espera uma oportunidade como esta. Escute, estive no Congresso esta tarde, conversando com as pessoas. Nunca receberam tantas cartas e telegramas, e a CNN não quer deixar a história morrer.
— Eu sei — concordou Nagumo. Era como o enredo de um filme de terror. A personagem do dia era Jessica Denton. Todo o país — juntamente com boa parte do restante do mundo — estava rezando para que se recuperasse do acidente. Acabara de sair da lista dos doentes “graves”; seu estado agora era classificado pelo hospital como “crítico”. Já havia flores suficientes do lado de fora do quarto da menina para ela fazer um jardim particular. A segunda história do dia tinha sido o enterro dos pais e irmãos de Jessica, retardado por causa de formalidades médicas e legais. Centenas de pessoas tinham comparecido ao sepultamento, entre elas todos os deputados e senadores do Tennessee. O presidente da empresa de automóveis também pretendia ir ao enterro, para apresentar pessoalmente suas condolências e desculpar-se com a família, mas fora desaconselhado por questões de segurança. Por isso, contentara-se em pedir desculpas pela TV em nome da empresa e comprometer-se a pagar todas as despesas do tratamento de Jessica e de sua educação no futuro, observando que também tinha filhas. Entretanto, o público recebera suas declarações com extrema frieza. Desculpas sinceras eram bem aceitas no Japão, um fato de que a Boeing se beneficiara quando centenas de japoneses morreram na queda de um 747, mas nos Estados Unidos as coisas eram diferentes, algo que Nagumo tentara explicar aos superiores sem muito sucesso. O advogado da família Denton, um homem combativo e com um certo prestígio, agradecera ao presidente da empresa pelo pedido de desculpas e observara secamente que ele reconhecera em público que sua firma era responsável pelas mortes, o que facilitava seu caso. Só restava decidir o valor de indenização. Corriam boatos de que ele pediria algo da ordem de um bilhão de dólares.
A Deerfield Autopeças estava negociando com todas as montadoras japonesas e Nagumo sabia que as condições oferecidas à empresa de Massachusetts seriam extremamente generosas, mas também contara ao Ministério do Exterior o provérbio americano a respeito de fechar a porta do estábulo depois que o cavalo fugiu. O fato seria visto não como uma tentativa de melhorar o produto e sim como uma nova admissão de culpa, sendo portanto a forma errada de agir no ambiente jurídico americano.
A notícia levara algum tempo para causar impacto no Japão. Por mais trágico que fosse o acidente de automóvel, parecia um fato de pequena importância, e os comentaristas de TV da NHK tinham usado o desastre com o 747 como exemplo de que acidentes daquele tipo podiam acontecer; um veículo americano também causara a morte de japoneses, só que em número muito maior. Nos Estados Unidos, porém, a reportagem foi vista mais como uma justificativa do que como uma comparação, e os únicos americanos que a defenderam foram indivíduos que trabalhavam para os japoneses. Os acontecimentos estavam se precipitando. Os jornais começaram a publicar listas de ex-funcionários do governo que agora estavam a soldo dos japoneses, comparando os novos salários com os antigos. “Mercenários” era o termo menos contundente aplicado a esses profissionais. ”Traidor” era o adjetivo mais frequente, usado especialmente pelos sindicatos e por membros do Congresso que pretendiam concorrer à reeleição.
Não havia como argumentar com essas pessoas.
— O que vai acontecer, Chris? Cook pousou o copo na mesa, avaliando a própria posição e lamentando o fato de aquele problema ter ocorrido na pior ocasião possível. Já começara a cortar os laços com o governo. Estava esperando apenas completar o prazo para se aposentar com vencimentos integrais. Seiji lhe contara no verão anterior que seu salário inicial seria quatro vezes maior do que o atual, mas não valia a pena perder um centavo do que o governo lhe devia, não é mesmo? De modo que Cook iniciara o processo. Em conversas com o chefe imediato, deixara claro que, em sua opinião, a política de comércio do país estava sendo formulada por idiotas, sabendo que esses desabafos chegariam aos ouvidos dos escalões superiores. Nos relatórios internos, dizia a mesma coisa, só que em cauteloso burocratês. Tinha de preparar as coisas para que seu pedido de aposentadoria não fosse nenhuma surpresa e parecesse ter sido causado por uma questão de princípios e não apenas por interesse pessoal. O problema era que, agindo assim, simplesmente acabara com sua carreira. Nunca mais seria promovido; se continuasse no Departamento de Estado, o máximo a que poderia aspirar seria uma embaixada em... Serra Leoa, a menos que encontrassem um lugar pior. Guiné Equatorial, talvez. Lá a quantidade de insetos era maior. Não posso mais voltar atrás, pensou Cook, respirando fundo antes de beber mais um gole do seu drinque.
— Seiji, teremos de pensar a longo prazo. A LRC — não tinha coragem de chamá-la de Lei de Reforma do Comércio, não ali — vai ser votada pelo Congresso em menos de duas semanas e o presidente vai sancioná-la. Os grupos de trabalho dos Departamentos de Comércio e Justiça já estão sendo formados. O Departamento de Estado também vai participar, é claro. Mandaram telegramas a várias embaixadas pedindo cópias das leis de comércio locais...
— Não iam se basear nas nossas? — perguntou Nagumo, surpreso.
— Querem comparar as de vocês com as de outros países com os quais nossas relações comerciais são menos... controvertidas. — Cook tinha de tomar cuidado com o que dizia. Afinal, precisava daquele homem. — A ideia é... verificar se as leis japonesas são típicas. Seja como for, vai levar algum tempo para resolver esse problema, Seiji.
— É provável.
— Sua ajuda será inestimável, Chris — declarou Nagumo, pensando cada vez mais depressa. — Posso ajudá-lo a interpretar nossas leis... discretamente, é claro — acrescentou.
— Não pretendo continuar por muito tempo no governo, Seiji — protestou Cook. — Pretendemos nos mudar para uma casa maior e...
— Chris, precisamos de você onde está. Precisamos... preciso de sua ajuda para minimizar as consequências desse incidente. Temos uma séria emergência nas mãos, algo que poderá afetar profundamente as relações entre nossos países.
— Compreendo, mas...
Dinheiro, pensou Nagumo, com essa gente a questão é sempre dinheiro! — Posso lhe oferecer uma compensação pelo seu trabalho — disse, mais como um rompante. Só depois de falar teve consciência do que fizera. A essa altura, porém, estava interessado na reação de Cook.
O assistente do subsecretário de Estado não respondeu imediatamente. Ele também estava tão preocupado com os acontecimentos que não percebeu o significado real da proposta. Afinal, fez que sim com a cabeça, sem nem olhar para Nagumo.
Na verdade, o primeiro passo — revelar ao japonês informações secretas — tinha sido bem mais difícil; o segundo foi tão fácil, que Cook não se deu conta de que estava infringindo diretamente uma lei federal. Acabara de concordar em fornecer informações a um governo estrangeiro em troca de dinheiro. Parecia uma atitude muito lógica, nas circunstâncias. Eles realmente queriam aquela casa à margem do Potomac, e em breve teriam de começar a escrever às universidades.
Aquela manhã da bolsa de Tóquio seria lembrada por muito tempo. As pessoas tinham levado alguns dias para descobrir o que Seiji Nagumo sabia: que dessa vez os americanos não estavam brincando. Não era uma repetição do caso do arroz, nem do caso das placas de computador, nem do caso dos automóveis, dos equipamentos de telecomunicações, dos contratos de construção ou dos telefones celulares; era tudo isso ao mesmo tempo e muito mais, dez anos de ressentimentos acumulados, alguns justificados e outros não, mas todos reais e explodindo de uma só vez. A princípio, os jornalistas japoneses não acreditaram nas notícias enviadas pelos correspondentes em Washington e Nova York e reescreveram as reportagens para que estivessem de acordo com suas próprias ideias, até que tiveram tempo de examiná-las com mais profundidade e chegaram à mesma conclusão surpreendente. Na opinião dos jornais japoneses de dois dias antes, a Lei da Reforma do Comércio não passava de uma piada, de uma agressão injusta por parte de umas poucas pessoas com uma longa história de antipatia ao nosso país, que jamais terá o respaldo do governo americano. Agora era algo diferente.
Nos jornais daquele dia, era uma proposta lamentável, cuja possibilidade de ser transformada em Lei Federal não pode ser totalmente descartada.
A língua japonesa pode transmitir tantas informações quanto qualquer outra, contanto que se conheça o código. Nos Estados Unidos, as manchetes são muito mais diretas, mas isso é considerado como um exemplo da falta de delicadeza dos gaijin. No Japão, as frases podiam ser mais tortuosas, mas o significado estava ali com a mesma clareza. Os milhões de japoneses que possuíam ações leram os mesmos jornais, assistiram aos mesmos noticiários matutinos de TV e chegaram às mesmas conclusões. Ao chegarem aos locais de trabalho, pegaram o telefone e ligaram para as corretoras.
Na década de 1980, o Nikkei Dow, o índice da bolsa de valores de Tóquio, passara da casa dos trinta mil ieneJP. No início dos anos 90, tinha caído para metade desse valor, e o custo total desse “reajuste” era maior do que toda a dívida externa americana na ocasião, fato que passara praticamente despercebido nos Estados Unidos... mas não por aqueles que haviam tirado seu dinheiro do banco e aplicado em ações, em uma tentativa de ganhar mais do que 2% anuais de juros. Essas pessoas perderam parte considerável de sua poupança e não sabiam a quem responsabilizar por isso.
Não cometeriam novamente o mesmo erro, pensaram todos. Estava na hora de vender as ações e colocar o dinheiro nos bancos, instituições seguras, confiáveis, que sabiam proteger o dinheiro dos depositantes.
Mesmo que fossem parcimoniosos na hora de pagar juros, pelo menos ninguém estaria perdendo dinheiro, não é mesmo? Os repórteres ocidentais usaram termos como “avalanche” e “catástrofe” para descrever o que ocorreu quando os computadores da bolsa foram ligados. O processo foi ordeiro. Os grandes bancos comerciais, comprometidos como eram com as grandes empresas, mandavam o dinheiro dos depositantes que entrava pela porta da frente diretamente para a porta dos fundos para sustentar o preço das ações. Na verdade, não tinham outra opção. Eram obrigados a aumentar mais e mais suas carteiras, no que se revelou uma luta inútil contra a maré. O Nikkei Dow perdeu um sexto do valor em apenas um pregão, e embora os analistas anunciassem que a maioria das ações agora estava muito abaixo do valor patrimonial e que um ajuste técnico era inevitável, o que a população pensava realmente era que se a proposta de lei americana fosse aprovada o mercado de produtos japoneses se dissiparia como a névoa da manhã.
A bolsa continuaria caindo; embora ninguém dissesse isso, todos sabiam, especialmente os banqueiros.
Em Wall Street, as coisas eram diferentes. Vários especialistas lamentaram a interferência do governo no mercado; depois, começaram a raciocinar. Era fácil de ver, afinal, que se os carros japoneses estavam encontrando dificuldades para passar pela alfândega, que se o Cresta, antes popular, agora adquirira um estigma do qual provavelmente jamais conseguiria se livrar, então os carros americanos passariam a vender mais, o que era bom. Era bom para Detroit, onde os veículos eram montados, e para Pittsburgh, onde boa parte do aço ainda era fabricada; bom para todas as cidades dos Estados Unidos (e do Canadá e México), onde os milhares de componentes eram produzidos. Era bom, também, para todos os operários que faziam as peças e montavam os carros, que teriam mais dinheiro para gastar em suas comunidades com bens de consumo. Bom até que ponto? Bem, os automóveis eram responsáveis pela maior parte do desequilíbrio da balança comercial com o Japão. A economia americana poderia receber uma injeção de trinta bilhões de dólares nos próximos doze meses, e isso, pensaram muitos analistas de mercado depois de uns cinco segundos de reflexão, era muito bom, não era? Trinta bilhões de dólares entrariam nos cofres das empresas e todo esse dinheiro, de uma forma ou de outra, apareceria como lucro. Mesmo os impostos adicionais ajudariam a reduzir a dívida interna, fazendo cair a demanda de dinheiro e portanto os juros das obrigações do governo. A economia americana receberia um duplo impulso. Somando a tudo isso um pouco de schadenfreude pelo que estava acontecendo com os colegas japoneses, é fácil ver por que, antes mesmo que o pregão fosse iniciado, todos na Street estavam antecipando um dia glorioso.
Não se decepcionariam. Um dos que mais lucraram foi o Columbus Group, que alguns dias antes tinha comprado grande quantidade de opções de empresas relacionadas à indústria automobilística e portanto pôde tirar vantagem do aumento de cento e doze pontos do índice Dow Jones.
Em Washington, no Federal Reserve, o ambiente era de preocupação.
Estavam mais próximos do centro do poder e dispunham de informações confidenciais do Departamento do Tesouro a respeito do modo como seria implantada a Lei de Reforma do Comércio. Para eles, era evidente que haveria uma escassez de automóveis, até que Detroit aumentasse a produção.
Seria a situação clássica de uma demanda maior do que a oferta. Isso implicaria inevitavelmente uma pressão inflacionária, de modo que no final do dia o Federal Reserve anunciou um aumento 0,25% na taxa de juros.
O aumento seria temporário, confidenciaram aos repórteres, pedindo para não serem citados. O Conselho Diretor do Federal Reserve, porém, acreditava que a situação continuaria a mesma por muito tempo. Era uma visão errônea, mas refletia a opinião mundial naquele momento.
Mesmo antes que aquela decisão fosse tomada, outros homens estavam discutindo as perspectivas a longo prazo. Eles ocupavam a maior piscina da casa de banhos, que fora fechada para o restante do público naquela noite.
Os empregados regulares foram dispensados. Os clientes seriam servidos por assistentes pessoais, que, na verdade, não tinham muito a fazer. Depois de se cumprimentarem rapidamente, os homens tiraram os paletós e gravatas e se sentaram no chão. Não pareciam dispostos a perder tempo com formalidades.
— Amanhã vai ser ainda pior — observou um banqueiro. Era tudo que tinha a dizer. Yamata olhou em torno e teve de se controlar para não começar a rir.
Tudo ficara muito claro havia cinco anos, quando a primeira grande fábrica de automóveis renunciara à política de estabilidade no emprego. A idade de ouro das empresas japonesas terminara naquele dia, para aqueles que se deram ao trabalho de prestar atenção. Os outros tinham pensado que todos os reveses eram apenas “irregularidades” temporárias, mas sua falta de visão servira apenas para fortalecer a posição de Yamata. O valor de choque do que estava acontecendo no momento era o seu maior aliado. Na verdade, apenas uma pequena fração dos presentes compreendia realmente o que estava acontecendo. Na maioria, eram aliados de Yamata-san.
O que não queria dizer que ignorassem a adversidade que fizera a taxa de desemprego do país aumentar para quase 5%, mas simplesmente que haviam tomado precauções para limitar seus prejuízos. Essas precauções eram suficientes, porém, para fazê-los parecer modelos de perspicácia.
— Há um provérbio do tempo da Revolução americana — observou um dos amigos de Yamata, que tinha fama de intelectual. — Acho que é de autoria de Benjamin Franklin. Ou ficamos juntos ou seremos enforcados separadamente. Se não nos mantivermos unidos, meus amigos, seremos todos destruídos. Um de cada vez ou todos ao mesmo tempo, não fará muita diferença.
— E nosso país afundará conosco — acrescentou o banqueiro, merecendo a gratidão de Yamata.
— Lembram-se do tempo em que eles precisavam de nós? — perguntou Yamata. — Precisavam das nossas bases para intimidar os russos, para apoiar os coreanos, para abastecer seus navios. E agora, meus amigos, para que precisam de nós?
— Nós é que precisamos deles — observou Matsuda.
— Muito bem, Kozo — disse Yamata, em tom irônico. — Precisamos tanto deles que vamos arruinar nossa economia, destruir nosso povo e nossa cultura e reduzir nosso país à condição de escravos dos americanos... de novo!
— Yamata-san, não é hora de cultivarmos ressentimentos — observou outro empresário. — O que você propôs no nosso último encontro é ao mesmo tempo muito ousado e muito perigoso.
— Fui eu que convoquei esta reunião — protestou Matsuda, ofendido.
— Mil desculpas, Kozo — disse Yamata, inclinando a cabeça.
— Estes são tempos difíceis, Raizo — replicou Matsuda, aceitando o pedido de desculpas. Depois, acrescentou: — Penso como você.
Yamata respirou fundo, recriminando-se por não haver compreendido corretamente a posição do colega. Kozo tem razão. Estes são tempos difíceis.
— Por favor, amigo, compartilhe seus pensamentos conosco.
— Precisamos dos americanos... ou de alguém que os substitua.
Todos os presentes, com uma única exceção, baixaram os olhos. Yamata observou-os e teve certeza de que estava vendo o que queria ver. Não era uma esperança ou uma ilusão. Estava realmente na expressão de todos.
— Agora estamos diante de uma encruzilhada e devemos tomar uma decisão difícil. Entretanto, tenho certeza de que é a única solução.
— Será que temos alguma chance de ser bem-sucedidos? — perguntou um banqueiro, apreensivo.
— Acredito sinceramente que sim — assegurou-lhe Yamata. — E claro que existe um elemento de risco. Não vou ocultar esse fato, mas há muita coisa a nosso favor.
Descreveu o plano de forma resumida. Surpreendentemente, dessa vez não houve objeções. Houve, sim, perguntas, muitas perguntas, a todas as quais estava preparado para responder, mas ninguém realmente se opôs ao seu plano. Alguns tinham de estar preocupados, até mesmo amedrontados, mas a verdade, percebeu, era que estavam ainda mais assustados com o que aconteceria na manhã seguinte, e na outra, e na outra. O que estava para ocorrer era uma mudança total na sua maneira de viver, na sua posição, no seu prestígio pessoal, e isso os deixava muito assustados. O país lhes devia alguma coisa por tudo que haviam feito, pela longa e trabalhosa escalada no mundo dos negócios, por todo o seu trabalho e diligência, por todas as boas decisões que haviam tomado. E assim todos concordaram com o plano de Yamata. Sem muito entusiasmo, é verdade, mas concordaram.
A primeira tarefa de Mancuso pela manhã era examinar o plano de operações. O Asheville e o Charlotte teriam de interromper o trabalho extremamente útil de rastrear baleias no golfo do Alasca para participar do Exercício COLEGAS NO MAR, juntamente com o John Stennis, o Enterprise e o elenco usual de milhares de figurantes. O exercício fora planejado, é claro, com meses de antecedência. O fato de que o evento tinha uma certa semelhança com a operação para a qual a Esquadra do Pacífico estava se preparando não passava de uma feliz coincidência. No dia vinte e sete, duas semanas depois do encerramento do exercício, o Stennis e o Enterprise partiriam para sudoeste em direção ao oceano Indico, com uma única escala em Cingapura, para substituir o hélice e o ABE.
— Na verdade, estamos em minoria — observou o comandante Wally Chambers. Alguns meses antes, deixara o comando do USS Key West, e Mancuso o convidara para ser seu oficial de operações. A transferência de Groton, onde Chambers esperava outro posto de comando, para Honolulu não tinha sido exatamente um sério golpe para seu ego. Dez anos antes, Wally poderia ter sido candidato ao comando de um navio-guindaste, de um navio-tênder ou mesmo de uma frota. Entretanto, não havia mais navios-guindaste, dispunham de apenas três navios-tênderes e todos os comandos de frota estavam ocupados. Assim, Chambers tinha de aguardar na fila, e enquanto isso Mancuso o queria de volta. Estava ficando cada vez mais comum os oficiais da Marinha voltarem a trabalhar com os antigos chefes.
O almirante Mancuso olhou para ele, compreendendo que estava certo.
— A Marinha japonesa contava com vinte e oito submarinos convencionais, chamados de SSK, enquanto os americanos tinham apenas dezenove.
— Quantos estão em operação? — perguntou Bart, imaginando como seria o ciclo de manutenção dos japoneses.
— Vinte e dois, segundo os dados de ontem. Almirante, eles estão usando dez no exercício, entre eles todos os Harushio. Pelo que a Inteligência da Esquadra me informou, estão levando o treinamento muito a sério — afirmou Chambers, recostando-se no assento e cofiando o bigode. Chambers deixara crescer o bigode porque tinha cara de criança e achava que um oficial superior devia parecer mais velho. O problema era que o bigode coçava.
— Todos acham que eles são muito bons — observou o ComSubPac.
— Ainda não pegou carona em um deles? — quis saber o Sub-Ops.
O almirante sacudiu a cabeça.
— Talvez no próximo verão.
E melhor que eles sejam mesmo bons, pensou Chambers. Cinco dos submarinos de Mancuso tinham sido escalados para o exercício. Três trabalhariam ao lado dos porta-aviões; o Asheville e o Charlotte executariam operações independentes, que na prática não eram tão independentes assim: estariam envolvidos em um jogo de gato e rato com quatro submarinos japoneses, oitocentos quilômetros a noroeste do atol de Kure.
O exercício tinha uma semelhança razoável com o que poderiam ter de enfrentar no oceano Índico. A Marinha japonesa, basicamente uma coleção defensiva de contratorpedeiros, fragatas e submarinos convencionais, tentaria resistir ao ataque dos dois porta-aviões. Sua missão era morrer lutando (algo que, historicamente, os japoneses sabiam fazer muito bem, pensou Mancuso, com um sorriso irônico), mas não sem antes dar muito trabalho aos atacantes. Seriam tão espertos quanto possível, tentando se aproximar dos navios o suficiente para lançar os mísseis Harpoon, e certamente os contratorpedeiros mais novos tinham uma boa chance de sobreviver. Os Kongo, em especial, eram excelentes plataformas, o equivalente japonês da classe Arleigh Burke dos americanos, com o sistema de radar-mísseis Aegis. Todos tinham sido batizados com nomes de navios da Segunda Guerra Mundial. O Kongo original fora afundado por um submarino americano, o Sealion 11. Este também era o nome de um dos poucos submarinos americanos incorporados recentemente à Esquadra do Atlântico. Mancuso ainda não dispunha de nenhum submarino da classe Seawolf na sua frota. Fosse como fosse, os aviadores teriam de descobrir um meio de enfrentar um navio equipado com o sistema Aegis, e isso não era nada fácil...
No conjunto, seria um bom exercício para a Sétima Esquadra. Precisavam praticar; os indianos estavam ficando cada vez mais impetuosos. No momento, sete dos seus submarinos estavam operando sob o comando de Mike Dubro; todos os outros submarinos em atividade, que não eram muitos, participariam do exercício COLEGAS NO MAR. Até que ponto os poderosos podem cair, pensou o ComSubPac. Bem, isso era o que quase sempre acontecia com os poderosos, mais cedo ou mais tarde.
A rotina daqueles encontros não era muito diferente do ritual de acasalamento dos cisnes. Você comparecia a um certo lugar a uma certa hora, nesse caso levando um jornal (dobrado, não enrolado) na mão esquerda, e ficava apreciando uma vitrina cheia de câmaras fotográficas e aparelhos eletrônicos, como certamente um russo faria em sua primeira viagem ao Japão, maravilhando-se com a variedade de produtos à disposição daqueles que tinham moeda forte para gastar. Se estivesse sendo seguido (o que era possível, embora pouco provável), esse comportamento pareceria normal.
Exatamente na hora marcada, uma pessoa esbarrou nele.
— Desculpe — disse uma voz em inglês, o que também era normal, já que a pessoa em quem esbarrara era evidentemente um gaijin.
— Não há de quê — respondeu Clark, falando com sotaque.
— É a primeira vez que visita o Japão?
— Não, mas nunca estivera em Tóquio.
— Muito bem, a costa está limpa.
O homem esbarrou nele de novo ao se afastar. Clark esperou os cinco minutos de praxe antes de segui-lo. Era tudo muito tedioso, mas necessário.
O Japão não era solo inimigo. Não era como os trabalhos que fizera em Leningrado (Clark jamais se acostumaria com o novo nome da cidade; além do mais, seu sotaque russo era daquela região) e em Moscou, porém era mais seguro proceder como se fosse. Ainda bem, pensou, que essas precauções eram apenas uma questão de princípio. Havia tantos estrangeiros naquela cidade, que o serviço de contraespionagem japonês ficaria louco tentando seguir a todos.
Na verdade, era a primeira vez que Clark visitava Tóquio, a não ser por curtas paradas para trocar de avião. Nunca vira tanta gente nas ruas, nem mesmo em Nova York. Também se sentia pouco à vontade, por ser tão diferente da população local. Não há nada pior para um agente do que se destacar no meio da multidão, mas sua altura de um metro e oitenta e cinco o tornava visível a um quarteirão de distância para quem se desse ao trabalho de olhar. E muitos se davam a esse trabalho, observou Clark. Estranhamente, as pessoas abriam caminho para ele, especialmente as mulheres, e as crianças positivamente se encolhiam, como se pensassem que Godzilla estava de volta para destruir a cidade. Então era verdade! Tinha ouvido falar que era assim que encaravam os americanos, mas jamais acreditara. Um bárbaro cabeludo. Engraçado, nunca pensei em mim mesmo nesses termos, murmurou para si próprio, entrando em um McDonald’s. Estava cheio, por causa da hora do almoço, e depois de olhar em torno teve que se sentar na mesa de outro homem. Mar} Pat estava certa, pensou. Nomuri sabe trabalhar.
— Então, quais são as novidades? — perguntou Clark, no meio do alarido da lanchonete.
— Já tenho a identidade e o endereço da moça.
— Isso é o que chamo de trabalho rápido.
— Não foi difícil. Nossos amigos não estavam esperando uma investigação deste tipo.
Além do mais, pensou Clark, você está usando um disfarce perfeito, até na expressão tensa e apressada de um assalariado engolindo o almoço às pressas para poder voltar ao trabalho. Bem, isso não era difícil para um agente secreto, era? Era fácil parecer tenso durante uma missão. Difícil, como eles não se cansavam de comentar na Fazenda, era parecer relaxado.
— Está certo, então só preciso conseguir permissão para abordá-la.
Entre outras coisas, Nomuri não estava autorizado a receber informações a respeito do seu trabalho na Operação CARDO. John imaginou se a situação iria mudar no futuro.
— Sayonara.
Nomuri levantou-se e saiu, enquanto Clark provava seu bolo de arroz.
Nada mau. O garoto sabe o que faz, pensou. Seu pensamento seguinte foi: bolo de arroz no McDonald’s? Os papéis sobre a mesa não tinham nada a ver com o fato de ser o presidente, mas tudo a ver com sua intenção de permanecer no cargo, e por isso estavam sempre no topo da pilha. O aumento do índice de popularidade observado nos últimos dias era... muito animador, pensou Durling. Dos prováveis eleitores (eram eles que importavam), a porcentagem dos que aprovavam a forma como estava lidando com as questões externas e internas aumentara 10% na última semana. Sentia-se como um menino que acaba de receber um boletim com notas mais altas do que esperava. E esses 10% eram apenas o começo, na opinião do responsável pela pesquisa, já que os efeitos das últimas medidas levariam algum tempo para ser observados. As Três Grandes da indústria automobilística já estavam falando abertamente em readmitir parte dos setecentos mil operários demitidos nas últimas décadas. Isso sem contar as pequenas empresas de autopeças, as fábricas de pneus, as fábricas de vidro, as fábricas de baterias... Seria um novo impulso para o Rust Belt, a região em torno de Detroit onde se concentra a maior parte da indústria automobilística americana, e o Rust Belt era responsável por muitos votos no colégio eleitoral.
O que era óbvio, ou deveria sê-lo para qualquer um que parasse um pouco para pensar, era que as mudanças não ficariam restritas à indústria de automóveis. A United Auto Workers (carros e autopeças) estava prevendo a readmissão de milhares de sócios pagantes. A International Brotherhood of Electrical Workers (aparelhos de TV, videocassetes, quem sabe?) não ficaria muito atrás. Outros sindicatos já começavam a calcular qual a fatia do mercado que poderiam abocanhar. Embora estivesse baseada em uma ideia muito simples, a Lei da Reforma do Comércio representava uma mudança fundamental na forma como os Estados Unidos faziam negócios com outros países. O presidente Durling achava que entendera o espírito da lei, mas logo o telefone sobre a mesa começaria a tocar. Olhando para ele, já sabia que tipo de pessoa estava do outro lado da linha e não era preciso muita imaginação para prever o que diria, que argumentos usaria, que promessas faria. E o presidente mostrar-se-ia extremamente receptivo.
Ao contrário de Bob Fowler, que dedicara toda a vida a esse objetivo, não permitindo nem mesmo que a morte da mulher o desviasse do curso, Durling jamais considerara seriamente a possibilidade de tornar-se presidente dos Estados Unidos. Sua meta mais ambiciosa tinha sido o governo da Califórnia; quando o convidaram para concorrer à vice-presidência na chapa de Fowler, aceitou mais por patriotismo do que por interesse. Isso era algo que não confessaria nem aos assessores mais próximos, porque o patriotismo não tinha lugar na política moderna, mas mesmo assim Roger Durling sentira arroubos patrióticos, lembrara-se de que o cidadão comum tinha um nome e um rosto, recordara que alguns deles tinham morrido sob o seu comando no Vietnã e, ao se lembrar disso, achara que tinha de dar o melhor de si para ajudá-los.
Mas o que era o melhor?, perguntou-se, como já fizera em muitas outras ocasiões. A Sala Oval era um lugar solitário. Era frequentada por visitantes de todos os tipos, desde chefes de Estado até colegiais premiados em concursos de redação, mas no final todos iam embora, e o presidente se via novamente sozinho com seu dever. O juramento que prestara era muito simples: “Exercer com dedicação o mandato... fazer o possível para preservar, proteger e defender...” Belas palavras, mas o que significavam! Talvez Madison e os outros pensassem que ele entenderia. Talvez em 1789 todos entendessem, mas dois séculos e pouco tinham se passado e tinham se esquecido de deixar claro para as futuras gerações o que queriam dizer.
Pior ainda: o que não faltavam eram pessoas querendo explicar ao presidente o que essas palavras significavam, e quando o presidente juntava todas essas explicações, 2 e 2 acabavam somando 7. Empresários e trabalhadores, produtores e consumidores, contribuintes e arrecadadores de impostos. Todos tinham suas necessidades. Todos tinham seus compromissos. Todos tinham seus argumentos, e excelentes lobistas para apresentá-los de forma convincente, e o mais assustador era que todos esses argumentos realmente faziam sentido, de uma forma ou de outra, fazendo muitos pensarem que 2 mais 2 realmente era igual a 7. Até que o presidente anunciava a soma e todo mundo concordava que era demais, que o país não podia se dar ao luxo de atender aos interesses particulares dos outros grupos.
Além do mais, para conseguir realizar alguma coisa, você tinha de chegar lá, e, depois de chegar, continuar lá, e isso significava fazer promessas que pudesse cumprir. Pelo menos, algumas delas. Em algum ponto do processo, o país perdia o rumo, e a Constituição com ele, e no final do dia você estava preservando, protegendo e defendendo... o quê! Não foi à toa que eu jamais quis este cargo, pensou Durling, consultando mais uma pesquisa de opinião. Tudo não passara de um acidente. Bob precisava dos votos da Califórnia e Durling tinha esses votos, um governador jovem e popular, filiado ao partido certo. Agora, porém, era presidente dos Estados Unidos e temia não estar à altura do cargo. A triste verdade era que nenhum homem tinha capacidade intelectual suficiente para compreender todas as questões que o presidente era obrigado a resolver. A economia, por exemplo, talvez seu campo de atuação mais importante agora que a União Soviética não existia mais, era uma disciplina na qual os próprios praticantes não conseguiam definir uma série de regras que um homem razoavelmente inteligente pudesse compreender.
A questão dos empregos, pelo menos, era fácil de entender. As pessoas sentiam-se melhor quando estavam empregadas do que quando estavam desempregadas. Era melhor para um país fabricar os produtos que consumia do que pagar aos trabalhadores de outros países para fabricá-los. Esse era um princípio que conseguia compreender e, melhor ainda, um princípio que sabia como explicar ao povo. Os sindicatos ficariam felizes. Os empresários, também... Uma política que agradava simultaneamente aos sindicatos e aos empresários não era necessariamente uma boa política? Tinha de ser, não é mesmo? Os economistas não ficariam contentes? Além do mais, estava convencido de que o operário americano era tão bom ou melhor do que qualquer outro operário do mundo e estava mais do que preparado para participar de uma competição justa com outros operários, e era isso justamente o que sua política procurava assegurar... não era? Durling deu meia-volta na cadeira giratória de luxo e olhou pela janela para o monumento a Washington. Devia ser muito mais fácil no tempo de George.
Está bem, ele foi o primeiro, teve de lidar com a Revolução do Uísque, que nos livros de história não parece ter sido tão grave assim, e teve de estabelecer o padrão para os presidentes que viriam depois. Os únicos impostos recolhidos naquela época eram os alfandegários e de consumo, antipáticos e retrógrados pelos padrões modernos, mas destinados a desencorajar as importações e evitar que as pessoas bebessem demais. Durling não estava realmente tentando acabar com o comércio exterior, mas apenas torná-lo mais justo. Desde o tempo de Nixon, os Estados Unidos vinham cedendo às pressões do Japão, primeiro porque precisavam de bases militares na área (como se houvesse perigo de os japoneses se aliarem a seus inimigos históricos!) e depois porque... por quê? Porque era conveniente? Será que alguém realmente sabia? Bem, as coisas agora seriam diferentes, e todos saberiam por quê? Ou melhor, corrigiu-se Durling, eles pensariam que sabiam. Talvez os mais cínicos adivinhassem qual era o verdadeiro motivo, e todos estariam parcialmente corretos.
O escritório do primeiro-ministro do Japão, no Edifício da Dieta (uma construção de mau gosto em uma cidade que não era conhecida pela beleza arquitetônica), dava para um parque, mas o homem sentado na cadeira giratória de luxo não estava olhando para fora. Dentro de pouco tempo estaria do lado de fora, olhando para dentro.
Trinta anos, pensou. Poderia ter sido diferente. Antes de completar três décadas de vida tinham lhe oferecido, mais de uma vez, um lugar confortável no então majoritário Partido Liberal Democrático, com um futuro assegurado, porque, já naquela época, todos reconheciam a sua inteligência, especialmente os inimigos políticos. Assim, procuraram-no da forma mais amistosa possível, apelando ao seu patriotismo e a sua visão do futuro, usando essa visão, colocando-a diante dos seus olhos jovens e idealistas. Levaria algum tempo, disseram, mas um dia teria a oportunidade de ocupar exatamente aquela cadeira, exatamente naquela sala. Era uma promessa. Tudo que queriam era que jogasse conforme as regras, entrasse para o time, se juntasse a eles...
Ainda se lembrava da resposta, sempre a mesma, dita no mesmo tom, com as mesmas palavras, até que finalmente compreenderam que não estava se vendendo caro e foram embora pela última vez, balançando a cabeça e se perguntando por quê.
Tudo que realmente queria era que o Japão se tornasse uma democracia no verdadeiro sentido da palavra, não um país de um único partido, controlado por um pequeno grupo de homens poderosos. Mesmo há trinta anos, os sinais de corrupção já eram evidentes, mas os eleitores, as pessoas comuns, condicionadas a dois mil anos de obediência cega, não se dispunham a tomar nenhuma atitude, porque as raízes da democracia não se fixavam ali mais do que as raízes do arroz em solo alagadiço. Aquela era a maior de todas as mentiras, tão grande que era aceita por todo mundo, dentro e fora do país. No fundo, a cultura permanecia a mesma que no passado. Oh, sim, havia as mudanças cosméticas. As mulheres agora podiam votar; entretanto, como as mulheres de todos os outros países, votavam com o bolso, como os homens faziam, e elas, da mesma forma que os homens, eram parte de uma cultura que exigia obediência irrestrita. O que vinha de cima tinha de ser aceito; era isso que tornava seus compatriotas fáceis de manipular.
O que deixava o primeiro-ministro mais amargurado era que realmente acreditara que fosse possível mudar a situação. Seu verdadeiro plano, que não revelara a ninguém, era introduzir mudanças radicais no país. Na época, não lhe parecera um sonho impossível. Ao denunciar e esmagar a corrupção oficial, pretendia mostrar ao povo que os líderes não mereciam a importância que atribuíam a si próprios, que os cidadãos comuns tinham dignidade, decência e inteligência suficientes para escolher seu caminho na vida e um governo que estivesse mais atento a suas necessidades.
Você realmente acreditou que fosse possível, disse a si próprio, olhando para o telefone. Os sonhos e o idealismo da juventude custavam a morrer... Na verdade, seus ideais não haviam mudado. Agora, porém, sabia que para executar as reformas era preciso assegurar a estabilidade econômica, e para assegurar a estabilidade era necessário recorrer ao antigo sistema, e o antigo sistema era corrupto. A verdadeira ironia estava no fato de que assumira o cargo graças às falhas do velho sistema, mas precisava restaurá-lo para poder acabar com ele de uma vez por todas. Era isso que custara a entender. O velho sistema pressionara os americanos, colhendo benefícios para o Japão que nem os Dragões Negros teriam sonhado, e quando os Estados Unidos reagiram, em alguns casos justamente e em outros com exagero e espírito de vingança, estavam criadas as condições para sua subida ao poder.
Entretanto, os eleitores que tornaram possível sua vitória esperavam que a situação do país melhorasse rapidamente, e para isso não poderia fazer concessões aos americanos que agravassem as dificuldades econômicas do país. Assim, tentara dar com uma das mãos e tirar com a outra, mas agora percebia que era uma tarefa impossível. Nenhum homem tinha essa habilidade.
Os inimigos sabiam disso. Sabiam disso há três anos, quando vencera as eleições, e esperaram pacientemente que fracassasse. As medidas adotadas pelos americanos tinham apenas apressado o desenlace.
Seria possível remediar a situação? Podia pegar o telefone, ligar para Roger Durling e fazer um apelo pessoal para que vetasse a nova lei em troca de certas garantias. Entretanto, isso não daria certo. Recuar àquela altura implicaria uma enorme perda de prestígio para o presidente americano. Além disso, ele dificilmente acreditaria em suas boas intenções. As relações entre os dois países estavam tão envenenadas por uma geração de negociações tortuosas que os americanos não tinham razões para supor que cumpriria o prometido. A bem da verdade, nem ele mesmo podia ter certeza. Sua coalizão parlamentar provavelmente não sobreviveria às concessões que seria obrigado a fazer, porque havia empregos em jogo, e com a taxa de desemprego atingindo a cifra recorde de mais de 5%, não tinha cacife político para fazê-la aumentar ainda mais. Assim, como não poderia sobreviver aos efeitos políticos de uma negociação, algo ainda pior estava para ocorrer, que também levaria ao fim de sua carreira política. Na verdade, só dispunha de duas opções: suicidar-se politicamente ou deixar que alguém o liquidasse. O que era pior? Não sabia.
O que sabia era que não estava com vontade de ligar para o presidente americano. Seria uma tentativa inútil, como na verdade tinha sido toda a sua vida pública. O livro já estava escrito. Era melhor que outra pessoa se encarregasse do último capítulo.
11
PESADELO
A Lei de Reforma do Comércio já era apoiada por mais de duzentos congressistas dos dois partidos. A passagem pela comissão tinha sido extremamente rápida, especialmente porque poucos políticos tinham coragem de atacar o projeto de lei. Uma grande firma de relações públicas de Washington rescindira seu contrato com um conglomerado japonês e distribuíra um comunicado à imprensa anunciando o fim de uma relação que durara quatorze anos. A combinação do acidente de Oak Ridge com a crítica que Al Trent fizera a um lobista veterano estava tornando difícil a vida para os representantes de interesses estrangeiros que circulavam nos corredores do Congresso. Os lobistas se sentiam impotentes. Foram unânimes em advertir aos patrões que a lei simplesmente não podia deixar de ser aprovada, que era impossível até mesmo incluir emendas que a enfraquecessem e que a única atitude sensata no momento era ser paciente e esperar que as coisas esfriassem. Mais tarde, talvez pudessem conseguir novamente o apoio dos amigos no Congresso, mas aquele não era o momento.
Não era o momento? A definição cínica de um bom político era a mesma no Japão e nos Estados Unidos: um servidor público que, uma vez comprado, permanecia comprado. Os empresários pensaram em todo o dinheiro que haviam investido em fundos de campanha, em jantares de mil dólares por prato, onde serviam comida medíocre comprada pelos empregados americanos das suas empresas multinacionais, em visitas a campos de golfe, em viagens de cortesia ao Japão e outros países, em contatos pessoais... e perceberam que nada disso fazia a menor diferença para os políticos, justamente na ocasião em que mais precisavam deles. Nesse aspecto, os Estados Unidos não eram como o Japão. Os congressistas não se sentiam obrigados a pagar pelos favores recebidos e os lobistas, também muito bem pagos, limitavam-se a dizer que tinha de ser assim. Afinal, para que tinham gasto tanto dinheiro? Ser paciente? Ser paciente estava muito bem quando as perspectivas imediatas eram favoráveis. As circunstâncias tinham permitido que o Japão fosse paciente por quase quarenta anos. No momento, porém, isso era impossível. No dia quatro, quarta-feira, o dia em que a Lei da Reforma do Comércio foi aprovada pela comissão, o Nikkei Dow caiu para 12.841 ienes, cerca de um terço do que valera no passado recente. O pânico começava a se espalhar no país.
— “Flores de ameixa desabrocham, e mulheres bonitas compram xales novos na sala de um bordel.” As palavras podiam ser poéticas em japonês (pertenciam a um famoso haiku) mas não faziam muito sentido em inglês, pensou Clark. Pelo menos para ele, mas o efeito sobre o homem à sua frente foi notável.
— Oleg Yurievich mandou lembranças.
— Faz muito tempo — balbuciou o homem, depois de se recuperar do susto.
— As coisas andaram difíceis no nosso país — explicou Clark, falando com um leve sotaque.
Isamu Kimura era alto funcionário do Ministério de Comércio e Indústria Internacional, ou MCII, a peça central de um empreendimento que fora chamado de “Japão SA.”. Estava acostumado a se encontrar com estrangeiros, especialmente repórteres, e aceitara de imediato o convite de Ivan Sergeyevich Klerk, um moscovita que chegara recentemente ao Japão acompanhado por um fotógrafo que no momento estava ausente, tirando retratos.
— Seu país também está passando por momentos difíceis — acrescentou Klerk, imaginando que tipo de reação um comentário como aquele poderia despertar.
Tinha de ser um pouco duro com o sujeito. Era possível que não gostasse da ideia de ser reativado depois de mais de dois anos sem nenhum contato.
Nesse caso, a política da KGB era deixar claro que uma vez que você entrava para um órgão de espionagem, era para a vida toda. A CIA, naturalmente, adotava uma política semelhante.
— Mais parece um pesadelo — disse Kimura, depois de refletir por alguns segundos e beber um gole de saque.
— Se acha que as coisas aqui estão difíceis, imagine como se sentem os russos. O país em que nasci e cresci simplesmente deixou de existir. Sabe que no momento minha única fonte de renda é o trabalho que faço para a Interfax? — disse Clark, sacudindo a cabeça tristemente antes de esvaziar o copo.
— Seu inglês é excelente.
— Obrigado. Trabalhei muitos anos em Nova York, fazendo a cobertura das Nações Unidas para o Pravda. Entre outras coisas — acrescentou.
— É mesmo? O que sabe da política e da economia americana? — Especializei-me em comércio internacional. A nova situação em que o mundo se encontra torna meus serviços ainda mais necessários, e sua colaboração será inestimável. Pretendemos recompensá-lo regiamente pelo seu trabalho, meu amigo.
Kimura sacudiu a cabeça.
— Não tenho tempo para tratar disso agora. Meu escritório, por razões óbvias, está trabalhando em regime de urgência.
— Compreendo. Este encontro foi apenas para nos conhecermos.
— Ainda não temos uma missão definida para você.
— Como vai Oleg?
— Agora ele está bem e ocupa uma posição confortável, graças ao excelente trabalho que você realizou. [(Referência a acontecimentos relatados no livro A Soma de Todos os Medos, Editora Record, 1993. (N. do T.)] — Não estava mentindo. Lyalin estava vivo, depois de escapar de levar uma bala na cabeça no porão da sede da KGB. Aquele homem era o agente que fornecera a Lyalin a informação que os levara ao México. Clark sentia não poder agradecer-lhe pessoalmente por ter evitado uma guerra nuclear.
— Agora quero que me responda, em minha identidade de repórter: como estão as relações de vocês com os Estados Unidos? Tenho uma reportagem para fazer, você entende.
A resposta o surpreenderia tanto quanto a veemência do tom. Isamu baixou a cabeça e declarou: — Estamos todos à beira da ruína.
— A situação é tão grave assim? — perguntou “Klerk”, surpreso, tirando um caderninho do bolso para tomar notas, como um bom repórter.
— Estamos à beira de uma guerra comercial — afirmou o japonês, como se isso explicasse tudo.
— Uma guerra desse tipo seria prejudicial aos dois países, certo? Clark já ouvira essa afirmação tantas vezes que começava a acreditar nela.
— Estamos repetindo isso há muitos anos, mas não passa de uma mentira.
— E tudo muito simples — acrescentou Kimura, imaginando que aquele russo precisava de uma aula sobre capitalismo, sem saber que era um americano que necessitava dela. — Para sobreviver, precisamos vender nossos produtos manufaturados. Sabe o que significa uma guerra comercial? Que os americanos vão parar de comprar nossos produtos, economizando muito dinheiro. Esse dinheiro será aplicado em suas próprias indústrias, que nós ensinamos, afinal, a ser mais eficientes. Essas indústrias vão crescer e prosperar seguindo nosso exemplo, e ao fazê-lo conseguirão recuperar fatias do mercado internacional que nos pertenceram nos últimos vinte anos. Se perdermos nossa posição no mercado, nunca mais conseguiremos recuperá-la.
Por quê? — perguntou Clark, escrevendo com ar furioso e genuinamente interessado na resposta.
Quando ingressamos no mercado americano, o iene valia apenas um terço do que vale hoje. Isso nos permitiu oferecer preços muito atraentes.
Depois que conquistamos um lugar no mercado americano, nossos produtos tornaram-se conhecidos e, assim, pudemos aumentar os preços sem perder nossa fatia do mercado, chegando a aumentar nossa participação em certos setores, apesar da constante valorização do iene. Conseguir a mesma coisa nos dias de hoje seria muito mais difícil.
Estou impressionado, pensou Clark, por trás de uma máscara de impassibilidade.
Será que vão conseguir substituir todas as coisas que vocês fabricavam para eles? Através de indústrias locais? Todas elas? Provavelmente não, mas isso não será necessário. No ano passado, os automóveis e autopeças representaram 61% de nosso comércio com os Estados Unidos. Os americanos sabem fazer carros... o que não sabiam, ensinamos a eles — afirmou Kimura, inclinando-se para a frente. — Em outros setores, o de máquinas fotográficas por exemplo, as fábricas hoje em dia estão em Cingapura, na Coreia, na Malásia. O mesmo acontece com os produtos eletrônicos. Klerk-san, a maioria ainda não se deu conta do que realmente está acontecendo.
Os Estados Unidos podem realmente causar tanto prejuízo ao Japão? Será possível? Que droga, pensou Clark, acho que ele está certo.
— E possível. Meu país não se encontrava em situação tão delicada desde 1941.
A afirmação saiu sem querer, mas Kimura percebeu que estava correta no momento em que escapou dos seus lábios.
— Não posso mandar isso para o jornal. E uma declaração muito alarmista.
Kimura olhou para ele.
— Não estava pensando nos jornais. Sei que a KGB tem contato com os americanos. Eles não querem nos dar ouvidos; talvez escutem vocês. Estão nos colocando contra a parede. Os zaibatsu chegaram às raias do desespero.
As coisas estão acontecendo muito depressa. Como o seu país reagiria a um bloqueio comercial? Clark se recostou no assento, inclinando a cabeça e semicerrando os olhos, como um russo faria. O primeiro contato com Kimura seria apenas para reconhecimento, mas se transformara subitamente em uma fonte de importantes informações. Embora não estivesse preparado para essa possibilidade, decidiu deixar o outro falar. O japonês parecia saber o que estava dizendo. Além disso, tratava-se aparentemente de um servidor público honesto e dedicado, e embora isso fosse de certa forma patético, era assim que funcionava a espionagem.
— Eles fizeram isso conosco, na década de 1980. A intensificação da corrida armamentista, o plano insano de instalar sistemas de defesa no espaço, o jogo político armado pelo presidente Reagan... sabia que quando eu estava trabalhando em Nova York participei do Projeto RYAN? Pensávamos que ele estivesse se preparando para nos atacar. Passei um ano procurando os planos de ataque. — O coronel I. S. Klerk, do Serviço de Informações Externas da Rússia assumira totalmente a falsa identidade, falando como um russo, calmamente, tranquilamente, de forma quase didática. — Mas estávamos preocupados com a guerra errada... não, eles não pretendiam nos atacar com armas. A verdade estava na nossa frente, mas não conseguimos vê-la a tempo. Eles nos forçaram a gastar cada vez mais, até que fomos à falência. O marechal Ogarkov foi insistente, exigindo cada vez mais da economia para não ficarmos para trás em relação aos americanos, mas não havia como mantermos o ritmo. Para responder concisamente à sua pergunta, Isamu, tínhamos apenas duas opções: a rendição ou a guerra. Não queríamos a guerra... e por isso aqui estou, no Japão, representando um novo país.
A declaração seguinte de Kimura foi tão assustadora quanto era verdadeira: — Vocês tinham menos a perder. É isso que os americanos não entendem — concluiu, antes de levantar-se, deixando dinheiro suficiente na mesa para pagar a conta. Sabia que para um russo uma refeição em Tóquio custava uma verdadeira fortuna.
Minha nossa, pensou Clark, olhando o homem afastar-se. O encontro tinha sido às claras, não exigia manobras de despistamento. Isso queria dizer que podia levantar-se e ir embora. Entretanto, continuou onde estava. Isamu Kimura ocupava uma posição privilegiada, pensou consigo mesmo o agente da CIA, bebendo o último gole de saque. Havia apenas um escalão de funcionários de carreira acima dele, e depois vinha um indivíduo indicado pelos políticos, que na verdade não passava de um porta-voz dos burocratas.
Como um subsecretário de Estado, Kimura tinha acesso a tudo. Demonstrara isso uma vez, ajudando-os no México, onde John e Ding tinham prendido Ismael Qati e Ibrahim Ghosn. Os Estados Unidos tinham uma dívida de honra com aquele homem. Além disso, ele constituía uma fonte inestimável de informações. A CIA podia acreditar em quase tudo que dissesse. Kimura não tivera oportunidade de planejar o que dizer naquele encontro. Seus pensamentos e temores tinham de ser sinceros, e Clark compreendeu que precisava voltar para Langley o mais depressa possível.
O fato de Goto se revelar um homem fraco não foi nenhuma surpresa para quem o conhecia. Embora isso fosse péssimo para a liderança política do país, vinha de encontro aos interesses de Yamata.
— Não vou assumir o cargo de primeiro-ministro do meu país — anunciou Hiroshi Goto, como se estivesse em um palco — para me tornar o executor de sua ruína econômica.
A linguagem que usava era a do teatro Kabuki, estilizada e poética. Goto era um homem culto, pensou o empresário. Havia muitos anos que estudava a história e as artes. Como muitos políticos, dava mais valor às aparências do que à substância; como muitos homens fracos, achava necessário demonstrar em grande estilo seu poder e prestígio pessoal. Era por isso que gostava de receber os amigos na companhia de Kimberly Norton. A moça estava aprendendo aos poucos a desempenhar o papel de amante de um homem famoso. Permanecia em silêncio, tornando a encher os cálices de saque e as xícaras de chá e esperando pacientemente que Yamata-san se retirasse para ir para a cama com o político. Este certamente acreditava que com isso despertaria a admiração do convidado. Era um tolo, pensando com os testículos em lugar do cérebro. Não tinha importância. Yamata seria seu cérebro.
— É exatamente o que nos espera — concordou Yamata. Seus olhos se voltaram para a jovem, em parte por curiosidade, em parte para que Goto pensasse que estava com inveja. A moça permaneceu impassível. Seria tão estúpida quanto diziam? Pelo menos, tinha sido muito fácil atraí-la para o Japão.
Era uma atividade lucrativa para os Yakuza, da qual participavam alguns dos seus colegas. Arranjara as coisas para que Goto a conhecesse. Yamata não se considerava um cáften; simplesmente providenciara para que a pessoa certa fizesse uma sugestão ao político. Tinha sido um golpe hábil, embora as fraquezas pessoais de Goto fossem muito conhecidas. Qual era mesmo aquele eufemismo americano? “Conduzido pelo nariz”? O que Yamata fizera podia ser descrito perfeitamente pela expressão. Era um caso raro em que os gaijin tinham conseguido transmitir uma ideia melhor do que os japoneses.
— O que podemos fazer? — perguntou o líder da oposição.
— Temos duas opções.
Yamata interrompeu o que estava dizendo e olhou de novo para a jovem, como se sua presença o incomodasse. Afinal, estavam discutindo um assunto muito delicado. Entretanto, Goto limitou-se a acariciar seus cabelos louros e sorrir. Pelo menos, o político não havia providenciado para que estivesse despida, pensou Yamata, como fizera havia algumas semanas.
Yamata estava familiarizado com seios, até mesmo grandes seios ocidentais, e não era como se o zaibatsu desconhecesse o que Goto fazia com ela.
— Ela não entende uma palavra do que estamos dizendo — explicou o político, rindo.
Kimba-chan sorriu, e a expressão deixou Yamata intrigado. Estaria ela apenas imitando educadamente a atitude do mestre ou haveria mais alguma coisa? Que idade tinha a moça? Vinte e poucos anos, provavelmente, mas não sabia avaliar muito bem a idade dos estrangeiros. De repente, lembrou-se de mais uma coisa. Seu país costumava providenciar companhia feminina para dignitários estrangeiros, como Yamata fazia com os homens de negócios. Era uma prática que remontava a tempos imemoriais e tinha dois objetivos: facilitar as negociações — um homem bem atendido por uma cortesã experiente tende a ser mais condescendente — e explorar o fato de que muitos indivíduos afrouxam suas línguas juntamente com os cintos. O que Goto havia contado àquela jovem? A quem ela poderia estar repassando essas informações? De repente, Yamata achou que a ideia de arranjar aquele encontro não tinha sido tão boa assim.
— Por favor, Hiroshi, atenda-me desta vez — insistiu Yamata, delicadamente.
— Oh, está bem. — O político acrescentou em inglês: — Kimba-chan, agora meu amigo e eu precisamos conversar em particular.
A jovem obedeceu imediatamente, mas sem disfarçar sua contrariedade.
Isso queria dizer que estava treinada para não reagir ou treinada para se fingir de inocente? O fato de se retirar da sala fazia alguma diferença? Goto não lhe contaria tudo mais tarde? Até que ponto estava à mercê dos seus encantos? Yamata não sabia, e não saber, naquele momento crítico, podia ser uma coisa perigosa.
— Adoro trepar com americanas — observou Goto, grosseiramente, depois que a jovem se afastou. Apesar de toda a sua cultura, este era um assunto a respeito do qual só sabia falar em termos chulos. Era uma grande fraqueza, e como tal um motivo de preocupação para o empresário.
— Fico contente em ouvir isso, meu amigo, porque oportunidades não hão de lhe faltar no futuro — observou Yamata, fazendo algumas anotações mentais.
Uma hora depois, Chet Nomuri levantou os olhos da máquina de pachinko para observar a saída de Yamata. Como de costume, estava acompanhado pelo motorista e outro homem, de aparência muito mais sisuda, que só podia ser um guarda-costas. Nomuri não sabia seu nome, mas conhecia muito bem o tipo. O zaibatsu disse alguma coisa a ele, um comentário rápido, impossível de ser ouvido a distância. Então os três entraram no carro e foram embora.
Goto apareceu uma hora e meia depois, jovial como sempre. A essa altura, Nomuri saiu da casa de diversões eletrônicas e foi para a esquina. Meia hora mais tarde, a moça saiu. Nomuri começou a caminhar na sua frente, sem pressa, esperando que o alcançasse. Muito bem, pensou, cinco minutos mais tarde. Agora sabia exatamente em que edifício a jovem morava. Ela comprara algo para comer e fora direto para casa. Excelente.
— Bom dia, MP.
Ryan acabava de sair da sua reunião diária com o presidente. Toda manhã, passava trinta ou quarenta minutos examinando os relatório dos vários órgãos de segurança do governo e depois apresentava os resultados na Sala Oval. Naquela manhã dissera ao presidente, mais uma vez, que não havia nada muito sério com que se preocupar.
— SÂNDALO — disse a moça, à guisa de cumprimento.
— O que tem a Operação SÂNDALO? — perguntou Jack, recostando-se no assento.
— Tive uma ideia e coloquei-a em prática.
— Qual foi? — quis saber o conselheiro de Segurança Nacional.
— Dei instruções a Clark e Chávez para reativarem a Operação CARDO, a antiga rede de espionagem de Lyalin no Japão.
Ryan pareceu surpreso.
— Está me dizendo que ninguém ainda...
— Ele estava fazendo espionagem comercial, e temos uma Ordem Executiva contra isso, lembra-se? Jack teve de se conter para não protestar. A Operação CARDO ajudara os Estados Unidos mais de uma vez, e não através de atos de espionagem comercial.
— Muito bem, o que conseguiu apurar?
— Isto.
A Sra. Foley passou-lhe uma folha com umas quinhentas palavras impressas em espaço um.
— Os japoneses estão em pânico?
— É o que parece. Continue a ler.
Jack pegou uma caneta e começou a mastigá-la.
— Muito bem. O que mais? — O gabinete vai cair a qualquer momento. Enquanto Clark conversava com esse sujeito, Chávez estava conversando com outro. O Departamento de Estado vai ser informado amanhã ou depois, mas parece que somos os primeiros a saber, para variar.
Ao ouvir a nova revelação, Jack inclinou-se para a frente. Não chegava a ser uma novidade. Brett Hanson já o alertara a respeito. O Departamento de Estado era, na verdade, o único órgão do governo que desconfiava da Lei de Reforma do Comércio, embora tivesse mantido as preocupações em família, por assim dizer.
— Mais alguma coisa?
— Sim. Encontramos a garota e parece que é mesmo Kimberly Norton.
— Está envolvida com Goto, e tudo indica que ele será o próximo primeiro-ministro — concluiu, com um sorriso.
— Na verdade, não tinha muita graça, mas tudo dependia do ponto de vista, não é mesmo? Os Estados Unidos agora dispunham de alguma coisa para usar contra Goto, e Goto provavelmente seria o próximo primeiro-mi-nistro. Não era algo para se desprezar...
— Continue falando — pediu Ryan.
— Podemos oferecer à moça uma passagem aérea para casa ou então...
— MP, a resposta é não. — Ryan fechou os olhos. Antes, tentara adotar um ponto de vista isento, mas vira uma fotografia da moça, e embora tentasse continuar isento, a resolução durara apenas até chegar em casa e olhar para os filhos. Talvez aquilo fosse uma fraqueza, sua incapacidade de usar as pessoas para defender os interesses do país. Se fosse, era uma fraqueza aprovada entusiasticamente por sua consciência. Além do mais: — Por que alguém acha que ela se sairia bem no papel de espiã? Pelo amor de Deus, não passa de uma menina confusa que fugiu de casa porque estava tirando notas baixas na escola!
— Jack, meu trabalho é levantar possibilidades, lembra-se? Todos os governos do mundo faziam isso, é claro, até mesmo os Estados Unidos, até mesmo nesses tempos de feminismo. Eram moças de valor, todo mundo dizia, quase sempre muito inteligentes, secretárias do serviço público, muitas delas, que eram recrutadas pelo Serviço Secreto e ganhavam um bom dinheiro servindo ao governo. Ryan não tinha nenhum conhecimento oficial da operação e queria manter as coisas como estavam. Se fosse informado oficialmente e não tomasse nenhuma providência, que tipo de homem seria? Muitas pessoas imaginavam que os altos funcionários do governo eram robôs que faziam o que tinham de fazer pelo país sem nenhum conflito moral, sem nenhum drama de consciência. Talvez tivesse sido assim no passado — talvez ainda fosse possível para alguns — mas o mundo mudara e, afinal, Jack Ryan era filho de um policial.
— Foi você que falou nisso primeiro, lembra-se? A garota é uma cidadã americana que provavelmente precisa da nossa ajuda. Não vamos nos transformar em algo que não somos, certo?
— Certo.
— A primeira coisa que vamos fazer é oferecer à moça uma passagem para casa. Se ela recusar, talvez a gente possa pensar em outras possibilidades.
Ryan leu com mais atenção o curto relatório de Clark. Se tivesse sido escrito por outra pessoa, não o levaria tão a sério, mas conhecia John Clark, dera-se ao trabalho de examinar detidamente sua ficha. Um dia gostaria de ter uma longa conversa com ele.
— Vou ficar com isto. Talvez o presidente esteja interessado em ler o relatório na íntegra.
— De acordo.
— Se receber algo parecido...
— Será imediatamente informado — prometeu Mary Pat Reativar a Operação CARDO foi uma boa ideia.
— Acho que Clark poderia... bem, investigar um pouco mais a fundo.
— Aprovado — concordou Ryan, imediatamente.
O jato particular de Yamata era um velho Gulfstream G-IV. Embora dispusesse de tanques de reserva, normalmente não conseguiria transpor os 10.784 quilômetros que separavam Tóquio de Nova York. Naquele dia era diferente, informou o piloto. O jet stream acima do Pacífico Norte estava soprando a cento e noventa nós e continuaria assim durante várias horas. Isso aumentaria a velocidade do avião para 1.251 quilômetros por hora, reduzindo em duas horas o tempo de voo.
Yamata ficou satisfeito. O tempo era importante. Nada do que tinha em mente estava no papel, de modo que não havia planos para examinar.
Embora estivesse muito cansado, descobriu que seu corpo se tornara incapaz de repousar. Um leitor voraz, não conseguiu se interessar pelo material que conservava a bordo. Estava sozinho; não tinha ninguém com quem conversar. Não havia absolutamente nada para fazer, e isso pareceu muito estranho a Yamata. O G-IV estava voando a doze mil e trezentos metros de altitude, e fazia uma bela manhã. Podia ver a superfície do Pacífico Norte lá embaixo, as ondas se estendendo a perder de vista, algumas com cristas de espuma branca. O mar imortal. Durante quase toda a sua vida, tinha sido um mar americano, dominado pela Marinha americana. Será que o mar sabia disso? Será que sabia que estava para mudar de dono? E já não era sem tempo, murmurou Yamata para si próprio. A mudança começaria logo depois que chegasse a Nova York.
— Aqui é Bud se aproximando, com três mil e seiscentos quilos de combustível — anunciou o comandante Sanchez pelo rádio.
Como comandante do grupo de esquadrilhas do USS John Stennis (CVN-74), seu F/A-18F seria o primeiro a pousar. Curiosamente, embora fosse o aviador mais antigo a bordo, era a primeira vez que pilotava o Hornet; passara toda a carreira no F-14 Tomcat. Além de o novo avião ser mais leve e mais ágil e ter uma autonomia de voo suficiente para fazer mais do que decolar, dar uma volta em torno do porta-aviões e pousar de volta (como tantas vezes lhe parecera), descobriu que gostava da sensação de voar sozinho, depois de tantos anos pilotando uma aeronave de dois lugares.
Acho que desta vez os idiotas da Força Aérea acertaram, para variar...
A sua frente, no grande convés de voo do novo porta-aviões, os tripulantes ajustavam a tensão dos cabos, considerando o peso do caça e a quantidade de combustível que ele informara. Isso tinha de ser feito todas as vezes. E um grande convés de voo, pensou, a meio quilômetro de distância. Para aqueles que estavam no convés, realmente parecia grande, mas para Sanchez parecia mais uma caixinha de fósforos. Procurou afastar a imagem da cabeça enquanto se concentrava nos preparativos para o pouso. O Hornet balançou um pouco por causa do deslocamento de ar causado pela superestrutura do porta-aviões, mas os olhos do piloto estavam fixos na “almôndega”, uma luz vermelha refletida por um espelho, mantendo-a centralizada. Alguns chamavam Sanchez de “Senhor Máquina”, porque de seus seiscentos e tantos pousos em porta-aviões — todos registrados — em menos de cinquenta deixara de pegar o cabo número três, o principal.
Devagar, devagar, repetiu a si próprio, puxando o manche para trás com a mão direita, enquanto usava a esquerda para operar o acelerador, observando a velocidade de descida e... sim. Sentiu o solavanco quando o caça ficou preso no cabo — o número três, tinha certeza — e começou a perder velocidade, embora a impressão fosse de que chegaria ao fim da pista diagonal e cairia no mar. O avião parou, aparentemente a alguns milímetros da borda, embora na verdade houvesse uma margem de segurança de uns trinta metros. Sanchez soltou o gancho, permitindo que o cabo fosse recolhido. Um tripulante acenou para ele, mostrando-lhe para onde ir, e a sofisticada aeronave transformou-se em um veículo de superfície particularmente deselegante no pátio de estacionamento mais caro de todo o planeta.
Cinco minutos mais tarde, depois de desligar as turbinas e com as correntes segurando firmemente o caça no lugar, Sanchez abriu a nacele e desceu pela escada de aço, que um tripulante de camisa castanha colocara no lugar.
— Bem-vindo a bordo, comandante. Algum problema?
— Tudo na mais perfeita ordem.
Sanchez passou-lhe a máscara de voo e dirigiu-se para a ponte. Três minutos depois, estava assistindo aos outros pousos.
Johnnie Reb já era o apelido semioficial do porta-aviões, que fora batizado em homenagem a um senador do Mississipi que cumprira vários mandatos e era um fiel amigo da Marinha. O navio ainda estava com cheiro de novo, pensou Sanchez. Não fazia pouco tempo que deixara o estaleiro de Newport. Depois de uma viagem experimental na Costa Leste, contornara o cabo Horn, dirigindo-se para Pearl Harbor. Seu irmão mais novo, o United States, seria lançado ao mar dali a um ano, e outro porta-aviões encontrava-se em fase inicial de construção. Era bom saber que pelo menos um setor da Marinha ainda estava em atividade... mais ou menos.
As aeronaves do seu grupo chegaram com uns noventa segundos de diferença. Duas esquadrilhas, cada uma composta por doze F-14 Tomcat, e mais duas com um número idêntico de F/A-18 Hornet. Uma esquadrilha de ataque de médio alcance, formada por dez A-6E Intruder, e depois foi a vez dos pássaros especiais de observação: três E-3C Hawkeye, dois C-2, quatro EA-6B... e era tudo, pensou Sanchez, um pouco contrariado.
O Johnnie Reb poderia facilmente acomodar mais vinte aeronaves, mas um grupo de esquadrilhas não era mais o que costumava ser, pensou Sanchez, recordando como os porta-aviões pareciam apertados no passado.
A vantagem era que agora ficara mais fácil manobrar os aviões no convés.
A desvantagem era que o poder de fogo do seu grupo tinha sido reduzido em pelo menos um terço. Pior ainda: a aviação naval, como instituição, estava passando por tempos difíceis. O projeto do Tomcat datava dos anos 60, época em que Sanchez estava entrando no ginásio e imaginando quando poderia dirigir um carro. O Hornet voara pela primeira vez como YF-17, no início da década de 1970.0 Intruder começara a vida na década de 1950, mais ou menos na época em que Bud ganhara sua primeira bicicleta. Não havia um único avião naval nas pranchetas. Por duas vezes a Marinha desprezara a oportunidade de usar a tecnologia dos aviões invisíveis, primeiro se recusando a comprar o projeto do F-l 17 da Força Aérea e depois desistindo do A-l 2 Avenger, que se revelara um avião difícil de ser detectado pelo inimigo mas quase impossível de pilotar. Assim, aquele velho piloto de caça, que passara mais de vinte anos operando a bordo de porta-aviões e em breve seria promovido a oficial superior por merecimento, ao receber o melhor comando de sua carreira, tinha muito menos poder à disposição que os antecessores.
O mesmo se poderia dizer do Enterprise, cinquenta milhas a leste.
Ainda assim, o porta-aviões reinava naquele mar. Mesmo com a capacidade diminuída, o Johnnie Reb tinha mais poder de fogo que os dois porta-aviões indianos juntos, e Sanchez achava que não seria difícil evitar que a Índia se tornasse excessivamente agressiva. Ainda bem que aquele era o único problema que tinham de enfrentar no momento.
— E isso aí — comentou o controlador de voo quando o último EA-6B se enganchou no cabo número dois. — Estão todos de volta. Seus pilotos são excelentes, Bud.
— Praticamos bastante, Todd.
Sanchez levantou-se da cadeira e foi para o camarote, onde pretendia tomar um banho antes de se encontrar primeiro com os comandantes das esquadrilhas e depois com o pessoal de operações para planejar a Operação PARCEIROS NO MAR. Seria um bom exercício, pensou Sanchez. Como passara a maior parte da carreira na Esquadra do Atlântico, seria sua primeira oportunidade de conhecer de perto a Marinha do Japão, e imaginou o que seu avô teria pensado. Henry Gabriel “Mike” Sanchez servira a bordo do USS Wasp em 1942, entrando em combate com os japoneses na campanha de Guadalcanal. Imaginou o que Big Mike teria pensado do exercício que estava para começar.
— Vamos, precisa me dar alguma coisa — pediu o lobista.
Um sinal de como as coisas andavam mal era que os patrões tinham dito a ele que talvez fossem forçados a cortar as despesas em Washington.
Era uma notícia muito desagradável. Não sou só eu, pensou o ex-deputado de Ohio. Tinha um escritório com vinte empregados para cuidar, e eles também eram americanos, não eram? Por isso, escolhera o alvo com cuidado. Aquele senador estava com problemas: um adversário de peso dentro do partido e um oponente pelo menos tão forte na eleição geral.
Precisava de mais dinheiro para a campanha. Isso talvez o fizesse ouvir a voz da razão.
— Roy, sei que estamos trabalhando juntos há mais de dez anos, mas se eu votar contra a LRC, estarei morto, entende? Morto. Debaixo da terra, com uma estaca de madeira enfiada no coração, de volta a Chicago para fazer conferências inexpressivas sobre as operações de governo e vender influência para quem fizer a melhor oferta.
Não quero acabar como você, teve vontade de dizer o senador. Não era preciso; a mensagem tinha sido clara. Deixar o governo não era uma ideia agradável. Depois de quase doze anos no Congresso, o senador gostava de Washington. Gostava dos auxiliares, da vida que levava, da vaga no estacionamento, das passagens de graça para Illinois e de ser tratado como alguém aonde quer que fosse. Já pertencia ao clube “de terça a quinta”, voando para casa toda quinta-feira à noite para um longo fim de semana de discursos nos Elks e Rotarys locais, de reuniões nas associações de pais e alunos, de inaugurações de agências dos correios cujas verbas de construção ajudara a levantar, já ativamente em campanha, trabalhando tão duro como fizera para conseguir aquele emprego em primeiro lugar. Não era agradável ter de passar por tudo aquilo outra vez. Seria ainda menos agradável fazê-lo sabendo de antemão que estava perdendo tempo. Não podia votar contra a LRC. Será que Roy não entendia isso? — Compreendo sua posição, Ernie, mas preciso de alguma coisa — insistiu o lobista. Não era como trabalhar no Congresso. Tinha uma equipe mais ou menos do mesmo tamanho, mas não era paga com o dinheiro dos contribuintes. Era ele que tinha de pagar. — Sempre fui seu amigo, certo? A pergunta não era realmente uma pergunta e sim uma afirmação, que trazia implícitas uma ameaça e uma promessa. Se o Senador Greening não lhe desse alguma coisa, talvez Roy fosse procurar um dos seus adversários.
Ou ambos. Roy, como o senador bem sabia, se sentia à vontade trabalhando dos dois lados de qualquer disputa. Poderia muito bem largar Ernest Greening de mão como uma causa perdida e começar a cortejar seus possíveis sucessores no Senado. Um investimento no futuro, por assim dizer, algo que certamente lhe renderia dividendos a longo prazo, porque os japoneses adoravam pensar a longo prazo. Todo mundo sabia disso. Por outro lado, se o senador lhe desse alguma coisa...
— Escute, simplesmente não posso mudar meu voto — repetiu o senador.
— Que tal apresentar uma emenda? Tenho uma sugestão que talvez...
— Impossível, Roy. As comissões têm toda a pressa do mundo para submeter a lei ao plenário. Neste exato momento, os presidentes estão reunidos para acertar os últimos detalhes. Diga aos seus amigos que desta vez eles se deram mal.
— Mais alguma coisa? — perguntou Roy Newton, sem demonstrar ainda a aflição que estava sentindo. Meu Deus, ter de voltar para Cincinnati, trabalhar de novo em um escritório de advocacia?
— Nada que diga respeito à LRC, mas ouvi dizer que algumas coisas interessantes estão acontecendo por baixo do pano.
— O quê? — perguntou Newton. Só faltava essa, pensou. Mais uma daquelas fofocas. Tinha sido divertido enquanto exercia um dos seus seis mandatos, mas agora...
— Ed Kealty pode vir a sofrer um processo de impeachment.
— Você está brincando! — exclamou o lobista, atônito. — O que aconteceu? Foi pego de novo com o zíper aberto?
— A acusação é estupro — explicou Greening. — Falo sério. Estupro. O FBI está trabalhando há algum tempo no caso. Conhece Dan Murray?
— O protegido de Shaw? O senador fez que sim com a cabeça.
— Esse mesmo. Ele chegou a falar com a Comissão de Justiça da Câmara, mas esse negócio da LRC estourou, e o presidente resolveu colocar o caso em banho-maria. O próprio Kealty ainda não sabe. Pelo menos, não sabia até sexta-feira passada. Por aí você pode ver como eles estão sendo discretos. Acontece que uma das minhas assessoras legislativas está noiva do chefe de gabinete de Sam Fellows e é uma história boa demais para alguém guardar só para si, não é? O velho provérbio de Washington, pensou Newton com uma careta. Se duas pessoas sabem, já não é mais segredo.
— A coisa é séria?
— Ao que parece, Ed Kealty se meteu numa grande encrenca. Murray deixou sua posição muito clara: quer colocá-lo atrás das grades. Há uma morte envolvida.
Lisa Beringer! Se havia uma coisa de que um político precisava, era de uma boa memória para nomes.
— Estou vendo que se lembra do caso — observou Greening, concordando com a cabeça.
Newton quase assoviou, mas, como antigo membro da casa, esperava-se que recebesse notícias como aquela de forma impassível. — Não admira que o presidente tenha mantido a investigação em segredo. A primeira página inteira não seria suficiente...
— Este é o problema. A aprovação da lei não seria prejudicada... bem, provavelmente não... mas para que arriscar? A LRC, a viagem a Moscou... aposto que o caso vai estourar quando ele voltar da Rússia.
— O presidente vai entregar Kealty numa bandeja.
— Roger nunca foi com a cara de Ed. Só o aceitou na chapa por causa da sua experiência no Congresso, lembra-se? O presidente precisava de alguém que conhecesse o sistema. Agora, qual será sua utilidade, mesmo que seja inocentado? Além disso, representaria um peso na campanha pela reeleição. É muito melhor livrar-se dele já, não concorda? Pelo menos, assim que as outras questões estiverem resolvidas.
Isto é interessante, pensou Newton, mantendo-se em silêncio por alguns segundos. Não podemos impedir que a LRC seja aprovada. Por outro lado, o que aconteceria se tirássemos Durling da presidência? Isso nos daria uma nova administração, escolhida às pressas, e se soubermos mexer os pauzinhos, a nova administração...
— Está bem, Ernie, isto é alguma coisa.
12
FORMALIDADES
Tinha de haver discursos. Pior: tinha de haver muitos discursos. Na verdade, era um acontecimento tão importante, que os 435 membros dos 435 distritos eleitorais fizeram questão de passar alguns minutos na frente das câmaras.
Uma deputada da Carolina do Norte convidou Will Snyder, com as mãos ainda enfaixadas, para comparecer à sessão, providenciando para que ocupasse um assento na primeira fila das galerias. Assim, pôde apontar para o caminhoneiro durante o discurso, louvar-lhe a coragem, elogiar os sindicatos americanos pela nobreza dos seus membros e propor que um elogio oficial por aquele ato de heroísmo ficasse registrado nos anais do Congresso.
Em seguida, um deputado do Tennessee prestou uma homenagem à polícia rodoviária do seu estado e aos cientistas do Laboratório Nacional de Oak Ridge; a nova lei implicaria um aumento considerável de recursos, e o laboratório estava interessado em uma fatia do bolo. A Comissão de Orçamento do.
Congresso já começara a calcular a arrecadação adicional de impostos em consequência do aumento da produção de automóveis e os deputados estavam salivando como os cães de Pavlov depois de ouvirem a campainha.
Um deputado de Kentucky assumiu a tribuna para explicar que o Cresta era na verdade um automóvel americano e que o seria ainda mais quando as poucas peças estrangeiras usadas em sua fabricação fossem substituídas por peças produzidas no país (isso já fora decidido, em uma tentativa desesperada mas inútil da empresa de impedir que a lei fosse votada).
Acrescentou que esperava que ninguém culpasse os operários do seu distrito pela tragédia, que, afinal, fora causada por peças não americanas. A fábrica do Cresta em Kentucky, lembrou, era a mais moderna fábrica de automóveis do mundo, um exemplo da forma como os Estados Unidos e o Japão podiam e deviam trabalhar em colaboração! Na verdade, só se dispunha a votar a favor da Lei de Reforma do Comércio porque tinha certeza de que estimularia a cooperação entre os dois países. O discurso merecia nota dez em matéria de ficar em cima do muro, pensaram os colegas.
No final dos pronunciamentos, os repórteres que escreviam para o Roll Cali, a revista responsável pela cobertura das sessões do Congresso, ficaram imaginando se alguém teria coragem de votar contra a LRC.
— Procure entender — disse Roy Newton ao seu maior cliente. — Perdeu esta parada, certo? Nada pode mudar isso. Chame de azar, se quiser, mas a vida está cheia de merda.
Seu modo de falar deixou o outro chocado. Newton fora quase insolente. Não estava se desculpando por não consertar as coisas, como era pago para fazer, como prometera que faria ao ser contratado para fazer lobby para as empresas japonesas. Um empregado não devia falar assim com o patrão, mas os americanos eram diferentes. Recebiam dinheiro para fazer um trabalho e depois...
— Por outro lado, algumas coisas interessantes estão acontecendo; se tiver um pouco de paciência, pode ser que no final tudo se resolva.
— O que quer dizer com isso? — perguntou Binichi Murakami, de mau humor.
Aquela história aborrecera-o tanto que não conseguia esconder sua irritação. Assim era demais. Viajara para Washington na esperança de falar pessoalmente contra a desastrosa lei, mas em vez disso se vira cercado por repórteres cujas perguntas deixavam bem clara a inutilidade da missão.
Graças a essa viagem, estava fora de casa havia várias semanas, apesar dos pedidos insistentes do amigo Kozo Matsuda para que voltasse ao Japão, alegando que tinha um assunto urgente para discutir com ele.
— Estou falando de uma mudança no governo — respondeu Newton, contando rapidamente o que sabia.
— Por causa de um fato tão sem importância? Um dia também vai ser assim no seu país, sabia? Newton não compreendia como os empresários japoneses podiam ignorar uma tendência tão óbvia. Certamente os gerentes de marketing contavam-lhes que uma porcentagem cada vez maior dos automóveis americanos era comprada por mulheres. Isso para não falar dos barbeadores. Que diabo, uma das subsidiárias da empresa de Murakami fazia barbeadores para mulheres! Gastavam fortunas em propaganda dirigida ao público feminino e faziam de conta que os mesmos fatores não estavam em ação no seu próprio país. Tratava-se, pensou Newton, de um autêntico caso de cegueira.
— Este caso pode realmente prejudicar a reeleição de Durling? No momento, a popularidade do presidente estava em alta, por causa da LRC.
— Claro, se for bem explorado. Ele está encobrindo um crime federal, não está? Não, pelo que você disse, apenas pediu que o processo fosse retardado...
— Por razões políticas, Binichi. — Newton não costumava chamar o cliente pelo primeiro nome. Ele não gostava. Peru emproado! Mas pagava muito bem... — Binichi, com investigações criminais não se brinca, especialmente por razões políticas. Especialmente quando se trata de um crime de abuso sexual. E uma peculiaridade do sistema político americano — explicou, com toda a paciência.
— Não podemos nos meter nisso, podemos?
— Para que pensa que está me pagando? Murakami acendeu um cigarro. Era a única pessoa que tinha permissão para fumar naquele escritório.
— O que pretende fazer?
— Preciso de alguns dias para pensar. No momento, o melhor que tem a fazer é voltar para casa. Ficar aqui só serve para complicar as coisas, entende? — Newton fez uma pausa. — Quero que compreenda também que este é o projeto mais complexo que jamais executei. Além de ser muito perigoso — acrescentou o lobista.
Mercenário!, pensou Murakami, sem mudar de expressão. Pelo menos, era eficiente no que fazia.
— Um dos meus amigos está em Nova York. Pretendo visitá-lo e de lá viajar para o Japão.
— Ótimo. Procure não chamar muito a atenção, certo? Murakami levantou-se e foi para a antessala, onde um assistente e um guarda-costas o esperavam. Era um homem imponente, alto para um japonês, com um metro e setenta e sete, cabelos pretos e um rosto jovem para os seus cinquenta e sete anos de idade. Também era um dos empresários japoneses mais bem-sucedidos nas transações com os americanos, o que tornava a situação do momento ainda mais irritante para ele. Durante a última década, vinha comprando mais de cem milhões de dólares de produtos americanos por ano e era um dos que defendiam um maior acesso dos Estados Unidos ao mercado japonês de alimentos. Filho e neto de fazendeiros, não lhe agradava que tantos compatriotas se dedicassem à agricultura. Para ele, a verdadeira vocação do país era a indústria. Os americanos, apesar de toda a sua preguiça, eram muitos mais eficientes nessa área. Pena que não soubessem plantar um jardim decente, que era a outra paixão que Murakami tinha na vida.
O edifício de escritórios fixava na Rua Dezesseis, a poucos quarteirões da Casa Branca; ao sair do prédio, o empresário japonês pôde ver a distância a sede do governo. Não era o Castelo de Osaka, mas irradiava poder.
— Seu japonês filho da puta! Quem dissera essas palavras era um homem branco, de meia-idade, modestamente vestido. Murakami olhou para ele, surpreso demais para se sentir ofendido. O guarda-costas colocou-se rapidamente entre o patrão e o americano.
— Vai receber o que merece, seu sacana! — exclamou o homem, afastando-se.
— Espere! Que mal eu fiz a você? — perguntou Murakami, instintivamente.
Se conhecesse melhor os Estados Unidos, o empresário talvez tivesse percebido que se tratava de um dos vagabundos de Washington, e, como tal, um homem com sérios problemas, no caso um alcoólatra que perdera o emprego e a família para a bebida e cujo único contato com a realidade provinha de conversas desconexas com outros vagabundos. Essas conversas só serviam para aumentar o ressentimento que sentia em relação à sociedade em geral. Seu copo de plástico estava cheio de cerveja barata, mas ao se lembrar de que um dia trabalhara na fábrica da Chrysler, em Newark, Delaware, achou que não precisava tanto da cerveja como de mostrar sua indignação por ter perdido o emprego. Assim, esquecendo as razões que tinham levado a sua demissão, voltou-se, jogou o conteúdo do copo nos três japoneses e foi embora, sentindo-se tão orgulhoso do que fizera que nem se importou por ficar sem a bebida.
O guarda-costas fez menção de persegui-lo. No Japão, não hesitaria em dar uma surra no bakayaro. A polícia seria chamada, e o idiota iria para a cadeia. Entretanto, o guarda-costas sabia que não estava em casa e se conteve, olhando em torno para verificar se aquilo tinha sido um estratagema para distrair sua atenção de um ataque mais sério. Viu o patrão ali parado, o rosto contraído em uma expressão de susto que aos poucos se transformou em um esgar de raiva, o elegante terno inglês pingando cerveja.
Sem dizer uma palavra, Murakami entrou no carro que o levaria ao Aeroporto Nacional de Washington. O guarda-costas, igualmente humilhado, sentou-se no banco do carona.
Um homem que conquistara tudo na vida através do trabalho, que nascera em uma pequena fazenda no interior do Japão e que estudara com muito afinco para conseguir uma vaga na Universidade de Tóquio, que começara de baixo e conseguira chegar até o topo, Murakami podia ter suas críticas ao sistema americano, mas sempre se considerara um participante isento e objetivo das discussões comerciais. Como tantas vezes acontece na vida, porém, foi um incidente irrelevante que o fez mudar de ideia.
Eles são uns bárbaros, murmurou para si próprio, entrando no jato que o levaria a Nova York.
— O primeiro-ministro vai cair — estava dizendo Ryan ao presidente mais ou menos na mesma hora, a alguns quarteirões de distância.
— Tem certeza?
— É quase certo — respondeu Jack, sentando-se. — Temos uma dupla de agentes trabalhando lá em outro assunto, e é isso que todos na rua estão dizendo.
O Departamento de Estado ainda não me informou de nada — protestou Durling, com ar inocente.
— Presidente, confie em mim. Sabe que isto pode ter graves implicações. A coalizão que apoia Koga é formada por seis diferentes facções, e não é preciso muita coisa para que ela se desintegre.
Como no seu caso, Jack teve vontade de dizer.
— Está certo. E daí? — perguntou Durling, que acabara de receber a notícia de que sua popularidade continuava em alta.
— Daí que o nome mais cotado para substituí-lo é o de Hiroshi Goto. Ele não gosta muito de nós. Jamais gostou.
— Goto pode falar grosso, mas na única vez em que nos encontramos comportou-se como um autêntico fanfarrão — observou o presidente. — Fraco, vaidoso, sem substância.
— Ele é mais do que isso — afirmou Ryan, colocando o presidente a par de um dos desdobramentos da Operação SÂNDALO.
Em outras circunstâncias, Roger Durling teria sorrido, mas Ed Kealty estava ali, a menos de trinta metros de distância.
— Jack, será que é tão difícil assim um cara não passar a mulher para trás?
— No meu caso, é muito fácil — respondeu Jack. — Sou casado com uma médica, lembra-se? O presidente deu uma risada e depois ficou sério de novo.
— É uma coisa que podemos usar contra o filho da puta, não é?
— Sim, senhor.
Ryan não precisou acrescentar que uma revelação como aquela, depois do acidente de Oak Ridge, poderia desencadear uma verdadeira indignação popular.
— O que vamos fazer com a garota? — perguntou Durling.
— Clark e Chávez...
— Os agentes que pegaram Corp, certo?
— Sim, senhor. Estão no Japão. Quero que se encontrem com a garota e lhe ofereçam uma passagem de avião para casa.
— Pretende interrogá-la quando chegar? Ryan fez que sim com a cabeça.
— Sim, senhor.
Durling sorriu.
— Gostei. Bom trabalho.
— Presidente, estamos conseguindo o que queremos, talvez até mais do que esperávamos — advertiu Jack. — O general chinês Sun Tzu escreveu uma vez que é preciso sempre deixar uma saída para o adversário...
— No curso 101, ensinam-nos a matar o maior número possível de soldados inimigos. — O presidente sorriu. Estava satisfeito ao ver que Ryan já se sentia suficientemente seguro para lhe dar conselhos não solicitados. — Isto está fora do seu campo, Jack. Não se trata de uma questão de segurança nacional.
— Sim, senhor. Eu sei. Escute, trabalhei como analista de investimentos até poucos meses atrás. Conheço alguma coisa de comércio internacional.
Durling concordou com a cabeça.
— Está bem, vá em frente.
— Não queremos que Koga seja derrubado, presidente. E muito mais fácil lidar com ele do que com Goto. Quem sabe uma declaração discreta do embaixador, insinuando que a LRC confere ao senhor autoridade para agir, mas que...
— Mas que não pretendo fazê-lo? — interrompeu Durling. Sacudiu a cabeça. — Sabe que não posso fazer isso. Deixaria Al Trent na mão. Daria a impressão de que traí os sindicatos, e isso eu também não posso fazer.
— Então pretende mesmo implementar a LRC?
— Pretendo. Mesmo que seja apenas por poucos meses, mas pretendo. Quero assustar os filhos da puta, Jack. Para que haja um comércio justo entre Estados Unidos e Japão, é preciso que nos levem a sério. Vai ser duro para eles, mas daqui a alguns meses terão de ceder, e então relaxaremos nossas leis e chegaremos a um ponto de equilíbrio que seja aceitável para ambos.
— Quer realmente ouvir minha opinião?
— Você é pago para isso. Acha que estamos forçando demais a barra?
— Isso mesmo. Não queremos que Koga seja derrubado, mas para salvá-lo teremos de lhe oferecer uma saída. Se pretende negociar com o Japão, é melhor que seja com a pessoa certa.
Durling apontou para um relatório sobre sua mesa.
— Brett Hanson acha a mesma coisa, mas não está tão preocupado com o futuro de Koga quanto você.
— Amanhã ele vai estar — prometeu Ryan.
— Não se pode nem andar na rua! — rosnou Murakami.
Yamata reservara um andar inteiro do Plaza Athenée para ele e sua equipe. Os empresários estavam sozinhos em uma sala de estar, em mangas de camisa, com uma garrafa de uísque sobre a mesa.
— Sempre foi assim, Binichi — observou Yamata. — Lá, nós é que somos os gaijin. Você sempre se esquece disso.
— Sabe quantos negócios faço com eles, quanto compro deles? — perguntou Murakami. Ainda sentia o cheiro da cerveja. Empapara sua camisa, mas estava zangado demais para trocar de roupa. Era como se fosse uma lembrança da lição que aprendera algumas horas antes.
— E eu? — perguntou Yamata. — Nos últimos anos, apliquei seis bilhões de ienes em uma empresa de importação e exportação. Agora terei sorte se conseguir recuperar o que investi.
— Eles não podem fazer isso conosco.
— Sua confiança nos americanos é comovente — observou Yamata. — Quando a economia do nosso país desmoronar, acha que eles vão deixar que eu conserve minhas propriedades na América? Em 1941, congelaram todos os bens dos japoneses.
— Não estamos em 1941.
— Não, não estamos, Murakami-san. Hoje a situação é muito pior. Naquele tempo não tínhamos tanto a perder.
— Por favor — disse Chávez, bebendo o último gole de cerveja. — Em 1941, meu avô estava lutando contra os fascistas nos arredores de São Petersburgo...
— Leningrado, garoto! — protestou Clark, que estava sentado ao seu lado. — Esses jovens de hoje não têm o menor respeito pelo passado — explicou aos dois anfitriões.
Um deles era chefe de relações públicas da Mitsubishi e o outro diretor da divisão de aeronaves da mesma empresa.
— É verdade — concordou Seigo Ishii. — Sabe que minha família ajudou a projetar os caças da nossa Marinha? Cheguei a conhecer Saburo Sakai e Minoru Genda.
Ding abriu mais uma rodada de bebida e serviu a todos como um fiel escudeiro do seu mestre, Ivan Sergeyevich Klerk. A cerveja estava muito boa, provavelmente porque os anfitriões tinham escolhido a marca, pensou Chávez, observando o mestre trabalhar.
— Reconheço esses nomes — afirmou Clark. — Foram grandes guerreiros, mas lutaram contra meu país.
— Cinquenta anos se passaram — observou o relações-públicas. — Naquela época seu país era diferente.
— É verdade, amigos, é verdade — admitiu Clark, deixando a cabeça pender um pouco para o lado.
Chávez achou que estava exagerando em sua imitação de bêbado.
— É a primeira vez que visita o Japão, certo?
— Certo.
— Quais foram suas primeiras impressões? — quis saber Ishii.
— Adorei a poesia de vocês. É muito diferente da nossa. Sabe que eu poderia escrever um livro a respeito de Pushkin? Talvez um dia o faça, mas há alguns anos ouvi falar da poesia japonesa. Nossa poesia se propõe transmitir uma série de pensamentos, às vezes a contar uma história completa, mas a de vocês é muito mais sutil e delicada, como... como posso explicar? Como um instantâneo, talvez? Conheço uma que talvez vocês possam me explicar. Posso ver a imagem, mas não compreendo seu significado. Como é mesmo? — perguntou-se Clark, com voz pastosa. — Ah, sim: “Flores de ameixa desabrocham, e mulheres bonitas compram xales novos na sala de um bordel.” O que isso quer dizer? — perguntou ao relações-públicas.
Ding estava encarregado do contato visual com Ishii. Foi divertido, de certa forma. Confusão, a princípio. Quase pôde ouvir os olhos se arregalarem quando as palavras da senha penetraram no seu cérebro como a estocada mortal de um florete. Os olhos de Sasaki se voltaram para Clark, mas ele percebeu que era Ding que estava mantendo contato visual. Isso mesmo. Você está de volta à ativa, companheiro.
— O segredo está no contraste — explicou o relações-públicas. — Temos a imagem agradável de jovens atraentes fazendo alguma coisa... alguma coisa feminina, a palavra está certa? Então, no fim, você descobre que elas são prostitutas e a sala é uma...
— ...prisão — completou Ishii, subitamente sóbrio. — Estão sendo forçadas a fazer algo que não desejam. De repente, a imagem não é tão agradável quanto parecia.
— Ah, sim — concordou Clark com um sorriso. — Isto faz muito sentido. Obrigado — concluiu, agradecendo com uma mesura a importante lição.
Clark sabe ser sutil, pensou Chávez. A vida de um espião podia ter seus momentos. Ding estava quase com pena de Ishii, mas se o idiota já traíra seu país uma vez, não havia razão para derramar lágrimas por ele. A CIA tinha um provérbio simples, embora cruel: uma vez traidor, sempre traidor.
O provérbio equivalente do FBI era ainda mais contundente, o que era estranho, já que em geral os homens do FBI eram mais bem-educados: Uma vez filho da puta, sempre filho da puta.
— Isso é possível? — perguntou Murakami.
— Possível? É brincadeira de criança.
— Estou preocupado com os efeitos... A ideia de Yamata era interessante, mas...
— Os efeitos são fáceis de entender. A economia deles não terá condições de instalar as indústrias de que necessitam para substituir nossos produtos. Os consumidores, recuperados do choque inicial e necessitando de produtos que as empresas locais são incapazes de fabricar, voltarão a comprar de nós.
Se Binichi estava pensando que iria ouvir a história completa, isso era problema dele.
— Não concordo. Acho que está subestimando a revolta dos americanos com este lamentável incidente. Precisa também considerar a dimensão política...
— Koga não fica no poder. Isso está decidido — interrompeu Yamata, friamente.
— Goto? — perguntou Murakami.
Não era propriamente uma pergunta. O empresário conhecia muito bem o cenário político do país.
— Naturalmente.
Um gesto de irritação.
— Goto é um idiota. Pensa com a cabeça do pênis. Não confiaria nele nem para administrar a fazenda do meu pai.
— Poderia dizer o mesmo de todos eles. Quem realmente governa nosso país? O que mais podemos exigir de um primeiro-ministro, Binichi? — perguntou Raizo, rindo.
— Eles também têm um tipo assim no governo — observou Murakami, servindo-se de mais uma dose generosa de Chivas e imaginando aonde Yamara queria chegar. — Não conheço o homem pessoalmente, mas parece que não presta.
— Quem?
— Kealty, o vice-presidente. E o presidente, apesar da reputação de honestidade, está ajudando a encobrir o crime.
Yamata recostou-se no assento.
— Não compreendo.
Murakami contou-lhe o que sabia. Embora fosse um homem cauteloso e frequentemente magnânimo no trato com os estrangeiros, Yamata considerava-o como um igual, e embora discordassem em muitas questões, tinham um profundo repeito um pelo outro.
— Isto é interessante. O que seus homens pretendem fazer com esta informação?
— Ainda estão pensando no assunto — respondeu Binichi, levantando significativamente as sobrancelhas.
— Confia nos americanos em uma situação como esta? Os melhores deles são ronin, e sabe como são os piores... — Yamata-san fez uma pausa e levou alguns segundos para digerir o que acabara de ouvir. — Meu amigo, se os americanos podem derrubar Koga...
Murakami baixou a cabeça por um momento. O cheiro de cerveja estava mais forte do que nunca. Como aquele desconhecido tinha sido insolente! Na verdade, como o presidente tinha sido insolente! Podia mutilar um país inteiro com sua vaidade e sua falsa revolta. Revolta contra o quê? Um acidente? A empresa não assumira toda a responsabilidade? Não prometera cuidar dos sobreviventes?
— O que está propondo é muito perigoso, meu amigo.
— Mais perigoso ainda seria não fazer nada.
Murakami ficou pensativo por um momento.
— O que quer que eu faça? — Se puder conseguir para mim todos os detalhes a respeito de Kealty e Durling, ficarei muito agradecido.
Não foram necessários mais do que alguns minutos. Murakami deu um telefonema, e as informações foram enviadas para o fax da suíte de Yamata. Talvez Raizo conseguisse fazer bom uso delas, pensou. Uma hora mais tarde, foi de carro até o Aeroporto Internacional Kennedy, onde tomou um avião da JAL para Tóquio.
O outro jato particular de Yamata também era um G-IV. Tinha muito trabalho pela frente. O primeiro voo foi para Nova Delhi. Permaneceu no solo apenas duas horas antes de decolar e tomar o rumo leste.
— Parece uma mudança de curso — observou o chefe de operações. — A princípio, pensamos que fosse apenas um exercício aéreo mais elaborado, mas todos os aviões já decolaram e...
O almirante Dubro concordou com a cabeça depois de examinar o monitor Link-11 do Centro de Informações de Combate do porta-aviões.
Os dados estavam sendo transmitidos de uma aeronave de observação E-2C Hawkeye. A formação circular movia-se para o sul com uma velocidade de dezoito nós. Os porta-aviões contavam com uma escolta de contratorpedeiros e cruzadores armados com mísseis e eram precedidos por uma barreira de contratorpedeiros. Todos os aparelhos de radar estavam ligados, o que era uma novidade. Os navios indianos estavam ao mesmo tempo anunciando sua presença e criando uma “bolha” pela qual ninguém poderia passar sem seu conhecimento.
— Será que estão à nossa procura? — perguntou o almirante.
— Pelo menos, vão nos confinar a uma área de operações. Podemos estar a sudeste deles ou a sudoeste, mas se continuarem no presente curso, em breve teremos de nos decidir, almirante.
Talvez estivessem simplesmente cansados de ser vigiados, pensou Dubro. Era compreensível. Dispunham de uma esquadra respeitável, guarnecida por tripulantes que tinham de estar bem treinados depois de tantos exercícios. Os navios haviam sido reabastecidos recentemente, de modo que podiam contar com combustível suficiente para... para o quê? O que diz a inteligência? Não sabemos o que pretendem — respondeu o comandante Harrison. — Os anfíbios continuam no porto. Não temos nada a respeito daquela brigada que estava preocupando o J-2. O tempo tem estado muito ruim para os satélites de observação.
— Esses caras da inteligência estão ficando cada vez mais relaxados — resmungou Dubro.
A CIA dependia tanto dos satélites que fazia de conta que as câmaras eram capazes de enxergar do outro lado das nuvens. Deviam investir em observações de superfície... será que ele era o único que compreendia isso? O monitor pertencia a um novo sistema, instalado no ano anterior.
Muito mais sofisticado que os anteriores, exibia com detalhes, em um mapa horizontal, os acidentes geográficos e as posições atualizadas dos navios e aeronaves. O único problema era que mostrava apenas os dados conhecidos, e eles não eram suficientes para que Dubro tomasse uma decisão.
— Eles vêm mantendo pelo menos quatro aeronaves no ar durante as últimas oito horas, esquadrinhando o sul. Pelo raio de operação, calculo que estejam levando mísseis ar-ar e tanques auxiliares para aumentar a autonomia de voo. Parece uma operação de reconhecimento. Os Harrier dispõem do novo radar Black Fox de visada vertical, que foi detectado pelo nosso Hummer. Estão investigando o mais longe que é possível, almirante. Com sua permissão, gostaria de deslocar o Hummer uns cento e cinquenta quilômetros mais para o sul e implantar um silêncio parcial — concluiu Harrison, querendo dizer que o avião de reconhecimento manteria o transmissor de radar ligado apenas parte do tempo e rastrearia o progresso da esquadra indiana de forma passiva, através de suas próprias transmissões de radar.
— Negativo — disse o almirante Dubro, sacudindo a cabeça. — Vamos nos fazer de tolos e complacentes, por enquanto.
Voltou-se para verificar a situação das suas aeronaves. Dispunha de um poder de fogo mais do que suficiente para enfrentar o inimigo, mas a questão não era essa. Não estava ali para derrotar a Marinha da Índia em uma batalha aeronaval e sim para dissuadi-la de fazer qualquer coisa que desagradasse aos Estados Unidos. Da mesma forma, os indianos não podiam estar ali para atacar a Marinha dos Estados Unidos... podiam? Não, seria muita loucura. Era até possível que um almirante indiano muito competente e com muita sorte derrotasse um colega americano muito incompetente e extremamente azarado, mas Dubro não estava disposto a permitir que isso acontecesse. Não, deviam apenas estar blefando, como eles próprios. Se pudessem empurrar a esquadra americana para o sul, então... não eram tão tolos, afinal, eram? A questão era como usar os trunfos de que dispunha.
— Estão nos forçando a tomar uma atitude, Ed. Pelo menos, tentando fazê-lo. — Dubro se inclinou para a frente, apoiando uma das mãos no mapa e apontando com a outra. — Provavelmente pensam que estamos a sudeste. Nesse caso, deslocando-se para o sul podem nos bloquear melhor, e acham que vamos recuar para nos mantermos fora do alcance dos aviões. Por outro lado, se suspeitam de que nos encontramos aqui, podem conseguir a mesma coisa, ou nos deixar a opção de nos dirigirmos para noroeste a fim de cobrir o golfo de Mannar. Isso, porém, significa que ficaremos ao alcance das aeronaves baseadas em terra, com a esquadra indiana ao sul e apenas uma saída a oeste. Nada mau como tática operacional — reconheceu o comandante do grupo de combate. — O comandante do grupo ainda é Chandraskatta?
O chefe de operações fez que sim com a cabeça.
— Sim, senhor. Está de volta, depois de passar algum tempo em terra. Os ingleses têm a ficha do homem. Dizem que não é nada bobo.
Concordo com a opinião dos ingleses. Que tipo de informação supõe que eles tenham a nosso respeito? Harrison deu de ombros.
— Sabem há quanto tempo estamos no mar. Devem calcular que nossas forças estão desgastadas.
O chefe de operações estava se referindo tanto aos homens quanto aos equipamentos. Todos os navios da Força-Tarefa já estavam enfrentando problemas de manutenção. Eles levavam peças de reposição, mas estas também tinham que ser repostas. Os equipamentos estavam sujeitos à maresia, ao movimento constante, ao impacto do vento e das ondas; não podiam durar para sempre. Também era preciso pensar no fator humano.
Os homens e mulheres já estavam ficando cansados, depois de passar tanto tempo no mar. O aumento do número de defeitos contribuía para sobrecarregá-los ainda mais. A expressão da moda entre os militares para aquela combinação de problemas era “falta de liderança”, uma forma elegante de dizer que os oficiais que comandavam os navios às vezes não tinham a menor ideia do que fazer.
— Sabe de uma coisa, Ed? Os russos pelo menos eram previsíveis. — Dubro endireitou o corpo e sentiu saudade da época em que fumava cachimbo. — Muito bem, vamos fazer uma consulta. Diga a Washington que parece que eles vão entrar em ação.
— Finalmente nos encontramos.
— Muito prazer, Sr. Yamata.
Chuck Searls, o engenheiro de software, sabia que o terno com colete e o cabelo curto tinham surpreendido o empresário. Estendeu a mão e balançou a cabeça no que supunha tratar-se de um cumprimento apropriado.
— Ouvi dizer que é muito competente.
— Bondade sua. Tenho uma certa experiência e talvez alguns modestos talentos — disse Searls, que já lera alguma coisa sobre o Japão.
Você é muito ambicioso, pensou Yamata, mas bem-educado. Uma combinação aceitável. Tudo não passara de um feliz acidente. Comprara um negócio, quatro anos antes, conservara a maioria dos empregados, como costumava fazer, e descobrira que o verdadeiro cérebro da empresa era aquele homem. A posição do americano na firma não mudara, mas seu salário aumentara substancialmente. Então, certo dia, Searls comentara que estava ficando cansado do seu trabalho...
— Está tudo preparado?
— Sim, senhor. A nova versão do programa foi instalada faz alguns meses. Todos adoraram.
— É o...
— Ovo da páscoa, Sr. Yamata. É assim que o chamamos.
Raizo não sabia o que era um ovo da páscoa. Pediu que o outro lhe contasse, mas a explicação deixou-o sem entender.
— Como funciona?
— Depende de duas ações — explicou Searls. — Se as cotações da General Motors e da Merk na memória do computador atingirem os valores que especifiquei, duas vezes e no mesmo minuto, o ovo será chocado, mas apenas se for sexta-feira, como o senhor pediu, e apenas se o período de cinco minutos estiver dentro de um certo intervalo.
— Então a coisa pode ser acionada acidentalmente? — perguntou Yamata, preocupado.
— Teoricamente, sim, mas as cotações que escolhi não são típicas, e a probabilidade de que todos os fatores necessários ocorram simultaneamente é de cerca de uma em trinta milhões. Foi por isso que escolhi esta forma de chocar o ovo. Fiz uma simulação do mercado em computador e...
Outro problema dos mercenários era que estavam sempre querendo mostrar como eram brilhantes. Embora neste caso fosse provavelmente verdade, Yamata teve de se controlar para ouvir a dissertação até o fim, como as boas maneiras exigiam.
— Já cuidou de todos os preparativos pessoais?
Searls fez que sim com a cabeça. O voo até Miami. A viagem para Antigua, passando por Dominica e Granada, todos os voos com nomes diferentes e pagos com diferentes cartões de crédito. Estava com um novo passaporte e uma nova identidade. Levaria um dia inteiro para chegar à ilha do Caribe, onde o dinheiro estaria à espera, e não pretendia sair de lá tão cedo.
Por seu lado, Yamata não estava interessado no que Searls pretendia fazer da vida. Se fosse um filme policial, teria mandado matá-lo, mas não valia a pena correr o risco. Havia sempre a possibilidade de o engenheiro ter colocado mais de um ovo no ninho. Além disso, tinha de pensar na sua honra. Afinal, estava fazendo tudo aquilo por uma questão de honra.
— O segundo terço dos fundos será transferido pela manhã. Quando isso acontecer, sugiro que comece a executar seus planos.
Eram todos ronin, pensou Yamata, mas alguns podiam ser leais, à sua maneira.
— Está aberta a votação — disse o presidente da Casa, depois que Al Trent concluiu seu discurso.
No canal C-SPAN, as vozes dos deputados foram substituídas por música clássica, o Concerto Italiano de Bach. Cada deputado tinha um cartão de plástico; era como se estivessem usando um caixa automático de banco. Os votos eram contados pelo computador e mostrados na TV para o mundo inteiro. Eram necessários duzentos e dezoito votos para que a lei LRC fosse aprovada. Esse número foi atingido em apenas dez minutos. Seguiu-se uma série de votos de “sim” quando alguns deputados chegaram apressadamente ao plenário, vindo de reuniões de comissões ou de encontros com eleitores, registraram seus votos e voltaram ao que estavam fazendo.
Al Trent permaneceu o tempo todo no plenário, a maior parte do tempo conversando animadamente com um membro da liderança da minoria, seu amigo Sam Fellows. Era interessante como pareciam concordar em quase tudo, pensaram ambos. Não podiam ser mais diferentes: um homossexual liberal da Nova Inglaterra e um conservador mórmon do Arizona.
— Isso vai ensinar uma lição àqueles filhos da puta — observou Al.
— Você conseguiu aprovar essa lei em tempo recorde — concordou Sam.
Os dois imaginavam qual seria o efeito a longo prazo sobre a taxa de desemprego nos seus distritos eleitorais.
Menos satisfeitos estavam os funcionários da embaixada do Japão, que comunicaram o resultado ao ministro do Exterior no momento em que a música parou e o presidente anunciou: — A Lei 12.313, a Lei de Reforma do Comércio, está aprovada.
A lei iria em seguida para o Senado, mas isso não passaria de formalidade. Os únicos que talvez votassem contra ela eram os que estavam mais distantes da reeleição. O ministro do Exterior recebeu a notícia em Tóquio às nove horas da manhã e informou ao primeiro-ministro Koga.
Este já escrevera a carta de renúncia. Outro homem teria chorado ao ver seus sonhos ruírem por terra, mas não o primeiro-ministro. Na verdade, tivera mais prestígio na oposição do que no governo. Olhando pela janela para o jardim banhado pelo sol da manhã, pensou consigo mesmo que estava deixando o cargo em boa hora.
Goto que descasque o abacaxi.
— Sabe de uma coisa? Alguns dos melhores instrumentos que usamos em Wilmer são japoneses — observou Cathy Ryan, durante o jantar.
Agora que a lei estava praticamente aprovada, sentia-se à vontade para comentá-la.
— É mesmo?
— O laser semicondutor para operar cataratas, por exemplo. Eles compraram a firma americana que o inventou. Os engenheiros japoneses também são muito bons em termos de assistência técnica. Raro é o mês em que não nos mandam uma versão atualizada do software.
— Onde fica a sede da empresa?
— Na Califórnia.
— Então é um produto americano, Cathy.
— Mas nem todos os componentes são — observou a mulher.
— Escute, a lei prevê que poderão ser abertas exceções para produtos considerados...
— É o governo que vai fazer as regras, certo?
— Certo — admitiu Jack. — Espere um momento. Você não estava comentando outro dia que os médicos japoneses...
— Eu não os considero incompetentes. Precisam apenas de um pouco mais de criatividade. Como o nosso governo também precisa — acrescentou.
— Eu disse ao presidente que não era uma boa ideia. Ele me garantiu que a lei vai ser aplicada apenas durante alguns meses.
— Só acredito vendo.
13
VENTOS E MARÉS
— Nunca vi nada parecido.
— Seu governo fabricou milhares deles! — protestou o diretor de relações públicas.
— É verdade — concordou Klerk —, mas as fábricas não estavam abertas nem ao público nem aos jornalistas soviéticos.
Chávez se encarregara das fotos, e com grande estardalhaço, observou John Clark com um sorriso, dançando em volta dos operários, agachando-se com a Nikon comprimida contra o rosto, trocando os rolos com frequência e no processo tirando algumas centenas de fotos da linha de produção de mísseis. Eram carcaças de mísseis SS-19, sem dúvida alguma. Clark conhecia as especificações; as fotos que vira em Langley não deixavam margem a dúvidas. Também permitiram que percebesse algumas mudanças. Tudo que a União Soviética construía para uso militar tinha de ser camuflado; até os mísseis instalados no fundo dos silos de concreto eram pintados com a mesma tinta verde cor de sopa de ervilha que eles gostavam de usar nos tanques. Ali, não. Não havia nenhuma lógica em gastar combustível para lançar no espaço alguns quilos de tinta; por isso, as carcaças desses mísseis era da cor prateada do aço. As juntas e conexões pareciam mais bem acabadas do que seria de esperar em um produto da tecnologia soviética.
— Vocês mudaram o projeto original, não é mesmo?
— É verdade. — O relações-públicas sorriu. — O projeto básico era excelente. Nossos engenheiros ficaram muito bem impressionados, mas nossos padrões são diferentes e usamos materiais de melhor qualidade. O senhor é muito observador. Não faz muito tempo, um engenheiro americano da NASA fez o mesmo comentário. — O homem fez uma pausa. — A propósito: de que região da Rússia é o nome Klerk?
— Não é um nome russo — afirmou Clark, continuando a tomar notas. Meu avô era inglês. Um comunista inglês. O nome dele era Clark. Na década de 1920, mudou-se para a Rússia para participar da nova experiência. Clark deu um sorriso amarelo. — Deve estar se sentindo decepcionado, onde quer que esteja.
— E seu colega?
— Chekov? Ele é da Crimeia. O sangue tártaro é impossível de esconder, não acha? Então, quantos desses vocês pretendem construir? Chávez estava equilibrado na carcaça de um míssil, no final da linha de montagem. Alguns operários olharam para ele com irritação, o que lhe assegurou que estava representando bem o papel de jornalista intrometido.
O trabalho era simples. O pátio de montagem da fábrica era muito bem iluminado, para facilitar o trabalho dos operários, e embora estivesse usando um fotômetro como parte do espetáculo, o microprocessador embutido na câmara indicava que a iluminação era mais do que suficiente.
A Nikon F-20 era uma câmara muito sofisticada. Ding trocou o rolo de filme. Estava usando filme colorido ASA 64 para diapositivos (marca Fuji, naturalmente) porque tinha uma melhor saturação cromática, o que quer que isso significasse.
Finalmente, Clark apertou a mão do relações-públicas e todos se encaminharam para a saída. Chávez/Chekov soltou a lente do corpo da câmara e guardou-a na sacola. Depois de alguns sorrisos e mesuras, entraram no carro e foram embora. Ding ligou o CD player e colocou o volume bem alto. Isso dificultaria a conversa, mas John gostava de seguir as regras, e estava certo. Não era impossível que alguém tivesse colocado uma escuta no carro de aluguel. Chávez inclinou a cabeça para a direita para não ter de gritar.
— John, é sempre tão fácil assim? Clark teve vontade de rir, mas continuou sério. Algumas horas antes, reativara outro membro da Operação CARDO, que insistira para que ele e Ding visitassem a fábrica de mísseis.
— Sabe de uma coisa? Estive várias vezes na Rússia em uma época em que você precisava de mais do que um passaporte e um cartão do American Express.
— Fazendo o quê?
— Quase sempre ajudando pessoas a fugir. Vez por outra, recuperando aparelhos de escuta. Um trabalho difícil e perigoso. — Clark sacudiu a cabeça. A mulher era a única que sabia que ele pintava o cabelo, só um pouquinho, porque não gostava do grisalho nas têmporas. — Teríamos pago uma fortuna para nos deixarem entrar em... Plesetsk, acho eu, era lá que fabricavam essas belezinhas.
— Eles estavam mesmo interessados em que a gente conhecesse este lugar.
— É mesmo — concordou Clark.
— O que faço com as fotos? John quase o aconselhou a jogá-las fora, mas mudou de ideia. Para manter o disfarce, tinha de escrever uma reportagem e enviá-la à Interfax.
Imaginou se alguém a publicaria. Não seria engraçado? pensou, balançando a cabeça. Tudo que estavam fazendo, realmente, era matar o tempo, esperando pela oportunidade de se encontrarem com Kimberly Norton.
— Decidiu enviar as fotos e uma cópia da reportagem pela mala diplomática.
Seria uma forma de Ding mostrar serviço... e ele também, admitiu Clark.
— Baixe esse maldito volume! — exclamou, antes de mudar para russo.
Precisavam praticar.
— Sinto falta dos invernos da minha terra natal — observou Chekov.
— Eu, não — afirmou Klerk. — Onde aprendeu a gostar dessa detestável música americana? — perguntou.
— Na Voz da América — respondeu o rapaz, rindo.
— Yevgeniy Pavlovich, você não tem respeito pelos mais velhos. Meus ouvidos não aguentam esse barulho. Não tem mais nada para tocar? Qualquer coisa seria melhor do que isso, pensou o técnico, enquanto ajustava os fones de ouvido e sacudia a cabeça para afastar o ruído gaijin. O pior era que seu próprio filho gostava daquele lixo.
Apesar de todos os desmentidos das últimas semanas, a verdade estava finalmente ali para todos verem. Os grandes e deselegantes navios de transporte de automóveis ancorados nos vários portos eram testemunhas silenciosas em todos os noticiários da TV japonesa. As empresas de automóveis japonesas possuíam um total de cento e dezenove navios, sem contar as embarcações de outras bandeiras que haviam arrendado e que agora estavam navegando de volta para casa. Navios que jamais ficavam parados por um tempo maior do que o necessário para carregar e descarregar agora ocupavam espaço nos terminais de carga. De nada adiantaria carregá-los e despachá-los; os que já se encontravam nos portos americanos levariam várias semanas para ser descarregados. As tripulações aproveitavam o tempo para fazer trabalhos de manutenção, mas sabiam que quando terminassem essas tarefas não teriam mais nada para fazer.
O efeito multiplicou-se bem rápido. Não adiantava fabricar automóveis que não podiam ser embarcados; simplesmente não havia espaço suficiente para guardá-los. Quando os grandes pátios de estacionamento dos portos e das fábricas ficaram lotados, não houve mais jeito. As câmaras de TV mostraram quando o supervisor da linha de montagem da Nissan apertou um botão, fazendo com que campainhas soassem em toda a fábrica. Normalmente empregado apenas em emergências, o botão desta vez tinha sido usado para parar a fábrica. Desde o início da linha de montagem, onde os chassis eram colocados na esteira rolante, até o final, onde um carro azul-marinho esperava, com a porta aberta, que um motorista chegasse para tirá-lo do prédio, os operários ficaram parados, olhando uns para os outros. Alguns meses antes, não teriam imaginado que alguma coisa semelhante pudesse acontecer. A realidade para eles era chegar no trabalho, executar tarefas, apertar parafusos, testar peças, muito raramente encontrar defeitos, e repetir esses processos por um número exaustivo mas bem remunerado de horas; aquele momento foi como se o mundo tivesse parado de girar. Até certo ponto, já esperavam aquele desenlace, graças às notícias do jornal e da TV, dos boatos que percorriam a linha de montagem mais depressa do que os carros, dos comunicados da administração. Apesar disso, pareciam em estado de choque, como se tivessem levado um soco no rosto.
Na bolsa de valores, os operadores estavam usando pequenos receptores de televisão, um novo modelo produzido pela Sony que lembrava um telefone celular. Eles viram o supervisor apertar o botão, viram os operários interromper as atividades. Pior ainda, viram sua expressão de perplexidade.
Sabiam que era apenas o começo. Com as montadoras paradas, as fábricas de autopeças deixariam de funcionar. As siderúrgicas teriam de cortar drasticamente a produção. As empresas de produtos eletrônicos perderiam duplamente, no mercado interno e no mercado de exportação. O Japão não podia viver sem o comércio exterior, e os Estados Unidos eram seu principal parceiro comercial, responsável por cento e setenta bilhões de dólares de importações, mais do que toda a Ásia, mais do que toda a Europa. O Japão importava uns noventa bilhões em produtos americanos, mas o saldo de mais de setenta bilhões de dólares era dinheiro de que a economia precisava para funcionar, dinheiro que a economia interna acostumara-se a usar.
Para os operários que apareceram na TV, o mundo apenas havia parado de girar. Para os corretores, o mundo provavelmente chegara ao fim; sua expressão não era de perplexidade, mas de desespero. O período de silêncio não durou mais do que trinta segundos. O mundo inteiro observara a mesma cena na televisão com a mesma fascinação mórbida, acompanhada por uma certa incredulidade. Então os telefones começaram de novo a tocar. Foram atendidos por mãos trêmulas. O Nikkei Dow caiu de novo naquele dia, fechando a 6.540 ienes, um quinto do que valera alguns anos antes.
A mesma gravação foi mostrada com destaque nos noticiários de todas as redes americanas; em Detroit, os trabalhadores que tinham visto suas fábricas serem fechadas lembraram-se do que tinham sentido na ocasião.
Embora sua simpatia fosse temperada pela promessa de readmissão, não era difícil para eles imaginar o que os operários japoneses estavam passando.
Tinha sido muito mais fácil sentir raiva deles quando estavam trabalhando e roubando empregos dos americanos. Agora, também estavam sendo vitimados por forças que poucos conseguiam compreender.
A reação na Wall Street surpreendeu os leigos. Apesar de todas as vantagens teóricas que oferecia à economia americana, a Lei de Reforma do Comércio era um problema a curto prazo. Um número muito grande de empresas americanas dependia, em maior ou menor grau, de produtos japoneses; embora esses produtos pudessem eventualmente ser produzidos em solo americano, ninguém sabia ao certo por quanto tempo as disposições da LRC permaneceriam em vigor. Se a lei tinha vindo para ficar, então fazia sentido investir na substituição de importações. Como ter certeza, porém, de que o governo não a estava usando simplesmente como um artifício para abrir o mercado japonês e que uma vez que o Japão se mostrasse mais flexível ela deixaria de ser aplicada? Nesse caso, outras empresas, especializadas em produtos de exportação, seria uma opção melhor de investimento. O segredo estava em identificar empresas que estivessem em posição de fazer as duas coisas, porque uma escolha errada poderia resultar em enormes prejuízos, especialmente depois da alta inicial da bolsa. Era inevitável que o dólar se valorizasse em relação ao iene, mas os analistas de mercado observaram que os bancos estrangeiros tinham agido de forma agressiva e com rapidez, comprando obrigações do governo americano, pagando por elas em ienes e apostando em uma rápida escalada que lhes permitisse lucrar a curto prazo.
A incerteza provocou uma queda nas cotações das empresas americanas, o que surpreendeu muita gente que tinha dinheiro aplicado na “Street”. A maioria possuía cotas de fundos de ações, porque para os pequenos investidores era difícil, senão impossível, administrar uma carteira de ações.
Era muito mais seguro deixar que “profissionais” cuidassem das aplicações.
O resultado era que havia muito mais fundos de investimentos do que ações diferentes negociadas na bolsa de Nova York, e eram todos gerenciados por técnicos cuja missão era compreender o que acontecia no mais traiçoeiro e imprevisível mercado do planeta.
A queda inicial foi apenas de cinquenta pontos. O mercado estabilizou-se quando as três grandes montadoras anunciaram ser autossuficientes para manter ou mesmo aumentar a produção interna de automóveis. Apesar disso, os analistas das grandes corretoras coçaram a cabeça e discutiram o assunto durante o café. Tem alguma ideia de como lidar com esta situação? O único motivo pelo qual apenas metade das pessoas fazia essa pergunta era que a outra metade estava encarregada de escutar, sacudir a cabeça e responder: Acho que não.
Na sede do Federal Reserve Bank, em Washington, as perguntas eram outras, mas as respostas igualmente difíceis. O fantasma da inflação ainda não tinha sido totalmente afastado, e a situação criada com a promulgação da LRC poderia complicar as coisas. O problema mais imediato era o de que haveria (ou melhor, observou um dos diretores, já havia) mais poder aquisitivo do que produtos para comprar. A consequência provável era um surto inflacionário, e embora a valorização do dólar em relação ao iene fosse inevitável, as perspectivas eram de que o dólar se desvalorizasse em relação às outras moedas fortes. Era preciso evitar que isso acontecesse; assim, decidiram aumentar de imediato a taxa de juros em mais um quarto de ponto percentual, no fechamento do pregão. O mercado ficaria um pouco confuso, mas não tinha importância, porque o Fed sabia o que estava fazendo.
A única notícia boa foi o aumento súbito nas compras de obrigações do Tesouro. Só podiam ser os bancos japoneses, tentando proteger-se.
Todos concordaram que se tratava de uma medida muito sensata. Seu respeito pelos colegas japoneses era sincero e não fora afetado pelas dificuldades do momento, que, todos esperavam, logo seriam superadas.
— Todos de acordo? — perguntou Yamata.
— Não podemos parar agora — declarou um banqueiro.
Poderia ter acrescentado que se encontravam à beira de um abismo tão grande, que era impossível ver o fundo. Não era preciso. Ele e os colegas estavam todos na mesma situação; quando olhavam para baixo, não viam a mesa laqueada em torno da qual estavam reunidos, mas um buraco negro.
Os outros fizeram que sim com a cabeça. Depois de longo silêncio, Matsuda tomou a palavra: — Como permitimos que isso acontecesse? — Era inevitável, meus amigos — afirmou Yamata-san, com um toque de tristeza na voz. — Nosso país é como... como uma cidade sem campo, como um braço forte sem um coração para alimentá-lo com sangue. Há muitos anos que enganamos a nós mesmos, dizendo que esta situação é normal. Ela não tem nada de normal. Só nos restam duas opções: mudar as coisas ou perecer.
— Estamos embarcando em uma grande aventura.
— Hai — concordou Yamata, controlando-se para não sorrir.
Ainda não amanhecera; partiriam com a maré. Os preparativos continuavam sem muito alarde. Algumas famílias tinham comparecido às docas, na maioria dos casos para se despedir dos tripulantes depois de uma última noite passada em terra.
Os nomes eram tradicionais, como acontecia em quase todas as marinhas do mundo (ou pelo menos nas suficientemente antigas para ter alguma tradição). Os novos contratorpedeiros da classe Aegis, como o Kongo e seus irmãos, tinham nomes que antes eram reservados aos encouraçados, quase todos antigas designações de regiões do país que os construíra. Aquilo era novidade. Anteriormente, os japoneses tinham adotado o que aos olhos dos ocidentais podia parecer uma estranha forma de batizar navios de guerra, mas que estava de acordo com as tradições do país: a maioria dos nomes das belonaves tinha significados poéticos. Além disso, eram agrupados por classe. Os contratorpedeiros eram batizados com nomes terminados em -kaze, que significavam um tipo de vento; Hatukaze, por exemplo, queria dizer “Brisa Matutina”. Os nomes dos submarinos terminavam em -ushio, que queria dizer “maré”.
Quase todos os navios tinham linhas elegantes e todos eram mantidos imaculadamente limpos. Um por um, ligaram os motores turbinados e deixaram o cais. Os capitães e navegadores observaram os cargueiros que estavam se acumulando na baía de Tóquio, mas, o que quer que estivessem carregando no momento constituía simplesmente um risco para a navegação. Nos conveses inferiores, os marinheiros que não estavam envolvidos nas operações de partida começaram a guardar seus pertences nos armários. Os aparelhos de radar estavam ligados. Isso na verdade não era necessário, já que a visibilidade era excelente, mas constituía um bom treinamento para as guarnições dos Centros de Informações de Combate. Por ordem dos oficiais de sistemas de combate, os troncos de dados que seriam usados para trocar informações táticas com os outros navios da frota começaram a ser testados. Nas salas de controle dos motores, os “guimbas” (um termo depreciativo, do tempo em que as casas de máquinas eram muito sujas) observavam as telas dos computadores sentados em confortáveis cadeiras giratórias, bebendo chá.
A nau capitânia era o contratorpedeiro Mutsu, um dos mais novos. O porto pesqueiro de Tateyame estava à vista; era a última cidade pela qual passariam antes de guinar para bombordo e tomar o rumo leste.
Os submarinos tinham partido na frente, pensou o contra-almirante Yusuo Sato, mas os comandantes estavam instruídos sobre o que fazer. Sua família tinha uma longa tradição militar; melhor ainda, uma longa tradição na Marinha. O pai comandara um contratorpedeiro sob as ordens de Raizo Tanaka, um dos maiores estrategistas navais de todos os tempos, e o tio tinha sido uma das “águias selvagens” de Yamamoto, um piloto de porta-aviões morto em combate na batalha de Santa Cruz. A geração seguinte mantivera a tradição. O irmão de Yusuo, Torajiro Sato, pilotara caças F-86 para a Força de Autodefesa Aérea, pedira baixa em sinal de protesto contra a falta de apoio do governo à aviação militar e agora era comandante da Japan Air Lines. Seu filho, Shiro, seguira as pegadas do pai e era major da força aérea, pilotando jatos de caça havia vários anos. Nada mau, pensou o almirante Sato, para uma família sem antepassados samurais. O outro irmão de Yusuo era banqueiro. Sato sabia exatamente qual seria seu papel na operação que estava começando.
O almirante levantou-se, abriu a escotilha da ponte do Mutsu e passou para a ala de boreste. Os marinheiros levaram alguns segundos para cumprimentá-lo com uma reverência e depois continuaram a tomar visadas do litoral para atualizar a posição do navio. Sato olhou na direção da popa e observou que os dezesseis navios da coluna estavam quase perfeitamente alinhados, mantendo uma distância uniforme de quinhentos metros, iluminados pelos raios amarelo-rosados do sol nascente em direção ao qual navegavam. Era um bom presságio, pensou o almirante. Nos mastros de todos os navios adejava a mesma bandeira sob a qual seu pai servira. Depois de ter sido negada às belonaves japonesas durante muitos anos, agora estava de volta, exibindo orgulhosamente um sol vermelho em fundo branco.
— Detalhe especial para o mar, dispensado — anunciou o comandante, pelo alto-falante.
O porto de onde haviam partido já desaparecera no horizonte, e em breve o mesmo aconteceria com o litoral.
Dezesseis navios, pensou Sato. A maior força naval reunida pelo país nos últimos... cinquenta anos? Nenhuma das belonaves tinha mais de dez anos de idade, navios modernos com nomes antigos, tradicionais. Entretanto, o nome que mais gostaria de ter com ele naquela manhã, Kurushio, “Maré Negra”, o do contratorpedeiro do pai, que pusera a pique um cruzador americano na batalha de Tassafaronga, infelizmente pertencia a um submarino. O almirante baixou os binóculos e deu um muxoxo. Maré Negra. Um nome perfeito para um navio de guerra. Pena que tivesse sido desperdiçado com um submarino.
O Kurushio e seus irmãos tinham partido trinta e seis horas antes. O primeiro de uma nova classe, estava navegando a quinze nós em direção ao local do exercício, impulsionado pelos poderosos e eficientes motores diesel, que no momento sugavam ar da superfície com o auxílio de um respiradouro na torre central. A tripulação de dez oficiais e sessenta marujos estava em regime de meia prontidão. Um oficial de quarto e seu assistente guarneciam a sala de controle. Um oficial de engenharia estava no seu posto, acompanhado por vinte e quatro marinheiros. Toda a equipe dos torpedos trabalhava a meia-nau, executando testes eletrônicos nos quatorze torpedos tipo 89 modelo C e nos seis mísseis Harpoon. Os outros tripulantes não tinham nada para fazer no momento. O comandante, Tamaki Ugaki, era conhecido como um perfeccionista; embora os tripulantes trabalhassem duro, sentiam-se felizes porque o submarino estava sempre em perfeitas condições. No momento, o comandante estava trancado na cabina, e a tripulação mal tomava conhecimento de que se encontrava a bordo; os únicos sinais de sua presença eram uma réstia de luz na parte inferior da porta e a fumaça de cigarro que saía pelo exaustor. Devia estar ocupado, pensaram os marinheiros, planejando a estratégia que usaria para enfrentar os submarinos americanos durante o exercício. Tinham-se saído bem da última vez, conseguindo três vitórias imediatas em dez encontros. Era um excelente resultado. Com exceção de Ugaki, os homens contavam piadas enquanto almoçavam. Ele pensava como um verdadeiro samurai e não admitiria que nenhum comandante de submarino o sobrepujasse.
Durante o primeiro mês no cargo, Ryan fizera questão de passar um dia por semana no Pentágono. Explicara aos jornalistas que seu escritório, afinal, não era uma prisão. O fato não chegara a se transformar em notícia, como provavelmente teria ocorrido alguns anos antes. O próprio título de conselheiro de Segurança Nacional, como todos sabiam, era coisa do passado. Embora os repórteres considerassem Ryan um homem bem preparado para ocupar o escritório de esquina da Casa Branca, era tido como um pessoa insossa, que evitava a vida social de Washington como se temesse pegar lepra, chegava para trabalhar todos os dias à mesma hora, executava suas tarefas o mais depressa que as circunstâncias permitiam (na maioria das vezes, felizmente, a jornada de trabalho não levava mais do que dez horas) e voltava para a família como se fosse uma pessoa normal. Seu passado na CIA era meio nebuloso, e embora seus atos públicos como cidadão e funcionário do governo fossem bem conhecidos, isso já não empolgava ninguém. Em consequência, Ryan podia andar pela cidade, no banco traseiro do carro oficial, sem que ninguém lhe desse atenção. Tudo que fazia parecia simples rotina, e Jack se esforçava para que as coisas continuassem assim. Os repórteres tendiam a ignorar os cães que não ladravam. Não sabiam o que estavam perdendo.
— Eles estão aprontando alguma — afirmou Robby, assim que Ryan tomou seu lugar na sala de reuniões do Centro Nacional de Comando Militar. O mapa deixava isso bem claro.
— Estão indo para o sul?
— Trezentos quilômetros, pelo menos. O comandante da esquadra é V. K. Chandraskatta, formado pela Real Escola Naval de Dartmouth, terceiro lugar na turma. Há alguns anos, fez o curso de comando em Newport. Foi o primeiro da turma. Tem excelentes ligações políticas — prosseguiu o almirante Jackson. — Tem passado muito tempo longe da esquadra nos últimos tempos, viajando...
— Para onde? — quis saber Ryan.
Supomos que seja para Nova Déli, mas realmente não sabemos. É a velha história, Jack.
Ryan teve de se conter para não suspirar. Era ao mesmo tempo uma velha história e uma história muito nova. Nenhum militar jamais se dava por satisfeito com as informações de que dispunha ou confiava integralmente nessas informações. Naquele caso, porém, a queixa era razoável: a CIA ainda não podia contar com nenhum agente na Índia. Precisava falar de novo com Brett Hanson sobre o embaixador. Os psiquiatras chamavam esse tipo de comportamento de “passivo-agressivo”, isto é, ele não resistia abertamente mas se recusava a cooperar. Era incrível, pensou, que pessoas influentes como Hanson pudessem se comportar como se tivessem cinco anos de idade.
— Alguma correlação entre as viagens e as manobras da esquadra?
— Aparentemente, não — respondeu Robby, sacudindo a cabeça.
— E no rádio? — perguntou Jack, interessado em saber se a Agência de Segurança Nacional tentara escutar as comunicações da esquadra indiana.
— Estamos recebendo alguma coisa através de Alice Springs e Diego Garcia, mas é apenas rotina. Ordens para movimentação dos navios, coisas assim. Nada de importante.
Jack se sentiu tentado a resmungar que os serviços de inteligência nunca lhe forneciam os dados de que necessitava, mas a verdadeira razão era simples: as informações que conseguia obter o ajudavam a se preparar para o futuro, a evitar possíveis problemas. Eram as coisas que passavam despercebidas que geravam as crises, e passavam despercebidas porque havia outras coisas mais importantes para cuidar... até que as coisas pequenas explodissem.
— Nesse caso, estamos limitados a deduzir o que for possível a partir dos movimentos da esquadra indiana.
— Que estão mostrados aqui — afirmou Robby, aproximando-se do mapa.
— Eles navegaram na nossa direção... Obrigando o almirante Dubro a se definir. É uma manobra esperta.
— O oceano é muito grande, mas pode ficar bem menor quando há duas esquadras em ação. O almirante ainda não pediu para atualizarmos as DDC, mas é algo que devemos estar preparados para fazer.
— O que vai acontecer se eles embarcarem aquela brigada nos anfíbios? Um coronel da equipe de Robby se encarregou de responder.
— Senhor, eles já dispõem de tropas em terra, supostamente encarregadas de combater os tâmis. Isso lhes garante uma cabeça de ponte; o resto é questão de tempo. Manter uma formação coesa durante o desembarque é a parte mais difícil de qualquer invasão, mas nesse caso parece que o problema já foi resolvido. A Terceira Brigada de Blindados é uma formação muito robusta. Para resumir: o Sri Lanka não tem a menor chance de retardar e muito menos de rechaçar a invasão. O passo seguinte será capturar alguns campos de pouso e desembarcar de avião o grosso da infantaria. Eles têm um efetivo militar muito grande. Podem destacar cinquenta mil homens para esta operação sem nenhum problema.
“Suponho que a situação possa degenerar em uma guerra de guerrilha — prosseguiu o coronel —, mas nos primeiros meses os indianos praticamente não vão encontrar resistência, e se a marinha deles cercar a ilha, a vitória final será da Índia.
— O mais difícil é a parte política — ponderou Ryan. — As Nações Unidas não vão gostar...
— Esta região do mundo carece de importância estratégica — objetou Robby. — O Sri Lanka não conta com nenhum aliado tradicional, a não ser a própria Índia. Também não tem influência religiosa ou racial, nem recursos naturais que nos interessem.
Ryan continuou o raciocínio: A invasão vai ficar nas manchetes por alguns dias, mas se os indianos forem espertos, acabarão transformando o Ceilão no seu quinquagésimo primeiro estado...
— É mais provável que seja o vigésimo sexto, senhor — corrigiu o coronel.
— Talvez decidam anexá-lo ao Tâmil Nadu, por razões étnicas. Isso pode até ajudar a resolver o problema dos indianos com os tamis. Aposto como já houve algumas sondagens nesse sentido.
— Obrigado — disse Ryan ao coronel, agradecendo-lhe por ter feito o dever de casa. — Acho que a ideia deles é integrar a região ao seu país, com direitos civis e tudo, o que calaria a boca da imprensa internacional. Entretanto, precisam de uma desculpa para entrar no Sri Lanka. Essa desculpa tem de ser uma insurreição dos tamis, que, naturalmente, estão em condições de fomentar.
— Esse será o nosso indicador — concordou Jackson. — Antes que aconteça, precisamos dizer a Mike Dubro o que fazer.
E isso não seria fácil, pensou Ryan, olhando para o mapa. O Grupo Tarefa 77.1 estava se deslocando para sudoeste, mantendo-se a distância da esquadra indiana, mas um pouco a oeste da posição de Dubro havia uma longa série de atóis. No final estava a base americana de Diego Garcia, o que não servia de muito consolo.
O problema com um blefe era que o outro lado poderia pagar para ver e aquele jogo era muito menos aleatório do que o pôquer. O poder de fogo favorecia os americanos, mas apenas se estivessem dispostos a usá-lo. A situação geográfica favorecia à Índia. Na verdade, os Estados Unidos não tinham interesses vitais a defender na região. A esquadra americana estava no oceano Indico principalmente para vigiar o golfo Pérsico, mas a instabilidade política era contagiosa e quando as pessoas ficavam nervosas uma sinergia destrutiva tendia a ocorrer. O proverbial um ponto de cada vez se aplicava perfeitamente àquele caso. Tinham que decidir de uma vez até onde estariam dispostos a blefar.
— A coisa está ficando complicada, não é mesmo, Rob? — perguntou Jack com um sorriso que mostrava mais descontração do que realmente sentia.
— Ajudaria se soubéssemos o que eles estão pensando.
— De acordo, almirante. Vou colocar meu pessoal para trabalhar nisso.
— E as DDC?
— As Diretrizes de Combate permanecem as mesmas, Robby, até que o presidente decida em contrário. Se Dubro achar que está sendo atacado, poderá cuidar de si mesmo. Imagino que disponha de aeronaves armadas no convés.
— No convés, uma ova! No ar, Dr. Ryan.
— Vou pedir a ele para afrouxar um pouquinho a corda — prometeu Jack.
Nesse momento, o telefone tocou. Um jovem oficial dos fuzileiros navais, que tinha sido recentemente promovido a major, atendeu e passou o fone a Ryan.
— Aqui é Ryan. O que foi?
— Senhor, recebemos uma mensagem do Japão — explicou uma voz. — O primeiro-ministro Koga acaba de renunciar. O embaixador acha que Goto vai ser convidado para formar o novo gabinete.
— Isso aconteceu mais depressa do que pensávamos. Peça à seção japonesa do Departamento de Estado para me mandar tudo de que preciso.
— Estarei de volta em menos de duas horas — concluiu Ryan, colocando o fone no gancho.
— Koga já era? — perguntou Jackson.
— Você agora deu para ler pensamentos, Rob? Não, mas sei interpretar o que ouço em conversas telefônicas. Ouvi dizer que nossa popularidade no Japão está caindo bem rápido.
— As coisas estão acontecendo muito depressa.
As fotografias chegaram pela mala diplomática. No passado, a sacola teria sido aberta no porto de entrada, mas naqueles tempos mais tranquilos o velho funcionário do governo entrou no carro oficial no aeroporto Dulles e foi até a sede do FBI sem ser incomodado. Lá, o saco de lona foi esvaziado em local seguro e os vários objetos que continha separados por categoria e prioridade e levados por mensageiros aos locais de destino. O envelope com sete cartuchos de filme foi entregue a um funcionário da CIA, que simplesmente saiu do prédio, entrou no seu carro e partiu em direção à ponte da Rua Quatorze. Quarenta minutos depois, os cartuchos foram abertos em um laboratório fotográfico equipado para processar microfilmes e vários outros sistemas sofisticados mas que também podia realizar trabalhos prosaicos como aquele.
E ninguém gostava de trabalhar com filme “de verdade” (como era comercial, era muito mais fácil de processar e podia ser revelado em equipamentos convencionais) e deixara havia muito tempo de prestar atenção nas imagens, a não ser para se certificar de que o serviço estava bem feito. Naquele caso, a saturação das cores dizia tudo. Filme Fuji, pensou. Quem tivera a coragem de dizer que era melhor do que o Kodak? O filme para transparências foi cortado e os pedaços montados em molduras de papelão idênticas às que os pais usavam para documentar o primeiro encontro do filho com Mickey Mouse, a não ser pela legenda Top Secret. Os diapositivos foram numerados e guardados em uma caixa. A caixa foi colocada em um envelope. Trinta minutos depois, uma secretária chegou para buscá-lo.
A secretária caminhou até o elevador e subiu até o quinto andar do Velho Edifício-sede, agora com quase quarenta anos e aparentando a idade que tinha. Os corredores estavam encardidos e as portas eram de um amarelo desbotado. Ali, também, os poderosos haviam caído, especialmente o Escritório de Pesquisa de Armas Estratégicas. Antes uma das subdivisões mais importantes da CIA, o EPAE no momento mal conseguia sobreviver.
Seus funcionários eram cientistas especializados em foguetes, cuja missão era estudar as especificações de foguetes estrangeiros e tentar avaliar sua capacidade. Isso exigia o desenvolvimento de modelos teóricos e também frequentes viagens a indústrias de mísseis no país, para comparar o que tinham conseguido apurar com o que os fabricantes locais sabiam. Infelizmente, se é que se podia usar o termo, os mísseis ICBM e SLBM, o trivial do EPAE, estavam quase extintos e as fotos nas paredes de quase todas as salas eram quase nostálgicas. Agora, os cientistas que trabalhavam ali tinham de entender principalmente de agentes químicos e biológicos, as armas de destruição em massa das nações mais pobres. Naquele dia, porém, seria diferente.
Chris Scott, trinta e quatro anos, começara a trabalhar no EPAE quando o escritório ainda era importante. Formado pelo Instituto Politécnico Rensselauer, destacara-se ao calcular o desempenho do míssil soviético SS-24 duas semanas antes que um agente roubasse uma cópia do manual desse foguete de combustível sólido, o que lhe valera um tapinha nas costas por parte do então diretor, William Webster. Mas todos os SS-24 tinham sido desmantelados e, de acordo com as notícias daquela manhã, restava apenas um SS-19, como também restava apenas um exemplar do seu equivalente americano, o Minuteman III, em uma base perto de Minot, Dakota do Norte, ambos prestes a ser destruídos. Além disso, Scott não gostava de química; por isso, as transparências vindas do Japão foram uma agradável quebra da rotina.
O engenheiro não tinha pressa. Depois de abrir a caixa, colocou os diapositivos no projetor e observou-os um por um, fazendo anotações.
Quanto terminou, já estava na hora do almoço. Guardou as transparências em uma gaveta e trancou a gaveta à chave antes de se dirigir à lanchonete do térreo. Ali, o assunto do momento eram as derrotas recentes do Washington Redskins e a possibilidade de que o time fosse vendido. As pessoas estavam passando cada vez mais tempo na lanchonete, pensou Scott, e os supervisores pareciam não se importar. O movimento no corredor principal do andar térreo, que dava para o pátio interno, era maior do que nos velhos tempos; as pessoas nunca se cansavam de admirar o pedaço do Muro de Berlim que estava em exposição no local havia muitos anos. Isso se aplicava especialmente aos mais velhos, pensou Scott, que se enquadrava na categoria. Bem, pelo menos ele tinha o que fazer naquele dia.
De volta ao escritório, Chris Scott fechou as cortinas e colocou de novo as transparências no projetor. Poderia ter separado apenas as que considerara mais interessantes, mas estava disposto a realizar um trabalho meticuloso, comparando o que via com o relatório do funcionário da NASA.
— Posso entrar? — perguntou Betsy Fleming, enfiando a cabeça para dentro da sala.
Era uma das funcionárias mais antigas; estava prestes a tornar-se avó. Autodidata nos campos de fotoanálise e engenharia de foguetes, sua experiência remontava à Crise dos Mísseis Cubanos. Embora não tivesse nenhum título formal, sua competência naquele tipo de trabalho era indiscutível.
— Claro.
Scott não se importou com a intromissão. Betsy era também a mãe adotiva de todos os funcionários.
— Nosso velho amigo, o SS-19 — observou, sentando-se. — Puxa, gostei do que fizeram com ele.
— Eu também — concordou Scott, espreguiçando-se para combater a letargia pós-prandial.
O míssil ficara bem melhor sem aquela pintura verde. Agora, com uma carcaça de aço polido, mais leve, mais elegante, parecia realmente o veículo espacial que se propunha a ser.
— A NASA disse que os japoneses economizaram bastante peso usando novos materiais, esse tipo de coisa — observou Scott. — Olhando para ele era difícil de acreditar.
— Uma pena que não tenham feito a mesma coisa com aqueles malditos tanques de gasolina — comentou a Sra. Fleming.
Scott concordou com a cabeça. O rapaz tinha um Cresta e agora a mulher se recusava a sair com ele até que o tanque fosse trocado, o que poderia levar algumas semanas, avisara a concessionária. A revendedora estava na verdade alugando um carro para ele, em um esforço inútil para conquistar a simpatia do público. Isso exigira que arranjasse um novo adesivo para poder entrar no estacionamento da CIA, que teria de arrancar antes de devolver o carro à Avis.
— Sabe quem tirou as fotos? — perguntou Betsy.
— Só sei que foi um dos nossos agentes — respondeu Scott, passando para a transparência seguinte. — Os japoneses fizeram muitas modificações. Algumas parecem quase cosméticas — observou.
— Quanto peso imagina que economizaram? Scott estava certo, pensou a Sra. Fleming. A superfície prateada mostrava as estrias circulares das politrizes...
— Segundo a NASA, mais de cem quilos na carcaça...
Outro clique do controle remoto.
— Pode ser, mas não aqui — comentou Betsy.
— É mesmo. Curioso.
As ogivas ficavam na parte superior do míssil. O SS-19 fora projetado para transportar várias delas. Relativamente pequenas, eram objetos densos e pesados, que tinham de ser sustentados pela estrutura do míssil. Os foguetes intercontinentais aceleravam desde o momento da decolagem até o combustível se esgotar, mas o período de maior aceleração ocorria pouco antes de os motores se apagarem. Nesse ponto, quando a maior parte do combustível já tinha sido queimada, a aceleração chegava a 10g. Ao mesmo tempo, a rigidez estrutural oferecida à carcaça pelo combustível no interior dos tanques era mínima; em consequência, a estrutura que sustentava as ogivas tinha de ser ao mesmo tempo volumosa e robusta, para distribuir uniformemente os esforços muito maiores devido à aceleração.
— Não, eles não mudaram essa parte do míssil, não é mesmo? — concordou Scott, olhando para a colega.
— Por que será? Pretendem usá-lo para lançar satélites...
— Satélites de comunicações, que podem ser bem pesados...
— Está certo, mas veja esta foto...
A base das ogivas tinha de ser muito resistente. A base correspondente para um satélite de comunicações não passava de um fino anel de aço, que geralmente parecia fino demais para o trabalho. Entretanto, o anel que a fotografia mostrava era extremamente robusto. Scott abriu uma gaveta e pegou uma foto recente de um SS-19, tirada por um oficial americano que fazia parte de uma equipe de verificação enviada à Rússia. Passou-a à Sra. Fleming sem comentários.
— Olhe ali. E a estrutura padrão, exatamente como foi projetada pelos russos, talvez com um acabamento melhor. Eles mudaram quase todo o restante, não foi? — perguntou a Sra. Fleming. — Por que não o suporte da ogiva? Também acho estranho. Poderiam ter economizado... quanto? Uns cinquenta quilos, talvez mais.
— Isso não faz sentido, Chris. Devia ser o primeiro lugar para economizar peso. Cada quilo que eles poupam aqui vale quatro ou cinco no primeiro estágio. — Os dois se levantaram e se aproximaram da tela. — Um momento...
— É verdade. Este suporte se destina a ogivas nucleares. É muito diferente do engate de um satélite. Eles não mudaram nada no projeto original — afirmou Scott, balançando a cabeça.
— Será que acharam mais simples projetar um satélite com um engate semelhante ao de uma ogiva nuclear? Mesmo assim, não precisaram de um suporte tão resistente.
— Até parece que pretendem manter a configuração original.
— É o que parece, não é? Gostaria de saber por quê.
14
MEDITAÇÕES
— Trinta segundos — disse o diretor-assistente quando o último comercia começou a ser gravado para o público de domingo de manhã.
Para alívio de Ryan, o programa inteiro fora dedicado à Europa e não somente à Rússia.
— Uma pergunta que não posso fazer no ar— comentou Bob Holtzman, com um sorriso, antes que o programa recomeçasse a ser gravado — é como se sente como conselheiro de Segurança Nacional em um país onde não existem ameaças à segurança nacional.
— Muito à vontade — respondeu Ryan, com um olhar desconfiado para as três câmaras.
Nenhuma das lâmpadas-piloto estava acesa.
— Então, por que trabalha tanto? — perguntou Kris Hunter, em um tom menos agressivo do que sua aparência.
— Se eu não aparecer para trabalhar — mentiu Jack—, talvez descubram que podem passar sem mim.
Más notícias. Eles ainda não sabem a respeito da Índia, mas desconfiam que alguma coisa está acontecendo. Droga. Quanto menos se falasse sobre o assunto, melhor. Era um daqueles casos em que a pressão popular só podia ser prejudicial.
— Quatro! Três! Dois! Um! O diretor-assistente apontou para o entrevistador, um jornalista da TV chamado Edward Johnson.
— Dr. Ryan, o que o governo pensa das mudanças no gabinete japonês? Ao que tudo indica, essas mudanças ocorreram em consequência dos recentes problemas comerciais, o que não é exatamente minha área.
— Em nossa opinião, trata-se de uma questão interna, que os japoneses poderão resolver sem nossa ajuda — afirmou Jack, com uma voz de estadista sério que levara algumas aulas de oratória para aperfeiçoar; seu principal defeito era falar depressa demais.
Kris Hunter inclinou-se para a frente.
— Acontece que o homem mais cotado para assumir o cargo de primeiro-ministro é um velho inimigo dos Estados Unidos.
— Acho que está exagerando — protestou Ryan, com um sorriso bem-humorado.
Seus discursos, seus artigos, seus livros não são exatamente amistosos.
— É verdade — concordou Ryan, com um gesto de desdém e um sorriso sarcástico. — Curiosamente, a principal diferença entre o discurso das nações amigas e o das inimigas é que as primeiras podem se dar ao luxo de ser mais críticas.
Nada mau, Jack...
— Não está preocupado?
— Não — respondeu Jack, sacudindo a cabeça de leve.
Respostas curtas tendiam a intimidar os repórteres, pensou.
— Obrigado pela sua presença no programa de hoje, Dr. Ryan.
O prazer foi meu.
Ryan continuou a sorrir até que as lâmpadas vermelhas das câmaras se apagaram. Contou lentamente até dez. Esperou que os outros repórteres retirassem seus microfones. Tirou o microfone da lapela, levantou-se e saiu do cenário. Bob Holtzman acompanhou-o até o camarim. Os maquiladores tinham saído para tomar café. Ryan pegou um lenço de papel e passou a caixa a Holtzman. Ao lado do espelho havia uma placa de madeira com a inscrição: NADA DO QUE SE DIZ AQUI É OFICIAL.
— Sabe qual a verdadeira razão por trás do movimento de direitos iguais para as mulheres? — perguntou Holtzman. — Não tem nada a ver com salários nem sutiãs.
— Tem razão — concordou Ryan. — Elas não queriam era ser obrigadas a usar maquilagem. Puxa, como detesto esse troço! — acrescentou, removendo o pancake da testa. — Faz com que eu me sinta como uma prostituta barata.
— Não é uma sensação nova para um político, é? — perguntou Kristyn Hunter, pegando um lenço de papel para fazer o mesmo.
Jack riu.
— Não, mas não é educado jogar isso na minha cara.
Agora sou um político?, perguntou-se Ryan. Acho que sim. Como foi que isso aconteceu?
— Por que se esquivou da minha última pergunta, Jack? — perguntou Holtzman.
— Bob, se você sabe que me esquivei, deve entender por quê.
Ryan apontou para a placa na parede, mas depois achou melhor bater nela de leve para ter certeza de que todos tinham entendido o recado.
— O que sei é que quando o último gabinete caiu, fomos nós que divulgamos aquele escândalo de suborno — afirmou Holtzman.
Jack olhou para ele, mas não disse nada. Até mesmo um sem comentários teria sido um comentário significativo, nas circunstâncias.
— Isso acabou com as chances de Goto ser eleito primeiro-ministro. Ele era o favorito, lembra-se? Bem, agora ele terá outra oportunidade. Sua paciência será recompensada... isso se conseguir formar uma coalizão.
— Não me venha com essa. — Hunter inclinou-se na direção do espelho para tirar o restante de maquilagem do nariz. — Você leu o que ele disse aos jornais. Goto vai ser o próximo primeiro-ministro, e sabe o que ele anda pregando.
— Falar é fácil, especialmente nesse tipo de negócio — afirmou Jack. Ele ainda não conseguia incluir a si próprio “nesse tipo de negócio”. — Provavelmente foi apenas um deslize, mais um político que bebeu demais depois de passar um dia ruim no escritório...
— Ou numa casa de gueixas — interpôs Kris Hunter. Acabou de remover a maquilagem, sentou-se na borda da penteadeira e acendeu um cigarro. Kristyn Hunter era uma repórter da velha guarda. Embora ainda não tivesse completado cinquenta anos, formara-se pela Escola de Jornalismo de Columbia e acabara de ser nomeada chefe dos correspondentes do Chicago Tribune no exterior. Tinha um tom de voz seco e incisivo. — Há dois anos, o filho da mãe tentou me passar uma cantada. Usou uma linguagem que faria um marinheiro corar, e algumas das suas sugestões foram... excêntricas, digamos assim. Imagino que esteja informado a respeito dos hábitos pessoais do futuro primeiro-ministro, não está, Dr. Ryan?
— Kris, eu nunca, jamais, em hipótese alguma, discuto a vida pessoal de personalidades estrangeiras. — Jack fez uma pausa. — Espere aí. Ele não sabe falar inglês, sabe? Ryan fechou os olhos, tentando se lembrar da ficha de Goto.
— O senhor devia saber. O homem fala inglês apenas quando é conveniente para ele. Naquele dia, não era. Quem traduziu tudo foi uma mulher de uns vinte e sete anos. Sabe que ela nem estava ligando? — A repórter começou a rir. — Quem ficou vermelha fui eu. O que isso lhe diz acerca do futuro primeiro-ministro? Ryan não tinha motivos para duvidar das informações que lhe chegavam através da Operação SÂNDALO. Mesmo assim, era bom ouvir a mesma coisa de uma fonte totalmente independente.
— Acho que ele gosta de louras — respondeu Jack, em tom de brincadeira.
— É o que dizem. Também dizem que está de namorada nova.
— Isto está ficando sério — observou Holtzman. — Muita gente gosta de farra, Kris.
— Goto tem necessidade de se mostrar. Alguns boatos que correm a seu respeito são simplesmente revoltantes. E acredito neles — afirmou a repórter.
— É mesmo? — perguntou Ryan, com ar inocente. — Intuição feminina?
— Não seja machista — advertiu Hunter, em um tom sério demais para a ocasião.
Ryan rebateu a crítica com seriedade.
— Não estou sendo. Minha mulher sabe avaliar as pessoas muito melhor do que eu. Talvez o fato de ser médica ajude um pouco, quem sabe?
— Dr. Ryan, eu sei que o senhor sabe. Sei que o FBI tem investigado discretamente certas coisas na região de Seattle.
— É mesmo?
— Kris Hunter não se deu por achada.
— É impossível guardar essas coisas em segredo, principalmente quando se tem amigos no FBI, como eu tenho, e se uma das garotas desaparecidas é filha de um capitão de polícia cujo vizinho trabalha para o FBI. Preciso continuar?
— Por que está me dizendo tudo isso?
Os olhos verdes de Kris Hunter se fixaram no conselheiro de Segurança Nacional. — Vou lhe explicar por que, Dr. Ryan. Fui violentada na faculdade. Pensei que o filho da mãe ia me matar. Vi a morte de perto. Essas coisas a gente nunca mais esquece. Se esse caso não for tratado como deve, aquela garota e muitas outras como ela poderão ser assassinadas. A gente pode se recuperar de um estupro; sei disso por experiência própria. Mas a morte é irreversível.
— Obrigado — disse Ryan, em tom lacônico.
Seus olhos e seu aceno de cabeça disseram muito mais. — Sim, eu entendo. E você sabe que eu entendo.
— Goto vai ser o próximo chefe de governo — observou Kim Hunter, em tom ainda mais inflamado. — Ele nos odeia, Dr. Ryan. Isso ficou bem claro quando o entrevistei. Não se interessou por mim porque me achou atraente, e sim porque me considerava um símbolo louro de olhos azuis. O homem é um estuprador. Gosta de ver as pessoas sofrerem. Todo o cuidado com ele é pouco. Pode dizer isso ao presidente.
— Vou dizer — prometeu Ryan, encaminhando-se para a porta.
O carro da Casa Branca estava à espera do lado de fora. Jack tinha muito em que pensar durante a viagem.
— A entrevista foi beleza — comentou o agente do Serviço Secreto. — Mas depois a coisa complicou um pouco.
— Há quanto tempo está neste trabalho, Paul?
— Quatorze anos fascinantes — respondeu Paul Robberton, vigiando o que se passava em torno do banco do carona. O motorista era apenas um empregado da Administração de Serviços Gerais, mas Jack agora tinha direito a um guarda-costas do Serviço Secreto.
— Espionagem?
— Falsificação. Nunca dei um tiro — acrescentou Robberton. — Tive alguns casos importantes.
— É bom para julgar as pessoas?
Robberton riu. No meu trabalho, isso é indispensável, Dr. Ryan.
— Fale-me a respeito de Kris Hunter.
— É dura e afiada como uma faca. Estava falando a verdade: foi violentada na faculdade, por um maníaco. Testemunhou contra o bandido. Naquela época os advogados tinham mais... liberdade para lidar com as vítimas de estupro. Sabe como é. Perguntaram se encorajara o homem, coisas assim. Ela passou um mau pedaço, mas ficou firme e acabaram condenando o estuprador. Ele foi assassinado na prisão, depois de se desentender com um assaltante à mão armada. Coitado — concluiu Robberton, secamente.
— Está me dizendo que devo levá-la a sério.
— Sim, senhor. Teria sido uma boa policial. Sei que é uma repórter bem razoável.
— Ela sabe de muita coisa — murmurou Ryan.
Kris podia não ter uma visão completa e se deixar influenciar por suas experiências pessoais, mas mesmo assim estava muito bem informada. Jack olhou pela janela do carro, enquanto tentava montar o quebra-cabeça.
— Para onde vamos? — quis saber o motorista.
— Para a casa — disse Ryan, fazendo com que Robberton olhasse para ele, surpreso. Naquele contexto, “a casa” não queria dizer o lugar onde morava.
— Não, espere um minuto — emendou, pegando o telefone do carro.
Felizmente, sabia o número de cor.
— Alô?
— Ed? Jack Ryan. Estão muito ocupados?
— Domingo é o nosso dia de folga, Jack. Os Caps vão jogar esta tarde com os Bruins.
— Só preciso de dez minutos.
— Está certo — concordou Ed Foley, colocando o telefone de volta na parede. — Ryan vem aí — disse à mulher. Droga.
Domingo era o único dia em que dormiam até mais tarde. Mary Pat ainda estava de camisola. Sem dizer nada, pôs de lado o jornal e foi se arrumar. Quinze minutos depois, a campainha tocou.
— Fazendo hora extra? — perguntou Ed, abrindo a porta.
Ryan e Robberton entraram.
— Fui entrevistado na televisão. — Jack consultou o relógio.—Vai passar daqui a uns vinte minutos.
— O que houve? Mary Pat entrou na sala, parecendo tão normal quanto qualquer mulher americana em uma manhã de domingo.
— Negócios, querida — respondeu Ed.
— Foram todos para a sala de estar do porão.
— Quero saber como vai a Operação SÂNDALO — disse Jack, assim que chegaram lá. Podia falar livremente. Toda semana revistavam a casa em busca de escutas. — Clark e Chávez já receberam ordem para tirar a garota de lá?
— Ninguém nos deu a ordem — observou Ed Foley. — Está tudo preparado, mas...
— A ordem está dada. Tirem a garota de lá o mais cedo possível.
— Alguma novidade que a gente precise saber? — perguntou Mary Pat.
— Não gosto desta história desde o começo. Acho que podemos mandar um recado para o protetor da garota.
— Pode ser uma boa ideia — concordou o Sr. Foley. — Também li o jornal de hoje. Ele não tem dito coisas muito agradáveis, mas nossa atitude também foi um pouco drástica, não acha?
— Sente-se, Jack — disse Mary Pat. — Quer um café? Não, obrigado, MP. — Depois de se sentar em um sofá velho, olhou para o anfitrião. — Parece que nosso amigo Goto é um tipo meio estranho.
— Ele tem suas manias — concordou Ed. — Não é particularmente brilhante. Fala muito, mas não diz muita coisa. Estou surpreso com o fato de ter sido escolhido para sucessor de Koga.
— Por quê? — perguntou Jack, lembrando-se de que o Departamento de Estado sempre se referira a Goto como se ele fosse um estadista de peso.
— Como eu disse, não é candidato a nenhum prêmio Nobel de física. Ele é um apparatchik. Subiu na vida fazendo política. Tenho certeza de que teve de bajular muita gente para chegar onde chegou.
— Para compensar, gosta de se exibir com mulheres ocidentais — acrescentou MP. — Isso acontece muito no Japão. Nomuri nos mandou um longo despacho a respeito. — Isso se devia à juventude e inexperiência do rapaz, pensou a vice-diretora de Operações. Havia muitos agentes que em sua primeira missão importante relatavam tudo que viam, como se estivessem escrevendo um livro ou coisa parecida.
— Se fosse aqui, não teria sido eleito nem pegador de cachorros — observou Ed, rindo.
Tem certeza?, pensou Ryan, lembrando-se de Edward Kealty. Por outro lado, era uma fraqueza que talvez pudessem explorar. Se tudo o mais falhasse, talvez o presidente Durling, no primeiro encontro entre os dois, pudesse aludir à ex-namorada e à influência das preferências sexuais do primeiro-ministro nas relações nipo-americanas...
— Como vai a Operação CARDO? Mary Pat sorriu enquanto arrumava os videogames. Era na TV do porão que as crianças brincavam com Mario e seus amigos.
— Dois dos antigos espiões morreram, um se aposentou e um está fora do país, na Malásia, se não me engano. Os outros já foram reativados. Se um dia precisarmos...
— Está bem. Vamos discutir o que podem fazer por nós.
— Por quê? — perguntou MP. — Não me importo, mas gostaria de saber por quê.
— Estamos sendo muito duros com o Japão. Já disse isso ao presidente, mas ele tem razões políticas para agir dessa forma e não pretende parar. Com isso, estamos criando sérios problemas para a economia japonesa. Agora escolheram um primeiro-ministro que nos detesta. Se resolverem retaliar, gostaria de ser informado o mais cedo possível.
— O que eles podem fazer? — perguntou Ed Foley.
— Não sei, mas pretendo descobrir. Dê-me alguns dias para decidir por onde devem começar. Droga, não disponho de alguns dias — corrigiu Jack. Preciso me preparar para a viagem a Moscou. De qualquer forma, vamos precisar de tempo para organizar a rede.
— Podemos mandar equipamentos de comunicações para os rapazes.
— Faça isso — ordenou Jack. — Diga a eles que estão de volta ao mundo da espionagem.
— Vamos precisar de autorização do presidente — advertiu Ed. Ativar uma rede de espionagem em um país amigo não era uma coisa trivial.
— Posso consegui-la para você. — Ryan estava certo de que Durling não teria nada a objetar. — E tirem a garota de lá o mais depressa possível.
— Onde vamos interrogá-la? — perguntou MP. — A propósito: e se ela não quiser voltar? Não está pensando em sequestrá-la, está?
Essa doeu, pensou Jack.
— Não, não acho que seja uma boa ideia. Eles sabem que devem ser cautelosos, não sabem? — Clark sabe.
Mary Pat lembrou-se do que Clark ensinara a ela e ao marido na Fazenda, fazia muitos anos: Onde quer que você esteja, é território inimigo. Era um bom ditado para espiões, mas sempre tivera vontade de saber onde o rapaz o aprendera.
Aquelas pessoas deviam estar trabalhando, pensou Clark. Mas esse era exatamente o problema, não era? Assistira a muitas manifestações em sua vida, a maioria para expressar algum tipo de descontentamento com os Estados Unidos. As ocorridas no Irã tinham sido especialmente desagradáveis, sabendo que havia americanos nas mãos de pessoas que consideravam ”Morte aos Estados Unidos!” uma expressão perfeitamente razoável da política externa. Entrara no país para participar de uma frustrada operação de resgate, no que tinha sido o ponto mais baixo em uma longa carreira.
Assistir ao fracasso da operação, ter de fugir do país com o rabo entre as pernas, não eram boas memórias. Aquela cena, por alguma razão, trouxera tudo de volta.
A embaixada americana não estava levando a manifestação muito a sério. Os diplomatas trabalhavam normalmente no edifício da embaixada, mais um projeto do tipo Frank-Lloyd-Wright-Encontra-a-Linha-Siegfried, situado em frente ao Hotel Ocura. Afinal, estavam em um país civilizado, não estavam? A polícia local colocara um destacamento do outro lado da cerca, e por mais barulho que fizessem os manifestantes, não pareciam dispostos a atacar os guardas. Entretanto, as pessoas que tinham ido para a rua não eram crianças nem adolescentes aproveitando o pretexto para matar aula — era estranho que os meios de comunicações não se referissem ao fato de que a maioria das manifestações estudantis, no mundo inteiro, coincidia com os exames finais. Não, ali eram quase todos adultos na faixa dos trinta ou dos quarenta anos, e por esse motivo os gritos de protesto não soavam muito autênticos. Pareciam envergonhados por estar ali, um pouco confusos, mais tristes do que zangados, pensou, enquanto Chávez tirava fotos. Entretanto, eram muitos e estavam muito aborrecidos. Queriam pôr a culpa em alguém... só podia ser neles, nos estrangeiros que eram sempre os responsáveis pelas coisas ruins. Esse ponto de vista não era exclusividade dos japoneses, era? Como tudo que acontecia no Japão, a demonstração tinha sido muito bem organizada. Os participantes, já distribuídos em grupos comandados por líderes, chegaram de trem, pegaram ônibus nas estações e saltaram a apenas alguns quarteirões de distância da embaixada. Quem fretou os ônibus?, perguntou-se Clark. Quem imprimiu os cartazes? O inglês nos cartazes era perfeito, o que não deixava de ser estranho, pensou. Embora aprendessem inglês nos colégios, os japoneses cometiam os erros que seria de esperar quando tentavam escrever na língua estrangeira, especialmente quando se tratava de traduzir slogans. Naquele mesmo dia, vira um rapaz usando uma camiseta onde estava escrito “Inspire no Paraíso”, provavelmente uma tradução literal de um pensamento japonês. No caso daqueles cartazes, porém, era diferente. Tanto a ortografia como a sintaxe eram impecáveis, algo difícil de acontecer até mesmo nas manifestações americanas. Não era curioso? Ora, posso investigar o assunto, pensou. Sou jornalista, certo? Com licença — disse John, batendo no braço de um homem de meia-idade.
— Sim? O homem voltou-se para ele, surpreso. Estava muito bem vestido, de terno e gravata. Não havia nenhum sinal de ódio no seu rosto, nem qualquer outra emoção que pudesse ser causada pela agitação do momento.
— Quem é o senhor? Sou um jornalista russo. Trabalho para a Agência de Notícias Interfax — explicou Clark, mostrando-lhe uma carteira de identidade com inscrições em cirílico.
— Ah! O homem sorriu e fez uma reverência. Clark respondeu com outra mesura, merecendo um olhar de aprovação por suas boas maneiras.
Posso lhe fazer algumas perguntas?
— É claro.
Clark logo descobriu que tinha trinta e sete anos, era casado, tinha um único filho, trabalhava na indústria automobilística, estava desempregado no momento e sentia-se muito magoado com os Estados Unidos. Por outro lado, não tinha nada contra a Rússia, apressou-se a acrescentar.
Ele está envergonhado com tudo isso, pensou John, agradecendo ao homem a colaboração.
— O que foi? — perguntou Chávez, aproximando-se.
Russkiy — replicou “Klerk”.
— Da, tovarisch.
— Siga-me — disse “Ivan Sergeyevich”, misturando-se com a multidão.
Havia algo estranho, pensou, embora não conseguisse perceber exatamente o quê. De repente, tudo ficou claro. As pessoas que estavam na periferia da turba eram diferentes. O interior era composto por operários, gente vestida mais modestamente e com menos educação. O clima também era diferente. Ao abordá-los, era recebido com irritação, e embora se acalmassem um pouco quando se identificava como não americano, não deixavam de olhá-lo com suspeita.
No devido tempo, a multidão começou a se deslocar, guiada pelos líderes e escoltada pela polícia até outro lugar, onde haviam montado um palanque.
Hiroshi Goto os fez esperar por um longo tempo, mesmo para um lugar onde a paciência era considerada como uma grande virtude. Caminhou até o palanque com dignidade, observando a presença do séquito oficial, já à sua espera, distribuído em cadeiras no fundo do palanque. As câmaras de TV também estavam preparadas; era só esperar que a multidão se acomodasse. Entretanto, Goto continuou ali parado, olhando para o povo, forçando com sua inércia que eles se acotovelassem cada vez mais; o passar do tempo só contribuía para aumentar a tensão.
Clark podia sentir agora. Talvez a estranheza do evento fosse inevitável.
Aquelas eram pessoas altamente civilizadas, membros de uma sociedade tão ordeira que nem parecia desse mundo, cujos modos educados e extrema hospitalidade contrastavam fortemente com a desconfiança que sentiam em relação aos estrangeiros. O medo de Clark começou como um sussurro distante, uma advertência de que algo estava mudando, embora seus poderes de observação, desenvolvidos por anos de prática, não captassem nada de anormal. Um homem que enfrentara os combates do Vietnã e perigos ainda maiores em outras partes do mundo, era mais uma vez um estranho em uma terra estranha, mas sua idade e experiência trabalhavam contra ele.
Mesmo os indivíduos mais irritados no meio da turba não tinham sido assim tão violentos. Afinal, o que esperar de alguém que acabou de perder o emprego? De modo que a situação estava sob controle... estaria mesmo? Entretanto, os sussurros aumentaram quando Goto tomou um gole d’água, acenando com os braços para que a multidão se aproximasse, embora aquela parte do parque já estivesse coalhada de pessoas. Quantas?, perguntou-se John. Dez mil? Quinze mil? De repente, a multidão se aquietou. Olhou em volta para ver o que estava acontecendo. Os que estavam na periferia usavam braçadeiras nos paletós. Era como se fosse um uniforme, pensou John. Os operários comuns obedeceriam automaticamente àqueles que se vestissem e agissem como supervisores, e os homens de braçadeira no momento estavam interessados em que chegassem para mais perto do palanque. Talvez tivessem dado algum sinal para que fizessem silêncio, mas Clark não tinha certeza.
Goto começou a falar em tom baixo, e o silêncio se tornou total. Cabeças inclinaram-se automaticamente para a frente alguns centímetros em um esforço para ouvir o que o político estava dizendo.
Que droga, eu gostaria de ter tido mais tempo para aprender japonês, pensaram ao mesmo tempo os dois agentes da CIA. Ding estava a seu lado, observou Clark, trocando lentes e fotografando rostos.
— Estão ficando cada vez mais tensos — observou Chávez em russo, estudando as expressões dos participantes.
Clark concordou com a cabeça. Ele podia entender apenas algumas palavras, talvez uma frase ou outra, apenas as coisas sem sentido que existiam em todas as línguas, os artifícios de retórica que um político usava para expressar humildade e respeito pela plateia. Os primeiros vivas da multidão foram para ele, uma surpresa, e os espectadores estavam tão comprimidos que tinham dificuldade para aplaudir. Seu olho se desviou para Goto. Estava muito longe. Clark abriu a sacola de Ding, pegou uma câmara, adaptou nela uma teleobjetiva a apontou-a para o político. Queria ver de perto sua expressão, saber como estava reagindo aos vivas da audiência enquanto esperava que os aplausos cessassem para prosseguir o discurso.
— Estou agradando, não estou? Tentou esconder o que sentia, observou Clark, mas era um político, e embora os políticos fossem bons atores, dependiam ainda mais de uma plateia do que aqueles que ganhavam a vida trabalhando diante das câmaras.
Os gestos de Goto aumentaram de intensidade, ao mesmo tempo que sua voz se tornava mais inflamada.
Há apenas dez ou quinze mil pessoas aqui. E um teste, não ê? Ele está experimentando. Clark jamais se sentira tão estrangeiro. Em boa parte do mundo, poderia passar por um local. Se estivesse no Irã, na União Soviética, em Berlim, não chamaria a atenção. Ali, porém, era diferente. Pior ainda: não estava compreendendo muito bem o que se passava, e isso deixava preocupado.
Goto começou a gritar. Pela primeira vez, esmurrou o parapeito de madeira, e a turba respondeu com vivas. Estava falando cada vez mais depressa, também. A multidão começou a se aproximar e Clark viu que o presidente notara o movimento com agrado. Não estava sorrindo, mas seus olhos varriam o mar de rostos, para a esquerda e para a direita, parando às vezes, provavelmente fixando-se em um indivíduo, observando suas reações antes de passar para outro. Tinha de estar satisfeito com o que via. Agora havia confiança na sua voz. Estavam todos na sua mão. Ajustando o ritmo do discurso, podia ver a respiração deles mudar, podia ver seus olhos se arregalarem. Clark baixou a câmara para observar a multidão e viu o movimento coletivo, as respostas às palavras do presidente.
Está brincando com eles.
John tornou a levantar a câmara, usando-a como uma luneta. Focalizou-a nos líderes de terno da periferia. Agora estavam com Urna expressão diferente, mais preocupados com o discurso do que com suas tarefas. Mais uma vez lamentou não conhecer melhor a língua, sem perceber que o que via era ainda mais importante do que o que poderia ouvir. A demonstração seguinte da multidão foi mais do que ruidosa. Foi colérica. Os rostos estavam... transtornados. Goto os controlava totalmente, levando-os para o rumo que escolhera.
John tocou de leve no braço de Ding.
— Vamos sair daqui.
— Por quê? Porque está ficando perigoso — explicou Clark.
— Nan ja? — replicou Chávez em japonês, sorrindo.
— Olhe para trás. Observe os guardas — ordenou “Klerk”.
Ding obedeceu e logo percebeu por que o companheiro estava preocupado.
A polícia local era normalmente imperturbável. Talvez os guerreiros samurais do passado tivessem exibido a mesma confiança. Embora educados e profissionais, havia uma certa arrogância na sua postura. Eles eram a lei, e sabiam disso. Os uniformes eram tão limpos e engomados quanto o de qualquer fuzileiro de embaixada, e as pistolas que pendiam dos coldres Sam Browne estavam ali apenas para fins decorativos. Agora, porém, esses mesmos guardas estavam nervosos. Remexiam-se, inquietos, e trocavam olhares. Esfregavam as mãos nas calças azuis para enxugar o suor. Alguns escutavam atentamente as palavras de Goto, mas mesmo esses homens pareciam preocupados. Independentemente do que estivesse acontecendo, se perturbava os encarregados de manter a paz nas ruas, então era muito sério.
— Siga-me — comandou Clark, dirigindo-se para a entrada de uma loja. Era uma pequena alfaiataria. Os agentes da CIA ficaram parados perto da porta. A calçada estava deserta. Os pedestres tinham se juntado à multidão e a polícia estava se aproximando também, os guardas distribuindo-se para formar um círculo azul. Os dois se viram sozinhos pela primeira vez em muito tempo.
— Está pensando a mesma coisa que eu? — perguntou John.
Chávez ficou surpreso com o fato de o companheiro estar falando em inglês.
— Ele está realmente incitando a multidão, não está? Tem razão, Sr. O — afirmou, depois de uma curta pausa. — As coisas estão ficando perigosas.
De onde estavam, podiam ouvir claramente a voz de Goto pelo sistema de alto-falantes. O tom agora era agudo, e a turba respondia com entusiasmo.
— Já viu algo parecido? Não era como o trabalho que tinham feito na Romênia. Clark concordou com a cabeça.
— Teerã, 1979.
— Eu estava na quinta série.
— Fiquei morto de medo — afirmou Clark. Goto começou a agitar as mãos freneticamente. Clark tornou a apontar a câmara para ele e viu outro homem. No início do discurso, há apenas trinta minutos, o político parecia estar sondando a multidão. Agora, era diferente. Se aquilo começara como uma experiência, o resultado tinha sido positivo. Os floreios finais pareceram estilizados, mas isso era de esperar.
Levantou as mãos, como um juiz de futebol americano anunciando um touchdown, mas os punhos estavam cerrados. A vinte metros de distância, um guarda voltou-se e olhou para os dois gaijin. Parecia preocupado.
— Vamos comprar alguns paletós.
— Meu manequim é trinta e seis — declarou Chávez, guardando a câmara.
A loja até que era simpática, e tinha paletós do tamanho certo para Ding.
Isso lhes deu uma desculpa para ficar lá dentro. O vendedor era educado e atencioso; por insistência do amigo, Chávez acabou comprando um terno que lhe caiu tão bem como se tivesse sido feito sob medida, cinza-escuro, ultrajantemente caro e parecido com os que milhares de japoneses usavam para trabalhar. Quando saíram da loja, o pequeno parque estava vazio. O palanque estava sendo desmontado. As equipes de TV guardavam seus equipamentos.
Tudo parecia normal, a não ser por um pequeno grupo de policiais que cercava três pessoas sentadas no meio-fio. Faziam parte da equipe de TV de uma rede americana. Um deles segurava um lenço de encontro ao rosto. Clark achou melhor não se aproximarem. Observou que as ruas estavam praticamente limpas... e de repente percebeu por quê. Havia uma equipe de limpeza em ação.
Tudo fora cuidadosamente planejado. A manifestação tinha sido tão espontânea quanto a Super Bowl... e o resultado do jogo melhor do que esperavam.
— Diga-me o que acha disso tudo — ordenou Clark, enquanto caminhavam por ruas que estavam começando a voltar ao normal.
— Você tem muito mais experiência do que eu...
— Escute uma coisa, seu aluno de mestrado, quando faço uma porra de uma pergunta, espero uma porra de uma resposta! Chávez quase parou de andar, não tanto por causa das palavras, mas porque fora apanhado totalmente de surpresa. Nunca vira o amigo tão exaltado. Procurou responder da melhor forma possível.
— Acho que acabamos de participar de um acontecimento importante.
Goto estava manipulando a multidão. No ano passado, em um dos meus cursos, assistimos a um filme sobre o nazismo, um estudo clássico da forma como agem os demagogos. Foi dirigido por uma mulher, e o que vi hoje me fez lembrar...
— O triunfo da vontade, dirigido por Leni Riefenstahl — completou Clark. — Sim, é um clássico. A propósito: está precisando cortar o cabelo.
— Hein?
O treinamento estava surtindo efeito, pensou o major Sato. A seu comando, os quatro F-15 Eagle soltaram os freios e se projetaram para a frente na pista de pouso de Misawa. Tinham voado mais de trezentas horas nos últimos doze meses, um terço das quais nos últimos dois, e agora os pilotos podiam encarar uma decolagem múltipla que deixaria orgulhosa qualquer equipe de exibição. Entretanto, eles não eram a versão local dos Anjos Azuis; pertenciam ao Terceiro Grupo de Esquadrilhas. Sato teve de se concentrar, é claro, observar o indicador de velocidade do ar no painel superior antes de levantar voo da pista de concreto. Quando recolheu o trem de aterrissagem, sabia, sem necessidade de olhar, que o ala estava a menos de quatro metros da ponta da sua asa. Era perigoso fazer manobras como aquela, mas fazia bem ao moral do pilotos. A equipe de terra devia estar tão impressionada quanto os motoristas curiosos que observavam da rodovia. A trezentos metros de altura, depois de recolher os flaps, a velocidade passando de quatrocentos nós, permitiu-se olhar para os dois lados. Tudo bem. Era um dia lindo, o ar frio e seco ainda iluminado pelo” sol do final da tarde. Sato podia ver as Curilas ao norte. Tinham feito parte do seu país, até serem roubadas pelos russos no final da Segunda Guerra Mundial, e eram montanhosas, como Hokkaido, a ilha mais setentrional do arquipélago do Japão... Uma coisa de cada vez, pensou o major.
— Direita — ordenou pelo rádio, mudando o curso para zero-cinco-cinco. Ainda estavam subindo, gradualmente, economizando combustível para o treinamento.
Era difícil acreditar que aquela aeronave fora projetada havia quase trinta anos. Entretanto, as únicas características que restavam eram a forma e a ideia original. Desde que os engenheiros americanos da McDonnell-Douglas haviam produzido o primeiro modelo, o caça passara por muitas modificações. Quase tudo no aparelho de Sato fora fabricado no Japão, até mesmo as turbinas. Especialmente os dispositivos eletrônicos.
Havia um movimento constante de aeronaves nos dois sentidos, quase todos grandes aviões de passageiros transportando homens de negócios do Japão para os Estados Unidos e vice-versa, em rotas comerciais bem definidas que acompanhavam o arquipélago das Curilas e passavam pela península de Kamchatka até chegar às Aleutas. Se alguém duvidava que seu país fosse importante, pensou Sato na solidão da sua cabina, era só olhar para aquilo. O sol, próximo do horizonte, refletia-se nas caudas de alumínio das várias aeronaves; da altitude em que se encontrava no momento, onze mil metros, podia vê-las enfileiradas, como carros em uma estrada, pontos amarelos precedendo trilhas de vapor que se estendiam até o infinito. Mas estava na hora de trabalhar.
Os quatro caças separaram-se em pares, à direita e à esquerda da rota comercial. A missão de treinamento daquela noite não era complicada, mas mesmo assim podia ser considerada importante. Atrás deles, mais de cento e cinquenta quilômetros a sudoeste, uma aeronave de observação estava assumindo sua posição, perto da extremidade nordeste de Honshu. Era um E-767, uma versão modificada do bimotor de passageiros da Boeing (como o E-3A americano era uma versão modificada do 707, muito mais antigo), com uma cúpula de radar montada sobre a fuselagem. Assim como seu F-15J era uma versão local melhorada de um caça americano, o E-767 era um aperfeiçoamento de uma invenção americana. Eles nunca iriam aprender, pensou Sato, os olhos esquadrinhando frequentemente o horizonte antes de voltarem ao painel central. Muita coisa que o Japão produzia fora desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos. Na verdade, os americanos haviam feito a mesma coisa com os russos, aperfeiçoando todos os equipamentos militares que a União Soviética fora capaz de criar. Entretanto, na sua arrogância, tinham ignorado a possibilidade de que alguém pudesse fazer a mesma coisa com seus sistemas mágicos. O radar do E-767 não tinha similar.
Por esse motivo, o radar no nariz do seu Eagle estava desligado.
Conceitualmente simples, o sistema era bastante complexo para ser implementado. Tanto os caças como o avião de reconhecimento tinham de conhecer sua posição exata em três dimensões. Além disso, a taxa de repetição dos pulsos de radar do E-767 devia ser mantida constante. O resto era pura matemática. Conhecendo a posição do transmissor e sua própria posição, os Eagle podiam receber as ondas refletidas e processá-las como se estivessem sendo geradas pelos seus próprios aparelhos de radar. Uma combinação dos radares biestáticos soviéticos com os radares aéreos americanos, o sistema levava a ideia um passo adiante. O radar a bordo do E-767 era um aparelho de multifrequência, capaz de passar bem rápido de um comprimento de onda mais longo, usado nas buscas, para o comprimento de onda bem menor necessário para o controle de tiro; na verdade, podia controlar os mísseis ar-ar disparados pelos caças. O radar também tinha potência suficiente, todos esperavam, para detectar aviões invisíveis.
Em poucos minutos tornou-se evidente que o sistema funcionava a contento. Os quatro mísseis ar-ar instalados nas asas do caça eram apenas imitações sem motor, mas as cabeças eram de verdade e os instrumentos de bordo mostraram que os mísseis estavam rastreando os aviões de passageiro bem melhor do que o radar do Eagle era capaz. Tratava-se de uma experiência pioneira, um novo marco na história da tecnologia militar. Se isso tivesse acontecido alguns anos antes, o Japão teria colocado a invenção à venda e ela seria provavelmente adquirida pelos americanos, porque valia seu peso em ouro. Entretanto, o mundo mudara, e os americanos provavelmente não se interessariam por ela. Além do mais, o Japão não estava disposto a vendê-la. Não agora, pensou Sato. Não agora.
O hotel onde estavam hospedados não era dos melhores. Embora se destinasse a visitantes estrangeiros, os donos reconheciam que nem todos os gaijin tinham dinheiro à vontade para gastar. Os quartos eram pequenos, os corredores estreitos, os tetos baixos e a diária com café da manhã, que consistia em um copo de suco, uma xícara de café e um croissant, era apenas cinquenta dólares. Segundo o ditado do governo americano, Clark e Chávez estavam ”vivendo de economias”, como os russos teriam de fazer no futuro. Não era tão difícil assim. Por mais agitado e superpopuloso que fosse o Japão, era muito mais confortável do que a África, e a comida, embora estranha, era tão exótica e interessante, que o sabor de novidade ainda não se esgotara. Ding poderia ter resmungado que sentia saudade de um hambúrguer, mas dizer uma coisa dessas, mesmo em russo, seria pôr em risco seu disfarce. Voltando para casa depois de um dia cheio, Clark introduziu o cartão de plástico na fenda e girou a maçaneta. Não levou mais do que alguns segundos para remover a fita adesiva que alguém colara na parte interna da peça. Depois de entrar no quarto, mostrou a fita a Ding antes de ir ao banheiro.
Chávez olhou em volta, imaginando se alguém teria instalado uma escuta no quarto, imaginando se aquela história de espionagem era tão complicada quanto parecia. Era tudo tão misterioso! A fita na maçaneta.
Alguém queria se encontrar com eles. Nomuri. Só podia ser ele. Era um truque interessante, pensou. Quem deixara a fita simplesmente caminhara pelo corredor e encostara a mão na maçaneta em um gesto casual, que passaria despercebido mesmo ao observador mais atento. Pelo menos, era essa a ideia.
— Vou tomar um drinque — anunciou “Klerk” em russo.
— Vou investigar o que está acontecendo.
— Vanya, está bebendo demais.
— Entendido.
— Você nem parece russo — disse Clark, para os possíveis microfones, antes de sair e fechar a porta.
Como vou terminar meu curso desse jeito?, pensou Chávez. Fora forçado a deixar todos os seus livros na Coreia. Eram em inglês, naturalmente.
Estava impedido de estudar. Se tiver que adiar a defesa da tese, pensou Ding, vou pedir à CIA que pague as taxas escolares do próximo período.
O bar, situado a meio quarteirão de distância, era muito agradável. Lá dentro, estava escuro. Os compartimentos eram pequenos e separados por tabiques de madeira; um grande espelho por trás das prateleiras com garrafas de bebida dificultava qualquer tentativa de espionagem. Melhor ainda, os tamboretes ao longo do balcão estavam todos ocupados, o que o forçou a se sentar em uma das cabinas, depois de demonstrar seu descontentamento para quem quisesse ver. Clark foi até uma das cabinas mais afastadas, onde Nomuri estava à sua espera.
— Não acha arriscado nos encontrarmos assim? — disse John.
Uma garçonete aproximou-se. Ele pediu uma dose de vodca pura, de uma marca local, que era mais barata.
— Ordens de casa — explicou Nomuri.
Levantou-se sem dizer mais nada, visivelmente ofendido pelo fato de um gaijin ter se sentado no seu compartimento sem pedir permissão, e foi embora sem ao menos se despedir com uma mesura.
Antes que o drinque chegasse, Clark apalpou debaixo da mesa e encontrou uma caixa presa com fita adesiva. Logo estava no seu colo, de onde a transferiu para uma pochete presa ao cinto. Clark sempre usava roupas folgadas (o disfarce de russo ajudava) de modo que houvesse espaço na cintura para esconder objetos. Mais uma razão, pensou, para se manter em forma.
O drinque chegou. Bebeu sem pressa, olhando para o espelho do bar em busca do reflexo de rostos conhecidos. Aquilo fazia parte da rotina, e aprendera do modo mais difícil que a rotina era para ser cumprida.
Consultou o relógio duas vezes, discretamente, e uma terceira vez pouco antes de se levantar, deixando a quantia necessária para pagar o drinque.
Os russos de verdade não gostavam de dar gorjetas.
A rua estava movimentada, embora já estivesse ficando tarde. Clark estabelecera uma rotina noturna durante a última semana e, noite sim, noite não, circulava pelas lojas da vizinhança. Naquela noite, foi primeiro a uma livraria com estantes compridas e irregulares. Os japoneses liam muito; a loja estava sempre cheia. Folheou alguns livros, pegou um exemplar de The Economist e andou até o fim da loja, onde viu alguns homens apreciando as revistas pornográficas. Mais alto do que eles, colocou-se atrás de alguns, sem se aproximar demais, mantendo as mãos à frente do corpo, fora das vistas de outros fregueses. Cinco minutos depois, voltou à frente da loja e pagou a revista, que a caixa solicitamente se prontificou a colocar em um saco plástico. A parada seguinte foi em uma loja de artigos eletrônicos, onde examinou alguns CD players. Desta vez, esbarrou em duas pessoas, usando uma das primeiras frases que aprendera em Monterey para pedir desculpas.
Em seguida, saiu para a rua e voltou ao hotel, imaginando quantos dos quinze minutos precedentes tinham sido perda de tempo. ‘Nenhum, pensou Clark consigo mesmo. Nem um único segundo.
Entrou no quarto e jogou a revista para Ding. O rapaz olhou para ele e perguntou: — Não tinham nada em russo?
— Há uma boa reportagem a respeito das disputas entre o Japão e os Estados Unidos. Leia e aprenda. Aproveite para praticar seu inglês.
Só faltava essa, pensou Chávez, entendendo o verdadeiro significado das palavras. Fomos ativados para valer. Tão cedo não terminarei o meu curso de mestrado. Talvez eles simplesmente não queiram aumentar meu salário, como manda o regulamento da CIA quando alguém obtém um título.
Clark tinha outras coisas para fazer. O embrulho que Nomuri lhe passara continha um disquete de computador e um acessório para o laptop.
Ligou o computador e introduziu o disquete. O arquivo que abriu continha apenas três frases. Depois de lê-las, apagou o disquete e começou a escrever o que, para todos os efeitos, era um despacho para a agência de notícias.
O computador era uma versão para a língua russa de um modelo muito popular no Japão, com o teclado em cirílico, e a dificuldade para Clark era que, embora falasse e escrevesse russo como um nativo, estava acostumado a digitar (e mal) em inglês. O teclado russo deixava-o exasperado; às vezes tinha medo de que alguém surpreendesse aquela pequena falha no seu disfarce. Levou mais de uma hora para digitar a notícia e mais meia hora para completar a parte realmente importante. Salvou os dois arquivos no disco rígido e desligou o computador. Depois de fechá-lo, desconectou o modem e substituiu-o pelo modelo mais recente que Nomuri lhe fornecera.
— Que horas são em Moscou? — perguntou, com voz cansada.
— Seis horas a menos do que aqui, como sempre.
— Vou mandar para Washington, também.
— Ótimo — concordou “Chekov”. — Estou certo de que vão adorar, Ivan Sergeyevich.
Clark ligou o fio do telefone ao computador e digitou o número da linha de fibra ótica para Moscou. A transferência da mensagem levou menos de um minuto. Repetiu a operação para o escritório da Interfax na capital americana. Era um método muito sutil, pensou John. No momento em que o modem do transmissor se ligava ao modem do receptor, pouco antes de começar a transmissão da mensagem, um ruído semelhante a estática era lançado na linha. Esse ruído era incompreensível para quem não dispusesse de um circuito especial, e ele limitava os chamados aos escritórios da sua agência de notícias. Quem poderia imaginar que havia uma escuta do FBI no escritório da Interfax em Washington? Depois de terminar, conservou um dos arquivos e apagou o outro. Mais um dia servindo ao país, pensou Clark, antes de escovar os dentes e desmaiar na cama de solteiro.
— Foi um belo discurso, Goto-san — observou Yamata, despejando uma dose generosa de saque em um fino cálice de porcelana. — Você deixou as coisas muito claras.
— Viu como me aplaudiram? — perguntou o político, orgulhoso.
— Amanhã você vai ser eleito, e depois de amanhã estará tomando posse, Hiroshi.
— Tem certeza? O outro concordou com a cabeça.
— É claro. Eu e meus colegas conversamos com nossos amigos e todos concordam que é o único homem em condições de salvar nosso país.
— Quando vamos começar? — perguntou Goto, lembrando-se de repente do que pretendiam fazer depois que chegasse ao poder.
— Quanto tivermos certeza de que o povo está conosco.
— Acha mesmo que podemos...
— Sim, acho. — Yamata fez uma pausa. — Só há um problema.
— Qual é?
— A sua amiguinha, Hiroshi. Se vier a público que tem uma amante americana, perderão a confiança em você. Não podemos permitir que isso aconteça — explicou o empresário, pacientemente. — Espero que entenda.
— Kimba é uma diversão muito agradável para mim — objetou Goto, timidamente.
— Não duvido, mas como primeiro-ministro poderá escolher muitas outras diversões agradáveis, e de qualquer forma estará muito ocupado no próximo mês.
Era interessante como podia reforçar o ego do político e ao mesmo tempo coibi-lo, tão facilmente quanto manipularia uma criança. Entretanto, havia alguns assuntos a serem resolvidos. Quanto a moça sabia? O que faria com ela?
— Pobrezinha. Se a mandarmos para casa agora, nunca mais será feliz.
— Pode ser verdade, mas não nos resta outra escolha. Deixe-me cuidar do assunto, está bem? A coisa deve ser feita com discrição. Você aparece toda hora na televisão. Não deve ser visto com ela. Seria muito perigoso.
O futuro primeiro-ministro baixou os olhos e bebeu um gole de saque, evidentemente pesando o prazer pessoal contra seus deveres cívicos, e assim surpreendendo Yamata mais uma vez... não, não realmente. Goto era Goto, e o empresário o escolhera tanto (ou mais) por suas fraquezas do que por suas qualidades.
Hai — disse, afinal. — Cuide disso para mim, por favor.
Sei exatamente o que fazer — assegurou-lhe Yamata.











