



Biblio VT




Depois da enchente (1957)
O terror, que só terminaria 28 anos depois (se terminasse), começou, até onde sei ou consigo saber, com um barco feito de uma folha de jornal flutuando por uma sarjeta cheia da água da chuva.
O barco balançou, quase virou, se endireitou, mergulhou corajosamente nos redemoinhos traiçoeiros e continuou a seguir pela rua Witcham em direção ao sinal de trânsito que indicava a interseção dela com a Jackson. As três lentes verticais de todos os lados do sinal estavam escuras naquela tarde do outono de 1957, e as casas também estavam escuras. Vinha chovendo sem parar havia uma semana, e dois dias antes os ventos também chegaram. Muitas partes de Derry ficaram sem energia, que ainda não tinha voltado.
Um garotinho de capa de chuva amarela e galochas vermelhas corria alegremente ao lado do barco de jornal. A chuva não havia parado, mas estava diminuindo, enfim. Ela caía no capuz amarelo da capa de chuva do garoto, soando para ele como chuva em um telhado de galpão... um som confortável, quase aconchegante. O garoto de capa amarela era George Denbrough. Ele tinha 6 anos. Seu irmão, William, conhecido pela maior parte das crianças da Escola Derry (e até pelos professores, que jamais usariam o apelido na frente dele) como Bill Gago, estava em casa, se recuperando de uma gripe violenta. Naquele outono de 1957, oito meses antes de os verdadeiros horrores começarem e 28 anos antes do confronto final, Bill Gago tinha 10 anos.
Bill tinha feito o barco com que George agora brincava. Ele o fez sentado na cama, com as costas apoiadas em vários travesseiros, enquanto a mãe tocava “Für Elise” no piano na sala de estar e a chuva batia sem parar na janela do quarto.
Depois de três quartos do quarteirão no sentido de quem ia para o cruzamento e para o sinal de trânsito apagado, a rua Witcham estava bloqueada ao trânsito por um fogareiro e quatro cavaletes laranja. Em cada cavalete estava pintado DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS DE DERRY. Atrás deles, a chuva jorrava de canais entupidos com galhos, pedras e pilhas grudentas de folhas de outono. A água primeiro abriu brechas no asfalto, depois arrancou pedaços inteiros, isso no terceiro dia de chuva. Ao meio-dia do quarto dia, pedaços grandes da superfície da rua desciam pelo cruzamento da Jackson com a Witcham como canoas em miniatura. Naquele momento, muitas pessoas em Derry já tinham começado a fazer piadas nervosas sobre arcas. O Departamento de Obras Públicas tinha conseguido deixar a rua Jackson aberta, mas a Witcham estava intransitável dos cavaletes até o centro da cidade.
Mas todos concordavam que o pior tinha terminado. O rio Kenduskeag tinha subido até quase a margem no Barrens e poucos centímetros abaixo das laterais de concreto do canal que o espremia pelo centro da cidade. Naquele momento, um grupo de homens — Zack Denbrough, pai de George e de Bill, entre eles — estava retirando os sacos de areia que haviam empilhado no dia anterior com pressa e pânico. A inundação da véspera e os danos causados por ela pareceram quase inevitáveis. Deus sabia que tinha acontecido antes: a inundação de 1931 foi um desastre que custou milhões de dólares e quase duas dúzias de vidas. Isso foi muito tempo antes, mas ainda havia pessoas vivas o suficiente para lembrarem e assustarem os outros. Uma das vítimas da inundação foi encontrada 40 quilômetros a leste, em Bucksport. Os peixes tinham comido os olhos desse cavalheiro infeliz, três dos dedos dele, o pênis e a maior parte do pé esquerdo. Preso no que restava das mãos dele havia o volante de um Ford.
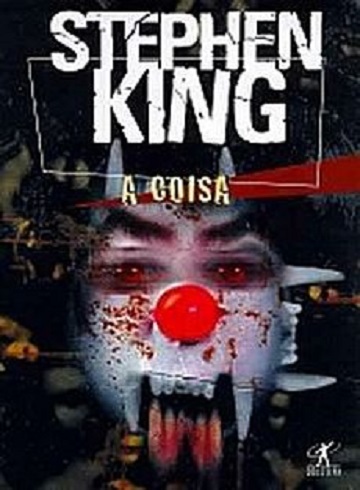
Mas agora o rio estava baixando, e quando a nova represa da hidrelétrica de Bangor fosse erguida rio acima, ele deixaria de ser uma ameaça. Ou era o que dizia Zack Denbrough, que trabalhava na hidrelétrica. Quanto ao resto, bem, as inundações futuras podiam se cuidar sozinhas. A questão era passar por essa, ter a energia de volta e esquecer. Em Derry, esquecer tragédias e desastres era quase uma arte, como Bill Denbrough descobriria ao longo do tempo.
George parou nos cavaletes, na beirada de uma abertura na superfície de asfalto da rua Witcham. Essa abertura fazia uma diagonal quase exata. Acabava do outro lado da rua, uns 12 metros colina abaixo de onde ele estava agora, à direita. Ele riu alto (o som de alegria solitária e infantil pareceu iluminar aquela tarde cinzenta) quando uma onda na água levou o barco de papel pela cachoeira em miniatura formada pelo asfalto quebrado. A água desesperada abriu um canal que descia pela diagonal, e assim o barco viajou de um lado a outro da rua Witcham, com a corrente carregando-o tão rápido que George teve que correr para acompanhar. As galochas espalhavam água em jatos enlameados. As fivelas emitiam um som alegre enquanto George Denbrough corria em direção à sua estranha morte. E a sensação que tomou conta dele naquele momento foi amor claro e simples pelo irmão Bill... amor e um toque de arrependimento por Bill não poder estar lá para ver e participar. É claro que ele tentaria descrever para Bill quando chegasse em casa, mas sabia que não conseguiria fazer Bill enxergar do jeito que conseguiria fazer com que ele enxergasse se as posições estivessem trocadas. Bill era bom em ler e escrever, mas mesmo na idade dele, George era esperto o bastante para saber que aquele não era o único motivo para Bill só ter A no boletim, e nem para os professores gostarem tanto das redações dele. Contar era apenas parte do talento. Bill era bom em ver.
O barco quase voou pelo canal em diagonal, só uma página arrancada da seção de classificados do Derry News, mas agora George o imaginava como uma lancha torpedeira em um filme de guerra, como os que ele via às vezes no cinema de Derry com Bill nas matinês de sábado. Um filme de guerra com John Wayne lutando contra os japoneses. A proa do barco de jornal jogava jatos de água para os dois lados enquanto corria, depois chegou à vala no lado esquerdo da rua Witcham. Um novo jorro de água subia pela abertura no asfalto naquele ponto e criava um redemoinho grande, e pareceu a ele que o barco seria inundado e viraria. Ele se inclinou de maneira alarmante, mas George se alegrou quando se endireitou, virou e desceu rapidamente para o cruzamento. George correu para alcançá-lo. Acima da cabeça dele, um sopro forte de vento de outubro balançou as árvores, agora quase sem o peso das folhas coloridas por causa da tempestade, que naquele ano foi uma ceifeira das mais cruéis.
Sentado na cama, com as bochechas ainda vermelhas de calor (mas com a febre baixando, assim como o Kenduskeag), Bill terminou o barco. Mas quando George esticou a mão para pegá-lo, Bill o tirou do alcance dele.
— A-Agora pega a p-p-parafina.
— O que é isso? Onde fica?
— Fica na pra-pra-prateleira do porão quando você está descendo — disse Bill. — Em uma caixa que diz Gu-Gu-ulf... Gulf. Traz pra mim, junto com uma faca e uma t-tigela. E uma c-caixa de fu-fu-fósforos.
George foi obedientemente buscar os objetos. Ele conseguia ouvir a mãe tocando piano, não “Für Elise” agora, mas uma outra música da qual ele não gostava tanto; era uma música que parecia seca e barulhenta. Ele conseguia ouvir a chuva caindo regularmente nas janelas da cozinha. Eram sons agradáveis, mas a ideia do porão não era nada agradável. Ele não gostava do porão e não gostava de descer a escada do porão, porque sempre imaginava que havia alguma coisa lá embaixo no escuro. Era bobagem, é claro, o pai e a mãe sempre diziam, e, mais importante de tudo, Bill dizia que era bobagem, mas mesmo assim...
Ele não gostava nem de abrir a porta para acender a luz porque sempre pensava (era uma coisa tão idiota que ele não ousava contar para ninguém) que, enquanto estivesse tateando atrás do interruptor, uma garra horrível pousaria de leve sobre o pulso dele... e o puxaria para baixo, para a escuridão com cheiro de terra e umidade e legumes podres.
Idiotice! Não existiam coisas com garras, peludas e cheias de ódio assassino. De vez em quando alguém ficava louco e matava muita gente (às vezes Chet Huntley contava sobre coisas assim no noticiário noturno), e é claro que existiam comunistas, mas não existia nenhum monstro estranho morando no porão. Mesmo assim, a ideia não sumia. Naqueles momentos intermináveis em que ele procurava o interruptor com a mão direita (com o braço esquerdo segurando a maçaneta com força total), aquele cheiro do porão parecia se intensificar até encher o mundo. Aromas de terra e umidade de legumes estragados se misturavam com o aroma inconfundível e inescapável, o cheiro do monstro, a apoteose de todos os monstros. Era o cheiro de uma coisa para a qual ele não tinha nome: o cheiro da Coisa, agachada, espreitando e pronta para atacar. Uma criatura que comeria qualquer coisa, mas que estava particularmente faminta por carne de garoto.
Ele abriu a porta naquela manhã e tateou eternamente em busca do interruptor, segurando a maçaneta com o aperto habitual, com os olhos fechados com força, a ponta da língua saindo do canto da boca como uma trepadeira em agonia em busca de água em um lugar de seca. Engraçado? Claro! Pode apostar! Olha pra você, Georgie! Georgie tem medo do escuro! Que bebezão!
O som do piano vinha do que o pai chamava de sala de estar e a mãe chamava de sala de visitas. Parecia música do outro mundo, bem distante, como conversas e risadas em uma praia lotada no verão devem parecer para o nadador cansado que luta contra a corrente.
Seus dedos encontraram o interruptor! Ah!
Eles o viraram...
... e nada. Nada de luz.
Ah, droga! A energia!
George puxou o braço como se estivesse dentro de uma cesta cheia de cobras. Deu um passo para longe da porta do porão, com o coração disparado no peito. Não havia energia, é claro. Ele tinha esquecido. Que porcaria! E agora? Voltar e dizer para Bill que não podia pegar a caixa de parafina porque não havia energia e ele tinha medo de alguma coisa pegá-lo quando ele estava na escada do porão, uma coisa que não era um comunista nem um assassino em série, mas uma criatura muito pior do que os dois? Que a criatura deslizaria parte do corpo podre entre os degraus da escada e agarraria seu tornozelo? Outros poderiam rir dessa fantasia, mas Bill não riria. Bill ficaria zangado. Bill diria: “Vê se cresce, Georgie... Você quer o barco ou não?”
Como se esse pensamento fosse uma dica, Bill gritou do quarto:
— Você m-m-morreu aí, G-Georgie?
— Não, estou pegando, Bill — gritou George na mesma hora. Ele esfregou os braços para tentar fazer os arrepios sumirem e a pele ficar lisa de novo. — Só parei pra tomar um copo de água.
— Então a-anda logo!
Então ele desceu os quatro degraus até a prateleira do porão, com o coração como um martelo quente batendo na garganta, o cabelo da nuca em pé, os olhos ardendo, as mãos frias, certo de que a qualquer momento a porta do porão se fecharia sozinha, bloqueando a luz branca que entrava pelas janelas da cozinha, e ele ouviria A Coisa, algo pior do que todos os comunistas e assassinos do mundo, pior do que os japoneses, pior do que Átila, o Huno, pior do que as coisas de cem filmes de terror. A Coisa, rosnando profundamente; ele ouviria o rosnado naqueles segundos lunáticos antes de ser atacado e ter as entranhas arrancadas.
O cheiro de porão estava pior do que nunca por causa da inundação. A casa deles ficava no alto na rua Witcham, perto do topo da colina, e eles tinham escapado do pior, mas ainda havia água parada lá embaixo que tinha entrado pela velha base de pedras. O cheiro era suave e desagradável, e fazia você querer respirar superficialmente.
George mexeu nas coisas na prateleira o mais rápido que conseguiu: latas velhas de graxa de sapatos Kiwi e trapos sujos de graxa, um lampião de querosene quebrado, dois vidros quase vazios de Windex, uma velha lata achatada de cera Turtle. Por algum motivo, essa lata chamou a atenção dele, e ele passou quase trinta segundos olhando para a tartaruga na tampa com uma espécie de assombro hipnótico. Mas então ele a jogou de volta... e ali estava enfim, uma caixa quadrada com a palavra GULF escrita.
George a pegou e subiu correndo a escada o mais rápido que conseguiu, ciente de repente de que a parte de trás da camisa estava para fora da calça e certo de que isso seria sua desgraça: a coisa no porão permitiria que ele chegasse quase na saída e agarraria a parte de trás da camisa, o puxaria para trás e...
Ele chegou à cozinha e fechou a porta. Ela bateu com força. Ele se recostou nela com os olhos fechados, o suor brotando nos braços e na testa, com a caixa de parafina presa com força na mão.
O piano tinha parado, e a voz da mãe chegou até ele:
— Georgie, não dá pra bater a porta com mais força da próxima vez? Quem sabe você consegue quebrar alguns dos pratos na cômoda se realmente tentar?
— Desculpa, mãe — gritou ele em resposta.
— George, seu bosta — disse Bill no quarto. O tom de voz foi baixo para a mãe deles não ouvir.
George sufocou um risinho. O medo já tinha ido embora; fugiu dele tão facilmente quanto um pesadelo desaparece para o homem que acorda com pele fria e ofegante; que sente o corpo e olha para os arredores para ter certeza de que nada aconteceu, e então começa a esquecer. Metade já sumiu quando os pés tocam o chão; três quartos quando ele sai do chuveiro e começa a se secar; tudo quando ele termina o café da manhã. Tudo some... até a próxima vez, quando, durante o pesadelo, todos os medos serão lembrados.
Aquela tartaruga, pensou George, indo até a gaveta da bancada em que ficavam os fósforos. Onde vi uma tartaruga assim antes?
Mas nenhuma resposta surgiu, e ele descartou a pergunta.
Ele pegou uma caixa de fósforos na gaveta, uma faca do cepo (segurando a parte afiada cuidadosamente longe do corpo, como o pai o ensinara) e uma pequena tigela da cômoda da sala de jantar. Em seguida, voltou para o quarto de Bill.
— Q-Que cuzão você é, Gi-Georgie — disse Bill de maneira afável, e afastou algumas das coisas de garoto doente na mesa de cabeceira: um copo vazio, uma jarra de água, Kleenex, livros, um vidro de Vick-VapoRub, cujo cheiro Bill associaria durante toda a vida com peitos encatarrados e narizes escorrendo. O velho rádio Philco estava lá também, tocando não Chopin nem Bach, mas uma música de Little Richard... Só que bem baixinho, tão baixinho que parecia que tinham roubado todo o poder primordial de Little Richard. A mãe deles, que estudara piano clássico em Juilliard, odiava rock-and-roll. Ela não apenas desgostava; abominava.
— Não sou cuzão — disse George, sentado na beirada da cama de Bill e colocando as coisas que reuniu na mesa de cabeceira.
— É, sim — disse Bill. — Não passa de um grande cuzão marrom, você.
George tentou imaginar um garoto que não passasse de um grande cuzão com pernas e começou a rir.
— Seu cu é maior do que Augusta — disse Bill, também começando a rir.
— Seu cu é maior do que o estado todo — respondeu George. Isso fez os garotos rirem por quase dois minutos.
O que seguiu foi uma conversa sussurrada do tipo que significa muito pouco para qualquer pessoa além de garotos pequenos: acusações de quem era o cuzão maior, quem tinha o cuzão maior, que cuzão era o mais marrom, e assim por diante. Por fim, Bill disse uma das palavras proibidas (acusou George de ser um cuzão grande e marrom de merda) e os dois começaram a rir com descontrole. A gargalhada de Bill virou um ataque de tosse. Quando finalmente começou a passar (a essas alturas o rosto de Bill tinha ficado de um tom arroxeado que George observou com alarme), o piano parou de novo. Os dois olharam na direção da sala de estar, prestando atenção ao som de arrastar do banco do piano, aos passos impacientes da mãe. Bill escondeu a boca na dobra do cotovelo para sufocar as últimas tosses e apontou para a jarra ao mesmo tempo. George serviu um copo de água, que ele bebeu todo.
O piano recomeçou a tocar “Für Elise”. Bill Gago nunca esqueceu essa melodia, e mesmo muitos anos depois, ela sempre lhe deixava com a pele dos braços e das costas arrepiada; seu coração ficava apertado e ele lembrava: Minha mãe estava tocando isso no dia que Georgie morreu.
— Vai tossir mais, Bill?
— Não.
Bill pegou um Kleenex na caixa, fez um som retumbante no peito, cuspiu catarro no lenço, amassou-o e jogou na lixeira ao lado da cama, que estava cheia de lenços amassados do mesmo jeito. Em seguida, abriu a caixa de parafina e colocou um cubo da substância na palma da mão. George o observou com atenção, mas sem falar nem perguntar. Bill não gostava que George falasse enquanto ele fazia coisas, mas George aprendera que, se ficasse de boca fechada, Bill costumava explicar o que estava fazendo.
Bill usou a faca para cortar um pequeno pedaço do cubo de parafina. Botou o pedaço na tigela, acendeu um fósforo e colocou em cima da parafina. Os dois garotos observaram a pequena chama amarela enquanto o vento jogava chuva na janela de tempos em tempos.
— Temos que proteger o barco da água, senão vai ficar molhado e afundar — disse Bill.
Quando ele estava com George, a gagueira ficava leve, e às vezes ele nem gaguejava. Mas na escola, ficava tão forte que falar era impossível. A comunicação era encerrada e os colegas de Bill olhavam para outro lugar enquanto Bill segurava as laterais da mesa, com o rosto ficando quase tão vermelho quanto o cabelo e os olhos apertados por tentar fazer uma palavra sair da garganta teimosa. Às vezes, na maioria delas, a palavra saía. Outras vezes, ela simplesmente se recusava. Ele foi atropelado por um carro quando tinha 3 anos e jogado na lateral de um prédio; ficou inconsciente durante 7 horas. A mãe disse que foi o acidente que causou a gagueira. George às vezes tinha a sensação de que o pai (e o próprio Bill) não tinha tanta certeza.
O pedaço de parafina na tigela estava quase completamente derretido. A chama do fósforo diminuiu e ficou azul ao envolver o palito de papelão, e depois sumiu. Bill enfiou o dedo no líquido e puxou de volta com um ligeiro assobio. Deu um sorriso de desculpas para George.
— Quente — disse ele.
Depois de alguns segundos, ele mergulhou o dedo de novo e começou a espalhar a cera nas laterais do barco, onde ela rapidamente secou e formou uma cobertura leitosa.
— Posso fazer um pouco? — perguntou George.
— Pode. Mas não deixa cair no cobertor senão mamãe vai te matar.
George mergulhou o dedo na parafina, que agora estava morna, mas não quente, e começou a espalhar do outro lado do barco.
— Não coloca tanto, seu cuzão! — disse Bill. — Quer afundar ele no cruzeiro de inauguração?
— Desculpa.
— Tudo bem. Vai d-devagar.
George terminou o outro lado e ergueu o barco nas mãos. Estava um pouco mais pesado, mas não muito.
— Muito legal — disse ele. — Vou sair e botar ele pra velejar.
— É, faz isso — disse Bill. Ele parecia repentinamente cansado; cansado e ainda não muito bem.
— Queria que você pudesse vir — disse George. Ele queria mesmo. Bill às vezes ficava mandão depois de um tempo, mas sempre tinha as ideias mais legais e quase nunca batia. — É seu barco, na verdade.
— Veleiro — disse Bill. — Isso aí é um v-veleiro.
— Veleiro, então.
— Eu também queria poder ir — disse Bill, mal-humorado.
— Bem... — George se mexeu inquieto com o barco nas mãos.
— Coloca suas coisas de chuva — disse Bill —, senão vai acabar com gr-gripe como eu. Deve pegar de qualquer jeito, dos meus gi-germes.
— Obrigado, Bill. É um barco legal. — E fez uma coisa que não fazia havia muito tempo, um gesto que Bill nunca esqueceu: se inclinou e beijou a bochecha do irmão.
— Agora você vai pegar com certeza, seu cuzão — disse Bill, mas pareceu mais alegre mesmo assim. Ele sorriu para George. — Coloca tudo no lugar. Senão mamãe vai ter um tru-troço.
— Claro.
Ele pegou o material e atravessou o quarto, com o barco precariamente equilibrado sobre a caixa de parafina, que estava inclinada em cima da tigela.
— Gi-Gi-Georgie?
George se virou para olhar para o irmão.
— Toma c-cuidado.
— Claro. — Ele franziu um pouco a testa. Era o tipo de coisa que a mãe dizia, não o irmão mais velho. Era tão estranho quanto se Bill tivesse lhe dado um beijo. — Claro que tomo.
Ele saiu. Bill nunca mais o viu.
Agora aqui estava ele, correndo atrás do barco pelo lado esquerdo da rua Witcham. Estava correndo rápido, mas a água estava ainda mais rápida, e o barco estava se afastando. Ele ouviu um rugido profundo e viu que 50 metros abaixo na colina a água na vala estava caindo em um bueiro ainda aberto. Era um semicírculo longo e escuro acompanhando o meio-fio, e enquanto George olhava, um galho seco, com o tronco tão escuro e brilhoso quanto pele de foca, caiu na bocarra do bueiro. Ficou na beirada por um momento e escorregou para dentro. Era para lá que seguia seu barco.
— Ah, merda, merdinha — gritou ele consternado.
Ele aumentou a velocidade, e por um momento achou que conseguiria pegar o barco. Mas um de seus pés escorregou e ele caiu, arranhou um joelho e gritou de dor. Da nova perspectiva do nível da calçada, ele viu o barco balançar duas vezes, momentaneamente preso em outro rodamoinho, e desaparecer.
— Merda, merdinha! — gritou ele de novo, e bateu com o punho no chão. Isso também doeu, e ele começou a chorar um pouco. Que maneira idiota de perder o barco!
Ele se levantou e andou até o bueiro. Ficou de joelhos e espiou lá dentro. A água fazia um som oco e úmido ao cair na escuridão. Era um som apavorante. Lembrava-o de...
— Hã! — O som foi arrancado dele como se puxado por uma corda, e ele se encolheu.
Havia olhos amarelos lá dentro, o tipo de olhos que ele sempre imaginou, mas nunca realmente viu no porão. É um animal, pensou ele com incoerência, só isso, um animal, deve ser um gato que ficou preso lá embaixo...
Ainda assim, ele estava pronto para correr, iria correr em um segundo ou dois, quando seu painel de controle mental tivesse lidado com o choque provocado pelos dois olhos amarelos brilhantes. Ele sentiu a superfície áspera do macadame sob os dedos e a fina camada de água fria fluindo ao redor. Viu-se se levantando e se afastando, e foi quando uma voz, perfeitamente lógica e um tanto agradável, falou com ele de dentro do bueiro.
— Oi, Georgie — disse a voz.
George piscou e olhou de novo. Ele mal conseguia acreditar no que via; era como algo saído de uma história inventada, ou um filme em que você sabe que os animais vão falar e dançar. Se ele fosse dez anos mais velho, não teria acreditado no que estava vendo, mas não tinha 16 anos. Tinha seis.
Havia um palhaço no bueiro. A luz lá dentro não era nada boa, mas era boa o bastante para George Denbrough ter certeza do que estava vendo. Era um palhaço, como no circo ou na TV. Na verdade, ele parecia um cruzamento entre o Bozo e Clarabell, que falava apertando a buzina no programa Howdy Doody dos sábados de manhã. Buffalo Bob era o único que conseguia entender Clarabell, e isso sempre fazia George morrer de rir. O rosto do palhaço no bueiro era branco, havia tufos engraçados de cabelo vermelho de cada lado da cabeça careca e havia um grande sorriso de palhaço pintado sobre a boca. Se George estivesse vivo um ano depois, ele certamente pensaria em Ronald McDonald antes de Bozo ou Clarabell.
O palhaço segurava vários balões de todas as cores, como lindas frutas maduras, em uma das mãos.
Na outra, segurava o barco de papel de George.
— Quer seu barco, Georgie? — O palhaço sorriu.
George sorriu também. Não conseguiu evitar; era o tipo de sorriso que você tinha que retribuir.
— Claro que quero — disse ele.
O palhaço sorriu.
— “Claro que quero.” Isso é ótimo! Isso é muito bom! E que tal um balão?
— Bem... claro! — Ele esticou a mão... mas puxou de volta com relutância. — Não devo aceitar coisas de estranhos. Meu pai falou.
— Seu pai é muito sábio — disse o palhaço no bueiro, sorrindo. Como, perguntou-se George, eu pude pensar que os olhos dele eram amarelos? Eram de um azul intenso e saltitante, a cor dos olhos da mãe dele, e de Bill. — Muito sábio mesmo. Portanto, vou me apresentar. Eu, Georgie, sou o sr. Bob Gray, também conhecido como Pennywise, o Palhaço Dançarino. Pennywise, este é George Denbrough. George, este é Pennywise. E agora, nos conhecemos. Não sou um estranho pra você, e você não é um estranho pra mim. Certim?
George riu.
— Acho que sim. — Ele esticou a mão de novo... e recolheu a mão de novo. — Como você chegou aí embaixo?
— A tempestade me jogoooou longe — disse Pennywise, o Palhaço Dançarino. — Jogou todo o circo bem longe. Você consegue sentir o cheiro do circo, Georgie?
George se inclinou para a frente. De repente, sentiu cheiro de amendoim! Amendoim quente torrado! E vinagre! Do tipo branco que se coloca na batata frita por um buraco na tampa! Sentiu cheiro de algodão-doce e bolinhos doces fritos e o odor leve e intenso de bosta de animal selvagem. Sentiu o aroma alegre de serragem. Ainda assim...
Ainda assim, debaixo de tudo havia o cheiro de inundação e folhas em decomposição e sombras escuras de bueiro. Esse cheiro era úmido e podre. O cheiro do porão.
Mas os outros cheiros estavam mais fortes.
— Pode apostar que consigo sentir — disse ele.
— Quer seu barco, Georgie? — perguntou Pennywise. — Só estou repetindo porque você não parece tão ansioso. — Ele o ergueu e sorriu. Estava usando uma roupa de seda larga com grandes botões laranja. Uma gravata berrante, azul-elétrica, caía pela frente do peito, e havia grandes luvas brancas em suas mãos, do tipo que Mickey Mouse e o Pato Donald sempre usavam.
— Sim, claro — disse George, olhando para dentro do bueiro.
— E um balão? Tenho vermelho e verde e amarelo e azul...
— Eles flutuam?
— Flutuam? — O sorriso do palhaço se alargou. — Ah, sim, claro que sim. Flutuam! E tem algodão-doce...
George esticou a mão.
O palhaço agarrou seu braço.
E George viu o rosto do palhaço mudar.
O que ele viu então era terrível o bastante para fazer suas piores fantasias da coisa no porão parecerem doces sonhos; o que ele viu destruiu sua sanidade em um golpe de uma garra.
— Eles flutuam — repetiu a coisa no bueiro com uma voz rouca e rindo. Ela segurou o braço de George em um abraço grosso e serpenteante, puxou George para aquela escuridão terrível onde a água corria e rugia e gritava ao levar a carga de destroços da tempestade em direção ao mar. George virou o pescoço para longe daquela escuridão e começou a gritar na chuva, a gritar loucamente para o céu branco de outono curvado sobre Derry naquele dia de 1957. Seus gritos eram agudos e cortantes, e em toda rua Witcham as pessoas foram até as janelas ou saíram correndo para as varandas.
— Eles flutuam — rosnou a coisa —, eles flutuam, Georgie, e quando você estiver aqui embaixo comigo, também vai flutuar...
O ombro de George bateu no cimento do meio-fio, e Dave Gardener, que ficou em casa em vez de ir trabalhar no The Shoeboat naquele dia por causa da enchente, viu apenas um garotinho de capa de chuva amarela, um garotinho que gritava e se contorcia na vala com água lamacenta passando sobre o rosto que fazia os gritos parecerem borbulhar.
— Tudo aqui embaixo flutua — sussurrou a voz podre que ria, e de repente houve um som de rasgo e uma onda flamejante de dor, e George Denbrough se foi.
Dave Gardener foi o primeiro a chegar, e apesar de só ter chegado 45 segundos depois do primeiro grito, George Denbrough já estava morto. Gardener o segurou pelas costas da capa de chuva, puxou-o para a rua... e começou a gritar quando o corpo de George foi virado em suas mãos. O lado esquerdo da capa de George estava vermelho-vivo. Sangue fluía para o bueiro pelo buraco esfarrapado onde ficava o braço esquerdo. Um pedaço de osso, horrivelmente branco, aparecia no tecido rasgado.
Os olhos do garoto estavam direcionados para o céu branco, e quando Dave cambaleou para trás, na direção dos outros que já corriam em desespero pela rua, começaram a se encher de chuva.
Em algum lugar abaixo, no bueiro que já estava cheio até a capacidade total com água de escoamento (não poderia haver ninguém lá embaixo, exclamaria depois o xerife do condado para um repórter do Derry News com uma fúria frustrada tão grande que era quase dor; o próprio Hercules teria sido levado naquela corrente fortíssima), o barco de George seguiu pelas câmaras escuras e longos corredores de concreto que rugiam e gritavam de tanta água. Por um tempo, seguiu ao lado de uma galinha morta que flutuava com as garras amarelas e reptilianas apontadas para o teto molhado; depois, em algum cruzamento a leste da cidade, a galinha foi levada para a esquerda enquanto o barco de George seguiu em frente.
Uma hora depois, quando a mãe de George estava sendo sedada na emergência do Derry Home Hospital e quando Bill Gago estava sentado estupefato e silencioso na cama, ouvindo o pai chorar roucamente na sala de estar onde a mãe tocava Für Elise no momento em que George saiu, o barco saiu por um buraco no concreto como uma bala saindo do cano de um revólver e seguiu velozmente por um canal até um córrego qualquer. Quando chegou ao borbulhante e transbordante rio Penobscot 20 minutos depois, os primeiros pedaços de azul começaram a aparecer no céu. A tempestade acabou.
O barco mergulhou e balançou, e às vezes ficava cheio de água, mas não afundou; os dois irmãos o tinham protegido bem. Não sei onde afundou, se é que afundou; talvez tenha chegado ao mar e navegado lá para sempre, como um barco mágico de contos de fadas. Só sei que ainda estava flutuando e navegando na onda da enchente quando passou pelas fronteiras da cidade de Derry, no Maine, e lá ele saiu dessa história para sempre.
Depois do festival (1984)
O motivo de Adrian estar usando o chapéu, seu namorado choroso diria mais tarde para a polícia, foi por ter ganhado na barraca Jogue até Ganhar na feira do Bassey Park apenas seis dias antes de sua morte. Ele sentia orgulho do chapéu.
— Estava usando porque amava essa merdinha de cidade! — gritou o namorado, Don Hagarty, para os policiais.
— Calma, calma. Não há necessidade pra esse tipo de vocabulário — disse o policial Harold Gardener para Hagarty.
Harold Gardener era um dos quatro filhos de Dave Gardener. No dia em que seu pai encontrou o corpo sem vida e com apenas um braço de George Denbrough, Harold Gardener tinha 5 anos. Neste dia, quase 27 anos depois, ele tinha 32 e estava ficando calvo. Harold Gardener reconhecia a realidade da dor e do sofrimento de Don Hagarty, e ao mesmo tempo achava impossível levar a sério. Esse homem, se você quisesse chamá-lo de homem, estava usando batom e uma calça de cetim tão apertada que quase dava para ver as rugas do cacete dele. Com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento, ele era, afinal, apenas um veado. Como seu amigo, o falecido Adrian Mellon.
— Vamos repassar tudo — falou Jeffrey Reeves, o parceiro de Harold. — Vocês dois saíram do Falcon e viraram em direção ao canal. E depois?
— Quantas vezes preciso contar pra vocês, seus idiotas? — Hagarty ainda estava gritando. — Eles mataram ele! Empurraram pela lateral! Era apenas mais um dia na Cidade Macho pra eles! — Don Hagarty começou a chorar.
— Mais uma vez — repetiu Reeves pacientemente. — Vocês saíram do Falcon. E depois, o quê?
Em uma sala de interrogatório no mesmo corredor, dois policiais de Derry estavam falando com Steve Dubay, de 17 anos; no escritório do escrivão no andar de cima, mais dois estavam interrogando John “Webby” Garton, de 18 anos; e na sala do chefe de polícia no quinto andar, o chefe Andrew Rademacher e o promotor público assistente Tom Boutillier estavam interrogando Christopher Unwin, de 15 anos. Unwin, que usava calça jeans surrada, uma camiseta suja de graxa e pesadas botas de couro, estava chorando. Rademacher e Boutillier o tinham levado porque o avaliaram precisamente como o elo mais fraco da corrente.
— Vamos repassar tudo — disse Boutillier nessa sala ao mesmo tempo que Jeffrey Reeves dizia a mesma coisa dois andares abaixo.
— A gente não queria matar ele — disse Unwin, chorando. — Foi o chapéu. A gente não conseguia acreditar que ele ainda estava usando o chapéu depois, você sabe, depois do que Webby disse na primeira vez. E acho que a gente queria assustar ele.
— Pelo que ele disse — comentou o chefe Rademacher.
— É.
— Pro John Garton na tarde do dia 17.
— É, pro Webby. — Unwin recomeçou a chorar. — Mas tentamos salvar ele quando vimos que estava com dificuldade... pelo menos eu e Stevie Dubay tentamos... a gente não pretendia matar ele!
— Para com isso, Chris, não enrola a gente — disse Boutillier. — Vocês jogaram o veadinho no canal.
— É, mas...
— E vocês três vieram pra encarar e esclarecer as coisas. O chefe Rademacher e eu apreciamos isso, não é, Andy?
— Pode apostar. Tem que ser homem pra admitir o que fez, Chris.
— Então não se ferre mais mentindo agora. Vocês pretendiam jogar ele assim que viram ele com o amigo bicha saindo do Falcon, não é?
— Não! — Chris Unwin protestou com veemência.
Boutillier pegou um maço de Marlboro no bolso da camisa e colocou um cigarro na boca. Ofereceu o maço para Unwin.
— Cigarro?
Unwin pegou um. Boutillier precisou seguir a ponta com um fósforo para conseguir acender, pelo tanto que a boca de Unwin tremia.
— Mas quando vocês viram que ele estava usando o chapéu? — perguntou Rademacher.
Unwin tragou profundamente, baixou a cabeça, o que fez o cabelo oleoso cair por cima dos olhos, e expeliu a fumaça pelo nariz, que era coberto de pontos pretos de cravos.
— É — disse ele, quase baixo demais para ser ouvido.
Boutillier se inclinou para a frente com os olhos castanhos brilhando. O rosto estava predatório, mas a voz estava gentil.
— O que, Chris?
— Eu disse é. Acho que sim. Jogar ele, sim. Mas não matar. — Ele ergueu o olhar naquele momento, com o rosto desesperado e infeliz e ainda incapaz de compreender as gigantescas mudanças que aconteceram em sua vida desde que ele saiu de casa para aproveitar a última noite do Festival do Canal de Derry com seus dois amigos às 19h30 da noite anterior. — Matar ele, não! — repetiu ele. — E aquele cara debaixo da ponte... Eu ainda não sei quem ele era.
— Que cara era esse? — perguntou Rademacher, mas sem muito interesse. Eles também já tinham ouvido essa parte antes, e nenhum dos dois acreditou. Cedo ou tarde, homens acusados de assassinato quase sempre surgem com um misterioso outro cara. Boutillier até tinha um nome para isso: chamava de “Síndrome do Homem de Um Braço”, por causa daquela velha série de TV, O Fugitivo.
— O cara de roupa de palhaço — disse Chris Unwin, e tremeu. — O cara com os balões.
O Festival do Canal, que ia de 15 a 21 de julho, foi um enorme sucesso, como concordava a maior parte dos residentes de Derry: uma ótima coisa para o moral e para a imagem da cidade... e para os cofres. O festival de uma semana aconteceu para marcar o centenário da abertura do canal que passava pelo meio da cidade. Foi o canal que abriu completamente Derry para o comércio de madeira nos anos 1884 a 1910; foi o canal que deu à luz os anos de crescimento de Derry.
A cidade estava decorada de leste a oeste e de norte a sul. Buracos que alguns residentes juravam não serem tapados havia anos ou mais foram preenchidos e nivelados. Os prédios da cidade foram reformados por dentro e pintados por fora. O pior das pichações no Parque Bassey (a maior parte declarações cheias de lógica antigay como MATEM TODOS OS VEADOS e AIDS É DE DEUS, SEUS BICHAS DOS INFERNOS!!) foi lixado dos bancos e das paredes de madeira da pequena passarela coberta sobre o canal conhecida como Ponte do Beijo.
Um Museu do Canal foi montado em três lojas vazias no centro com exposições organizadas por Michael Hanlon, um bibliotecário local e historiador amador. As famílias mais antigas da cidade emprestaram de bom grado seus tesouros quase inestimáveis, e durante esta semana de festival, quase 40 mil visitantes pagaram 25 centavos por cabeça para olhar cardápios de restaurantes dos anos 1890, ferramentas de lenhadores dos anos 1880, brinquedos de criança dos anos 1920 e mais de 2 mil fotos e nove filmes da vida em Derry nos últimos cem anos.
O museu foi patrocinado pela Sociedade de Senhoras de Derry, que vetou alguns dos itens de exposição propostos por Hanlon (como a notória prisão em forma de cadeira dos anos 1930) e fotos (como as da gangue Bradley depois do famoso tiroteio). Mas todos concordaram que foi um grande sucesso, e ninguém queria mesmo ver essas coisas velhas e nojentas. Era tão melhor acentuar o positivo e eliminar o negativo, como dizia a velha canção.
Havia uma enorme barraca listrada de bebidas no Parque Derry, e shows de bandas lá todas as noites. No Parque Bassey, havia brinquedos de parque de diversão levados pelo Smokey’s Greater Shows e jogos organizados pela população. Um bondinho especial circulava pelas seções históricas da cidade de hora em hora e acabava nessa área barulhenta e agradável de fazer dinheiro.
Foi aqui que Adrian Mellon ganhou o chapéu que levaria à sua morte, a cartola de papelão com a flor e a faixa que dizia EU ? DERRY!
— Estou cansado — disse John “Webby” Garton. Como seus dois amigos, ele estava usando uma imitação inconsciente das roupas de Bruce Springsteen, embora, se perguntado, ele provavelmente chamaria Springsteen de fracote ou boiola e declararia admiração por grupos de heavy metal “do cacete” como Def Leppard, Twisted Sister ou Judas Priest. As mangas da camiseta azul lisa tinham sido cortadas, deixando à mostra os braços bastante musculosos. O cabelo castanho volumoso caía sobre um dos olhos; esse toque era mais John Cougar Mellencamp do que Bruce Springsteen. Havia tatuagens azuis em seus braços, símbolos misteriosos que pareciam desenhados por uma criança. — Não quero mais falar.
— Só nos conte sobre a tarde de terça na feira — disse Paul Hughes. Ele estava cansado, chocado e consternado por todo esse negócio sórdido. Pensou mais de uma vez que parecia que o Festival do Canal de Derry estava terminando com um evento final sobre o qual todo mundo de alguma forma sabia, mas que ninguém ousou colocar na programação diária de eventos. Se tivessem feito isso, ficaria assim:
Sábado, 21h: Último show com a Derry High School Band e Barber Shop Mello-Men.
Sábado, 22h: Grandioso show de fogos.
Sábado, 22h35: O sacrifício ritual de Adrian Mellon encerra oficialmente o Festival do Canal.
— Foda-se a feira — respondeu Webby.
— Só o que você disse pra Mellon e o que ele disse pra você.
— Ah, Deus. — Webby revirou os olhos.
— Vamos lá, Webby — disse o parceiro de Hughes.
Webby Garton revirou os olhos e começou tudo de novo.
Garton viu os dois, Mellon e Hagarty, andando com afetação, com os braços na cintura um do outro e rindo como duas garotas. A princípio, ele achou mesmo que eram duas garotas. Mas reconheceu Mellon, que tinha sido mostrado a ele antes. Quando ele olhou, viu Mellon se virar para Hagarty... e eles se beijaram rapidamente.
— Ah, cara, vou vomitar! — gritou Webby, enojado.
Chris Unwin e Steve Dubay estavam com ele. Quando Webby mostrou Mellon, Steve Dubay disse que achava que a outra bicha se chamava Don alguma coisa e que ele tinha dado carona a um garoto da Derry High e tentado dar em cima dele.
Mellon e Hagarty começaram a andar em direção aos três garotos de novo, afastando-se da barraca Jogue até Ganhar e indo em direção à saída da feira. Webby Garton mais tarde contaria aos policiais Hughes e Conley que seu “orgulho cívico” fora ferido ao ver uma porra de veado usando um chapéu que dizia EU ? DERRY. Era uma coisa boba, aquele chapéu, uma imitação de papel de uma cartola com uma enorme flor no alto balançando em todas as direções. A tolice do chapéu aparentemente feriu o orgulho cívico de Webby ainda mais.
Quando Mellon e Hagarty passaram, cada um com o braço passado pela cintura do outro, Webby Garton gritou:
— Eu devia te fazer comer esse chapéu, seu come-bunda de merda!
Mellon se virou para Garton, piscou de um jeito paquerador e disse:
— Se você quer comer alguma coisa, querido, sei de uma coisa muito mais gostosa do que o meu chapéu.
Nesse ponto, Webby Garton decidiu rearrumar o rosto da bicha. Na geografia do rosto de Mellon, montanhas subiriam e continentes mudariam de lugar. Ninguém sugeria que ele chupasse pau. Ninguém.
Ele partiu para cima de Mellon. Alarmado, Hagarty tentou afastar Mellon, mas ele se manteve firme e sorrindo. Garton mais tarde contaria aos policiais Hughes e Conley que tinha certeza de que Mellon estava doidão de alguma coisa. Estava mesmo, concordaria Hagarty quando essa ideia fosse passada para ele pelos policiais Gardener e Reeves. Estava alto de comer dois donuts fritos banhados em mel na feira durante todo o dia. Ele consequentemente não conseguiu reconhecer a verdadeira ameaça que Webby Garton representava.
— Mas Adrian era assim — disse Don, usando um lenço de papel para secar os olhos e espalhando a sombra cintilante que estava usando. — Ele não tinha muita noção de quando precisava se proteger. Era um desses tolos que pensam que as coisas vão terminar bem.
Ele poderia ter ficado muito ferido naquele momento se Garton não tivesse sentido uma coisa bater em seu cotovelo. Era um cassetete. Ele virou a cabeça e viu o policial Frank Machen, outro membro da elite de Derry.
— Deixa pra lá, amiguinho — disse Machen para Garton. — Cuida da sua vida e deixa esses gayzinhos em paz. Vai se divertir.
— Você ouviu de que ele me chamou? — perguntou Garton com irritação. Agora, estava acompanhado de Unwin e Dubay; os dois, ao sentirem cheiro de problema, tentaram afastar Garton dali, mas Garton os empurrou e teria se virado contra eles com socos se tivessem insistido. A masculinidade dele tinha recebido um insulto que ele sentia precisar ser vingado. Ninguém sugeria que ele chupasse pau. Ninguém.
— Acredito que ele não te chamou de nada — respondeu Machen. — E você falou com ele primeiro, acredito eu. Agora anda, filho. Não quero ter que mandar de novo.
— Ele me chamou de bicha!
— Então você está com medo de ser? — perguntou Machen, parecendo genuinamente interessado, e Garton ficou de um tom vermelho profundo.
Durante essa conversa, Hagarty estava tentando com desespero cada vez maior puxar Adrian Mellon para longe da cena. Agora, pelo menos, Mellon estava indo.
— Tchau, tchau, amor! — gritou Adrian alegremente por cima do ombro.
— Cala a boca, cu frouxo — disse Machen. — Sai daqui.
Garton voou para cima de Mellon, e Machen o segurou.
— Posso te prender, meu amigo — disse Machen —, e pela forma como você está se comportando, pode não ser tão má ideia.
— Na próxima vez que eu te encontrar, vou te machucar! — gritou Garton pelas costas do par que se afastava, e cabeças se viraram para olhar para ele. — E se você estiver usando esse chapéu, vou te matar! Essa cidade não precisa de bichas como você!
Sem se virar, Mellon balançou os dedos da mão esquerda (as unhas estavam pintadas de vermelho-cereja) e rebolou ainda mais ao caminhar. Garton pulou de novo.
— Mais uma palavra ou mais um movimento e você vai preso — disse Machen calmamente. — Acredite em mim, meu rapaz, pois estou falando sério.
— Vem, Webby — disse Chris Unwin com constrangimento. — Se acalma.
— Você gosta de caras assim? — perguntou Webby para Machen, ignorando completamente Chris e Steve. — Hã?
— Sou neutro em relação a quem gosta de morder fronha — disse Machen. — Sou a favor mesmo é de paz e sossego, e você está perturbando aquilo de que eu gosto, cara de pizza. Quer ir dar uma volta comigo ou não?
— Vem, Webby — disse Steve Dubay baixinho. — Vamos comprar cachorro-quente.
Webby foi, ajeitando a camisa com movimentos exagerados e tirando o cabelo dos olhos. Machen, que também deu depoimento na manhã seguinte à morte de Adrian Mellon, disse: “A última coisa que ouvi ele dizer quando estava se afastando com os amigos foi: ‘Na próxima vez que eu der de cara com ele, ele vai estar encrencado.’”
— Por favor, preciso falar com a minha mãe — disse Steve Dubay pela terceira vez. — Tenho que pedir pra ela aliviar com meu padrasto, senão vou levar muita porrada quando chegar em casa.
— Daqui a pouco — disse o policial Charles Avarino. Tanto Avarino quanto seu parceiro, Barney Morrison, sabiam que Steve Dubay não ia para casa naquela noite e talvez nas próximas também não. O garoto não parecia perceber o quanto essa prisão era pesada, e Avarino não ficaria surpreso de descobrir mais tarde que Dubay tinha largado a escola aos 16 anos. Naquela época, ele ainda estava na escola de ensino fundamental Water Street Junior High. O QI dele era de 68, de acordo com o teste que fez em uma das três passagens pelo sétimo ano.
— Nos conte o que aconteceu quando vocês viram Mellon saindo do Falcon — disse Morrison.
— Não, cara, melhor não.
— E por que não? — perguntou Avarino.
— Já falei demais, eu acho.
— Você veio pra falar — disse Avarino. — Não é verdade?
— Bem... é... mas...
— Escuta — disse Morrison calorosamente, sentando-se ao lado de Dubay e entregando um cigarro a ele. — Você acha que eu e o Chick aqui gostamos de bichas?
— Não sei...
— A gente parece que gosta de bichas?
— Não, mas...
— Somos seus amigos, Steve — disse Morrison solenemente. — E acredite, você, Chris e Webby precisam de todos os amigos que puderem ter agora. Porque amanhã todas as pessoas de bom coração desta cidade estarão gritando pelo sangue de vocês.
Steve Dubay pareceu levemente alarmado. Avarino, que conseguia quase ler a mentezinha de merda desse palhaço, desconfiava que ele estava pensando no padrasto de novo. E, apesar de Avarino não gostar da pequena comunidade gay de Derry (como qualquer policial da força, ele gostaria de ver o Falcon fechado para sempre), ele ficaria feliz em levar Dubay para casa ele mesmo. Ficaria feliz, na verdade, de segurar os braços de Dubay enquanto o padrasto batia no moleque até ele virar patê. Avarino não gostava de gays, mas isso não significava que acreditava que eles deviam ser torturados e assassinados. Mellon foi brutalmente atacado. Quando o tiraram de debaixo da ponte do canal, os olhos dele estavam abertos e saltados de pavor. E esse cara aqui não fazia ideia nenhuma do que tinha ajudado a fazer.
— A gente não queria machucar ele — repetiu Steve. Essa era a frase padrão quando ele ficava ligeiramente confuso.
— É por isso que você quer ser sincero com a gente — disse Avarino com seriedade. — Deixar claros os fatos verdadeiros da questão, pra quem sabe tudo isso não passar de uma coisa à toa. Não é verdade, Barney?
— Verdadeira — concordou Morrison.
— Mais uma vez, o que você diz? — disse Avarino com persuasão.
— Bem... — disse Steve, e começou a falar lentamente.
Quando o Falcon foi aberto em 1973, Elmer Curtie pensava que sua clientela consistiria basicamente em passageiros de ônibus, pois a rodoviária ao lado atendia três linhas diferentes: Trailways, Greyhound e Aroostook County. O que ele não percebeu foi quantos dos passageiros que andam de ônibus são mulheres ou famílias com crianças pequenas. Muitos dos outros deixavam as garrafas em sacos de papel e nem saíam do ônibus. Os que saíam costumavam ser soldados ou marinheiros que não queriam mais do que uma cerveja rápida ou duas; não dava para entornar durante uma parada de dez minutos.
Curtie começou a perceber algumas dessas verdades por volta de 1977, mas já era tarde demais: ele estava com contas até as orelhas e não tinha como sair do vermelho. A ideia de queimar o bar para receber o seguro lhe ocorreu, mas a não ser que ele contratasse um profissional para provocar o incêndio, ele achava que seria pego... e não tinha ideia de onde encontrar incendiários profissionais, de qualquer modo.
Em fevereiro daquele ano, ele decidiu que esperaria até o dia 4 de julho; se as coisas não parecessem estar mudando até lá, ele simplesmente andaria até a construção ao lado, entraria num ônibus e veria como as coisas eram na Flórida.
Mas nos cinco meses seguintes, um tipo de prosperidade incrível e silenciosa chegou ao bar, que era pintado de preto e dourado por dentro e decorado com pássaros empalhados (o irmão de Elmer Curtie fora taxidermista amador especializado em pássaros, e Elmer herdara tudo quando ele morreu). De repente, em vez de vender sessenta cervejas e vinte drinques por noite, Elmer servia oitenta cervejas e cem drinques... 120... às vezes até 160.
A clientela era jovem, educada, quase exclusivamente masculina. Muitos se vestiam de maneira extravagante, mas aqueles eram anos em que roupas extravagantes ainda eram quase a norma, e Elmer Curtie só reparou que seus clientes eram quase exclusivamente gays em 1981, mais ou menos. Se os residentes de Derry o ouvissem dizer isso, teriam rido e dito que Elmer Curtie devia pensar que todos nasceram ontem, mas o que ele dizia era perfeitamente verdade. Como o marido da esposa traidora, ele foi praticamente o último a saber... E quando soube, não se importou. O bar estava dando dinheiro, e apesar de haver quatro outros bares em Derry que davam lucro, o Falcon era o único em que os clientes baderneiros não quebravam o estabelecimento todo. Não havia mulheres por quem brigar, e esses homens, gays ou não, pareciam ter aprendido um segredo para se dar bem uns com os outros que seus similares heterossexuais não sabiam.
Depois que ficou ciente das preferências sexuais dos clientes regulares, ele passou a ouvir histórias absurdas sobre o Falcon em todos os lugares. Essas histórias circulavam havia anos, mas até 1981 Curtie não as tinha ouvido. Os contadores mais entusiastas dessas histórias, descobriu ele, eram homens que não se deixariam arrastar até o Falcon por medo de os músculos do pulso ficarem frouxos, ou algo do tipo. Mas pareciam saber de todo tipo de coisa.
De acordo com as histórias, você podia entrar lá em qualquer noite e ver homens dançando coladinhos, esfregando os membros bem na pista de dança; homens beijando de língua no bar; homens fazendo boquete no banheiro. Havia supostamente um quarto nos fundos para onde você ia se quisesse passar um tempinho na Torre de Poder: havia um sujeito enorme de uniforme nazista lá com o braço lubrificado até o ombro e que teria prazer em cuidar de você.
Mas nenhuma dessas coisas era verdade. Quando pessoas com sede saíam da rodoviária para tomar uma cerveja ou um uísque com soda, elas não sentiam nada de incomum no Falcon. Havia muitos homens, claro, mas não era nada diferente de milhares de bares de trabalhadores em todo o país. A clientela era gay, mas gay não era sinônimo de burro. Se eles queriam ser ousados, iam para Portland. Se queriam ser muito ousados, iam para Nova York ou Boston. Derry era pequena, Derry era provinciana e a pequena comunidade gay de Derry entendia a sombra sob a qual existia perfeitamente bem.
Don Hagarty frequentava o Falcon havia dois ou três anos na noite de março de 1984 em que apareceu com Adrian Mellon. Antes disso, Hagarty era do tipo que avalia o terreno e raramente aparecia com a mesma companhia mais de seis vezes. Mas no final de abril ficou óbvio até para Elmer Curtie, que ligava bem pouco para coisas assim, que Hagarty e Mellon tinham um relacionamento firme.
Hagarty era projetista em uma empresa de engenharia em Bangor. Adrian Mellon era repórter freelancer que publicava em qualquer lugar que conseguisse: revistas de companhia aérea, revistas femininas, revistas regionais, suplementos dominicais, revistas com cartas de sexo. Estava escrevendo um romance, mas talvez isso não fosse sério; ele vinha trabalhando nisso desde o terceiro ano de faculdade, 12 anos antes.
Ele tinha ido a Derry para escrever uma reportagem sobre o canal, a serviço do New England Byways, uma revista bimestral publicada em Concord. Adrian Mellon aceitou o trabalho porque conseguiu tirar da Byways dinheiro para três semanas de despesas, incluindo um bom quarto no Derry Town House, e juntar todo o material de que precisava em cinco dias, talvez. Durante as outras duas semanas, ele podia juntar material suficiente para talvez quatro outras reportagens regionais.
Mas durante o período de três semanas, ele conheceu Don Hagarty e, em vez de voltar para Portland quando as três semanas pagas acabaram, ele se viu em um pequeno apartamento na travessa Kossuth. Ele morou lá por apenas seis semanas. Depois disso, foi morar com Don Hagarty.
Aquele verão, Hagarty contou a Harold Gardener e Jeff Reeves, foi o mais feliz da vida dele. Ele devia estar atento, disse ele; devia saber que Deus só coloca um tapete debaixo de caras como ele para puxar de debaixo dos pés.
A única sombra, disse ele, era a reação extravagante de militância de Adrian a favor de Derry. Ele tinha uma camiseta com os dizeres O MAINE NÃO É RUIM, MAS DERRY É ÓTIMA! Tinha uma jaqueta dos Derry Tigers. E, é claro, havia o chapéu. Ele dizia achar a atmosfera vital e criativamente revigorante. Talvez houvesse alguma coisa nisso: ele tinha tirado o arrastado romance da caixa pela primeira vez em quase um ano.
— Então ele estava mesmo escrevendo o romance? — Gardener perguntou a Hagarty, não se importando realmente, mas querendo manter Hagarty falando.
— Estava... Estava escrevendo páginas e páginas. Disse que podia ser um péssimo romance, mas não ia ser mais um péssimo romance inacabado. Ele esperava concluir antes do aniversário, em outubro. É claro que ele não sabia como Derry era de verdade. Achava que sabia, mas não tinha passado tempo o suficiente aqui pra sentir o cheiro da verdadeira Derry. Eu ficava tentando falar pra ele, mas ele não ouvia.
— E como Derry é de verdade, Don? — perguntou Reeves.
— Parece muito com uma prostituta morta com vermes saindo da boceta — disse Don Hagarty.
Os dois policiais olharam com assombro silencioso.
— É um lugar ruim — disse Hagarty. — É um esgoto. Vocês querem dizer que não sabem disso? Vocês dois moram aqui a vida toda e não sabem disso?
Nenhum dos dois respondeu. Depois de um tempo, Hagarty prosseguiu.
Até Adrian Mellon entrar em sua vida, Don planejava ir embora de Derry. Morava lá havia três anos, mais por ter aceitado um período longo de aluguel de um apartamento com a vista do rio mais fantástica do mundo, mas agora o contrato estava quase terminado e Don estava feliz. Era o fim das longas viagens de transporte público para ir e voltar de Bangor. Era o fim das energias estranhas. Em Derry, ele disse uma vez para Adrian, parecia que eram sempre 13 horas. Adrian podia achar que Derry era um lugar ótimo, mas o lugar assustava Don. Não era só a atitude homofóbica da cidade, uma atitude claramente expressa pelos pregadores da cidade e pelas pichações do Parque Bassey, mas era uma coisa que ele nunca conseguiu identificar. Adrian rira.
— Don, todas as cidades dos Estados Unidos têm um contingente de pessoas que odeiam os gays — disse ele. — Não me diga que não sabe disso. Afinal, estamos na era de Ronnie Moron e Phyllis Housefly.
— Vem pro Parque Bassey comigo — respondeu Don depois de ver que Adrian estava realmente falando sério, e que o que ele realmente estava dizendo era que Derry não era pior do que qualquer outra cidade de tamanho mediano do interior. — Quero te mostrar uma coisa, meu amor.
Eles foram para o Parque Bassey de carro. Isso aconteceu em meados de junho, cerca de um mês antes do assassinato de Adrian, Hagarty contou para os policiais. Ele levou Adrian para as sombras escuras e vagamente desagradáveis da Ponte do Beijo. Apontou para uma das pichações. Adrian precisou acender um fósforo e segurar abaixo do texto para conseguir ler.
ME MOSTRA SEU PAU, SUA BICHA, E VOU CORTAR ELE FORA.
— Sei o que as pessoas acham dos gays — disse Don baixinho. — Levei uma surra em uma parada de caminhões em Dayton quando era adolescente; alguns caras de Portland colocaram fogo nos meus sapatos em frente a uma lanchonete enquanto um policial velho e gordo ficava dentro da viatura rindo. Já vi muita coisa... mas nunca vi nada assim. Olha ali. Dá uma lida.
Outro fósforo revelou ENFIE PREGOS NOS OLHOS DE TODOS OS VEADOS (POR DEUS)!
— Quem escreve essas frases tem um problema sério de loucura. Eu me sentiria melhor se achasse que era só uma pessoa, um doente isolado, mas... — Don passou o braço lentamente na direção da extensão da Ponte do Beijo. — Tem muitas dessas coisas... e acho que não foi uma pessoa que escreveu todas. É por isso que quero sair de Derry. Lugares demais e pessoas demais parecem sofrer de loucura profunda.
— Ah, espera até eu terminar meu romance, tá? Por favor? Outubro, eu prometo, nem um dia a mais. O ar é melhor aqui.
— Ele não sabia que era com a água que ele precisaria tomar cuidado — disse Don Hagarty com amargura.
Tom Boutillier e o chefe Rademacher se inclinaram para a frente, os dois sem falar. Chris Unwin estava sentado com a cabeça baixa, falando em tom monótono para o chão. Essa era a parte que eles queriam ouvir; essa era a parte que ia mandar pelo menos dois cretinos para Thomaston.
— A feira não estava boa — disse Unwin. — Já estavam tirando todos os brinquedos maneiros, sabe, como a Roda do Demônio e a Queda de Paraquedas. Já tinham colocado uma placa nos Carrinhos Bate-Bate escrito “fechado”. Não tinha nada aberto, só brinquedos de bebê. Então fomos pra área dos jogos, e Webby viu o Jogue até Ganhar; pagou cinquenta centavos e viu aquele chapéu que a bicha estava usando e jogou pra pegar um, mas ficava errando, e cada vez que ele errava, o humor dele piorava, sabe? E Steve, o cara que costuma sair por aí dizendo esfria a cabeça, tipo esfria a cabeça pra isso, esfria a cabeça praquilo, e por que você não esfria essa porra duma vez, sabe? Só que ele estava com o humor fodido porque tomou um comprimido sabe? Não sei que tipo de comprimido. Um comprimido vermelho. De repente até era legal. Mas ele fica atrás de Webby até eu achar que Webby ia bater nele, sabe. Ele fica repetindo: Você não consegue nem ganhar o chapéu daquela bicha. Deve estar muito doidão se não consegue nem ganhar o chapéu daquela bicha. Então a dona acaba dando um prêmio pra ele apesar do aro não ter acertado nada, porque acho que ela queria se livrar de nós. Não sei. Talvez não. Mas acho que sim. Era uma coisa de fazer barulho, sabe? Você sopra, ela enche e desenrola e faz um barulho de peido, sabe? Eu tinha um. Ganhei no Halloween ou no Ano-Novo ou numa porra de feriado. Achava bem legal, só que perdi. Ou pode ser que alguém tenha tirado do meu bolso na merda de parquinho da escola, sabe? Aí a feira está fechando e estamos saindo e Steve ainda está no pé de Webby por ele não ter conseguido ganhar o chapéu da bicha, sabe, e Webby não está falando muito e sei que isso é mau sinal, mas eu estava bêbado, sabe? Então eu sabia que tinha que mudar de assunto, mas não conseguia pensar em nada, sabe? Então quando entramos no estacionamento, Steve diz: Aonde você quer ir? Pra casa? E Webby diz: Vamos passar na porta do Falcon primeiro pra ver se aquela bicha está por lá.
Boutillier e Rademacher trocaram um olhar. Boutillier ergueu um único dedo e bateu na bochecha; apesar de o pateta de botas não saber, estava falando agora de assassinato em primeiro grau.
— Então eu falo não, tenho que ir pra casa, e Webby diz: está com medo de passar na porta daquele bar gay? E eu digo: porra, não! E Steve ainda está alto, eu acho, e diz: vamos fritar carne de veado! Vamos fritar carne de veado! Vamos fritar...
A sincronia foi perfeita para tudo dar errado para todo mundo. Adrian Mellon e Don Hagarty saíram do Falcon depois de duas cervejas, passaram andando pela rodoviária e deram as mãos. Nenhum dos dois pensou no que estava fazendo; era apenas uma coisa que eles faziam. Eram 22h20. Eles chegaram na esquina e viraram à esquerda.
A Ponte do Beijo ficava quase 700 metros rio acima dali; eles pretendiam cruzar a ponte da rua Main, que era bem menos pitoresca. O Kenduskeag estava baixo, como era comum no verão, com no máximo 1,20 metro de água deslizando apaticamente pelos pilares de concreto da ponte.
Quando o Duster chegou ao lado deles (Steve Dubay tinha visto os dois saindo do Falcon e apontou para eles alegremente), eles estavam na metade da extensão.
— Dá uma fechada! Dá uma fechada! — gritou Webby Garton. Os dois homens tinham acabado de passar debaixo de um poste de luz e ele viu que estavam de mãos dadas. Isso o enfureceu... mas não tanto quanto o chapéu. A enorme flor de papel estava balançando loucamente de um lado para o outro. — Dá uma fechada, porra!
E Steve deu.
Chris Unwin negaria participação no que se seguiu, mas Don Hagarty contou uma história diferente. Ele disse que Garton saiu do carro quase antes de ele parar, e que os outros dois foram rapidamente atrás. Houve conversa. Não foi boa. Não houve tentativa de irreverência nem de flerte falso da parte de Adrian naquela noite; ele reconheceu que eles estavam com um problema bem grande.
— Me dá esse chapéu — disse Garton. — Me dá, bicha.
— Se eu der, você vai deixar a gente em paz? — Adrian estava ofegante de medo, quase chorando, olhando de Unwin para Dubay e Garton com olhos apavorados.
— Me dá essa porra!
Adrian entregou o chapéu. Garton tirou um canivete do bolso esquerdo da calça jeans e cortou-o em dois pedaços. Esfregou os pedaços no traseiro da calça. Em seguida, jogou no chão e pulou em cima.
Don Hagarty se afastou um pouco quando a atenção deles estava dividida entre Adrian e o chapéu. Ele disse que estava procurando um policial.
— Agora vocês vão nos deixar em p... — começou a falar Adrian Mellon, e foi nessa hora que Garton deu um soco na cara dele, empurrando-o contra a cerca da ponte da altura da cintura. Adrian gritou e levou as mãos à boca. Sangue jorrou entre seus dedos.
— Ade! — gritou Hagarty, e saiu correndo de novo. Dubay esticou o pé para derrubá-lo. Garton chutou-o na barriga e o derrubou da calçada para a rua. Um carro passou. Hagarty ficou de joelhos e gritou. O carro não diminuiu. Ele contou a Gardener e Reeves que o motorista nem olhou para trás.
— Cala a boca, veado! — disse Dubay, e chutou-o na lateral do rosto. Hagarty caiu de lado na sarjeta, semiconsciente.
Alguns momentos depois, ele ouviu uma voz, de Chris Unwin, mandando-o ir embora antes que ele recebesse o que o amigo estava recebendo. Em seu próprio depoimento, Unwin confirmou que deu esse aviso.
Hagarty conseguia ouvir baques surdos e o som de seu amante gritando. Adrian parecia um coelho em uma armadilha, ele contou à polícia. Hagarty rastejou de volta até o cruzamento e as luzes intensas da rodoviária, e quando estava a uma certa distância, se virou para olhar.
Adrian Mellon, que tinha 1,65 metro e pesava apenas uns 60 quilos, estava sendo empurrado de Garton para Dubay para Unwin em uma espécie de brincadeira. O corpo dele se balançava como o corpo de uma boneca de pano. Eles estavam dando socos nele, golpeando, rasgando as roupas. Ele disse que, enquanto olhava, Garton deu um soco na virilha de Adrian. O cabelo de Adrian caía sobre o rosto. Sangue jorrava da boca e encharcava sua camisa. Webby Garton usava dois anéis pesados na mão direita: um era um anel da Derry High School, o outro ele tinha feito em uma aula, com as letras DB de metal entrelaçadas em alto-relevo com 7 centímetros. As letras representavam Dead Bugs, uma banda de heavy metal da qual ele gostava muito. Os anéis cortaram o lábio superior de Adrian e quebraram três dentes de cima perto da gengiva.
— Socorro! — gritou Hagarty. — Socorro! Socorro! Estão matando ele! Socorro!
Os prédios na rua Main continuaram escuros e secretos. Ninguém saiu para ajudar, nem da única ilha branca de luz que marcava a rodoviária, e Hagarty não via como isso era possível: havia pessoas lá. Ele as tinha visto quando passou com Ade. Será que ninguém sairia para ajudar? Ninguém?
— SOCORRO! SOCORRO! ESTÃO MATANDO ELE, SOCORRO, POR FAVOR, PELO AMOR DE DEUS!
— Socorro — sussurrou uma voz bem baixa à esquerda de Don Hagarty... e em seguida, uma risada.
— Expulsa o vagabundo! — Garton estava gritando agora... gritando e rindo. Todos os três, contou Hagarty a Gardener e Reeves, estavam rindo enquanto surravam Adrian. — Expulsa o vagabundo! Por cima da grade!
— Expulsa o vagabundo! Expulsa o vagabundo! Expulsa o vagabundo! — cantarolou Dubay, rindo.
— Socorro — disse a voz baixa de novo, e apesar de ser uma voz grave, a risadinha soou depois de novo, e era como a voz de uma criança que não consegue se controlar.
Hagarty olhou para baixo e viu o palhaço, e foi nesse ponto que Gardener e Reeves começaram a relevar tudo que Hagarty dizia, porque o resto era delírio de um lunático. No entanto, mais tarde, Harold Gardener se viu em dúvida. Depois, quando soube que o garoto Unwin também viu um palhaço, ou disse ter visto, ele começou a se questionar. O parceiro nunca teve dúvidas ou nunca admitiria.
Hagarty disse que o palhaço parecia um cruzamento entre Ronald McDonald e aquele velho palhaço da TV, o Bozo. Ou era o que ele pensou no princípio. Foram os tufos desgrenhados de cabelo que levaram essa comparação à mente. Mas considerações posteriores fizeram com que ele achasse que o palhaço não se parecesse nem com um, nem com outro. O sorriso pintado no rosto branco era vermelho, não laranja, e os olhos eram de um prateado cintilante estranho. Lentes de contato, talvez... Mas uma parte dele achou na hora e continuou a achar que talvez prateada fosse a verdadeira cor daqueles olhos. Ele usava uma roupa larga com grandes botões laranja em forma de pompom; nas mãos, havia luvas de desenho animado.
— Se você precisar de ajuda, Don — disse o palhaço —, pode pegar um balão.
E ofereceu vários que segurava na mão.
— Eles flutuam — disse o palhaço. — Aqui embaixo, todos nós flutuamos; em pouco tempo, seu amigo também vai flutuar.
— Esse palhaço chamou você pelo nome — disse Jeff Reeves com uma voz totalmente sem expressão. Ele olhou por cima da cabeça baixa de Hagarty para Harold Gardener, e um olho deu uma piscadela.
— Chamou — disse Hagarty sem levantar o olhar. — Sei como parece.
— Então vocês jogaram ele por cima — disse Boutillier. — Expulsa o vagabundo.
— Eu não! — disse Unwin, erguendo o olhar. Ele tirou o cabelo dos olhos com uma das mãos e olhou para eles com desespero. — Quando vi que eles realmente pretendiam fazer aquilo, tentei puxar Steve, porque eu sabia que o cara podia se machucar... Eram uns 3 metros até a água...
Eram 7. Um dos guardas do chefe Rademacher já tinha medido.
— Mas parecia que ele estava louco. Os dois ficavam gritando “Expulsa o vagabundo! Expulsa o vagabundo!”, e então pegaram ele. Webby segurou por debaixo dos braços e Steve pela parte de trás da calça, e... e...
Quando Hagarty viu o que eles estavam fazendo, correu na direção deles gritando “Não! Não! Não!” a plenos pulmões.
Chris Unwin o empurrou para trás; Hagarty caiu na calçada e bateu os dentes.
— Quer ir também? — sussurrou ele. — Corre, querido!
Eles jogaram Adrian Mellon da ponte na água. Hagarty ouviu o som dele caindo no rio.
— Vamos sair daqui — disse Steve Dubay. Ele e Webby estavam indo para o carro.
Chris Unwin foi até a amurada e olhou para baixo. Ele viu Hagarty primeiro, deslizando e se agarrando na grama da margem cheia de lixo para chegar até a água. E então, viu o palhaço. O palhaço estava arrastando Adrian do outro lado com um dos braços; os balões estavam na outra mão. Adrian estava encharcado, engasgado, gemendo. O palhaço girou a cabeça e sorriu para Chris. Chris disse que viu os olhos prateados brilhantes e os dentes à mostra, dentes grandes, disse ele.
— Como o leão do circo, cara — disse ele. — Eram mesmo enormes.
Ele disse que viu o palhaço enfiar um dos braços de Adrian Mellon para trás, para ficar por cima da cabeça.
— E depois, Chris? — disse Boutillier. Ele estava entediado com essa parte. Contos de fadas o entediavam desde os 8 anos.
— Sei lá — disse Chris. — Foi aí que Steve me agarrou e jogou no carro. Mas... acho que ele mordeu o sovaco dele. — Ele ergueu o olhar para eles agora, com incerteza. — Acho que foi isso que ele fez. Mordeu o sovaco dele. Como se quisesse comer ele, cara. Como se quisesse comer o coração dele.
Não, disse Hagarty quando ouviu a história de Chris Unwin na forma de perguntas. O palhaço não arrastou Ade na outra margem, ao menos não que ele tenha visto — e ele concordou que não era um observador indiferente àquelas alturas; ele já estava completamente enlouquecido.
O palhaço, disse ele, estava de pé perto da margem oposta com o corpo encharcado de Adrian nos braços. O braço direito de Ade estava esticado atrás da cabeça do palhaço, e o rosto do palhaço estava mesmo na axila direita de Ade, mas ele não estava mordendo. Estava sorrindo. Hagarty conseguiu vê-lo olhando por debaixo do braço de Ade e sorrindo.
Os braços do palhaço apertaram e Hagarty ouviu costelas se quebrarem.
Ade gritou.
— Flutue conosco, Don — disse o palhaço pela boca vermelha sorridente, e apontou com uma das mãos com luvas brancas para debaixo da ponte.
Balões flutuavam debaixo da ponte, não uma dezena ou uma dezena de dezenas, mas milhares, vermelhos e azuis e verdes e amarelos, e impresso em cada um havia EU ? DERRY!
— Bem, isso faz parecer que havia muitos balões — disse Reeves, e deu outra piscadela para Harold Gardener.
— Sei como parece — repetiu Hagarty com a mesma voz sombria.
— Você viu esses balões — disse Gardener.
Don Hagarty levantou as mãos lentamente na frente do rosto.
— Eu os vi tão claramente quanto consigo ver meus dedos neste momento. Milhares deles. Não dava nem pra ver a parte de baixo da ponte, porque eram muitos. Estavam tremendo um pouco, meio que balançando pra cima e pra baixo. Havia um som. Tipo um grito meio baixo e estranho. Eram as laterais deles se tocando. E fios. Havia uma floresta de fios brancos de teia de aranha. O palhaço levou Ade lá pra baixo. Consegui ver a roupa dele roçando nos fios. Ade estava fazendo terríveis sons de engasgo. Comecei a ir atrás dele... e o palhaço olhou pra trás. Vi os olhos dele e imediatamente entendi quem ele era.
— Quem era, Don? — perguntou Harold Gardener baixinho.
— Era Derry — disse Don Hagarty. — Era esta cidade.
— E o que você fez? — falou Reeves.
— Eu corri, seu burro — disse Hagarty, e caiu em lágrimas.
Harold Gardener ficou na dele até o dia 13 de novembro, a véspera do dia em que John Garton e Steven Dubay seriam julgados no Tribunal do Distrito de Derry pelo assassinato de Adrian Mellon. Ele procurou Tom Boutillier. Queria falar sobre o palhaço. Boutillier não queria, mas quando viu que Gardener poderia fazer alguma coisa idiota sem orientação, ele falou.
— Não tinha palhaço, Harold. Os únicos palhaços na rua aquela noite eram aqueles garotos. Você sabe disso tão bem quanto eu.
— Temos duas testemunhas...
— Ah, isso é besteira. Unwin decidiu incluir o Homem de Um Braço, no melhor estilo “nós não matamos o pobre veadinho, foi o homem de um braço” assim que entendeu que tinha se metido em confusão de verdade dessa vez. Hagarty estava histérico. Ele ficou de lado vendo os garotos matarem o melhor amigo dele. Não teria me surpreendido se tivesse visto discos voadores.
Mas Boutillier sabia que não era isso. Gardener conseguia ver nos olhos dele, e a atitude esquiva do promotor assistente o irritou.
— Para com isso — disse ele. — Estamos falando de testemunhas independentes aqui. Não me venha de merda.
— Ah, você quer falar de merda? Está me dizendo que acredita que havia um palhaço vampiro debaixo da ponte da rua Main? Porque essa é a minha ideia de merda.
— Não, não exatamente, mas...
— Ou que Hagarty viu um bilhão de balões lá embaixo, cada um com a mesma coisa que havia impressa no chapéu do amante dele? Porque isso também é minha ideia de merda.
— Não, mas...
— Então por que você está me incomodando com isso?
— Para de me interrogar! — gritou Gardener. — Os dois descreveram o mesmo e nenhum dos dois sabia o que o outro estava dizendo!
Boutillier estava sentado à mesa, brincando com um lápis. Agora ele colocou o lápis sobre a mesa, ficou de pé e andou até Harold Gardener. Boutillier era 12 centímetros mais baixo, mas Gardener deu um passo para trás frente à raiva do homem.
— Você quer que a gente perca esse caso, Harold?
— Não. É claro que n...
— Quer que essas pragas ambulantes fiquem livres?
— Não!
— Certo. Ótimo. Como nós dois concordamos com o básico, vou te dizer exatamente o que acho. Sim, devia haver um homem debaixo da ponte naquela noite. Talvez até estivesse usando uma roupa de palhaço, apesar de eu já ter lidado com testemunhas o suficiente pra saber que devia ser um vagabundo ou um passante usando um bando de roupas descartadas por outras pessoas. Acho que devia estar lá embaixo procurando moedas caídas ou restos de comida, metade de um hambúrguer que alguém jogou fora ou talvez o farelo do fundo de um pacote de salgadinho. Os olhos deles fizeram o resto, Harold. Isso é possível?
— Não sei — disse Harold. Ele queria ser convencido, mas considerando a correspondência exata das duas descrições... não. Ele não achava possível.
— A questão é a seguinte. Não ligo se era o Palhaço Kinko ou um cara de terno do tio Sam de muletas ou Hubert, o Homossexual Feliz. Se introduzirmos esse sujeito no caso, o advogado deles vai cair em cima disso antes de você conseguir dizer “Jack Robinson”. Ele vai dizer que os dois cordeirinhos inocentes com cabelos recém-cortados e roupas novas não fizeram nada além de jogar o cara gay chamado Mellon da ponte de brincadeira. Vai observar que Mellon ainda estava vivo depois que caiu; eles têm o testemunho de Hagarty assim como o de Unwin pra isso.
“Os clientes dele não cometeram assassinato, ah, não! Foi um psicopata de roupa de palhaço. Se introduzirmos isso, é o que vai acontecer e você sabe.”
— Unwin vai contar essa história de qualquer jeito.
— Mas Hagarty não — disse Boutillier. — Porque ele entende. Sem Hagarty, quem vai acreditar em Unwin?
— Bem, nós — disse Harold Gardener com uma amargura que surpreendeu até ele mesmo —, mas acho que nós não vamos contar.
— Ah, me dá um tempo! — rosnou Boutillier, levantando as mãos. — Eles mataram o cara! Não só jogaram ele da ponte. Garton tinha um canivete. Mellon foi esfaqueado sete vezes, inclusive uma vez no pulmão esquerdo e duas vezes nos testículos. Os ferimentos batem com a lâmina. Quatro das costelas dele foram quebradas. Dubay fez isso com o abraço de urso. Ele foi mesmo mordido. Havia mordidas nos braços, na bochecha esquerda, no pescoço. Acho que foram Unwin e Garton, apesar de só termos conseguido uma correspondência clara, e mesmo essa não deve estar clara o bastante pra ser usada no tribunal. Então, tudo bem, um pedaço de carne sumiu do sovaco dele, e daí? Um deles gostava mesmo de morder. Deve ter ficado até de pau duro quando estava fazendo isso. Aposto em Garton, apesar de jamais conseguirmos provar. E o lóbulo da orelha de Mellon sumiu.
Boutillier parou e olhou para Harold com raiva.
— Se permitirmos essa história de palhaço, nunca vamos conseguir mandar prender os três. Você quer isso?
— Não, já falei.
— O cara era fruta, mas não estava machucando ninguém — disse Boutillier. — E então, do nada, aparecem esses três babacas de botas de motoqueiro e roubam a vida dele. Vou colocar os três na cadeia, meu amigo, e se eu souber que os cuzinhos apertados deles foram arrombados em Thomaston, vou mandar cartões dizendo que espero que quem fez isso tenha aids.
Muito ardoroso, pensou Gardener. E as condenações também vão ficar muito bem no seu registro quando você concorrer à vaga principal em dois anos.
Mas ele foi embora sem dizer mais nada, porque também queria ver os três presos.
John Webber Garton foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado a dez a vinte anos na Prisão Estadual de Thomaston.
Steven Bishoff Dubay foi condenado por homicídio culposo em primeiro grau e sentenciado a 15 anos na Prisão Estadual de Shawshank.
Christopher Philip Unwin foi julgado separadamente como menor e condenado por homicídio culposo em segundo grau. Foi sentenciado a seis meses no Instituto de Treinamento para Garotos de South Windham, com liberdade condicional.
Na época em que este texto é escrito, as três sentenças estão em recurso; Garton e Dubay podem ser vistos em qualquer dia olhando garotas ou jogando moedas no Parque Bassey, não longe de onde o corpo desfigurado de Mellon foi encontrado flutuando contra um dos pilares da ponte da rua Main.
Don Hagarty e Chris Unwin saíram da cidade.
No julgamento principal, o de Garton e Dubay, ninguém mencionou um palhaço.
Seis telefonemas (1985)
Stanley Uris toma um banho
Patricia Uris contou mais tarde para a mãe que devia ter percebido que alguma coisa estava errada. Ela devia ter percebido porque Stanley nunca tomava banho de banheira no começo da noite. Tomava banho de chuveiro todas as manhãs e às vezes ficava na banheira tarde da noite (com uma revista em uma das mãos e uma cerveja gelada na outra), mas banhos de banheira às 19h não eram do estilo dele.
E havia a coisa com os livros. Devia tê-lo alegrado; mas, de alguma forma obscura que ela não entendia, pareceu tê-lo aborrecido e deprimido. Cerca de três meses antes daquela noite terrível, Stanley descobriu que um amigo de infância dele tinha virado escritor. Não escritor de verdade, contou Patricia para a mãe, mas romancista. O nome nos livros era William Denbrough, mas Stanley às vezes o chamava de Bill Gago. Ele leu quase todos os livros do sujeito; na verdade, estava lendo o último na noite do banho, a noite de 28 de maio de 1985. Patty mesma pegara para ler um dos primeiros, por pura curiosidade. Acabou parando depois de apenas três capítulos.
Não era apenas um romance, disse ela para a mãe mais tarde; era um livrodeterror. Ela falou dessa maneira, como se fosse uma palavra só, como teria dito livrodesexo. Patty era uma mulher doce e gentil, mas não muito articulada. Ela queria contar à mãe o quanto aquele livro a assustara e por que a incomodara, mas não conseguiu.
— Era cheio de monstros — disse ela. — Cheio de monstros atrás de criancinhas. Havia mortes e... não sei... sentimentos ruins e dor. Coisas assim. — Na verdade, ela o achou quase pornográfico; essa era a palavra que ficava escapando dela, provavelmente porque ela nunca a falou em toda a vida, embora soubesse o que significava. — Mas Stan parecia ter redescoberto um dos amiguinhos de infância... Ele falou em escrever pra ele, mas eu sabia que ele não ia... Eu sabia que aquelas histórias o faziam se sentir mal também... e... e...
E então, Patty Uris começou a chorar.
Naquela noite, faltando aproximadamente seis meses para completar 28 anos daquele dia em 1957 quando George Denbrough conheceu Pennywise, o Palhaço, Stanley e Patty estavam sentados na sala de TV da casa em que moravam em um subúrbio de Atlanta. A TV estava ligada. Patty estava sentada em um sofá de dois lugares na frente dela, dividindo a atenção entre a costura e seu game show favorito, Family Feud. Ela simplesmente amava Richard Dawson e achava o relógio de bolso que ele usava incrivelmente sexy, apesar de nada no mundo ser capaz de arrancar essa confissão dela. Ela também gostava do programa porque quase sempre sabia as respostas mais populares (não havia respostas certas em Family Feud, não exatamente; só as mais populares). Ela uma vez perguntou a Stan por que as que pareciam tão fáceis para ela costumavam ser tão difíceis para as famílias no programa.
— Deve ser bem mais difícil quando você está lá debaixo daquelas luzes — respondera Stanley, e pareceu a ela que uma sombra cruzou o rosto dele. — Tudo fica bem mais difícil quando é de verdade. É aí que você engasga. Quando é de verdade.
Devia ser bem verdade, decidiu ela. Stanley tinha percepções precisas sobre a natureza humana às vezes. Bem mais precisas, refletiu ela, do que seu velho amigo William Denbrough, que ficou rico escrevendo um bando de livros de terror que apelavam aos instintos mais primitivos das pessoas.
Não que os Uris estivessem mal de vida! O subúrbio onde eles moravam era bom, e a casa que compraram por 87 mil dólares em 1979 provavelmente valeria 165 mil com facilidade. Não que ela quisesse vender, mas era bom saber coisas assim. Ela às vezes voltava do Fox Run Mall de Volvo (Stanley tinha um Mercedes a diesel, e para provocá-lo, ela chamava de Sedanley) e via a casa, posicionada agradavelmente atrás de uma cerca baixa de teixos, e pensava: Quem mora aí? Ah, sou eu! A sra. Stanley Uris mora aí! Não era um pensamento completamente feliz; misturado a ele havia um orgulho tão feroz que às vezes a deixava meio enjoada. Antigamente, sabe, houve uma garota solitária de 18 anos chamada Patricia Blum que não pôde entrar na festa depois da formatura que aconteceu no country clube na cidade de Glointon, Nova York. A entrada foi negada porque o sobrenome dela rimava com pum. Essa era ela, só uma judiazinha magrela no ano de 1967, e uma discriminação assim era contra a lei, é claro, ha-ha, muito engraçado, e além do mais, era passado agora. Mas para uma parte dela, nunca seria passado. Parte dela sempre estaria voltando para o carro com Michael Rosenblatt, ouvindo o cascalho debaixo dos saltos e dos sapatos sociais alugados dele, para o carro do pai dele, que Michael pegara emprestado para aquela noite e que passara a tarde encerando. Parte dela sempre estaria andando ao lado de Michael com o paletó branco alugado. Como ele brilhava sob a noite suave de primavera! Ela estava usando um vestido de noite verde-claro que a mãe declarou que a fazia parecer uma sereia, e a ideia de uma sereia judia era bem engraçada, ha-ha. Eles andaram com as cabeças erguidas e ela não chorou, não naquele momento, mas entendera que eles não estavam andando de volta, não, não de verdade; o que eles estavam fazendo era escapar, que rima com enojar, os dois se sentindo mais judeus do que jamais sentiram na vida, sentindo-se como penhoristas, como passageiros de trem de carga, sentindo-se oleosos, de narizes longos, de pele amarelada; sentindo-se judeuzinhos mão de vaca; querendo sentir raiva e não conseguindo. A raiva só surgiu depois, quando não importava. Naquele momento, ela só conseguiu sentir vergonha, só conseguiu sofrer. E então, alguém rira. Uma gargalhada aguda e descontrolada como notas rápidas em um piano, e no carro ela conseguiu chorar, ah, pode apostar, aqui está a sereia judia cujo nome rima com pum chorando como louca. Mike Rosenblatt colocara a mão desajeitada e consoladora na nuca dela e ela se afastou, sentindo vergonha, sentindo-se suja, sentindo-se judia.
A casa posicionada com tanto bom gosto atrás da cerca viva melhorou isso... mas não completamente. A dor e a vergonha ainda estavam lá, e nem ser aceita neste bairro silencioso e rico conseguiu fazer a infinita caminhada com o som de pedras debaixo dos sapatos parar de acontecer. Nem o fato de eles serem membros deste country clube, onde o maître sempre os cumprimentava com um respeitoso “Boa noite, sr. e sra. Uris”. Ela voltava para casa, aninhada no Volvo 1984, e olhava para a casa posicionada no gramado verde, e com frequência (frequência demais, ela achava) pensava naquela risada aguda. E torcia para que a garota que rira estivesse morando em uma casa de loteamento de merda com um marido goy que batesse nela, que tivesse ficado grávida três vezes e tido três abortos, que o marido a traísse com mulheres com doenças, que ela tivesse hérnia de disco e pés chatos e cistos na língua suja que ri.
Ela se odiava por esses pensamentos, pensamentos não generosos, e prometia melhorar: parar de beber esses coquetéis amargos e cheios de ressentimento. Meses se passariam sem ela ter esses pensamentos. Ela pensava: Talvez finalmente tenha ficado para trás. Não sou mais aquela garota de 18 anos. Sou uma mulher de 36; a garota que ouviu o interminável clique das pedras da entrada, a garota que se afastou da mão de Mike Rosenblatt quando ele tentou consolá-la porque era uma mão judia, foi meia vida atrás. Aquela sereinha boba está morta. Posso esquecê-la agora e ser eu mesma. Certo. Bom. Ótimo. Mas então ela estaria em outro lugar, no supermercado, talvez, e ouvia uma risada aguda repentina no corredor ao lado e suas costas ficavam arrepiadas, os mamilos ficavam duros e doloridos, as mãos apertavam a barra do carrinho de compras ou uma à outra, e ela pensava: Alguém acabou de contar pra alguém que sou judia, que não sou nada além de uma nariguda mão de vaca, que Stanley não é nada além de um vagabundo mão de vaca, ele é contador, claro, judeus são bons com números, deixamos entrarem no country clube, tivemos que deixar, foi em 1981, quando aquele ginecologista narigudo judeu ganhou o processo, mas rimos deles, rimos e rimos e rimos. Ou ela apenas ouvia um clique fantasma e o barulho de cascalho e pensava: Sereia! Sereia!
Aí o ódio e a vergonha voltavam com tudo como uma enxaqueca, e ela entrava em desespero não apenas por ela mesma, mas por toda raça humana. Lobisomens. O livro de Denbrough, o que ela tentou ler e largou, era sobre lobisomens. Lobisomens, porra. O que um cara assim sabia sobre lobisomens?
Mas a maior parte do tempo ela se sentia melhor, sentia que estava melhor. Ela amava o marido, amava a casa e costumava conseguir amar a vida e a si mesma. As coisas estavam boas. Não foram sempre assim, é claro. E era possível? Quando ela aceitou o anel de noivado de Stanley, os pais ficaram zangados e infelizes. Ela o conhecera em uma festa de irmandade da faculdade. Ele foi da New York State University, onde tinha bolsa de estudos, até a faculdade dela. Foram apresentados por um amigo em comum, e quando a noite terminou, ela desconfiava que o amava. Nas férias de meio de semestre, ela tinha certeza. Quando a primavera chegou e Stanley ofereceu a ela um pequeno anel de diamante com uma margarida enfiada no meio, ela aceitou.
No final, apesar da oposição inicial, os pais acabaram aceitando. Não havia muito mais que eles pudessem fazer, embora Stanley Uris fosse se aventurar em um mercado de trabalho saturado de jovens contadores — e quando ele entrasse naquela selva, faria isso sem finanças familiares para impedi-lo, e com a única filha deles como a refém dele para a fortuna. Mas Patty tinha 22 anos, já uma mulher, e em pouco tempo se formaria na faculdade.
— Vou sustentar aquele filho da puta de quatro olhos pro resto da minha vida — Patty ouvira o pai dizer uma noite. A mãe e o pai tinham saído para jantar, e o pai tinha bebido um pouco demais.
— Shh, ela vai te ouvir — disse Ruth Blum.
Patty ficou acordada naquela noite até bem depois da meia-noite, com olhos secos, alternadamente com calor e com frio, odiando os dois. Passou os dois anos seguintes tentando se livrar desse ódio; já havia muito ódio dentro dela. Às vezes, quando se olhava no espelho, ela conseguia ver as coisas que o ódio estava fazendo com o rosto dela, as linhas finas que estava criando lá. Aquela foi uma batalha que ela venceu. Stanley a ajudou.
Os pais dele ficaram igualmente preocupados com o casamento. É claro que eles não acreditavam que Stanley estava destinado a uma vida de miséria e pobreza, mas achavam que “os jovens estavam sendo apressados”. Donald Uris e Andrea Bertoly tinham se casado com vinte e poucos anos, mas pareciam ter se esquecido do fato.
Só Stanley pareceu seguro, confiante no futuro, despreocupado com as armadilhas que os pais deles espalharam ao redor “dos jovens”. E no final, foi a confiança dele, e não os medos dos pais, que se justificou. Em julho de 1972, com a tinta ainda secando no diploma dela, Patty conseguiu um emprego para ensinar taquigrafia e inglês comercial em Traynor, uma pequena cidade 65 quilômetros ao sul de Atlanta. Quando ela pensava em como encontrou aquele emprego, sempre achava um pouco... bem, misterioso. Ela tinha feito uma lista de quarenta empregos possíveis a partir de anúncios nos periódicos de professores, depois escreveu quarenta cartas em cinco noites, oito em cada noite, pedindo mais informações sobre o emprego e um formulário de candidatura para cada um. Vinte e duas respostas indicaram que o cargo já tinha sido preenchido. Em outros casos, uma explicação mais detalhada das capacidades necessárias deixou claro que ela não podia concorrer; candidatar-se seria apenas um desperdício do tempo das duas partes. Ela terminou com 12 possibilidades. Cada uma parecia tão provável quanto qualquer outra. Stanley entrou enquanto ela estava confusa lendo cada uma e se perguntando se poderia preencher 12 fichas de emprego sem ficar completamente doida. Olhou para os papéis espalhados sobre a mesa e bateu com o dedo na carta da Traynor Superintendent of Schools, uma carta que não parecia nem mais nem menos encorajadora do que qualquer uma das outras.
— Esta — disse ele.
Ela ergueu o olhar, assustada pela simples certeza na voz dele.
— Você sabe alguma coisa sobre a Georgia que eu não sei?
— Não. A única vez que fui até lá foi no cinema.
Ela olhou para ele com a sobrancelha erguida.
— E o vento levou. Vivien Leigh. Clark Gable. “Vou pensar nisso amanhã, pois amanhã é um outro dia.” Eu falo com sotaque do sul, Patty?
— Sim. Do sul do Bronx. Se você não sabe nada sobre a Georgia e nunca foi lá, então por que...
— Porque é o certo.
— Você não pode saber disso, Stanley.
— Claro que posso — disse ele com simplicidade. — Eu sei.
Ao olhar para ele, ela viu que ele não estava brincando; realmente estava falando sério. Ela sentiu uma onda de desconforto subir pelas costas.
— Como você sabe?
Ele estava sorrindo um pouco. Agora o sorriso falhou, e por um momento ele pareceu intrigado. Seus olhos escureceram, como se ele estivesse olhando para dentro, consultando algum dispositivo interior que clicava e girava corretamente, mas que, no fundo, ele não entendia tanto quanto um homem comum entende como funciona o relógio que carrega no pulso.
— A tartaruga não pôde nos ajudar — disse ele de repente. Ele falou bem claramente. Ela ouviu. Aquele olhar para dentro, aquele olhar de reflexão surpresa, ainda estava no rosto dele, e começava a assustá-la.
— Stanley? De que você está falando? Stanley?
Ele tremeu. Ela estava comendo pêssegos enquanto olhava as fichas, e a mão dele bateu no prato, que caiu no chão e quebrou. Os olhos dele pareceram clarear.
— Ah, merda! Me desculpa.
— Está tudo bem. Stanley... de que você estava falando?
— Esqueci — disse ele. — Mas acho que devíamos pensar na Georgia, amorzinho.
— Mas...
— Confie em mim — disse ele, então ela confiou.
A entrevista foi excelente. Ela sabia que ganharia o emprego quando entrou no trem para voltar para Nova York. O chefe do departamento de Administração gostou de Patty imediatamente, e ela gostou dele; ela quase ouviu o clique. A carta de confirmação chegou uma semana depois. O departamento da Traynor Consolidated School podia oferecer a ela 9.200 dólares e um contrato de experiência.
— Você vai morrer de fome — disse Herbert Blum quando a filha contou que pretendia aceitar o emprego. — E vai morrer de calor enquanto morre de fome.
— Besteira, Scarlett — disse Stanley quando ela contou a ele o que o pai dissera. Ela ficou furiosa, quase chorou, mas agora começou a rir, e Stanley a tomou nos braços.
Eles passaram calor, mas não passaram fome. Casaram-se no dia 19 de agosto de 1972. Patty Uris foi para o leito de casamento ainda virgem. Entrou nua entre os lençóis frios em um hotel em Poconos, num estado de espírito turbulento e tempestuoso, com relâmpagos de desejo e deliciosa luxúria e nuvens negras de medo. Quando Stanley deitou na cama ao lado dela, coberto de músculos e com o pênis como um ponto de exclamação surgindo em meio a pelos pubianos castanho-avermelhados, ela sussurrou:
— Não me machuque, querido.
— Nunca vou te machucar — disse ele ao tomá-la nos braços, e foi uma promessa que ele manteve fielmente até o dia 28 de maio de 1985, a noite do banho de banheira.
As aulas dela foram bem. Stanley conseguiu um emprego para dirigir um caminhão de padaria por cem dólares por semana. Em novembro daquele ano, quando o Traynor Flats Shopping Center abriu, ele conseguiu um emprego no escritório da H & R Block lá por 150 dólares. A renda combinada dos dois era então de 17 mil dólares por ano, e parecia o resgate de um rei para eles naqueles dias em que o galão de gás custava 35 centavos e um pão branco custava dez centavos a menos do que isso. Em março de 1973, sem estardalhaço nenhum, Patty Uris jogou fora as pílulas anticoncepcionais.
Em 1975, Stanley saiu da H & R Block e foi trabalhar por conta própria. Os pais dos dois concordaram que foi uma atitude imprudente. Não que Stanley não devesse trabalhar por conta própria, imagine! Mas era cedo demais, todos concordavam, e iria sobrecarregar Patty pelo lado financeiro. (“Pelo menos até o zé-ninguém engravidá-la”, disse Herbert Blum para o irmão, com ressentimento depois de uma noite bebendo na cozinha, “e então quem vai ter que carregar os dois sou eu”.) O consenso de opinião dos pais sobre esse assunto era que um homem nem devia pensar em trabalhar por conta própria até ter chegado a uma idade mais serena e madura, como, digamos, 78 anos.
Mais uma vez, Stanley pareceu confiante de uma maneira quase sobrenatural. Era jovem, apresentável, inteligente, competente. Fizera contatos ao trabalhar para a Block. Todas essas coisas eram sabidas. Mas ele não tinha como saber que a Corridor Video (CV), uma pioneira no negócio recém-nascido de fitas de vídeo, estava prestes a se estabelecer em uma enorme área alugada a menos de 16 quilômetros do subúrbio para onde os Uris acabaram se mudando em 1979, nem tinha como saber que a Corridor estaria em busca de uma pesquisa independente de marketing em menos de um ano após a ida para Traynor. Mesmo que Stanley secretamente soubesse dessa informação, ele não poderia achar que dariam o trabalho para um judeu jovem de óculos que também era um maldito ianque, um judeu com sorriso fácil, um jeito meio gingado de andar, preferência por jeans com boca de sino nos dias de folga e os últimos traços de acne adolescente ainda no rosto. Mas deram. Deram, sim. E parecia que Stan sempre soubera.
O trabalho dele para a CV levou a uma proposta de emprego integral na empresa, com salário inicial de 30 mil dólares por ano.
— E isso é só o começo — contou Stanley para Patty na cama naquela noite. — Vão crescer como milho em agosto, querida. Se ninguém explodir o mundo nos próximos dez anos, eles vão chegar à grandeza de empresas como Kodak, Sony e RCA.
— E o que você vai fazer? — perguntou ela, já sabendo a resposta.
— Vou dizer que é um prazer trabalhar com eles — disse ele e riu; puxou-a para perto e beijou-a. Momentos depois, ele subiu em cima dela, e houve clímax, um, dois e três, como foguetes iluminados subindo no céu noturno... mas não houve bebê.
O trabalho dele com a Corridor Video o colocou em contato com alguns dos homens mais ricos e poderosos, e os dois ficaram atônitos ao descobrir que esses homens eram quase todos legais. Neles, eles encontraram um grande grau de aceitação e gentileza sem preconceitos que era quase desconhecido no norte. Patty lembrava-se de Stanley escrever uma vez para casa, para a mãe e o pai: Os melhores homens ricos dos Estados Unidos moram em Atlanta, Georgia, e vou ajudar a tornar alguns mais ricos; eles vão me fazer mais rico, e ninguém vai ser dono de mim, exceto minha esposa, Patricia, e como já sou dono dela, acho que isso é bem seguro.
Quando eles saíram de Traynor, Stanley já tinha empresa própria e empregava seis pessoas. Em 1983, a renda deles entrou em território desconhecido, território do qual Patty só tinha ouvido rumores. Era a famosa terra dos SEIS DÍGITOS. E tudo aconteceu com a tranquilidade casual de calçar um par de chinelos no sábado de manhã. Isso às vezes a assustava. Uma vez, ela fez uma piada constrangedora sobre fazer acordos com o diabo. Stanley riu até quase se engasgar, mas para ela não pareceu tão engraçado, e ela achava que nunca seria.
A tartaruga não pôde nos ajudar.
Às vezes, sem motivo nenhum, ela acordava com esse pensamento na cabeça como se fosse o último fragmento de um sonho esquecido, e ela se virava para Stanley, precisando tocar nele, precisando ter certeza de que ele ainda estava lá.
Era uma boa vida: não havia bebedeiras, nem sexo fora do casamento, nem drogas, nem tédio, nem discussões amargas sobre o que fazer depois. Só havia uma nuvem. Foi a mãe dela quem mencionou primeiro a presença dessa nuvem. Que a mãe dela tenha sido quem finalmente fez isso pareceu, em retrospecto, predeterminado. Surgiu como uma pergunta em uma das cartas de Ruth Blum. Ela escrevia para Patty uma vez por semana, e aquela carta em particular chegou no começo do outono de 1979. Chegou reenviada do antigo endereço de Traynor, e Patty a leu na sala de estar cheia de caixas de loja de bebida de onde saía tudo que eles tinham, com aparência abandonada, desabrigada e desapropriada.
De muitas formas, era a tradicional Carta de Ruth Blum vinda de Casa: quatro folhas azuis completamente preenchidas, cada uma com o cabeçalho UM BILHETE DE RUTH. A caligrafia dela era quase ilegível, e Stanley uma vez reclamou que não conseguia ler uma única palavra que a sogra escrevia.
— Por que você iria querer ler? — respondera Patty.
Esta estava cheia das novidades tradicionais da mãe; para Ruth Blum, a recordação era um delta amplo, que se abria do ponto móvel do agora em um leque cada vez mais largo de relacionamentos entrelaçados. Muitas das pessoas sobre quem a mãe escrevia estavam começando a desaparecer na memória de Patty como fotos em um álbum velho, mas para Ruth todas ainda estavam claras. As preocupações com a saúde delas e a curiosidade sobre as várias atitudes nunca pareciam diminuir, e seus prognósticos eram sempre horríveis. O pai ainda tinha muitas dores de estômago. Ele tinha certeza de que era apenas indigestão; a ideia de que podia ter uma úlcera, escreveu ela, não passaria pela mente dele até ele começar a tossir sangue, e talvez nem assim. Você conhece seu pai, querida: ele trabalha como uma mula, e às vezes também acha que é uma. Que Deus me perdoe por dizer isso. Randi Harlengen ligou as trompas, tiraram cistos do tamanho de bolas de golfe dos ovários dela, mas nenhum era maligno, graças a Deus, mas 27 cistos ovarianos podiam matar? Era a água de Nova York, ela tinha certeza. O ar da cidade também era sujo, mas ela estava convencida de que era a água que fazia isso com as pessoas depois de um tempo. Causava depósitos dentro da pessoa. Ela duvidava que Patty soubesse com que frequência ela agradecia a Deus por “vocês jovens” estarem no interior, onde o ar e a água, particularmente a água, eram mais saudáveis (para Ruth, todo o sul, incluindo Atlanta e Birmingham, era interior). Tia Margaret estava brigando com a companhia de luz de novo. Stella Flanagan tinha se casado de novo, algumas pessoas nunca aprendiam. Richie Huber fora despedido outra vez.
E no meio dessa conversa trivial e frequentemente ferina, no meio de um parágrafo, sem relação com nada dito antes ou que viesse depois, Ruth Blum casualmente fez a Temida Pergunta: “Quando você e Stan vão nos tornar avós? Estamos prontos para mimar a criança. E caso você não tenha reparado, Patsy, não estamos ficando mais jovens.” E ela seguiu para a garota Bruckner, do quarteirão, que tinha sido expulsa da faculdade porque não estava usando sutiã com uma blusa bem transparente.
Sentindo-se para baixo e com saudade da antiga casa em Traynor, insegura e com muito medo do que podia haver no futuro, Patty entrou no que se tornaria o quarto deles e se deitou sobre o colchão (a base da cama box ainda estava na garagem, e o colchão, sozinho no piso de carpete, parecia um artefato jogado em uma estranha praia amarela). Ela apoiou a cabeça nos braços e ficou deitada chorando por quase 20 minutos. Ela achava que o choro estava a caminho de qualquer jeito. A carta da mãe apenas trouxe o choro mais cedo, assim como a poeira acelera as cócegas no nariz e provoca o espirro.
Stanley queria filhos. Ela queria filhos. Eles eram tão compatíveis nesse aspecto quanto na apreciação aos filmes de Woody Allen, na frequência mediana à sinagoga, nas inclinações políticas, no desprezo à maconha e cem outras coisas, grandes e pequenas. Havia um quarto a mais na casa de Traynor, que eles dividiram igualmente ao meio. No lado esquerdo, ele tinha uma mesa de trabalho e uma poltrona de leitura; no lado direito, ela tinha uma máquina de costura e uma mesa em que montava quebra-cabeças. Havia um acordo tão forte entre eles em relação àquele quarto que eles raramente falavam; apenas existia, como os narizes deles ou as alianças nas mãos esquerdas. Algum dia aquele quarto seria de Andy ou de Jenny. Mas onde estava a criança? A máquina de costura e as cestas de tecido e a mesa de quebra-cabeça e a mesa de trabalho e a poltrona permaneceram no mesmo lugar, parecendo a cada mês se solidificarem na posição que ocupavam no quarto e a estabelecerem a legitimidade. Era o que ela pensava, embora nunca pudesse cristalizar o pensamento; como a palavra pornográfico, era um conceito que dançava além da capacidade dela de quantificar. Mas ela se lembrava de uma vez em que ficou menstruada, abriu o armário debaixo da pia do banheiro e pegou um absorvente; ela se lembrava de olhar para a caixa de absorventes Stayfree e pensar que a caixa parecia quase arrogante, parecia quase dizer: Oi, Patty! Nós somos seus filhos. Somos os únicos filhos que você vai ter, e estamos com fome. Nos alimente. Nos alimente de sangue.
Em 1976, três anos depois que ela jogou fora a última cartela de comprimidos Ovral, eles foram a um médico chamado Harkavay em Atlanta.
— Queremos saber se tem alguma coisa errada — disse Stanley —, e queremos saber se podemos fazer alguma coisa se houver.
Eles fizeram exames, que mostraram que o esperma de Stanley era saudável, que os óvulos de Patty eram férteis, que todos os canais que deviam estar abertos estavam abertos.
Harkavay, que não usava aliança e tinha o rosto aberto, agradável e ruborizado de um universitário que acabou de voltar de férias esquiando no Colorado, disse para eles que talvez fosse apenas nervosismo. Disse que problemas assim não eram incomuns. Disse que parecia haver uma correlação psicológica em casos assim que era de certas formas similar à impotência sexual: quanto mais você queria, menos conseguia. Eles teriam que relaxar. Tinham que, se pudessem, esquecer sobre procriação quando faziam sexo.
Stan estava rabugento no caminho para casa. Patty perguntou por quê.
— Nunca faço isso — disse ele.
— O quê?
— Penso em procriação durante.
Ela começou a rir, apesar de estar se sentindo um tanto solitária e assustada. E, naquela noite, deitados na cama, bem depois de ela achar que Stanley devia estar dormindo, ele a assustou ao falar no escuro. A voz dele estava sem emoção, mas também engasgada de lágrimas.
— Sou eu — disse ele. — É culpa minha.
Ela rolou para perto dele, tateando à sua procura, e o segurou.
— Não seja burro — disse ela.
Mas seu coração estava batendo rápido, rápido demais. Não era só por ele a ter assustado; parecia que ele tinha olhado a mente dela e lido uma convicção secreta que ela carregava lá, mas que não sabia até aquele minuto. Sem motivo nenhum, ela sentia, sabia que ele estava certo. Tinha alguma coisa errada, e não era ela. Era ele. Alguma coisa nele.
— Não seja bobo — sussurrou ela com firmeza contra o ombro dele. Ele estava suando um pouco, e ela ficou repentinamente ciente de que ele estava com medo. O medo saía dele em ondas frias; estar deitada nua com ele de repente foi como estar deitada nua na frente de uma geladeira aberta.
— Não sou bobo e não estou sendo burro — disse ele com aquela mesma voz, que era simultaneamente fria e tomada de emoção — e você sabe. Sou eu. Mas não sei por quê.
— Você não pode saber uma coisa assim. — A voz dela estava dura, repreensiva, a voz da mãe dela quando estava com medo. E enquanto o repreendia, um tremor percorreu o corpo dela, torcendo-o como um chicote. Stanley sentiu, e seus braços a apertaram.
— Às vezes — disse ele —, às vezes eu penso que sei por quê. Às vezes tenho um sonho, um sonho ruim, e acordo e penso: “Agora eu sei. Sei o que está errado.” Não só sobre você não engravidar, sobre tudo. Tudo que há de errado na minha vida.
— Stanley, não tem nada de errado na sua vida!
— Não estou falando de dentro — disse ele. — De dentro, está ótima. Estou falando de fora. Uma coisa que devia ter acabado e não acabou. Acordo desses sonhos e penso: “Toda minha agradável vida não foi nada além do olho de uma tempestade que não compreendo.” Sinto medo. Mas então apenas... desaparece. Como sonhos desaparecem.
Ela sabia que ele às vezes tinha sonhos agitados. Em algumas ocasiões, ele a acordara se debatendo e gemendo. Devia ter havido outras vezes em que ela continuou a dormir durante os interlúdios sombrios dele. Sempre que ela se dirigia a ele, perguntava, ele dizia a mesma coisa: Não consigo lembrar. E depois ele pegava os cigarros e fumava sentado na cama, esperando que o resíduo do sonho saísse pelos poros como suor ruim.
Nada de filhos. Na noite do dia 28 de maio de 1985, a noite do banho de banheira, os sogros dos dois ainda estavam esperando para serem avós. O quarto extra ainda era um quarto extra; os absorventes maxi e mini ainda ocupavam os lugares de sempre no armário debaixo da pia do banheiro; o chico ainda fazia sua visita mensal. A mãe dela, que estava ocupada demais com suas próprias coisas, mas não completamente alheia à dor da filha, parou de perguntar nas cartas e quando Stanley e Patty faziam as viagens bianuais para Nova York. Não havia mais comentários engraçados sobre eles estarem ou não tomando vitamina E. Stanley também tinha parado de falar em bebês, mas às vezes, quando ele não sabia que ela estava olhando, ela via uma sombra no rosto dele. Alguma sombra. Como se ele estivesse tentando desesperadamente se lembrar de alguma coisa.
Fora essa única nuvem, a vida deles era agradável o bastante até o telefone tocar no meio de Family Feud na noite do dia 28 de maio. Patty estava com seis das camisas de Stan, duas blusas dela, a caixa de costura e a caixa de botões; Stan estava com o novo livro de William Denbrough na mão, que nem tinha saído ainda em brochura. Havia um animal rosnando na capa desse livro. Atrás, havia um homem careca de óculos.
Stan estava sentado perto do telefone. Ele atendeu e disse:
— Alô. Residência da família Uris.
Ele ouviu, e um franzido surgiu entre as duas sobrancelhas.
— Quem você falou?
Patty sentiu um momento de medo. Mais tarde, a vergonha a faria mentir e dizer para os pais que ela sabia que alguma coisa estava errada assim que o telefone tocou, mas na realidade só houve aquele instante, aquele rápido desvio de olhar da costura. Mas talvez não houvesse mal nisso. Talvez os dois desconfiassem que alguma coisa aconteceria bem antes daquele telefonema, uma coisa que não combinava com a bela casa localizada atrás da cerca viva baixa, uma coisa tão natural que não precisava de muito reconhecimento... Aquele único instante intenso de medo, como o furo provocado por um furador de gelo rapidamente removido, foi o bastante.
É mamãe?, disse ela sem emitir som algum naquele instante, pensando que talvez o pai, dez quilos acima do peso e com tendência ao que ele chamava de “dor de barriga” desde os quarenta e poucos anos, tivesse tido um ataque cardíaco.
Stan balançou a cabeça para ela e sorriu um pouco por alguma coisa que a voz ao telefone estava dizendo.
— Você... você! Nossa, que loucura! Mike! Como voc...?
Ele ficou em silêncio de novo, escutando. Quando o sorriso sumiu, ela reconheceu (ou pensou ter reconhecido) a expressão analítica dele, a que dizia que alguém estava expondo um problema ou explicando uma mudança repentina em uma situação corrente ou contando para ele uma coisa estranha e interessante. Essa última situação devia ser o caso, concluiu ela. Um novo cliente? Um velho amigo? Talvez. Ela voltou a atenção para a TV, onde uma mulher estava passando os braços ao redor do pescoço de Richard Dawson e beijando-o loucamente. Ela achava que Richard Dawson devia ser beijado ainda mais do que a pedra da eloquência. Ela também achava que não se importaria de beijá-lo.
Quando começou a procurar um botão preto que combinasse com os da camisa jeans de Stanley, Patty ficou vagamente ciente de que a conversa estava percorrendo um caminho mais tranquilo: Stanley resmungava ocasionalmente, e uma vez perguntou:
— Tem certeza, Mike?
Por fim, após uma pausa bastante longa, ele disse:
— Tudo bem, eu entendo. Sim, eu... Sim. Sim, tudo. Entendi. Eu... O quê? Não, não posso prometer isso, mas vou pensar com carinho. Você sabe aquela... Ah? É mesmo? Bem, pode apostar! Claro que sim. Sim... claro... Obrigado. Sim. Tchau.
Ele desligou.
Patty olhou para ele e viu-o observando o nada acima da televisão. No programa, a plateia estava aplaudindo a família Ryan, que tinha acabado de marcar 280 pontos, a maior parte deles adivinhando que a pesquisa com a plateia daria a resposta “matemática” para a pergunta “Que matéria as pessoas vão dizer que o Junior mais odeia na escola?”. Os Ryan estavam dando pulos e gritando com alegria. Mas Stanley estava de testa franzida. Mais tarde ela contaria aos pais que achou que o rosto de Stanley estava meio sem cor, e achou mesmo, mas deixou de contar a eles que não deu atenção na hora e atribuiu ao abajur com cúpula de vidro verde.
— Quem era, Stan?
— Hummmm?
Ele olhou para ela. Ela achou que o olhar no rosto dele era de abstração delicada, talvez misturada com uma leve irritação. Só mais tarde, ao repassar a cena na mente uma vez atrás da outra, ela começou a acreditar que era a expressão de um homem que estava metodicamente se desligando da realidade, um fio de cada vez. O rosto de um homem que estava saindo da cruz para encarar a espada.
— Quem era ao telefone?
— Ninguém — disse ele. — Ninguém, de verdade. Acho que vou tomar um banho de banheira. — Ele ficou de pé.
— Às sete da noite?
Ele não respondeu, apenas saiu da sala. Ela podia ter perguntado se alguma coisa estava errada, podia até ter ido atrás dele e perguntado se ele estava com dor de barriga; ele era desinibido sexualmente, mas era estranhamente formal com outras coisas, e não seria nada estranho para ele dizer que ia tomar um banho quando na verdade só precisava eliminar algum alimento que não lhe caiu bem. Mas agora uma nova família, os Piscapo, estava sendo apresentada, e Patty sabia que Richard Dawson encontraria alguma coisa engraçada para dizer sobre aquele nome, e além do mais, ela estava tendo uma tremenda dificuldade para encontrar um botão preto, apesar de saber que havia um monte na caixa. Eles se escondiam, é claro; era a única explicação...
Assim, ela o deixou ir e não pensou nele de novo até os créditos, quando ergueu o olhar e viu a cadeira dele vazia. Ela tinha ouvido a água caindo na banheira do andar de cima e a ouviu sendo desligada cinco ou dez minutos depois... mas agora, ela se deu conta de que não ouviu a porta da geladeira sendo aberta e fechada, e isso significava que ele estava lá em cima sem uma lata de cerveja. Alguém tinha ligado e jogado um problema enorme no colo dele, e ela ofereceu alguma palavra de solidariedade? Não. Tentou fazer com que ele conversasse um pouco sobre o assunto? Não. Reparou que havia alguma coisa errada? Pela terceira vez, não. Tudo por causa do programa de TV idiota; ela nem podia botar a culpa nos botões, pois eles eram apenas uma desculpa.
Certo. Ela levaria uma lata de Dixie para ele e se sentaria ao lado da beirada da banheira, esfregaria as costas dele, bancaria a gueixa e lavaria o cabelo dele se ele quisesse, e descobriria qual era o problema... ou quem era o problema.
Ela pegou a lata de cerveja na geladeira e subiu. A primeira sensação de inquietação verdadeira surgiu quando ela viu que a porta do banheiro estava fechada. Não apenas encostada, mas bem fechada. Stanley nunca fechava a porta quando estava tomando banho de banheira. Era uma espécie de piada entre eles: a porta fechada significava que ele estava fazendo uma coisa que a mãe ensinara, a porta aberta significava que ele não teria problema em fazer uma coisa cujo ensinamento a mãe tinha apropriadamente deixado para outras.
Patty bateu na porta com as unhas, repentinamente ciente, ciente demais, do estalo reptiliano que elas faziam na madeira. E bater na porta do banheiro como uma estranha era uma coisa que ela nunca tinha feito antes na vida de casada, nem aqui, nem em nenhuma outra porta da casa.
A inquietação ficou de repente mais forte, e ela pensou no lago Carson, onde costumava nadar quando criança. No dia 1º de agosto, o lago ficava quente como uma banheira... mas então você encostava em um bolsão frio que provocava um arrepio de surpresa e deleite. Um minuto, você estava quente; no momento seguinte, parecia que a temperatura tinha despencado dez graus abaixo dos seus quadris. Exceto pelo deleite, era assim que ela se sentia agora, como se tivesse atingido um bolsão frio. Só que esse bolsão frio não ficava abaixo dos quadris dela, resfriando as longas pernas de adolescente nas profundezas negras do lago Carson.
Essa ficava ao redor do coração.
— Stanley? Stan?
Desta vez, ela fez mais do que bater com as unhas. Bateu com os nós dos dedos. Quando não houve resposta, ela bateu com o punho.
— Stanley?
O coração. O coração dela não estava mais no peito. Estava batendo na garganta, dificultando a respiração.
— Stanley!
No silêncio que seguiu o grito dela (e só o som dela gritando lá em cima, a menos de 10 metros do local onde colocava a cabeça para dormir todas as noites, a assustava ainda mais), ela ouviu um som que despertou o pânico das profundezas da mente como um hóspede não desejado. Um som tão pequeno, na verdade. Era só o som de água pingando. Plink... pausa. Plink... pausa. Plink... pausa. Plink...
Ela conseguia ver as gotas se formando na boca da torneira, ficando pesadas e gordas, engravidando e caindo: plink.
Apenas esse som. Nenhum outro. E ela teve uma certeza repentina e terrível de que tinha sido Stanley, não o pai dela, a ser fulminado com um ataque cardíaco esta noite.
Com um gemido, ela segurou a maçaneta de vidro entalhado e a girou. Mas a porta não se mexeu: estava trancada. E de repente três nuncas ocorreram a Patty Uris em sucessão: Stanley nunca tomava banho de banheira no começo da noite, Stanley nunca fechava a porta a não ser que estivesse usando o vaso sanitário e Stanley nunca trancara a porta para ela não entrar.
Seria possível, perguntou-se ela loucamente, se preparar para um ataque cardíaco?
Patty passou a língua nos lábios (produziu um som na cabeça dela como lixa deslizando em madeira) e chamou o nome dele de novo. Ainda não houve resposta além dos pingos regulares e deliberados da torneira. Ela olhou para baixo e viu que ainda estava com a lata de cerveja Dixie em uma das mãos. Olhou para ela com estupidez, com o coração disparado como um coelho na garganta; olhou para ela como se nunca tivesse visto uma lata de cerveja na vida antes daquele minuto. E realmente parecia que ela nunca tinha visto, ou pelo menos nunca uma assim, porque, quando ela piscou, seus olhos a transformaram em um fone, tão preto e ameaçador como uma cobra.
— Posso ajudar, senhora? Algum problema? — disse a cobra para ela. Patty bateu o telefone e deu um passo para trás, esfregando a mão que o segurava. Ela olhou ao redor e viu que estava de volta à sala de TV, e entendeu que o pânico que surgiu na frente da mente dela como um ladrão subindo silenciosamente um lance de escadas a tinha dominado. Agora ela conseguia se lembrar de ter derrubado a lata de cerveja em frente à porta do banheiro e descido a escada correndo, pensando vagamente: Isso tudo é um engano de algum tipo e vamos rir depois. Ele encheu a banheira e lembrou que não tinha cigarros e saiu pra comprar antes de tirar a roupa...
Sim. Só que ele já tinha trancado a porta do banheiro por dentro e, como era trabalho demais destrancar, apenas abriu a janela acima da banheira e desceu pela lateral da casa como uma mosca descendo uma parede. Sim, claro, sim...
O pânico estava crescendo na mente dela de novo. Era como um café preto e amargo ameaçando transbordar pela boca de uma xícara. Ela fechou os olhos e lutou contra. Ficou de pé, perfeitamente imóvel, como uma estátua pálida com pulsação batendo na garganta.
Agora ela conseguia se lembrar de correr de volta até lá, com os pés batendo nos degraus, de correr para o telefone, ah, sim, claro, mas para quem ela tinha pretendido ligar?
Loucamente, ela pensou: Eu ia ligar pra tartaruga, mas a tartaruga não pôde nos ajudar.
Não importava, de qualquer forma. Ela tinha chegado até o zero e devia ter dito alguma coisa não muito comum, porque a telefonista perguntou se ela tinha algum problema. Ela tinha, sim, mas como se contava para a voz sem rosto que Stanley tinha se trancado no banheiro e não atendia, que o som regular da água pingando na banheira estava matando o coração dela? Alguém tinha que ajudá-la. Alguém...
Ela colocou as costas da mão na boca e mordeu deliberadamente. Tentou pensar, tentou se forçar a pensar.
A chave extra. A chave extra no armário da cozinha.
Ela saiu andando, e um pé de chinelo chutou o saco de botões ao lado da poltrona. Alguns dos botões caíram no chão, brilhando como olhos vidrados à luz do abajur. Ela viu pelo menos seis pretos.
Por dentro da porta do armário acima da pia com duas cubas havia um quadro de madeira envernizada com formato de chave. Um dos clientes de Stan tinha feito em sua oficina e deu para ele dois Natais antes. O quadro de chave era cheio de pequenos ganchos, e penduradas neles estavam todas as chaves da casa, duas duplicatas em cada gancho. Abaixo de cada gancho havia uma tira adesiva, e cada tira estava marcada com a letra pequena e caprichada de Stan: GARAGEM, SÓTÃO, BANHEIRO DE BX, BANHEIRO DE CIMA, PORTA DA FRENTE, PORTA DOS FUNDOS. Em um lado estavam as duplicatas das chaves dos carros com os adesivos M-B e VOLVO.
Patty pegou a chave com o adesivo BANHEIRO DE CIMA, começou a correr para a escada e se obrigou a andar. Correr fazia o pânico querer voltar, e o pânico já estava perto demais da superfície naquele momento. Além disso, se ela apenas andasse, talvez nada estivesse errado. Ou, se houvesse alguma coisa errada, Deus podia olhar para baixo, vê-la andando e pensar: Ah, que bom, foi um tremendo erro, mas tenho tempo de corrigir.
Andando com a tranquilidade de uma mulher a caminho da reunião do Clube do Livro, ela subiu a escada e foi até a porta fechada do banheiro.
— Stanley? — chamou ela, tentando abrir a porta de novo ao mesmo tempo, de repente com mais medo do que nunca, sem querer usar a chave porque ter que usar a chave era de alguma forma definitivo demais. Se Deus não tivesse desfeito quando ela usasse a chave, então jamais desfaria. A era dos milagres, afinal, já tinha acabado.
Mas a porta ainda estava trancada; o deliberado plink... pausa da água pingando era a única resposta.
Sua mão estava tremendo, e a chave bateu por toda a área ao redor antes de encontrar o caminho do buraco da fechadura e se alojar. Ela a girou e ouviu a tranca estalar. Esticou a mão desajeitada para a maçaneta de vidro entalhado. Tentou deslizar pela mão dela de novo, não porque a porta estava trancada desta vez, mas porque a palma da mão estava molhada de suor. Ela firmou o toque e a fez girar. Abriu a porta.
— Stanley? Stanley? St...
Ela olhou para a banheira com a cortina azul encolhida na extremidade da vara de aço inoxidável e esqueceu como terminar o nome do marido. Ela apenas olhou para a banheira, com o rosto tão solene quanto o rosto de uma criança no primeiro dia de aula. Em um momento ela começaria a gritar, e Anita MacKenzie da casa ao lado a ouviria, e seria Anita MacKenzie quem chamaria a polícia, convencida de que alguém tinha invadido a casa dos Uris e de que havia pessoas sendo mortas lá.
Mas naquele momento, naquele único momento, Patty Uris simplesmente ficou em silêncio com as mãos unidas na frente da saia escura de algodão, com o rosto solene e os olhos enormes. E agora, o olhar de seriedade quase sagrada começou a se transformar em outra coisa. Os olhos enormes começaram a saltar. A boca se repuxou em um sorriso terrível de horror. Ela queria gritar, mas não conseguia. Os gritos eram grandes demais para sair.
O banheiro era iluminado por lâmpadas fluorescentes. Estava muito claro. Não havia sombras. Dava para ver tudo, quer você quisesse, quer não. A água na banheira estava cor-de-rosa vívida. Stanley estava deitado com as costas apoiadas na banheira. Tinha inclinado a cabeça tão para trás que algumas pontas do cabelo preto e curto encostavam na pele entre as omoplatas. Se os olhos arregalados ainda fossem capazes de ver, ela estaria de cabeça para baixo para ele. A boca estava aberta como uma porta escancarada. A expressão era de pavor abismal e congelado. Um pacote de lâminas Gilette Platinum Plus estava sobre a beirada da banheira. Ele tinha cortado a parte interna dos antebraços do pulso até a altura do cotovelo, e fez outro corte perpendicular a cada um na altura do pulso, criando um par de tês maiúsculos. Os cortes brilhavam vermelho-arroxeados na luz branca e forte. Ela pensou que os tendões e ligamentos expostos pareciam cortes de carne barata.
Uma gota de água se formou na boca da torneira cromada reluzente. Engordou. Engravidou, podia-se dizer. Cintilou. Caiu. Plink.
Ele tinha mergulhado o indicador direito no próprio sangue e escrito uma única palavra nos azulejos azuis acima da banheira, cinco letras trêmulas. Uma marca de dedo ziguezagueante descia abaixo da última letra da palavra. O dedo dele tinha feito a marca, ela viu, quando a mão caiu na banheira, onde agora flutuava. Ela pensou que Stanley devia ter feito aquela marca, sua impressão final no mundo, quando perdeu a consciência. Parecia gritar para ela:
Outra gota caiu na banheira.
Plink.
Isso foi o gatilho. Patty Uris finalmente encontrou a voz. Olhando nos olhos mortos e cintilantes do marido, ela começou a gritar.
Richard Tozier toma chá de sumiço
Rich achou que estava indo muito bem até os vômitos começarem.
Ele ouviu tudo que Mike Hanlon contou a ele, disse todas as coisas certas, respondeu as perguntas, até fez algumas também. Ficou vagamente ciente de que estava usando uma de suas Vozes — não uma estranha e escandalosa, como as que às vezes usava no rádio (Kinky Briefcase, o Contador Sexual, era a favorita dele, pelo menos por enquanto, e as reações positivas de ouvintes a Kinky eram quase tantas quantas as do favorito de todos os tempos dos ouvintes, o coronel Buford Kissdrivel), mas uma Voz calorosa, intensa, confiante. Uma Voz de Estou-Bem. Causava uma ótima impressão, mas era mentira. Assim como as outras Vozes eram mentira.
— O quanto você lembra, Rich? — perguntou Mike.
— Muito pouco — disse Rich e fez uma pausa. — O suficiente, eu acho.
— Você vem?
— Vou — disse Rich e desligou.
Ele ficou sentado um minuto no escritório, recostado na cadeira atrás da mesa, olhando para o oceano Pacífico. Havia dois garotos à esquerda, deslizando em pranchas de surf, não exatamente surfando. Não havia ondas para surfe.
O relógio sobre a mesa, um modelo caro de quartzo com mostrador LED que fora presente do representante de uma gravadora, dizia que eram 17h09 do dia 28 de maio de 1985. É claro que eram horas mais tarde no local de onde Mike estava ligando. Escuro, até. Ele sentiu um arrepio ao pensar nisso e começou a se mexer, a fazer coisas. Primeiro, é claro, colocou um disco, sem procurar, apenas pegando cegamente em meio aos milhares sobre as prateleiras. O rock-and-roll era quase tão parte da vida dele quanto as Vozes, e era difícil para ele fazer qualquer coisa sem música tocando, e quanto mais alto, melhor. O disco que ele pegou era uma retrospectiva da Motown. Marvin Gaye, um dos membros mais novos do que Rich às vezes chamava de Banda Toda Morta, começou a cantar “I Heard It Through the Grapevine”.
“Oooh-hoo, I bet you’re wond’rin’ how I knew...”
— Nada mau — disse Rich. Ele até sorriu um pouco. Isso era ruim, e ele admitia que o tinha deixado desnorteado, mas ele sentia que ia conseguir encarar. Sem estresse.
Ele começou a se aprontar para voltar para casa. E em determinado ponto durante a hora seguinte, ocorreu a ele que era como se ele tivesse morrido e tido permissão de cuidar dos últimos compromissos de trabalho... assim como o planejamento do próprio enterro. E sentia que estava se saindo bem. Tentou a agente de viagens que usava, achando que ela devia estar na estrada a caminho de casa a essas alturas, mas arriscou mesmo assim. Por sorte, ela ainda estava na agência. Ele disse a ela o que queria, e ela pediu 15 minutos.
— Te devo uma, Carol — disse ele. Eles tinham progredido de sr. Tozier e sra. Feeny para Rich e Carol ao longo dos últimos três anos, o que era muita intimidade, considerando que nunca tinham se encontrado.
— Tudo bem, pode pagar — disse ela. — Pode fazer Kinky Briefcase pra mim?
Sem nem fazer uma pausa (se você precisasse fazer pausa para encontrar sua Voz, costumava não haver Voz para ser encontrada), Rich disse:
— Kinky Briefcase, Contador Sexual aqui. Um amigo veio aqui outro dia querendo saber qual era a pior coisa de pegar aids. — O tom de voz dele tinha baixado ligeiramente; ao mesmo tempo, o ritmo aumentou e ficou mais alegre. Era claramente uma voz americana, mas de alguma forma conjurava imagens de um rapaz colonial britânico rico que era tão charmoso de uma maneira confusa quanto era mimado. Rich não fazia a menor ideia de quem Kinky Briefcase realmente era, mas tinha certeza de que sempre usava ternos brancos, lia a revista Esquire e bebia coisas que vinham em copos altos e tinham cheiro de xampu de coco. — Falei imediatamente: tentar explicar pra sua mãe que você pegou de uma garota haitiana. Até a próxima, aqui é Kinky Briefcase, Contador Sexual, lembrando: “Você precisa do meu cartão se não consegue uma ereção.”
Carol Feeny gritou de tanto rir.
— Isso é perfeito! Perfeito! Meu namorado diz que não acredita que você consegue simplesmente fazer essas vozes, diz que tem que ser um mecanismo de filtro de voz ou coisa do tipo...
— Apenas talento, minha querida — disse Rich. Kinky Briefcase sumira. W. C. Fields, de cartola, nariz vermelho, bolsas de golfe e tudo, estava aqui. — Tenho tanto talento que preciso tapar todos os meus orifícios corporais apenas para impedir que vaze como... bem, apenas que vaze.
Ela teve outro acesso barulhento de gargalhadas e Rich fechou os olhos. Conseguia sentir o princípio de uma dor de cabeça.
— Seja boazinha e veja o que pode fazer, tá? — pediu ele, ainda sendo W. C. Fields, e desligou no meio da risada dela.
Agora ele tinha que voltar a ser ele mesmo, e era difícil. Ficava mais difícil fazer isso a cada ano. Era mais fácil ser corajoso quando você era outra pessoa.
Ele estava tentando escolher um par de bons sapatos e tinha praticamente decidido ficar de tênis quando o telefone tocou de novo. Era Carol Feeny em tempo recorde. Ele sentiu uma vontade momentânea de usar a Voz Buford Kissdrivel, mas lutou contra. Ela conseguiu arrumar para ele um assento na primeira classe no voo noturno sem escalas da American Airlines de Los Angeles para Boston. Ele sairia de L. A. às 21h03 e chegaria a Logan cerca de 5h da manhã de amanhã. A Delta o levaria de Boston às 7h30 até Bangor, Maine, chegando às 8h20. Ela conseguira um sedã para ele na Avis, e eram apenas 40 quilômetros do balcão da Avis no aeroporto internacional de Bangor até a fronteira de Derry.
Apenas 40 quilômetros?, pensou Rich. Isso é tudo, Carol? Bem, talvez seja, pelo menos em quilômetros. Mas você não faz a menor ideia da distância verdadeira até Derry, nem eu. Mas, ah, Deus, ah, meu querido Deus, vou descobrir.
— Não procurei um quarto de hotel porque você não me disse quanto tempo vai ficar lá — disse ela. — Você quer...?
— Não, deixa que eu cuido disso — disse Rich, e então Buford Kissdrivel assumiu. — Você foi um anjo, minha querida. Um anjo dos céééus.
Ele desligou delicadamente na cara dela (sempre os deixe rindo) e ligou para 207-555-1212 para obter o auxílio à lista do estado do Maine. Queria o número do Derry Town House. Deus, aí estava um nome do passado. Ele não pensava no Derry Town House havia... o quê? Dez anos? Vinte? Vinte e cinco anos, até? Por mais louco que pudesse parecer, ele achava que havia pelo menos 25 anos, e se Mike não tivesse ligado, ele achava que poderia não ter voltado a pensar nele durante o resto da vida. Mas houve uma época na vida dele em que ele passara por aquela pilha enorme de tijolos vermelhos todos os dias, e em mais de uma ocasião ele passara correndo, com Henry Bowers e Arroto Huggins e aquele outro garoto grande, Victor Fulano de Tal, correndo atrás, todos gritando amabilidades como Vamos te pegar, cara de cu! Vamos te pegar, espertinho! Vamos te pegar, veado quatro olhos! Algum dia eles o pegaram?
Antes que Richie conseguisse lembrar, uma telefonista estava perguntando que cidade, por favor.
— Em Derry, telefonista...
Derry! Deus! Até a palavra soava estranha e esquecida nos lábios dele; dizê-la era como beijar uma antiguidade.
— ... você tem o número do Derry Town House?
— Um momento, senhor.
De jeito nenhum. Ele não vai existir mais. Foi derrubado em um programa de reforma urbana. Transformado em um Elk’s Hall ou um boliche ou um fliperama Electric Dreamscape. Ou talvez tenha pegado fogo uma noite quando a sorte finalmente acabou para algum vendedor de sapatos bêbado que fumou na cama. Tudo já era, Richie, assim como os óculos pelos quais Henry Bowers sempre implicava com você. O que diz aquela música de Springsteen? Dias de glória... somem no piscar dos olhos de uma jovem. Que jovem? Ah, Bev, é claro. Bev...
O Town House podia estar mudado, mas aparentemente não tinha deixado de existir, porque uma voz monótona e robótica agora entrou na linha e disse:
— O... número... é... nove... quatro... um... oito... dois... oito... dois. Repetindo:... o... número... é...
Mas Rich anotou da primeira vez. Era um prazer desligar na cara daquela voz monótona. Era fácil demais imaginar um enorme monstro globular do auxílio à lista enterrado em algum lugar, suando rios e segurando milhares de telefones em milhares de tentáculos articulados cromados, a versão Ma Bell do inimigo do Aranha, o dr. Octopus. Cada ano o mundo em que Rich vivia parecia mais e mais uma enorme casa assombrada eletrônica na qual fantasmas digitais e seres humanos assustados viviam em coexistência desconfortável.
Ainda de pé. Parafraseando Paul Simon, ainda de pé depois de todos esses anos.
Ele ligou para o hotel que tinha visto pela última vez por entre os aros de chifre que usara na infância. Ligar para aquele número, 1-207-941-8282, foi fatalmente fácil. Ele segurou o telefone ao lado do ouvido enquanto olhava pelo janelão do escritório. Os surfistas tinham sumido; um casal estava andando lentamente pela praia, de mãos dadas, no ponto em que eles estavam antes. O casal poderia ser um pôster na parede da agência de viagens onde Carol Feeny trabalhava de tão perfeito que era. Exceto pelo fato de que os dois usavam óculos.
Vamos te pegar, cara de cu! Vamos quebrar seus óculos!
Criss surgiu abruptamente em sua mente. O sobrenome dele era Criss. Victor Criss.
Ah, Deus, isso não era nada que ele quisesse saber, não a essas alturas, mas não pareceu importar em nada. Alguma coisa estava acontecendo lá embaixo nas catacumbas, lá onde Rich Tozier guardava sua coleção pessoal de discos antigos. Portas estavam se abrindo.
Só que não são discos lá embaixo, são? Lá embaixo você não é Rich “Discos” Tozier, o DJ fera da KLAD e Homem das Mil Vozes, é? E essas coisas que estão se abrindo... elas não são exatamente portas, são?
Ele tentou afastar esses pensamentos.
A coisa a lembrar é que estou bem. Estou bem, você está bem, Rich Tozier está bem. Um cigarro cairia bem, só isso.
Ele tinha parado de fumar quatro anos antes, mas um cigarro cairia bem mesmo agora.
Não são discos, mas cadáveres. Você os enterrou fundo, mas agora tem uma espécie de terremoto maluco acontecendo e o chão está cuspindo todos para cima da superfície. Você não é Rich “Discos” Tozier lá embaixo; lá embaixo, você é apenas Rich “Quatro Olhos” Tozier e está com seus amigos e está com tanto medo que parece que suas bolas estão virando geleia de uva. Não são portas, e elas não estão se abrindo. São criptas, Richie. Estão se abrindo lentamente e os vampiros que você achava que estavam mortos estão todos voltando a sair.
Um cigarro, apenas um. Até um Carlton serviria, por Deus amado.
Vamos te pegar, quatro olhos! Vamos te fazer comer essa porra de mochila!
— Town House — disse uma voz masculina com sotaque ianque; ela viajara por toda Nova Inglaterra, pelo Meio-Oeste e por baixo dos cassinos de Las Vegas para chegar ao ouvido dele.
Rich perguntou à voz se podia reservar uma suíte no Town House a partir do dia seguinte. A voz disse para ele que sim e perguntou por quanto tempo.
— Não sei dizer. Eu tenho... — Ele fez uma breve pausa.
O que ele tinha exatamente? Em sua mente, viu um garoto com mochila xadrez correndo dos valentões; viu um garoto que usava óculos, um garoto magro com rosto pálido que de alguma forma parecia gritar Me bate! Vem me bater! de alguma forma misteriosa para todo valentão que passava. Aqui estão meus lábios! Esmaga eles contra meus dentes! Aqui está meu nariz! Faz ele sangrar e quebra se conseguir! Bate numa orelha pra que inche como uma couve-flor! Abre um supercílio! Aqui está meu queixo, acerta em cheio! Aqui estão meus olhos, tão azuis e tão ampliados por trás desses óculos tão detestáveis, esses óculos com aro de osso com um lado preso com fita adesiva. Quebra os óculos! Enfia um estilhaço de vidro em um desses olhos e fecha ele pra sempre! Que porra!
Ele fechou os olhos e disse:
— Tenho negócios em Derry, sabe. Não sei quanto tempo a transação vai demorar. Que tal três dias, com opção de prorrogar?
— Opção de prorrogar? — perguntou o recepcionista em dúvida, e Rich esperou pacientemente que o sujeito refletisse. — Ah, entendi! Tudo bem!
— Obrigado, e eu... ah... espero que você vote em nós em novembro — disse John F. Kennedy. — Jackie quer... ah... reformar o... ah... Salão Oval, e tenho um trabalho pronto pro meu... ah... irmão Bobby.
— Sr. Tozier?
— Sim.
— Certo... outra pessoa entrou na linha por alguns segundos.
Só um velho amigo do V. P. D., pensou Rich. Quer dizer Velho Partido Morto, caso você queira saber. Não se preocupe. Um tremor o percorreu, e ele disse para si mesmo quase com desespero: Você está bem, Rich.
— Também ouvi — disse Rich. — Deve ter sido linha cruzada. Como estamos com relação ao quarto?
— Ah, não tem problema nenhum — disse o recepcionista. — Temos movimento em Derry, mas nunca ficamos lotados.
— É mesmo?
— Ai, é — concordou o recepcionista, e Rich tremeu de novo. Ele tinha se esquecido disso também, desse jeito simples da Nova Inglaterra de dizer sim. Ai, é.
Vamos te pegar, fedelho!, a voz fantasmagórica de Henry Bowers gritou, e ele sentiu mais criptas se abrindo dentro de si; o fedor que sentia não era de corpos em decomposição, mas sim de lembranças em decomposição, e isso era pior de alguma forma.
Ele deu o número do American Express para o recepcionista do Town House e desligou. Em seguida, ligou para Steve Covall, diretor de programação da KLAD.
— O que está rolando, Rich? — perguntou Steve. As últimas avaliações de popularidade tinham mostrado a KLAD no topo do mercado canibal de rádios de rock FM de Los Angeles, e desde então Steve estava com excelente humor, graças a Deus.
— Bem, você talvez lamente a pergunta — disse ele para Steve. — Estou tomando chá de sumiço.
— Tomando... — Ele conseguiu ouvir a dúvida na voz de Steve. — Acho que não entendi, Rich.
— Tenho que calçar os tênis de caminhada. Vou viajar.
— O que você quer dizer com vai viajar? De acordo com a programação que está na minha frente, você entra no ar amanhã das duas da tarde até as seis, como sempre. Na verdade, você vai entrevistar Clarence Clemons no estúdio às quatro. Você conhece Clarence Clemons, Rich? De “Venha soprar, Big Man”?
— Clemons pode conversar com Mike O’Hara do mesmo jeito que pode conversar comigo.
— Clarence não quer conversar com Mike, Rich. Clarence não quer conversar com Bobby Russell. Não quer conversar comigo. Clarence é fã de Buford Kissdrivel e Wyatt, o Ensacador Homicida. Ele quer falar com você, meu amigo. E não tenho interesse em ter um saxofonista de 110 quilos puto da vida com sede de sangue e que já quase foi escolhido pra jogar futebol americano profissional no meu estúdio.
— Acho que ele não tem histórico de sede de sangue — disse Rich. — Afinal, estamos falando de Clarence Clemons, não de Keith Moon.
Fez-se silêncio na linha. Rich esperou pacientemente.
— Você não está falando sério, está? — perguntou Steve por fim. Parecia implorar. — A não ser que sua mãe tenha acabado de morrer ou você esteja com um tumor cerebral, isso se chama deixar na mão.
— Tenho que ir, Steve.
— Sua mãe está doente? Que Deus não permita, mas ela morreu?
— Ela morreu dez anos atrás.
— Você está com um tumor no cérebro?
— Não tenho nem um pólipo retal.
— Não é engraçado, Rich.
— Não.
— Você está sendo um babaca e não estou gostando nada disso.
— Também não gosto, mas tenho que ir.
— Pra onde? Por quê? O que está acontecendo? Fala comigo, Rich!
— Uma pessoa me ligou. Uma pessoa que conheci há muito tempo. Em outro lugar. Naquela época, aconteceu uma coisa. Fiz uma promessa. Todos prometemos que voltaríamos se essa coisa voltasse a acontecer. E acho que voltou.
— De que coisa estamos falando, Rich?
— Eu preferia não dizer ainda. — Além do mais, você vai achar que estou louco se eu disser a verdade: não lembro.
— Quando você fez essa famosa promessa?
— Muito tempo atrás. No verão de 1958.
Houve outra longa pausa, e ele sabia que Steve Covall estava tentando decidir se Rich “Discos” Tozier, também conhecido como Buford Kissdrivel, também conhecido como Wyatt, o Ensacador Homicida etc. etc. estava tirando sarro dele ou tendo algum tipo de colapso mental.
— Você era só uma criança — disse Steve friamente.
— Tinha 11 anos. Quase 12.
Outra longa pausa. Rich esperou pacientemente.
— Tudo bem — disse Steve. — Vou mudar os turnos e colocar Mike no seu lugar. Posso ligar pra Chuck Foster pra cobrir alguns horários, eu acho, se conseguir descobrir em qual restaurante chinês ele está enfiado agora. Vou fazer isso porque temos uma longa história juntos. Mas nunca vou esquecer que você me deixou na mão, Rich.
— Ah, corta essa — disse Rich, mas a dor de cabeça estava piorando. Ele sabia o que estava fazendo; será que Steve achava mesmo que não? — Preciso de uns dias de folga, só isso. Você está agindo como se eu tivesse cagado no alvará da Comissão Federal de Comunicações.
— Alguns dias de folga pra quê? A reunião do seu grupo de escoteiros de Merdolândia, Dakota do Norte, ou Bocetópolis, Virgínia Ocidental?
— Na verdade, acho que Merdolândia fica no Arkansas, camarada — disse Buford Kissdrivel com sua voz alta e estrondosa, mas Steve não ia se deixar distrair.
— Porque você fez uma promessa quando tinha 11 anos? Crianças não fazem promessas sérias aos 11 anos, pelo amor de Deus! E nem é isso, Rich, e você sabe. Isso aqui não é uma empresa de seguros; não é um escritório de advocacia. É show-business, por mais humilde que seja, e você sabe muito bem disso. Se você tivesse me avisado uma semana antes, eu não estaria com esse telefone em uma das mãos e uma garrafa de Mylanta na outra. Você está colocando minhas bolas na linha de fogo e sabe bem disso, então não insulte minha inteligência!
Steve estava quase gritando agora, e Rich fechou os olhos. Nunca vou esquecer, Steve disse, e Rich supunha que não esqueceria mesmo. Mas Steve também disse que crianças não faziam promessas sérias aos 11 anos, e isso não era nem um pouco verdade. Rich não conseguia lembrar qual tinha sido a promessa, não sabia se queria lembrar, mas tinha sido bem séria.
— Steve, eu tenho que ir.
— É. E falei pra você que posso resolver. Então vai em frente. Vai em frente, me deixa na mão.
— Steve, isso é rid...
Mas Steve já tinha desligado. Rich colocou o fone no gancho. Ele mal tinha começado a se afastar quando o aparelho voltou a tocar, e ele sabia antes de atender que era Steve de novo, mais furioso do que nunca. Falar com ele nesse momento não faria bem nenhum; as coisas só ficariam mais feias. Ele deslizou o botão na lateral do telefone para a direita, cortando o toque no meio.
Ele subiu a escada, tirou duas malas do armário e as encheu com um amontoado de roupas para as quais mal olhou: calças jeans, camisas, cuecas, meias. Só ocorreria a ele bem mais tarde que ele só levou roupas no estilo de criança. Ele levou as duas malas para baixo.
Na parede da sala de TV havia uma fotografia em preto e branco de Big Sur tirada por Ansel Adams. Rich a puxou como uma porta presa por dobradiças escondidas e revelou um cofre de parede. Ele o abriu e enfiou a mão para trás da papelada: da casa, localizada agradavelmente entre a falha geológica e a zona de incêndios florestais, de 20 acres de floresta madeireira em Idaho, algumas ações. Ele comprou as ações aparentemente de forma aleatória (quando seu corretor via Rich chegando, imediatamente colocava as mãos na cabeça), mas as ações tinham todas subido regularmente ao longo dos anos. Às vezes, ele ficava surpreso pela ideia de que era quase (não exatamente, mas quase) um homem rico. Tudo cortesia do rock-and-roll... e das Vozes, é claro.
A casa, o terreno, ações, o seguro, até uma cópia de seu último testamento. As cordas que prendem você ao mapa da sua vida, pensou ele.
Houve um impulso selvagem e repentino de pegar o isqueiro Zippo e acender todo o amontoado de por-conseguintes e saibam-todos-por-meio-desta e o-portador-deste-certificado-possui. Ele podia fazer isso. Os papéis no cofre de repente deixaram de ter significado.
O primeiro pavor real o atingiu naquele momento, e não havia nada de sobrenatural nele. Era apenas a percepção do quanto era fácil destruir sua vida. Era isso o que havia de tão apavorante. Era só apontar o ventilador para tudo que você tinha passado anos reunindo e acender a porra do isqueiro. Fácil. Queimar tudo ou explodir, depois tomar chá de sumiço.
Atrás dos papéis, que eram apenas primos de segundo grau do dinheiro vivo, estava o material verdadeiro. A grana. Quatro mil dólares em notas de dez, vinte e cinquenta.
Ao pegar as notas agora e enfiar nos bolsos do jeans, ele se perguntou se não sabia o que estava fazendo quando guardou o dinheiro lá, cinquenta dólares em um mês, 120 no mês seguinte, talvez apenas dez no mês que veio depois. Dinheiro escondido. Dinheiro de chá de sumiço.
— Cara, isso é apavorante — disse ele, sem nem perceber que tinha falado. Estava olhando cegamente pelo janelão que dava para a praia. Estava deserta agora, sem os surfistas, sem o casal em lua de mel (se é que eles eram isso).
Ah, sim, doutor, me lembro de tudo agora. Lembra-se de Stanley Uris, por exemplo? Aposto seu couro que lembra... lembra como a gente dizia isso e achava tão bacana? Stanley Urina, era assim que os garotos grandes o chamavam. “Ei, Urina! Ei, seu merda matador de Cristo! Tá indo pra onde? Um dos seus amigos bichas vai te pagar um bola gato?”
Ele fechou a porta do cofre e colocou a foto no lugar. Quando tinha pensado em Stan Uris pela última vez? Cinco anos atrás? Dez? Vinte? Rich e sua família tinham se mudado de Derry na primavera de 1960, e como os rostos de todos desapareceram rápido, da gangue dele, daquele grupo sofrível de otários com seu clubinho no que era conhecido na época como Barrens, que significava “estéril”, um nome engraçado para uma área tão rica em vegetação quanto aquela. Brincando de exploradores da selva, ou militares abrindo uma área para pista de aterrissagem em um atol do Pacífico enquanto mantinham os japas longe, brincando de construtores de represa, caubóis, astronautas em um mundo de selva, pode escolher, mas seja lá o que você escolher, não vamos esquecer o que eles estavam realmente fazendo: se escondendo. Se escondendo dos garotos grandes. Se escondendo de Henry Bowers e Victor Criss e Arroto Huggins e do resto. Que bando de otários eles eram: Stan Uris com aquele nariz grande de judeu, Bill Denbrough, que não conseguia dizer nada além de “Hi-yo, Silver!” sem gaguejar tanto que você ficava puto da vida, Beverly Marsh com os hematomas e os cigarros enrolados na manga da blusa, Ben Hanscom, que era tão grande que parecia uma versão humana de Moby Dick, e Richie Tozier, com seus óculos grossos e notas A e respostas rápidas e um rosto que implorava para ser socado e modelado em formatos novos e excitantes. Havia uma palavra para o que eles eram? Ah, sim. Sempre havia. Le mot juste. Nesse caso, le mot juste era covardes.
Como tudo voltava, como tudo estava voltando... e agora ele estava na sala de TV tremendo de forma tão impotente quanto um vira-lata de rua preso em uma tempestade, tremendo porque os caras com quem ele correra não era tudo que ele lembrava. Havia outras coisas, coisas em que ele não pensava havia anos, tremendo logo abaixo da superfície.
Coisas sangrentas.
Uma escuridão. Alguma escuridão.
A casa na rua Neibolt, e Bill gritando: Você m-matou meu irmão, seu fi-filho da p-puta!
Ele lembrava? Apenas o bastante para não querer lembrar mais nada, e você pode apostar seu couro nisso.
Um cheiro de lixo, um cheiro de merda e um cheiro de outra coisa. Uma coisa pior do que as outras duas. Era o fedor do animal, o fedor da Coisa, lá embaixo na escuridão debaixo de Derry onde as máquinas trovejavam sem parar. Ele se lembrava de George...
Mas isso foi demais e ele correu para o banheiro, esbarrando na poltrona Eames no caminho e quase caindo. Ele conseguiu... por pouco. Deslizou de joelhos até o vaso pelo piso escorregadio, como um dançarino bizarro de break, agarrou as beiradas e vomitou tudo que tinha nas entranhas. Mesmo então, não parou; de repente, ele conseguia ver Georgie Denbrough como se o tivesse visto ontem pela última vez, Georgie, que tinha sido o começo de tudo, Georgie, que tinha sido assassinado no outono de 1957. Georgie morreu logo depois da enchente, um de seus braços foi arrancado do corpo, e Rich tinha bloqueado isso tudo da memória. Mas às vezes essas coisas voltam, ah, sim, elas voltam, às vezes elas voltam.
O espasmo passou e Rich tateou cegamente em busca da descarga. A água rugiu. Seu jantar, regurgitado em pedaços quentes, desapareceu graciosamente pelo vaso.
Pelo esgoto.
Pela imundície e fedor e escuridão do esgoto.
Ele fechou o tampo, apoiou a testa sobre ele e começou a chorar. Era a primeira vez que ele chorava desde que a mãe morreu em 1975. Sem nem pensar no que estava fazendo, ele cobriu os olhos com as mãos, e as lentes de contato que ele usava deslizaram para cima das palmas das mãos, reluzentes.
Quarenta minutos depois, sentindo-se renovado e um tanto limpo, ele jogou as malas no porta-malas do MG e saiu de ré da garagem. O dia estava terminando. Ele olhou para a casa com as plantas novas, olhou para a praia, para a água, que tinha assumido o brilho de esmeraldas pálidas quebradas por uma linha estreita de ouro batido. E uma convicção tomou conta dele de que ele jamais veria nada disso de novo, de que era um homem morto caminhando.
— Estou indo pra casa agora — sussurrou Rich Tozier para si mesmo. — Estou indo pra casa, e que Deus me ajude. Estou indo pra casa.
Ele botou o carro em movimento e seguiu em frente, sentindo mais uma vez o quão tinha sido fácil deslizar por uma fissura inesperada do que ele considerava uma vida sólida; como era fácil seguir para o lado negro, velejar do azul em direção ao negro.
Do azul para o negro, sim, era isso. Onde qualquer coisa poderia estar esperando.
Ben Hanscom toma um drink
Se, naquela noite de 28 de maio de 1985, você quisesse encontrar o homem que a revista Time chamou de “talvez o mais promissor jovem arquiteto dos Estados Unidos” (“Conservação de energia urbana e os jovens turcos”, Time, 15 de outubro de 1984), você teria que dirigir para o oeste de Omaha pela estrada interestadual 80. Teria que pegar a saída de Swedholm e depois a rodovia 81 até o centro de Swedholm (que não é muita coisa). Lá, você entraria na rodovia 92 no Bucky’s Hi-Hat Eat-Em-Up (“Filé de frango frito é nossa especialidade”) e, depois que estivesse em área rural de novo, pegaria a direita na rodovia 63, que segue reto como uma régua pela cidadezinha deserta de Gatlin e chega em Hemingford Home. O centro de Hemingford Home fazia o centro de Swedholm parecer Nova York; a área comercial consistia em oito construções, cinco de um lado e três do outro. Havia uma barbearia Kleen Kut (preso na vitrine havia um cartaz amarelado escrito à mão de 15 anos antes que dizia SE VOCÊ É “HIPPY”, CORTE SEU CABELO EM OUTRO LUGAR), o cinema que só passava reprises e a loja de U$ 1,99. Havia uma agência do banco Nebraska Homeowner’s, um posto de gasolina 76, uma farmácia Rexall e a Loja de Ferramentas e Artigos para Fazendas, que era o único negócio da cidade que parecia ligeiramente próspero.
E, perto do final da rua principal, um pouco afastado das outras construções como um pária e na beirada de uma área vazia, havia um bar comum: o Red Wheel. Se você chegasse àquele ponto, veria no estacionamento de terra batida um Cadillac conversível 1968 velho com antenas duplas de rádio amador na traseira. A placa da frente dizia simplesmente: CADDY DO BEN. E dentro, ao andar em direção ao bar, você encontraria seu homem: magro, queimado de sol, usando camisa de cambraia, calça jeans surrada e um par de botas gastas. Havia leves rugas ao redor dos olhos dele, mas em nenhuma outra parte. Ele parecia talvez dez anos mais jovem do que a idade que realmente tinha, 38 anos.
— Oi, sr. Hanscom — disse Ricky Lee enquanto colocava um guardanapo de papel sobre o balcão do bar e Ben se sentava. Ricky Lee pareceu um tanto surpreso, e realmente estava. Nunca tinha visto Hanscom no Wheel em dia de semana antes. Ele ia regularmente todas as noites de sexta para tomar duas cervejas, e todas as noites de sábado para quatro ou cinco; sempre perguntava sobre os três meninos de Ricky Lee; sempre deixava a mesma gorjeta de 5 dólares debaixo da caneca quando ia embora. Em termos tanto de conversa profissional quanto pessoal, ele era de longe o freguês favorito de Ricky Lee. Os 10 dólares por semana (e 50 que ele deixou na época de Natal nos últimos cinco anos) eram bons, mas a companhia do homem valia bem mais. Companhia boa era sempre uma raridade, mas em uma cidade de fim de mundo como essa, onde a conversa sempre era barata, era mais raro do que galinhas com dentes.
Apesar de as raízes de Hanscom serem da Nova Inglaterra e de ele ter estudado em uma faculdade da Califórnia, havia mais do que um toque de texano extravagante nele. Ricky Lee contava com as paradas de sexta e sábado à noite de Ben Hanscom porque tinha aprendido ao longo dos anos que podia contar com elas. O sr. Hanscom podia estar construindo um arranha-céu em Nova York (onde já tinha três dos prédios mais falados da cidade), uma galeria de arte nova em Redondo Beach ou um prédio comercial em Salt Lake City, mas quando chegava a noite de sexta, a porta que levava ao estacionamento sempre se abria entre as 20h e as 21h30 e ele entrava, como se morasse do outro lado da cidade e tivesse decidido ir até lá porque não havia nada de bom na TV. Ele tinha seu próprio jatinho e uma pista de aterrissagem em sua fazenda, em Junkins.
Dois anos antes, ele tinha ido a Londres, primeiro para o projeto e depois para supervisionar a construção do novo centro de comunicações da BBC, um prédio sobre o qual a imprensa britânica debatia contra e a favor ardorosamente (o Guardian: “Talvez o prédio mais bonito a ser construído em Londres nos últimos vinte anos”; o Mirror: “Além do rosto da minha sogra depois de uma turnê por vários bares, é a coisa mais feia que já vi”). Quando o sr. Hanscom pegou aquele projeto, Ricky Lee pensou: Bem, algum dia o vejo novamente. Ou talvez ele se esqueça de nós. E, de fato, a noite de sexta depois que Ben Hanscom partiu para a Inglaterra passou sem sinal dele, embora Ricky Lee tenha olhado rapidamente todas as vezes que a porta se abriu entre as 20h e as 21h30. Bem, algum dia o vejo de novo. Talvez. O algum dia acabou sendo a noite seguinte. A porta se abriu às 20h45 e ele entrou, usando uma calça jeans e uma camiseta com os dizeres GO ’BAMA e as velhas botas, parecendo ter saído apenas do outro lado da cidade. E quando Ricky Lee gritou quase com empolgação “Oi, sr. Hanscom! Deus! O que você está fazendo aqui?”, o sr. Hanscom pareceu ligeiramente surpreso, como se não houvesse nada de estranho no fato de ele estar ali. E isso não aconteceu apenas uma vez; ele apareceu todas as noites de sábado durante os dois anos de seu envolvimento ativo com o prédio da BBC. Ele saía de Londres todas as manhãs de sábado às 11h de Concorde, contou ele a um fascinado Ricky Lee, e chegava ao aeroporto Kennedy em Nova York às 10h15, 15 minutos antes de ter saído de Londres, ao menos pelo relógio (“Deus, é como uma viagem no tempo, não é?” comentara um impressionado Ricky Lee). Uma limusine o esperava para levar até o aeroporto Teterboro em Nova Jersey, uma viagem que não costumava durar mais de uma hora em uma manhã de sábado. Ele estava no cockpit do jatinho antes do meio-dia sem dificuldade alguma e descia em Junkins por volta de 14h30. Se você seguir para o oeste rápido o bastante, contou ele a Ricky, o dia parece se prolongar para sempre. Ele tirava um cochilo de duas horas, passava uma hora com seu capataz e uma hora com a secretária. Jantava e ia para o Red Wheel por uma hora e meia, mais ou menos. Ele sempre ia sozinho, sempre se sentava ao balcão do bar e sempre saía como tinha entrado, embora houvesse muitas mulheres nessa parte do Nebraska que ficariam felizes de trepar com ele até cansar. Na fazenda, ele dormia por seis horas e o processo todo se revertia. Ricky nunca tivera um freguês que não se impressionasse com essa história. Talvez ele seja gay, disse uma mulher uma vez. Ricky Lee olhou para ela rapidamente, observando o cabelo cuidadosamente arrumado, as roupas bem cortadas que sem dúvida tinham etiquetas de marca, os diamantes nas orelhas, a expressão no rosto, e soube que ela era de algum lugar no leste, talvez de Nova York, em breve visita a um parente ou talvez a uma velha amiga de escola, e mal podia esperar para ir embora de novo. Não, respondeu ele. O sr. Hanscom não é boiola. Ela pegou um maço de cigarros Doral na bolsa e segurou um entre lábios vermelhos cintilantes até que ele acendesse para ela. Como você sabe?, perguntou ela com um leve sorriso. Apenas sei, disse ele. E sabia. Ele pensou em dizer para ela: acho que ele é o homem mais solitário que já conheci na vida. Mas não ia dizer uma coisa dessas para uma mulher de Nova York que estava olhando para ele como se ele fosse uma forma de vida nova e divertida.
Esta noite, o sr. Hanscom estava um pouco pálido, um pouco distraído.
— Oi, Ricky Lee — disse ele ao se sentar, e passou a observar as mãos.
Ricky Lee sabia que ele iria passar os próximos seis ou oito meses em Colorado Springs supervisionando o princípio da construção do Centro Cultural dos Estados Montanhosos, um complexo de seis prédios que seria entalhado na lateral de uma montanha. Quando estiver pronto, as pessoas vão dizer que parece que um garoto gigante deixou os blocos de brinquedo espalhados em uma escada, dissera Ben para Ricky Lee. Pelo menos algumas vão, e vão estar ao menos parcialmente certas. Mas acho que vai dar certo. É a maior coisa que já tentei, e erguê-lo vai ser apavorante, mas acho que vai dar certo.
Ricky Lee supunha que era possível que o sr. Hanscom estivesse com um toque de pânico. Não havia nada de surpreendente nisso, e também nada de errado. Quando você ficava grande o bastante para que reparassem em você, estava grande o bastante para tentarem atingir você. Ou talvez ele estivesse com algum vírus. Havia um bem potente por aí.
Ricky Lee pegou uma caneca no balcão do bar e foi em direção à torneira de chope Olympia.
— Não faça isso, Ricky Lee.
Ricky Lee se virou, surpreso. E quando Ben Hanscom ergueu o olhar, sentiu medo repentinamente. Porque o sr. Hanscom não parecia estar em pânico, nem com o vírus que estava se espalhando, nem nada do tipo. Ele parecia ter sofrido um golpe terrível e ainda estar tentando entender o que o tinha atingido.
Alguém morreu. Ele não é casado, mas todo homem tem família, e alguém na dele acabou de bater as botas. Foi isso que aconteceu, tão certo quanto a merda desce pelo esgoto de um banheiro.
Alguém colocou uma moeda na jukebox, e Barbara Mandrell começou a cantar sobre um homem bêbado e uma mulher solitária.
— Você está bem, sr. Hanscom?
Ben Hanscom olhou para Ricky Lee com olhos que de repente pareceram dez, não, vinte anos mais velhos do que o resto do rosto, e Ricky Lee ficou surpreso de observar que o cabelo do sr. Hanscom estava ficando grisalho. Nunca tinha reparado em um traço grisalho no cabelo dele antes.
Hanscom sorriu. O sorriso foi medonho, horrível. Era como ver um cadáver sorrir.
— Acho que não, Ricky Lee. Não, senhor. Não hoje. Nem um pouco.
Ricky Lee colocou a caneca no balcão e andou de volta até onde Hanscom estava. O bar estava tão vazio quanto um bar bem distante da temporada de futebol numa noite de segunda pode ficar. Annie estava sentada ao lado da porta na cozinha, jogando cribbage com o cozinheiro.
— Más notícias, sr. Hanscom?
— Más notícias, isso mesmo. Más notícias vindas de casa. — Ele olhou para Ricky Lee. Olhou através de Ricky Lee.
— Lamento ouvir isso, sr. Hanscom.
— Obrigado, Ricky Lee.
Ele ficou em silêncio, e Ricky Lee estava prestes a perguntar se havia alguma coisa que ele pudesse fazer quando Hanscom disse:
— Qual é o seu uísque da casa, Ricky Lee?
— Pra todo mundo nesse buraco é Four Roses — disse Ricky Lee. — Mas pra você pode ser Wild Turkey.
Hanscom deu um pequeno sorriso ao ouvir isso.
— É legal da sua parte, Ricky Lee. Acho que é melhor você pegar a caneca, afinal. O que você deve fazer é encher de Wild Turkey.
— Encher? — perguntou Ricky Lee, sinceramente atônito. — Meu Deus, eu vou ter que rolar você daqui! — Ou chamar uma ambulância, pensou ele.
— Hoje, não — disse Hanscom. — Acho que não.
Ricky Lee olhou cuidadosamente nos olhos do sr. Hanscom para ver se ele podia estar brincando e levou menos de um segundo para ver que não. Assim, ele pegou a caneca no balcão e a garrafa de Wild Turkey em uma das prateleiras abaixo. O gargalo da garrafa bateu na beirada da caneca quando ele começou a servir. Ele viu o uísque escorrer, fascinado apesar de tudo. Ricky Lee decidiu que era mais do que um toque do texano que o sr. Hanscom tinha em si: essa tinha que ser a maior dose de uísque que ele já servira ou jamais serviria na vida.
Chamar uma ambulância o cacete. Se ele beber isso, vou ligar pra Parker e Waters em Swedholm pra trazerem o rabecão.
De qualquer modo, ele levou a caneca e colocou na frente de Hanscom; o pai de Ricky Lee uma vez disse para ele que se um homem estava em seu estado normal, você tinha que dar para ele o que ele quisesse comprar, fosse mijo ou veneno. Ricky Lee não sabia se era um conselho bom ou ruim, mas sabia que, se você atendia em um bar para se sustentar, ajudava bastante a impedir que você fosse massacrado pela própria consciência.
Hanscom olhou para o drinque gigantesco de forma pensativa por um momento e perguntou:
— Quanto te devo por uma dose dessas, Ricky Lee?
Ricky Lee balançou a cabeça devagar, ainda vidrado na caneca de uísque, sem querer levantar a cabeça e encontrar aqueles olhos fundos e arregalados.
— Não — disse ele. — Esse é por conta da casa.
Hanscom sorriu de novo, desta vez com mais naturalidade.
— Nossa, obrigado, Ricky Lee. Agora vou te mostrar uma coisa que aprendi no Peru em 1978. Eu estava trabalhando com um cara chamado Frank Billings, aprendendo com ele, acho que se pode dizer. Frank Billings era o melhor arquiteto do mundo na minha opinião. Ele pegou uma febre e os médicos injetaram um bilhão de antibióticos diferentes nele, e nenhum baixou a febre. Ele ardeu por duas semanas e morreu. O que vou te mostrar aprendi com índios locais trabalhando no projeto. A birita local é bastante potente. Você toma um gole e acha que está descendo suave, sem problemas, mas de repente parece que alguém acendeu um maçarico na sua boca e apontou pra sua garganta. Mas os índios bebem como Coca-Cola, e raramente vi um bêbado, e nunca vi um de ressaca. Nunca tive coragem de testar o jeito deles. Mas acho que vou experimentar hoje. Me traz umas bandas de limão.
Ricky Lee pegou quatro e colocou sobre um guardanapo ao lado da caneca de uísque. Hanscom pegou um pedaço, inclinou a cabeça para trás como um homem prestes a colocar colírio nos olhos e começou a espremer o suco de limão direto na narina direita.
— Puta merda! — disse Ricky Lee horrorizado.
A garganta de Hanscom se contraiu. Seu rosto ficou vermelho... e então Ricky Lee viu lágrimas escorrendo pelas laterais do rosto em direção às orelhas. Agora os Spinners estavam tocando, cantando sobre o homem-elástico. “Ah, Deus, não sei quanto disso sou capaz de suportar”, cantaram os Spinners.
Hanscom tateou cegamente pelo bar, encontrou outro pedaço de limão e espremeu o suco na outra narina.
— Você vai se matar, porra — sussurrou Ricky Lee.
Hanscom jogou os dois pedaços de limão espremido no balcão. Seus olhos estavam vermelhos e ele respirava ofegante e fazendo caretas. Suco de limão pingava das duas narinas dele e escorria até os cantos da boca. Ele pegou a caneca, levantou e bebeu um terço. Paralisado, Ricky Lee viu o pomo de Adão dele subir e descer.
Hanscom colocou a caneca no balcão, tremeu duas vezes e assentiu. Olhou para Ricky Lee e sorriu um pouco. Seus olhos não estavam mais vermelhos.
— Funciona como eles disseram que funcionaria. Você fica tão preocupado com o nariz que não sente o que está descendo pela garganta.
— Você é louco, sr. Hanscom — disse Ricky Lee.
— Pode apostar seu couro nisso — disse o sr. Hanscom. — Se lembra dessa, Ricky Lee? Dizíamos isso quando éramos crianças. “Pode apostar seu couro nisso.” Já te contei que eu era gordo?
— Não, senhor, nunca — sussurrou Ricky Lee. Ele agora estava convencido de que o sr. Hanscom tinha recebido uma notícia tão terrível que o homem tinha mesmo enlouquecido... ou pelo menos abandonado temporariamente a sensatez.
— Eu era um tremendo balofo. Nunca joguei beisebol nem basquete, sempre era o primeiro a pegarem quando brincava de pique-pega, não fazia nenhum esforço a mais do que o mínimo necessário. Eu era gordo mesmo. E havia uns caras na minha cidade que iam sempre atrás de mim. Tinha um cara chamado Reginald Huggins, só que todo mundo chamava ele de Arroto. Um garoto chamado Victor Criss. Alguns outros. Mas o verdadeiro cérebro do grupo era um sujeito chamado Henry Bowers. Se já houve um garoto genuinamente mau andando pela face da Terra, Ricky Lee, Henry Bowers era esse garoto. Eu não era o único que ele perseguia; meu problema era que eu não conseguia correr tão rápido quanto os outros.
Hanscom desabotoou a camisa e abriu. Ricky Lee se inclinou para a frente e viu uma cicatriz estranha e retorcida na barriga do sr. Hanscom, bem acima do umbigo. Inchada, branca e velha. Era uma letra, reparou ele. Alguém tinha desenhado a letra “H” na barriga do sujeito, provavelmente bem antes de o sr. Hanscom se tornar um homem.
— Henry Bowers fez isso comigo. Há uns mil anos. Tenho sorte de não estar com o nome dele todo aqui.
— Sr. Hanscom...
Hanscom pegou as outras duas fatias de limão, uma com cada mão, inclinou a cabeça para trás e pingou como descongestionante nasal. Ele tremeu intensamente, colocou-as de lado e tomou dois grandes goles da caneca. Tremeu de novo, tomou outro gole e tateou em busca da beirada do balcão do bar com os olhos fechados. Por um momento, segurou-se como um homem em um veleiro se segurando para se apoiar no mar agitado. Em seguida, abriu os olhos de novo e sorriu para Ricky Lee.
— Eu podia montar esse touro a noite toda — disse ele.
— Sr. Hanscom, eu gostaria que você não fizesse mais isso — disse Ricky Lee nervosamente.
Annie se aproximou com a bandeja e pediu duas Miller. Ricky Lee serviu e levou até ela. Estava com as pernas bambas.
— O sr. Hanscom está bem, Ricky Lee? — perguntou Annie. Ela estava olhando para trás de Ricky Lee, e ele se virou para acompanhar o olhar dela. O sr. Hanscom estava inclinado sobre o bar escolhendo cuidadosamente pedaços de limão no recipiente onde Ricky Lee deixava as decorações dos drinques.
— Não sei — disse ele. — Acho que não.
— Então tira o dedo do cu e faz alguma coisa. — Como a maior parte das outras mulheres, Annie tinha uma quedinha por Ben Hanscom.
— Não sei. Meu pai sempre dizia que se um homem está em seu estado normal...
— Seu pai não tinha um cérebro tão bom quanto o de um esquilo — disse Annie. — Esquece seu pai. Você tem que acabar com isso, Ricky Lee. Ele vai se matar.
Após receber tais ordens, Ricky Lee voltou para onde Ben Hanscom estava.
— Sr. Hanscom, acho que você bebeu o bast...
Hanscom inclinou a cabeça para trás. Espremeu. Na verdade, inalou o suco de limão desta vez, como se fosse cocaína. Bebeu o uísque como se fosse água. Olhou para Ricky Lee solenemente.
— Bing-bang, vi toda a gangue dançando no tapete da minha sala — disse ele e riu. Havia cerca de 5 centímetros de uísque na caneca agora.
— Já chega — disse Ricky Lee e esticou a mão para pegar a caneca.
Hanscom a tirou delicadamente do alcance dele.
— O dano já foi feito, Ricky Lee — disse ele. — O dano já foi feito, meu garoto.
— Sr. Hanscom, por favor...
— Tenho uma coisa pros seus garotos, Ricky Lee. Caramba, quase esqueci!
Ele estava usando um colete jeans surrado e enfiou a mão em um dos bolsos. Ricky Lee ouviu um estalo seco.
— Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos — disse Hanscom. A voz dele não estava em nada arrastada. — Nos deixou um bando de dívidas e isto. Quero que seus filhos fiquem com eles, Ricky Lee. — Ele colocou três reluzentes dólares de prata sobre o balcão do bar, onde brilharam sob as luzes suaves. Ricky Lee prendeu a respiração.
— Sr. Hanscom, é muita gentileza, mas eu não poderia...
— Eram quatro, mas dei um pro Bill Gago e pros outros. Bill Denbrough, esse era o nome dele. Bill Gago era como a gente chamava ele... Era só uma coisa que a gente dizia, como “pode apostar seu couro nisso”. Foi um dos melhores amigos que já tive, e tive alguns, sabe. Até um garoto gordo como eu tinha amigos. Bill Gago é escritor agora.
Ricky Lee mal o escutou. Estava olhando para os dólares de prata com fascinação. 1921, 1923 e 1924. Só Deus sabia o quanto valiam agora, e apenas pelo fato da prata pura que continham.
— Não posso — disse ele de novo.
— Mas eu insisto.
O sr. Hanscom pegou a caneca e bebeu até o fim. Ele devia estar caindo de bêbado, mas seus olhos não se afastaram dos de Ricky Lee. Aqueles olhos estavam lacrimejantes e muito injetados de sangue, mas Ricky Lee poderia jurar sobre uma pilha de Bíblias que também eram os olhos de um homem sóbrio.
— Você está me assustando um pouco, sr. Hanscom — disse Ricky Lee.
Dois anos antes, Gresham Arnold, um bêbado de fama local, entrou no Red Wheel com um tubinho de moedas de 25 centavos em uma das mãos e uma nota de 20 dólares enfiada na tira do chapéu. Ele entregou o tubinho para Annie com instruções de colocar as moedas na jukebox de quatro em quatro. Colocou a nota de vinte no bar e instruiu Ricky Lee a servir bebidas para todos. Esse bêbado, Gresham Arnold, tinha sido um jogador de basquete famoso muito antes no Hemingford Rams e os levou ao primeiro (e provavelmente último) campeonato escolar. Foi em 1961. Um futuro quase ilimitado parecia se abrir à frente do jovem. Mas ele ficou reprovado na Louisiana State University no primeiro semestre, vítima da bebedeira, drogas e noitadas de farra. Ele voltou para casa, destruiu o conversível amarelo que os pais tinham dado a ele como presente de formatura e arrumou um emprego de vendedor-chefe de produtos agrícolas John Deere, na loja do pai. Cinco anos se passaram. O pai não conseguia suportar a ideia de demiti-lo; acabou vendendo a loja e se aposentou no Arizona, um homem assombrado e envelhecido antes da época pela degeneração inexplicável e aparentemente irreversível do filho. Enquanto a loja ainda era do pai e ele ao menos fingia trabalhar, Arnold se esforçou para ficar longe da bebida; depois, ela o dominou por completo. Ele podia ser cruel, mas estava doce como chiclete na noite em que levou as moedas e pagou bebidas para todos, e todos agradeceram com sinceridade; Annie ficou colocando músicas de Moe Bandy porque Gresham Arnold gostava de Moe Bandy. Ele ficou sentado ali no bar, no mesmo banco onde o sr. Hanscom estava sentado agora, percebeu Ricky Lee com desconforto crescente, e tomou três ou quatro uísques com licor de ervas; cantou com a jukebox, não provocou confusão e foi para casa quando Ricky Lee fechou o Wheel; ele se enforcou com o cinto pendurado em um armário embutido do andar de cima. Os olhos de Gresham Arnold naquela noite estavam um pouco parecidos com os de Ben Hanscom naquele momento.
— Estou te assustando um pouco, é? — perguntou Hanscom, sem tirar os olhos de Ricky Lee. Ele afastou a caneca e cruzou os braços na frente dos três dólares de prata. — Devo estar. Mas você não está com tanto medo quanto eu, Ricky Lee. Reze pra Jesus pra nunca ficar.
— Bem, qual é o problema? — perguntou Ricky Lee. — Talvez... — Ele molhou os lábios. — Talvez eu possa ajudar.
— O problema? — Ben Hanscom riu. — Ah, não muito. Recebi hoje a ligação de um velho amigo. Um cara chamado Mike Hanlon. Eu tinha me esquecido completamente dele, Ricky Lee, mas isso não me assustou muito. Afinal, eu era apenas um garoto quando conheci ele, e garotos se esquecem das coisas, não? Claro que esquecem. Pode apostar seu couro nisso. O que me assustou foi chegar na metade do caminho até aqui e perceber que não foi só de Mike que me esqueci. Eu tinha esquecido tudo de quando era criança.
Ricky Lee apenas olhou para ele. Ele não fazia ideia do que o sr. Hanscom estava falando, mas o homem estava mesmo com medo. Não havia dúvida disso. Caía de uma maneira estranha em Ben Hanscom, mas era real.
— Eu quero dizer que tinha esquecido tudo sobre isso — disse ele, e bateu os dedos dobrados de leve no bar para enfatizar. — Você já ouviu falar, Ricky Lee, de uma amnésia tão completa que você nem sabia que estava com amnésia?
Ricky Lee balançou a cabeça.
— Nem eu. Mas ali estava eu, dirigindo o Caddy, e de repente eu lembrei. Eu me lembrei de Mike Hanlon, mas só porque ele me ligou. Eu me lembrei de Derry, mas só porque era de onde ele estava ligando.
— Derry?
— Mas isso foi tudo. Eu percebi que nem pensava na época de criança desde... desde nem sei quando. E então, de repente, tudo começou a voltar. Como o que fizemos com o quarto dólar de prata.
— O que vocês fizeram com ele, sr. Hanscom?
Hanscom olhou para o relógio e de repente desceu do banco. Cambaleou um pouco, bem pouco. Só isso.
— Não posso deixar o tempo fugir — disse ele. — Vou voar hoje.
Ricky Lee ficou imediatamente alarmado, e Hanscom riu.
— Vou voar, mas não pilotar. Não desta vez. Vou de United Airlines, Ricky Lee.
— Ah. — Ele achou que o alívio ficou evidente em seu rosto, mas não se importou. — Pra onde você vai?
A camisa de Hanscom ainda estava aberta. Ele olhou pensativamente para as linhas brancas e inchadas da velha cicatriz na barriga e começou a abotoar a camisa.
— Pensei que já tivesse dito, Ricky Lee. Pra casa. Vou pra casa. Dê os dólares de prata pros seus filhos. — Ele saiu andando em direção à porta, e tinha alguma coisa no jeito como ele andou, até no jeito como puxou as laterais da calça, que apavorou Ricky Lee. A similaridade com o falecido e nada lamentado Gresham Arnold foi tão intensa de repente que foi quase como ver um fantasma.
— Sr. Hanscom! — gritou ele alarmado.
Hanscom se virou, e Ricky Lee deu um passo rápido para trás. Sua bunda bateu na prateleira de trás do bar e houve som de vidro quando as garrafas bateram umas nas outras. Ele deu um passo para trás porque ficou convencido de repente de que Ben Hanscom estava morto. Sim, Ben Hanscom estava deitado e morto em algum lugar, em uma vala ou sótão ou possivelmente um armário com o cinto ao redor do pescoço e a ponta das botas de 400 dólares penduradas a quase 5 centímetros do chão, e essa coisa de pé perto da jukebox olhando para ele era um fantasma. Por um momento, só um momento, mas longo o bastante para cobrir seu coração de trabalhador com uma camada de gelo, ele se convenceu de que conseguia ver mesas e cadeiras através do homem.
— O que é, Ricky Lee?
— Na-n-na. Nada.
Ben Hanscom olhou para Ricky Lee com olhos que tinham crescentes roxos embaixo. Suas bochechas ardiam pela bebida; o nariz estava vermelho e irritado.
— Nada — sussurrou Ricky Lee de novo, mas não conseguiu tirar os olhos daquele rosto, o rosto de um homem que morreu afundado em pecado e agora está rígido na porta lateral e fumegante do inferno.
— Eu era gordo e nós éramos pobres — disse Ben Hanscom. — Me lembro disso agora. E lembro que ou uma garota chamada Beverly ou Bill Gago salvou minha vida com um dólar de prata. Tenho um medo quase louco de qualquer outra coisa que eu possa lembrar antes que a noite de hoje acabe, mas o tamanho do medo que eu sinto não importa, porque vai voltar de qualquer jeito. Está tudo aqui, como uma bolha enorme crescendo na minha mente. Mas eu vou, porque tudo que já consegui e tudo que tenho agora está ligado ao que fizemos naquela época, e você paga pelo que recebe neste mundo. Talvez seja por isso que Deus nos fez crianças primeiro e nos colocou mais perto do chão, porque Ele sabe que é preciso cair muito e sangrar muito pra aprender essa simples lição. Você paga pelo que recebe, você é dono daquilo pelo que pagou... e mais cedo ou mais tarde, o que é seu volta pra casa, pra você.
— Mas você volta no fim de semana, não volta? — perguntou Ricky Lee com lábios dormentes. Em sua crescente aflição, isso foi tudo a que ele conseguiu se apegar. — Você vai voltar no fim de semana como sempre, não vai?
— Não sei — disse o sr. Hanscom, e deu um sorriso terrível. — Vou bem mais longe do que Londres desta vez, Ricky Lee.
— Sr. Hanscom...!
— Dê aqueles dólares de prata pros seus filhos — repetiu ele, e saiu para a noite.
— Que porra...? — perguntou Annie, mas Ricky Lee a ignorou. Ele levantou a parte móvel da bancada do bar e correu até uma das janelas que davam para o estacionamento. Viu os faróis do Cadillac do sr. Hanscom se acenderem, ouviu o motor dar ré. Ele saiu do estacionamento de terra levantando um tapete de poeira atrás. Os faróis traseiros diminuíram até virarem pontos vermelhos na rodovia 63, e o vento noturno do Nebraska começou a espalhar a terra que estava no ar.
— Ele tomou uma tonelada de álcool e você deixou ele entrar naquele carrão dele e ir embora dirigindo — disse Annie. — Parabéns, Ricky Lee.
— Deixa pra lá.
— Ele vai se matar.
E apesar de esse ter sido o pensamento do próprio Ricky Lee menos de cinco minutos antes, ele se virou para ela quando os faróis sumiram e balançou a cabeça.
— Não acho — disse ele. — Embora, pela forma como ele estava hoje, talvez fosse melhor se ele se matasse.
— O que ele disse pra você?
Ele balançou a cabeça. Estava tudo confuso em sua mente, e o todo não parecia querer dizer nada.
— Não importa. Mas acho que nunca mais vamos ver esse velho camarada.
Eddie Kaspbrak toma seu remédio
Se você quisesse saber tudo que se tem para saber sobre um homem ou mulher americanos de classe média conforme o milênio se aproxima do final, só precisaria olhar o armário de remédios, ou é o que dizem. Mas, meu Deus, dê uma olhada neste agora que Eddie Kaspbrak o abre, felizmente fazendo seu rosto branco e seus olhos arregalados desaparecerem.
Na prateleira superior há Anacin, Excedrin, Excedrin noturno, Contac, Gelusil, Tylenol e um vidro grande de pastilhas Vick, que parece um céu anoitecendo guardado dentro de um vidro. Há um vidro de Vivarin, um de Serutan (É “Nature’s” de trás pra frente, diziam os anúncios do programa de Lawrence Welk quando Eddie Kaspbrak era um garotinho), e dois vidros de Leite de Magnésia Phillips, um do tipo comum, com gosto de giz líquido, e o outro do novo com sabor de menta, com gosto de giz líquido com gosto de menta. Há um vidro grande de Rolaids ao lado de um vidro grande de Tums. O Tums está ao lado de um vidro grande de pastilhas Di-Gel sabor laranja. Os três parecem um trio de cofrinhos estranhos, cheios de comprimidos em vez de moedas.
Na segunda prateleira ficam as vitaminas: tem vitamina E, tem C, tem C com rosehips. Tem vitamina B simples e complexo B e B12. Tem L-Lisina, que serve para ajudar naqueles problemas constrangedores de pele, e lecitina, que é para resolver o acúmulo constrangedor de colesterol no coração e perto dele. Tem ferro, cálcio e óleo de fígado de bacalhau. Tem One-A-Day múltiplo, Myadec múltiplo, Centrum múltiplo. E em cima do armário em si, há um vidro gigantesco de Geritol, só por garantia.
Indo para a terceira prateleira de Eddie, encontramos os jogadores utilitários do mundo da medicina patenteada. Ex-Lax. Carter’s Little Pills. Os dois mantinham o funcionamento do intestino de Eddie Kaspbrak. Bem perto está o Kaopectate, o Pepto-Bismol e o Preparation H para o caso de o funcionamento ser rápido demais ou doloroso demais. Havia também Tucks em um vidro de tampa de rosca para manter tudo limpo depois que o serviço acabou, fosse em que quantidade fosse. Tem Formula 44 para tosse, Nyquil e Dristan para resfriados e um vidro grande de óleo de castor. Há uma lata de Sucrets para o caso de a garganta de Eddie inflamar, e há um quarteto de enxaguantes bucais: Chloraseptic, Cepacol, Cepestat spray e, é claro, o velho e bom Listerine, frequentemente imitado, mas nunca duplicado. Visine e Murine para os olhos. Pomadas Cortaid e Neosporin para a pele (a segunda linha de defesa caso a L-Lisina não atinja as expectativas), um tubo de Oxy-5 e uma garrafa plástica de Oxy-Wash (porque Eddie preferia ter menos centavos a mais espinhas) e alguns comprimidos de tetraciclina.
E, em um dos lados, reunidos como conspiradores ressentidos, há três vidros de xampu de alcatrão.
A prateleira de baixo está quase vazia, mas o que tem nela é coisa séria. Dava para viajar com essas coisas. Com elas, você podia voar mais alto do que o avião de Ben Hanscom e cair com mais força do que o de Thurman Munson. Tem Valium, Percodan, Elavil e Darvon Complex. Tem também outra caixa de Sucrets na prateleira de baixo, mas não tem Sucrets dentro. Se você a abrisse, encontraria seis Quaaludes.
Eddie Kaspbrak acreditava no lema dos escoteiros.
Ele estava carregando uma bolsa azul quando entrou no banheiro. Colocou-a na pia, abriu e, com mãos trêmulas, começou a colocar vidros, garrafas, tubos e sprays lá dentro. Sob outras circunstâncias, ele os teria pegado cuidadosamente, mas não havia tempo para gentilezas agora. A escolha, pelo ponto de vista de Eddie, era tão simples quanto brutal: começar a se mover e continuar em movimento ou ficar parado em um lugar tempo o bastante para começar a pensar no que tudo isso queria dizer e simplesmente morrer de medo.
— Eddie? — gritou Myra do andar de baixo. — Eddie, o que você está fazeeeendo?
Eddie colocou a caixa de Sucrets com os Quaaludes na bolsa. O armário de remédios estava agora quase vazio, exceto pelo Midol de Myra e um tubo pequeno e quase terminado de Blistex. Ele começou a fechar o zíper da bolsa, ficou em dúvida e colocou o Midol na bolsa também. Ela sempre podia comprar mais.
— Eddie? — Vindo agora da metade da escada.
Eddie fechou o resto da bolsa e saiu do banheiro com ela pendurada ao lado do corpo. Era um homem baixo com um tipo de rosto tímido de coelho. Ele tinha perdido a maior parte do cabelo; o que sobrara crescia em aglomerados aleatórios. O peso da bolsa o deixava claramente inclinado para um dos lados.
Uma mulher extremamente gorda estava subindo lentamente para o segundo andar. Eddie conseguia ouvir a escada estalar em protesto debaixo dela.
— O que você está FAZEEEEEENDO?
Eddie não precisava que um psicólogo dissesse para ele que, de certa forma, se casara com a própria mãe. Myra Kaspbrak era enorme. Era apenas grande quando Eddie se casara com ela cinco anos antes, mas ele às vezes pensava que seu subconsciente vira o potencial para enormidade nela; Deus sabia que a mãe dele era gigantesca. E ela parecia maior do que nunca ao chegar ao segundo andar. Estava usando uma camisola branca que inchava em ondas nos seios e quadris. O rosto dela, sem maquiagem nenhuma, estava branco e brilhoso. Ela parecia muito assustada.
— Tenho que viajar por um tempo — disse Eddie.
— O que você quer dizer com tem que viajar? O que foi aquele telefonema?
— Nada — disse ele, descendo abruptamente pelo corredor até o closet. Ele colocou a bolsa no chão, abriu a porta do armário e mexeu na meia dúzia de ternos pretos idênticos que estavam pendurados ali, tão ostensivos quanto uma nuvem de tempestade em meio a outras roupas mais coloridas. Ele sempre usava um dos ternos pretos quando estava trabalhando. Inclinou-se para dentro do armário, sentiu o cheiro de naftalina e lã e puxou uma das malas que estavam atrás. Abriu-a e começou a jogar roupas dentro.
A sombra dela caiu sobre ele.
— De que se trata isso, Eddie? Pra onde você vai? Me diz!
— Não posso dizer.
Ela ficou ali observando-o, tentando decidir o que dizer ou o que fazer. A ideia de empurrá-lo para dentro do closet e ficar com as costas na porta até essa loucura passar cruzou sua mente, mas ela não conseguiu fazer isso, apesar de ser capaz; era 8 centímetros mais alta do que Eddie e 50 quilos mais pesada. Não conseguia pensar no que fazer ou dizer porque isso era tão incomum para ele. Ela não teria ficado mais consternada e assustada se tivesse entrado na sala de TV e encontrado a TV de tela grande flutuando no ar.
— Você não pode ir — ela se ouviu dizer. — Prometeu que ia conseguir pra mim o autógrafo do Al Pacino. — Era um absurdo, Deus sabia que era, mas àquelas alturas, até um absurdo era melhor do que nada.
— Você ainda vai ter seu autógrafo — disse Eddie. — Vai ter que dirigir pra ele.
Ah, aqui estava um novo terror para juntar-se aos que já rodopiavam pela pobre cabeça tonta de Myra. Ela deu um pequeno grito.
— Não posso... Eu nunca...
— Você vai ter que ir — disse ele. Estava examinando os sapatos agora. — Não tem mais ninguém.
— Nenhum dos meus uniformes cabe mais! Estão apertados demais nos peitos!
— Mande Delores afrouxar um deles — disse ele de forma implacável.
Ele pegou dois pares de sapatos, encontrou uma caixa de sapato vazia e colocou um terceiro dentro dela. Bons e velhos sapatos pretos, que ainda durariam muito tempo, mas estavam um pouco gastos demais para usar no trabalho. Quando você trabalhava dirigindo para pessoas ricas em Nova York, muitas delas pessoas ricas e famosas, tudo tinha que parecer perfeito. Esses sapatos não pareciam mais perfeitos... mas ele achava que serviam para onde ele estava indo. E para o que quer que ele tivesse que fazer quando chegasse lá. Talvez Rich Tozier...
Mas então a escuridão ameaçou e ele sentiu a garganta começando a fechar. Eddie se deu conta com pânico verdadeiro de que tinha colocado a farmácia inteira na bolsa e tinha deixado a coisa mais importante, seu inalador, no andar de baixo, em cima da estante do som.
Ele fechou a mala e trancou. Olhou para Myra, que estava de pé no corredor com a mão apertando o pescoço grosso e curto como se fosse ela quem tivesse asma. Estava olhando para ele, com o rosto cheio de perplexidade e terror, e ele poderia ter sentido pena dela se seu coração já não estivesse tão cheio de pavor por si mesmo.
— O que aconteceu, Eddie? Quem era ao telefone? Você está encrencado? Está, não está? Em que tipo de problema se meteu?
Ele andou em direção a ela, com a bolsa em uma das mãos e a mala na outra, mais ou menos ereto agora que o peso nas mãos estava mais bem distribuído. Ela ficou na frente dele e bloqueou a passagem da escada, e a princípio ele achou que ela não se afastaria. Mas quando o rosto dele estava prestes a se chocar contra o bloqueio macio que eram os seios dela, ela chegou para o lado... com medo. Quando ele passou por ela, sem diminuir a velocidade, ela começou a chorar lágrimas infelizes.
— Não posso dirigir pro Al Pacino! — gritou ela. — Vou bater em uma placa ou em algum outro lugar, eu sei! Eddie, estou com meeedo!
Ele olhou para o relógio Seth Thomas sobre a mesa ao lado da escada. Nove e vinte. O funcionário da Delta com voz enlatada disse que ele já tinha perdido o último voo para o norte, para o Maine, o que saiu de La Guardia às 20h25. Ele ligou para Amtrak e descobriu que havia um trem noturno para Boston saindo da Penn Station às 23h30, que o deixaria na South Station, onde ele podia pegar um táxi até o escritório da Cape Cod Limousine na rua Arlington. Cape Cod e a empresa de Eddie, Royal Crest, fizeram um acordo útil e amigavelmente recíproco ao longo dos anos. Uma ligação rápida para Butch Carrington em Boston cuidara de seu transporte para o norte. Butch disse que teria uma limusine Cadillac abastecida e pronta para ele. Então ele iria com estilo e sem nenhum cliente pentelho sentado no banco de trás, enchendo o ar com o fedor de um charuto enorme e perguntando se Eddie sabia onde ele podia arrumar uma gata ou alguns gramas de cocaína, ou as duas coisas.
Vou com estilo, isso mesmo, pensou ele. O único jeito de ir com mais estilo seria ir de rabecão. Mas não se preocupe, Eddie. Deve ser assim que você vai voltar. Se sobrar o bastante de você pra se enterrar, claro.
— Eddie?
Nove e vinte. Tempo o suficiente para falar com ela, tempo o suficiente para ser gentil. Ah, mas seria tão melhor se fosse na noite em que ela saía para jogar cartas, se ele pudesse ter saído deixando apenas um bilhete embaixo de um dos ímãs da porta da geladeira (a porta da geladeira era onde ele deixava todos os seus bilhetes para Myra, porque ela sempre os via lá). Sair assim, como um fugitivo, não teria sido bom, mas isso era ainda pior. Era como ter que sair da casa dos pais de novo, e isso fora tão difícil que ele teve que fazer três vezes.
Às vezes, o lar é onde o coração está, pensou Eddie aleatoriamente. Acredito nisso. O velho Bobby Frost disse que o lar é o lugar onde, quando você precisa ir lá, eles têm que te receber. Infelizmente, também é o lugar em que, quando você entra, não querem deixar você sair.
Ele ficou no alto da escada, com o movimento temporariamente interrompido, cheio de medo, com a respiração chiando pelo buraco de agulha que sua garganta tinha virado, e observou a esposa chorosa.
— Desça comigo e vou contar o que puder — disse ele.
Eddie colocou as duas malas, uma com roupas, a outra com remédios, ao lado da porta do hall da frente. Lembrou-se de uma outra coisa naquele momento... ou melhor, o fantasma da mãe, que estava morta havia muitos anos, mas que ainda falava frequentemente na mente dele, lembrou por ele.
Você sabe que quando seus pés ficam molhados, você sempre fica resfriado, Eddie. Você não é como as outras pessoas, você tem o corpo muito fraco, tem que tomar cuidado. É por isso que precisa sempre usar as galochas quando chove.
Chovia muito em Derry.
Eddie abriu o armário do hall da frente, pegou as galochas no gancho onde estavam cuidadosamente penduradas dentro de uma sacola plástica e colocou-as na mala de roupas.
Bom menino, Eddie.
Ele e Myra estavam assistindo TV quando a merda bateu no ventilador. Eddie foi até a sala de TV e apertou o botão que baixava o telão. A tela era tão grande que fazia Freeman McNeil parecer um visitante de Brobdingnag nas tarde de domingo. Pegou o telefone e chamou um táxi. O atendente disse para ele que deveria demorar 15 minutos. Eddie disse que não havia problema.
Ele desligou e pegou a bombinha de cima do aparelho de CD caro da Sony. Gastei 1.500 dólares em um aparelho de som de primeira para que Myra não perdesse uma única nota dos discos de Barry Manilow e do “Supremes Greatest Hits”, pensou ele, e sentiu uma pontada de culpa. Isso não era justo, e ele sabia bem. Myra ficaria tão feliz com os velhos discos arranhados quanto com os novos CDs do tamanho de discos de 45 rotações, assim como ficaria feliz de continuar morando na casinha de quatro cômodos no Queens até os dois ficarem velhos e grisalhos (e, para falar a verdade, já havia um pouco de neve no alto da montanha que era a cabeça de Eddie Kaspbrak). Ele tinha comprado o luxuoso aparelho de som pelo mesmo motivo que comprara esta casa rústica de pedra em Long Island, onde os dois vagavam como as duas últimas ervilhas na lata: porque podia, e porque eram formas de aplacar a voz suave, assustada, frequentemente perplexa e sempre implacável da mãe; eram formas de dizer: Consegui, mãe! Olha isso tudo! Consegui! Agora será que você pode fazer o favor de calar a boca um pouco?
Eddie enfiou a bombinha na boca e, como um homem imitando suicídio, puxou o gatilho. Uma nuvem do terrível gosto de alcaçuz desceu ardendo pela garganta dele, e Eddie respirou fundo. Conseguia sentir passagens respiratórias quase fechadas começarem a se abrir de novo. O aperto no peito começou a diminuir, e de repente ele ouviu vozes na mente, vozes-fantasma.
Você não recebeu o bilhete que mandei?
Recebi, sra. Kaspbrak, mas...
Bem, caso você não saiba ler, treinador Black, vou dizer em pessoa. Está pronto?
Sra. Kaspbrak...
Ótimo. Aqui vai, dos meus lábios pros seus ouvidos. Pronto? Meu Eddie não pode fazer aula de educação física. Repito: ele NÃO pode fazer aula de educação física. Eddie é muito delicado, e se ele correr... ou pular...
Sra. Kaspbrak, tenho o resultado do último exame físico de Eddie arquivado no meu escritório. É exigência estadual. Lá diz que Eddie é um pouco pequeno para a idade, mas fora isso, perfeitamente normal. Assim, liguei pro médico da sua família pra ter certeza e ele confirmou...
Está me chamando de mentirosa, treinador Black? É isso? Bem, aqui está ele! Aqui está Eddie, de pé bem do meu lado! Você consegue ouvir como ele respira? CONSEGUE?
Mãe... por favor... estou bem...
Eddie, você sabe que não deve fazer isso. Eu te ensinei direito. Não interrompa os mais velhos.
Consigo escutar, sra. Kaspbrak, mas...
Consegue? Que bom! Pensei que talvez você fosse surdo! Ele parece um caminhão subindo uma ladeira com marcha baixa, não parece? E se isso não é asma...
Mãe, vou ficar...
Fique quieto, Eddie, não me interrompa de novo. Se isso não for asma, treinador Black, então eu sou a rainha Elizabeth!
Sra. Kaspbrak, Eddie costuma parecer bem e feliz nas aulas de educação física. Adora participar de jogos e corre bem rápido. Na minha conversa com o dr. Baynes, a palavra “psicossomático” surgiu. Eu me pergunto se a senhora considerou a possibilidade de...
... de que meu filho seja louco? É isso que você está tentando dizer? VOCÊ ESTÁ TENTANDO DIZER QUE MEU FILHO É LOUCO????
Não, mas...
Ele é delicado.
Sra. Kaspbrak...
Meu filho é muito delicado.
Sra. Kaspbrak, o dr. Baynes confirmou que não conseguiu encontrar nada...
— ... fisicamente errado — concluiu Eddie. A lembrança daquele encontro humilhante, com a mãe gritando com o treinador Black no ginásio da escola Derry Elementary enquanto ele ofegava e se encolhia ao lado dela e os outros garotos se reuniam em torno de uma das cestas para olhar só voltara a ele esta noite em anos. E essa não era a única lembrança que a ligação de Mike Hanlon traria de volta, ele sabia. Conseguia sentir muitas outras, tão ruins ou até piores, se reunindo e se debatendo como consumidores enlouquecidos em uma liquidação, entulhados na porta de uma loja de departamentos. Mas em pouco tempo o aglomerado se abriria e elas chegariam. Ele tinha certeza. E o que encontrariam? A sanidade dele? Era possível. Pela metade do preço. Liquidação arrasadora. Queima de estoque.
— Nada fisicamente errado — repetiu ele, respirou fundo de forma trêmula e enfiou a bombinha no bolso.
— Eddie — disse Myra. — Por favor, me conte do que isso se trata!
Marcas de lágrimas reluziam nas bochechas gordas. As mãos se retorciam sem parar como um par de animais rosados e pelados brincando. Uma vez, pouco antes de pedi-la em casamento, ele pegou uma foto que Myra dera para ele e colocou ao lado da foto da mãe, que morrera de ataque cardíaco aos 64 anos. Na época da morte, a mãe de Eddie passou do peso de 180kg; 184kg, para ser exato. Ela tinha se tornado uma coisa quase monstruosa: seu corpo não parecia mais do que peitos, bunda e barriga, com o rosto pastoso e perpetuamente consternado por cima. Mas a foto que ele colocou ao lado da de Myra tinha sido tirada em 1944, dois anos antes de ele nascer (Você foi um bebê muito doente, sussurrou agora a mãe-fantasma em seu ouvido. Muitas vezes tememos pela sua vida...). Em 1944, a mãe tinha o peso relativamente leve de 81kg.
Ele fizera essa comparação, supunha ele, em um esforço final de se fazer parar de cometer incesto psicológico. Olhou da mãe para Myra, de Myra para a mãe.
Elas podiam ter sido irmãs. A semelhança era tanta assim.
Eddie olhou para as duas fotos quase idênticas e prometeu a si mesmo que não faria essa coisa louca. Ele sabia que os rapazes no trabalho já faziam piadas sobre Jack Sprat e sua esposa, mas não sabiam metade da história. As piadas e os comentários debochados ele conseguia suportar, mas será que queria mesmo ser um palhaço em um circo freudiano desses? Não. Não queria. Ele terminaria com Myra. Seria gentil com ela porque ela era muito doce e tinha ainda menos experiência com homens do que ele tinha com mulheres. E então, depois que ela finalmente velejasse para longe do horizonte da vida dele, talvez ele pudesse fazer aquelas aulas de tênis em que vinha pensando havia tanto tempo
(Eddie costuma parecer bem e feliz nas aulas de educação física)
ou havia títulos de sócio da piscina sendo vendidos no U. N. Plaza Hotel,
(Eddie adora participar de jogos)
sem mencionar a academia que abriu na Terceira Avenida em frente à garagem...
(Eddie corre bem rápido ele corre bem rápido quando a senhora não está aqui corre bem rápido quando não tem ninguém por perto para lembrá-lo do quanto é delicado e vejo no rosto dele sra. Kaspbrak que ele sabe já agora aos 9 anos ele sabe que o maior favor no mundo que ele poderia fazer a si mesmo seria correr rápido em qualquer direção em que você não esteja deixa ele ir sra. Kaspbrak deixa ele CORRER)
Mas no final ele casou-se com Myra mesmo assim. No final a mesmice e os velhos hábitos foram fortes demais. Lar era o local onde, quando você precisa ir para lá, eles precisam acorrentar você. Ah, ele podia ter vencido o fantasma da mãe. Teria sido difícil, mas ele tinha certeza de que teria conseguido, se aquilo fosse tudo que necessitava ser feito. Foi a própria Myra quem acabou afastando-o da independência. Ela o condenou com solicitude, o prendeu com a preocupação, o acorrentou com a doçura. Myra, como a mãe, teve a visão final e fatal da personalidade dele: Eddie era ainda mais delicado porque às vezes desconfiava que não era nada delicado; Eddie precisava ser protegido de seus próprios ímpetos burros de possível valentia.
Em dias chuvosos, Myra sempre tirava as galochas de dentro do saco plástico no armário e colocava junto do cabide de casacos ao lado da porta. Ao lado do prato de torrada sem manteiga todas as manhãs havia um prato do que poderia ser visto para um observador casual como cereal multicolorido e adoçado para uma criança, mas que um olhar mais atento revelaria ser um espectro completo de vitaminas (a maior parte das quais presentes na bolsa de remédios de Eddie naquele momento). Myra, como a mãe dele, entendia, e ele não teve chance nenhuma. Quando homem jovem e solteiro, ele saíra da casa da mãe três vezes e voltara para ela três vezes. Quatro anos depois que a mãe morreu no hall da frente do apartamento no Queens, bloqueando a porta tão completamente com o volume do corpo que o pessoal do socorro médico (chamados pelos moradores do andar de baixo quando ouviram o baque monstruoso da sra. Kaspbrak caindo pela última vez) teve que arrombar a porta trancada entre a cozinha do apartamento e a escadaria de serviço, ele voltou por uma quarta e última vez. Pelo menos ele acreditara que era pela última vez — de volta pra casa, de volta pra casa, lá-lá-lá; de volta pra casa, de volta pra casa, com Myra, a porca. Ela era uma porca, mas era uma porca doce, e ele a amava, e realmente ele não tivera chance nenhuma. Ela o atraíra com o olhar fatal e hipnotizador da compreensão.
De volta pra casa pra sempre, pensara ele na época.
Mas talvez eu estivesse errado, pensou ele. Talvez aqui não seja minha casa, nem nunca foi. Talvez meu lar seja o lugar pra onde tenho que ir hoje. O lar é o local onde, quando você vai pra lá, tem que finalmente encarar a coisa no escuro.
Ele tremeu indefeso, como se tivesse saído sem a capa e pegado um vento terrível.
— Eddie, por favor!
Ela estava começando a chorar de novo. Lágrimas eram a defesa final dela, assim como sempre foram a da mãe: a arma delicada que paralisa, que transforma a gentileza e o carinho em rachaduras fatais na armadura de uma pessoa.
Não que ele alguma vez tivesse usado armadura; elas não pareciam cair bem nele.
Lágrimas foram mais do que uma defesa para a mãe dele; elas foram uma arma. Myra raramente usou suas lágrimas tão cinicamente... mas, cinicamente ou não, ele se deu conta de que ela as estava tentando usar dessa forma agora... e estava se saindo bem.
Ele não podia deixar. Seria fácil demais pensar no quanto seria solitário ficar sentado em um trem que seguia para o norte na direção de Boston pela escuridão, com a mala no compartimento acima e a bolsa cheia de panaceias entre os pés, com o medo pesando no peito como um pacote rançoso de pastilhas Vick. Era fácil demais deixar Myra levá-lo para cima e fazer amor com ele com aspirina e uma massagem com álcool. E colocá-lo na cama, onde eles poderiam ou não fazer um tipo de amor ainda mais franco.
Mas ele prometera. Prometera.
— Myra, me escuta — disse ele, deixando a voz propositalmente seca, propositalmente direta.
Ela o observou com olhos molhados, nus, apavorados.
Ele pensou que tentaria agora explicar da melhor maneira que pudesse; contaria a ela que Mike Hanlon ligara e dissera que tinha começado de novo, e sim, ele achava que a maior parte dos outros também ia.
Mas o que saiu de sua boca foi coisa bem mais sensata.
— Vá até o escritório logo de manhã cedo. Fale com Phil. Diga pra ele que precisei viajar e que você vai dirigir pra Al Pacino...
— Eddie, não consigo! — choramingou ela. — Ele é um grande astro! Se eu me perder, ele vai gritar comigo, sei que vai, ele vai gritar, todos gritam quando o motorista se perde... e... e vou chorar... pode acontecer um acidente... provavelmente vai acontecer um acidente... Eddie... Eddie, você precisa ficar em casa...
— Pelo amor de Deus! Pare!
Ela se encolheu ao ouvir a voz dele, magoada; apesar de pegar a bombinha, Eddie não a usaria. Ela veria isso como fraqueza, uma que poderia usar contra ele. Bom Deus, se o Senhor estiver aí, por favor, acredite em mim quando digo que não quero magoar Myra. Não quero cortá-la, não quero nem machucá-la. Mas eu prometi, todos prometemos, fizemos um juramento com sangue, por favor, Deus, me ajude, porque preciso fazer isso...
— Odeio quando você grita comigo, Eddie — sussurrou ela.
— Myra, odeio quando preciso gritar — disse ele, e ela fez uma careta. Aí está, Eddie, você a machucou de novo. Por que não dá uns socos nela? Isso provavelmente seria mais delicado. E mais rápido.
De repente (deve ter sido o pensamento de dar socos em alguém que fez a imagem surgir), ele viu o rosto de Henry Bowers. Foi a primeira vez que pensou em Bowers em anos, e não ajudou em nada sua paz de espírito. Nem um pouco.
Ele fechou os olhos brevemente, depois os abriu e disse:
— Você não vai se perder, e ele não vai gritar com você. O sr. Pacino é muito gentil, muito compreensivo. — Ele nunca tinha dirigido para Al Pacino na vida, mas se contentou em saber que pelo menos a lei das probabilidades estava do lado dele nessa mentira: de acordo com boatos populares, a maior parte das celebridades era sacana, mas Eddie dirigira para um número suficiente para saber que costumava não ser verdade.
É claro que havia exceções à regra, e na maior parte dos casos, as exceções eram verdadeiras monstruosidades. Ele torcia fervorosamente pelo bem de Myra para que Pacino não fosse um desses.
— Ele é? — perguntou ela timidamente.
— É. É, sim.
— Como você sabe?
— Demetrios dirigiu pra ele duas ou três vezes quando trabalhava na Manhattan Limousine — disse Eddie de maneira loquaz. — Ele disse que o sr. Pacino sempre dava pelo menos 50 dólares de gorjeta.
— Eu não me importaria se ele só me desse 50 centavos, desde que não gritasse comigo.
— Myra, é tão fácil quanto contar até três. Um, você pega ele no Saint Regis amanhã às 19h e leva para o prédio da ABC. Estão refilmando a última cena da peça da qual Al Pacino participa, acho que se chama American Buffalo. Dois, você leva ele de volta pro Saint Regis por volta das 23h. Três, você volta pra garagem, entrega o carro e assina a folha.
— Só isso?
— Só isso. Você pode fazer de cabeça pra baixo, Marty.
Ela costumava rir ao ouvir o apelido, mas agora só olhou para ele com seriedade dolorosa e infantil.
— E se ele quiser sair pra jantar em vez de voltar pro hotel? Ou ir beber? Ou dançar?
— Acho que não vai querer, mas se acontecer, você leva ele. Se parecer que ele vai ficar na farra a noite toda, você pode chamar Phil Thomas pelo rádio depois da meia-noite. A essa altura, ele vai ter um motorista livre pra assumir seu lugar. Eu jamais colocaria você em uma coisa assim se tivesse um motorista livre, mas dois estão doentes, Demetrios está de férias e todos os outros têm trabalho marcado. Você vai estar na cama à uma da manhã, Marty. Uma da manhã no máximo. Dou minha garantia abiiiisoluta.
Ela também não riu do abiiiisoluta.
Ele limpou a garganta e se inclinou para a frente, com os cotovelos sobre os joelhos. Imediatamente, sua mãe-fantasma sussurrou: Não se sente assim, Eddie. Faz mal pra sua postura e espreme seus pulmões. Você tem pulmões muito delicados.
Ele se sentou ereto de novo, sem nem perceber que estava fazendo isso.
— É melhor que seja a única vez que preciso dirigir — disse ela, quase gemendo. — Virei um cavalo nos últimos dois anos, e meus uniformes ficam horríveis agora.
— É a única vez, eu prometo.
— Quem te ligou, Eddie?
Como se combinado, luzes penetraram na sala; uma buzina tocou uma vez e o táxi embicou na garagem. Ele sentiu uma onda de alívio. Eles tinham passado 15 minutos falando de Pacino em vez de Derry, Mike Hanlon e Henry Bowers, e isso era bom. Bom para Myra e bom para ele também. Ele não queria passar nenhum tempo pensando nem falando sobre aquelas coisas até que fosse necessário.
Eddie ficou de pé.
— É o meu táxi.
Ela se levantou tão rápido que tropeçou na barra da própria camisola e caiu para a frente. Eddie a segurou, mas por um momento a questão ficou em dúvida profunda: ela era mais pesada do que ele cerca de 50 quilos.
E estava começando a perguntar de novo.
— Eddie, você precisa me contar!
— Não posso. Não dá tempo.
— Você nunca escondeu nada de mim antes, Eddie — chorou ela.
— E não estou escondendo agora. Não de verdade. Não me lembro de tudo. Pelo menos, ainda não. O homem que ligou era, é, um velho amigo. Ele...
— Você vai ficar doente — disse ela desesperadamente, seguindo-o quando ele andou para o hall da frente. — Sei que vai. Me deixa ir, Eddie, por favor, vou cuidar de você, Pacino pode pegar um táxi, sei lá, não vai matar ele, o que você acha, hein? — A voz dela estava aumentando, ficando frenética, e para o horror de Eddie ela começou a parecer mais e mais com sua mãe, sua mãe como estava nos últimos meses antes de morrer: velha, gorda e doida. — Vou fazer massagem nas suas costas e cuidar pra que você tome seus remédios... eu... vou ajudar você... não vou falar se você não quiser, mas você pode me contar tudo... Eddie... Eddie, por favor, não vá! Eddie, por favor! Por favooooooor!
Ele estava descendo o corredor para a porta da frente agora, andando cegamente, com a cabeça baixa, movendo-se como um homem se move contra o vento forte. Estava ofegante de novo. Quando pegou as malas, cada uma parecia pesar 50 quilos. Conseguia sentir as mãos gordas e rosadas dela nele, tocando-o, explorando-o, puxando com desejo impotente, mas sem força real, tentando seduzi-lo com as lágrimas doces de preocupação, tentando atraí-lo de volta.
Não vou conseguir!, pensou ele desesperadamente. A asma estava pior agora, pior do que em qualquer ocasião desde que ele era criança. Ele esticou a mão para a maçaneta, mas ela pareceu se afastar, se recolher na escuridão do espaço sideral.
— Se você ficar, vou fazer bolo de café com creme azedo — disse ela. — Vamos comer pipoca... faço seu prato favorito de peru no jantar... faço de café da manhã amanhã se você quiser... começo agora mesmo... e molho de miúdos... Eddie por favor estou com medo você está me assustando muito!
Ela segurou o colarinho dele e o puxou para trás, como um policial corpulento agarrando um suspeito que está tentando fugir. Com um esforço final, Eddie continuou a andar... e quando estava no fim das forças e capacidade de resistir, sentiu o toque dela se afastar.
Ela deu um grito final.
Os dedos dele se fecharam ao redor da maçaneta, e quão abençoadamente fria ela estava! Ele abriu a porta e viu um táxi Checker parado lá fora, um embaixador da terra da sanidade. A noite estava clara. As estrelas estavam luminosas e lúcidas.
Ele se virou para Myra, ofegante e sibilante.
— Você precisa entender que não é uma coisa que eu queira fazer — disse ele. — Se eu tivesse escolha, qualquer escolha, eu não iria. Por favor, entenda isso, Marty. Eu vou, mas volto.
Ah, mas isso pareceu mentira.
— Quando? Por quanto tempo?
— Uma semana. Talvez dez dias. Sem dúvida não mais que isso.
— Uma semana! — gritou ela, com as mãos contra os seios como uma diva em uma ópera ruim. — Uma semana! Dez dias! Por favor, Eddie! Por favoooooor...
— Marty, para. Tá? Já chega.
Milagrosamente, ela fez isso: parou e ficou olhando para ele com olhos molhados e feridos, não com raiva, só apavorada por ele e, coincidentemente, por si mesma. E talvez pela primeira vez em todos os anos que ele a conhecia, ele sentiu que podia amá-la seguramente. Será que fazia parte do afastamento? Ele achava que sim. Não... pode jogar o achava na privada. Ele sabia que sim. Ele já se sentia como uma coisa morando no lado errado de um telescópio.
Mas talvez não houvesse problema. Era isso o que ele queria dizer? Que tinha finalmente decidido que não tinha problema amá-la? Que não tinha problema apesar de ela parecer sua mãe quando mais nova e apesar de ela comer brownies na cama enquanto via Hardcastle and McCormick e Falcon Crest e as migalhas sempre caírem do lado dele e apesar de ela não ser tão inteligente e apesar de ela entender e aceitar seus remédios no armário do banheiro porque guardava os dela na geladeira?
Ou era...
Podia ser...
Essas outras ideias eram coisas que ele tinha considerado de uma forma ou de outra, em algum momento, durante suas vidas estranhamente entrelaçadas como filho e amante e marido; agora, no momento de sair de casa pelo que parecia ser a última vez, uma nova possibilidade lhe ocorreu, e um espanto assustado o tocou como a asa de algum pássaro enorme.
Poderia Myra estar com mais medo do que ele estava?
Será que a mãe dele também?
Outra lembrança de Derry voltou voando do subconsciente como fogos de artifício estalando. Havia uma loja de sapatos na rua Center. The Shoeboat. Sua mãe o levara lá um dia, ele achava que não passava de 5 ou 6 anos de idade, e disse para ele ficar quieto e ser bonzinho enquanto ela comprava um par de sapatos brancos de salto para um casamento. Assim, ele ficou quieto e foi bonzinho enquanto a mãe conversava com o sr. Gardener, que era um dos funcionários da loja, mas ele só tinha 5 anos (ou talvez 6), e depois que a mãe rejeitou o terceiro par de sapatos brancos de salto que o sr. Gardener mostrou a ela, Eddie ficou entediado e andou até o canto para olhar uma coisa que tinha visto lá. A princípio, ele achou que era apenas uma caixa grande de pé. Quando chegou mais perto, concluiu que era algum tipo de mesa. Mas era a mesa mais estranha que ele tinha visto. Era tão estreita! Era feita de madeira polida com várias linhas curvas incrustadas e desenhos entalhados. Além do mais, havia três degraus que levavam até ela, e ele nunca tinha visto uma mesa com degraus. Quando chegou bem perto, ele viu que havia uma abertura na parte de baixo da coisa-mesa, um botão de cada lado, e em cima, fascinante!, havia uma coisa idêntica ao Espaçoscópio do Capitão Vídeo.
Eddie andou até o outro lado e viu uma placa. Ele devia ter pelo menos 6 anos, porque conseguiu ler, sussurrando baixinho cada palavra:
SEUS SAPATOS CABEM DIREITO?
VERIFIQUE E VEJA!
Ele voltou para o outro lado, subiu os três degraus até a pequena plataforma e enfiou o pé no buraco na parte de baixo do verificador. Os sapatos dele cabiam direito? Eddie não sabia, mas estava doido para verificar e ver. Ele enfiou o rosto no protetor de borracha e apertou o botão. Uma luz verde brilhou sobre seus olhos. Eddie sufocou um grito. Conseguia ver um pé flutuando dentro de um sapato cheio de fumaça verde. Ele mexeu os dedos, e os dedos para o qual ele estava olhando se balançaram também; eram mesmo os dele, como ele desconfiava. E então ele percebeu que não eram apenas os dedos que ele conseguia ver; conseguia ver os ossos também! Os ossos do pé ! Ele cruzou o dedão com o segundo dedo (como se afastando sorrateiramente as consequências de contar uma mentira), e os ossos sobrenaturais no instrumento fizeram um xis que não era branco, mas verde como um duende. Ele conseguia ver...
Naquele momento, sua mãe gritou, um som crescente de pânico que partiu a loja silenciosa de sapatos como uma ceifa, como um sino de fogo, como o fim do mundo a cavalo. Ele tirou o rosto assustado e consternado do visor e a viu correndo de meias pela loja em direção a ele, com o vestido voando atrás. Derrubou uma cadeira, e uma daquelas coisas de medir sapato que sempre fazia cócegas nos seus pés saiu voando. Os seios dela se balançavam. Sua boca era um O escarlate de pavor. Rostos se viraram para acompanhar o progresso dela.
— Eddie saia daí! — gritou ela. — Saia daí! Essas máquinas vão te fazer ter câncer! Saia daí! Eddie! Eddieeeeee...
Ele recuou como se a máquina de repente estivesse pelando. Em seu pânico assustado, ele se esqueceu dos degraus atrás de si. Seus calcanhares caíram do de cima e ele ficou ali de pé, caindo lentamente para trás, com os braços girando loucamente em uma batalha perdida para recuperar o equilíbrio. E ele não pensou com uma espécie louca de alegria: Vou cair! Vou descobrir como é cair e bater a cabeça! Que bom!...? Ele não pensou isso? Ou era apenas o homem impondo as ideias adultas acima da mente da criança, sempre rugindo com conjecturas confusas e imagens não totalmente percebidas (imagens que perdiam o sentido na claridade), pensou... ou tentou pensar?
Fosse como fosse, era uma pergunta retórica. Ele não caiu. A mãe chegou a tempo. A mãe o segurou. Ele caiu no choro, mas não caiu.
Todo mundo estava olhando para eles. Ele se lembrava disso. Lembrava-se do sr. Gardener pegando a coisa de medir sapatos e verificando os aparatos deslizantes para ter certeza de que ainda estavam bons enquanto outro vendedor endireitava a cadeira caída e batia os braços uma vez, com nojo e diversão, antes de recuperar a expressão agradavelmente neutra de vendedor. O que ele mais se lembrava era da bochecha molhada da mãe e do hálito quente e azedo. Ele se lembrava dela sussurrando sem parar em seu ouvido: “Nunca mais faça isso, nunca mais faça isso, nunca mais.” Era o que a mãe repetia para afastar os problemas. Ela cantarolou a mesma coisa um ano antes, quando descobriu que a babá tinha levado Eddie para a piscina pública no parque Derry em um dia de verão abafado e quente. Isso foi quando o medo da pólio no início dos anos 1950 estava começando a morrer. Ela o arrastou da piscina repetindo que ele nunca mais devia fazer aquilo, nunca, nunca, e todas as crianças ficaram com a cara que todos os vendedores e fregueses estavam agora, e o hálito dela tinha o mesmo toque azedo.
Ela o arrastou para fora do The Shoeboat, gritando com os vendedores que ela veria todos no tribunal se houvesse alguma coisa errada com o menino dela. As lágrimas apavoradas de Eddie continuaram a cair pelo resto da manhã, e sua asma atacou com intensidade maior durante todo aquele dia. Naquela noite, ele ficou acordado durante horas depois da hora em que costumava dormir, se perguntando exatamente o que seria câncer, se era pior do que pólio, se matava, quanto tempo demorava caso matasse e o quanto doía antes de você morrer. Ele também se perguntava se iria para o inferno depois.
A ameaça foi séria, isso ele sabia.
Ela sentiu tanto medo. Era assim que ele sabia.
Ficou tão apavorada.
— Marty — disse ele tantos anos depois —, você me daria um beijo?
Ela o beijou e abraçou com tanta força que os ossos nas costas dele estalaram. Se estivéssemos dentro d’água, pensou ele, ela afogaria os dois.
— Não tenha medo — sussurrou ele no ouvido dela.
— Não consigo controlar! — gritou ela.
— Eu sei — disse ele, e percebeu que, apesar de ela o estar abraçando com força de quebrar costelas, a asma tinha melhorado. O sibilar na respiração sumiu. — Eu sei, Marty.
O motorista do táxi buzinou de novo.
— Você vai ligar? — pediu ela com voz trêmula.
— Se eu puder.
— Eddie, você não pode por favor me dizer o que é?
E vamos supor que pudesse? O quanto ajudaria a tranquilizar a mente dela?
Marty, recebi uma ligação de Mike Hanlon hoje e conversamos um pouco, mas tudo que dissemos se resume a duas coisas. “Começou de novo”, disse Mike; “Você vem?”, disse Mike. E agora, estou com febre, Marty, só que é uma febre que não baixa com aspirina, e estou com uma falta de fôlego que a maldita bombinha não resolve, porque essa falta de fôlego não é na garganta nem nos pulmões, é ao redor do meu coração. Vou voltar pra você se puder, Marty, mas me sinto um homem de pé na boca de uma velha mina cheia de deslizamentos prestes a acontecer, me despedindo da luz do dia.
Sim, sem dúvida! Isso obviamente tranquilizaria a mente dela.
— Não — disse ele — Não dá pra contar o que é.
E antes que ela pudesse falar mais, antes que pudesse recomeçar (Eddie, saia desse táxi! Ele vai te fazer ter câncer!), ele estava andando para longe dela, cada vez mais rápido. Quando chegou ao táxi, estava quase correndo.
Ela ainda estava de pé na porta quando o táxi saiu para a rua de ré, ainda de pé quando eles saíram para a cidade, uma grande sombra negra de mulher contornada pela luz que saía da casa deles. Ele acenou e achou que ela levantou a mão em resposta.
— Pra onde vamos hoje, amigo? — perguntou o motorista.
— Penn Station — disse Eddie, e sua mão relaxou sobre a bombinha. A asma tinha ido para onde quer que ela fosse para repousar entre os ataques aos brônquios dele. Ele se sentia... quase bem.
Mas precisou da bombinha mais do que nunca quatro horas depois, ao sair de um cochilo leve em um único salto espasmódico que fez o sujeito de terno do outro lado baixar o jornal e olhar para ele com curiosidade levemente apreensiva.
Eu voltei, Eddie!, gritou a asma com alegria. Eu voltei e, ah, não sei, desta vez quem sabe eu vou te matar! Por que não? Vou ter que fazer isso alguma hora, sabe! Não dá pra ficar enrolando pra sempre!
O peito de Eddie se agitou e repuxou. Ele tateou em busca da bombinha, encontrou e apontou para a garganta, depois apertou. Em seguida, se recostou no assento alto da Amtrak, tremendo, esperando alívio, pensando no sonho do qual tinha acabado de acordar. Sonho? Meu Deus, se isso fosse tudo. Ele tinha medo de ser mais lembrança do que sonho. Nele houvera uma luz verde como a luz dentro da máquina de raios-X de uma loja de sapatos e um leproso podre que perseguiu um garoto chamado Eddie Kaspbrak aos gritos por túneis debaixo da terra. Ele correu e correu
(ele corre bem rápido disse o treinador Black pra sua mãe e ele correu bem rápido com aquela coisa podre atrás dele ah sim pode acreditar pode apostar seu couro)
nesse sonho em que tinha 11 anos, e então sentiu um cheiro de uma coisa como a morte do tempo, e alguém acendeu um fósforo e ele olhou para baixo e viu o rosto em decomposição de um garoto chamado Patrick Hockstetter, um garoto que desapareceu em julho de 1958, e havia vermes rastejando para dentro e para fora das bochechas de Patrick Hockstetter, e aquele cheiro denso e horrível estava vindo de dentro de Patrick Hockstetter e nesse sonho que era mais lembrança do que sonho ele olhou para um lado e viu dois livros escolares inchados pela umidade e cobertos de mofo verde: Roads to Everywhere e Understanding Our America. Estavam em tais condições por causa da umidade fedida aqui embaixo (“Como passei as férias de verão”, redação de Patrick Hockstetter: “Passei morto em um túnel! Cresceu mofo nos meus livros e eles incharam até ficarem do tamanho de catálogos da Sears!”). Eddie abriu a boca para gritar e foi aí que os dedos repulsivos do leproso tocaram sua bochecha e se enfiaram em sua boca, e foi aí que ele acordou com aquele salto de estalar as costas e se viu não nos esgotos abaixo de Derry, Maine, mas em um vagão de trem Amtrak perto do primeiro carro percorrendo Rhode Island sob uma grande lua branca.
O homem do outro lado do corredor hesitou, quase desistiu de falar e disse:
— Tudo bem, senhor?
— Ah, sim — disse Eddie. — Adormeci e tive um sonho ruim. Fez minha asma atacar.
— Entendo. — O jornal subiu de novo. Eddie viu que era o jornal que sua mãe às vezes chamava de Judeu York Times.
Eddie olhou pela janela para um cenário adormecido, iluminado apenas pela bela lua. Aqui e ali havia casas, ou algumas vezes aglomerados delas, a maioria na escuridão, algumas com luzes acesas. Mas as luzes pareciam fracas e falsamente debochadas em comparação com o brilho fantasmagórico da lua.
Ele achava que a lua falava com ele, pensou ele de repente. Henry Bowers. Deus, ele era tão louco. Ele se perguntou onde Henry Bowers estava agora. Morto? Preso? Vagando por planícies vazias em algum lugar no meio do país como um vírus incurável, assaltando Seven-Elevens nas horas tranquilas entre uma e quatro da madrugada, ou talvez matando algumas das pessoas burras o bastante para hesitar sob a mira da arma à ordem de transferir os dólares em suas carteiras para a dele?
Era possível, era possível.
Em um manicômio estadual em algum lugar? Olhando para esta lua, que estava quase cheia? Falando com ela, ouvindo respostas que só ele conseguia ouvir?
Eddie considerou isso ainda mais possível. Ele tremeu. Estou finalmente me lembrando da minha infância, pensou ele. Estou lembrando como passei as férias de verão naquele ano obscuro e morto de 1958. Ele pressentia que agora podia se concentrar em quase qualquer cena daquele verão que quisesse, mas não queria. Ah, Deus, se eu apenas pudesse esquecer tudo de novo.
Ele apoiou a testa no vidro sujo da janela, com a bombinha na mão frouxa como se fosse um artefato religioso, vendo a noite voar ao redor do trem.
Indo pro norte, pensou ele, mas isso estava errado.
Não indo pro norte. Porque não é um trem, é uma máquina do tempo. Não pro norte; pra trás. Voltando no tempo.
Ele pensou ter ouvido a lua murmurar.
Eddie Kaspbrak apertou a bombinha com força e fechou os olhos contra uma vertigem repentina.
Beverly Rogan toma uma surra
Tom estava quase dormindo quando o telefone tocou. Ele lutou para se levantar um pouco e se inclinou; sentiu um dos seios de Beverly espremido sobre seu ombro quando ela esticou o braço para atender. Ele voltou a se deitar no travesseiro, perguntando-se quem estava ligando para o número residencial não listado a essa hora da noite. Ouviu Beverly dizer alô e voltou a adormecer. Ele tinha bebido quase uma dúzia e meia de cervejas durante o jogo de beisebol e estava exausto.
Ouviu a voz de Beverly, aguda e curiosa, perfurar seu ouvido como um cortador de gelo, e voltou a abrir os olhos:
— O quêêêê?
Ele tentou se sentar, mas o fio do telefone afundou em seu pescoço grosso.
— Tira essa porra de cima de mim, Beverly — disse ele, e ela se levantou rapidamente e andou ao redor da cama, segurando o fio do telefone com os dedos.
Seu cabelo era ruivo escuro e caía pela camisola em ondas naturais quase até a cintura. Cabelo de puta. Os olhos dela não seguiram para o rosto dele para ler a tempestade emocional ali, e Tom Rogan não gostou disso. Ele se sentou. Sua cabeça estava começando a doer. Merda, já devia estar doendo, mas quando você estava dormindo, não percebia.
Ele foi para o banheiro, urinou pelo que pareceram três horas e decidiu que, como estava de pé, devia pegar outra cerveja e tentar afastar a maldição da ameaça de ressaca.
Ao passar pelo quarto a caminho da escada, um homem de cueca boxer branca que balançava como velas de um barco abaixo da barriga considerável, com os braços parecendo troncos (ele parecia mais um estivador do que o presidente e gerente geral da Beverly Fashions, Inc.), ele olhou por cima do ombro e gritou mal-humorado:
— Se for aquela sapatão da Lesley, manda ela ir chupar uma modelo qualquer e deixar a gente dormir!
Beverly ergueu o olhar brevemente, balançou a cabeça para indicar que não era Lesley e olhou de volta para o telefone. Tom sentiu os músculos da nuca se contraírem. Parecia uma dispensa. Dispensado pela Milady. Miporralady. Isso estava começando a parecer que ia virar uma situação. Talvez Beverly precisasse de uma aula curta de revisão sobre quem estava no comando aqui. Era possível. Às vezes, ela precisava. Aprendia muito devagar.
Ele desceu a escada e andou pelo corredor até a cozinha, puxando a cueca da racha da bunda sem prestar muita atenção, e abriu a geladeira. A mão que ele esticou capturou algo nada alcoólico, um Tupperware de sobra de macarrão a Romanoff. A cerveja toda tinha acabado. Até a lata que ele guardava bem atrás (do mesmo jeito que mantinha uma nota de vinte dólares dobrada atrás da carteira de motorista para emergências) tinha sumido. O jogo teve 14 ciclos, e tudo para nada. O White Sox perdeu. Bando de bichinhas esse ano.
Seus olhos se desviaram para as garrafas de bebidas pesadas na prateleira com porta de vidro acima da bancada da cozinha, e por um momento ele se viu se servindo de uma dose de Jim Beam sobre um único cubo de gelo. Mas acabou voltando para a escada, sabendo que estaria pedindo mais confusão do que a cabeça já estava sentindo. Ele olhou para o mostrador do antigo relógio de pêndulo no pé da escada e viu que passava da meia-noite. Essa informação não melhorou em nada seu humor, que nunca era muito bom mesmo no melhor dos momentos.
Ele subiu a escada com lentidão deliberada, ciente, ciente demais, do quanto seu coração estava se esforçando. Ka-bum, ka-pam. Ka-bum, ka-pam. Ka-bum, ka-pam. Ele ficava nervoso quando conseguia sentir nos ouvidos e pulsos o coração batendo, tanto quanto no peito. Às vezes, quando isso acontecia, ele o imaginava não como um órgão que espreme e afrouxa, mas como um painel enorme no lado esquerdo do peito com uma agulha chegando ameaçadoramente perto da zona vermelha. Não gostava dessa merda; não precisava dessa merda. O que ele precisava era de uma boa noite de sono.
Mas a vaca burra com quem ele era casado ainda estava ao telefone.
— Entendo isso, Mike... sim... sim, eu vou... eu sei... mas...
Uma pausa mais longa.
— Bill Denbrough? — exclamou ela, e o furador de gelo entrou pelo seu ouvido de novo.
Ele ficou de pé do lado de fora da porta do quarto até recuperar o fôlego. Agora estava ka-pam, ka-pam, ka-pam de novo: o estouro tinha parado. Imaginou brevemente a agulha se afastando do vermelho e tirou a imagem da cabeça. Ele era um homem, pelo amor de Deus, e um homem muito bom, não uma fornalha com termostato ruim. Estava em ótima forma. Era de ferro. E se ela precisasse reaprender isso, ele ficaria feliz em ensinar.
Ele começou a entrar, mas pensou melhor e ficou onde estava mais um momento, ouvindo-a, não ligando para com quem ela estava falando nem o que dizia, só ouvindo os tons altos e baixos da voz dela. E o que ele sentiu foi a familiar fúria cega.
Ele a conhecera em um bar para solteiros no centro de Chicago quatro anos antes. A conversa foi fácil porque os dois trabalhavam no prédio da Standard Brands e conheciam algumas pessoas em comum. Tom trabalhava na King & Landry Relações Públicas no 42º andar. Beverly Marsh, o nome dela na época, era estilista assistente na Delia Fashions, no 12º. Delia, que mais tarde seria moderadamente popular no Meio-Oeste, produzia para o público jovem; as saias, as blusas, os xales e as calças da Delia eram vendidos para o que Delia Castleman chamava de “lojas de jovens” e o que Tom chamava de “loja de maconheiros”. Tom Rogan soube duas coisas sobre Beverly Marsh quase imediatamente: ela era desejável e era vulnerável. Em menos de um mês, soube uma terceira também: ela era talentosa. Muito talentosa. Nos desenhos que fazia de vestidos casuais e blusas, ele via uma máquina de fazer dinheiro de potencial quase assustador.
Mas não nas lojas de maconheiros, pensou ele, mas não disse (pelo menos não na época). Chega de iluminação ruim, chega de preços baixos, chega de áreas de exibição de merda no fundo da loja entre a parafernália de drogas e as camisetas de banda de rock. Que essa merda fique para os menores.
Ele descobriu uma boa quantidade de coisas sobre ela antes que ela soubesse que ele estava realmente interessado, e era assim que Tom queria. Estava procurando alguém como Beverly Marsh a vida toda, e partiu para cima com a velocidade de um leão atrás de um antílope lento. Não que a vulnerabilidade ficasse evidente na superfície; você olhava e via uma bela mulher, magra, mas cheia de curvas. Os quadris não eram grande coisa, talvez, mas ela tinha uma bela bunda e os melhores peitos que ele já tinha visto. Tom Rogan era homem de peitos, sempre fora, e garotas altas quase sempre tinham peitos decepcionantes. Usavam blusas finas e os mamilos te deixavam doido, mas quando você tirava essas blusas finas, descobria que mamilos eram tudo que elas tinham. Os peitos em si pareciam puxadores de gaveta. “Um monte de desperdício”, seu colega de quarto de faculdade gostava de dizer, mas no que dizia respeito a Tom, seu colega de quarto de faculdade era tão ruim de roda que cantava pneu em todas as curvas.
Ah, ela era bem linda mesmo, com aquele corpo explosivo e a bela cascata de cabelos ruivos ondulados. Mas era fraca... fraca, de alguma forma. Era como se estivesse enviando sinais de rádio que só ele conseguia receber. Era possível apontar para certas coisas: o quanto ela fumava (mas ele quase a tinha curado disso); a forma inquieta como seus olhos se moviam, nunca observando os de quem estava falando com ela, apenas tocando neles de tempos em tempos e se afastando; o hábito de esfregar de leve os cotovelos quando estava nervosa; a aparência das unhas, que eram bem-cuidadas, mas estavam sempre brutalmente curtas. Tom reparou isso no dia em que a conheceu. Ela pegou a taça de vinho branco, ele viu as unhas e pensou: Ela as deixa curtas assim porque rói.
Leões podem não pensar, pelo menos não como as pessoas pensam... mas eles veem. E quando os antílopes correm para longe de um lago, alertados pelo aroma de terra da morte que se aproxima, os felinos podem observar qual fica para trás do grupo, talvez por ter uma perna ruim, talvez por ser naturalmente mais lento... ou talvez porque seu senso de perigo seja menos desenvolvido. E pode até ser possível que alguns antílopes (e algumas mulheres) queiram ser abatidos.
De repente, ele ouviu um som que o arrancou rudemente dessas lembranças: o estalo do isqueiro dela.
A fúria cega voltou. Seu estômago se encheu de um calor que não era completamente desagradável. Fumando. Ela estava fumando. Eles tiveram alguns Seminários Especiais de Tom Rogan sobre o assunto. E aqui estava ela, fazendo de novo. Era lenta no aprendizado mesmo, mas um bom professor atinge seu melhor com alunos lentos.
— Sim — disse ela agora. — Aham. Tudo bem. Sim... — Ela escutou, depois deu uma risada estranha e irregular que ele nunca ouviu antes. — Duas coisas, já que você perguntou: reserve um quarto e faça uma oração pra mim. Sim, certo... aham... eu também. Boa noite.
Ela estava desligando quando ele entrou. Ele queria entrar com tudo, gritando com ela para apagar, apagar agora, AGORA!, mas quando a viu, as palavras morreram em sua garganta. Ele a tinha visto assim antes, mas só duas ou três vezes. Uma vez antes do primeiro grande desfile deles, uma vez antes da primeira prévia particular para compradores nacionais, e uma vez quando eles foram para Nova York para o International Design Awards.
Ela estava cruzando o quarto em passadas largas, com a camisola branca de renda moldada ao corpo, o cigarro preso entre os dentes da frente (Deus, ele odiava a aparência dela com uma guimba na boca) emitindo uma fileira branca por cima do ombro esquerdo como fumaça saindo da chaminé de uma locomotiva.
Mas foi o rosto dela que o fez pausar, que fez a gritaria planejada morrer em sua garganta. Seu coração deu um salto (ka-BAMP) e ele se encolheu, dizendo para si mesmo que o que sentia não era medo, mas apenas surpresa por encontrá-la assim.
Ela era uma mulher que ganhava vida quando o ritmo do trabalho se aproximava do clímax. Cada uma das ocasiões lembradas foi relacionada ao trabalho. Nessas épocas, ele viu uma mulher diferente da que conhecia tão bem, uma mulher que detonava seu radar sensitivo de medo com trechos enormes de estática. A mulher que surgia em momentos de estresse era forte mas tensa, destemida mas imprevisível.
Havia muita cor nas bochechas dela agora, um rubor natural no alto das maçãs do rosto. Os olhos estavam arregalados e cintilando, sem nem um traço de sono. O cabelo caía em cascata. E... ah, vejam isso, amigos e vizinhos! Vejam bem isso! Ela está tirando uma mala do armário? Uma mala? Por Deus, está!
Reserve um quarto... faça uma oração pra mim.
Bem, ela não precisaria de quarto em hotel nenhum, não no futuro próximo, porque a pequena Beverly Rogan ficaria bem aqui em casa, muito obrigado, e faria as refeições de pé nos próximos três ou quatro dias.
Mas ela podia mesmo precisar de uma oração ou duas antes de ele terminar com ela.
Ela jogou a mala no pé da cama e foi até a cômoda. Abriu a gaveta de cima e pegou duas calças jeans e uma de veludo. Jogou na mala. Voltou para a cômoda, com o cigarro emitindo fumaça por cima do ombro. Pegou um suéter, duas camisetas, uma das velhas blusas Ship ’n Shore que a deixavam com aparência idiota, mas das quais ela não abria mão. Quem tinha ligado para ela não era rico. Era coisa simples, estritamente Jackie-Kennedy em Hyannisport no fim de semana.
Não que ele se importasse com quem ligou para ela e onde ela pensava que ia, já que não ia para lugar nenhum. Essas eram coisas que estalavam regularmente em sua mente, cega e dolorosa por causa de muita cerveja e pouco sono.
Era o cigarro.
Supostamente, ela tinha jogado todos fora. Mas mentiu para ele, e a prova estava presa entre os dentes dela agora. E como ela ainda não tinha reparado nele de pé na porta, ele se permitiu o prazer de lembrar-se das duas noites que o asseguraram de seu controle completo sobre ela.
Não quero mais que você fume perto de mim, disse ele para ela quando eles seguiam para casa depois de uma festa em Lake Forest. Isso foi em outubro. Tenho que engolir essa merda em festas e no escritório, mas não preciso engolir quando estou com você. Sabe como é? Vou te falar a verdade; é desagradável, mas é verdade. É como ter que comer a meleca de outra pessoa.
Ele achou que isso despertaria uma leve onda de protesto, mas ela só olhou para ele com a expressão tímida de quem quer agradar. A voz estava baixa, dócil e obediente. Tudo bem, Tom.
Joga fora, então.
Ela jogou. Tom ficou de bom humor o resto daquela noite.
Algumas semanas depois, ao sair do cinema, ela acendeu um cigarro no saguão sem pensar e tragou enquanto eles andavam pelo estacionamento, em direção ao carro. Era uma noite fria de novembro, e o vento atacava loucamente qualquer centímetro quadrado de pele exposta que encontrasse. Tom lembrou que conseguira sentir o cheiro do lago, do jeito que às vezes dava nas noites frias: um cheiro frio que era ao mesmo tempo de peixe e vazio. Ele a deixou fumar o cigarro. Até abriu a porta para ela quando chegaram ao carro. Ele entrou atrás do volante, fechou a porta e disse: Bev?
Ela tirou o cigarro da boca, se virou para ele com expressão de pergunta e ele deu uma porrada nela, com a mão aberta e dura atingindo a bochecha com força suficiente para fazer a palma da mão formigar, com força suficiente para empurrar a cabeça dela para trás, sobre o apoio de cabeça. Seus olhos se arregalaram de surpresa e dor... e uma outra coisa também. Ela levou a mão à bochecha para investigar o calor e o formigamento dormente. Ela gritou: Aiii! Tom!
Ele a observou com olhos apertados, um sorriso casual na boca, completamente vivo, pronto para ver o que viria depois, como ela reagiria. Seu pau estava ficando duro dentro da calça, mas ele mal reparou. Isso era para depois. Agora, a aula tinha começado. Ele reviu o que tinha acabado de acontecer. O rosto dela. O que tinha sido aquela terceira expressão que surgiu por um breve instante e sumiu? Primeiro, a surpresa. Depois, a dor. Depois a
(nostalgia)
aparência de uma lembrança... de alguma lembrança. Foi apenas por um momento. Ele achava que ela nem sabia que tinha surgido, no rosto ou na mente.
Agora: agora. Tudo estaria na primeira coisa que ela não disse. Ele sabia disso tão bem quanto sabia o próprio nome.
Não foi Seu filho da puta!
Não foi Até mais, machão.
Não foi Acabou, Tom.
Ela só olhou para ele com olhos castanhos feridos e molhados e disse: Por que você fez isso? Em seguida, tentou dizer outra coisa e caiu no choro.
Joga fora.
O quê? O que, Tom? A maquiagem dela estava escorrendo pelo rosto em linhas pretas. Ele não ligava para isso. Até gostava de vê-la assim. Era uma bagunça, mas havia alguma coisa de sexy também. De piranha. Era meio excitante.
O cigarro. Joga fora.
A percepção surgiu. E com ela, a culpa.
Eu esqueci!, gritou ela. Só isso!
Joga fora, Bev, ou você vai levar outra porrada.
Ela abriu a janela e jogou o cigarro fora. Em seguida, se virou para ele, com o rosto pálido e assustado e de certa forma sereno.
Você não pode... você não deve me bater. É uma base ruim para um... um... relacionamento duradouro. Ela estava tentando encontrar um tom, um ritmo adulto de fala, mas falhou. Ele a tinha regredido. Estava no carro com uma criança. Voluptuosa e sexy para cacete, mas uma criança.
Não posso e não vou são duas coisas diferentes, garota, disse ele. Manteve a voz calma, mas por dentro estava fervendo. E sou eu quem vai decidir o que constitui um relacionamento duradouro e o que não. Se você consegue viver com isso, tudo bem. Se não consegue, pode ir embora. Não vou te impedir. Posso dar um chute na sua bunda como presente de despedida, mas não vou te impedir. Moramos em um país livre. O que mais posso dizer?
Talvez já tenha dito o bastante, sussurrou ela, e ele bateu nela de novo, com mais força do que na primeira vez, porque nenhuma mulher ia falar com petulância com Tom Rogan, nunca. Ele daria uma porrada na rainha da Inglaterra se ela bancasse a espertinha com ele.
A bochecha dela bateu no painel acolchoado. A mão tateou em busca da maçaneta, mas parou. Ela só se encolheu no canto como um coelho, com uma das mãos sobre a boca, os olhos grandes, molhados e assustados. Tom olhou para ela por um momento, depois saiu e andou até o outro lado do carro. Abriu a porta. Sua respiração era fumaça no ar negro e tomado pelo vento de novembro, e o cheiro do lago estava bastante claro.
Quer sair, Bev? Vi você esticando a mão para a maçaneta, então acho que você deve querer sair. Tudo bem. Não tem problema. Eu te pedi pra fazer uma coisa e você disse que faria. Mas não fez. Então você quer sair? Vamos. Saia. Que porra, né? Saia. Quer sair?
Não, sussurrou ela.
O quê? Não consigo te ouvir.
Não, não quero sair, disse ela um pouco mais alto.
O quê? Esses cigarros estão te causando um enfisema? Se você não consegue falar, vou arrumar uma porra de megafone. É sua última chance, Beverly. Fale alto pra que eu possa ouvir: você quer sair desse carro ou quer voltar comigo?
Quero voltar com você, disse ela, e uniu as mãos sobre a saia como uma garotinha. Não olhou para ele. Lágrimas desciam pelas bochechas dela.
Tudo bem, disse ele. Ótimo. Mas primeiro diga isso por mim, Bev. Diga: “Esqueci sobre fumar na sua frente, Tom.”
Agora ela olhou para ele com expressão magoada, implorando, sem conseguir falar. Você pode me obrigar a fazer isso, diziam os olhos dela, mas, por favor, não faça. Não faça, eu te amo, não dá pra encerrar?
Não, não dava. Porque isso não era o que ela realmente queria, e os dois sabiam.
Diga.
Esqueci sobre fumar na sua frente, Tom.
Ótimo. Agora diga: “Me desculpe.”
Me desculpe, repetiu ela.
O cigarro ficou fumegando na calçada como um pedaço cortado de estopim. As pessoas saindo do cinema olharam para eles, para o homem de pé ao lado da porta do passageiro do Vega do modelo mais recente de painel de madeira, para a mulher sentada dentro, com as mãos unidas no colo, a cabeça baixa, a luz interior contornando os cabelos dela de dourado.
Ele esmagou o cigarro. Esfregou no asfalto.
Agora diga: “Nunca mais vou fazer isso sem sua permissão.”
Nunca...
A voz dela começou a falhar.
... nunca... n-n-n...
Diga, Bev.
... nunca mais vou fazer isso. Sem sua p-permissão.
Assim, ele bateu a porta e voltou para o banco do motorista. Sentou atrás do volante e dirigiu até o apartamento no centro. Nenhum dos dois disse nada. Metade do relacionamento foi estabelecido no estacionamento; a outra metade, quarenta minutos depois, na cama de Tom.
Ela não queria fazer amor, disse ela. Mas ele viu uma verdade diferente nos olhos dela e no jeito balançado de ela andar, e quando tirou a blusa dela, os mamilos estavam duros como pedra. Ela gemeu quando ele os acariciou e gritou de leve quando chupou um e depois o outro, massageando-os sem parar no processo. Ela segurou a mão dele e enfiou entre as pernas.
Pensei que você não quisesse, disse ele, e ela afastou o rosto... mas não soltou a mão dele, e o movimento dos quadris dela aumentou.
Ele a empurrou para a cama... e agora foi delicado, não arrancou a calcinha dela, mas a retirou com consideração cuidadosa quase meticulosa.
Deslizar para dentro dela foi como deslizar em óleo delicado.
Ele se moveu com ela, usando-a, mas permitindo que ela também o usasse, e ela gozou pela primeira vez quase imediatamente, gritando e enfiando as unhas nas costas dele. Eles se balançaram em movimentos longos e lentos, e em algum momento ele achava que ela tinha gozado de novo. Tom chegava perto, mas pensava nas médias de rebatimentos do White Sox ou em quem o estava tentando prejudicar na conta de Chesley no trabalho, e voltava ao controle. Ela começou a acelerar, e o ritmo finalmente atingiu um balançar excitado. Ele olhou para o rosto dela, para os círculos de rímel que pareciam os olhos de um guaxinim, para o batom manchado, e se sentiu de repente disparando de forma delirante para o limite.
Ela ergueu os quadris com mais e mais força; não havia barriga de cerveja naquela época, e as barrigas dos dois bateram uma na outra em ritmo rápido.
Perto do fim, ela gritou e mordeu o ombro dele com os dentes pequenos e regulares.
Quantas vezes você gozou?, perguntou ele depois do banho.
Ela afastou o rosto, e quando falou, sua voz estava tão baixa que ele quase não conseguiu ouvir.
Não é uma coisa que se pergunta.
Não? Quem disse isso? Mister Rogers?
Ele tomou o rosto dela nas mãos, com o polegar afundando em uma das bochechas, os dedos apertando a outra e a palma aninhando o queixo no meio.
Você fala com Tom, disse ele. Está me ouvindo, Bev? Fale com o papai.
Três, disse ela com relutância.
Bom, disse ele. Pode fumar um cigarro.
Ela olhou para ele sem acreditar, com o cabelo ruivo espalhado sobre os travesseiros, usando apenas uma calcinha de cintura baixa. Apenas olhar para ela assim já fazia o motor dele ligar de novo. Ele assentiu.
Vá em frente, disse ele. Tudo bem.
Eles tinham se casado em uma cerimônia civil três meses antes. Dois amigos dele compareceram; a única amiga dela a comparecer foi Kay McCall, que Tom chamava de “aquela puta feminista peituda”.
Todas as lembranças passaram pela mente de Tom em questão de segundos, como um trecho de filme acelerado, enquanto ele ficava na porta observando-a. Ela foi até a gaveta de baixo do que às vezes chamava de “cômoda de fim de semana” e agora estava jogando lingerie na mala; não o tipo de coisa que ele gostava, as de cetim escorregadio e seda macia. Ela estava pegando as de algodão, de garotinha, a maior parte desbotada e com pedaços de elástico arrebentado na cintura. Uma camisola de algodão que parecia coisa saída de Os pioneiros. Ela remexeu a parte de trás dessa gaveta de baixo para ver o que mais podia estar escondido lá.
Enquanto isso, Tom Rogan se deslocou pelo tapete peludo em direção ao armário. Seus pés estavam descalços e sua passagem foi tão silenciosa quanto um sopro de brisa. Foi o cigarro. Foi isso o que realmente o irritou. Fazia muito tempo que ela não esquecia aquela primeira lição. Houve outras lições a serem aprendidas desde então, muitas, e houve dias quentes em que ela usava blusas de manga comprida e até casacos abotoados até o pescoço. Dias cinzentos em que ela usou óculos de sol. Mas aquela primeira lição foi tão repentina e fundamental...
Ele tinha se esquecido do telefonema que o despertou do sono profundo. Foi o cigarro. Se ela estava fumando agora, então tinha se esquecido de Tom Rogan. Temporariamente, é claro, apenas temporariamente, mas mesmo temporariamente era tempo demais. O que poderia ter provocado o esquecimento não importava. Coisas assim não podiam acontecer nesta casa, fosse qual fosse o motivo.
Havia uma tira larga de couro preto pendurada em um gancho por dentro da porta do armário. Não havia fivela nela; ele a tinha retirado tempos atrás. Ficava dobrada na ponta em que ficaria a fivela, e essa parte dobrada formava um buraco por onde Tom Rogan agora enfiou a mão.
Tom, você foi mau!, sua mãe às vezes dizia. Bem, “às vezes” talvez não fosse uma palavra tão boa; talvez “com frequência” fosse mais apropriado. Vem aqui, Tommy! Tenho que te dar uma surra. Sua vida quando criança foi pontuada por surras. Ele acabou por fugir para a Faculdade do Estado de Wichita, mas aparentemente não existia fuga total, porque ele continuou a ouvir a voz nos sonhos: Vem aqui, Tommy! Tenho que te dar uma surra. Surra...
Ele era o mais velho de quatro filhos. Três meses depois que o caçula nasceu, Ralph Rogan morreu. Bem, “morreu” talvez não fosse uma palavra tão boa; talvez “cometeu suicídio” fosse uma maneira melhor de dizer, já que ele serviu uma quantidade generosa de soda cáustica em uma caneca de gim e bebeu essa mistura demoníaca sentado no vaso do banheiro. A sra. Rogan encontrou trabalho na fábrica da Ford. Tom, apesar de só ter 11 anos, se tornou o homem da família. E se ele fizesse besteira, se o bebê cagasse na fralda depois que a babá fosse para casa e ainda estivesse suja quando mamãe chegasse em casa... se ele se esquecesse de encontrar Megan na esquina da rua Broad depois que o horário da creche acabasse e aquela xereta da sra. Gant visse... se ele estivesse assistindo a American Bandstand enquanto Joey fazia bagunça na cozinha... se alguma dessas coisas ou mil outras acontecessem... então, depois que as crianças menores estavam na cama, a vara da surra surgiria e ela repetiria o refrão: Vem aqui, Tommy. Tenho que te dar uma surra.
Era melhor dar a surra do que levar.
Se ele não aprendeu mais nada na grande roda da vida, aprendeu ao menos isso.
Assim, ele girou a ponta solta do cinto uma vez e apertou o aro. Em seguida, fechou a mão sobre o cinto. A sensação era boa. Fazia com que ele se sentisse adulto. A tira de couro ficou pendurada no punho fechado como uma cobra preta morta. Sua dor de cabeça tinha sumido.
Ela encontrou a última coisa no fundo da gaveta: um sutiã branco velho de algodão com bojo pontudo. A ideia de que essa ligação da madrugada pudesse ter sido feita por um amante surgiu brevemente na mente dele e desapareceu. Era ridículo. Uma mulher indo encontrar um amante não escolhia as blusas Ship ’n Shore velhas e calcinhas de algodão compradas no K-Mart com elástico estourado e frouxo. Além do mais, ela não ousaria.
— Beverly — disse ele baixinho, e ela se virou imediatamente, assustada, com olhos arregalados e os longos cabelos balançando.
O cinto hesitou... baixou um pouco. Ele olhou para ela, sentindo aquele florescer de desconforto de novo. Sim, ela ficava com essa cara antes dos grandes desfiles, e ele não a atrapalhou nessas ocasiões por entender que ela estava tão repleta de uma mistura de medo e agressividade competitiva que era como se sua cabeça estivesse cheia de gás: uma única fagulha e ela explodiria. Ela via os desfiles não como uma chance para sair da Delia Fashions, para se sustentar ou até ganhar uma fortuna por conta própria. Se isso fosse tudo, ela estaria bem. Mas se isso fosse tudo, ela também não seria tão maravilhosamente talentosa. Ela via esses desfiles como uma espécie de superavaliação na qual receberia a nota de professores rigorosos. O que ela via nessas ocasiões era uma criatura sem rosto. Não tinha rosto, mas tinha nome: Autoridade.
Toda aquela coragem de olhos arregalados estava no rosto dela agora. Mas não só lá; estava em torno dela toda, uma aura que parecia quase visível, uma energia de alta-tensão que a deixou de repente mais atraente e mais perigosa do que parecera durante anos. Ele estava com medo porque ela estava aqui, toda aqui, a ela essencial tão diferente da que Tom Rogan queria que ela fosse, a ela que ele fez.
Beverly parecia chocada e assustada. Também parecia loucamente animada. Suas bochechas cintilavam com cor febril, mas havia placas brancas abaixo das pálpebras que pareciam quase um segundo par de olhos. Sua testa brilhava com ressonância cremosa.
E o cigarro ainda estava pendurado em sua boca, agora em um ângulo ligeiramente para cima, como se pensasse que era o maldito Franklin Delano Roosevelt. O cigarro! Apenas olhar para ele já fazia a fúria cega tomar conta dele de novo em uma onda verde. Levemente, no fundo da mente, ele se lembrou dela dizendo uma coisa para ele uma noite do nada, falando com voz fria e indiferente: Um dia você vai me matar, Tom. Você sabe disso? Um dia você vai longe demais e esse vai ser o fim. Você vai surtar.
Ele respondeu: Faça as coisas do meu jeito, Bev, e esse dia nunca vai chegar.
Agora, antes de a fúria bloquear tudo, ele se perguntou se esse dia não tinha finalmente chegado.
O cigarro. A ligação, a mala e a expressão estranha no rosto dela não importavam. Eles resolveriam a questão do cigarro. Depois, ele a comeria. E depois, conversariam sobre o resto. Nessa hora, talvez até fosse parecer importante.
— Tom — disse ela. — Tom, eu preciso...
— Você está fumando — disse ele. Sua voz parecia vir de longe, como se por um rádio de boa qualidade. — Parece que você esqueceu, gata. Onde estava escondendo?
— Olha, vou apagar — disse ela, e foi para a porta do banheiro. Jogou o cigarro (mesmo de onde estava, ele conseguia ver as marcas de dentes no filtro) no vaso sanitário. Fsssss. Ela voltou. — Tom, era um velho amigo. Um velho velho amigo. Preciso...
— Cala a boca, é isso que você precisa fazer! — gritou ele para ela. — Só cala a boca!
Mas o medo que ele queria ver, o medo dele, não estava no rosto dela. Havia medo, mas vinha do telefone, e o medo não devia chegar a Beverly dessa direção. Era quase como se ela não visse o cinto, não o visse, e Tom sentiu uma pontada de desconforto. Será que ele estava aqui? Era uma pergunta estúpida, mas será que estava?
Essa pergunta era tão terrível e tão básica que por um momento ele se sentiu em perigo de se soltar completamente da raiz de si mesmo e sair flutuando como uma planta no vento. Mas então ele se controlou. Estava aqui sim, e isso era “psicofalação” demais para uma noite. Ele estava aqui, era Tom Rogan, Tom Rogan de Deus, e se essa piranha não se aprumasse nos próximos 30 segundos mais ou menos, ia parecer que foi empurrada de um vagão em velocidade por um fiscal de trem.
— Tenho que te dar uma surra — disse ele. — Me desculpa por isso, gata.
Ele tinha visto aquela mistura de medo e agressividade antes, tinha sim. Agora, pela primeira vez, pareceu piscar para ele.
— Abaixa essa coisa — disse ela. — Tenho que chegar ao aeroporto O’Hare o mais rápido que conseguir.
Você está aqui, Tom? Está?
Ele afastou o pensamento. A tira de couro que já fora um cinto se balançou lentamente na frente dele como um pêndulo. Seus olhos tremeram e ele se concentrou no rosto dela.
— Me escuta, Tom. Aconteceu um problema na minha cidade natal. Coisa muito ruim. Eu tinha um amigo naquela época. Acho que ele teria sido meu namorado, só que não tínhamos idade suficiente pra isso. Ele era um garoto de 11 anos com uma gagueira bem ruim na época. Agora, é escritor. Você até já leu um dos livros dele, eu acho... A correnteza negra?
Ela observou o rosto dele, mas o rosto dele não estava dando nenhuma pista. Só havia o cinto pêndulo indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele estava com a cabeça baixa e as pernas grossas ligeiramente afastadas. Ela passou a mão de forma inquieta pelo cabelo, distraída, como se tivesse muitas coisas importantes em que pensar e não tivesse visto o cinto, e aquela pergunta terrível e assombrosa ressurgiu na mente dele: Você está aqui? Tem certeza?
— Aquele livro ficou rolando aqui por semanas e nunca fiz a ligação. Talvez devesse, mas estamos todos mais velhos e não penso em Derry há muito, muito tempo. De qualquer modo, Bill tinha um irmão, George, e George morreu antes de eu conhecer Bill. Foi assassinado, e então, no verão seguinte...
Mas Tom tinha escutado loucuras o bastante vindas de dentro e de fora. Ele partiu para cima dela rápido, dobrando o braço direito por cima do ombro como um homem prestes a lançar um dardo. O cinto sibilou pelo caminho que percorreu no ar. Beverly viu e tentou se abaixar, mas o ombro direito bateu na moldura da porta do banheiro e houve um estalo carnudo quando o cinto bateu no antebraço dela, deixando uma marca vermelha.
— Vou te dar uma surra — repetiu Tom. Sua voz estava sã, até mesmo pesarosa, mas seus dentes mostravam um sorriso branco e congelado. Ele queria ver aquela expressão nos olhos dela, aquela expressão de medo e pavor e vergonha, aquela expressão que dizia Sim, você está certo, eu mereci, aquela expressão que dizia Sim, você está aqui sim, sinto sua presença. E então, o amor voltaria, e isso era certo e bom, porque ele a amava sim. Eles até podiam ter uma discussão se ela quisesse, sobre quem exatamente ligou e de que isso se tratava. Mas isso viria depois. Agora, a aula tinha começado. O velho um-dois. Primeiro a surra, depois a foda.
— Desculpa, gata.
— Tom, não faz is...
Ele bateu com o cinto de lado e viu-o lamber o quadril dela. Houve um estalo satisfatório quando terminou na bunda. E...
E Jesus, ela estava segurando! Ela estava segurando o cinto!
Por um momento, Tom Rogan ficou tão atônito com esse ato inesperado de insubordinação que quase perdeu a arma, teria perdido se não fosse o círculo, que estava preso na mão fechada com segurança.
Ele puxou para trás.
— Nunca tente tirar uma coisa de mim — disse ele com voz rouca. — Está ouvindo? Se fizer isso de novo, vai passar um mês mijando suco de framboesa.
— Tom, para — disse ela, e o mero tom de voz o enfureceu. Ela parecia uma monitora de parquinho falando com um garoto de 6 anos dando ataque de birra. — Eu tenho que ir. Não é brincadeira. Pessoas estão mortas, e fiz uma promessa há muito tempo...
Tom ouviu bem pouco disso. Ele gritou e correu para cima dela com a cabeça baixa e o cinto balançando cegamente. Ele bateu nela com o cinto, afastando-a da porta pela parede do quarto. Dobrou o braço, bateu nela, dobrou o braço, bateu nela, dobrou o braço, bateu nela. De manhã, ele só conseguiria levantar o braço acima do nível dos olhos depois de tomar três comprimidos de codeína, mas agora não estava ciente de nada além do fato de que ela o estava desafiando. Não só estava fumando, tinha tentado tirar o cinto dele e, ah, pessoal, ah, amigos e vizinhos, ela pediu, e ele testemunharia na frente do trono de Deus Todo-Poderoso que ela teria o que queria.
Ele a empurrou pela parede, balançando o cinto, chovendo golpes nela. As mãos dela estavam levantadas para proteger o rosto, mas ele tinha o caminho livre para o resto do corpo dela. O cinto fazia estalos densos de chicote no quarto silencioso. Mas ela não gritou, como às vezes fazia, e não implorou para que ele parasse, como costumava fazer. Pior de tudo, ela não chorou, como sempre fazia. Os únicos sons eram o cinto e a respiração deles, a dele pesada e rouca, a dela rápida e leve.
Ela correu para a cama e a penteadeira ao lado. Seus ombros estavam vermelhos dos golpes de cinto. O cabelo pegava fogo. Ele foi atrás, mais lento, mas grande, muito grande; ele jogara squash até romper o tendão de aquiles dois anos antes, e desde então seu peso tinha saído um pouco de controle (ou talvez “muito” fosse uma melhor maneira de dizer), mas os músculos ainda estavam lá, cordames firmes dentro da gordura. Ainda assim, ele ficou um pouco alarmado pelo quanto estava sem fôlego.
Ela chegou à penteadeira e ele achou que ela se agacharia ali, ou talvez tentasse rastejar para baixo. Em vez disso, ela tateou... se virou... e de repente o ar estava cheio de mísseis voadores. Ela estava jogando cosméticos nele. Um vidro de Chantilly bateu bem entre os mamilos dele, caiu aos seus pés e se estilhaçou. Ele foi repentinamente envolvido pelo aroma sufocante de flores.
— Para! — rugiu ele. — Para, sua puta!
Em vez de parar, as mãos dela voaram pelo tampo de vidro lotado de objetos da penteadeira, agarrando o que encontrava e jogando. Ele apalpou o peito onde o vidro de Chantilly o atingiu, incapaz de acreditar que ela o acertou com alguma coisa enquanto mais objetos voavam ao seu redor. A tampa de vidro o cortou. Não era bem um corte, era mais um arranhão triangular, mas havia uma certa moça ruiva que ia ver o sol nascer em uma cama de hospital? Ah, sim, havia. Uma certa moça que...
Um pote de creme bateu nele acima da sobrancelha direita com força repentina. Ele ouviu um baque surdo aparentemente dentro da cabeça. Luz branca explodiu no campo de visão daquele olho e ele deu um passo para trás, com o queixo caído. Agora um tubo de creme Nívea bateu na barriga dele com um pequeno som de tapa e ela estava... Estava? Seria possível? Sim! Ela estava gritando com ele!
— Vou pro aeroporto, seu filho da puta! Está me ouvindo? Tenho um compromisso e estou indo! Quer sair do meu caminho, porque EU VOU!
Caiu sangue quente no olho direito dele, que o fez arder. Ele limpou com o dedo.
Ficou ali por um momento, olhando para ela como se nunca a tivesse visto antes. De certa forma, nunca tinha. Os seios dela subiam e desciam rapidamente. O rosto, uma mistura de rubor e palidez lívida, ardia. Os lábios estavam repuxados sobre os dentes em um rosnado. Mas ela tinha esvaziado o tampo da penteadeira. O estoque de mísseis estava vazio. Ele ainda conseguia ver o medo nos olhos dela... mas ainda não era medo dele.
— Guarda essas roupas de volta — disse ele, lutando para não ofegar enquanto falava. Não soaria bem. Pareceria fraqueza. — Depois, guarda a mala e vai pra cama. E se fizer essas coisas, pode ser que eu não bata demais em você. Pode ser que você consiga sair dessa casa em dois dias em vez de duas semanas.
— Tom, me escuta. — Ela falou devagar. Seu olhar estava muito claro. — Se você se aproximar de mim de novo, vou te matar. Está entendendo isso, pudim de banha? Vou te matar.
E de repente (talvez fosse pelo puro ódio no rosto dela, o desprezo, talvez por ela o ter chamado de pudim de banha, ou talvez só por causa da maneira rebelde como os seios dela subiam e desciam), o medo começou a sufocá-lo. Não era um botão nem uma flor, mas uma porra de jardim inteiro, o medo, o medo horrível de ele não estar aqui.
Tom Rogan partiu para cima da esposa, sem gritar desta vez. Ele foi tão silenciosamente quanto um torpedo cortando a água. Sua intenção agora provavelmente não era apenas bater e subjugar, mas fazer com ela o que ela tão precipitadamente disse que faria com ele.
Ele achou que ela correria. Talvez para o banheiro. Talvez para a escada. Em vez disso, ela manteve a posição. O quadril bateu na parede quando ela jogou o peso na penteadeira, levantando-a na direção dele, quebrando duas unhas no sabugo quando o suor nas palmas das mãos fez as mãos escorregarem.
Por um momento, a mesa balançou inclinada, e então ela se projetou para a frente de novo. A penteadeira dançou sobre uma perna, o espelho refletiu a luz como uma breve sombra de aquário no teto e caiu para a frente. A ponta da frente bateu nas coxas de Tom e o derrubou. Houve um tilintar musical quando os vidros viraram e quebraram lá dentro. Ele viu o espelho bater no chão à sua esquerda e levantou um braço para proteger os olhos, perdendo o cinto no processo. Cacos voaram pelo chão, prateados na parte de trás. Ele sentiu alguns arranhando, tirando sangue.
Agora ela estava chorando, com a respiração em soluços altos e agudos. Vez após outra ela se viu deixando-o, deixando a tirania de Tom como deixou a do pai, fugindo à noite, com as malas empilhadas no porta-malas do Cutlass. Ela não era uma mulher burra, não burra o bastante até mesmo agora, de pé em meio a essa incrível confusão, para acreditar que não amara Tom e que de certa forma ainda o amava. Mas isso não eliminava seu medo dele... o ódio por ele... e o desprezo por si mesma por escolhê-lo por motivos indistintos enterrados em tempos que deviam ter terminado. Seu coração não estava partido; parecia mais ardendo no peito, derretendo. Ela tinha medo de que o calor do coração logo fosse começar a destruir a sanidade dela com fogo.
Mas, acima disso tudo, gritando regularmente no fundo da mente dela, ela conseguia ouvir a voz seca e firme de Mike Hanlon: Voltou, Beverly... voltou... e você prometeu...
A penteadeira subiu e desceu. Uma vez. Duas. Uma terceira vez. Parecia estar respirando.
Movendo-se com agilidade cuidadosa, com a boca caída nos cantos e tremendo como se no prelúdio de alguma espécie de convulsão, ela desviou da penteadeira, passou na ponta dos pés pelo vidro quebrado e pegou o cinto na hora em que Tom ergueu a penteadeira e empurrou para o lado. Ela recuou e enfiou a mão pelo buraco. Tirou o cabelo dos olhos e olhou para ver o que ele faria.
Tom se levantou. Alguns cacos do espelho tinham cortado uma das bochechas dele. Um corte diagonal cruzava uma das sobrancelhas em uma linha fina. Ele apertou os olhos para ela quando se levantou lentamente, e ela viu gotas de sangue na cueca boxer.
— Me dá esse cinto — disse ele.
Em vez de fazer isso, ela enrolou duas vezes ao redor da mão e olhou para ele com expressão desafiadora.
— Para, Bev. Agora.
— Se você vier pra cima de mim, vou arrancar seu couro. — As palavras saíam de sua boca, mas ela não conseguia acreditar que as estava dizendo. E quem era esse homem das cavernas de cueca sangrenta mesmo? Seu marido? Seu pai? O amante que ela arrumou na faculdade que quebrou seu nariz uma noite, aparentemente do nada? Oh, Deus, me ajude, pensou ela. Que Deus me ajude agora. Mas sua boca prosseguiu. — E sou capaz de fazer isso. Você é gordo e lento, Tom. Vou embora, e acho que talvez não volte. Acho que talvez tenha acabado.
— Quem é esse cara Denbrough?
— Esquece. Eu era...
Ela se deu conta quase tarde demais de que a pergunta dele foi uma distração. Ele estava partindo para cima dela antes de a última palavra ter saído da boca. Ela lançou o cinto pelo ar em um arco, e o som que ele fez quando bateu na boca dele foi o som de uma rolha teimosa saindo de uma garrafa.
Ele deu um grito e levou as mãos à boca, com olhos enormes, magoados e chocados. Sangue começou a cair entre os dedos dele e pela parte de trás das mãos.
— Você quebrou minha boca, sua puta! — gritou ele com voz abafada. — Ah, Deus, você quebrou minha boca!
Ele partiu para cima dela de novo, com as mãos esticadas, a boca uma mancha vermelha e molhada. Os lábios pareciam estourados em dois lugares. A coroa tinha sido arrancada de um dos dentes da frente. Enquanto ela observava, ele cuspiu para o lado. Parte dela estava recuando dessa cena, enjoada e gemendo, querendo fechar os olhos. Mas aquela outra Beverly sentia a exultação de um convicto do corredor da morte libertado em um terremoto inesperado. Aquela Beverly gostava disso tudo, e muito. Eu queria que você tivesse engolido!, foi o que ela pensou. Queria que tivesse morrido engasgado com a coroa!
Foi essa Beverly que girou o cinto pela última vez, o cinto que ele usara nas nádegas, nas pernas e nos seios dela. O cinto que usara nela vezes sem conta nos últimos quatro anos. A quantidade de golpes que você recebia dependia do tamanho da merda que tinha feito. Tom chega em casa e o jantar está frio? Duas cintadas. Bev está trabalhando até mais tarde no estúdio e se esquece de ligar para casa? Três cintadas. Ah, olha essa: Beverly recebeu outra multa de estacionamento. Uma cintada... nos seios. Ele era bom. Raramente deixava hematomas. Nem doía tanto assim. Exceto pela humilhação. Isso doía. E o que doía ainda mais era saber que parte dela desejava a dor. Desejava a humilhação.
A última vez paga por todas, pensou ela, e bateu.
Ela bateu com o cinto baixo, de lado, e atingiu as bolas dele com um som brusco, porém pesado, o som de uma mulher batendo em um tapete para limpá-lo. Foi tudo que precisava. Toda disposição de briga desapareceu de Tom Rogan.
Ele deu um berro agudo e sem força e caiu de joelhos como se para rezar. As mãos estavam entre as pernas. A cabeça estava lançada para trás. Músculos saltavam em seu pescoço. Sua boca era uma careta de tragédia de dor. O joelho esquerdo caiu direto em cima de um caco pontudo de vidro de perfume e ele rolou silenciosamente para o lado como uma baleia. Uma das mãos saiu das bolas para apertar o joelho que sangrava.
O sangue, pensou ela. Meu bom Deus, ele está sangrando por todos os lados.
Ele vai sobreviver, respondeu friamente essa nova Beverly, a Beverly que pareceu surgir com o telefonema de Mike Hanlon. Caras como ele sempre sobrevivem. Apenas saia daqui antes que ele decida que quer dançar mais um pouco. Ou antes que ele decida ir pro porão buscar o Winchester.
Ela recuou e sentiu dor no pé ao pisar em um caco do espelho da penteadeira quebrada. Ela se inclinou para pegar a alça da mala. Não tirou os olhos dele em momento nenhum. Recuou pela porta e pelo corredor. Estava segurando a mala à frente do corpo com as duas mãos, e ela bateu em suas canelas conforme ela recuava. O pé cortado fazia marcas de calcanhar sangrento. Quando ela chegou à escada, se virou e desceu rapidamente, sem se permitir pensar. Desconfiava que não tinha mais pensamentos coerentes, pelo menos por enquanto.
Sentiu um toque de leve na perna e gritou.
Olhou para baixo e viu que era a ponta do cinto. Ainda estava enrolado em sua mão. Na luz fraca, parecia mais uma cobra morta do que nunca. Ela o jogou por cima do corrimão, com uma careta de nojo no rosto, e viu-o cair em S no tapete do corredor de baixo.
No pé da escada, ela segurou a barra da camisola branca de renda e puxou pela cabeça. Estava manchada de sangue, e ela não a usaria por nem mais um segundo. Jogou-a de lado, e ela caiu na planta ao lado da porta que levava à sala como um paraquedas de renda. Ela se inclinou nua para a mala. Seus mamilos estavam gelados, duro como balas.
— BEVERLY, VENHA JÁ AQUI PRA CIMA!
Ela sufocou um grito, deu um pulo e voltou a se inclinar para dentro da mala. Se ele tinha força o suficiente para gritar alto assim, ela tinha bem menos tempo do que pensava. Abriu a mala e pegou uma calcinha, uma blusa e uma calça Levi’s velha. Vestiu as peças de roupa de pé ao lado da porta, sem tirar os olhos da escada. Mas Tom não apareceu no alto. Ele gritou o nome dela mais duas vezes, e cada vez ela se encolheu para longe do som, com os olhos assustados, os lábios repuxados sobre os dentes em um esgar inconsciente.
Ela enfiou os botões da blusa pelos buracos o mais rápido que conseguiu. Os dois botões de cima tinham caído (era irônico o quanto ela nunca costurava as próprias roupas), e ela achava que parecia um pouco uma prostituta de meio período procurando uma última rapidinha antes de encerrar o turno, mas teria que ser essa mesma.
— VOU TE MATAR, SUA PUTA! SUA PUTA DE MERDA!
Ela fechou e trancou a mala. O braço de uma blusa ficou para fora como uma língua. Ela olhou ao redor uma vez, rapidamente, desconfiando que jamais voltaria a ver esta casa.
Encontrou apenas alívio na ideia, e, assim, abriu a porta e saiu.
Estava a três quadras de casa, andando sem noção nenhuma de para onde estava indo, quando percebeu que os pés ainda estavam descalços. O que ela tinha cortado, o esquerdo, latejava cegamente. Tinha que colocar alguma coisa nos pés, e eram quase duas horas da madrugada. A carteira e os cartões de crédito estavam em casa. Ela tateou os bolsos da calça jeans e só encontrou fiapos. Não tinha um tostão; nem uma moedinha de um centavo. Olhou ao redor, para o bairro residencial em que estava: casas bonitas, gramados e jardins bem-cuidados, janelas escuras.
De repente, ela começou a gargalhar.
Beverly Rogan se sentou em um muro baixo de pedra, com a mala entre os pés sujos, e gargalhou. As estrelas brilhavam, e como estavam intensas! Ela inclinou a cabeça para trás e riu para elas, com aquela euforia selvagem tomando conta dela de novo como um maremoto que erguia, carregava e limpava, uma força tão poderosa que qualquer pensamento consciente se perdeu; só seu sangue pensava e sua voz poderosa falava com ela em uma forma inarticulada de desejo, embora o que desejava ela não soubesse nem se importasse em saber. Era suficiente sentir aquele calor preenchendo-a com sua insistência. Desejo, pensou ela, e dentro dela aquele maremoto de euforia pareceu ganhar velocidade, empurrando-a para a frente, na direção de algum acidente inevitável.
Ela riu para as estrelas, assustada, mas livre, com o terror intenso como uma dor e doce como uma maçã madura de outubro, e quando uma luz se acendeu em um quarto do andar de cima da casa onde ficava esse muro de pedra, ela pegou a alça da mala e saiu para a noite, ainda rindo.
Bill Denbrough tira folga
— Ir embora? — repetiu Audra. Ela olhou para ele, intrigada, um pouco assustada, e colocou os pés descalços debaixo do corpo. O chão estava frio. O chalé todo estava frio, na verdade. O sul da Inglaterra estava vivenciando uma primavera excepcionalmente úmida, e mais de uma vez em suas caminhadas regulares matinais e noturnas, Bill Denbrough se viu pensando no Maine... pensando de uma forma surpresa e vaga em Derry.
O chalé devia ter aquecimento central (o anúncio dizia que tinha, e havia uma fornalha lá embaixo, no porão arrumado, em um canto que já fora um depósito de carvão), mas ele e Audra descobriram logo no começo que a ideia britânica de aquecimento central não era a mesma da americana. Parecia que os britânicos acreditavam que você tinha aquecimento central desde que não precisasse mijar em uma pedra de gelo dentro da privada quando acordava de manhã. Era manhã agora, 8h15. Bill desligou o telefone cinco minutos antes.
— Bill, você não pode ir embora. Você sabe disso.
— Preciso ir — disse ele. Havia um bar no canto da sala. Ele foi até lá, pegou uma garrafa de Glenfiddich na prateleira do alto e se serviu. Caiu um pouco pelo lado do copo. — Porra — murmurou ele.
— Quem era no telefone? De que você está com medo, Bill?
— Não estou com medo.
— Ah? Suas mãos sempre tremem assim? Você sempre toma seu primeiro drinque antes do café?
Ele voltou para a cadeira, com o roupão balançando ao redor dos tornozelos, e se sentou. Tentou sorrir, mas foi um esforço ruim e ele desistiu.
Na televisão, o apresentador da BBC estava concluindo a série de notícias ruins antes de passar para os resultados do futebol na noite anterior. Quando eles chegaram ao pequeno vilarejo suburbano de Fleet um mês antes da data marcada para a filmagem começar, os dois ficaram maravilhados com a qualidade técnica da televisão britânica; em um bom aparelho colorido Pye, parecia mesmo que dava para entrar na imagem. Mais linhas, eu acho, dissera Bill. Não sei o que é, mas é ótimo, respondera Audra. Isso foi antes de eles descobrirem que a maior parte da programação consistia em programas americanos como Dallas e infindáveis eventos esportivos britânicos, desde os estranhos e chatos (campeonatos de lançamento de dardos em que todos os participantes pareciam lutadores de sumô hipertensos) aos simplesmente chatos (o futebol britânico era ruim; críquete era ainda pior).
— Ando pensando muito na minha cidade — disse Bill, e tomou um gole da bebida.
— Cidade? — disse ela, e pareceu tão sinceramente perplexa que ele riu.
— Pobre Audra! Casada há quase 11 anos com o sujeito e não sabe nada sobre ele. O que você sabe sobre isso? — Ele riu de novo e engoliu o resto da bebida. A gargalhada estava com um tom do qual ela gostou tanto quanto vê-lo com um copo de uísque na mão a essa hora da manhã. A gargalhada parecia como uma coisa que queria ser um grito de dor. — Eu me pergunto se algum dos outros tem maridos e esposas que estão descobrindo agora o quanto sabem pouco. Acho que sim.
— Billy, eu sei que te amo — disse ela. — Por 11 anos, isso tem sido o bastante.
— Eu sei. — Ele sorriu para ela. O sorriso foi doce, cansado e assustado.
— Por favor. Por favor, me conte do que isso se trata.
Ela olhou para ele com os adoráveis olhos cinza, sentada na cadeira barata da casa alugada com os pés encolhidos debaixo da barra da camisola, uma mulher que ele amou, com quem se casou e que ainda amava. Tentou ver pelos olhos dela, ver o que ela sabia. Tentou ver como uma história. Ele conseguia, mas sabia que jamais venderia.
Eis um garoto pobre do estado do Maine que vai pra faculdade com bolsa de estudos. Durante toda a vida ele quis ser escritor, mas quando se matricula nos cursos de escrita, se vê perdido sem bússola em uma terra estranha e apavorante. Tem um cara que quer ser Updike. Tem outro que quer ser a versão de Faulkner da Nova Inglaterra, só que quer escrever romances sobre as vidas cruéis dos pobres em versos livres. Tem uma garota que admira Joyce Carol Oates, mas acha que como Oates foi criada em uma sociedade machista, ela é “radioativa no sentido literário”. Oates não consegue ser limpa, diz essa garota. Ela vai ser mais limpa. Tem um aluno baixo e gordo que não consegue ou não quer falar além de um murmúrio. Esse cara escreveu uma peça em que há nove personagens. Cada um só diz uma palavra. Pouco a pouco, os espectadores percebem que quando você une as palavras, chega a isso: “A guerra é ferramenta de mercadores machistas da morte.” A peça desse sujeito recebe um A do homem que ensina Eh-141 (Seminário em Homenagem à Escrita Criativa). Esse professor publicou quatro livros de poesia e a tese de mestrado, tudo pela editora da universidade. Ele fuma maconha e usa um medalhão da paz. A peça do murmurador gordo é produzida por uma companhia de teatro subversiva durante a greve para o fim da guerra, que fecha o campus em maio de 1970. O professor faz um dos personagens.
Enquanto isso, Bill Denbrough escreveu um conto de mistério que se passa em um cômodo fechado, três histórias de ficção científica e várias histórias de terror que devem muito a Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft e Richard Matheson. Anos depois, ele dirá que essas histórias se pareciam com um rabecão dos anos 1800 equipado com compressor e pintado de vermelho fluorescente.
Uma das histórias de ficção científica lhe rende um B.
“Isto é melhor”, escreve o professor na página de capa. “No contra-ataque alienígena, vemos o círculo vicioso em que a violência gera violência; gostei da nave espacial com ‘ponta de agulha’ como símbolo da incursão sociossexual. Embora isso permaneça um tanto nas entrelinhas ao longo da história, é interessante.”
Todos os outros não conseguem mais do que C.
Ele acaba por se levantar no meio da aula um dia, depois que a discussão sobre a cena de uma jovem pálida relatando o exame que uma vaca faz em um motor jogado em um campo deserto (que pode ou não ser depois de uma guerra nuclear) se arrastou por mais de 70 minutos. A garota pálida, que fuma um Winston depois do outro e futuca de vez em quando as espinhas amontoadas nas têmporas afundadas, insiste que a cena é uma declaração sociopolítica no estilo de Orwell em começo de carreira. A maior parte da turma e o professor concordam, mas a discussão continua a se arrastar.
Quando Bill fica de pé, a turma olha para ele. Ele é alto e tem uma certa presença.
Falando com cuidado, sem gaguejar (ele não gagueja há mais de cinco anos), ele diz:
— Não entendo isso. Não entendo nada disso. Por que uma história tem que ser socioalguma coisa? Política... cultura... história... esses não são ingredientes naturais em qualquer história se for contada bem? Quero dizer... — Ele olha ao redor, vê olhos hostis e se dá conta levemente de que eles veem isso como uma espécie de ataque. Talvez até seja. Ele se dá conta de que estão pensando que talvez haja um mercador da morte machista entre eles. — Quero dizer... vocês não podem simplesmente deixar uma história ser uma história?
Ninguém responde. O silêncio se arrasta. Ele fica ali de pé, olhando de um par de olhos frios para outro. A garota pálida exala fumaça e aperta o cigarro em um cinzeiro que ela levou na mochila.
Por fim, o professor diz delicadamente, como se falando com uma criança dando um ataque de birra inexplicável:
— Você acredita que William Faulkner estava apenas contando histórias? Acredita que Shakespeare estava apenas interessado em ganhar uma grana? Vamos lá, Bill. Conta pra gente o que você acha.
— Acho que é bem por aí — diz Bill depois de um longo momento no qual realmente reflete sobre a pergunta, e nos olhos deles, ele lê uma espécie de condenação.
— Eu sugiro — diz o professor, brincando com a caneta e sorrindo para Bill com olhos entreabertos — que você tem muito a aprender.
O aplauso começa em algum lugar no fundo da sala.
Bill sai... mas volta na semana seguinte, determinado a seguir em frente. Antes da volta, ele escreveu uma história chamada “O Escuro”, um conto sobre um garoto pequeno que descobre um monstro no porão de casa. O garotinho o enfrenta, luta com ele e acaba por matá-lo. Ele sente uma espécie de euforia sagrada quando está no processo de escrever a história; até sente que não está tanto contando a história, e sim permitindo que ela flua através dele. Em determinado ponto, ele larga a caneta e leva a mão quente e dolorida para um frio de -10°C de dezembro, onde ela quase solta fumaça pela mudança de temperatura. Ele dá uma volta, com as botas verdes de cano baixo gemendo na neve como pequenas dobradiças que precisam de lubrificante, e sua cabeça parece inchar com a história; é meio assustadora a forma como ela precisa sair. Ele sente que, se ela não conseguir escapar pela mão ágil dele, vai estourar seus olhos no desespero de fugir e ser concreta.
—Vou botar essa porra toda pra fora — diz ele para o vento que sopra no inverno escuro, e ri um pouco, com uma gargalhada trêmula. Ele está ciente de que finalmente descobriu como fazer isso; depois de dez anos tentando, ele finalmente encontrou o botão para ligar a enorme escavadeira que ocupa tanto espaço em sua cabeça. Ela está ligada. Está gemendo, gemendo. Não é nada bonita, essa grande máquina. Não foi feita para levar garotas bonitas a bailes. Não é um símbolo de status. Ela quer trabalhar. Pode derrubar coisas. Se ele não tomar cuidado, vai derrubá-lo.
Ele entra correndo e termina “O Escuro” em frenesi. Escreve até as quatro horas da manhã e adormece em cima do fichário. Se alguém tivesse sugerido que ele estava escrevendo sobre o irmão, George, ele teria ficado surpreso. Ele não pensa em George há anos, ou é o que ele realmente acredita.
O professor devolve a história com um F na página de capa. Duas palavras estão escritas embaixo em letras garrafais. POPULAR, grita uma. LIXO, grita a outra.
Bill leva o manuscrito de 15 páginas até o fogão e abre a porta do forno. Está a um centímetro de jogar lá dentro quando o absurdo do que ele está fazendo o atinge. Ele se senta na cadeira de balanço, olha para um pôster do Grateful Dead e começa a rir. Popular? Ótimo! Que seja popular! O mundo está cheio de coisas populares!
— Que o mundo exploda de tanta coisa popular! — exclama Bill, e ri até lágrimas saltarem de seus olhos e rolarem pelo rosto.
Ele redigita a página de capa, a que tinha a avaliação do professor, e manda para uma revista masculina chamada White Tie (embora, pelo que Bill pode ver, devia se chamar Garotas Nuas que Parecem Usuárias de Drogas). Mas seu exemplar surrado do livro Writer’s Market diz que eles compram histórias de terror, e as duas edições que ele comprou no mercadinho do bairro realmente tinham quatro histórias de terror intercaladas com garotas nuas, anúncios de filmes pornô e pílulas para melhorar a potência. Uma delas, escrita por um homem chamado Dennis Etchison, é muito boa.
Ele manda “O Escuro” sem muita esperança (pois já mandou muitas histórias para revistas antes e só obteve cartas de rejeição em resposta), e fica estupefato e eufórico quando o editor de ficção da White Ties compra por 200 dólares, com pagamento na data da publicação. O assistente editorial acrescenta um bilhete curto que a chama de “melhor história de terror desde ‘A Jarra’, de Ray Bradbury”. E acrescenta: “Pena que só umas setenta pessoas de costa a costa vão ler”, mas Bill Denbrough não se importa. Duzentos dólares!
Ele procura seu orientador com um pedido de trancamento de matrícula de Eh-141. O orientador assina. Bill Denbrough grampeia o protocolo de trancamento ao bilhete de parabéns do assistente editorial e prende os dois no quadro de aviso na porta do professor de escrita criativa. No canto do quadro de avisos, ele vê uma tirinha de quadrinhos antiguerra. E de repente, como se deslocando-se por vida própria, seus dedos tiram a caneta do bolso da camisa e escrevem em cima da tirinha: Se a ficção e a política algum dia se tornarem intercambiáveis, vou me matar, porque não vou saber o que fazer. Sabe, a política sempre muda. As histórias nunca mudam. Ele faz uma pausa, e então, sentindo-se um pouco pequeno (mas incapaz de parar), ele acrescenta: Sugiro que você tem muito a aprender.
O protocolo de trancamento é devolvido pela correspondência do campus três dias depois. O professor assinou. No espaço marcado NOTA NO MOMENTO DO TRANCAMENTO, o professor não escreveu incompleto nem o C ao qual as notas tiradas dariam direito; em vez disso, há outro F rabiscado furiosamente na linha da nota. Abaixo, o professor escreveu: Você acha que o dinheiro prova alguma coisa, Denbrough?
— Bem, na verdade, sim — diz Bill Denbrough para seu apartamento vazio, e mais uma vez começa a rir loucamente.
No último ano de faculdade, ele ousa escrever um romance, porque não tem ideia do que está fazendo. Ele conclui a experiência arranhado e amedrontado... mas vivo, e com um manuscrito de quase 500 páginas. Ele o envia para a The Viking Press, sabendo que vai ser a primeira de muitas paradas do seu livro, que é sobre fantasmas... mas ele gosta do logotipo de navio da Viking, e isso a torna um lugar tão bom para começar como qualquer outro. Na verdade, a primeira parada acaba sendo a última parada. A Viking compra o livro... e para Bill Denbrough, o conto de fadas começa. O homem que já foi conhecido como Bill Gago se torna um sucesso aos 23 anos de idade. Três anos depois e a 5 mil quilômetros da Nova Inglaterra, ele se torna uma espécie estranha de celebridade ao se casar com uma mulher que é estrela de cinema e cinco anos mais velha do que ele em Hollywood’s Church em the Pines.
Os colunistas de fofoca dão sete meses. A única aposta, dizem eles, é se o fim vai ser por divórcio ou anulação. Amigos (e inimigos) dos dois lados do casal sentem a mesma coisa. Fora a diferença de idade, as disparidades são assustadoras. Ele é alto, já está ficando calvo, já está com uma tendência a ficar gordo. Fala devagar em grupo e às vezes parece quase inarticulado. Audra, por outro lado, tem cabelo castanho-avermelhado, é monumental e linda. Parece mais uma criatura de uma super-raça semidivina do que uma mulher normal.
Ele foi contratado para fazer o roteiro de seu segundo livro, A correnteza negra (em parte porque o direito de escrever pelo menos o primeiro rascunho do roteiro era uma condição irrevogável da venda, apesar dos gemidos da agente dizendo que ele estava louco), e seu texto acabou sendo muito bom. Ele foi convidado para ir à Universal City para novas versões e reuniões de produção.
Sua agente é uma mulher pequena chamada Susan Browne. Ela tem exatamente um metro e meio. É enérgica de uma maneira violenta, e enfática de maneira mais violenta ainda.
— Não faça isso, Billy — diz ela. — Deixa pra lá. Eles têm muito dinheiro envolvido nisso e vão arrumar alguém bom pra escrever o roteiro. Talvez até Goldman.
— Quem?
— William Goldman. O único bom escritor que já fez as duas coisas.
— De que você está falando, Suze?
— Ele ficou nessa área, e com sucesso — disse ela. — As chances das duas coisas são como as chances de se curar de câncer de pulmão: é possível, mas quem quer tentar? Você vai se acabar em sexo e bebidas. Ou em alguma das drogas modernas. — Os olhos castanhos fascinantes de Susan brilham para ele com veemência. — E se acabar sendo um cretino a pegar o trabalho em vez de Goldman, e daí? O livro está nas prateleiras. Eles não podem mudar nem uma palavra.
— Susan...
— Me escuta, Billy! Pega o dinheiro e sai correndo. Você é jovem e forte. É disso que eles gostam. Se você for até lá, vão primeiro te separar do seu respeito próprio e depois da sua capacidade de escrever uma linha reta do ponto A até o ponto B. Por fim, mas não menos importante, vão arrancar suas bolas. Você escreve como adulto, mas é apenas uma criança com uma testa bem larga.
— Tenho que ir.
— Alguém acabou de peidar aqui? — responde ela. — Deve ter, porque tem alguma coisa fedendo.
— Mas eu tenho. Eu preciso.
— Jesus!
— Tenho que ir pra longe da Nova Inglaterra. — Ele está com medo de dizer o que vem depois, é como expressar uma maldição, mas deve isso a ela. — Tenho que me afastar do Maine.
— Por que, pelo amor de Deus?
— Não sei. Mas preciso.
— Você está me dizendo alguma coisa real, Billy, ou só falando como escritor?
— É real.
Eles estão juntos na cama durante essa conversa. Os seios dela são pequenos como pêssegos, doces como pêssegos. Ele a ama muito, mas não do jeito que os dois sabem que seria um bom jeito de amar. Ela se senta com um mar de lençóis no colo e acende um cigarro. Está chorando, mas ele duvida que ela saiba que ele sabe. É só um brilho nos olhos dela. Seria diplomático não mencionar, então ele não diz nada. Ele não a ama daquele jeito realmente bom, mas gosta muito dela.
— Então vai — diz ela com uma voz seca e profissional enquanto se vira de novo para ele. — Me liga quando estiver pronto e se ainda tiver força. Vou catar os cacos. Se sobrar algum.
A versão em filme de A correnteza negra se chama Toca do demônio negro, e Audra Phillips é escalada para o papel principal. O título é horrível, mas o filme acaba sendo bom de verdade. E a única parte que ele perde em Hollywood é o coração.
— Bill — diz Audra de novo, arrancando-o das lembranças. Ele viu que ela havia desligado a TV. Olhou pela janela e viu uma névoa roçando o vidro.
— Vou explicar o máximo que puder — disse ele. — Você merece. Mas primeiro, faça duas coisas pra mim.
— Tudo bem.
— Faça outra xícara de chá pra você e me conte o que sabe sobre mim. Ou o que pensa que sabe.
Ela olhou para ele intrigada e foi até a cômoda.
— Sei que você é do Maine — disse ela, fazendo um chá para si tirado da bandeja de café da manhã. Ela não era britânica, mas um leve toque de sotaque britânico surgira na voz dela, uma relíquia do papel que ela fez em Sótão, o filme que foram filmar lá onde estavam. Era o primeiro roteiro original de Bill. Também lhe ofereceram a posição de diretor. Graças a Deus, ele recusou; sua partida agora completaria a confusão. Ele sabia o que as pessoas diriam, toda a equipe. Billy Denbrough finalmente mostra as caras. Só mais uma merda de escritor, mais louco do que um rato enjaulado.
Deus sabia que ele se sentia louco nesse momento.
— Sei que você teve um irmão e que o amava muito e que ele morreu — prosseguiu Audra. — Sei que você cresceu em uma cidade chamada Derry, se mudou pra Bangor cerca de dois anos depois de seu irmão morrer e se mudou pra Portland aos 14 anos. Sei que seu pai morreu de câncer de pulmão quando você tinha 17. E que você escreveu um best-seller quando ainda estava na faculdade, que se formou com bolsa de estudos e o que ganhava em um emprego de meio período em uma indústria têxtil. Deve ter sido muito estranho pra você... a mudança de renda. De possibilidades.
Ela voltou para perto dele, e ele viu no rosto dela naquele momento: a percepção dos espaços escondidos entre eles.
— Sei que você escreveu A correnteza negra um ano depois e foi pra Hollywood. E na semana antes do começo das filmagens, você conheceu uma mulher muito confusa chamada Audra Phillips, que sabia um pouco o que você devia ter passado, a descompressão louca, porque ela era simplesmente Audrey Philpott cinco anos antes. E essa mulher estava se afogando...
— Audra, não.
Os olhos dela estavam firmes e sustentaram o olhar dele.
— Ah, por que não? Vamos falar a verdade e envergonhar o diabo. Eu estava me afogando. Tinha descoberto o lança-perfume dois anos antes de conhecer você e um ano depois descobri a cocaína, e as coisas ficaram ainda melhores. Era lança-perfume de manhã, coca à tarde, vinho à noite e um Valium na hora de dormir. As vitaminas de Audra. Havia entrevistas importantes demais também, papéis bons demais. Eu parecia tanto uma personagem em um romance de Jacqueline Susann que era hilário. Sabe como penso sobre aquela época agora, Bill?
— Não.
Ela tomou um gole de chá sem tirar os olhos dos dele e sorriu.
— Era como correr na esteira do aeroporto internacional de Los Angeles. Entende?
— Não exatamente.
— É uma esteira rolante — disse ela. — Com cerca de 400 metros de comprimento.
— Eu sei como é — disse ele —, mas não entendo o que...
— Você fica lá de pé e ela te leva até a área de coleta de bagagem. Mas, se você quiser, não precisa ficar ali de pé. Você pode andar na esteira. Pode correr. E parece que você está fazendo sua caminhada normal, corrida normal ou corrida disparada normal, qualquer uma delas, porque seu corpo esquece que o que você está mesmo fazendo é superar a velocidade que a esteira já está alcançando. É por isso que há placas dizendo DEVAGAR, ESTEIRA EM MOVIMENTO perto do final. Quando conheci você, senti como se tivesse saído correndo no final daquela coisa para um piso que não se movimenta mais. Ali estava eu, com o corpo 15 quilômetros à frente dos pés. Não dá pra manter o equilíbrio. Mais cedo ou mais tarde, você cai de cara. Mas eu não caí. Porque você me segurou.
Ela colocou o chá de lado e acendeu um cigarro, sem tirar os olhos dele. Ele só conseguiu ver que as mãos dela estavam tremendo no balançar da chama do isqueiro, que se desviou primeiro para a direita do cigarro e depois para a esquerda antes de acertar o alvo.
Ela tragou profundamente e soprou um jato de fumaça.
— O que sei sobre você? Sei que parecia ter tudo sob controle. Sei disso. Você nunca parecia estar com pressa pra chegar ao próximo drinque nem pra próxima reunião nem pra próxima festa. Parecia confiante de que todas essas coisas estariam lá... se você quisesse. Você falava devagar. Em parte era o sotaque do Maine, eu acho, mas a maior parte era de você mesmo. Você foi o primeiro homem que conheci lá que ousava falar devagar. Eu tinha que desacelerar para ouvir. Olhei pra você, Bill, e vi alguém que nunca corria na esteira, porque sabia que ela o levaria até o fim. Você parecia intocado pela fama e pela histeria. Não alugava um Rolls Royce só pra poder dirigir pela Rodeo Drive no sábado à tarde com as placas com seu nome em um carro cintilante de locadora. Não tinha assessor de imprensa pra plantar notícias na Vanity e nem no The Hollywood Reporter. Você nunca tinha ido ao programa do Carson.
— Escritores não podem ir a não ser que façam truques com cartas ou entortem colheres — disse ele, sorrindo. — É tipo uma lei nacional.
Ele pensou que ela sorriria, mas ela não sorriu.
— Sei que você estava do meu lado quando precisei de você. Quando saí voando no final da esteira como O. J. Simpson naquela antiga propaganda da Hertz. Talvez você tenha me salvado de tomar o comprimido errado com bebida demais. Ou talvez eu tivesse conseguido chegar do outro lado sozinha e tudo isso seja uma grande dramatização da minha parte. Mas... não é o que parece. Não por dentro, onde estou.
Ela apagou o cigarro depois de apenas duas tragadas.
— Sei que você está ao meu lado desde então. E estou do seu lado. Nos damos bem na cama. Isso parecia muito importante pra mim. Mas também nos damos bem fora dela, e agora isso parece ainda mais importante. Sinto que poderia envelhecer com você e ainda ser corajosa. Sei que você toma cerveja demais e não se exercita o bastante; sei que algumas noites você tem pesadelos horríveis...
Ele levou um susto. Um grande susto. Quase ficou com medo.
— Eu nunca sonho.
Ela sorriu.
— É o que você diz pros entrevistadores quando eles perguntam de onde você tira suas ideias. Mas não é verdade. A não ser que seja indigestão quando você começa a gemer à noite. E eu não acredito nisso, Billy.
— Eu falo? — perguntou ele com cautela. Não conseguia se lembrar de sonho nenhum. Nenhum som, bom ou ruim.
Audra assentiu.
— Às vezes. Mas nunca entendo o que você diz. E, em duas ocasiões, você chorou.
Ele olhou para ela sem expressão no rosto. Havia um gosto ruim em sua boca, que descia pela língua e pela garganta como gosto de aspirina derretida. Então agora você sabe como é o gosto do medo, pensou ele. Já era hora de descobrir, considerando tudo que você escreveu sobre o assunto. Ele achava que era um gosto com o qual se acostumaria. Se vivesse tempo o suficiente.
De repente, havia lembranças tentando voltar. Era como se um saco preto em sua mente estivesse latejando, ameaçando expelir
(sonhos)
imagens nocivas de seu subconsciente para o campo mental de visão comandado pela mente racional e desperta, e se isso acontecesse de uma vez, o levaria à loucura. Ele tentou afastar as imagens e conseguiu, mas não antes de ouvir uma voz. Era como se alguém enterrado vivo estivesse gritando de dentro do chão. Era a voz de Eddie Kaspbrak.
Você salvou minha vida, Bill. Aqueles garotos grandes, eles pegam no meu pé. Às vezes acho que eles querem mesmo me matar...
— Seus braços — disse Audra.
Bill olhou para eles. A pele estava toda arrepiada. Não apenas arrepiada, mas parecendo coberta de bulbos brancos como ovos de insetos. Os dois olharam sem dizer nada, como se olhando para uma exposição interessante de museu. O arrepio lentamente desapareceu.
No silêncio que se seguiu, Audra disse:
— E sei uma outra coisa. Alguém te ligou hoje de manhã dos Estados Unidos e disse que você tem que me deixar.
Ele se levantou, olhou rapidamente para as garrafas de bebida, entrou na cozinha e voltou com um copo de suco de laranja. Ele disse:
— Você sabe que tive um irmão e sabe que ele morreu, mas não sabe que ele foi assassinado.
Audra inspirou rapidamente.
— Assassinado! Ah, Bill, porque você nunca...
— Te contei? — Ele riu, fazendo aquele som que parecia um latido de novo. — Não sei.
— O que aconteceu?
— Morávamos em Derry na época. Houve uma enchente, mas estava no final, e George estava entediado. Eu estava de cama por causa de uma gripe. Ele queria que eu fizesse um barco de papel de jornal. Aprendi no acampamento do ano anterior. Ele disse que ia colocar para velejar pelas valas da rua Witcham e da rua Jackson, porque elas ainda estavam cheias de água. Assim, fiz o barco, ele me agradeceu e saiu, e foi a última vez que vi meu irmão George vivo. Se eu não estivesse gripado, quem sabe pudesse ter salvado ele.
Ele fez uma pausa e esfregou a bochecha esquerda com a palma da mão direita como se verificando se estava com barba por fazer. Seus olhos, ampliados pelas lentes dos óculos, pareciam pensativos... mas ele não estava olhando para ela.
— Aconteceu bem na rua Witcham, não muito longe do cruzamento com a Jackson. Quem matou ele arrancou o braço esquerdo da mesma maneira que um aluno de 2º ano arrancaria a asa de uma mosca. O legista disse que ele morreu de choque ou perda de sangue. Mas, na minha opinião, não fazia a menor diferença qual das duas coisas.
— Meu Deus, Bill!
— Imagino que você deve se perguntar por que nunca contei. A verdade é que eu também me pergunto. Estamos casados há 11 anos e até hoje você nunca soube o que aconteceu com Georgie. Sei sobre toda a sua família, até seus tios e tias. Sei que seu avô morreu na garagem dele em Iowa City quando estava mexendo na serra elétrica bêbado. Sei essas coisas porque pessoas casadas, independente do quanto sejam ocupadas, acabam sabendo quase tudo depois de um tempo. E se elas ficam muito entediadas e param de escutar, acabam absorvendo de qualquer jeito, por osmose. Ou você acha que estou errado?
— Não — disse ela baixinho. — Você não está errado, Bill.
— E sempre pudemos falar um com o outro, né? Quero dizer, nenhum de nós ficou entediado o bastante pra precisar ser por osmose, certo?
— Bem — disse ela —, até hoje, sempre pensei assim.
— Pare com isso, Audra. Você sabe tudo que aconteceu comigo nos últimos 11 anos da minha vida. Cada negócio, cada ideia, cada resfriado, cada amigo, cada sujeito que me prejudicou ou tentou. Você sabe que dormi com Susan Browne. Sabe que às vezes fico sentimental quando bebo e boto discos alto demais.
— Principalmente do Grateful Dead — disse ela, e ele riu. Desta vez, ela sorriu em resposta.
— Você sabe as coisas mais importantes, as que desejo para o futuro.
— É. Acho que sim. Mas isso... — Ela fez uma pausa, balançou a cabeça, pensou por um momento. — O quanto essa ligação tem a ver com seu irmão, Bill?
— Me deixa chegar nisso do meu jeito. Não tenta me apressar pra chegar ao núcleo, senão vou ficar comprometido. É tão grande... e tão... estranhamente terrível... que estou tentando meio que me aproximar de surpresa. Sabe... nunca me ocorreu contar a você sobre Georgie.
Ela olhou para ele, franziu a testa, balançou a cabeça de leve, como se dizendo Não entendo.
— O que estou tentando te dizer, Audra, é que nem pensei em George durante vinte anos ou mais.
— Mas você me contou que tinha um irmão chamado...
— Eu repeti um fato — disse ele. — Só isso. O nome dele era uma palavra. Não projetava sombra nenhuma na minha mente.
— Mas acho que projetava sombra nos seus sonhos — disse Audra. Sua voz estava muito baixa.
— O gemido? O choro?
Ela assentiu.
— Acho que você pode estar certa — disse ele. — Na verdade, é quase certo que esteja. Mas sonhos que você não lembra não contam de verdade, né?
— Você está mesmo me dizendo que nunca pensava nele?
— Sim. Estou.
Ela balançou a cabeça, não acreditando de verdade.
— Nem mesmo na maneira horrível como ele morreu?
— Não até hoje, Audra.
Ela olhou para ele e balançou a cabeça de novo.
— Você me perguntou antes de casarmos se eu tinha irmãos ou irmãs, e eu disse que tive um irmão que morreu quando eu era criança. Você sabia que meus pais tinham morrido, e tem tanta gente na família que ocupava todo seu campo de atenção. Mas isso não é tudo.
— O que você quer dizer?
— Não é só George que está naquele buraco negro. Não penso na própria Derry há vinte anos. Não nas pessoas com quem eu andava, Eddie Kaspbrak e Richie, o Boca, Stan Uris, Bev Marsh... — Ele passou as mãos pelo cabelo e deu uma risada trêmula. — É como ter um caso de amnésia tão severo que você não sabe que tem. E quando Mike Hanlon ligou...
— Quem é Mike Hanlon?
— Outro garoto com quem a gente andava, com quem eu andava depois que Georgie morreu. É claro que ele não é mais garoto. Nenhum de nós é. Aquele era Mike ao telefone, em ligação intercontinental. Ele disse “Alô, estou falando com a residência da família Denbrough?”, e eu disse sim, e ele disse “Bill? É você?”, e eu disse sim, e ele disse “Aqui é Mike Hanlon”. Não significou nada pra mim, Audra. Ele podia muito bem estar vendendo enciclopédias ou discos de Burl Ives. E depois ele disse “De Derry”. E quando ele disse isso, foi como se uma porta se abrisse dentro de mim e uma luz horrível brilhasse, e me lembrei de quem ele era. Me lembrei de Georgie. Me lembrei de todos os outros. Tudo isso aconteceu...
Bill estalou os dedos.
— Assim. E eu sabia que ele ia me pedir pra ir.
— Pra voltar pra Derry.
— É. — Ele tirou os óculos, esfregou os olhos, olhou para ela. Nunca na vida ela tinha visto um homem parecendo estar com tanto medo. — Pra voltar pra Derry. Porque prometemos, disse ele, e prometemos mesmo. Nós prometemos. Todos nós. Todas as crianças. Ficamos de pé no riacho que cortava o Barrens, demos as mãos em um círculo e cortamos as palmas com um pedaço de vidro, então éramos como um bando de crianças brincando de irmãos de sangue, só que foi real.
Ele mostrou as palmas para ela, e no centro ela conseguia ver uma série de linhas brancas como uma escada que poderiam ser cicatrizes. Ela tinha segurado a mão dele, as duas mãos dele, incontáveis vezes, mas nunca tinha reparado nessas cicatrizes nas palmas antes. Eram leves, sim, mas ela teria acreditado...
E a festa! Aquela festa!
Não a festa onde eles se conheceram, apesar de essa segunda formar um perfeito final de livro para a primeira, porque foi a festa de encerramento das filmagens de Toca do demônio negro. Foi agitada e regada a álcool, no estilo das festas típicas de Topanga Canyon. Talvez um pouco menos maliciosa do que outras festas de L. A. às quais ela tinha ido, porque a filmagem tinha sido melhor do que eles tinham o direito de esperar, e todos sabiam. Para Audra Phillips foi ainda melhor, porque ela se apaixonou por William Denbrough.
Qual era o nome da quiromante autoproclamada? Ela não conseguia lembrar agora, só que era uma das duas assistentes do maquiador. Ela se lembrava da garota tirando a blusa em algum momento da festa (deixando à mostra um sutiã muito transparente por baixo) e amarrando na cabeça como um turbante de cigana. Alta pela maconha e pelo vinho, ela leu palmas de mãos pelo resto da noite... ou pelo menos até apagar.
Audra agora não conseguia lembrar se as leituras da garota foram boas ou ruins, inteligentes ou idiotas: ela mesma estava muito alta aquela noite. O que ela lembrava era que, em determinado ponto, a garota pegou a mão de Bill e a dela e os declarou uma combinação perfeita. Eles eram almas gêmeas, falou. Ela conseguia se lembrar de observar, com mais do que um pouco de ciúmes, enquanto a garota passava uma unha muito bem pintada pelas linhas na palma da mão dele; o quanto idiota era isso, na estranha subcultura de filmes de L. A., onde homens batiam nos traseiros de mulheres tão habitualmente quanto os homens de Nova York davam beijos nas bochechas! Mas havia algo de íntimo e duradouro naquele movimento de unha.
Não havia pequenas cicatrizes brancas nas palmas de Bill naquele dia.
Ela estava observando a interação com olhar de amante ciumenta e tinha certeza da lembrança. Certeza do fato.
Ela disse isso para Bill agora.
Ele assentiu.
— Você está certa. Elas não estavam lá naquela época. E apesar de eu não poder jurar com certeza, acho que não estavam aqui ontem à noite, no Plow and Barrow. Ralph e eu estávamos fazendo queda de braço de novo pra ver quem pagava a cerveja, e acho que eu teria reparado.
Ele sorriu para ela. O sorriso foi seco, sem humor e apavorante.
— Acho que voltaram quando Mike Hanlon ligou. É o que eu acho.
— Bill, isso não é possível. — Mas ela esticou a mão para pegar os cigarros.
Bill estava olhando para as mãos.
— Foi Stan que fez — disse ele. — Cortou as palmas das nossas mãos com um caco de garrafa de Coca. Consigo lembrar tão claramente agora. — Ele ergueu o olhar para Audra, e por trás dos óculos, seus olhos estavam magoados e intrigados. — Lembro como aquele pedaço de vidro brilhava sob o sol. Era um das garrafas novas e transparentes. Antes disso, as garrafas de Coca eram verdes, lembra? — Ela balançou a cabeça, mas ele não a viu. Ainda estava observando as palmas das mãos. — Eu me lembro de Stan fazendo nas mãos dele por último, fingindo que ia cortar os pulsos em vez de apenas fazer um cortezinho nas palmas das mãos. Acho que era uma espécie de brincadeira, mas quase fui pra cima dele... pra fazer ele parar. Porque por um segundo ou dois, pareceu que era para valer.
— Bill, não — disse ela com voz baixa. Desta vez, ela teve que firmar o isqueiro apoiando na mão esquerda, como um policial segurando uma arma para atirar. — Cicatrizes não voltam. Elas existem ou não existem.
— Você viu elas antes, então? É isso que está me dizendo?
— Elas são bem suaves — disse Audra, mais rispidamente do que pretendia.
— Todos nós sangramos — disse ele. — Ficamos de pé na água, não muito longe de onde Eddie Kaspbrak, Ben Hanscom e eu construímos a represa naquela vez...
— Você não está falando do arquiteto, está?
— Tem algum com esse nome?
— Meu Deus, Bill, ele construiu o novo centro de comunicações da BBC! Ainda estão discutindo se é um sonho ou um aborto!
— Bem, não sei se é o mesmo cara ou não. Não parece provável, mas acho que pode ser. O Ben que conheci era fera em construir coisas. Todos ficamos ali de pé, e eu estava segurando a mão esquerda de Bev Marsh com a minha direita e a mão direita de Richie Tozier com a minha esquerda. Ficamos de pé na água como algo saído da Convenção Batista do Sul depois de uma reunião em uma barraca, e lembro que conseguia ver a Torre de Água de Derry no horizonte. Estava tão branca quanto se imagina que as túnicas dos arcanjos sejam, e prometemos, juramos que, se não estivesse acabado, que se as coisas voltassem a acontecer... nós voltaríamos. E faríamos de novo. E impediríamos. Pra sempre.
— Impedir o quê? — gritou ela, de repente furiosa com ele. — Impedir o quê? De que porra você está falando?
— Eu queria que você não p-p-perguntasse... — começou Bill, e então parou. Ela viu uma expressão de horror confuso se espalhar no rosto dele como uma mancha. — Me dá um cigarro.
Ela passou o maço para ele. Ele acendeu um. Ela nunca o tinha visto fumar um cigarro.
— Eu era gago.
— Você era gago?
— Era. Nessa época. Você disse que eu era o único homem em L. A. que você conhecia que ousava falar devagar. A verdade é que eu não ousava falar rápido. Não era reflexão. Era deliberado. Não era sabedoria. Todos os ex-gagos falam muito devagar. É um dos truques que aprendemos, como pensar em seu nome do meio antes de se apresentar, porque gagos têm mais problemas com substantivos do que qualquer outra palavra, e a palavra dentre todas no mundo que provoca maiores dificuldades é o primeiro nome deles.
— Gago. — Ela deu um pequeno sorriso, como se ele tivesse contado uma piada e ela não tivesse entendido.
— Até Georgie morrer, eu gaguejava moderadamente — disse Bill, e já tinha começado a ouvir as palavras dobradas na mente, como se estivessem infinitesimalmente separadas no tempo; as palavras saíam suavemente, em sua forma lenta e cadenciada de sempre, mas em sua mente ele ouvia palavras como Georgie e moderadamente se sobreporem e se tornarem Juh-Juh-Georgie e m-moderadamente. — Quero dizer, eu tinha momentos realmente ruins, em geral quando era chamado na aula, e principalmente se eu sabia a resposta e quisesse dar, mas em geral eu me virava. Depois que Georgie morreu, piorou muito. Depois, por volta de 14 ou 15 anos, as coisas começaram a melhorar de novo. Eu estudava na escola Chevrus High em Portland, e havia uma fonoaudióloga lá, a sra. Thomas, que era mesmo ótima. Ela me ensinou uns bons truques. Como pensar no meu nome do meio antes de dizer “Oi, sou Bill Denbrough” em voz alta. Eu estava tendo aula de francês básico e ela me ensinou a mudar pra francês se ficasse entalado em uma palavra. Então, se eu estivesse me sentindo o maior babaca do mundo, dizendo “ess-ess-esse li-li li-li” sem parar como um disco quebrado, era só trocar pra francês e “ce livre” saía fluindo pela boca. Sempre funcionava. E assim que eu dizia em francês, dava pra voltar e dizer “esse livro” sem nenhum problema. Se eu ficava entalado em uma palavra com s, como sapo, skate ou slogan, era só cecear, pronunciar o S com a língua apoiada nos dentes. Eu não gaguejava.
“Tudo isso ajudava, mas o principal era que eu estava esquecendo Derry e tudo que aconteceu lá. Porque foi quando comecei a esquecer pra valer. Quando estávamos morando em Portland e eu estudava na Chevrus. Não me esqueci de tudo de uma vez, mas ao olhar pra trás agora, tenho que dizer que aconteceu em um período incrivelmente curto de tempo. Talvez menos de quatro meses. Minha gagueira e minhas lembranças desapareceram juntas. Alguém lavou o quadro, e todas as velhas equações sumiram.”
Ele tomou o que ainda restava de suco.
— Quando eu gaguejei em “perguntasse” alguns segundos atrás, foi a primeira vez em talvez 21 anos.
Ele olhou para ela.
— Primeiro, as cicatrizes, depois a gaa-gueira. Está o-ouvindo?
— Você está fazendo de propósito! — disse ela, bastante assustada.
— Não. Acho que não tem jeito de convencer alguém disso, mas é verdade. Gaguejar é estranho, Audra. Assustador. Em certo nível, você nem percebe que está acontecendo. Mas... também é uma coisa que você consegue ouvir com a mente. É como se parte da sua cabeça estivesse funcionando à frente do resto. Ou um daqueles sistemas de som que os jovens colocavam nos calhambeques nos anos 1950, em que o som do alto-falante de trás saía uma fração de segundo depois que o do da fr-frente.
Ele se levantou e andou com impaciência pela sala. Parecia cansado, e ela pensou com certo incômodo no quanto ele tinha trabalhado duro nos últimos 13 anos, como se fosse possível justificar o talento moderado com trabalho frenético, quase sem parar. Ela se viu tendo um pensamento ruim e tentou afastá-lo, mas ele não sumiu. E se a ligação de Bill tivesse sido mesmo de Ralph Foster, convidando-o para ir ao Plow and Barrow para uma hora de queda de braço ou gamão, ou talvez de Freddie Firestone, o produtor de Sótão, por causa de algum problema? Talvez até “uma série de coisas erradas”, como a esposa britânica do médico que morava na rua dizia?
A que esses pensamentos levavam?
Ora, à ideia de que toda essa coisa de Derry e Mike Hanlon não passava de alucinação. Uma alucinação despertada por um colapso nervoso em fase inicial.
Mas as cicatrizes, Audra. Como você explica as cicatrizes? Ele está certo. Não estavam lá... e agora, estão. Essa é a verdade e você sabe.
— Me conta o resto — disse ela. — Quem matou seu irmão George? O que você e essas outras crianças fizeram? O que vocês prometeram?
Ele foi até ela, se ajoelhou como um homem antiquado prestes a pedi-la em casamento e segurou as mãos dela.
— Acho que eu poderia te contar — disse ele baixinho. — Acho que, se eu realmente quisesse, poderia. Não me lembro da maior parte mesmo agora, mas depois que começasse a falar, tudo viria. Consigo sentir algumas dessas lembranças... esperando pra nascer. São como nuvens cheias de chuva. Só que seria uma chuva muito suja. As plantas que crescessem depois de uma chuva assim seriam monstros. Talvez eu possa encarar isso com os outros...
— Eles sabem?
— Mike disse que ligou pra todos. Acha que todos vão... menos Stan, talvez. Ele disse que Stan parecia estranho.
— Tudo me parece estranho. Você está me assustando muito, Bill.
— Sinto muito — disse ele, e beijou-a. Foi como receber um beijo de um estranho. Ela se viu odiando esse tal de Mike Hanlon. — Achei que devia explicar o máximo que podia; achei que fosse melhor do que sair escondido à noite. Acho que alguns talvez façam isso. Mas preciso ir. E acho que Stan também vai estar lá, por mais estranho que estivesse. Ou talvez só não consiga me imaginar não indo.
— Por causa do seu irmão?
Bill balançou a cabeça devagar.
— Eu poderia dizer isso, mas seria mentira. Eu o amava. Sei o quanto isso pode parecer estranho depois de eu contar que não pensava nele havia uns vinte anos, mas eu amava aquele moleque demais. — Ele sorriu um pouco. — Ele era um manezão, mas eu o amava. Entende?
Audra, que tinha uma irmã mais nova, assentiu.
— Entendo.
— Mas não é por George. Não consigo explicar o que é. Eu...
Ele olhou pela janela para a névoa matinal.
— Sinto como um pássaro deve se sentir quando chega o outono e ele sabe... apenas sabe que precisa voar pra casa. É instinto, querida... e acho que acredito que o instinto é o esqueleto de ferro sob todas as nossas ideias e livre-arbítrio. A não ser que você esteja disposto a tirar a própria vida, acabar com seu futuro, comprar bilhete só de ida pro inferno, tem coisas pras quais não dá pra dizer não. Você não pode recusar sua opção porque não há opção. Não pode impedir que aconteça tanto quanto não dá pra ficar parado na primeira base com o taco na mão esperando a bola de beisebol te acertar. Tenho que ir. Aquela promessa... está na minha mente como um an-anzol.
Ela ficou de pé e andou até ele; sentia-se muito frágil, como se pudesse se partir. Colocou a mão no ombro dele e o virou para si.
— Me leva com você então.
A expressão de horror que surgiu no rosto dele nesse momento, não horror a ela, mas por ela, foi tão nua que ela recuou, sentindo medo de verdade pela primeira vez.
— Não — disse ele. — Nem pense nisso, Audra. Nunca pense nisso. Você não vai chegar nem a 5 mil quilômetros de Derry. Acho que Derry vai ser um lugar bem ruim para se estar durante as próximas duas semanas. Você vai ficar aqui, seguir em frente e dar todas as desculpas por mim que precisar. Agora me prometa isso!
— Devo prometer? — perguntou ela, sem tirar os olhos dos dele. — Devo, Bill?
— Audra...
— Devo? Você fez uma promessa, e veja em que ela te meteu. E eu também, já que sou sua esposa e amo você.
As mãos grandes dele apertaram dolorosamente os ombros dela.
— Me prometa! Prometa! P-pro-pro-pro-o...
E ela não conseguiu suportar aquilo, aquela palavra partida presa na boca como um peixe capturado por um arpão e se contorcendo.
— Eu prometo, tá? Prometo! — Ela começou a chorar. — Está feliz agora? Jesus! Você é maluco, a coisa toda é maluca, mas eu prometo!
Ele passou um braço em torno dela e a levou até o sofá. Levou conhaque para ela. Ela bebericou e foi readquirindo o controle um pouco de cada vez.
— Quando você vai então?
— Hoje — disse ele. — De concorde. Consigo chegar se for de carro até Heathrow em vez de pegar o trem. Freddie queria me ver no set depois do almoço. Você vai na frente às nove e não sabe de nada, certo?
Ela assentiu com relutância.
— Vou estar em Nova York antes de qualquer coisa parecer estranha. E em Derry antes do pôr do sol se pegar as co-c-conexões certas.
— E quando te vejo de novo? — perguntou ela baixinho.
Ele passou o braço ao redor dela e a abraçou com força, mas nunca respondeu a pergunta dela.
DERRY:
PRIMEIRO INTERLÚDIO
“Quantos olhos humanos...
tiveram vislumbres das
anatomias secretas deles
ao longo da passagem dos anos?”
—CLIVE BARKER, Livros de Sangue
O segmento abaixo e todos os outros segmentos de Interlúdio são tirados de Derry: uma história não autorizada da cidade, escrito por Michael Hanlon. É uma coletânea inédita de anotações e fragmentos de manuscrito (escritos quase como trechos de diário) encontrados no cofre da Biblioteca Pública de Derry. O título dado é o que está escrito na capa do fichário no qual as anotações eram guardadas antes de aparecerem aqui. No entanto, o autor se refere ao trabalho várias vezes ao longo das próprias notas como Derry: uma olhada pela porta dos fundos do inferno.
Algumas pessoas acreditam que a ideia de uma publicação popular mais do que passou pela mente do sr. Hanlon.
2 de janeiro de 1985
Uma cidade inteira pode ser assombrada?
Assombrada como algumas casas em teoria são?
Não uma única construção nessa cidade, nem a esquina de uma única rua, nem uma única quadra de basquete em um único parque, com a cesta sem rede se destacando ao pôr do sol como um instrumento obscuro e sangrento de tortura, não só uma área... mas tudo. A cidade toda.
Isso é possível?
Escute:
Assombrada: “Visitada com frequência por fantasmas e espíritos.” Funk and Wagnalls.
Assombrador: “Recorrente à mente com persistência; difícil de esquecer.” Idem Funk e Amigo.
Assombrar: “Aparecer ou retornar com frequência, principalmente como fantasma.” Mas, escute! “Um lugar visitado com frequência: local de visitas, sala de estar, ponto de encontro...” O itálico é meu, é claro.
E mais uma. Esta, como a última, é uma definição de assombro como substantivo, e é a que realmente me apavora: “Um local de alimentação para animais.”
Como os animais que surraram Adrian Mellon e o jogaram da ponte?
Como o animal que estava esperando debaixo da ponte?
Um local de alimentação para animais.
O que está se alimentando em Derry? O que está se alimentando de Derry?
Sabe, é um tanto interessante. Eu não sabia que era possível um homem ficar tão apavorado quanto fiquei desde a história de Adrian Mellon e continuar a viver, e mais ainda de forma eficiente. É como se eu tivesse caído em uma história, e todo mundo sabe que você não deve sentir tanto medo antes do final da história, quando o assombrador do escuro finalmente sai do esconderijo para se alimentar... de você, é claro.
De você.
Mas se isso é uma história, não é uma das clássicas apavorantes de Lovecraft, Bradbury ou Poe. Eu sei, entende. Não tudo, mas muita coisa. Não comecei simplesmente quando abri o Derry News um dia em setembro, li a transcrição da audiência preliminar do jovem Unwin e me dei conta de que o palhaço que matou George Denbrough podia muito bem ter voltado. Comecei por volta de 1980. Acho que é quando uma parte de mim que estava adormecida despertou... sabendo que a hora da Coisa podia estar voltando.
Que parte? A parte sentinela, eu acho.
Ou talvez fosse a voz da Tartaruga. Sim... acho mesmo que foi isso. Sei que seria nisso que Bill Denbrough acreditaria.
Descobri notícias de velhos horrores em livros velhos; li informações de velhas atrocidades em periódicos velhos; sempre no fundo da minha mente, cada dia um pouco mais alto, ouvi o murmurar repetitivo de uma força crescente e coalescente; pareci sentir o aroma amargo de relâmpagos futuros. Comecei a tomar notas para um livro que quase certamente não viverei para escrever. E, ao mesmo tempo, prossegui com a vida. Em um nível da mente, eu estava e estou vivendo com os horrores mais grotescos e apavorantes; em outro, continuei a viver a vida mundana de bibliotecário de cidade pequena. Coloco livros em prateleiras; faço carteiras de biblioteca para novos associados; desligo os leitores de microfilmes que usuários descuidados às vezes deixam ligados; brinco com Carole Danner sobre o quanto gostaria de ir para a cama com ela, e ela responde brincando sobre o quanto gostaria de ir para a cama comigo, e nós dois sabemos que ela está brincando e eu não, assim como nós dois sabemos que ela não vai ficar em um lugarzinho como Derry por muito tempo e eu vou ficar aqui até morrer, colando páginas arrancadas da Business Week, sentado nas reuniões mensais de aquisições com meu cachimbo em uma das mãos e uma pilha de periódicos na outra... e acordando no meio da noite com o punho enfiado na boca para conter os gritos.
As convenções góticas estão todas erradas. Meu cabelo não ficou branco. Não sou sonâmbulo. Não comecei a fazer comentários enigmáticos nem a carregar uma prancheta no bolso do casaco esporte. Acho que gargalho um pouco mais, só isso, e às vezes deve parecer agudo e estranho, porque às vezes as pessoas me olham de um jeito esquisito quando gargalho.
Parte de mim, a parte que Bill chamaria de voz da Tartaruga, diz que devo ligar pra todos esta noite. Mas será que eu tenho certeza absoluta, mesmo agora? Será que quero ter certeza absoluta? Não, é claro que não. Mas Deus, o que aconteceu com Adrian Mellon é tão parecido com o que aconteceu com George, o irmão do Bill Gago, no outono de 1957.
Se realmente recomeçou, eu vou ligar para eles. Vou ter que ligar. Mas ainda não. Está cedo demais. Da última vez, começou devagar e só pegou ritmo no final de 1958. Então... eu espero. E preencho a espera com palavras neste caderno e longos momentos olhando no espelho para ver o estranho que o garoto se tornou.
O rosto do garoto era estudioso e tímido; o rosto do homem é o de um caixa de banco em um filme de faroeste, o sujeito que nunca tem falas, o que só levanta as mãos e faz cara de medo quando os ladrões entram. E se o roteiro pede que alguém leve um tiro dos bandidos, é ele.
O mesmo velho Mike. Com os olhos um pouco vidrados, talvez, e com olheiras por sono interrompido, mas não tanto que se repararia sem olhar de perto... perto como quem vai dar um beijo, e não chego perto assim de ninguém há muito tempo. Se você desse uma olhada casual em mim, poderia pensar Ele anda lendo livros demais, mas só isso. Duvido que imaginaria o quanto o homem com rosto comum de caixa de banco está lutando para seguir em frente, para manter a mente sã...
Se eu precisar fazer as ligações, isso pode acabar matando alguns deles. É uma das coisas que tenho que encarar nas longas noites em que o sono não vem, noites em que fico deitado na cama com meu pijama azul conservador, com meus óculos cuidadosamente fechados na mesa de cabeceira ao lado do copo de água que sempre deixo ali para o caso de acordar com sede à noite. Fico deitado no escuro e tomo pequenos goles de água e me pergunto o quanto (ou quão pouco) eles lembram. Estou um tanto convencido de que não se lembram de nada, porque não precisam lembrar. Sou o único que escuta a voz da Tartaruga, o único que lembra, porque sou o único que ficou aqui em Derry. E como eles estão espalhados aos quatro ventos, não têm como saber os padrões idênticos que as vidas deles assumiram. Trazê-los de volta, mostrar a eles esses padrões... sim, pode matar alguns deles. Pode matar todos eles.
Assim, passo e repasso na mente; penso neles, procuro recriá-los como eram e como podem estar agora, tentando decidir qual deles é o mais vulnerável. Richie “Boca de Lixo” Tozier, às vezes eu penso; era ele que Criss, Huggins e Bowers pareciam pegar com mais frequência, apesar de Ben ser tão gordo. Era de Bowers que Richie tinha mais medo, de quem todos tinham mais medo, mas os outros costumavam deixá-lo morrendo de medo também. Se eu ligar para ele na Califórnia, será que ele veria como um horrível Retorno dos Grandes Valentões, dois saídos do túmulo e um de um manicômio em Juniper Hill, onde delira até os dias de hoje? Às vezes acho que Eddie era o mais fraco, Eddie com sua mãe tanque de guerra dominadora e o terrível caso de asma. Beverly? Ela sempre tentava botar banca de durona, mas tinha tanto medo quanto todos nós. Bill Gago, cara a cara com um horror que não some quando ele coloca a capa da máquina de escrever? Stan Uris?
Há uma lâmina de guilhotina pendurada acima das vidas deles, afiadíssima, mas quanto mais eu penso, mais acho que eles não sabem que a lâmina está lá. Sou eu quem está com a mão na alavanca. Posso puxá-la apenas abrindo o caderno de telefones e ligando para eles, um após o outro.
Talvez eu não precise fazer isso. Eu me prendo à esperança efêmera de que confundi os gritos da minha mente tímida com a voz mais profunda e verdadeira da Tartaruga. Afinal, o que tenho? Mellon em julho. Uma criança encontrada morta na rua Neibolt em outubro, outra encontrada no Parque Memorial no começo de dezembro, pouco antes de começar a nevar. Talvez fosse um mendigo, como os jornais diziam. Ou um louco que já foi embora de Derry ou se matou por remorso e nojo de si mesmo, como alguns dos livros dizem que o verdadeiro Jack o Estripador deve ter feito.
Talvez.
Mas a garota Albrecht foi encontrada na calçada do outro lado da rua da maldita casa velha na rua Neibolt... e foi morta no mesmo dia que George Denbrough, 27 anos antes. E o garoto Johnson, encontrado no Parque Memorial sem uma das pernas do joelho para baixo. O Parque Memorial é o lar da Torre de Água de Derry, e o garoto foi encontrado quase na base dela. A Torre de Água fica a um grito do Barrens; a Torre de Água também é onde Stan Uris viu aqueles garotos.
Aqueles garotos mortos.
Ainda assim, podia não passar de fumaça e miragens. Podia ser. Ou coincidência. Ou talvez algum meio-termo entre os dois, um tipo de eco maléfico. Seria possível? Eu sinto que sim. Aqui em Derry, qualquer coisa seria possível.
Acho que o que esteve aqui antes ainda está, a coisa que estava aqui em 1957 e 1958; a coisa que estava aqui em 1929 e 1930 quando o Black Spot foi incendiado pela Legião de Decência Branca do Maine; a coisa que estava aqui em 1904 e 1905 e no começo de 1906, pelo menos até a Siderúrgica Kitchener explodir; a coisa que estava aqui em 1876 e 1877, a coisa que aparece a cada 27 anos, mais ou menos. Às vezes, aparece um pouco antes, às vezes, um pouco depois... mas sempre vem. Quanto mais no passado, mais difícil é de encontrar os eventos, porque há menos registros e os buracos na história narrativa da área ficam maiores. Mas saber para onde olhar (e quando olhar) ajuda muito a resolver o problema. Ela sempre volta, sabe.
A Coisa.
Então, sim. Acho que vou ter que fazer aquelas ligações. Acho que era para sermos nós. De alguma forma, por algum motivo, somos os eleitos para acabar com isso para sempre. Destino cego? Sorte cega? Ou é aquela maldita Tartaruga de novo? Será que ela também dá ordens além de falar? Não sei. E duvido que importe. Todos esses anos atrás, Bill disse A Tartaruga não pode nos ajudar, e se era verdade na época, deve ser verdade agora.
Penso em nós de pé na água, com as mãos dadas, fazendo aquela promessa de voltar se tudo recomeçasse; de pé quase como druidas em um círculo, com as mãos sangrando uma promessa própria, palma com palma. Um ritual que talvez seja tão velho quanto a própria humanidade, uma torneira inconsciente presa à árvore de todo poder, a que cresce no limite entre a terra que conhecemos e aquela da qual todos desconfiamos.
Porque as similaridades...
Mas estou bancando o Bill Denbrough aqui, gaguejando sobre a mesma coisa sem parar, recitando poucos fatos e muitas suposições desagradáveis (e um tanto fugidias), ficando mais e mais obsessivo a cada parágrafo. Não é bom. É inútil. Perigoso, até. Mas é tão difícil acompanhar os eventos.
Este caderno é para ser um esforço para superar essa obsessão com a ampliação do foco da minha atenção. Afinal, há mais nesta história do que seis garotos e uma garota, nenhum deles feliz, nenhum deles aceito pelos colegas, que tropeçaram em um pesadelo durante um verão quente quando Eisenhower ainda era presidente. É uma tentativa de afastar um pouco a câmera, para ver a cidade inteira, um lugar onde quase 35 mil pessoas trabalham e comem e dormem e copulam e compram e dirigem e andam e vão para a escola e vão para a cadeia e às vezes desaparecem no escuro.
Para saber o que um lugar é, realmente acredito que é preciso saber o que ele foi. E se eu tivesse que citar um dia em que tudo isso recomeçou para mim, seria o dia no começo da primavera de 1980 quando fui ver Albert Carson, que morreu no verão passado. Aos 91 anos, ele teve uma vida longa e honrada. Foi o bibliotecário chefe daqui de 1914 a 1960, um período incrível (mas ele era um homem incrível), e eu achava que se alguém saberia por qual história desta área era melhor começar, seria Albert Carson. Fiz minha pergunta quando estávamos sentados na varanda dele, e ele me deu minha resposta, falando em um grasnado, pois já estava lutando contra o câncer de garganta que acabaria por matá-lo.
— Nenhuma vale porra nenhuma. Como você sabe muito bem.
— Então onde devo começar?
— Começar o que, por Deus?
— A pesquisar a história da área. Do município de Derry.
— Ah. Bem. Comece com o Fricke e o Michaud. Em teoria, são os melhores.
— E depois de eu ler esses...
— Ler? Deus, não! Jogue os dois no lixo! Esse é seu primeiro passo. Depois, leia Buddinger. Branson Buddinger era um pesquisador descuidado e sofria de ereção terminal, se metade do que ouvi quando criança for verdade, mas quando se tratava de Derry, suas intenções eram as melhores. Ele errou na maior parte dos fatos, mas errou com sentimento, Hanlon.
Eu ri um pouco, e Carson sorriu com lábios grossos, com uma expressão de bom humor que era na verdade meio apavorante. Naquele instante, ele pareceu um abutre vigiando alegremente um animal recém-morto, esperando que chegasse ao estágio certo de decomposição antes de começar a jantar.
— Quando você terminar Buddinger, leia Ives. Tome nota sobre todas as pessoas com quem ele conversou. Sandy Ives ainda está na Universidade do Maine. É folclorista. Depois que ler o livro dele, vá vê-lo. Pague um jantar. Eu o levaria ao Orinoka, porque o jantar no Orinoka parece não terminar nunca. Extraia informações. Encha um caderno com nomes e endereços. Fale com o pessoal antigo com quem ele conversou, os que ainda estão vivos. Ainda tem alguns de nós, ah-hah-hah-hah! E consiga mais alguns nomes com eles. Aí você terá tudo de que precisa se tiver metade da inteligência que eu acho que você tem. Se você for atrás de pessoas o suficiente, vai descobrir algumas coisas que não estão nos livros de história. E pode descobrir que elas vão perturbar seu sono.
— Derry...
— O que tem?
— Derry não é normal, é?
— Normal? — perguntou ele naquele sussurro rouco. — O que é normal? O que essa palavra significa? É “normal” belas fotos do Kenduskeag ao pôr do sol, com o filme tal da Kodachrome, com determinada abertura relativa? Se for, então Derry é normal, porque há belas fotos dela às pencas. É normal um comitê maldito de velhas virgens salvar a Mansão do Governador ou colocar uma placa comemorativa na frente da Torre de Água? Se isso for normal, então Derry é tão normal quanto a chuva, porque temos mais do que nossa cota de xeretas tomando conta das coisas dos outros. É normal aquela estátua feia de plástico de Paul Bunyan na frente do City Center? Ah, se eu tivesse um caminhão de napalm e meu velho isqueiro Zippo, eu cuidaria daquela merda, eu te garanto... mas se a estética de alguém for ampla o bastante pra incluir estátuas de plástico, então Derry é normal. A pergunta é: o que normal significa pra você, Hanlon? Hein? Mais diretamente, o que normal não significa?
Eu só conseguia balançar a cabeça. Ele sabia ou não sabia. Contaria ou não contaria.
— Você está falando das histórias desagradáveis que pode ouvir ou das que já sabe? Sempre há histórias desagradáveis. A história de uma cidade é como uma mansão velha e irregular cheia de aposentos e buracos e passagens de roupa suja e sótãos e todo tipo de pequenos esconderijos excêntricos... sem mencionar uma ocasional passagem secreta ou duas. Se você for explorar a Mansão Derry, vai encontrar todo tipo de coisas. Sim. Pode se lamentar mais tarde, mas vai encontrar, e quando uma coisa é encontrada, não pode mais ser desencontrada, pode? Alguns dos aposentos estão trancados, mas há chaves... Há chaves.
Os olhos dele cintilaram para mim com astúcia de homem idoso.
— Você pode acabar pensando que tropeçou nos piores segredos de Derry... mas sempre tem mais um. E mais um. E mais um.
— Você...?
— Acho que vou ter que pedir licença agora. Minha garganta está péssima hoje. Está na hora dos meus remédios e da minha soneca.
Em outras palavras, aqui estão a faca e o garfo, amigo; vá ver o que consegue cortar com eles.
Comecei com a história de Fricke e a história de Michaud. Segui o conselho de Carson e joguei os dois no lixo, mas li primeiro. Eram tão ruins quanto ele sugeriu. Li o Buddinger, copiei as notas de pé de página e fui atrás delas. Isso foi mais do que satisfatório, mas notas de pé de página são coisas peculiares, sabe, como trilhas por um lugar selvagem e anárquico. Elas se abrem e se abrem de novo; em determinado ponto você pode pegar uma saída errada, que vai te levar a um beco sem saída ou a um pântano de areia movediça. “Se você encontrar uma nota de pé de página”, disse um professor de biblioteconomia para uma turma da qual eu fazia parte, “pise na cabeça dela e mate antes que se reproduza”.
Elas se reproduzem sim, e às vezes essa reprodução é uma coisa boa, mas acho que o mais comum é não ser. As presentes no livro rigidamente escrito de Buddinger, Uma história da velha Derry (Orono: University of Maine Press, 1950), abordam cem anos de livros esquecidos e dissertações de mestrado poeirentas nos campos de história e folclore, passando por artigos em revistas que não existem mais e pilhas de relatórios municipais e livros de registro de entorpecer o cérebro.
Minhas conversas com Sandy Ives foram mais interessantes. As fontes dele se cruzavam com as de Buddinger de tempos em tempos, mas era mesmo apenas um cruzamento. Ives passou boa parte da vida transcrevendo histórias orais, ou seja, contos, quase ao pé da letra, uma prática que Branson Buddinger certamente veria como o pior caminho.
Ives escreveu um ciclo de artigos sobre Derry entre os anos de 1963 e 1966. A maior parte dos cidadãos antigos com quem ele conversou na época estava morta quando comecei minhas investigações, mas eles tinham filhos, filhas, sobrinhos, primos. E, é claro, um dos grandes fatos verdadeiros do mundo é este: para cada cidadão antigo que morre, há um novo cidadão antigo que toma seu lugar. E uma boa história nunca morre; é sempre passada adiante. Sentei-me em muitas varandas e degraus de fundos de casas, bebi muito chá, cerveja Black Label, cerveja caseira, root beer caseira, água da torneira, água mineral. Ouvi bastante, e as engrenagens do meu gravador giraram.
Tanto Buddinger quanto Ives concordavam completamente em um ponto: o grupo original de colonizadores brancos chegava a cerca de trezentas pessoas. Eram ingleses. Tinham autorização e eram formalmente conhecidos como a Companhia Derrie. A terra dada a eles cobria o que é Derry hoje, a maior parte de Newport e pequenas partes das cidades ao redor. E no ano de 1741, todo mundo do município de Derry simplesmente desapareceu. As pessoas estavam lá em junho daquele ano, uma comunidade que naquela época chegava a 340 almas, mas em outubro, tinham sumido. O pequeno vilarejo de casas de madeira estava completamente deserto. Uma delas, que ficava aproximadamente no local onde as ruas Witcham e Jackson se cruzam hoje, estava totalmente queimada. O livro de história de Michaud afirma com veemência que todos os habitantes foram mortos por índios, mas não há base (fora aquela única casa queimada) para essa ideia. É mais provável que o fogão tenha ficado quente demais e a casa pegou fogo.
Massacre índio? Duvidoso. Não havia ossos, não havia corpos. Inundação? Não naquele ano. Doença? Não há notícia sobre isso nas cidades ao redor.
Eles simplesmente desapareceram. Todo mundo. Todas as 340 pessoas. Sem deixar rastros.
Até onde sei, o único caso remotamente parecido na história americana é o desaparecimento dos colonizadores em Roanoke Island, Virginia. Todos os estudantes do país conhecem essa, mas quem sabe sobre o desaparecimento em Derry? Nem mesmo as pessoas que moram aqui, aparentemente. Perguntei a vários estudantes de segundo segmento do ensino fundamental que estão fazendo o curso exigido de história do Maine e nenhum sabia sobre isso. Então, verifiquei o livro, O Maine antes e agora. Há mais de quarenta ocorrências sobre Derry, a maior parte sobre os anos prósperos da indústria madeireira. Nada sobre o desaparecimento dos colonizadores originais... Mas esse... Como devo chamar? Esse silêncio também se encaixa no padrão.
Existe uma espécie de cortina de silêncio que cobre a maior parte do que aconteceu aqui... mas as pessoas falam. Acho que nada pode impedir as pessoas de falarem. Mas você precisa ouvir com atenção, e essa é uma capacidade rara. Tenho orgulho de ter desenvolvido isso nos últimos quatro anos. Se não tivesse, minha aptidão para o serviço seria mesmo muito ruim, porque tive prática suficiente. Um homem idoso me contou que a esposa ouvia vozes que falavam com ela pelo ralo da pia da cozinha nas três semanas antes de a filha deles morrer, isso no início do inverno de 1957-1958. A garota sobre quem ele falou estava entre as primeiras vítimas da série de assassinatos que começou com George Denbrough e só terminou no verão seguinte.
— Um monte de vozes, todas elas falando ao mesmo tempo — ele me disse. Ele era dono de um posto Gulf na rua Kansas e falava entre idas lentas e claudicantes até as bombas, onde enchia tanques de gasolina,verificava níveis de óleo e limpava para-brisas. — Ela disse que respondeu uma vez, apesar de estar com medo. Se inclinou por cima do ralo, pode acreditar, e gritou direto pra ele. “Quem diabos é você?”, grita ela. “Qual é seu nome?” E todas essas vozes responderam, disse ela, gemidos e falatórios e gritos e gritinhos, gargalhadas e berros, sabe. E ela disse que estavam dizendo o que o homem possuído disse pra Jesus: “Nosso nome é Legião”, elas disseram. Ela não chegou perto daquela pia durante dois anos. Durante esses dois anos, eu passei 12 horas aqui me arrebentando e depois tinha que voltar pra casa e lavar toda a porcaria de louça.
Ele estava tomando uma lata de Pepsi saída de uma máquina do lado de fora do escritório, um homem de 72 ou 73 anos com macacão surrado de trabalho e rios de rugas saindo dos cantos dos olhos e boca.
— A essa altura, você deve pensar que sou doido de pedra — disse ele —, mas vou te contar outra coisa se você desligar esse seu troço aí.
Desliguei o gravador e sorri para ele.
— Considerando algumas das coisas que ouvi nos últimos dois anos, você teria que ir bem mais longe pra me convencer que é doido — eu disse.
Ele sorriu em resposta, mas não havia humor naquele sorriso.
— Eu estava lavando a louça uma noite, como sempre. Isso foi no outono de 1958, depois que as coisas tinham se ajeitado. Minha esposa estava dormindo no andar de cima. Betty foi a única filha que Deus nos deu, e depois que foi morta, minha esposa passava muito do tempo dela dormindo. De qualquer modo, puxei o tampão, e a água começou a escorrer da pia. Sabe o som que água cheia de sabão faz quando desce pelo ralo? Meio que um som de sugar. Estava fazendo esse barulho, mas eu não estava pensando nisso, só em sair pra cortar lenha no galpão, e quando aquele som começou a sumir, ouvi minha filha lá embaixo. Ouvi Betty em algum lugar daqueles malditos canos. Rindo. Ela estava em algum lugar lá embaixo no escuro, rindo. Só que parecia mais que ela estava gritando se você prestasse atenção. Ou as duas coisas. Gritando e rindo lá embaixo nos canos. Foi a única vez que ouvi uma coisa assim. Talvez eu tenha imaginado. Mas... acho que não.
Ele olhou para mim, e eu olhei para ele. A luz entrando pelas janelas sujas e batendo no rosto dele aumentou seu número de anos, o fez parecer tão velho quanto Matusalém. Eu me lembro do quanto senti frio naquele momento; muito frio.
— Você acha que estou inventando pra você? — o homem idoso me perguntou, o homem idoso que teria 45 anos em 1957, o homem idoso a quem Deus deu uma única filha, Betty Ripsom por batismo. Betty foi encontrada na rua Outer Jackson depois do Natal daquele ano, congelada, com o corpo aberto.
— Não — eu disse. — Não acho que você esteja inventando pra mim, sr. Ripsom.
— E você também está falando a verdade — disse ele com uma espécie de assombro. — Consigo ver no seu rosto.
Acho que ele pretendia me contar mais alguma coisa, mas o sino atrás de nós tocou quando um carro passou por cima da mangueira e encostou ao lado das bombas. Quando o sino tocou, nós dois pulamos e demos um gritinho. Ripsom ficou de pé e mancou até o carro, limpando as mãos em um pedaço de estopa. Quando voltou, olhou para mim como se eu fosse um estranho desagradável que tinha acabado de chegar da rua. Eu me despedi e fui embora.
Buddinger e Ives concordam em outra coisa: as coisas não são muito normais aqui em Derry; as coisas em Derry nunca foram normais.
Vi Albert Carson pela última vez um mês antes de ele morrer. Sua garganta tinha piorado muito; ele só conseguiu sibilar um pequeno sussurro:
— Ainda está pensando em escrever uma história de Derry, Hanlon?
— Ainda estou brincando com a ideia — eu disse, mas é claro que nunca planejei escrever nenhuma história do município, não exatamente, e eu acho que ele sabia.
— Você demoraria vinte anos — sussurrou ele — e ninguém leria. Ninguém iria querer ler. Deixa pra lá, Hanlon.
Ele fez uma pausa e acrescentou:
— Buddinger cometeu suicídio, sabe?
É claro que eu sabia disso, mas só porque as pessoas sempre falam e eu aprendi a ouvir. O artigo no News chamou de queda por acidente, e era verdade que Branson Buddinger tinha tido uma queda. O que o News deixou de mencionar foi que ele caiu de um banco no armário e estava com uma corda ao redor do pescoço.
— Você sabe sobre o ciclo?
Olhei para ele assustado.
— Ah, sim — sussurrou Carson. — Eu sei. A cada 26 ou 27 anos. Buddinger também sabia. Muitos dos cidadãos mais antigos sabem, apesar de ser uma coisa sobre a qual eles não falem, mesmo se você os encher de bebida. Deixa pra lá, Hanlon.
Ele esticou a mão que mais parecia uma garra de pássaro. Fechou ao redor do meu pulso, e consegui sentir o câncer quente que estava solto e devorando o corpo dele, consumindo qualquer coisa e tudo que ainda havia para consumir. Não que houvesse muito na época; a despensa de Albert Carson estava quase vazia.
— Michael, não é o tipo de coisa com que você quer se meter. Tem coisas aqui em Derry que mordem. Deixa pra lá. Deixa pra lá.
— Não posso.
— Então tome cuidado — disse ele. De repente, os olhos enormes e apavorados de uma criança estavam olhando pelo rosto de homem moribundo. — Cuidado.
Derry.
Minha cidade natal. Batizada em homenagem ao condado com o mesmo nome na Irlanda.
Derry.
Eu nasci aqui, no Derry Home Hospital; estudei na Escola Derry; fiz o segundo segmento do fundamental na Ninth Street Middle School; fiz o ensino médio na Derry High. Estudei na Universidade do Maine; “não é Derry, mas fica ali na esquina”, dizem os antigos, e depois voltei para cá. Para a Biblioteca Pública de Derry. Sou um homem de cidade pequena vivendo uma vida de cidade pequena, uma dentre milhões.
Mas.
Mas:
Em 1879, uma equipe de lenhadores encontrou os restos de outra equipe que tinha passado o inverno presa no acampamento no Upper Kenduskeag, na ponta do que as crianças ainda chamam de Barrens. Havia nove deles, todos partidos em pedacinhos. Cabeças rolaram... sem mencionar braços... um pé ou dois... e o pênis de um homem tinha sido pregado em uma das paredes da casa.
Mas:
Em 1851, John Markson matou toda a família com veneno e depois, sentado no meio do círculo que fez com os corpos, engoliu um cogumelo venenoso inteiro. Suas dores ao morrer devem ter sido intensas. O policial municipal que o encontrou escreveu no relatório que a princípio achou que o corpo estivesse sorrindo para ele; ele escreveu sobre “o terrível sorriso branco de Markson”. O sorriso branco era uma porção inteira do cogumelo venenoso; Markson continuou a comer mesmo quando as câimbras e os espasmos musculares excruciantes já deviam ter começado a massacrar seu corpo em vias de morrer.
Mas:
No domingo de Páscoa de 1906, os donos da Siderúrgica Kitchener, que ficava onde agora é o novíssimo Derry Mall, fizeram uma caçada a ovos de Páscoa para “todas as boas crianças de Derry”. A caçada aconteceu no enorme prédio da siderúrgica. Áreas perigosas foram fechadas e os funcionários se ofereceram para montar guarda e garantir que nenhum menino ou menina aventureiro tentasse passar por baixo das barreiras e explorar. Quinhentos ovos de Páscoa de chocolate embrulhados com laços coloridos foram escondidos no resto do prédio. De acordo com Buddinger, havia pelo menos uma criança presente para cada um desses ovos. Elas corriam rindo e saltitando e gritando pela siderúrgica silenciosa de domingo, encontrando ovos debaixo de enormes tonéis, dentro de gavetas da escrivaninha do supervisor, equilibrados entre dentes enferrujados de rodas dentadas, dentro de formas no terceiro andar (nas fotos velhas, essas formas pareciam formas de cupcake da cozinha de algum gigante). Três gerações da família Kitchener estavam lá para ver a confusão alegre e para dar prêmios no final da busca, que ia acontecer às 16h, independentemente de todos os ovos terem sido encontrados. O final acabou acontecendo 45 minutos antes, às 15h15. Foi nessa hora que a siderúrgica explodiu. Setenta e duas pessoas foram retiradas mortas dos escombros antes de o sol se pôr. A contagem final foi de 102. Oitenta e oito dos mortos eram crianças. Na quarta-feira seguinte, enquanto a cidade ainda estava em contemplação perplexa da tragédia, uma mulher encontrou a cabeça de Robert Dohay, de 9 anos, presa nos galhos da macieira que tinha no quintal. Havia chocolate nos dentes de Dohay e sangue no cabelo. Ele foi o último dos mortos encontrados. Oito crianças e um adulto nunca foram encontrados. Foi a pior tragédia na história de Derry, pior até do que o incêndio no Black Spot em 1930, e nunca foi explicada. Todas as quatro caldeiras da siderúrgica estavam fechadas. Não só desligadas, mas fechadas.
Mas:
A taxa de assassinatos em Derry é seis vezes a de qualquer outra cidade de tamanho comparável na Nova Inglaterra. Tive tanta dificuldade em acreditar nas conclusões experimentais a que cheguei sobre esse assunto que passei meus números para um dos hackers do ensino médio, que passa o resto do tempo, quando não está em frente ao Commodore, aqui na biblioteca. Ele deu vários passos a mais (basta cutucar um hacker para encontrar um desempenho além das expectativas) ao acrescentar mais uma dezena de pequenas cidades ao que ele chamou de “conjunção estatística” e me mostrar um gráfico de barras gerado por computador em que Derry se destaca como uma maçã podre. “As pessoas devem estourar à toa aqui, sr. Hanlon” foi seu único comentário. Eu não respondi. Se tivesse respondido, talvez tivesse dito a ele que alguma coisa em Derry estourava à toa, de qualquer modo.
Aqui em Derry, crianças desaparecem sem explicação e sem serem encontradas em uma taxa de quarenta a sessenta por ano. A maior parte é de adolescentes. As pessoas supõem que eles fugiram. Acho que alguns até fogem mesmo.
E durante o que Albert Carson sem dúvida teria chamado de época do ciclo, a taxa de desaparecimento sobe a quase se perder de vista. Em 1930, por exemplo, o ano do incêndio do Black Spot, houve mais de 170 desaparecimentos de crianças em Derry. E você precisa lembrar que esses são apenas os desaparecimentos relatados à polícia e, por isso, documentados. Não há nada de surpreendente nisso, me contou o atual chefe de Polícia quando mostrei a estatística a ele. Foi a Depressão. A maior parte deve ter se cansado de comer sopa de batata ou passar fome em casa e decidiu sair por aí em busca de coisa melhor.
Em 1958, 127 crianças entre as idades de 3 a 19 anos foram registradas como desaparecidas em Derry. Houve uma Depressão em 1958?, eu perguntei ao chefe Rademacher. Não, disse ele. Mas as pessoas se mudam muito, Hanlon. Crianças em particular ficam com pés inquietos. Brigam com os pais por terem chegado tarde depois de um encontro e bum, vão embora.
Mostrei ao chefe Rademacher a foto de Chad Lowe que apareceu no Derry News em abril de 1958. Você acha que esse fugiu depois de uma briga com os pais por ter chegado tarde, chefe Rademacher? Ele tinha 3 anos e meio quando sumiu de vista.
Rademacher me lançou um olhar azedo e me disse que tinha sido ótimo conversar comigo, mas se não havia mais nada, ele estava ocupado. Fui embora.
Assombrada, assombrosa, assombrar.
Visitada com frequência por fantasmas ou espíritos, como nos canos debaixo da pia; aparecer ou ressurgir com frequência, como a cada 25, 26 ou 27 anos; um local de alimentação para animais, como nos casos de George Denbrough, Adrian Mellon, Betty Ripsom, a garota Albrecht, o garoto Johnson.
Um local de alimentação para animais. Sim, é essa que me assombra.
Se alguma outra coisa acontecer, qualquer coisa, vou fazer as ligações. Vou ter que fazer. Enquanto isso, tenho minhas suposições, minhas inquietações e minhas lembranças, minhas malditas lembranças. Ah, e mais uma coisa: eu tenho este caderno, não é? O muro onde faço minhas lamentações. E aqui estou sentado, com a mão tremendo tanto que mal consigo usar para escrever, aqui estou sentado na biblioteca deserta depois do fechamento, ouvindo sons leves nas áreas escuras, observando sombras criadas pelas lâmpadas amarelas e fracas para ter certeza de que não se movem... não mudam.
Aqui estou sentado ao lado do telefone.
Coloco a mão livre sobre ele... deixo deslizar... toco nos buracos no disco que poderiam me botar em contato com todos eles, meus velhos amigos.
Fomos fundo juntos.
Fomos até as trevas juntos.
Será que sairíamos das trevas se fôssemos uma segunda vez?
Acho que não.
Por favor, Deus, que eu não precise ligar para eles.
Por favor, Deus.
JUNHO DE 1958
Ben Hanscom sofre uma queda
Por volta das 23h45, uma das comissárias servindo a primeira classe do voo de Omaha até Chicago, o voo 41 da United Airlines, leva um enorme susto. Ela pensa por poucos momentos que o homem na poltrona 1-A morreu.
Quando ele entrou no avião em Omaha, ela pensou: “Ah, lá vem problema. Ele está bêbado como um gambá.” O fedor de uísque ao redor da cabeça dele lembrou-a por um momento da nuvem de poeira que sempre envolve o garotinho sujo da tira do Snoopy. Pig Pen era o nome dele. Ela ficou nervosa com o primeiro serviço, que era de bebidas. Tinha certeza de que ele pediria um drinque, provavelmente duplo. Ela teria então que decidir se iria servi-lo ou não. Além do mais, para acrescentar à diversão, há tempestades por toda a rota daquela noite, e ela tem certeza de que em algum ponto o homem, um cara magro vestido de jeans e camisa de cambraia, começaria a vomitar.
Mas quando chegou o primeiro serviço, o homem alto não pediu nada além de água com gás, da forma mais educada que se poderia querer. Sua luz de serviço não foi acesa, e logo a comissária se esquece dele, porque o voo é bem movimentado. Na verdade, o voo é do tipo que você quer esquecer assim que acaba, um daqueles durante os quais você poderia, se tivesse tempo, questionar a possibilidade da sua própria sobrevivência.
O voo 41 da United ziguezagueia entre as terríveis bolsas de trovões e relâmpagos como um bom esquiador descendo a pista. O ar está muito agitado. Os passageiros exclamam e fazem piadas desconfortáveis sobre os relâmpagos que conseguem ver piscando nos grossos pilares de nuvens ao redor do avião.
— Mamãe, Deus está tirando fotos dos anjos? — pergunta um garotinho, e a mãe, que está um tanto verde, dá uma risada trêmula. O primeiro serviço acaba sendo o único serviço no voo 41 daquela noite. O sinal de apertar os cintos é aceso 20 minutos depois da decolagem e permanece aceso. Mesmo assim, as comissárias ficam nos corredores, atendendo luzes de chamada que se acendem como fileiras de fogos de artifício da alta sociedade.
— O Raul está ocupado hoje — diz a chefe de cabine para ela ao se encontrarem no corredor; a chefe de cabine está voltando para um turista com um suprimento novo de sacos de vômito. É meio código e meio piada. O Raul sempre está ocupado em voos turbulentos. O avião despenca um pouco, alguém grita baixinho, a comissária se vira um pouco, apoia a mão para se equilibrar e olha diretamente para os olhos vidrados e cegos do homem na poltrona 1-A.
Ah meu bom Deus, ele está morto, pensa ela. O álcool antes de ele embarcar... depois, a turbulência... o coração... morreu de medo.
Os olhos do homem magro estão nela, mas não a estão vendo. Não se movem. Estão perfeitamente vidrados. São os olhos de um homem morto.
A comissária se afasta daquele olhar terrível com o coração batendo na garganta em disparada, perguntando-se o que fazer, como proceder e agradecendo a Deus por pelo menos não haver ninguém sentado ao lado do homem para talvez gritar e iniciar uma onda de pânico. Ela decide que vai ter que notificar primeiro a chefe de cabine e depois a tripulação masculina na frente. Talvez possam enrolar um cobertor nele e fechar os olhos. O piloto vai manter as luzes de apertar cintos acesas mesmo que o ar fique estável para que ninguém vá até a frente usar o banheiro, e quando os outros passageiros desembarcarem, vão pensar que ele está apenas dormindo...
Esses pensamentos passam pela mente dela rapidamente, e ela se vira para dar uma olhada de confirmação. Os olhos mortos e sem visão se fixam nos dela... e então o cadáver pega o copo de água com gás e toma um gole.
Naquele momento, o avião treme de novo, se inclina, e o gritinho de surpresa da comissária se perde entre outros gritos de medo mais intensos. Os olhos do homem se movem; não muito, mas o bastante para ela entender que ele está vivo e a vê. E ela pensa: Nossa, quando ele entrou, eu pensei que ele tinha 50 e poucos anos, mas ele não chega nem perto dessa idade, apesar do cabelo grisalho.
Ela vai até ele, apesar de conseguir ouvir o apito impaciente das campainhas atrás (o Raul está mesmo ocupado esta noite; depois do pouso perfeitamente seguro no aeroporto O’Hare trinta minutos depois, as comissárias vão jogar fora setenta sacos de vômito).
— Tudo bem, senhor? — pergunta ela, sorrindo. O sorriso parece falso, irreal.
— Tudo está ótimo e tranquilo — diz o homem magro. Ela olha para o pedaço do cartão de embarque da primeira classe preso no espaço nas costas do assento dele e vê que o nome é Hanscom. — Ótimo e tranquilo. Mas está meio turbulento hoje, não está? Você está muito ocupada, eu acho. Não se preocupe comigo. Eu... — Ele dá um sorriso fraco, um sorriso que a faz pensar em espantalhos se balançando ao vento em campos mortos de novembro. — Estou ótimo e tranquilo.
— Você parecia
(morto)
um pouco indisposto.
— Eu estava pensando em antigamente — diz ele. — Só percebi no começo desta noite que havia coisas como antigamente, pelo menos no que diz respeito a mim mesmo.
Mais campainhas tocam.
— Com licença, comissária? — chama alguém com voz nervosa.
— Se você tem certeza de que está bem...
— Eu estava pensando sobre uma represa que construí com alguns amigos — diz Ben Hanscom. — Os primeiros amigos que tive, eu acho. Eles estavam construindo a represa quando eu... — Ele para, parece assustado e ri. É uma risada honesta, quase a risada despreocupada de um garoto, e soa muito estranha neste avião sacolejante e trêmulo. — Quando esbarrei neles. E isso é quase literalmente o que fiz. De qualquer modo, eles estavam fazendo a maior confusão com a represa. Eu me lembro disso.
— Comissária?
— Com licença, senhor... Preciso continuar a atender os chamados.
— É claro.
Ela se afasta rapidamente, feliz por se livrar daquele olhar, daquele olhar morto e quase hipnótico.
Ben Hanscom vira a cabeça para a janela e olha para fora. Relâmpagos piscam dentro de enormes nuvens escuras a 15 quilômetros da asa de estibordo. Nos brilhos de luz, as nuvens parecem enormes cérebros transparentes cheios de pensamentos ruins.
Ele tateia o bolso do colete, mas os dólares de prata não estão mais lá. Saíram de seu bolso e foram para o de Ricky Lee. De repente, ele deseja ter guardado pelo menos um. Poderia ser útil. É claro que era possível ir a qualquer banco, pelo menos quando você não estava sacolejando a 8 mil metros de altura, e conseguir um punhado de dólares de prata, mas não se podia fazer nada com as terríveis rodelas de cobre que o governo tentava fazer passar por moedas de verdade atualmente. E para lobisomens e vampiros e todas as coisas que se contorcem à luz das estrelas, era prata que você queria; prata de verdade. Era preciso prata para deter um monstro. Era preciso...
Ele fechou os olhos. O ar ao redor estava cheio de campainhas. O avião balançava e tremia e o ar estava cheio de campainhas. Campainhas?
Não... sinos.
Eram sinos, era o sino, o sino de todos os sinos, o que você esperava o ano todo quando a novidade da volta às aulas passava, e isso sempre acontecia no final da primeira semana. O sino, o que sinalizava a liberdade de novo, a apoteose de todos os sinos de escola.
Ben Hanscom está sentado no assento de primeira classe, suspenso entre trovões a 8 mil metros de altura, com o rosto virado para a janela, e sente a parede do tempo ficar fina de repente; algum peristaltismo terrível/maravilhoso começou a acontecer. Ele pensa: Meu Deus, estou sendo digerido pelo meu próprio passado.
Os relâmpagos brilham irregularmente pelo rosto dele, e apesar de ele não saber, o dia acabou de virar. O dia 28 de maio de 1985 se tornou o dia 29 de maio sobre a paisagem escura e tempestuosa que é o oeste de Illinois esta noite; fazendeiros com dores nas costas do trabalho de plantio dormem como cadáveres abaixo e sonham seus sonhos inquietos, e quem sabe o que pode estar se movendo nos celeiros, porões e campos enquanto os relâmpagos caminham e os trovões falam? Ninguém sabe essas coisas; as pessoas só sabem que há poder solto na noite, e o ar está louco com os muitos volts da tempestade.
Mas são sinos a 8 mil metros quando o avião entra em área limpa de novo, quando o movimento se firma de novo; são sinos; é o sino enquanto Ben Hanscom dorme; e enquanto ele dorme, o muro entre o passado e o presente desaparece completamente e ele cai para trás pelos anos como um homem caindo em um poço fundo; o Viajante do Tempo de Wells, talvez, caindo com um degrau quebrado de ferro em uma das mãos na terra dos Morlocks, onde máquinas funcionam sem parar nos túneis da noite. É 1981, 1977, 1969; e de repente aqui está ele, aqui em junho de 1958; a luz intensa do verão está em todos os lados e atrás de pálpebras adormecidas, as pupilas de Ben Hanscom se contraem sob o comando do cérebro adormecido, que não vê a escuridão que domina o oeste do Illinois, mas a luz intensa do sol de um dia de junho em Derry, Maine, 27 anos atrás.
O som do sino se espalhou pelos corredores da Escola Derry, um grande prédio de tijolos na rua Jackson, e ao som dele as crianças da turma de quinto ano de Ben Hanscom deram um grito espontâneo, e a sra. Douglas, normalmente a professora das mais rígidas, não fez esforço nenhum para calá-las. Talvez soubesse que seria impossível.
— Crianças! — gritou ela quando a comemoração morreu. — Posso ter sua atenção por um momento final?
Agora uma barulheira de falas excitadas, misturada com alguns gemidos, surgiu na sala de aula. A sra. Douglas estava com os boletins de todos na mão.
— Espero que eu passe! — disse Sally Mueller em um trinado para Bev Marsh, que se sentava na fileira ao lado. Sally era inteligente, bonita, vivaz. Bev também era bonita, mas não havia nada de vivaz nela naquela tarde, sendo ou não o último dia de aula. Ela estava sentada olhando com mau humor para os mocassins. Havia um hematoma amarelo em uma das bochechas dela.
— Não ligo merda nenhuma se passei ou não — disse Bev.
Sally torceu o nariz. Damas não usam essa linguagem, dizia o gesto. Ela então se virou para Greta Bowie. Devia ser apenas a empolgação do sino que sinalizava o fim de outro ano letivo que fez Sally escorregar e falar com Beverly, pensou Ben. Sally Mueller e Greta Bowie vinham de famílias ricas com casas na West Broadway, enquanto Bev vinha de um dos prédios pobres na rua Lower Main. A rua Lower Main e a West Broadway eram separadas por apenas 2,5 quilômetros, mas até uma criança como Ben sabia que a verdadeira distância era como a distância entre a Terra e Plutão. Tudo que você precisava fazer era olhar para o suéter barato de Beverly Marsh, para a saia grande demais que provavelmente veio da caixa de doações do Exército da Salvação e para os mocassins surrados para saber o quanto uma estava distante da outra. Mas Ben ainda gostava mais de Beverly, muito mais. Sally e Greta tinham roupas bonitas, e ele achava que elas deviam fazer permanente ou ondulações no cabelo ou alguma coisa assim todos os meses, mas achava que isso não mudava os fatos básicos em nada. Elas podiam fazer permanente no cabelo todos os dias e ainda seriam duas arrogantes convencidas.
Ele achava Beverly mais legal... e muito mais bonita, apesar de jamais em um milhão de anos ousar dizer uma coisa dessas para ela. Mas às vezes, no coração do inverno, quando a luz lá fora ficava amarelada e sonolenta como um gato encolhido em um sofá, quando a sra. Douglas estava falando tediosamente sobre matemática (como fazer divisões mais longas ou como encontrar o denominador comum de duas frações para poder adicioná-las) ou lendo as perguntas do livro Shining Bridges ou falando sobre depósitos de metais no Paraguai, naqueles dias em que parecia que a escola não ia terminar nunca e não importava se terminaria porque o mundo todo lá fora era lama pura... nesses dias, Ben às vezes olhava de lado para Beverly, observava furtivamente o rosto dela, e seu coração doía desesperadamente e de alguma forma brilhava com mais intensidade ao mesmo tempo. Ele achava que gostava dela, ou estava apaixonado por ela, e por isso ele sempre pensava em Beverly quando os Penguins cantavam no rádio “Earth Angel”: “minha querida amada/amo você o tempo todo...” Sim, era idiotice mesmo, melado como um lenço de papel usado, mas também não tinha problema, porque ele nunca ia falar nada. Ele achava que garotos gordos só podiam amar garotas bonitas por dentro. Se contasse para alguém o que sentia (não que ele tivesse para quem contar), essa pessoa provavelmente riria até ter um ataque cardíaco. E se ele algum dia contasse para Beverly, ela riria (ruim) ou faria sons de ânsia de vômito (pior).
— Agora levante-se assim que eu chamar seu nome. Paul Anderson... Carla Bordeaux... Greta Bowie... Calvin Clark... Cissy Clark...
Enquanto ela chamava os nomes, os alunos da turma de quinto ano da sra. Douglas foram para a frente um a um (exceto os gêmeos Clark, que foram juntos como sempre, de mãos dadas, indistinguíveis se não fosse pelo fato de ela usar vestido e ele usar calça jeans), pegaram os boletins amarelos com a bandeira americana e o Juramento de Lealdade na frente e o Pai Nosso atrás, saíram andando serenamente da sala de aula... e saíram correndo pelo corredor para onde as grandes portas da frente tinham sido abertas. E então eles simplesmente saíram correndo para o verão e sumiram: alguns de bicicleta, alguns saltitando, alguns cavalgando em cavalos invisíveis e batendo as mãos nas coxas para imitar o som dos cascos, alguns abraçando colegas e cantando “Meus olhos viram a glória do incêndio da escola” na melodia de “The Battle Hymn of the Republic”.
— Marcia Fadden... Frank Frick... Ben Hanscom...
Ele se levantou, lançou um último olhar a Beverly Marsh antes do verão (ou era o que ele pensava) e foi até a mesa da sra. Douglas, um garoto de 11 anos com um traseiro do tamanho do Novo México, traseiro esse aprisionado em uma calça jeans azul nova com rebites de cobre que reluziam e fazia whssht-whssht-whssht enquanto suas coxas grandes se roçavam. Seus quadris tinham um balanço feminino. A barriga deslizava de um lado para o outro. Ele estava usando um moletom largo apesar de o dia estar quente. Quase sempre usava moletons largos porque morria de vergonha do peito desde o primeiro dia de aula depois das férias de Natal, quando ele usou uma das novas camisas da Liga Universitária que sua mãe lhe deu e Arroto Huggins, que era do sexto ano, gritou: “Ei, pessoal! Olha o que Papai Noel trouxe pra Ben Hanscom de Natal! Um par grande de peitinhos!” Arroto quase caiu no chão de tanto rir da própria piada. Outros também riram, e algumas eram garotas. Se um buraco levando ao mundo subterrâneo se abrisse na frente dele naquele momento, Ben teria pulado sem nem emitir nenhum som... ou talvez o mais leve murmúrio de gratidão.
Desde aquele dia, ele usava moletons. Tinha quatro: o marrom largo, o verde largo e dois azuis largos. Era uma das poucas coisas que ele conseguiu impor à mãe, um dos poucos limites que sentiu necessidade ao longo da infância complacente de desenhar na areia. Se ele tivesse visto Beverly Marsh rindo com o resto naquele dia, ele achava que teria morrido.
— Foi um prazer ter você como aluno este ano, Benjamin — disse a sra. Douglas ao entregar o boletim a ele.
— Obrigado, sra. Douglas.
Um falsete debochado surgiu de algum lugar no fundo da sala:
— Brigadu, sinhora Dôglis.
Era Henry Bowers, é claro. Henry estava na turma de quinto ano de Ben em vez de no sexto ano com os amigos Arroto Huggins e Victor Criss porque repetiu o ano anterior. Ben achava que Bowers ia repetir mais uma vez. O nome dele não foi chamado quando a sra. Douglas entregou os boletins, e isso significava problema. Ben estava incomodado com isso, porque se Henry repetisse de novo, o próprio Ben seria parcialmente responsável... e Henry sabia.
Nas provas finais do ano letivo na semana anterior, a sra. Douglas os colocou sentados de maneira aleatória ao tirar os nomes de um chapéu sobre a mesa. Ben acabou sentado ao lado de Henry Bowers na última fileira. Como sempre, Ben curvou o braço ao redor da folha de papel e se inclinou para bem perto dela, sentindo a pressão um tanto reconfortante da barriga na mesa, lambendo o lápis de tempos em tempos em busca de inspiração.
Na metade da prova de terça-feira, que por acaso era de matemática, um sussurro chegou a Ben pelo corredor divisório. Era baixo, discreto e eficiente como o sussurro de um golpista veterano passando uma mensagem no pátio de exercícios de uma prisão:
— Me deixa copiar.
Ben olhou para a esquerda, diretamente para os olhos pretos e furiosos de Henry Bowers. Henry era um garoto grande mesmo aos 12 anos. Seus braços e pernas eram grossos de músculos desenvolvidos no trabalho na fazenda. O pai dele, que tinha fama de louco, possuía um lote no final da rua Kansas, perto da fronteira municipal com Newport, e Henry trabalhava pelo menos trinta horas por semana capinando, arrancando ervas daninhas, plantando, retirando pedras da terra, cortando madeira e colhendo se houvesse alguma coisa para colher.
O cabelo de Henry era cortado com uma área achatada em cima e tão curto que o branco do couro cabeludo aparecia. Passava cera Butch na frente com um tubo que sempre carregava no bolso da frente da calça jeans, e como resultado, o cabelo acima da testa parecia os dentes de um cortador de grama. Um odor de suor e chiclete Juicy Fruit sempre o envolvia. Ele usava uma jaqueta rosa de motoqueiro com uma águia nas costas para ir à escola. Uma vez, um aluno do quarto ano foi tolo o bastante para rir daquela jaqueta. Henry partiu para cima do moleque com a flexibilidade de uma doninha e a rapidez de uma cobra, e socou o moleque com o punho sujo pelo trabalho. O garoto perdeu três dentes da frente. Henry ganhou duas semanas de suspensão da escola. Ben esperava, com a esperança não direcionada, mas ardente dos oprimidos e aterrorizados, que Henry fosse expulso em vez de suspenso. Mas a sorte não estava do lado dele. O pão sempre cai com o lado da manteiga virado para baixo. Quando a suspensão acabou, Henry voltou com seu andar gingado para o pátio da escola, resplandecente e irado com sua jaqueta rosa, com o cabelo com tanta cera que parecia gritar no crânio dele. Os dois olhos estavam inchados e com traços de cor da surra que o pai doido deu nele por “brigar no pátio”. As marcas da surra acabaram sumindo; para os garotos que coexistiam com Henry em Derry, a lição não foi esquecida. Até onde Ben sabia, ninguém disse nada sobre a jaqueta rosa com a águia nas costas depois disso.
Quando ele sussurrou com irritação para Ben deixá-lo copiar, três pensamentos dispararam pela mente de Ben, que era tão ágil e rápida quanto seu corpo era obeso, em um espaço de segundos. O primeiro foi que se a sra. Douglas pegasse Henry colando as respostas da prova dele, os dois tirariam zero. O segundo foi que se ele não deixasse Henry copiar, Henry certamente o pegaria depois da aula e daria a famosa surra nele, provavelmente com Huggins segurando um de seus braços e Criss segurando o outro.
Esses foram pensamentos de uma criança, e não havia nada de surpreendente nisso, porque ele era uma criança. Mas o terceiro e último pensamento foi mais sofisticado, quase adulto.
Ele pode mesmo me pegar. Mas talvez eu consiga ficar longe do caminho dele na última semana de aula. Tenho quase certeza de que consigo se tentar de verdade. E ele vai esquecer durante o verão, eu acho. É. Ele é bem burro. Se ele não passar nessa prova, vai repetir de ano de novo. E se ele repetir, vou passar na frente dele. Não vou mais ficar na mesma sala que ele... Vou chegar no segundo segmento do fundamental antes dele. Eu... eu talvez fique livre.
— Me deixa copiar — sussurrou Henry de novo. Seus olhos pretos agora estavam brilhando, exigentes.
Ben balançou a cabeça e curvou o braço ainda mais ao redor da prova.
— Vou te pegar, gordo — sussurrou Henry um pouco mais alto agora. A prova dele até o momento estava completamente em branco exceto pelo nome. Ele estava desesperado. Se não passasse nas provas e repetisse de ano, o pai daria uma surra nele. — Me deixa copiar senão te pego de porrada.
Ben balançou a cabeça de novo, e a papada tremeu. Ele estava com medo, mas também estava determinado. Deu-se conta de que, pela primeira vez na vida, tinha conscientemente se comprometido a uma linha de ação, e isso também deu medo nele, apesar de ele não saber exatamente por quê. Anos se passariam até ele perceber que foi o sangue-frio de seus cálculos, a contagem cuidadosa e pragmática do custo, com suas intimações de uma maturidade repentina, que o assustou mais ainda do que Henry. De Henry ele poderia conseguir fugir. A idade adulta, onde ele provavelmente pensaria assim quase o tempo todo, acabaria por pegá-lo no final.
— Alguém está falando aí atrás? — disse a sra. Douglas claramente. — Se sim, quero que pare agora mesmo.
O silêncio prevaleceu pelos dez minutos seguintes; jovens cabeças permaneceram abaixadas e concentradas em provas com cheiro de tinta roxa de mimeógrafo, mas logo o sussurro de Henry cruzou o corredor de novo, suave, quase inaudível, apavorante na calma certeza da promessa:
— Você está morto, gordo.
Ben pegou o boletim e fugiu, grato a quaisquer deuses que existam para garotos gordos de 11 anos por Henry não ter, devido à ordem alfabética, tido permissão de fugir da sala primeiro para poder esperar por Ben lá fora.
Ele não correu pelo corredor como as outras crianças. Era capaz de correr, e bem rápido para um garoto do tamanho dele, mas estava muito ciente do quanto ficava engraçado quando corria. Mas ele andou rápido e saiu do corredor frio com cheiro de livros no sol intenso de junho. Ficou com o rosto virado para o sol por um momento, grato pelo calor e pela liberdade. Setembro estava a milhões de anos. O calendário podia dizer uma coisa diferente, mas o que o calendário dizia era mentira. O verão seria bem mais longo do que a soma dos seus dias, e pertencia a ele. Ele se sentia tão alto quanto a Torre de Água e tão amplo quanto a cidade toda.
Alguém esbarrou nele, e esbarrou com força. Pensamentos agradáveis do verão à frente foram arrancados da mente de Ben enquanto ele cambaleava loucamente em busca de equilíbrio na beirada da escada de pedra. Ele segurou o corrimão de ferro bem na hora de se salvar de uma queda horrível.
— Sai do meu caminho, pudim de banha. — Era Victor Criss, com o cabelo penteado para trás em uma imitação de Elvis que cintilava de tanta brilhantina. Ele desceu os degraus e seguiu o muro até o portão da frente com as mãos nos bolsos da calça jeans, colarinho da camisa levantado e a placa de metal nas solas das botas arrastadas e fazendo barulho.
Ben, ainda com o coração batendo rapidamente do susto, viu que Arroto Huggins estava do outro lado da rua fumando uma guimba de cigarro. Ele levantou uma das mãos e passou o cigarro para Victor quando ele chegou. Victor tragou, devolveu para Arroto e apontou para onde Ben estava, agora na metade da escada. Ele disse alguma coisa e os dois se separaram. O rosto de Ben ficou quente. Eles sempre pegam você. Era coisa do destino.
— Você gosta tanto daqui que vai ficar aqui o dia todo? — disse uma voz atrás do cotovelo dele.
Ben se virou e seu rosto ficou ainda mais quente. Era Beverly Marsh, com o cabelo ruivo como uma nuvem deslumbrante ao redor da cabeça e sobre os ombros, os olhos de um adorável verde-acinzentado. O suéter dela, puxado até os cotovelos, estava puído no pescoço e era quase tão largo quanto o moletom de Ben. Grande demais para dar para perceber se os peitos estavam despontando, mas Ben não se importava; quando o amor chega antes da puberdade, ele pode vir em ondas tão claras e poderosas que ninguém consegue ir contra seu simples imperativo, e Ben não fez esforço nenhum para isso agora. Ele apenas cedeu. Sentiu-se tolo e exaltado ao mesmo tempo, e mais constrangido do que em qualquer momento da vida... mas indubitavelmente abençoado. Essas emoções desesperadoras se misturaram de forma tão estonteante que ele ficou se sentindo enjoado e eufórico ao mesmo tempo.
— Não — disse ele com voz rouca. — Não mesmo. — Um sorriso largo se espalhou em seu rosto. Ele sabia o quanto devia parecer idiota, mas não conseguia fazê-lo sumir.
— Ah, que bom. Porque estamos de férias, sabe. Graças a Deus.
— Boas... — A voz saiu rouca de novo. Ele precisou limpar a garganta, e ficou ainda mais vermelho. — Boas férias, Beverly.
— Pra você também, Ben. Te vejo ano que vem.
Ela desceu a escada rapidamente, e Ben viu tudo com seu olhar apaixonado: o xadrez intenso da saia, o balanço do cabelo ruivo nas costas do suéter, a pele clara, um pequeno corte cicatrizado atrás de uma das panturrilhas e (por algum motivo essa última coisa fez outra onda de sentimento tomar conta dele com tanta força que ele precisou se segurar no corrimão de novo; o sentimento foi enorme, inarticulado, felizmente breve; talvez um pré-sinal sexual, sem significado para o corpo dele, onde as glândulas endócrinas ainda estavam adormecidas quase sem sonhar, mas ao mesmo tempo intensas como relâmpagos de verão) uma tornozeleira dourada cintilante que ela usava acima do mocassim direito, que brilhava no sol em pequenos flashes.
Um som, algum tipo de som, saiu da garganta dele. Ele desceu a escada como um homem idoso e febril e ficou parado embaixo, observando até ela virar à esquerda e desaparecer atrás da cerca viva alta que separava o pátio da escola da calçada.
Ele só ficou ali por um momento e então, enquanto as crianças ainda saíam em grupos gritando e correndo, lembrou-se de Henry Bowers e contornou correndo o prédio. Atravessou o parquinho das crianças pequenas, passando os dedos pelas correntes dos balanços para fazê-los tilintar e pisando nas tábuas das gangorras. Saiu por um portão bem menor que levava à rua Charter e seguiu para a esquerda sem nunca olhar para trás, para a pilha de pedras em que tinha passado a maior parte dos dias de semana nos últimos nove meses. Enfiou o boletim no bolso de trás e começou a assobiar. Estava usando um par de tênis Keds, mas até onde ele percebeu, as solas não tocaram a calçada por umas oito quadras.
A aula terminou pouco depois de meio-dia; sua mãe só chegaria em casa às seis, pelo menos, porque às sextas ela ia direto para o Shop ’n Save depois do trabalho. O resto do dia era dele.
Ele foi até o Parque McCarron por um tempo e se sentou debaixo de uma árvore, sem fazer nada além de ocasionalmente sussurrar “Eu amo Beverly Marsh” bem baixinho, sentindo-se mais tonto e romântico a cada vez que falava. Em determinado ponto, quando um grupo de garotos chegou ao parque e começou a escolher times para um jogo de beisebol, ele sussurrou as palavras “Beverly Hanscom” duas vezes, e então teve que encostar o rosto na grama até esfriar as bochechas quentes.
Pouco depois disso, ele se levantou e seguiu pelo parque até a avenida Costello. Uma caminhada de mais cinco quadras o levaria à Biblioteca Pública, que ele achava que era seu destino o tempo todo. Estava quase fora do parque quando um aluno do sexto ano chamado Peter Gordon o viu e gritou:
— Ei, peitinhos! Quer jogar? Precisamos de alguém pra defesa.
Houve uma explosão de gargalhadas. Ben fugiu o mais rápido que conseguiu, encolhendo a cabeça para dentro da gola como uma tartaruga se escondendo no casco.
Ainda assim, ele se considerou com sorte, no final; em outro dia, os garotos poderiam ter ido atrás dele, talvez só para assustá-lo, talvez para fazê-lo rolar na terra e ver se ele choraria. Hoje eles estavam absortos demais em jogar e decidir as regras. Ben os deixou decidindo o que valia no primeiro jogo do verão com alegria e seguiu seu caminho.
Depois de percorrer três quadras da avenida Costello, ele viu uma coisa interessante, talvez até lucrativa, debaixo da cerca da frente de uma casa. O vidro cintilava pelo lado rasgado de um velho saco de papel. Ben empurrou o saco na calçada com o pé. Parecia que ele realmente estava com sorte. Havia quatro garrafas de cerveja e quatro garrafas grandes de refrigerante lá dentro. As grandes valiam dez centavos cada, as de cerveja valiam dois centavos. Eram 28 centavos debaixo da cerca de uma casa, só esperando que algum garoto aparecesse para pegar. Um garoto de sorte.
— Sou eu — disse Ben com alegria, sem fazer ideia do que o resto do dia guardava para ele. Ele saiu andando de novo, segurando o saco por baixo para que não rasgasse. O mercado da avenida Costello ficava a um quarteirão dali, e Ben seguiu nessa direção. Trocou as garrafas por dinheiro, e a maior parte do dinheiro por doces.
Ficou em frente à vitrine de doces apontando, feliz como sempre pelo som lento que a porta deslizante fazia quando o vendedor a empurrava no trilho, que era alinhado com rolamentos. Comprou cinco tiras de alcaçuz vermelho e cinco do preto, dez balinhas de sassafrás (duas por um centavo), uma cartela de bolinhas (com cinco em cada fileira e cinco fileiras em uma cartela, e era para comer direto do papel), um pacote de Likem Ade e um pacote de Pez para o suporte que ele tinha em casa.
Ben saiu com um pequeno saco de papel marrom cheio de doces na mão e quatro centavos no bolso da frente da calça jeans nova. Olhou para o saco de papel com toda a doçura dentro e um pensamento de repente tentou despertar,
(se continuar comendo assim, Beverly Marsh nunca vai olhar pra você)
mas era um pensamento desagradável, então ele afastou-o. Foi com facilidade; esse era um pensamento acostumado a ser expulso.
Se alguém tivesse perguntando a ele “Ben, você é solitário?”, ele teria olhado para essa pessoa com surpresa genuína. A pergunta nunca lhe ocorreu. Ele não tinha amigos, mas tinha seus livros e seus sonhos; tinha seus modelos Revell; tinha um kit enorme de Lincoln Logs e construía todo tipo de coisas com ele. Sua mãe exclamara mais de uma vez que as casas de Ben feitas de Lincoln Logs eram melhores do que algumas verdadeiras, construídas a partir de plantas. Tinha também um bom kit Erector. Estava torcendo para ganhar o Super Kit quando chegasse seu aniversário em outubro. Com ele, dava para construir um relógio que marcava as horas de verdade e um carro com movimentos. Solitário?, ele poderia ter perguntado em resposta, sinceramente sem entender. Hã? O quê?
Uma criança cega de nascença nem sabe que é cega até alguém dizer para ela. Mesmo então, ela só tem uma noção das mais acadêmicas sobre o que é a cegueira; só quem já enxergou tem uma noção verdadeira do que é ser cego. Ben Hanscom não tinha noção de ser solitário porque nunca teve nada diferente. Se a condição fosse nova ou mais restrita, ele poderia entender, mas a solidão dominava e se sobressaía na vida dele. Apenas existia, como o polegar com duas juntas ou a parte irregular nos dentes da frente, a parte irregular onde a língua tocava quando ele ficava nervoso.
Beverly era um sonho doce; as balas eram uma doce realidade. As balas eram suas amigas. Assim, ele mandou o pensamento invasor se mandar, e ele foi em silêncio, sem provocar nenhuma confusão. E entre o mercado da avenida Costello e a biblioteca, ele comeu todas as balas do saco. Pretendia mesmo guardar o Pez para quando fosse assistir TV à noite; ele gostava de colocar dentro do suporte de Pez um a um, gostava de ouvir o clique da pequena mola lá dentro, e gostava mais do que tudo de jogar as balinhas na boca uma a uma, como um garoto cometendo suicídio com açúcar. Naquela noite, ia passar Whirlybirds, com Kenneth Tobey como o destemido piloto do helicóptero, e Dragnet, onde os casos eram verdade, mas os nomes eram mudados para proteger os inocentes, e seu programa de polícia favorito de todos os tempos, Highway Patrol, com Broderick Crawford como o policial rodoviário Dan Mathews. Broderick Crawford era o herói de Ben. Broderick Crawford era rápido, Broderick Crawford era cruel, Broderick Crawford não aceitava merda de ninguém
... e o melhor de tudo era que Broderick Crawford era gordo.
Ele chegou à esquina da Costello com a rua Kansas, onde atravessou para chegar à Biblioteca Pública. Ela consistia em dois prédios: a estrutura de pedra na frente, construída com dinheiro de um barão madeireiro em 1890, e o prédio novo e baixo atrás, onde ficava a biblioteca infantil. A biblioteca adulta na frente e a infantil atrás eram ligadas por um corredor de vidro.
Perto assim do centro, a rua Kansas era de mão única, então Ben olhou apenas para um dos lados, para a direita, antes de atravessar. Se tivesse olhado para a esquerda, teria levado um terrível susto. Na sombra do grande carvalho no gramado da Casa Comunitária de Derry uma quadra depois estavam Arroto Huggins, Victor Criss e Henry Bowers.
— Vamos pegar ele, Hank. — Victor estava quase ofegante.
Henry viu o merdinha gordo atravessar a rua correndo: a barriga balançando, o cabelo lambido na parte de trás da cabeça indo para a frente e para trás como uma mola, a bunda rebolando como a de uma garota dentro da calça jeans nova. Ele estimou a distância entre os três no gramado da Casa Comunitária e Hanscom, e entre Hanscom e a segurança da biblioteca. Achava que conseguiriam chegar antes de ele entrar, mas Hanscom poderia começar a gritar. Ele não descartava que o bichinha pudesse fazer isso. Se ele gritasse, um adulto poderia interferir, e Henry não queria interferência. A puta Douglas disse para Henry que ele repetiu em inglês e matemática. Ela ia deixar que ele passasse, mas ele teria que ter aulas de recuperação durante quatro semanas no verão. Henry preferia ter repetido. Se tivesse repetido, seu pai daria uma surra nele. Com Henry na escola quatro horas por dia durante quatro semanas da temporada com mais serviço na fazenda, seu pai era capaz de bater nele umas seis vezes, talvez até mais. Só aceitava esse futuro terrível porque pretendia repassar tudo para aquele veadinho gordo naquela tarde.
Com juros.
— É, vamos — disse Arroto.
— Vamos esperar ele sair.
Eles viram Ben abrir uma das portas grandes e entrar; se sentaram, fumaram cigarros, contaram piadas de caixeiros-viajantes e esperaram que ele saísse.
Henry sabia que alguma hora ele sairia. E quando saísse, Henry faria que ele lamentasse ter nascido.
Ben amava a biblioteca.
Adorava a forma como estava sempre fresca, mesmo no dia mais quente de um verão longo e calorento; adorava o silêncio murmurante, rompido apenas por sussurros ocasionais, pela batida suave da bibliotecária carimbando livros e cartões ou por páginas sendo viradas na Sala de Periódicos, onde homens idosos ficavam lendo jornais presos em varas longas. Adorava o tipo de iluminação, que entrava na diagonal pelas janelas altas e estreitas à tarde ou formava piscinas preguiçosas a partir dos lustres baixos nas noites de inverno enquanto o vento soprava lá fora. Ele gostava do cheiro dos livros, um cheiro de especiarias, suavemente fabuloso. Às vezes, ele andava pelas estantes de livros adultos e olhava os milhares de exemplares e imaginava um mundo de vidas dentro de cada um, da mesma forma como às vezes andava pela rua no crepúsculo enevoado e vermelho de uma tarde do final de outubro, com o sol apenas uma linha laranja no horizonte, imaginando as vidas se desenrolando atrás de todas as janelas; pessoas rindo ou discutindo ou arrumando flores ou alimentando crianças ou animais ou a si mesmas enquanto viam televisão. Ele gostava do fato de que o corredor de vidro que ligava o prédio antigo à biblioteca das crianças estava sempre quente, mesmo no inverno, a não ser que os dias anteriores tivessem sido nublados; a sra. Starrett, bibliotecária principal da seção infantil, disse para ele que era por causa de uma coisa chamada efeito estufa. Ben ficou deliciado com a ideia. Anos mais tarde, ele construiria o controverso centro de comunicações da BBC em Londres, e as discussões poderiam perdurar por mil anos, e ninguém saberia (exceto o próprio Ben) que o centro de comunicações não passava do corredor de vidro da Biblioteca Pública de Derry na vertical.
Ele também gostava da biblioteca infantil, apesar de não ter nada do charme escuro que ele sentia na biblioteca velha, com os lustres e as escadarias curvas de ferro estreitas demais para duas pessoas passarem ao mesmo tempo; uma sempre tinha que recuar. A biblioteca infantil era iluminada e ensolarada, um pouco mais barulhenta apesar dos avisos dizendo VAMOS FAZER SILÊNCIO pendurados em todos os lados. A maior parte do barulho costumava vir do cantinho do Pooh, aonde as crianças pequenas iam para olhar livros de figuras. Quando Ben entrou hoje, a hora da história já tinha começado lá. A srta. Davies, a bela e jovem bibliotecária, estava lendo Os três cabritos rudes.
— Quem está passando pela minha ponte?
A srta. Davies falava com o tom baixo e arrastado do troll da história. Alguns dos pequenos cobriram a boca e riram, mas a maior parte só assistia solenemente, aceitando a voz do troll como aceitava as vozes em seus sonhos, e os olhos sérios refletiam a eterna fascinação pelo conto de fadas: será que o monstro seria vencido... ou comeria todos?
Havia pôsteres coloridos presos por todos os lados. Aqui tinha um desenho de garoto bom que escovou os dentes até a boca ficar cheia de espuma como o focinho de um cachorro louco; perto tinha um desenho de um garoto mau fumando cigarros (QUANDO EU CRESCER, QUERO FICAR MUITO DOENTE, COMO MEU PAI, estava escrito embaixo); tinha também uma foto maravilhosa de um bilhão de pequenos pontinhos de luz na escuridão. O texto abaixo dizia:
UMA IDEIA ACENDE MIL VELAS.
—Ralph Waldo Emerson
Havia convites para PARTICIPAR DA EXPERIÊNCIA ESCOTEIRA. Um pôster divulgava a ideia de que O CLUBE DE MENINAS DE HOJE CONSTRÓI AS MULHERES DE AMANHÃ. Havia listas de inscrição para jogar softball e para o Teatro Infantil da Casa Comunitária. E, é claro, um pôster convidava as crianças a ENTRAREM PARA O PROGRAMA DE LEITURA DE VERÃO. Ben era um grande fã do programa de leitura de verão. Você recebia um mapa dos Estados Unidos quando se inscrevia. Depois, a cada livro que lesse e fizesse relatório, recebia um adesivo de estado para lamber e grudar no mapa. O adesivo vinha com informações como o pássaro do estado, a flor do estado, o ano que entrou para a União e que presidentes nasceram naquele estado, se houvesse algum. Quando você conseguia colar os 48 no mapa, ganhava um livro. Era um ótimo negócio. Ben planejava fazer exatamente o que o pôster sugeria: “Não perca tempo, se inscreva hoje.”
Em meio a essa confusão colorida e agradável havia um pôster simples preso no balcão de empréstimos, sem desenhos e sem fotos bacanas, só letras pretas no papel branco, com os dizeres:
LEMBREM-SE DO TOQUE DE RECOLHER.
19H.
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE DERRY
O mero ato de olhar para ele dava arrepios em Ben. Na empolgação de pegar o boletim, a preocupação com Henry Bowers, a conversa com Beverly e o início das férias de verão, ele tinha esquecido o toque de recolher e os assassinatos.
As pessoas discutiam sobre quantos foram, mas todo mundo concordava que foram pelo menos quatro desde o último inverno; cinco se você contasse George Denbrough (muitos achavam que a morte do garotinho Denbrough devia ser alguma espécie de acidente estranho). O primeiro do qual todo mundo tinha certeza foi o de Betty Ripsom, que foi encontrada no dia seguinte ao Natal na área de construção da autoestrada na rua Outer Jackson. A garota, que tinha 13 anos, foi encontrada mutilada e congelada na lama. Isso não apareceu no jornal nem foi algo que algum adulto tenha contado a Ben. Foi apenas uma coisa que ele captou em conversas escutadas.
Cerca de três meses e meio depois, após o início da temporada de pesca de trutas, um pescador trabalhando na margem de um riacho 30 quilômetros a leste de Derry pegou com o anzol uma coisa que a princípio ele pensou ser um galho. Na verdade, era uma mão com punho e os primeiros 10 centímetros do antebraço de uma garota. O anzol se prendeu nesse troféu terrível na teia de carne entre o polegar e o indicador.
A Polícia Estadual encontrou o resto de Cheryl Lamonica no riacho a 70 metros dali, presa em uma árvore que caiu atravessada na água no inverno anterior. Foi mera sorte o corpo não ter sido levado até o Penobscot e depois até o mar nas correntes de primavera.
A garota Lamonica tinha 16 anos. Era de Derry, mas não frequentava a escola; três anos antes ela tinha dado à luz uma menina, Andrea. Ela morava com os pais e a filha.
— Cheryl era meio rebelde às vezes, mas era uma garota de bom coração — disse o pai choroso à polícia. — Andi fica perguntando “Cadê minha mamãe?”, e não sei o que dizer a ela.
A garota foi dada como desaparecida cinco semanas antes de o corpo ser encontrado. A investigação policial da morte de Cheryl Lamonica começou com uma suposição bastante lógica: que ela tinha sido assassinada por um dos namorados.Ela tinha muitos namorados. Muitos eram da base área que ficava no caminho para Bangor.
— Eram bons rapazes, a maioria — disse a mãe de Cheryl. Um dos “bons rapazes” foi um coronel de 40 anos da Força Aérea com esposa e três filhos no Novo México. Outro estava no momento cumprindo pena em Shawshank por assalto à mão armada.
Um namorado, foi o que a polícia pensou. Ou possivelmente apenas um estranho. Um maníaco sexual.
Se era um maníaco sexual, aparentemente era maníaco por garotos também. No final de abril, um professor de ensino fundamental II fazendo uma caminhada com a turma de oitavo ano viu um par de tênis vermelhos e um macacãozinho azul na boca de um aqueduto na rua Merit. Aquele lado da Merit tinha sido bloqueado com cavaletes. O asfalto tinha sido arrancado no outono anterior. A extensão da autoestrada também passaria por ali ao seguir para o norte, para Bangor.
O corpo era de Matthew Clements, de 3 anos, dado como desaparecido pelos pais no dia anterior (a foto dele estava na primeira página do Derry News, um garotinho de cabelos escuros sorrindo abertamente para a câmera, com um boné do Red Sox na cabeça). A família Clements morava na rua Kansas, do outro lado da cidade. A mãe dele, tão atordoada pela dor que parecia viver em uma redoma de vidro de pura calma, disse para a polícia que Matty estava andando de triciclo para cima e para baixo na calçada ao lado da casa, que ficava na esquina da rua Kansas e da travessa Kossuth. Ela foi colocar a roupa lavada na secadora e, quando olhou pela janela em busca de Matty, ele tinha sumido. Só havia o triciclo virado na grama entre a calçada e a rua. Uma das rodas de trás ainda estava girando preguiçosamente. Quando ela estava olhando, a roda parou.
Aquilo bastou para o chefe Borton. Ele propôs o toque de recolher de 19h em uma sessão especial da Câmara Municipal na noite seguinte, que foi adotado de forma unânime e começou a valer no dia seguinte. Crianças pequenas deviam ser vigiadas por um “adulto qualificado” o tempo todo, de acordo com a história que falava sobre o toque de recolher no News. Na escola de Ben, houve uma reunião especial um mês antes. Chefe Borton subiu no palco, prendeu os polegares no cinto e certificou as crianças de que elas não tinham o que temer desde que seguissem algumas poucas regras simples: não falar com estranhos, não aceitar carona de pessoas que não conhecessem bem, sempre lembrar que O Policial É Seu Amigo... e obedecer o toque de recolher.
Duas semanas atrás, um garoto que Ben conhecia vagamente (era da outra turma de quinto ano da Escola Derry) olhou para uma das valas na rua Neibolt e viu o que parecia ser um monte de cabelo flutuando ali. Esse garoto, que se chamava Frankie ou Freddy Ross (ou talvez Roth), estava procurando objetos com um dispositivo que ele mesmo inventou, que ele chamava de A FABULOSA VARA DE CHICLETE. Quando ele falava sobre isso, dava para perceber que pensava bem assim, em letras maiúsculas (e talvez também em neon). A FABULOSA VARA DE CHICLETE era um galho de bétula com uma bola grande de chiclete na ponta. No tempo livre, Freddy (ou Frankie) andava por Derry carregando a vara, olhando em canos de esgoto e bueiros. Às vezes ele via dinheiro, em geral moedas de um centavo, mas às vezes uma de dez ou até de 25 centavos (ele se referia a essas, por algum motivo que só ele sabia, como “monstros do cais”). Quando a moeda era vista, Frankie-ou-Freddy e A FABULOSA VARA DE CHICLETE entravam em ação. Bastava uma cutucada pela grade e a moeda estava no bolso dele.
Ben tinha ouvido boatos de Frankie-ou-Freddy e sua vara de chiclete bem antes de o garoto ficar famoso ao descobrir o corpo de Veronica Grogan.
— Ele é muito nojento — um garoto chamado Richie Tozier disse para Ben um dia durante o tempo de atividades. Tozier era um garoto magrelo que usava óculos. Ben achava que sem eles Tozier devia enxergar que nem o Mr. Magoo; os olhos ampliados dançavam atrás das lentes grossas com uma expressão de surpresa perpétua. Ele também tinha dentes da frente enormes que o fizeram ganhar o apelido de Castor Bucky. Era da mesma turma de quinto ano de Freddy-ou-Frankie. — Enfia aquela vareta dele com chiclete em esgotos o dia todo e depois mastiga o chiclete à noite.
— Nossa, que horror! — exclamou Ben.
— Issaí, amigão — disse Tozier e saiu andando.
Frankie-ou-Freddy enfiou A FABULOSA VARA DE CHICLETE para cima e para baixo da grade do bueiro por acreditar que tinha encontrado uma peruca. Ele achou que talvez pudesse secá-la e dar para a mãe de aniversário. Depois de alguns minutos empurrando e cutucando, quando estava prestes a desistir, um rosto apareceu flutuando na água turva dentro do bueiro, um rosto com folhas mortas presas nas bochechas brancas e terra nos olhos abertos.
Freddy-ou-Frankie foi correndo para casa gritando.
Veronica Grogan estava no quarto ano na escola batista da rua Neibolt, que era dirigida por pessoas que a mãe de Ben chamava de “os Cristos”. Foi enterrada no dia em que seria seu décimo aniversário.
Depois desse horror mais recente, Arlene Hanscom levou Ben para a sala uma noite e se sentou ao lado dele no sofá. Ela segurou suas mãos e olhou com atenção em seu rosto. Ben olhou para ela com um pouco de desconforto.
— Ben — disse ela —, você é bobo?
— Não, mamãe — disse Ben, sentindo mais desconforto do que nunca. Ele não fazia a menor ideia do que era aquilo. Não conseguia se lembrar de ver a mãe tão séria.
— Não — repetiu ela. — Acho que não é.
Ela ficou em silêncio por um longo momento, sem olhar para Ben, e sim pela janela com expressão pensativa. Ben pensou se ela tinha se esquecido completamente dele. Ainda era uma mulher jovem, com apenas 32 anos, mas criar um garoto sozinha deixou uma marca nela. Ela trabalhava 40 horas por semana na seção de empacotamento da indústria Stark em Newport, e depois de dias em que havia muita poeira, ela às vezes tossia tanto e por tanto tempo que Ben ficava com medo. Nessas noites, ele ficava acordado por bastante tempo, olhando pela janela ao lado da cama para a escuridão, se perguntando o que aconteceria com ele se ela morresse. Ele ficaria órfão, achava ele. Poderia se tornar um Garoto do Estado (ele achava que isso significava você ter que ir morar com fazendeiros que faziam você trabalhar do nascer ao pôr do sol), ou poderia ser mandado para o Orfanato de Bangor. Ele tentava dizer para si mesmo que era besteira se preocupar com coisas assim, mas isso não ajudava em nada. E nem era apenas consigo mesmo que ele se preocupava; se preocupava com ela também. Ela era uma mulher durona, a mãe dele, e insistia que a maioria das coisas fosse do jeito dela, mas era uma mãe boa. Ele a amava muito.
— Você sabe sobre esses assassinatos — disse ela, olhando para ele por fim.
Ele assentiu.
— A princípio, as pessoas achavam que eram... — Ela hesitou nas palavras seguintes, nunca ditas na frente do filho antes, mas as circunstâncias eram incomuns e ela se obrigou — ... crimes sexuais. Talvez fossem, e talvez não. Talvez tenham acabado, e talvez não. Ninguém pode ter certeza de mais nada, exceto que algum homem maluco que persegue crianças está por aí. Você me entende, Ben?
Ele assentiu.
— E você sabe o que quero dizer quando digo que podem ter sido crimes sexuais?
Ele não sabia, ao menos não exatamente, mas assentiu de novo. Se a mãe achasse que precisava falar com ele sobre a cegonha além dessa outra coisa, ele achava que morreria de constrangimento.
— Eu me preocupo com você, Ben. Tenho medo de não estar cuidando direito de você.
Ben se mexeu e não disse nada.
— Você fica muito tempo sozinho. Tempo demais, eu acho. Você...
— Mamãe...
— Silêncio enquanto falo com você — disse ela, e Ben fez silêncio. — Você tem que tomar cuidado, Benny. O verão está chegando, e não quero estragar suas férias, mas você tem que tomar cuidado. Quero você em casa na hora do jantar todos os dias. Que horas nós jantamos?
— Seis horas.
— Na mosca! Então ouça o que estou dizendo: se eu botar a mesa, servir seu leite e não houver Ben lavando a mão na pia, vou direto pro telefone ligar pra polícia pra relatar seu desaparecimento. Você entende isso?
— Sim, mamãe.
— E acredita que estou falando sério?
— Acredito.
— Eu provavelmente faria isso à toa, se chegasse a fazer. Sei bem como vocês meninos são. Sei que vocês se envolvem nos seus jogos e projetos durante as férias de verão, caçando abelhas, jogando bola ou chutando latas, sei lá. Tenho uma boa ideia do que você e seus amigos fazem, sabe?
Ben assentiu com seriedade, pensando que, se ela não sabia que ele não tinha amigos, provavelmente não sabia nada sobre a infância dele como achava que sabia. Mas ele jamais teria sonhado em dizer uma coisa assim para ela, nem em 10 mil anos de sonhos.
Ela tirou alguma coisa do bolso do avental e entregou a ele. Era uma pequena caixa de plástico. Ben a abriu. Quando viu o que tinha dentro, seu queixo caiu.
— Uau! — disse ele, com a admiração completamente intacta. — Obrigado!
Era um relógio Timex com pequenos números de prata e pulseira feita de imitação de couro. Ela tinha acertado e dado corda; ele conseguia ouvir o tique-taque.
— Nossa, é demais! — Ele deu um abraço entusiasmado nela e um beijo barulhento na bochecha.
Ela sorriu, feliz por ele estar feliz, e assentiu. Em seguida, ficou séria de novo.
— Coloque, fique com ele, use, dê corda, cuide dele e não perca.
— Tá.
— Agora que você tem um relógio, não tem desculpa pra chegar atrasado em casa. Lembre o que eu disse: se você não chegar na hora, a polícia vai sair te procurando a pedido meu. Pelo menos até conseguirem pegar o maldito que anda matando crianças aqui, não ouse se atrasar nem um minuto, senão pego aquele telefone.
— Sim, mamãe.
— Mais uma coisa. Não quero você andando por aí sozinho. Você sabe que não deve aceitar doces nem caronas de estranhos, nós dois concordamos que você não é bobo, e você é grande para sua idade, mas um homem adulto, principalmente se for doido, consegue pegar uma criança se quiser de verdade. Quando você for ao parque ou à biblioteca, vá com um dos seus amigos.
— Pode deixar, mamãe.
Ela olhou pela janela de novo e deu um suspiro que era só problema.
— As coisas ficam bem complicadas quando algo assim continua a acontecer. De qualquer modo, tem alguma coisa de feio nesta cidade. Sempre achei isso. — Ela olhou para ele com as sobrancelhas unidas. — Você anda tanto por aí, Ben. Deve conhecer quase todos os lugares de Derry, não é? Pelo menos a parte da cidade.
Ben achava que não conhecia nem de perto todos os lugares, mas conhecia muitos. E ficou tão empolgado com o presente inesperado que foi o Timex que teria concordado com a mãe se ela tivesse sugerido que John Wayne devia fazer o papel de Adolf Hitler em uma comédia musical sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele assentiu.
— Você nunca viu nada, viu? — perguntou ela. — Nada nem ninguém... bem, suspeito? Alguma coisa fora do comum? Alguma coisa que deu medo?
E, com o prazer causado pelo relógio, a sensação de amor por ela, a felicidade de garoto pequeno pela preocupação dela (que era ao mesmo tempo assustadora pela intensidade aberta e clara), ele quase contou a ela sobre a coisa que aconteceu em janeiro.
Ele abriu a boca, e alguma coisa, alguma intuição poderosa, o fez fechá-la de novo.
O que era aquela coisa exatamente? Intuição. Nada mais do que isso... e nada menos. Até as crianças podem de tempos em tempos intuir as responsabilidades mais complexas do amor e sentir que em alguns casos pode ser mais gentil ficar em silêncio. Esse foi parte do motivo que fez Ben fechar a boca. Mas havia também outra coisa, uma coisa não tão nobre. Ela podia ser rigorosa, sua mãe. Podia ser mandona. Ela nunca o chamava de “gordo”, chamava de “grande” (às vezes ampliado para “grande para a idade”), e quando havia sobras do jantar, ela costumava levar para ele enquanto ele assistia TV ou fazia o dever de casa, e ele comia, apesar de uma parte obscura dele se odiar por fazer isso (mas nunca a mãe por colocar a comida à sua frente — Ben Hanscom não teria ousado odiar a mãe; Deus o acertaria e mataria por um sentimento de emoção tão bruta e ingrata mesmo que por um segundo). E talvez uma parte ainda mais obscura dele (o distante Tibete dos pensamentos mais profundos de Ben) desconfiasse dos motivos dessa alimentação constante. Era apenas amor? Podia ser alguma outra coisa? Claro que não. Mas... ele se questionava. Mais precisamente, ela não sabia que ele não tinha amigos. A falta de conhecimento o fez não confiar nela, o deixou inseguro de qual seria a reação dela à história da coisa que aconteceu com ele em janeiro. Se é que alguma coisa tinha acontecido. Voltar para casa às seis e ficar em casa não era tão ruim, quem sabe. Ele podia ler, assistir TV,
(comer)
construir coisas com os brinquedos de montar. Mas ter que ficar em casa o dia todo também seria muito ruim... e se ele contasse para ela o que viu (ou pensava ter visto) em janeiro, ela podia obrigá-lo a ficar em casa.
Assim, por uma variedade de motivos, Ben omitiu a história.
— Não, mamãe — disse ele. — Só o sr. McKibbon remexendo nas lixeiras dos outros.
Isso a fez rir (ela não gostava do sr. McKibbon, que era republicano e era “um Cristo”), e a gargalhada dela encerrou o assunto. Naquela noite, Ben ficou acordado na cama até tarde, mas nenhum pensamento de ser abandonado sem mãe em um mundo difícil o perturbou. Ele se sentiu amado e seguro enquanto estava deitado na cama olhando para a luz da lua que entrava pela janela e se espalhava na cama e no chão. Ele revezava entre levar o relógio ao ouvido para poder ouvir o tique-taque e segurar perto dos olhos para poder admirar o mostrador que brilhava no escuro.
Ele acabou dormindo e sonhou que estava jogando beisebol com os outros garotos no terreno baldio atrás da transportadora dos irmãos Tracker. Tinha acabado de bater um home run, escorregou nos calcanhares e bateu em cheio na base, e seus colegas de time o receberam em grupo. Pularam nele e bateram em suas costas. Levantaram-no nos ombros e o carregaram para o lugar onde o equipamento estava espalhado. No sonho, ele estava quase estourando de orgulho e felicidade... e então ele olhou para além do centro do campo, onde uma cerca marcava o limite entre o terreno cheio de cinzas e a grama depois que descia em ladeira para o Barrens. Uma pessoa estava de pé nessas plantas emboladas e arbustos baixos, quase escondida. Estava segurando vários balões, vermelhos, amarelos, azuis, verdes, em uma mão com luva branca. Chamava-o com a outra. Ele não conseguia ver o rosto da pessoa, mas conseguia ver a roupa larga com botões grandes e laranja em forma de pompom na frente e a grande gravata-borboleta amarela.
Era um palhaço.
Issaê, amigão, concordou uma voz fantasma.
Quando Ben acordou na manhã seguinte, tinha esquecido o sonho, mas o travesseiro estava úmido... como se ele tivesse chorado à noite.
Ele foi até a recepção na biblioteca infantil e afastou a linha de pensamento que o cartaz do toque de recolher despertou com a mesma facilidade que um cachorro sacode a água do pelo depois de nadar.
— Oi, Benny — disse a sra. Starrett. Assim como a sra. Douglas da escola, ela realmente gostava de Ben. Adultos, principalmente os que às vezes precisavam chamar a atenção de crianças como parte do trabalho, costumavam gostar dele porque ele era educado, falava baixo, era atencioso e às vezes era até engraçado de uma maneira tranquila. Eram os mesmos motivos para as outras crianças o acharem um saco. — Já se cansou das férias de verão?
Ben sorriu. Era um gracejo padrão da sra. Starrett.
— Ainda não — disse ele —, já que as férias de verão só começaram — ele olhou para o relógio — há uma hora e 17 minutos. Me dê mais uma hora.
A sra. Starrett riu, cobrindo a boca para não sair alto demais. Ela perguntou a Ben se ele queria se inscrever no programa de leitura de verão, e Ben disse que sim. Ela deu a ele um mapa dos Estados Unidos, e Ben agradeceu muito.
Ele andou até as estantes, tirou um livro aqui e outro ali, olhou e colocou no lugar. Escolher livros era coisa séria. Era preciso tomar cuidado. Se você era adulto, podia pegar quantos quisesse, mas crianças só podiam pegar três de cada vez. Se você pegasse um ruim, tinha que ficar com ele.
Ele acabou escolhendo seus três: Bulldozer, O corcel negro e um que era um tiro no escuro: um livro chamado Hot Rod, de um homem chamado Henry Gregor Felsen.
— Você talvez não goste desse — comentou a sra. Starrett. — É muito sangrento. Ofereço pros adolescentes, principalmente os que tiraram habilitação, porque faz pensar. Imagino que faça com que muitos andem mais devagar uma semana inteira.
— Ah, vou dar uma olhada — disse Ben, e levou os livros até uma das mesas grandes longe do cantinho do Pooh, onde Os três cabritos rudes estavam prestes a dar trabalho para o troll debaixo da ponte.
Ele leu Hot Rod por um tempo, e não era muito ruim. Nem um pouco. Era sobre um garoto que dirigia muito bem, mas havia um policial chato que sempre ficava tentando fazê-lo ir mais devagar. Ben descobriu que não existia limite de velocidade em Iowa, onde o livro se passava. Isso era bem legal.
Ele ergueu o olhar depois de três capítulos, e um cartaz novo chamou sua atenção. O pôster no alto (a biblioteca era doida por pôsteres mesmo) mostrava um carteiro feliz entregando uma carta para um garoto feliz. BIBLIOTECAS TAMBÉM SÃO PARA ESCREVER, dizia o pôster. POR QUE NÃO ESCREVER PARA UM AMIGO HOJE? É GARANTIA DE SORRISOS!
Abaixo do pôster havia bolsos com cartões-postais selados, envelopes selados e papel de carta com um desenho da Biblioteca Pública de Derry no alto em tinta azul. Os envelopes selados custavam dez centavos cada, os cartões, três centavos. O papel custava um centavo por duas folhas.
Ben tateou o bolso. Os últimos quatro centavos do dinheiro das garrafas ainda estavam lá. Ele marcou a página em Hot Rod e voltou até a recepção.
— A senhora pode me dar um desses cartões-postais, por favor?
— Claro, Ben. — Como sempre, a sra. Starrett ficou encantada pela educação séria dele e um pouco entristecida pelo tamanho. Sua mãe teria dito que o garoto estava cavando o próprio túmulo com um garfo e uma faca. Ela deu o cartão para ele e o viu voltar para a cadeira. Era uma mesa em que seis pessoas podiam sentar, mas Ben era o único ali. Ela nunca tinha visto Ben com nenhum dos outros garotos. Era uma pena, porque ela acreditava que Ben Hanscom tinha tesouros dentro de si. Ele os entregaria para um garimpeiro gentil e paciente... se algum aparecesse um dia.
Ben pegou a caneta esferográfica, apertou atrás para liberar a ponta e endereçou o cartão com simplicidade: srta. Beverly Marsh, rua Lower Main, Derry, Maine, Zona 2. Ele não sabia o número exato do prédio dela, mas sua mãe havia lhe dito que a maior parte dos carteiros tinha uma boa ideia de quem eram os moradores depois de estarem no cargo um tempo. Se o carteiro da rua Lower Main conseguisse entregar esse cartão, seria ótimo. Se não, ele apenas iria para a sala de cartas mortas e ele perderia três centavos. Era certo que jamais voltaria para ele, porque ele não tinha intenção de colocar seu nome e endereço.
Segurando o cartão com o endereço virado para baixo (ele não ia se arriscar, apesar de não ter visto ninguém que conhecesse), ele pegou alguns pedaços quadrados de papel de rascunho na caixa de madeira ao lado das fichas. Levou até a mesa e começou a escrever, riscar e escrever de novo.
Durante a última semana de aula antes das provas, eles leram e escreveram haicais na aula de inglês. Haicai era uma forma japonesa de poesia, breve, disciplinada. A sra. Douglas disse que um haicai tinha que ter apenas 17 sílabas, nem mais, nem menos. Costumava se concentrar em apenas uma imagem clara que era ligada a uma emoção específica: tristeza, alegria, nostalgia, felicidade... amor.
Ben ficou encantado com o conceito. Ele gostava das aulas de inglês, apesar de não passar disso. Conseguia fazer as atividades, mas em geral não havia nada ali que o envolvesse. Mas havia alguma coisa no conceito de haicai que despertava a imaginação dele. A ideia o fazia sentir feliz, assim como a explicação da sra. Starrett do efeito estufa o fez feliz. Haicai era poesia boa. Ben achava isso porque era poesia estruturada. Não havia regras secretas. Dezessete sílabas, uma imagem ligada a uma emoção e pronto. Bingo. Era limpo, era utilitário, era completamente contido e dependia de suas regras. Ele até gostava da palavra em si, um declive de ar quebrado como se em uma linha pontilhada pelo som do “k” bem no fundo da boca: haicai.
O cabelo dela, pensou ele, e a viu descendo pela escada da escola de novo com o cabelo balançando nos ombros. O sol não apenas brilhou nele, mas pareceu queimar junto.
Depois de trabalhar com dedicação durante um período de vinte minutos (com uma pausa para ir buscar mais papel de rascunho), riscar palavras longas demais, mudar, excluir, Ben chegou a isto:
Cabelos de fogo
como brasas no inverno.
Meu coração queima.
Ele não adorou, mas foi o melhor que conseguiu fazer. Tinha medo de enrolar demais, se preocupar demais, e acabar ficando nervoso e fazer alguma coisa bem pior. Ou não fazer nada. Ele não queria que isso acontecesse. Aquele momento em que ela parou para falar com ele foi um momento notável para Ben. Ele queria marcá-lo na memória. Beverly devia gostar de algum garoto maior, do sexto ano ou talvez até do sétimo, e acharia que quem mandou o haicai foi esse garoto. Isso a deixaria feliz, e por isso o dia em que ela recebesse ficaria marcado na memória dela. E embora ela nunca fosse descobrir que foi Ben Hanscom quem marcou a memória dela, não tinha problema; ele saberia.
Ele copiou o poema concluído no cartão-postal (com letras bastão, como se estivesse copiando um bilhete de pedido de resgate em vez de um poema de amor), prendeu a caneta no bolso e enfiou o cartão na parte de trás de Hot Rod.
Ele se levantou e se despediu da sra. Starrett na saída.
— Tchau, Ben — disse a sra. Starrett. — Aproveite as férias, mas não se esqueça do toque de recolher.
— Não vou esquecer.
Ele andou pelo corredor de vidro entre os dois prédios, apreciando o calor ali (efeito estufa, pensou ele convencido) seguido do ar frio da biblioteca adulta. Um homem idoso estava lendo o News em uma das poltronas antigas e confortavelmente acolchoadas na alcova da Sala de Leitura. A manchete logo abaixo do cabeçalho dizia: DULLES PEDE QUE AS TROPAS AMERICANAS AJUDEM O LÍBANO SE NECESSÁRIO! Também havia uma foto de Ike apertando a mão de um árabe no Rose Garden. A mãe de Ben disse que, quando o país elegesse Hubert Humphrey como presidente em 1960, talvez as coisas voltassem a funcionar. Ben estava vagamente ciente de que existia uma coisa chamada recessão acontecendo, e a mãe tinha medo de ser demitida.
Uma manchete menor na metade de baixo da página um dizia: CAÇADA POLICIAL A PSICOPATA CONTINUA.
Ben abriu a porta grande da biblioteca e saiu.
Havia uma caixa de correio na calçada. Ben pegou o cartão-postal dentro do livro e o colocou lá dentro. Sentiu seu coração disparar um pouco quando deslizou de seus dedos. E se ela de alguma forma souber que fui eu?
Não seja burro, respondeu ele, um pouco alarmado com o quanto a ideia lhe pareceu excitante.
Ele andou até a rua Kansas, sem nem prestar atenção direito na direção que estava seguindo e sem se importar. Uma fantasia tinha começado a se formar em sua mente. Nela, Beverly Marsh andava até ele, com olhos verde-acinzentados bem abertos, o cabelo ruivo preso em um rabo de cavalo. Quero te fazer uma pergunta, Ben, dizia essa garota inventada na mente dele, e você precisa jurar falar a verdade. Ela levantava o cartão-postal. Foi você quem escreveu isso?
Era uma fantasia terrível. Era uma fantasia maravilhosa. Ele queria que acabasse. Não queria que acabasse nunca. Seu rosto estava começando a esquentar de novo.
Ben seguiu andando e sonhando. Passou os livros da biblioteca de um braço para o outro e começou a assoviar. Você pode pensar que sou horrível, disse Beverly, mas acho que quero te beijar. Os lábios dela se abriram ligeiramente.
Os lábios de Ben de repente ficaram secos demais para ele conseguir assoviar.
— Acho que quero que você me beije — sussurrou ele, e deu um sorriso embriagado, tonto e simplesmente lindo.
Se ele tivesse olhado mais adiante na calçada naquele momento, teria visto que três outras sombras cresceram perto da dele; se estivesse prestando atenção, teria ouvido os sapatos de Victor quando ele, Arroto e Henry se aproximaram. Mas ele nem ouviu nem viu. Ben estava longe, sentindo os lábios de Beverly deslizarem suavemente sobre sua boca, levantando mãos tímidas para tocar o suave fogo irlandês dos cabelos dela.
Como muitas cidades grandes e pequenas, Derry não fora planejada; ela simplesmente cresceu. Urbanistas jamais a teriam colocado na posição em que ficava. O centro de Derry era um vale formado pelo rio Kenduskeag, que cortava o centro financeiro em diagonal de sudoeste para nordeste. O resto da cidade cresceu nas laterais das colinas ao redor.
O vale para o qual os colonizadores originais foram era pantanoso e cheio de vegetação. O Kenduskeag e o rio Penobscot, no qual o primeiro desembocava, eram coisas ótimas para comerciantes e péssimas para quem plantava ou construía perto demais deles, principalmente o Kenduskeag, porque transbordava a cada três ou quatro anos. A cidade ainda tinha tendências a enchentes apesar das enormes quantidades de dinheiro gastas nos últimos cinquenta anos para controlar o problema. Se as enchentes fossem causadas apenas pelo riacho, um sistema de barragens poderia ter resolvido. Mas havia outros fatores. As margens baixas do Kenduskeag eram um. O escoamento ruim de toda a área era outro. Desde a virada do século, houve muitas enchentes sérias em Derry e uma desastrosa em 1931. Para piorar, as colinas nas quais a maior parte de Derry estava construída eram repletas de pequenos riachos (o riacho Torrault, onde Cheryl Lamonica foi encontrada, era um deles). Durante períodos de chuvas fortes, eles todos tinham boa chance de transbordar. “Se chove por duas semanas, a cidade toda fica com sinusite”, disse o pai de Bill Gago uma vez.
O Kenduskeag era cercado por um canal de concreto com 3 quilômetros de extensão quando passava no meio da cidade. Esse canal passava a ser subterrâneo na interseção da rua Main com a Canal e se tornava um rio subterrâneo sob a rua Main por cerca de 800 metros, para voltar à superfície no Parque Bassey. A rua Canal, onde a maior parte dos bares de Derry se enfileirava como suspeitos da polícia, era paralela ao canal no caminho dele para fora da cidade, e em intervalos de semanas, a polícia precisava pescar o carro de algum bêbado de dentro da água, que era poluída a níveis mortais pelo esgoto e dejetos industriais. Peixes eram pegos de tempos em tempos no canal, mas eram mutantes que não podiam ser comidos.
No lado nordeste da cidade, o lado do canal, o rio tinha sido controlado ao menos um pouco. O comércio florescia ao longo dele apesar das enchentes ocasionais. As pessoas andavam ao lado do canal, às vezes de mãos dadas (se o vento estivesse na direção certa; se estivesse na direção errada, o fedor tirava o romance de uma caminhada assim), e no Parque Bassey, que ficava em frente à escola de ensino médio, do outro lado do canal, às vezes havia acampamentos de escoteiros e churrascos. Em 1969, os cidadãos ficariam chocados e enojados ao descobrir que hippies (um deles tinha costurado uma bandeira americana no fundilho da calça, e aquela bicha esquerdista foi presa antes de você conseguir terminar de falar Gene McCarthy) estavam fumando maconha e comercializando ácido lá. Em 1969, o Parque Bassey tinha se tornado uma farmácia a céu aberto. Podem esperar, diziam as pessoas. Alguém vai morrer antes que acabem com isso. E é claro que uma pessoa morreu: um garoto de 17 anos foi encontrado morto ao lado do canal, com as veias cheias de heroína quase pura, o que os jovens chamavam de trem branco. Depois disso, os drogados começaram a se afastar do Parque Bassey, e havia até histórias de que o fantasma do garoto estava assombrando a área. A história era idiota, é claro, mas se mantivesse os entorpecidos e os doidões longe de lá, era pelo menos uma história idiota útil.
No lado sudoeste da cidade, o rio apresentava mais problemas. Ali, as colinas foram deformadas pela passagem da grande geleira e mais ainda pela infinita erosão de água do Kenduskeag e seus muitos afluentes; o leito de rocha aparecia em vários pontos com ossos de dinossauros semienterrados. Funcionários veteranos do Departamento de Obras Públicas de Derry sabiam que, depois da primeira geada forte do outono, eles podiam contar com uma boa quantidade de consertos nas calçadas no lado sudoeste da cidade. O concreto se contraía e ficava quebradiço, e o leito de pedra surgia por baixo, como se a terra pretendesse chocar alguma coisa.
O que crescia melhor no solo raso que restava eram plantas com raízes curtas e natureza resistente; ervas daninhas e plantas ruins, em outras palavras: árvores feias, arbustos densos e baixos e infestações virulentas de urtiga cresciam para todos os lados que conseguiam. O sudoeste era onde o terreno descia íngreme até a área conhecida em Derry como Barrens. O Barrens, que era qualquer coisa, menos árido, como o nome sugeria, consistia em uma área confusa de cerca de 2,5 quilômetros de largura por 5 quilômetros. Era cercada pela rua Kansas de um lado e por Old Cape do outro. Old Cape era uma área de habitação de baixa renda, e o esgoto era tão ruim lá que havia histórias de privadas e canos de esgoto que realmente explodiram.
O Kenduskeag passava pelo meio do Barrens. A cidade tinha crescido no nordeste e dos dois lados dele, mas os únicos vestígios de cidade aqui embaixo eram a Estação de Esgoto nº 3 de Derry (a estação municipal de bombeamento de esgoto) e o lixão municipal. Visto do ar, o Barrens parecia uma grande adaga verde apontando para o centro da cidade.
Para Ben, toda essa geografia misturada com geologia significava uma vaga noção de que não havia mais casas do lado direito agora; o terreno tinha sumido. Um corrimão bambo pintado de branco da altura da cintura acompanhava a calçada, um gesto simbólico de proteção. Ele conseguia ouvir de leve água corrente; era a trilha sonora de sua fantasia em desenvolvimento.
Ele fez uma pausa e olhou para o Barrens, ainda imaginando os olhos e o cheiro limpo do cabelo dela.
Dali, o Kenduskeag era apenas uma série de brilhos vistos por aberturas na folhagem densa. Alguns garotos diziam que havia mosquitos do tamanho de pardais lá embaixo nessa época do ano; outros diziam que havia areia movediça quando você chegava perto do rio. Ben não acreditava na história dos mosquitos, mas a ideia da areia movediça o assustava.
Ligeiramente à esquerda, ele conseguiu ver uma nuvem de gaivotas voando e mergulhando: o lixão. Os gritos delas chegavam a ele de longe. Do outro lado, ele conseguia ver Derry Heights e os tetos baixos das casas de Old Cape mais perto do Barrens. À direita de Old Cape, apontando para o céu como um dedo branco, ficava a Torre de Água de Derry. Diretamente abaixo dela, um aqueduto enferrujado surgia da terra, derramando água sem cor pela colina como um pequeno riacho cintilante que desaparecia em meio ao emaranhado de árvores e arbustos.
A fantasia agradável de Ben com Beverly foi interrompida de repente por outra bem pior: e se uma mão morta subisse por aquele aqueduto agora, neste segundo, enquanto ele estava olhando? E se quando ele se virasse para procurar um telefone e ligar para a polícia, desse de cara com um palhaço? Um palhaço engraçado com roupa larga e botões grandes e laranja? E se...
Ben sentiu a mão de alguém no ombro e gritou.
Ele ouviu risadas. Virou-se enquanto se encolhia contra a cerca branca que separava a calçada segura e sã da rua Kansas do selvagem e indisciplinado Barrens (o corrimão gemeu alto) e viu Henry Bowers, Arroto Huggins e Victor Criss ali de pé.
— Oi, Peitinhos — disse Henry.
— O que vocês querem? — perguntou Ben, tentando parecer corajoso.
— Quero te dar uma surra — disse Henry. Ele parecia contemplar essa possibilidade com seriedade. Mas ah, seus olhos pretos brilhavam. — Tenho que te ensinar uma coisa, Peitinhos. Você não vai ligar. Você gosta de aprender coisas novas, né?
Ele esticou a mão na direção de Ben. Ben desviou.
— Segurem ele, pessoal.
Arroto e Victor seguraram os braços dele. Ben deu um gritinho. Foi um som covarde, fraco e fino, mas ele não conseguiu evitar. Por favor, Deus, não deixe que me façam chorar e não deixe que quebrem meu relógio, pensou Ben loucamente. Ele não sabia se eles chegariam a quebrar seu relógio ou não, mas tinha quase certeza de que ia chorar. Tinha quase certeza de que ia chorar muito antes de eles terminarem.
— Nossa, ele parece um porco — disse Victor. Ele torceu o pulso de Ben. — Ele não parece um porco?
— Parece mesmo — disse Arroto, rindo.
Ben correu primeiro para um lado e depois para o outro. Arroto e Victor o acompanharam com facilidade, deixaram que ele corresse, só para puxá-lo de volta.
Henry agarrou a frente do moletom de Ben e puxou para cima, deixando a barriga exposta. Ela caía por cima do cinto como um deslizamento.
— Olha essa barriga! — gritou Henry, impressionado e enojado. — Meu Deus do céu!
Victor e Arroto riram mais. Ben olhou ao redor em busca de ajuda. Não conseguia ver ninguém. Atrás dele, no Barrens, grilos cricrilavam e gaivotas berravam.
— É melhor vocês pararem! — disse ele. Não estava balbuciando ainda, mas estava quase. — É melhor pararem!
— Senão o quê? — perguntou Henry, como se estivesse realmente interessado. — Senão o quê, Peitinhos? Senão o quê, hã?
Ben de repente se viu pensando em Broderick Crawford, que fazia papel de Dan Matthews em Highway Patrol (aquele cara era durão, aquele cara era cruel, aquele cara não aceitava merda de ninguém) e irrompeu em lágrimas. Dan Matthews teria jogado esses caras por cima da cerca, ladeira abaixo, direto para as plantas. Teria feito isso com a barriga.
— Ah, caramba, olhem o bebê! — riu Victor. Arroto se juntou a ele. Henry sorriu um pouco, mas seu rosto ainda mantinha a expressão séria e pensativa, a expressão que era quase triste. Ela assustava Ben. Sugeria que ele poderia estar disposto a mais do que uma surra.
Como se para confirmar essa ideia, Henry enfiou a mão no bolso da calça jeans e pegou uma faca Buck.
O terror de Ben explodiu. Ele estava remexendo o corpo inutilmente de um lado para o outro; agora, ele de repente se jogou para a frente. Houve um instante em que acreditou que conseguiria escapar. Estava suando muito, e as mãos dos garotos segurando seus braços escorregavam. Arroto conseguiu segurar seu pulso direito, mas por pouco. Ele se soltou completamente de Victor. Outro impulso...
Antes de ele conseguir, Henry deu um passo para a frente e lhe deu um empurrão. Ben voou para trás. A cerca estalou mais alto desta vez, e ele sentiu-a ceder um pouco sob seu peso. Arroto e Victor o seguraram de novo.
— Agora segurem ele — disse Henry. — Estão ouvindo?
— Claro, Henry — disse Arroto. Ele parecia um pouco desconfortável. — Ele não vai fugir. Não se preocupe.
Henry andou para a frente até sua barriga lisa quase encostar na de Ben. Ben olhou para ele com lágrimas caindo dos olhos arregalados. Preso! Estou preso!, gritou uma parte de sua mente. Ele tentou impedi-la, pois não conseguia pensar com aquela gritaria na cabeça, mas ela não parava. Preso! Preso! Preso!
Henry abriu a lâmina, que era longa e larga e tinha seu nome gravado. A ponta brilhou no sol da tarde.
— Vou te testar agora — disse Henry naquele mesmo tom pensativo. — Está na hora da prova, Peitinhos, e é melhor você estar pronto.
Ben chorou. Seu coração batia loucamente no peito. Havia catarro escorrendo do seu nariz e se acumulando no lábio superior. Os livros da biblioteca estavam caídos no chão. Henry pisou em Bulldozer, olhou para baixo e o jogou na vala com um empurrão da bota.
— Esta é a primeira pergunta da sua prova, Peitinhos. Quando uma pessoa disser “me deixa copiar” nas provas finais, o que você vai dizer?
— Sim! — exclamou Ben imediatamente. — Vou dizer sim! Claro! Tudo bem! Pode copiar tudo que quiser!
A ponta da faca deslizou por 5 centímetros de ar e encostou na barriga de Ben. Estava fria como uma bandeja de gelo saída do congelador. Ben encolheu a barriga. Por um momento, o mundo ficou cinza. A boca de Henry estava se movendo, mas Ben não conseguia entender o que ele estava dizendo. Parecia que Henry era uma televisão sem som, e o mundo estava oscilando... oscilando...
Não ouse desmaiar!, gritou a voz em pânico. Se você desmaiar, ele pode ficar louco o bastante pra te matar!
O mundo recuperou parte do foco. Ele viu que Arroto e Victor tinham parado de rir. Pareciam nervosos... quase com medo. Ver isso teve o efeito de um tapa em Ben. De repente, eles não sabem o que ele vai fazer, nem até onde pode ir. O pior que você imaginou é o quanto as coisas realmente estão ruins... ou talvez até um pouco piores. Você precisa pensar. Mesmo que nunca tenha pensado antes e nunca volte a pensar, é melhor pensar agora. Porque os olhos dele diziam que eles estão certos em parecer nervosos. Os olhos dele dizem que ele é doido de pedra.
— Resposta errada, Peitinhos — disse Henry. — Se qualquer pessoa disser “me deixa copiar”, estou cagando pro que você faz. Entendeu?
— Entendi — disse Ben, com a barriga tremendo com o choro. — Tá, entendi.
— Que ótimo. Você errou uma, mas as maiores perguntas ainda estão por vir. Está pronto?
— Acho... acho que sim.
Um carro se aproximou lentamente. Era um Ford 1951 sujo com um senhor e uma senhora nos bancos da frente como um par de manequins descartados de loja de departamentos. Ben viu a cabeça do homem idoso se virar lentamente para ele. Henry chegou mais perto de Ben e escondeu a faca. Ben conseguia sentir a ponta tocando sua pele acima do umbigo. Ainda estava fria. Ele não via como era possível, mas estava.
— Vai em frente, grita — disse Henry. — Você mesmo vai furar sua barriga. — Eles estavam perto o bastante para um beijo. Ben conseguia sentir o cheiro doce de chiclete Juicy Fruit no hálito de Henry.
O carro passou e seguiu pela rua Kansas, tão lento e sereno quanto o carro líder do Rose Parade.
— Tudo bem, Peitinhos, olha a segunda pergunta. Se eu disse “Me deixa copiar” nas provas finais, o que você vai dizer?
— Sim. Vou dizer que sim. Na mesma hora.
Henry sorriu.
— Ótimo. Você acertou essa, Peitinhos. Agora vem a terceira pergunta: como vou ter certeza de que você nunca vai esquecer isso?
— Eu... eu não sei — sussurrou Ben.
Henry sorriu. Seu rosto se iluminou e ficou quase bonito por um momento.
— Eu sei! — disse ele, como se tivesse descoberto uma grande verdade. — Eu sei, Peitinhos! Vou escrever meu nome na sua barriga gorda!
Victor e Arroto começaram a rir de novo abruptamente. Por um momento, Ben sentiu uma espécie de alívio desnorteado, pensando que tudo não tinha passado de faz de conta, um pequeno susto que os três bolaram para deixá-lo apavorado. Mas Henry Bowers não estava rindo, e Ben de repente entendeu que Victor e Arroto estavam rindo porque eles estavam aliviados. Era óbvio para os dois que Henry não podia estar falando sério. Só que Henry estava.
A faca Buck deslizou para cima, delicada como manteiga. O sangue surgiu em uma linha vermelha de cor intensa na pele pálida de Ben.
— Ei! — gritou Victor. A palavra saiu abafada, assustada.
— Segurem ele! — rosnou Henry. — Fiquem segurando, estão ouvindo? — Agora não havia nada de sério e pensativo no rosto de Henry; agora, era o rosto retorcido de um demônio.
— Meu Deus do céu Henry não corta ele de verdade! — gritou Arroto, e a voz dele estava aguda, quase como a de uma garota.
Tudo aconteceu rápido depois disso, mas para Ben Hanscom, pareceu devagar; tudo pareceu acontecer em uma série de cliques, como fotos de ação em um ensaio de fotos da revista Life. O pânico desapareceu. Ele de repente descobriu uma coisa dentro de si, e como o pânico não era nada útil, essa coisa simplesmente comeu o pânico inteiro.
No primeiro clique, Henry levantou o moletom até os mamilos dele. Sangue escorria do corte vertical superficial acima de seu umbigo.
No segundo clique, Henry baixou a faca de novo e operou rapidamente, como um cirurgião de guerra lunático debaixo de um bombardeio aéreo. Sangue fresco escorreu.
Pra trás, pensou Ben friamente enquanto o sangue escorria e se acumulava entre a cintura da calça jeans e a pele. Tenho que ir pra trás. É a única direção pela qual posso escapar. Arroto e Victor não estavam mais o segurando. Apesar da ordem de Henry, eles tinham se afastado. Tinham se afastado horrorizados. Mas, se ele corresse, Bowers iria pegá-lo.
No terceiro clique, Henry uniu os dois cortes verticais com uma linha curta horizontal. Ben conseguia sentir o sangue escorrendo até a cueca agora, e uma linha gosmenta descia lenta como uma lesma pela coxa esquerda.
Henry se inclinou para trás por um momento e franziu a testa com a concentração estudada de um artista pintando uma paisagem. Depois do H vem o E, pensou Ben, e isso foi o necessário para colocá-lo em movimento. Ele forçou o corpo um pouco para a frente e Henry o empurrou para trás. Ben empurrou com as pernas, acrescentando sua força à de Henry. Ele bateu na cerca pintada de branco que separava a rua Kansas da ladeira que levava ao Barrens. Ao fazer isso, levantou o pé direito e apoiou na barriga de Henry. Não foi um ato de retaliação; Ben só queria aumentar a força de impulso. Mas quando ele viu a expressão de pura surpresa no rosto de Henry, foi tomado de uma alegria límpida e selvagem, uma sensação tão intensa que, por uma fração de segundo, pensou que o topo de sua cabeça fosse se soltar.
Em seguida, houve um som de estalo e madeira rompendo vindo da cerca. Ben viu Victor e Arroto segurarem Henry antes que ele pudesse cair de bunda na vala ao lado dos restos de Bulldozer, e então Ben caiu para trás. Caiu com um grito que era parcialmente uma gargalhada.
Ben bateu com as costas e o traseiro na ladeira logo abaixo do aqueduto que ele tinha visto antes. Foi bom ele ter caído abaixo; se tivesse caído em cima, podia ter quebrado a coluna. Mas ele acabou caindo em um acolchoado denso de grama e plantas e quase não sentiu o impacto. Deu uma cambalhota para trás, com pés e pernas passando por cima da cabeça. Caiu sentado e deslizou pela ladeira de costas, como uma criança em um brinquedo de parque de diversões, o moletom puxado até o pescoço, as mãos tentando se agarrar em alguma coisa, mas só conseguindo arrancar tufos e tufos de samambaia e grama.
Ele viu o topo do barranco (parecia impossível que ele estivesse lá um pouco antes) se afastando com velocidade louca de desenho animado. Viu Victor e Arroto, os rostos redondos com a boca em formato de O, olhando para ele. Teve tempo de lamentar pelos livros da biblioteca. Em seguida, bateu em alguma coisa com força agonizante e quase partiu a língua no meio.
Era uma árvore caída, e ela interrompeu a queda de Ben quase quebrando sua perna esquerda. Ele subiu um pouco a ladeira e soltou a perna com um gemido. A árvore o fez parar na metade do caminho. Abaixo, os arbustos eram mais densos. Água caindo do aqueduto passava por suas mãos em fluxos fracos.
Houve um grito vindo de cima. Ben ergueu o olhar de novo e viu Henry Bowers voar por cima da cerca, com a faca entre os dentes. Ele caiu de pé, com o corpo jogado para trás para poder se equilibrar. Deslizou até o final de marcas gigantescas de passos e começou a correr pela ladeira em uma série de pulinhos de canguru.
— Ô í ma-á, Pe-inhos! — gritou Henry com a faca na boca, e Ben não precisava de um tradutor das Nações Unidas para saber que Henry estava dizendo Vou te matar, Peitinhos. — Ô í ma-á, orra!
Agora, com aquele olho frio de general que ele descobriu lá em cima na calçada, Ben viu o que tinha que fazer. Conseguiu ficar de pé pouco antes de Henry chegar, com a faca agora na mão e esticada à frente do corpo como uma baioneta. Ben estava levemente ciente de que a perna esquerda da calça jeans estava rasgada e de que sua perna sangrava bem mais do que a barriga... mas ela o estava sustentando, e isso significava que não estava quebrada. Pelo menos, ele esperava que significasse isso.
Ben se agachou de leve para manter o equilíbrio precário, e quando Henry o agarrou com uma das mãos e golpeou com a faca em um arco com a outra, Ben deu um passo para o lado. Ele perdeu o equilíbrio, mas, ao cair, esticou a perna esquerda machucada. As canelas de Henry bateram nela, e as pernas dele foram derrubadas com grande eficiência. Por um momento, Ben ficou boquiaberto, com o terror dominado por uma mistura de assombro e admiração. Henry Bowers pareceu voar exatamente como o Super-homem por cima da árvore caída onde Ben tinha parado. Os braços estavam esticados à frente do corpo, da mesma forma como George Reeves esticava os braços no programa de TV. Só que George Reeves sempre fazia parecer que voar era tão natural quanto tomar um banho ou almoçar na varanda dos fundos. Henry parecia que tinha levado uma vara quente enfiada na bunda. Sua boca se abria e fechava. Um filete de saliva escorria pelo canto, e enquanto Ben olhava, bateu no lóbulo da orelha de Henry.
Em seguida, Henry caiu no chão. A faca voou da mão dele. Ele rolou sobre um dos ombros, caiu de costas e deslizou até os arbustos com as pernas abertas em V. Houve um grito. Um baque. E silêncio.
Ben se sentou, atordoado e olhando para o lugar amassado nos arbustos em que Henry fez seu ato de desaparecimento. De repente, pedras e cascalho começaram a quicar ao redor dele. Ele olhou para cima de novo. Victor e Arroto agora estavam descendo o barranco. Estavam se deslocando com mais cuidado que Henry, e, portanto, mais devagar, mas chegariam em trinta segundos ou menos se ele não fizesse alguma coisa.
Ele gemeu. Essa loucura não terminaria nunca?
Com os olhos fixos neles, ele pulou a árvore caída e começou a descer a ladeira, ofegando intensamente. A lateral do corpo repuxava. A língua doía loucamente. Os arbustos eram agora quase da altura de Ben. O cheiro verde intenso de coisas crescendo sem controle enchia seu nariz. Ele conseguia ouvir água correndo em algum lugar ali perto, passando por cima de pedras e entre elas.
Seus pés escorregaram e lá foi ele de novo, rolando e deslizando. Ele bateu com as costas da mão em uma pedra protuberante, passou em meio a espinhos que arrancaram pedaços azuis do moletom dele e pequenos pedaços de carne de suas mãos e bochechas.
Ele parou de repente ainda sentado, com os pés na água. Havia um riacho curvo que descia por um aglomerado de árvores à sua direita; parecia escuro como uma caverna lá dentro. Ele olhou para a esquerda e viu Henry Bowers deitado de costas no meio do riacho. Os olhos entreabertos só deixavam a parte branca à mostra. Sangue escorria de um dos ouvidos e fluía até Ben em filetes delicados.
Ah meu Deus eu matei ele! Ah meu Deus sou assassino! Ah meu Deus!
Esquecendo-se de que Arroto e Victor estavam atrás dele (ou talvez entendendo que eles perderiam todo o interesse em dar uma surra nele quando descobrissem que seu Destemido Líder estava morto), Ben correu 6 metros riacho acima até onde Henry estava, com a camisa em frangalhos, a calça jeans encharcada e escura, sem um dos sapatos. Ben estava vagamente ciente de que havia sobrado pouco de suas próprias roupas e seu corpo era um aglomerado de dores e feridas. Seu tornozelo esquerdo era o pior; já tinha inchado e apertava o tênis encharcado, e ele o estava preservando tanto que não andava, mas oscilava como um marinheiro em terra firme pela primeira vez depois de um longo tempo no mar.
Ele se inclinou acima de Henry Bowers. Os olhos de Henry se abriram. Ele segurou a panturrilha de Ben com a mão arranhada e sangrenta. Sua boca se mexeu, e apesar de nada além de uma série de aspirações assoviadas ter saído dela, Ben ainda conseguiu entender o que ele estava dizendo: Matar você, seu gordo de merda.
Henry estava tentando se levantar, usando a perna de Ben como apoio. Ben recuou freneticamente. A mão de Henry deslizou e soltou. Ben voou para trás, girou os braços e caiu sobre o traseiro pela terceira vez nos últimos quatro minutos. Também mordeu a língua de novo. Água voou ao seu redor. Um arco-íris brilhou por um instante na frente dos olhos de Ben. Ele não estava nem aí para o arco-íris. Não estava nem aí para encontrar o pote de ouro. Ficaria feliz em manter sua vidinha infeliz e gorda.
Henry rolou. Tentou ficar de pé. Caiu. Conseguiu ficar de quatro. E finalmente cambaleou de pé. Olhou para Ben com aqueles olhos negros. A parte da frente do cabelo agora estava apontando para todos os lados, como palha de milho depois de uma ventania.
Ben ficou zangado de repente. Não, era mais do que zangado. Estava furioso. Estava andando com os livros da biblioteca debaixo do braço, tendo um inocente sonho acordado em que beijava Beverly Marsh, sem incomodar ninguém. E veja só isso. Apenas veja. Calça rasgada. Tornozelo esquerdo talvez quebrado, com uma torção forte, com certeza. Perna toda cortada, língua toda cortada, com a letra da porra de Henry Bowers na barriga. Que tal essa merda toda, fãs do esporte? Mas foi provavelmente o pensamento nos livros da biblioteca, pelos quais ele era responsável, que o fez partir para cima de Henry Bowers. Os livros de biblioteca perdidos e a imagem mental do quanto o olhar da sra. Starrett seria reprovador quando ele contasse para ela. Fosse qual fosse o motivo (cortes, torção, livros da biblioteca, ou até mesmo a ideia do boletim molhado e provavelmente ilegível no bolso de trás), foi o bastante para colocá-lo em movimento. Ele correu para a frente, com os tênis Keds molhados espalhando a água rasa, e chutou Henry bem nas bolas.
Henry deu um grito rouco horrível que fez pássaros saírem voando das árvores. Ficou de pernas abertas por um momento, com as mãos na virilha, olhando para Ben sem acreditar.
— Ug — disse ele em uma voz baixa.
— Certo — disse Ben.
— Ug — disse Henry, com voz ainda mais baixa.
— Certo — disse Ben de novo.
Henry caiu lentamente de joelhos, não exatamente caindo, mas se dobrando. Ainda estava olhando para Ben com olhos negros e descrentes.
— Ug.
— Certíssimo — disse Ben.
Henry caiu de lado, ainda segurando os testículos, e começou a rolar lentamente de um lado para o outro.
— Ug! — gemeu Henry. — Minhas bolas. Ug! Você quebrou minhas bolas. Ug-ug! — Ele agora estava começando a recuperar um pouco de força, e Ben começou a recuar um passo de cada vez. Estava enojado pelo que tinha feito, mas também estava tomado de uma fascinação virtuosa e paralisada. — Ug!, meu saco, porra, ug, UG!, ah, minhas BOLAS, porra!
Ben poderia ter ficado por perto por uma quantidade indefinida de tempo, talvez mesmo até Henry se recuperar o bastante para ir atrás dele, mas uma pedra o atingiu acima da orelha direita com dor tão intensa e profunda que, até ele sentir o sangue quente fluindo de novo, Ben achava ter sido picado por uma vespa.
Ele se virou e viu os outros dois andando pelo riacho na direção dele. Cada um tinha na mão um punhado de pedras arredondadas pela água. Victor lançou uma, e Ben ouviu-a assoviar por sua orelha. Ele se abaixou e outra bateu em seu joelho direito, fazendo-o gritar de dor e surpresa. Uma terceira quicou em sua bochecha direita, e o olho acima se encheu de lágrimas.
Ele cambaleou até a margem mais distante e subiu o mais rápido que conseguiu, segurando-se em raízes e plantas. Conseguiu chegar ao topo (uma pedra final atingiu seu traseiro quando ele se erguia) e deu uma olhada rápida por cima do ombro.
Arroto estava ajoelhado ao lado de Henry enquanto Victor estava a quase 2 metros de distância, jogando pedras; uma do tamanho de uma bola de beisebol bateu no arbusto alto ao lado de Ben. Ele já tinha visto o bastante; na verdade, tinha visto mais do que o bastante. O pior de tudo era que Henry Bowers estava se levantando de novo. Assim como o relógio Timex de Ben, Henry conseguia tomar uma surra e continuar a bater. Ben se virou e abriu caminho entre os arbustos, na direção que ele torcia para ser o oeste. Se ele conseguisse ir até o lado de Old Cape do Barrens, podia implorar uma moeda para alguém e pegar o ônibus para casa. E quando chegasse lá, ele trancaria a porta, enfiaria essas roupas manchadas de sangue no fundo do lixo, e esse sonho louco finalmente acabaria. Ben se imaginou sentado na cadeira da sala de estar, depois de um banho, usando o roupão vermelho felpudo, vendo desenhos do Patolino no The Mighty Ninety e tomando leite com um canudo sabor morango. Agarre-se a isso, pensou ele com medo, e continuou a seguir.
Arbustos bateram em seu rosto. Ben os empurrou para o lado. Espinhos pareciam saltar nele. Ele tentou ignorá-los. Chegou a uma área plana que era preta e imunda. Uma quantidade densa de plantas como bambu se espalhava nela, e um cheiro fétido subia da terra. Um pensamento sinistro
(areia movediça)
cruzou o fundo de sua mente como uma sombra quando ele olhou para a água parada abaixo da planta tipo bambu. Ele não queria entrar ali. Mesmo que não fosse areia movediça, a lama arrancaria seus tênis. Ele virou para a direita, passou pela frente da área de bambu e chegou a uma floresta de verdade.
As árvores, quase todas abetos, eram grossas, cresciam para todos os lados e pareciam lutar umas com as outras por um pouco de espaço e sol, mas havia menos vegetação rasteira e ele conseguia se deslocar mais rápido. Ele não sabia mais em que direção estava andando, mas ainda achava que estava em vantagem. O Barrens era cercado por Derry em três lados e pela extensão interminada da autoestrada no quarto. Mais cedo ou mais tarde, ele chegaria em algum lugar.
Sua barriga latejou dolorosamente, e ele puxou os restos do moletom para olhar. Fez uma careta e assoviou entre dentes. Sua barriga parecia uma grotesca bola de Natal, coberta de sangue vermelho e manchada de verde pelo deslizamento no barranco. Ele puxou o moletom para baixo. Olhar para aquilo deu vontade de vomitar o almoço.
Agora ele ouviu um sussurro baixo vindo da frente. Era uma nota firme logo acima da sua capacidade auditiva. Um adulto, com a intenção de apenas sair dali o mais rápido possível (os mosquitos já tinham encontrado Ben, e apesar de não serem nada grandes como pardais, eram bem grandes), teria ignorado, ou simplesmente não ouviria. Mas Ben era um garoto, e já estava superando o medo. Ele desviou para a esquerda e empurrou um loureiro. Atrás dele, surgindo da terra, havia um metro de um cilindro de cimento com cerca de 1,20 metro de largura. Tinha uma tampa de bueiro de ferro com orifícios. A tampa tinha as palavras DEPTO. DE ESGOTOS DE DERRY em alto-relevo. O som (perto assim, era mais um zumbido do que um sussurro), vinha de algum lugar lá dentro.
Ben colocou um olho em um dos orifícios, mas não conseguiu ver nada. Conseguia ouvir o som regular, e água correndo em algum lugar lá embaixo, mas isso era tudo. Ele respirou fundo, sentiu um aroma azedo que era ao mesmo tempo úmido e podre, e recuou com uma careta. Era um esgoto, só isso. Ou talvez uma combinação de esgoto e túnel de drenagem — havia muito disso na Derry atenta a enchentes. Nada de mais. Mas lhe causou um tremor estranho. Parte disso foi por ver o trabalho do homem nessa área confusa e selvagem, mas ele achava que em parte foi o formato da coisa em si, aquele cilindro de concreto despontando do chão. Ben tinha lido A máquina do tempo de H. G. Wells no ano anterior, primeiro a versão em quadrinhos da Classics Comics e depois o livro todo. Esse cilindro com a tampa cheia de orifícios o lembrava dos poços que levavam ao país dos horríveis e corcundas Morlocks.
Ele se afastou rapidamente, tentando encontrar o oeste de novo. Chegou a uma pequena clareira e virou até sua sombra ficar o mais diretamente atrás de si que conseguiu. Depois, seguiu em linha reta.
Cinco minutos depois, ele ouviu mais água corrente à frente e vozes. Vozes de crianças.
Ele parou para ouvir, e foi quando escutou galhos estalando e outras vozes atrás de si. Eram perfeitamente reconhecíveis. Pertenciam a Victor, Arroto e ao próprio Henry Bowers.
Ao que parecia, o pesadelo ainda não tinha terminado.
Ben olhou ao redor, em busca de um lugar para se esconder.
Ele saiu do esconderijo cerca de duas horas depois, mais sujo do que nunca, mas um pouco descansado. Por mais incrível que pudesse parecer, ele tinha cochilado.
Quando ouviu os três atrás de si, ainda perseguindo-o, Ben chegou perigosamente perto de ficar paralisado por completo, como um animal atingido pelos faróis de um caminhão que se aproxima. Um entorpecimento paralítico começou a tomar conta dele. A ideia de simplesmente se deitar, se encolher como um ouriço e deixar que eles fizessem o que tivessem vontade ocorreu a ele. Era uma ideia louca, mas também parecia uma ideia estranhamente boa.
Mas em vez disso, Ben começou a se mover em direção ao som da água corrente e das outras crianças. Tentou desemaranhar as vozes delas e identificar a essência do que estavam dizendo, qualquer coisa para afastar aquela apavorante paralisia do espírito. Era sobre algum projeto. Estavam falando sobre algum projeto. Uma ou duas vozes eram até um tanto familiares. Houve um som de água, seguido de uma explosão de gargalhadas alegres. As gargalhadas encheram Ben de uma espécie de vontade idiota e o deixaram mais ciente de sua posição perigosa do que qualquer outra coisa.
Se ele ia ser pego, não havia necessidade de deixar que esses garotos provassem do seu remédio. Ben virou para a direita de novo. Como muitas pessoas grandes, ele tinha o passo incrivelmente leve. Ele passou perto o bastante dos garotos para ver as sombras deles se movendo para a frente e para trás entre ele e a água brilhante, mas nenhum deles o viu nem ouviu. Gradualmente, as vozes começaram a ficar para trás.
Ele chegou a um caminho estreito que tinha sido pisado ao ponto de restar apenas terra nua. Ben refletiu por um momento e balançou um pouco a cabeça. Ele o atravessou e entrou na vegetação de novo. Movia-se mais devagar agora, empurrando os arbustos para o lado em vez de pisar neles de qualquer jeito. Ainda estava seguindo em paralelo ao riacho ao lado do qual os outros garotos estavam brincando. Mesmo entre os arbustos entrelaçados e árvores, ele conseguia ver que era bem mais largo do que o riacho no qual ele e Henry caíram.
Aqui havia outro daqueles cilindros de concreto, quase invisível entre um emaranhado de trepadeiras de amora silvestre, zumbindo baixinho. Depois, uma escarpa levava ao riacho, e aqui um olmo retorcido se inclinava por cima da água. As raízes dele, meio expostas pela erosão, pareciam cabelo sujo embaraçado.
Torcendo para não haver insetos nem cobras, mas cansado e assustado demais para se importar, Ben andou entre as raízes até entrar em uma caverna rasa embaixo. Recostou-se. Uma raiz o cutucou como um dedo zangado. Ele mudou um pouco de posição e ela deu um apoio bem agradável.
Aqui estavam Henry, Arroto e Victor. Ele achava que eles podiam ter pensado em seguir o caminho, mas não deu essa sorte. Ficaram perto dele por um momento; mais um pouco e ele teria conseguido esticar a mão do esconderijo e tocar neles.
— Aposto que os merdinhas ali atrás viram ele — disse Arroto.
— Bem, vamos descobrir — respondeu Henry, e eles seguiram pelo caminho pelo qual tinham vindo. Alguns momentos depois, Ben o ouviu rugir. — Que porra vocês crianças estão fazendo aqui?
Houve alguma espécie de resposta, mas Ben não conseguiu entender: os meninos estavam longe demais, e perto assim, o rio (era o Kenduskeag, é claro) era alto demais. Mas ele achou que o garoto pareceu assustado. Ben se solidarizou.
Em seguida, Victor Criss gritou alguma coisa que Ben não entendeu:
— Que porra de barragem de bebê!
Barragem de bebê? Barraca de bebê? Ou talvez Victor tenha falado “uma porrada de bebês” e Ben ouviu errado.
— Vamos quebrar! — propôs Arroto.
Houve gritos de protesto seguidos de um grito de dor. Alguém começou a chorar. Sim, Ben se solidarizava. Eles não conseguiram pegá-lo (pelo menos, ainda não), mas havia outro grupo de crianças em quem eles podiam descontar a raiva.
— Claro, quebra — disse Henry.
Barulho de água. Gritos. Enormes vibrações de gargalhadas idiotas vindas de Arroto e Victor. Um grito agonizante e furioso de uma das crianças.
— Não me venha com merda, seu gaguinho bizarro — disse Henry Bowers. — Não vou aguentar merda de ninguém hoje.
Houve um estalo. O som de água correndo rio abaixo ficou mais forte e rugiu antes de voltar ao som anterior, plácido. Ben de repente entendeu. Barragem de bebê, sim, foi isso que Victor disse. Os meninos (pareceram dois ou três quando ele passou) estavam construindo uma represa. Henry e seus amigos tinham destruído com chutes. Ben até pensou que sabia quem era um dos garotos. O único “gaguinho bizarro” que ele conhecia da escola Derry era Bill Denbrough, que era da outra turma de quinto ano.
— Você não precisava ter feito isso — gritou uma voz aguda e temerosa, e Ben reconheceu aquela também, apesar de não conseguir associar um rosto imediatamente. — Por que você fez isso?
— Porque senti vontade, seu merda! — gritou Henry. Houve um baque seco. Foi seguido de um grito de dor. O grito foi seguido de choro.
— Cala a boca — disse Victor. — Para de chorar, garoto, senão vou puxar suas orelhas e amarrar debaixo do queixo.
O choro virou uma série de fungadas engasgadas.
— Nós vamos embora — disse Henry —, mas antes, quero saber uma coisa. Vocês viram um garoto gordo nos últimos dez minutos, mais ou menos? Um garoto grande e gordo todo ensanguentado e cortado?
Houve uma resposta curta demais para ser qualquer coisa diferente de não.
— Tem certeza? — perguntou Arroto. — É melhor ter, pamonha.
— E-e-eu t-tenho cer-certeza — respondeu Bill Denbrough.
— Vamos — disse Henry. — Ele deve ter seguido por aquele caminho.
— Tchau, tchau, garotos — disse Victor Criss. — Era uma barragem de bebê mesmo, acreditem. Vocês estão melhores sem ela.
Sons de água. A voz de Arroto soou de novo, mas mais longe agora. Ben não conseguiu decifrar as palavras. Na verdade, não queria decifrar as palavras. Mais perto, o garoto recomeçou a chorar. Havia sons reconfortantes vindos do outro garoto. Ben concluiu que eram só dois, Bill Gago e o chorão.
Ele ficou meio sentado, meio deitado onde estava, ouvindo os dois garotos no rio e os sons distantes de Henry e seus amigos dinossauros caminhando de forma barulhenta para o outro lado do Barrens. A luz do sol brilhou em seus olhos e criou pequenos pontos de luz nas raízes emaranhadas acima e ao redor dele. Estava sujo aqui, mas também era aconchegante... seguro. O som de água corrente era calmante. Até o som do garoto chorando era meio calmante. Suas dores e machucados tinham diminuído para um latejar cego, e o som dos dinossauros tinha sumido completamente. Ele esperaria um pouco, só para ter certeza de que não voltariam, e depois seguiria o caminho.
Ben conseguia ouvir o latejar do maquinário de escoamento vindo pela terra. Conseguia até sentir: uma vibração baixa e constante que seguia do chão até a raiz na qual ele estava encostado, e também até suas costas. Ele pensou de novo nos Morlocks, na pele nua deles; imaginou que tinha o mesmo cheiro do ar úmido e podre que saiu pelos orifícios daquela tampa de bueiro de ferro. Pensou nos poços deles cavados bem fundo na terra, poços com escadas enferrujadas presas nas laterais. Ele cochilou e, em algum ponto, seus pensamentos se tornaram um sonho.
Não foi com os Morlocks que ele sonhou. Ele sonhou com a coisa que aconteceu com ele em janeiro, a coisa que não conseguiu contar para a mãe.
Foi no primeiro dia de aula depois das longas férias de Natal. A sra. Douglas pediu que um voluntário ficasse depois da aula para ajudá-la a contar os livros que tinham sido devolvidos antes das férias. Ben levantou a mão.
— Obrigada, Ben — disse a sra. Douglas, dando um sorriso de tamanho esplendor para ele que o fez esquentar até os dedos dos pés.
— Puxa-saco — comentou Henry Bowers baixinho.
Era o tipo de dia de inverno no Maine que é ao mesmo tempo o melhor e o pior: sem nuvens, brilhante a ponto de fazer os olhos lacrimejarem, mas tão frio que era um pouco assustador. Para tornar a temperatura de 12°C negativos ainda pior, havia um vento forte para dar um aspecto cortante ao frio.
Ben contou livros e falou os números; a sra. Douglas os anotou (sem se importar de verificar o trabalho dele nem de forma aleatória, ele reparou com orgulho), e depois os dois carregaram os livros para a sala em que eram guardados por corredores onde aquecedores estalavam de maneira sonhadora. A princípio, a escola estava cheia de sons: portas de armários sendo batidas, os estalos da máquina de escrever da sra. Thomas na secretaria, as execuções ligeiramente desafinadas do coral no andar de cima, o som nervoso das bolas de basquete no ginásio e dos tênis dos jogadores correndo em direção às cestas ou pulando no piso de madeira encerada.
Pouco a pouco, esses sons sumiram, até, quando a última pilha de livros foi adicionada (faltando um, mas não importava muito, suspirou a sra. Douglas — todos estavam mesmo em péssimo estado), os únicos sons serem os dos aquecedores, o sibilar leve da vassoura do sr. Fazio enquanto varria serragem colorida pelo chão do corredor e o uivo do vento lá fora.
Ben olhou para a única janela estreita da sala dos livros e viu que a luz estava sumindo rapidamente do céu. Eram 16 horas e o anoitecer estava chegando. Membranas de neve seca voavam pelo trepa-trepa gelado e giravam entre as gangorras, que estavam congeladas e grudadas no chão. Só o degelo de abril romperia a soldagem do inverno. Ele não viu ninguém na rua Jackson. Olhou por mais um momento, esperando que um carro passasse pelo cruzamento da Jackson com a Witcham, mas nenhum passou. Todos em Derry menos ele e a sra. Douglas poderiam estar mortos ou terem fugido, pelo menos pelo que ele podia ver dali.
Ele olhou na direção dela e viu, com um toque de medo verdadeiro, que ela estava sentindo quase exatamente a mesma coisa que ele. Ele conseguia perceber pela expressão nos olhos dela. Eles eram profundos e estavam pensativos e distantes, não os olhos de uma professora na casa dos 40 anos, mas os de uma criança. As mãos dela estavam unidas bem abaixo dos seios, como se ela estivesse em oração.
Estou com medo, pensou Ben, e ela também está. Mas de que estamos realmente com medo?
Ele não sabia. Ela olhou para ele e deu uma risada curta e quase constrangida.
— Segurei você aqui até tarde demais — disse ela. — Me desculpe, Ben.
— Tudo bem. — Ele olhou para os sapatos. Ele a amava um pouco. Não com o amor sincero e inquestionável que sentia pela srta. Thibodeau, a professora do primeiro ano... mas ele a amava sim.
— Se eu estivesse de carro, te daria uma carona — disse ela —, mas não dirijo. Meu marido vai me pegar por volta de 15 pras cinco. Se você quiser esperar, nós podemos...
— Não, obrigado — disse Ben. — Tenho que chegar em casa antes disso. — Não era bem verdade, mas ele sentia uma aversão estranha à ideia de conhecer o marido da sra. Douglas.
— Talvez sua mãe pudesse...
— Ela também não dirige — disse Ben. — Vou ficar bem. É só um quilômetro e meio até em casa.
— Um quilômetro e meio não é longe quando o tempo está bom, mas pode ser com esse tempo. Entre em algum lugar se ficar frio demais, certo, Ben?
— Ah, claro. Posso entrar no mercado Costello e ficar de pé ao lado do fogão por um tempo, ou alguma coisa assim. O sr. Gedreau não se incomoda. E estou com minha calça de neve. Meu cachecol novo do Natal também.
A sra. Douglas pareceu um pouco mais tranquila... mas então olhou para a janela de novo.
— É que parece tão frio lá fora — disse ela. — Tão... tão hostil.
Ele não conhecia a palavra, mas sabia exatamente o que ela queria dizer. Alguma coisa tinha acabado de acontecer... o quê?
Ele percebeu que a viu como pessoa em vez de apenas professora. Foi isso que aconteceu. De repente, ele viu o rosto dela de uma forma completamente diferente, e por causa disso, ele se tornou um novo rosto, o rosto de um poeta cansado. Ele conseguia vê-la indo para casa com o marido, sentada ao lado dele no carro com as mãos fechadas enquanto o aquecedor sibilava e ele falava sobre o dia dele. Conseguia vê-la fazendo o jantar. Um pensamento estranho cruzou sua mente, e uma pergunta pessoal surgiu nos lábios dele: Você tem filhos, sra. Douglas?
— Costumo pensar nessa época do ano que as pessoas não foram feitas pra morar tão ao norte do equador — disse ela. — Pelo menos, não nesta latitude. — Em seguida, ela sorriu, e um pouco da estranheza sumiu do rosto dele ou do seu olho; ele conseguiu vê-la, ao menos parcialmente, como sempre vira. Mas você nunca mais vai vê-la daquele jeito de novo, não completamente, pensou ele consternado.
— Vou me sentir velha até a primavera, e então vou me sentir jovem de novo. É assim todos os anos. Você tem certeza de que vai ficar bem, Ben?
— Vou ficar ótimo.
— É, acho que vai. Você é um bom garoto, Ben.
Ele olhou para os pés, corando, amando-a mais do que nunca.
No corredor, o sr. Fazio disse:
— Tome cuidado com a geladura, garoto. — Ele nem levantou o olhar da serragem vermelha.
— Pode deixar.
Ele chegou ao seu armário, abriu-o e tirou a calça de neve. Tinha ficado dolorosamente infeliz quando a mãe insistiu que ele a usasse de novo neste inverno nos dias especialmente frios, pensando nela como roupa de bebê, mas estava feliz de estar com ela esta tarde. Ele andou lentamente até a porta, fechou o casaco, puxou os cadarços do capuz com força, calçou as luvas. Saiu e ficou de pé no degrau mais alto coberto de neve na escada da frente por um momento, ouvindo a porta ser fechada e trancada atrás dele.
A escola Derry estava sob um céu manchado da cor de um hematoma. O vento soprava regularmente. Os ganchos do mastro batiam com um som solitário no próprio mastro de aço. O vento cortou a pele quente e despreparada do rosto de Ben imediatamente, entorpecendo suas bochechas.
Tome cuidado com a geladura, garoto.
Ele puxou rapidamente o cachecol até parecer uma caricatura pequena e gorducha do Red Ryder. Aquele céu escuro tinha uma espécie de beleza fantástica, mas Ben não parou para admirar; estava frio demais para isso. Ele seguiu em frente.
A princípio o vento estava nas suas costas, e as coisas não pareceram tão ruins; na verdade, ele parecia estar ajudando-o. Mas na rua Canal, ele precisou virar à direita, quase diretamente contra o vento. Agora parecia estar segurando-o... como se tivesse problemas com ele. O cachecol ajudou um pouco, mas não o bastante. Seus olhos latejaram, e a umidade do nariz congelou até estalar. Suas pernas estavam ficando dormentes. Várias vezes ele enfiou as mãos enluvadas nas axilas para aquecê-las. O vento gritava e chiava, às vezes parecendo quase humano.
Ben sentiu medo e euforia. Medo porque agora conseguia entender histórias que tinha lido, como “A fogueira”, de Jack London, na qual as pessoas congelavam até morrer. Seria bem possível congelar até a morte em uma noite como esta, uma noite em que as temperaturas cairiam a 26°C negativos.
A euforia era difícil de explicar. Era uma sensação solitária, um sentimento de uma espécie de melancolia. Ele estava ao ar livre; passava nas asas do vento, e nenhuma das pessoas atrás dos quadrados iluminados das janelas o via. Elas estavam lá dentro, onde estava claro e quente. Não sabiam que ele passara por elas; só ele sabia. Era uma coisa secreta.
O ar em movimento queimava como agulhas, mas era fresco e limpo. Fumaça branca saía de seu nariz em nuvens perfeitas.
E, quando o pôr do sol chegou, com o dia terminando em uma linha amarelo-alaranjada no horizonte do oeste e as primeiras estrelas como diamantes cruéis brilhando no céu acima, ele chegou ao canal. Só estava a três quarteirões de casa agora e ansiava por sentir o calor no rosto e nas pernas, o sangue em movimento de novo, fazendo-o formigar.
Ainda assim... ele fez uma pausa.
O canal estava congelado entre as paredes de concreto como um rio congelado de leite, com a superfície curva, rachada e enevoada. Estava imóvel, mas completamente vivo na luz cruel e puritana do inverno; tinha sua própria beleza única e difícil.
Ben virou na outra direção, sudoeste. A direção do Barrens. Quando olhou nessa direção, o vento bateu em suas costas de novo. A calça de neve ficou enrugada e tremeu. O canal corria reto estre suas paredes de concreto por talvez 800 metros; depois, o concreto sumia e o rio se alargava para dentro dos Barrens, nessa época do ano um mundo esquelético de arbustos de gelo e galhos pelados.
Uma pessoa estava de pé no gelo lá embaixo.
Ben olhou para ela e pensou: Pode haver um homem lá embaixo, mas ele pode estar usando o que parece estar usando? É impossível, não é?
A pessoa estava usando o que parecia ser uma roupa de palhaço branco-prateada. Ela tremia ao redor do corpo dela no vento polar. Havia sapatos laranja grandes demais em seus pés. Eles combinavam com os botões de pompom que se alinhavam na parte da frente da roupa. Uma das mãos segurava várias cordas, que seguiam até um monte colorido de balões, e quando Ben observou que os balões estavam flutuando na sua direção, sentiu a irrealidade tomar conta dele com mais força. Ele fechou os olhos, esfregou-os, abriu-os. Os balões ainda pareciam estar flutuando em sua direção.
Ele ouviu a voz do sr. Fazio na cabeça. Tome cuidado com a geladura, garoto.
Tinha que ser uma alucinação ou uma miragem criada por algum truque estranho do tempo. Podia haver um homem lá embaixo no gelo; ele achava que era até tecnicamente possível que pudesse estar usando uma roupa de palhaço. Mas os balões não podiam estar flutuando na direção de Ben, contra o vento. Mas era isso que pareciam estar fazendo.
Ben!, chamou o palhaço no gelo. Ben achou que a voz estava apenas em sua cabeça, embora parecesse que ele ouvia com os ouvidos. Quer um balão, Ben?
Havia alguma coisa tão má naquela voz, tão terrível, que Ben queria sair correndo o mais rápido possível, mas seus pés pareciam tão grudados na calçada quanto as gangorras do parquinho da escola estavam presas no chão.
Eles flutuam, Ben! Todos flutuam! Experimente um e veja!
O palhaço começou a andar pelo gelo na direção da ponte do canal, onde Ben estava. Ben o viu se aproximar sem se mover; viu da mesma forma que um pássaro vê uma cobra se aproximar. Os balões deveriam ter estourado no frio intenso, mas não estouraram; eles flutuaram acima e à frente do palhaço quando deviam estar voando para trás dele, tentando escapar de volta para o Barrens... de onde, uma parte da mente de Ben lhe garantia, essa criatura tinha saído.
Agora, Ben reparou em outra coisa.
Apesar de as últimas luzes do dia terem lançado um brilho rosado no gelo do canal, o palhaço não fazia sombra. Nenhuma.
Você vai gostar daqui, Ben, disse o palhaço. Agora ele estava perto o bastante para que Ben conseguisse ouvir o som dos sapatos engraçados conforme ele caminhava pelo gelo irregular. Você vai gostar daqui, eu prometo, todos os garotos e garotas que eu conheço gostam daqui, porque é a Ilha do Prazer de Pinóquio e a Terra do Nunca de Peter Pan; eles nunca precisam crescer e é isso que as crianças querem! Então venha! Veja o local, pegue um balão, alimente os elefantes, ande na montanha-russa! Ah, você vai gostar, e Ben, como você vai flutuar...
E, apesar do medo, Ben sentiu que uma parte dele queria um balão. Quem em todo o mundo tinha um balão que flutuava contra o vento? Quem tinha ouvido falar de uma coisa assim? Sim... ele queria um balão, e queria ver o rosto do palhaço, que estava inclinado na direção do gelo, como se para se proteger do vento terrível.
O que poderia ter acontecido se o apito das 17h no alto da prefeitura de Derry não tivesse tocado naquele momento, Ben não sabia... não queria saber. O importante era que ele tocou, um som perfurante que penetrou no profundo frio do inverno. O palhaço ergueu o olhar, como se por ter levado um susto, e Ben viu seu rosto.
A múmia! Ah meu Deus é a múmia! Esse foi seu primeiro pensamento, acompanhado de um horror vertiginoso que o fez apertar as mãos com força na proteção lateral da ponte para não desmaiar. É claro que não era a múmia, não podia ser a múmia. Ah, existiam múmias egípcias, muitas delas, ele sabia disso, mas seu primeiro pensamento foi que ele era a múmia, o monstro poeirento interpretado por Boris Karloff no antigo filme que ele ficou acordado até tarde para assistir no mês passado na sessão Shock Theater.
Não, não era aquela múmia, não podia ser, monstros de filmes não eram reais, todo mundo sabia disso, até criancinhas. Mas...
Não era maquiagem que o palhaço estava usando. Nem estava ele enrolado em um monte de ataduras. Havia ataduras, a maior parte ao redor do pescoço e pulsos, voando ao vento, mas Ben conseguia ver o rosto do palhaço claramente. Tinha linhas profundas, a pele como um mapa de rugas em um pergaminho, bochechas rasgadas, carne desgastada. A pele da testa estava ferida, mas sem sangue. Lábios mortos sorriam sobre uma mandíbula nas quais dentes se inclinavam como lápides. As gengivas eram esburacadas e negras. Ben não conseguia ver olhos, mas alguma coisa brilhava no interior dos buracos negros como carvão, alguma coisa como as pedras preciosas frias nos olhos de escaravelhos egípcios. E apesar de o vento estar para o lado errado, parecia que ele conseguia sentir o cheiro de canela e especiarias, mortalhas apodrecidas tratadas com drogas estranhas, areia, sangue tão velho que tinha secado e virado flocos e grãos de ferrugem...
— Todos flutuamos aqui embaixo — grasnou a múmia-palhaço, e Ben se deu conta com horror renovado de que ele tinha chegado à ponte, estava agora abaixo dele, esticando a mão seca e retorcida da qual pedaços de pele farfalhavam como bandeiras, mão essa que deixava à mostra ossos como marfim amarelado.
Um dedo quase sem carne acariciou a ponta de sua bota. A paralisia de Ben evaporou. Ele correu pelo resto da ponte com o apito das 17h tocando em seus ouvidos; o som só parou quando ele chegou do outro lado. Tinha que ser uma miragem, tinha que ser. O palhaço não podia ter se deslocado tanto durante um apito de dez ou 15 segundos.
Mas seu medo não era miragem; nem eram as lágrimas quentes que surgiram em seus olhos e congelaram em suas bochechas um segundo depois de caírem. Ele correu, com as botas batendo na calçada, e atrás ele conseguia ouvir a múmia de roupa de palhaço subindo do canal, com unhas antigas de pedra arranhando o ferro, velhos tendões estalando como dobradiças secas. Ele conseguia ouvir o sopro árido de sua respiração entrando e saindo de narinas tão sem umidade quanto os túneis debaixo da grande pirâmide. Conseguiu sentir seu manto de aromas arenosos e soube que em um momento suas mãos, tão sem carne quanto as construções geométricas que ele fazia com seus brinquedos, desceriam sobre os ombros dele. Elas o virariam e ele olharia para aquele rosto enrugado e sorridente. O rio morto da respiração dela sopraria sobre ele. Aqueles buracos pretos com o brilho profundo se inclinariam sobre ele. A boca sem dentes bocejaria, e ele teria seu balão. Ah, sim. Todos os balões que quisesse.
Mas quando ele chegou à esquina de sua rua, soluçando e sem fôlego, com o coração disparado batendo em seus ouvidos, quando ele finalmente olhou por cima do ombro, a rua estava vazia. A ponte curva com as laterais baixas de concreto e o antiquado piso de paralelepípedo também estava vazia. Ele não conseguia ver o canal, mas sentiu que, se conseguisse, também não veria nada lá. Não; se a múmia não tivesse sido alucinação ou miragem, se tivesse sido real, ela ficaria esperando debaixo da ponte, como o troll na história Os três cabritos rudes.
Debaixo. Escondida debaixo.
Ben correu para casa, olhando para trás de tempos em tempos até a porta estar bem fechada e trancada atrás de si. Ele explicou para a mãe, que estava tão cansada de um dia particularmente puxado no trabalho que na verdade nem tinha sentido muita falta dele, que estava ajudando a sra. Douglas a contar livros. Depois, ele se sentou para jantar macarrão e peru de sobra do domingo. Comeu três pratos, e a múmia pareceu mais distante e irreal a cada garfada. Não era real, essas coisas nunca eram reais, elas ganhavam vida apenas entre comerciais dos filmes que passavam tarde da noite na TV ou durante as matinês de sábado, onde, se você tivesse sorte, podia ver dois monstros por 25 centavos, e se tivesse mais 25 centavos, podia comprar toda a pipoca que conseguisse comer.
Não, eles não eram reais. Monstros da TV, do cinema e dos quadrinhos não eram reais. Não até você ir para a cama e não conseguir dormir; não até as quatro últimas balas, enroladas em lenços de papel e guardadas debaixo do travesseiro contra os males da noite, serem comidas; não até a cama virar um lago de sonhos horríveis e o vento gritar do lado de fora e você ter medo de olhar pela janela porque poderia haver um rosto ali, um rosto antigo e sorridente que não apodreceu, mas simplesmente secou como uma folha velha, com os olhos como diamantes afundados empurrados no fundo de órbitas escuras; não até você ver a mão enrugada como uma garra segurando um monte de balões: Veja o local, pegue um balão, alimente os elefantes, ande na montanha-russa! Ben, ah, Ben, você vai flutuar...
Ben acordou ofegante, com o sonho da múmia ainda na cabeça, em pânico pela escuridão fechada e vibrante ao redor. Ele tremeu, e a raiz deixou de sustentá-lo e cutucou-o nas costas de novo, como se exasperada.
Ele viu luz e seguiu desajeitado na direção dela. Saiu rastejando para a luz do sol da tarde e o barulho do rio, e tudo voltou ao lugar. Era verão, não inverno. A múmia não o levou para sua cripta deserta; Ben tinha simplesmente se escondido dos garotos grandes em um buraco de terra debaixo das raízes expostas de uma árvore. Estava no Barrens. Henry e seus amigos tinham caído na farra de leve com dois garotos brincando no rio porque não conseguiram encontrar Ben e cair na farra pesada com ele. Tchau, tchau, garotos. Era uma barragem de bebê mesmo, acreditem. Vocês estão melhores sem ela.
Ben olhou com tristeza para as roupas estragadas. Sua mãe o faria penar no inferno de 16 maneiras diferentes.
Ele dormiu o suficiente para ficar dolorido. Ben deslizou pelo barranco e começou a andar ao lado do rio, fazendo uma careta a cada passo. Era uma mistura de dores e ardências; parecia que Spike Jones estava tocando uma música rápida com vidro quebrado dentro da maioria de seus músculos. Parecia haver sangue seco ou secando em cada centímetro exposto de pele. Os garotos da barragem já teriam mesmo ido embora, consolou-se ele. Não sabia por quanto tempo tinha dormido, mas mesmo que tivesse sido só meia hora, o encontro com Henry e seus amigos teria convencido Denbrough e seu companheiro de que algum outro lugar, como por exemplo o Timbukctu, seria melhor para a saúde deles.
Ben seguiu com dificuldade, sabendo que, se os garotos grandes voltassem, ele não teria a menor chance de correr. Mas não se importava.
Ele acompanhou uma virada no rio e ficou ali parado por um momento, olhando. Os construtores da barragem ainda estavam ali. Um deles era mesmo Bill Gago Denbrough. Ele estava ajoelhado ao lado do outro garoto, que estava recostado na margem inclinada do rio em uma posição sentada. A cabeça do outro garoto estava tão inclinada para trás que seu pomo de adão se destacava como um plugue triangular. Havia sangue seco ao redor de seu nariz, no queixo e escorrendo pelo pescoço. Ele tinha uma coisa branca em uma das mãos.
Bill Gago olhou ao redor atentamente e viu Ben ali de pé. Ben viu com consternação que alguma coisa estava muito errada com o garoto sentado na margem; Denbrough estava obviamente apavorado. Ele pensou com infelicidade: Por que este dia não termina?
— Eu queria saber se v-v-você pode me aju-judar — disse Bill Denbrough. — A bo-bo-bombinha dele está v-vazia. Acho que ele p-pode estar...
Seu rosto congelou, ficou vermelho. Ele buscou a palavra, gaguejando como uma metralhadora. Cuspe voou dos seus lábios, e ele levou quase trinta segundos de “m-m-m-m” até Ben se dar conta de que Denbrough estava tentando dizer que o outro garoto podia estar morrendo.
Bill Denbrough vence o diabo (I)
Bill Denbrough pensa: Estou praticamente viajando no espaço; daria no mesmo estar dentro de uma bala disparada de uma arma.
Embora seja perfeitamente verdadeiro, ele não acha esse pensamento confortável. Na verdade, pela primeira hora que segue a decolagem do Concorde (ou talvez levantamento fosse uma maneira melhor de dizer), saindo de Heathrow, ele está enfrentando um surto leve de claustrofobia. O avião é estreito, de maneira perturbadora. A refeição é quase requintada, mas as comissárias que a servem precisam se contorcer, inclinar e agachar para fazer o serviço; elas parecem uma trupe de ginastas. Ver esse trabalho cansativo tira um pouco do prazer da comida para Bill, embora o homem sentado ao seu lado não pareça particularmente incomodado.
O homem é outro inconveniente. Ele é gordo e não exatamente limpo; pode haver colônia Ted Lapidus espalhada na pele, mas por baixo dela, Bill detecta os odores inconfundíveis de sujeira e suor. Ele também não está sendo muito cuidadoso com o cotovelo esquerdo; de tempos em tempos, dá uma leve cutucada em Bill.
Seus olhos são atraídos toda hora para o painel digital na frente da cabine. Ele mostra a velocidade com que a bala inglesa está voando. Agora, quando o Concorde alcança a velocidade ideal. Bill pega a caneta no bolso da camisa e usa a ponta para clicar nos botões do relógio com computador que Audra lhe deu no Natal anterior. Se o medidor de velocidade estiver certo, e Bill não tem motivo nenhum para achar que não está, então eles estão voando a 30 quilômetros por minuto. Ele não tem certeza se é uma coisa que queira mesmo saber.
Do lado de fora da janela, que é tão pequena e grossa quanto a janela em uma das velhas cápsulas espaciais Mercury, ele consegue ver um céu que não é azul, mas de um roxo crepuscular, embora eles estejam na metade do dia. No ponto em que o mar e o céu se encontram, ele consegue ver que a linha do horizonte fica ligeiramente curva. Estou sentado aqui, pensa Bill, com um Bloody Mary na mão e o cotovelo de um homem gordo e sujo cutucando meu bíceps, observando a curvatura da Terra.
Ele sorri um pouco, pensando que um homem que é capaz de encarar uma coisa assim não devia ter medo de nada. Mas ele tem medo, e não só de voar a 30 quilômetros por minuto nessa casca estreita e frágil. Ele quase consegue sentir Derry correndo rapidamente em sua direção. E essa é exatamente a expressão para se referir a isso. A 30 quilômetros por minuto ou não, a sensação é de estar perfeitamente parado enquanto Derry corre na direção dele como um enorme carnívoro que ficou deitado esperando por muito tempo e finalmente saiu do esconderijo. Derry, ah, Derry! Vamos escrever uma ode a Derry? O fedor de suas fábricas e de seus rios? O silêncio majestoso de suas ruas cheias de árvores? A biblioteca? A Torre de Água? O parque Bassey? A Escola Derry?
O Barrens?
Luzes estão se acendendo em sua cabeça: grandes holofotes. É como se ele tivesse passado 27 anos sentado em um teatro escuro, esperando que alguma coisa acontecesse, e agora finalmente começou. O cenário sendo revelado pedaço a pedaço e holofote a holofote não é uma comédia inocente como Arsênico e alfazema; para Bill Denbrough, parece mais O gabinete do dr. Caligari.
Todas essas histórias que escrevi, ele pensa com uma espécie idiota de divertimento. Todos aqueles romances. Derry é o local de origem de todos eles; Derry foi a nascente. Eles vieram do que aconteceu naquele verão, e do que aconteceu a George no outono anterior. Tantos entrevistadores me fizeram AQUELA PERGUNTA... e eu dei a resposta errada.
O cotovelo do homem gordo o atinge de novo, e ele derrama um pouco do drinque. Bill quase diz alguma coisa, mas depois pensa melhor.
AQUELA PERGUNTA, é claro, era “De onde você tira suas ideias?”. Era uma pergunta que Bill achava que todos os escritores de ficção tinham que responder, ou fingir responder, pelo menos duas vezes por semana, mas um cara como ele, que ganhava a vida escrevendo coisas que nunca aconteceram e nunca poderiam acontecer, tinha que responder, ou fingir responder, com muito mais frequência do que isso.
— Todos os escritores têm um canal que desemboca no subconsciente — dizia ele para os repórteres, deixando de mencionar que duvidava mais a cada ano que passava que o subconsciente fosse uma coisa que existia. — Mas o homem ou mulher que escreve histórias de terror tem um canal que vai mais longe, talvez... até o sub-subconsciente, podemos dizer.
Era uma resposta elegante, mas ele jamais acreditara nela. Subconsciente? Bem, havia alguma coisa lá dentro, sim, mas Bill achava que as pessoas faziam alarde demais por uma função que devia ser o equivalente mental de olhos lacrimejando quando caía poeira neles ou soltar gases uma hora depois de um jantar exagerado. A segunda metáfora provavelmente era a melhor, mas não se podia dizer para entrevistadores que, no que dizia respeito a você, coisas como sonhos e lembranças vagas e sensações como déjà-vu não passavam de um bando de peidos mentais. Mas eles pareciam precisar de alguma coisa, todos aqueles repórteres com caderninhos e gravadores japoneses, e Bill queria ajudá-los o máximo que pudesse. Ele sabia que escrever era um trabalho difícil, um trabalho muito difícil. Não havia necessidade de tornar o deles ainda mais difícil ao dizer “Meu amigo, daria no mesmo você me perguntar ‘Quem cortou o queijo?’ e pronto.”
Agora, ele pensou: você sempre soube que estavam fazendo as perguntas erradas, mesmo antes de Mike ligar; agora você também sabe qual era a pergunta certa. Não de onde você tira as ideias, mas por que tem essas ideias. Havia um canal, claro, mas não era nem a versão freudiana nem a junguiana do subconsciente que jorrava por ele; nenhum sistema de drenagem interior da mente, nenhuma caverna subterrânea cheia de Morlocks esperando para agir. Não havia nada do outro lado do canal além de Derry. Só Derry. E...
... e quem é esse, caminhando na minha ponte?
Ele se senta ereto de repente, e desta vez é o cotovelo dele que foge ao controle; ele afunda na lateral do vizinho gordo de assento por um momento.
— Cuidado, amigo — diz o homem gordo. — É apertado aqui, sabe?
— Se você parar de me cutucar com o seu, eu tento parar de cu-cutucar com o m-meu.
O homem gordo faz um olhar azedo, incrédulo, como quem diz “de que você está falando?” Bill simplesmente olha para ele até o homem gordo afastar o olhar resmungando.
Quem está aí?
Quem está caminhando na minha ponte?
Ele olha pela janela de novo e pensa: Estamos vencendo o diabo.
Seus braços e nuca ficam arrepiados. Ele toma o resto do drinque de um gole só. Outra daquelas luzes intensas se acendeu.
Silver. Sua bicicleta. Era assim que ele a chamava, em homenagem ao cavalo do Cavaleiro Solitário. Era uma Schwinn grande, com 70 centímetros de altura. “Você vai se matar nisso, Billy”, dissera seu pai, mas sem preocupação real na voz. Ele demonstrava pouca preocupação com qualquer coisa desde a morte de George. Antes, ele era durão. Justo, mas durão. Depois, dava para enrolá-lo. Ele fazia gestos paternais, fazia coisas paternais, mas eram apenas gestos e coisas. Era como se ele estivesse sempre prestando atenção para ver se George voltaria para casa.
Bill a tinha visto na vitrine da loja Bike and Cycle na rua Center. Estava apoiada tristemente no descanso, maior do que a maior das outras em exibição, sem brilho nas partes em que as outras brilhavam, reta nas partes em que as outras eram curvas, dobrada em partes em que as outras eram retas. Preso no pneu da frente. havia um cartaz:
USADA
Faça uma proposta
O que aconteceu foi que Bill entrou e o dono fez uma proposta a ele, que aceitou (ele não saberia negociar com o dono da loja nem que sua vida dependesse disso), e o preço que o homem pediu, 24 dólares, pareceu justo para Bill; até mesmo generoso. Ele pagou por Silver com dinheiro que vinha guardando havia sete ou oito meses: dinheiro de aniversário, dinheiro de Natal, dinheiro de cortar grama. Ele vinha reparando na bicicleta na vitrine desde o Dia de Ação de Graças. Bill pagou por ela e empurrou para casa assim que a neve começou a derreter de vez. Era engraçado, porque ele nunca havia pensado muito em ter uma bicicleta até o ano anterior. A ideia pareceu surgir em sua mente de repente, talvez em um dos dias infinitos depois que George morreu. Foi assassinado.
No começo, Bill quase se matou mesmo. A primeira volta na bicicleta nova terminou com Bill derrubando-a de propósito para não ir de cara em uma cerca no final da travessa Kossuth (ele não estava com tanto medo de bater na cerca, e sim de quebrá-la e cair 18 metros até o Barrens). Ele escapou dessa aventura com um corte de 12 centímetros entre o pulso e o cotovelo do braço esquerdo. Menos de uma semana depois, viu-se incapaz de frear rápido o bastante e disparou pelo cruzamento da Witcham com a Jackson a talvez 55 quilômetros por hora, um garotinho em uma bicicleta cinza-escura mastondôntica (Silver era prateada apenas pelo alcance energético de uma imaginação predisposta), com cartas de baralho fuzilando os raios das rodas da frente e de trás em um rugido regular, e se um carro estivesse vindo, ele estaria morto. Como Georgie.
Ele ganhou o controle de Silver aos poucos conforme a primavera avançava. Nenhum dos pais reparou durante esse tempo que ele estava cortejando a morte em uma bicicleta. Ele pensou que, depois de alguns dias, eles pararam de ver a bicicleta; para eles, era apenas uma velharia com tinta lascada que ficava encostava na parede da garagem em dias chuvosos.
Mas Silver era bem mais do que uma velharia poeirenta. Ela não parecia grande coisa, mas voava como o vento. O amigo de Bill, seu único amigo de verdade, era um garoto chamado Eddie Kaspbrak, e Eddie era bom com coisas mecânicas. Ele mostrou a Bill como colocar Silver em forma: que parafusos apertar e verificar regularmente, onde lubrificar a corrente, como apertá-la, como fazer um remendo em pneu furado.
— Você devia pintar ela — ele se lembrava de Eddie dizer um dia, mas Bill não queria pintar Silver. Por motivos que não sabia explicar para si mesmo, ele queria que a Schwinn ficasse do jeito que era. A bicicleta era um trambolho, do tipo que um garoto descuidado deixava com frequência no gramado na chuva, uma bicicleta que só devia fazer barulhos, sacudir e frear mal. Parecia um trambolho, mas voava como o vento. Ela...
— Ela venceria o diabo — diz ele em voz alta e ri. Seu vizinho gordo de assento olha para ele com severidade; a gargalhada tem uma qualidade de uivo que deu arrepios em Audra mais cedo.
Sim, ela parecia muito vagabunda, com a tinta velha e a garupa antiquada acima da roda traseira e a buzina com um bulbo de borracha preta; aquela buzina estava soldada de maneira permanente ao guidão com um parafuso enferrujado do tamanho do punho de um bebê. Bem vagabunda.
Mas Silver conseguia andar? Conseguia? Cristo!
E era uma coisa muito boa, porque Silver salvou a vida de Bill Denbrough na quarta semana de junho de 1958, a semana depois que ele conheceu Ben Hanscom, a semana depois que ele, Ben e Eddie construíram a represa, a semana em que Ben, Richie “Boca de Lixo” Tozier e Beverly Marsh apareceram no Barrens depois da matinê de sábado. Richie estava atrás, na garupa, no dia em que Silver salvou a vida de Bill... então ele supunha que Silver havia salvado a de Richie também. E ele se lembrava da casa da qual eles estavam fugindo. Lembrava muito bem. Aquela casa maldita na rua Neibolt.
Ele correu para vencer o diabo naquele dia, ah, sim, com certeza, não tenha a menor dúvida. Um diabo com olhos tão brilhantes quanto moedas velhas e mortais. Um diabo peludo com a boca cheia de dentes sangrentos. Mas tudo isso veio depois. Se Silver salvou a vida dele e de Richie naquele dia, então talvez tenha salvado a de Eddie Kaspbrak no dia em que Bill e Eddie conheceram Ben ao lado dos restos destruídos da represa no Barrens. Henry Bowers, com aparência de quem tinha sido jogado em um latão de lixo, tinha quebrado o nariz de Eddie; a asma atacou com tudo e sua bombinha estava vazia. Assim, foi Silver naquele dia também, Silver ao resgate.
Bill Denbrough, que não subia em uma bicicleta havia quase 17 anos, olha pela janela de um avião no qual ninguém teria acreditado, nem mesmo imaginado fora de uma revista de ficção científica, no ano de 1958. Hi-yo Silver, VAMOOOS!, pensa ele, e tem que fechar os olhos para lutar contra o ardor repentino das lágrimas.
O que aconteceu com Silver? Ele não consegue lembrar. Aquela parte da história ainda está escura; esse holofote ainda precisa ser aceso. Talvez seja melhor assim. Talvez seja um ato de misericórdia.
Hi-yo.
Hi-yo Silver.
Hi-yo Silver
— VAMOOOS — gritou ele. O vento jogou as palavras por cima de seu ombro como uma fita de papel crepom. Elas saíram altas e fortes, as palavras, com um rugido triunfante. Foram as únicas a sair assim.
Ele pedalou pela rua Kansas na direção da cidade, ganhando velocidade aos poucos. Silver deslizava quando pegava embalo, mas pegar embalo dava trabalho. Ver a bicicleta cinza pegar velocidade era um pouco como ver um avião grande na pista de decolagem. No começo, você não conseguia acreditar que uma engenhoca tão grande e bamboleante conseguiria sair do chão, a ideia era absurda. Mas então você conseguia ver a sombra embaixo dele, e antes de ter tempo de se perguntar se era miragem, a sombra estava atrás do avião e ele estava voando, abrindo espaço no ar, tão reluzente e gracioso quanto um sonho em uma mente satisfeita.
Silver era assim.
Bill chegou a uma ligeira descida e começou a pedalar mais rápido, com as pernas trabalhando enquanto ele inclinava o corpo sobre o quadro. Ele aprendera muito rapidamente, depois de ser atingido pelo quadro no pior lugar em que um menino pode ser atingido, a puxar a cueca para o mais alto que conseguia quando montava em Silver. No final do verão, ao observar esse processo, Richie diria: Bill faz isso porque acha que pode ter filhos que sobrevivam um dia. Parece uma má ideia, mas, ei! Eles sempre podem puxar a mãe, certo?
Ele e Eddie haviam baixado o assento o máximo possível, e agora ele batia e arranhava a lombar enquanto pedalava. Uma mulher arrancando ervas daninhas do jardim encobriu os olhos para vê-lo passar. Ela sorriu um pouco. O garoto na bicicleta enorme a lembrou um macaco que ela já vira em um monociclo no circo Barnum e Bailey. Mas ele pode acabar se matando, pensou ela, voltando a atenção para o jardim. Aquela bicicleta é grande demais para ele. Só que não era da conta dela.
Bill era sensato demais para discutir com os garotos grandes quando eles surgiram no mato parecendo caçadores mal-humorados atrás de um animal que já havia ferido um deles. Mas Eddie abriu a boca impulsivamente, e Henry Bowers descontou nele.
Bill sabia bem quem eles eram; Henry, Arroto e Victor eram os piores garotos da escola Derry. Eles já tinham dado uma surra ou duas em Richie Tozier, com quem Bill às vezes brincava. Do ponto de vista de Bill, era em parte culpa de Richie; ele não era conhecido como Boca de Lixo por nada.
Um dia em abril, Richie disse alguma coisa sobre as golas deles quando os três estavam passando no pátio da escola. As golas estavam levantadas, como a de Vic Morrow em Sementes da violência. Bill, que estava sentado junto à parede do prédio que havia ali perto jogando bolas de gude, não pegou tudo que foi dito. Nem Henry e seus amigos... mas eles ouviram o bastante para se virar na direção de Richie. Bill achava que Richie pretendia dizer o que fosse em voz baixa. O problema era que Richie não tinha voz baixa.
— O que você disse, nerd quatro olhos? — perguntou Victor Criss.
— Não falei nada — disse Richie, e essa negação, junto com seu rosto, que parecia sensatamente consternado e assustado, poderia ter encerrado tudo. Só que a boca de Richie era um cavalo meio selvagem que tinha talento de fugir sem motivo nenhum. Ele acrescentou de repente: — Você devia tirar a cera do ouvido, grandão. Quer um pouco de pólvora?
Eles ficaram olhando com incredulidade por um momento, depois saíram correndo atrás dele. Bill Gago viu a corrida desigual do começo ao final previsível de onde estava, na lateral do prédio. Não fazia sentido se envolver; os três idiotas ficariam felizes em dar surra em dois garotos pelo preço de um.
Richie correu na diagonal pelo parquinho dos pequenos, pulando sobre gangorras e desviando de balanços, dando-se conta de que havia corrido para um beco sem saída apenas quando bateu na cerca de arame entre o parquinho e o parque ao lado da escola. Então ele tentou subir a cerca, com dedos se agarrando e pontas de tênis procurando apoio, e estava a dois terços do caminho até o topo quando Henry e Victor o puxaram para baixo, Henry segurando pelas costas da jaqueta e Victor segurando o traseiro da calça. Richie estava gritando quando o agarraram na cerca. Ele bateu no asfalto com as costas. Seus óculos voaram. Ele esticou a mão para pegá-los, e Arroto Huggins os chutou para longe, e era por isso que uma das lentes estava remendada com fita adesiva no verão.
Bill fez uma careta e andou até a frente do prédio. Ele observou a sra. Moran, uma das professoras do quarto ano, já correndo para apartar a briga, mas ele sabia que eles bateriam muito em Richie até lá, e quando ela chegasse, Richie estaria chorando. Bebê chorão, bebê chorão, olha só o bebê chorão.
Bill só tinha tido problemas pequenos com eles. Eles debochavam de sua gagueira, é claro. Uma crueldade aleatória ocasional fazia parte das brincadeiras; um dia chuvoso, quando eles estavam indo almoçar no ginásio, Arroto Huggins derrubou o saco com o almoço de Bill e pisou em cima com a bota, esmagando tudo que havia dentro.
— Ah, n-n-nossa! — gritou Arroto com horror falso, levantando as mãos e balançando ao redor do rosto. — De-de-desculpa por causa do seu al-al-almoço, cara de ma-ma-merda. — E saiu andando pelo corredor em direção ao local em que Victor Criss estava, recostado no bebedouro do lado de fora do banheiro masculino, rindo até quase ter uma hérnia. Mas isso não foi tão ruim; Bill comeu metade de um sanduíche de creme de amendoim com geleia de Eddie Kaspbrak, e Richie ficou feliz em lhe dar seu ovo cozido, que sua mãe colocava como almoço a cada dois dias e que lhe dava ânsia de vômito, dizia ele.
Mas você tinha que ficar longe do caminho deles, e se não conseguisse fazer isso, tinha que tentar ser invisível.
Eddie esqueceu as regras, então eles bateram nele.
Ele não estava muito mal até os garotos grandes descerem o rio e passarem para o outro lado, apesar de o nariz estar sangrando como um chafariz. Quando o lenço de Eddie estava encharcado, Bill deu a ele o seu e o fez colocar uma das mãos na nuca e inclinar a cabeça para trás. Bill conseguia se lembrar da mãe mandando Georgie fazer isso, porque Georgie às vezes tinha sangramentos nasais...
Ah, mas doía muito pensar em Georgie.
Só quando o som do progresso animal dos garotos grandes pelo Barrens morreu e o sangramento do nariz de Eddie parou foi que a asma ficou ruim. Ele começou a arfar em busca de ar, com as mãos se abrindo e fechando como armadilhas, a respiração apitando na garganta.
— Merda! — ofegou Eddie. — Asma! Porcaria!
Ele tateou em busca do aspirador e acabou conseguindo tirá-lo do bolso. Parecia quase um frasco de limpa-vidros, do tipo que tem o acessório de spray em cima. Ele o enfiou na boca e apertou o gatilho.
— Melhor? — perguntou Bill com ansiedade.
— Não. Está vazio. — Eddie olhou para Bill com um pânico nos olhos que dizia me ferrei, Bill! Me ferrei!
A bombinha vazia rolou para longe da mão dele. O riacho continuou a correr, sem se importar nem um pouco por Eddie Kaspbrak mal conseguir respirar. Bill pensou aleatoriamente que os garotos grandes estavam certos sobre uma coisa: era mesmo uma represa de bebê. Mas eles estavam se divertindo, droga, e ele sentiu uma fúria cega e repentina pelo fato de a situação ter chegado a isso.
— Pe-pe-pega leve, E-Eddie — disse ele.
Nos quarenta minutos seguintes, mais ou menos, Bill ficou sentado ao lado dele, com a expectativa de que o ataque de asma de Eddie fosse a qualquer momento diminuir gradualmente, passando a desconforto. Quando Ben Hanscom apareceu, o desconforto tinha virado medo real. A asma não apenas não estava cedendo; estava piorando. E a Center Street Drug, onde Eddie comprava o medicamento, ficava a quase 5 quilômetros. E se ele fosse buscar o remédio de Eddie e o encontrasse inconsciente quando voltasse? Inconsciente ou
(não merda por favor não pense isso)
ou mesmo morto, insistia sua mente implacavelmente.
(como Georgie morto como Georgie)
Não seja um babaca! Ele não vai morrer!
Não, provavelmente não. Mas e se ele voltasse e encontrasse Eddie em coma? Bill sabia tudo sobre comas; tinha até deduzido que o nome era esse porque era um estado em que o nada comia seu cérebro. Em programas de médicos como Ben Casey, as pessoas sempre entravam em coma, e às vezes permaneciam assim apesar de todos os gritos mal-humorados de Ben Casey.
Assim, ele ficou ali sentado, sabendo que tinha que ir, pois não poderia ajudar Eddie em nada ao ficar aqui, mas sem querer deixá-lo sozinho. Uma parte irracional e supersticiosa dele tinha certeza de que Eddie entraria em coma no minuto que ele, Bill, virasse as costas. E então, ele olhou riacho acima e viu Ben Hanscom ali de pé. Ele sabia quem Ben era, é claro; o garoto mais gordo em qualquer escola tinha sua própria espécie de notoriedade infeliz. Ben era da outra turma de quinto ano. Bill às vezes o via no recreio, de pé sozinho, normalmente em um canto, olhando para um livro e comendo o almoço que levava em um saco do tamanho de um saco de lavanderia.
Ao olhar para Ben agora, Bill achou que ele estava pior até do que Henry Bowers. Era difícil de acreditar, mas verdade. Bill não conseguia começar a imaginar a luta cataclísmica em que esses dois devem ter se envolvido. O cabelo de Ben estava espetado e coberto de terra. O suéter ou moletom dele (era difícil saber o que era no começo do dia, e sem dúvida não importava agora) estava destruído, manchado com uma mistura de sangue e grama. Sua calça estava puída no joelho.
Ele viu Bill olhando para ele e se encolheu um pouco, com olhos cautelosos.
— Na-na-na-não v-v-vai! — gritou Bill. Ele ergueu as mãos vazias, com as palmas para fora, para mostrar que era inofensivo. — Nós pa-pa-precisamos de a-a-ajuda.
Ben chegou mais perto, ainda cauteloso. Ele andava como se uma ou as duas pernas estivessem doendo muito.
— Eles foram embora? Bowers e os outros caras?
— F-foram — disse Bill. — Escuta, v-você, pa-pode ficar com meu a-amigo enquanto vou buscar o re-remédio dele? Ele tem a-a-a-a...
— Asma?
Bill assentiu.
Ben desceu pelo resquício da barragem e caiu dolorosamente de joelhos ao lado de Eddie, que estava deitado de costas com os olhos fechados e o peito arfando.
— Qual bateu nele? — perguntou Ben por fim. Ele olhou para cima, e Bill viu no rosto do menino gordo a mesma raiva frustrada que estava sentindo. — Foi Henry Bowers?
Bill assentiu.
— Faz sentido. Claro, vai. Eu fico com ele.
— O-o-obrigado.
— Ah, não me agradeça — disse Ben. — Sou o motivo de eles terem partido pra cima de vocês. Vai. Anda logo. Tenho que ir pra casa jantar.
Bill foi sem dizer mais nada. Teria sido bom dizer para Ben não levar tão a sério; o que aconteceu foi culpa de Ben tanto quanto foi de Eddie, pela burrice de abrir a boca. Caras como Henry e seus amigos eram um acidente prestes a acontecer a qualquer momento; a versão infantil de enchentes, tornados e pedras na vesícula. Teria sido bom dizer isso, mas ele estava tão tenso naquele momento que levaria uns 20 minutos, e até lá Eddie já poderia ter entrado em coma (isso foi outra coisa que Bill aprendeu com os doutores Casey e Kildare; as pessoas nunca ficavam em coma, elas sempre entravam em coma).
Ele correu riacho abaixo e olhou para trás uma vez. Viu Ben Hanscom juntando pedras na beirada da água. Por um momento, Bill não conseguiu entender o que ele estava fazendo, mas então, tudo ficou claro. Era uma pilha de munição. Para o caso de eles voltarem.
O Barrens não era mistério para Bill. Ele tinha brincado muito ali naquela primavera, às vezes com Richie, mais vezes com Eddie, às vezes sozinho. Não havia explorado toda a área, mas conseguia voltar até a rua Kansas a partir do Kenduskeag sem problema, e foi o que fez. Ele chegou a uma ponte de madeira onde a rua Kansas atravessava um dos pequenos riachos sem nome que saíam do sistema de drenagem de Derry para se juntar ao Kenduskeag abaixo. Silver estava presa debaixo dessa ponte, com o guidão amarrado aos pilares com uma tira de corda, para manter as rodas fora da água.
Bill soltou a corda, prendeu na camisa e levou Silver até a calçada pelo uso de força, ofegando e suando; perdeu o equilíbrio duas vezes, caindo de traseiro no chão.
Mas finalmente ela estava de pé. Bill passou a perna pelo quadro.
E como sempre, quando ele estava sobre Silver, ele se tornava outra pessoa.
— Hi-yo Silver, VAMOOOS!
As palavras saíram mais graves do que sua voz normal; era quase a voz do homem que ele se tornaria. Silver ganhou velocidade lentamente, com o estalo baixo das cartas de baralho nas rodas da bicicleta marcando o ritmo. Bill ficou de pé nos pedais, com as mãos firmes no guidão, com os punhos virados para cima. Ele parecia um homem tentando levantar um halter incrivelmente pesado. Tendões saltavam em seu pescoço. Veias pulsavam em suas têmporas. Sua boca estava virada para baixo em uma careta trêmula de esforço enquanto ele lutava a batalha familiar contra o peso e a inércia, numa explosão para botar Silver em movimento.
Como sempre, o esforço valeu a pena.
Silver começou a correr quase bruscamente. Casas deslizaram de forma suave em vez de surgindo uma a uma. À sua esquerda, onde a rua Kansas cortava a Jackson, o Kenduskeag livre se tornava o canal. Depois do cruzamento, a rua Kansas seguia rapidamente colina abaixo na direção da Center e da Main, a área comercial de Derry.
Ruas se cruzavam com frequência aqui, mas elas todas tinham placas de PARE que funcionavam a favor de Bill, e a possibilidade de um motorista um dia desrespeitar uma dessas placas e esmagá-lo até virar uma sombra sangrenta na rua nunca passou pela mente dele. É improvável que ele mudasse o caminho mesmo se tivesse pensado. Talvez fizesse isso mais cedo ou mais tarde na vida, mas esta primavera e começo de verão foram um momento agitado e estranho para ele. Ben ficaria atônito se alguém lhe perguntasse se ele era solitário; Bill ficaria igualmente atônito se alguém lhe perguntasse se ele estava cortejando a morte. É c-c-claro que n-não!, ele teria respondido imediatamente (e com indignação), mas isso não mudava o fato de que suas disparadas pela rua Kansas até a cidade se tornaram cada vez mais voos banzai conforme o tempo esquentava.
Essa parte da rua Kansas era conhecida como colina Up-Mile. Bill a encarou a toda velocidade, inclinado sobre o guidão de Silver para cortar a resistência do vento, com uma das mãos sobre o bulbo de borracha da buzina para avisar os desatentos, o cabelo ruivo voando da cabeça em uma onda. O estalo das cartas tinha virado um rugido firme. A careta de esforço tinha se tornado um sorriso bobo. As residências à direita cederam lugar a prédios comerciais (armazéns e frigoríficos, em sua maioria) que voavam em uma rapidez apavorante, mas satisfatória. À esquerda, o canal era um piscar de fogo no canto do olho dele.
— HI-YO SILVER, VAMOOOS! — gritou ele com triunfo.
Silver voou pelo primeiro meio-fio, e como sempre acontecia nesse ponto, seus pés perderam o contato com o pedal. Ele estava desenfreado, agora completamente no colo de qualquer deus que tivesse recebido a tarefa de proteger garotinhos. Ele entrou na rua, indo a talvez 25 quilômetros por hora acima do limite de 40.
Tudo estava para trás agora: a gagueira, os olhos sofridos e vazios do pai enquanto mexia na oficina da garagem, a visão terrível da poeira sobre a tampa do piano no andar de cima; com poeira porque sua mãe não tocava mais. A última vez foi no enterro de George, três hinos metodistas. George saindo na chuva, usando a capa amarela, carregando o barquinho de jornal com o brilho de parafina; o sr. Gardener subindo a rua 20 minutos depois com o corpo dele enrolado em uma colcha manchada de sangue; o grito sofrido da mãe. Tudo para trás. Ele era o Cavaleiro Solitário, era John Wayne, era Bo Diddley, era qualquer pessoa que quisesse ser e ninguém que chorava e tinha medo e queria a ma-ma-mãe.
Silver voou e Bill Gago Denbrough voou com ela; a sombra de guindaste voou atrás deles. Eles correram pela colina Up-Mile juntos; as cartas de baralho rugiram. Os pés de Bill alcançaram os pedais de novo e ele começou a pedalar, querendo ir até mais rápido, querendo chegar a uma velocidade hipotética, não do som, mas da lembrança, e quebrar a barreira da dor.
Ele continuou disparado, inclinado sobre o guidão; correu para vencer o diabo.
A interseção de três ruas, a Kansas, a Center e a Main, estava se aproximando rápido. Era um horror de tráfego de mão única, placas conflitantes e sinais de trânsito que deviam ser sincronizados, mas não eram. O resultado, como proclamara um editorial do Derry News no ano anterior, era uma rotatória concebida no inferno.
Como sempre, os olhos de Bill seguiram para a direita e para a esquerda rapidamente, avaliando o fluxo do trânsito e procurando buracos. Se sua avaliação estivesse errada, se ele gaguejasse, poderia se dizer, ele ficaria muito ferido ou morreria.
Ele disparou em meio ao trânsito lento que se amontoava no cruzamento, furou um sinal vermelho e desviou para a direita a fim de evitar um Buick desajeitado. Lançou um olhar rápido por cima do ombro para ter certeza de que a pista do meio estava vazia. Olhou para a frente de novo e viu que em cerca de cinco segundos ia bater na traseira de uma picape que tinha parado no meio do cruzamento enquanto o tipo simpático que dirigia girava o pescoço para ler todas as placas e ter certeza de não ter tomado uma entrada errada que o levou a Miami Beach.
A pista à direita de Bill estava tomada por um ônibus intermunicipal Derry-Bangor. Ele seguiu naquela direção mesmo assim e passou no espaço entre a picape parada e o ônibus, ainda seguindo a 65 quilômetros por hora. No último segundo, ele virou a cabeça com força para um dos lados, como um soldado seguindo o comando de olhar para a direita com entusiasmo demais, para impedir que o espelho do lado do passageiro da picape rearrumasse seus dentes. Fumaça quente do diesel do ônibus rasgou sua garganta como uma dose de bebida forte. Ele ouviu um guinchar agudo quando um dos punhos da bicicleta desenhou uma linha na lateral de alumínio do ônibus. Bill teve um vislumbre do motorista, com o rosto branco como papel sob o quepe da Hudson Bus Company. O motorista estava sacudindo o punho para Bill e gritando alguma coisa. Bill duvidava que fosse feliz aniversário.
Havia um trio de senhoras atravessando a rua Main do lado do banco New England para o lado do The Shoeboat. Elas ouviram o som implacável das cartas e ergueram o olhar. Seus queixos caíram quando um garoto em uma enorme bicicleta passou a 15 centímetros delas como uma miragem.
O pior (e o melhor) da viagem estava para trás agora. Ele contemplara a verdadeira possibilidade de sua própria morte uma vez atrás da outra e se viu capaz de afastar o olhar. O ônibus não o esmagou; ele não se matou nem às três senhoras com as sacolas da Freese’s e cheques do Seguro Social; não foi esmagado na traseira da picape Dogde do homem simpático. Estava subindo a ladeira de novo, a toda velocidade. Alguma coisa (podemos chamar de desejo, era bom o bastante, não?) o acompanhava a toda também. Todos os pensamentos e lembranças o estavam alcançando (oi, Bill, nossa, quase te perdemos de vista ali atrás, mas aqui estamos nós), juntando-se a ele, subindo pela camisa, entrando em sua orelha e invadindo o cérebro como garotinhos descendo por um escorrega. Ele conseguia senti-los se ajeitando em seus locais de costume, com corpos febris empurrando uns aos outros. Nossa! Uau! Aqui estamos dentro da cabeça de Bill de novo! Vamos pensar em George! Certo! Quem quer começar?
Você pensa demais, Bill.
Não, esse não era o problema. O problema era que ele imaginava demais.
Ele entrou na travessa Richard e saiu na rua Center alguns momentos depois, pedalando devagar, sentindo o suor nas costas e no cabelo. Desceu de cima de Silver em frente à Center Street Drug Store e entrou.
Antes da morte de George, Bill teria transmitido os pontos principais para o sr. Keene falando com ele. O farmacêutico não era exatamente gentil, ou pelo menos Bill achava que não, mas era bem paciente, e não provocava nem debochava. Mas agora a gagueira de Bill estava bem pior, e ele realmente tinha medo de alguma coisa acontecer com Eddie se ele não fosse rápido.
Então, quando o sr. Keene disse “Oi, Billy Denbrough, posso ajudar?”, Bill pegou um folheto de propaganda de vitaminas, virou-o e escreveu atrás: Eddie Kaspbrak e eu estávamos brincando no Barrens. Ele teve um ataque forte de asma, mal consegue respirar. O senhor pode me dar um refil da bombinha dele?
Ele empurrou o bilhete por cima do balcão de vidro para o sr. Keene, que leu, olhou para os olhos ansiosos de Bill e disse:
— É claro. Espere aqui, e não mexa em nada que não deve.
Bill se equilibrou com impaciência de um pé para o outro enquanto o sr. Keene mexia na bancada de trás. Apesar de ele ter demorado menos de 5 minutos, pareceu uma eternidade até voltar com um dos vidros de plástico de Eddie. Ele entregou para Bill, sorriu e disse:
— Isso deve resolver.
— O-o-o-obrigado — disse Bill. — Não t-tenho di-di-di...
— Tudo bem, filho. A sra. Kaspbrak tem conta aqui. Vou acrescentar à conta dela. Tenho certeza de que ela vai querer agradecer pela gentileza.
Muito aliviado, Bill agradeceu ao sr. Keene e saiu rapidamente. O sr. Keene contornou o balcão para vê-lo ir embora. Ele viu Bill jogar a bombinha na cesta da bicicleta e montar desajeitadamente. Ele consegue mesmo andar numa bicicleta grande assim?, perguntou-se o sr. Keene. Duvido. Duvido muito. Mas o garoto Denbrough colocou a bicicleta em movimento sem cair de cabeça e saiu pedalando lentamente. A bicicleta, que para o sr. Keene parecia uma piada, balançou de um lado para outro. A bombinha rolou pela cesta.
O sr. Keene sorriu um pouco. Se Bill tivesse visto aquele sorriso, teria sido uma boa maneira de confirmar sua ideia de que o sr. Keene não era um dos campeões do mundo em gentileza. Foi azedo, o sorriso de um homem que vê muito com que se maravilhar, mas quase nada para valorizar na condição humana. Sim, ele acrescentaria a medicação de Eddie à conta de Sonia Kaspbrak, e, como sempre, ela ficaria surpresa e desconfiada em vez de grata, com o quanto o remédio era barato. Outros remédios eram tão preciosos, ela dizia. O sr. Keene sabia que a sra. Kaspbrak era uma daquelas pessoas que não acreditavam que coisas baratas podiam fazer algum bem. Ele realmente poderia ter arrancado dinheiro dela pelo HydrOx Mist do filho dela, e houve ocasiões em que ficou tentado... mas por que ele deveria se deixar fazer parte da tolice da mulher? Não estava passando fome nem nada.
Barato? Ah, sim. HydrOx Mist (Administrar conforme necessário vinha digitado em cada etiqueta autocolante que ele grudava em cada bombinha) era maravilhosamente barato, mas até a sra. Kaspbrak estava disposta a admitir que controlava muito bem a asma do filho, apesar disso. Era barato porque não era nada além de uma combinação de hidrogênio e oxigênio, com um toque de cânfora para dar um leve gosto medicinal ao spray.
Em outras palavras, o remédio de asma de Eddie era água de torneira.
Bill demorou mais tempo para voltar porque estava subindo a ladeira. Em vários locais, precisou descer e empurrar Silver. Ele não tinha a força muscular necessária para manter a bicicleta em movimento em ladeiras mais do que medianas.
Depois que acabou de prender a bicicleta e caminhou até o rio, eram 16h10. Todos os tipos de suposições terríveis cruzavam sua cabeça. O garoto Hanscom teria ido embora e deixado Eddie para morrer. Ou os valentões poderiam ter voltado e dado uma surra nos dois. Ou... pior de tudo... o homem cuja atividade era assassinar garotos poderia ter capturado um ou os dois. Como fez com George.
Ele sabia que houvera muita fofoca e especulação sobre isso. Bill gaguejava muito, mas não era surdo, embora as pessoas às vezes parecessem pensar que era, pois ele só falava quando absolutamente necessário. Algumas pessoas achavam que o assassinato de seu irmão não tinha relação nenhuma com os assassinatos de Betty Ripsom, Cheryl Lamonica, Matthew Clements e Veronica Grogan. Outros alegavam que George, Ripsom e Lamonica foram mortos por um homem, e os outros dois eram produto de um “assassino imitador”. Uma terceira linha de pensamento dizia que os garotos foram mortos por um homem enquanto as garotas, por outro.
Bill acreditava que todos foram mortos pela mesma pessoa... se é que era uma pessoa. Ele às vezes se questionava quanto a isso. Assim como às vezes se questionava quanto aos seus sentimentos por Derry neste verão. Seria ainda o resultado da morte de George, da forma como os pais pareciam ignorá-lo agora, tão perdidos na dor pelo filho mais novo que não conseguiam ver o simples fato de que Bill ainda estava vivo e poderia estar sofrendo também? Essas coisas em combinação com os outros assassinatos? As vozes que às vezes pareciam falar em sua cabeça agora, sussurrando para ele (e certamente não eram variações de sua própria voz, pois elas não gaguejavam; eram baixas, mas seguras), aconselhando-o a fazer certas coisas, mas não outras? Seriam essas coisas que tornavam Derry um tanto diferente agora? Meio ameaçadora, com ruas inexploradas que não convidavam, mas pareciam bocejar em uma espécie de silêncio agourento? Que faziam alguns rostos parecerem secretos e assustados?
Ele não sabia, mas acreditava (assim como acreditava que todos os assassinatos eram obra de um único agente) que Derry realmente havia mudado, e que a morte de seu irmão sinalizara o começo dessa mudança. As suposições negras em sua mente vinham da ideia furtiva de que qualquer coisa poderia acontecer em Derry agora. Qualquer coisa.
Mas quando ele dobrou a última curva, tudo parecia bem. Ben Hanscom ainda estava lá, sentado ao lado de Eddie. Eddie estava sentado agora, com as mãos no colo, a cabeça baixa, ainda arfando. O sol tinha baixado o bastante para projetar longas sombras verdes no rio.
— Cara, isso foi rápido — disse Ben, ficando de pé. — Eu esperava que você fosse demorar mais meia hora.
— Tenho uma bi-bicicleta ra-rápida — disse Bill com orgulho. Por um momento, os dois se olharam com cautela, precavidos. Mas então Ben sorriu com hesitação, e Bill retribuiu. O garoto era gordo, mas parecia legal. E ficou lá até o fim. Ele deve ter precisado de coragem para isso, com Henry e seus amigos delinquentes juvenis talvez ainda andando por aí, pelo mato.
Bill piscou para Eddie, que estava olhando para ele com gratidão cega.
— A-aqui est-tá, E-E-Eddie. — Ele jogou a bombinha. Eddie enfiou na boca aberta, apertou e ofegou convulsivamente. Em seguida, se inclinou para trás de olhos fechados. Ben assistiu com preocupação.
— Nossa! Ele está mal mesmo, né?
Bill assentiu.
— Fiquei com medo por um tempo — disse Ben com voz baixa. — Fiquei me perguntando o que fazer se ele tivesse uma convulsão, sei lá. Fiquei tentando me lembrar das coisas que falaram naquela reunião da Cruz Vermelha em abril. Só conseguia me lembrar de botar um graveto na boca dele pra ele não morder a língua.
— Acho que isso é pra e-e-epilepsia.
— Ah. É, acho que você está certo.
— Ele n-não vai ter uma co-co-convulsão mesmo — disse Bill. — Esse re-re-remédio vai dar um j-jeito nele. O-Olha.
A respiração pesada de Eddie melhorou. Ele abriu os olhos e observou os dois.
— Obrigado, Bill — disse ele. — Essa foi um saco.
— Acho que começou quando esmagaram seu nariz, né? — perguntou Ben.
Eddie riu com tristeza, ficou de pé e enfiou a bombinha no bolso de trás.
— Eu não estava nem pensando no meu nariz. Estava pensando na minha mãe.
— É? Sério? — Ben pareceu surpreso, mas sua mão foi até os trapos do moletom e começou a mexer neles com nervosismo.
— Ela vai dar uma olhada na minha camisa manchada de sangue e me arrastar pro PronSocorro de Derry Home em 5 segundos.
— Por quê? — perguntou Ben. — Parou, não parou? Nossa, eu me lembro de um garoto que era da minha turma no jardim, Scooter Morgan, e o nariz dele sangrou quando ele caiu do trepa-trepa. Levaram ele pro PronSocorro, mas só porque não parava de sangrar.
— É? — perguntou Bill com interesse. — Ele mo-mo-morreu?
— Não, mas faltou escola uma semana.
— Não importa se parou ou não — disse Eddie com tristeza. — Ela vai me levar de qualquer jeito. Vai achar que está quebrado e que tem pedaços de osso enfiados no meu cérebro, alguma coisa assim.
— É po-po-possível entrar osso no s-s-cérebro? — perguntou Bill. Isso estava virando a conversa mais interessante que ele tinha em semanas.
— Não sei. Se você ouvir minha mãe, pode ter qualquer coisa. — Eddie se virou para Ben de novo. — Ela me leva pro PronSocorro uma ou duas vezes por mês. Odeio aquele lugar. Tinha um atendente uma vez, sabe? Ele disse pra ela que devia fazer ela pagar aluguel. Ela ficou fula da vida.
— Uau — disse Ben. Ele achava que a mãe de Eddie devia ser muito estranha. Não estava ciente do fato de que agora suas duas mãos estavam remexendo nos restos do moletom. — Por que você não apenas diz não? Diz alguma coisa como “Ei, mãe, estou legal, só quero ficar em casa e ver Aventura submarina”. Assim.
— Ahhh — disse Eddie com desconforto, depois não falou mais nada.
— Você é Ben Há-Há-Hanscom, n-né? — perguntou Bill.
— Sou. Você é Bill Denbrough.
— S-sou. E este é E-E-E-E-E-E...
— Eddie Kaspbrak — disse Eddie. — Odeio quando você gagueja no meu nome, Bill. Fica parecendo Elmer Fudd.
— Fo-foi mal.
— É um prazer conhecer os dois — disse Ben. Isso soou presunçoso e meio meloso. O silêncio se instalou entre os três. Não foi um silêncio completamente desconfortável. Nele, eles se tornaram amigos.
— Por que aqueles caras estavam atrás de você? — perguntou Eddie por fim.
— Eles s-s-sempre estão a-atrás de alguém — disse Bill. — Odeio eles. Eles são foda.
Ben ficou em silêncio por um momento, mais por admiração, por Bill ter usado o que a mãe de Ben às vezes chamava de O Grande Palavrão. Ben jamais dissera O Grande Palavrão em voz alta durante toda a vida, embora tivesse escrito (com letras bem pequenas) em um poste telefônico no Halloween de dois anos antes.
— Bowers acabou sentado do meu lado durante as provas — disse Ben por fim. — Ele queria copiar minha prova. Eu não deixei.
— Você deve querer morrer jovem, garoto — disse Eddie com admiração. Bill Gago caiu na gargalhada. Ben olhou para ele com atenção, decidiu que não era dele que Bill estava rindo exatamente (foi difícil dizer como ele soube disso, mas soube) e sorriu.
— Acho que quero — disse ele. — De qualquer forma, ele tem que fazer recuperação no verão, e ele e os outros dois caras queriam se vingar, e foi isso que aconteceu.
— Parece que e-eles m-mataram vo-você — disse Bill.
— Caí aqui da rua Kansas. Pela lateral do morro. — Ele olhou para Eddie. — Acho que vou encontrar você no PronSocorro, agora que estou pensando bem. Quando minha mãe der uma olhada nas minhas roupas, ela vai me obrigar a ir pra lá.
Bill e Eddie caíram na gargalhada desta vez, e Ben se juntou a eles. A barriga dele doía quando ele ria, mas ele riu mesmo assim, um som agudo e meio histérico. Ele acabou precisando se sentar na margem, e o som que a bunda dele fez ao bater na terra fez com que ele começasse a gargalhar de novo. Ele gostava da forma como sua gargalhada soava junto com a deles. Era um som que ele nunca tinha ouvido antes: não risada misturada, ele já tinha ouvido isso várias vezes, mas risada misturada da qual a dele fazia parte.
Ele olhou para Bill Denbrough, seus olhos se encontraram, e bastou isso para que eles começassem a gargalhar de novo.
Bill puxou a calça, levantou o colarinho da camisa e começou a andar de um jeito gingado e mal-humorado. Sua voz ficou grave e ele disse:
— Vou te matar, garoto. Não me vem de merda. Sou burro, mas sou grande. Consigo quebrar nozes com a testa. Mijo vinagre e cago cimento. Meu nome é Henriqueta Bowers e sou o chefão dessa parada em Derry.
Eddie caiu na margem do rio e estava rolando no chão, segurando a barriga e uivando. Ben estava inclinado, com a cabeça entre os joelhos, lágrimas pulando dos olhos, catarro pendurado no nariz e rindo como uma hiena.
Bill se sentou com eles, e pouco a pouco eles ficaram em silêncio.
— Só tem uma coisa muito boa nisso — disse Eddie. — Se Bowers está na recuperação de verão, não vamos ver ele por aqui.
— Vocês brincam muito no Barrens? — perguntou Ben. Era uma ideia que nunca havia cruzado sua cabeça, nem em mil anos, não com a reputação que o Barrens tinha, mas agora que ele estava ali, não parecia ruim. Na verdade, essa parte da margem do rio estava bem agradável enquanto a tarde seguia lentamente para o crepúsculo.
— C-C-Claro. É le-legal. Ni-Ninguém inco-comoda a gente aq-qui. Brincamos m-muito. Ba-Ba-Bowers e os outros c-caras não vêm aq-qui m-mesmo.
— Você e Eddie?
— Ruh-Ruh-Ruh... — Bill balançou a cabeça. Ben reparou que seu rosto se contraía como um pano de prato molhado quando ele gaguejava, e de repente um pensamento estranho lhe ocorreu: Bill não gaguejou nada quando estava debochando do jeito como Henry Bowers falava. — Richie! — exclamou Bill agora, fez uma pausa e prosseguiu. — Richie To-Tozier também c-costuma vir. Mas e-ele e o p-pai iam arrumar o s-s-s...
— Sótão — traduziu Eddie, e jogou uma pedra na água. Plonk.
— É, conheço ele — disse Ben. — Vocês vêm muito aqui, hein? — A ideia o fascinava, e o fez sentir também um tipo idiota de vontade.
— Ba-Ba-Bastante — disse Bill. — P-Por que vo-você não v-v-volta a-a-amanhã? Eu e E-E-Eddie estávamos t-tentando fazer uma ba-barragem.
Ben não conseguiu dizer nada. Estava perplexo não só pelo convite, mas pela simples e natural casualidade na qual ele foi feito.
— Quem sabe era melhor a gente fazer outra coisa — disse Eddie. — A represa não estava indo muito bem mesmo.
Ben ficou de pé e andou até o rio enquanto tirava terra dos braços. Ainda havia pequenas pilhas de galhos de cada lado do rio, mas o resto que eles montaram foi levado pela corrente.
— Vocês precisam de umas tábuas — disse Ben. — Peguem tábuas e coloquem em fileiras... de frente umas pras outras... como o pão de um sanduíche.
Bill e Eddie estavam olhando para ele, intrigados. Ben se apoiou em um joelho.
— Olhem — disse ele. — Tábuas aqui e aqui. Vocês colocam elas no leito de frente uma pra outra. Certo? Depois, antes que a água leve elas, vocês preenchem o espaço entre as duas com pedras e areia...
— A ge-ge-gente — disse Bill.
— Hã?
— A ge-ge-gente preenche.
— Ah — disse Ben, sentindo-se (e parecendo, ele tinha certeza) extremamente idiota. Mas ele não ligava se parecia idiota, porque de repente se sentia muito feliz. Não conseguia se lembrar da última vez em que se sentiu tão feliz. — É. A gente. Então, se vocês, a gente preencher o espaço com pedras e outras coisas, ela vai ficar de pé. A tábua corrente acima vai se inclinar por cima das pedras e terra conforme a água se acumular. A segunda tábua se inclinaria para trás e acabaria se soltando depois de um tempo, eu acho, mas se a gente tivesse uma terceira tábua... Bem, olhem.
Ele desenhou na terra com um graveto. Bill e Eddie Kaspbrak se inclinaram e observaram o desenho com interesse sóbrio.
— Você já construiu uma barragem antes? — perguntou Eddie. Seu tom era de respeito, quase reverência.
— Não.
— Então co-co-como sabe que isso vai f-f-funcionar?
Ben olhou para Bill, intrigado.
— Claro que vai — disse ele. — Por que não?
— Mas co-como você s-s-sabe? — perguntou Bill. Ben reconheceu o tom da pergunta não como de descrença sarcástica, mas interesse sincero. — C-Como v-você sabe?
— Apenas sei — disse Ben. Ele olhou para o desenho na terra de novo como se para confirmar para si mesmo. Ele nunca tinha visto uma barragem antes, nem em desenho, nem de verdade, e não fazia ideia de que tinha feito uma representação muito boa de uma.
— C-Certo — disse Bill, e deu um tapa nas costas de Ben. — T-Te ve-vemos amanhã.
— Que horas?
— E-Eu e E-Eddie cheg-gamos aqui às o-o-oito e m-meia, mais ou menos...
— Se eu e minha mãe ainda não estivermos esperando no PronSocorro — disse Eddie, e suspirou.
— Vou trazer umas tábuas — disse Ben. — Tem um coroa no meu quarteirão que tem algumas. Vou pegar.
— Traz uns suprimentos também — disse Eddie. — Coisas pra comer. Tipo sanduíches, bolinhos, coisas assim.
— Tá.
— Você t-t-tem alguma a-arma?
— Tenho uma espingarda de ar comprimido — disse Ben. — Minha mãe me deu no Natal, mas ela fica zangada se atiro dentro de casa.
— Po-Pode t-trazer — disse Bill. — Pode ser que a gente b-brinque de armas.
— Tá — disse Ben com alegria. — Escuta, tenho que ir pra casa, pessoal.
— A ge-gente também — disse Bill.
Os três saíram do Barrens juntos. Ben ajudou Bill a empurrar Silver margem acima. Eddie foi atrás deles, ofegando de novo e parecendo infeliz com a camisa suja de sangue.
Bill se despediu e saiu pedalando, gritando “Hi-yo Silver, VAMOOOS” com todas as forças.
— É uma bicicleta gigante — disse Ben.
— Pode apostar seu couro — disse Eddie. Ele tinha inspirado outra lufada da bombinha e estava respirando normalmente de novo. — Ele às vezes me leva na garupa. Vai tão rápido que me cago de medo. Ele é um bom homem, o Bill. — Ele disse isso de maneira casual, mas seus olhos diziam algo mais enfático. Eram olhos que idolatravam. — Você sabe o que aconteceu com o irmão dele, né?
— Não. O que tem?
— Morreu no outono. Um cara matou ele. Arrancou o braço direito, que nem se arranca a asa de uma mosca.
— Meu Jesus Cristo!
— Bill só gaguejava um pouco. Agora está bem ruim. Você reparou que ele gagueja?
— Bem... um pouco.
— Mas o cérebro dele não gagueja. Entende o que quero dizer?
— Entendo.
— De qualquer modo, contei pra você porque se você quiser que Bill seja seu amigo, é melhor não falar com ele sobre o irmãozinho. Não faz perguntas nem nada. Ele fica nervoso com isso.
— Cara, eu também ficaria — disse Ben. Ele se lembrou vagamente do garotinho que morreu no outono. Perguntou-se se sua mãe estava pensando em George Denbrough quando deu a ele o relógio que estava usando agora, ou se apenas nos assassinatos mais recentes. — Aconteceu logo depois da enchente?
— Foi.
Eles tinham chegado à esquina da Kansas com a Jackson, onde teriam que se separar. As crianças corriam de um lado para o outro, brincando de pique e jogando bolas de beisebol. Um garotinho idiota de short azul grande demais passou correndo com arrogância por Ben e Eddie, usando um chapéu de pele de guaxinim no estilo Dave Crockett virado para trás, de forma que o rabo ficava pendurado entre seus olhos. Ele estava girando um bambolê e gritando:
— Bola ao cesto, pessoal! Alguém quer jogar bola ao cesto?
Os dois garotos maiores olharam para ele achando engraçado, e Eddie disse:
— Bem, tenho que ir.
— Espera um segundo — disse Ben. — Tenho uma ideia, se você não quiser mesmo ir pro PronSocorro.
— Ah, é? — Eddie olhou para Ben, duvidando, mas querendo ter esperanças.
— Você tem cinco centavos?
— Tenho dez. E daí?
Ben olhou para as manchas marrons secas na camisa de Eddie.
— Para na loja e compra leite achocolatado. Derrama metade na camisa. Depois, quando chegar em casa, diz pra sua mãe que derramou tudo.
Os olhos de Eddie se iluminaram. Nos quatro anos desde que seu pai morrera, a visão da mãe havia piorado consideravelmente. Por motivos de vaidade (e porque ela não sabia dirigir), ela se recusava a ir a um oftalmologista e usar óculos. Manchas de sangue seco e manchas de leite achocolatado eram parecidas. Talvez...
— Pode dar certo — disse ele.
— Só não diz pra ela que foi minha ideia se ela descobrir.
— Não digo — disse Eddie. — Até, jacaré.
— Tá.
— Não — disse Eddie com paciência. — Quando eu digo isso, você precisa responder “Tchau, animal”.
— Ah. Tchau, animal.
— Isso aí. — Eddie sorriu.
— Sabe de uma coisa? — disse Ben. — Vocês são bem legais.
Eddie parecia mais do que constrangido; parecia quase nervoso.
— Bill é — disse ele, e saiu andando.
Ben o viu descer a rua Jackson e virar na direção de casa. Três quadras rua acima, ele viu três garotos familiares demais na esquina da Jackson com a Main. Eles estavam virados de costas para Ben, o que foi muita sorte dele. Ele se abaixou atrás de uma cerca, com o coração batendo com força. Cinco minutos depois, o ônibus intermunicipal Derry-Newport-Haven encostou. Henry e os amigos apagaram os cigarros na rua e subiram.
Ben esperou que o ônibus sumisse e correu para casa.
Naquela noite, uma coisa terrível aconteceu com Bill Denbrough. Aconteceu pela segunda vez.
A mãe e o pai estavam no andar de baixo vendo TV, sem falar muito, sentados nas extremidades do sofá como aparadores de livros. Houve uma época em que a sala de TV com abertura para a cozinha estaria tomada de conversas e risadas, às vezes tanto que não dava para ouvir a TV.
— Cala a boca, Georgie! — gritava Bill.
— Para de enfiar toda a pipoca na boca e eu calo — respondia George.
— Ma, faz o Bill me dar a pipoca.
— Bill, dá a pipoca pra ele. George, não me chama de Ma. Ma parece o som da ovelha.
Ou o pai contava uma piada e eles todos riam, até a mãe. George nem sempre entendia as piadas, Bill sabia disso, mas ele ria porque todo mundo estava rindo.
Naqueles dias, sua mãe e seu pai também eram aparadores de livros no sofá, mas ele e George eram os livros. Bill tentou ser um livro entre eles enquanto eles assistiam TV depois da morte de George, mas era como ser congelado. Eles emanavam frio das duas direções, e o descongelante de Bill não era grande o bastante para lidar com a temperatura. Ele tinha que sair, porque esse tipo de frio sempre congelava suas bochechas e fazia seus olhos lacrimejarem.
— Q-querem o-ouvir uma piada que ouvi hoje na es-escola? — tentou dizer ele uma vez meses antes.
Silêncio da parte deles. Na televisão, um criminoso estava pedindo ao irmão, que era padre, para escondê-lo.
O pai de Bill ergueu o olhar da revista True e observou Bill com surpresa morna. Em seguida, voltou a olhar para a revista. Havia a imagem de um caçador caído em um banco de neve, olhando para um urso-polar enorme. “Atacado pelo Assassino do Deserto Branco” era o nome do artigo. Bill pensou: Sei onde há um deserto branco; bem entre meu pai e minha mãe no sofá.
A mãe dele nem chegou a erguer o olhar.
— É sobre q-quantos f-f-franceses são necessários pra co-co-colocar uma lâm-lâmpada — prosseguiu Bill. Ele sentiu uma fina camada de suor na testa, como às vezes na escola, quando sabia que a professora o havia evitado pelo máximo de tempo que podia com segurança e teria que chamá-lo em breve. A voz dele estava alta demais, mas ele não conseguia falar mais baixo. As palavras ecoaram na mente dele como sinos loucos, ecoando, emperrando e soando de novo.
— Vo-Vo-Vocês sabem q-q-quantos?
— Um pra segurar a lâmpada e quatro pra girar a casa — disse Zack Denbrough de forma ausente enquanto virava uma página da revista.
— Você disse alguma coisa, querido? — perguntou a mãe, e em Four Star Playhouse, o irmão que era padre disse para o que era criminoso se entregar e orar pelo perdão.
Bill ficou sentado ali, suando, mas com frio, muito frio. Estava frio porque na verdade ele não era o único livro entre os dois aparadores; Georgie ainda estava lá, só que agora era um Georgie que ele não conseguia ver, um Georgie que nunca exigia pipoca nem gritava que Bill estava beliscando. Essa nova versão de George nunca interrompia nada. Era um Georgie de um braço só que ficava em silêncio pálido e pensativo no brilho ensombreado branco e azul da Motorola, e talvez não fosse dos pais, mas de George que o frio realmente viesse; talvez fosse George o verdadeiro assassino do deserto branco. Bill acabou fugindo daquele irmão frio e invisível para o quarto, onde se deitou com o rosto escondido na cama e chorou no travesseiro.
O quarto de George estava do mesmo jeito que no dia em que ele morreu. Zack colocou vários brinquedos de George em uma caixa um dia, cerca de duas semanas após o enterro, com a intenção de dar para a Boa Vontade ou para o Exército da Salvação ou alguma coisa do tipo, supunha Bill. Sharon Denbrough viu-o saindo com a caixa nos braços e suas mãos voaram para a cabeça como pássaros brancos assustados e mergulharam profundamente no cabelo, onde se fecharam em punhos e puxaram. Bill viu isso e caiu contra a parede, pois a força desapareceu de suas pernas. A mãe parecia tão louca quanto Elsa Lanchester em A noiva de Frankenstein.
— Não OUSE levar as coisas dele! — gritara ela.
Zack fez uma careta e levou a caixa de brinquedos de volta para o quarto de George sem falar nada. Até colocou-os exatamente no mesmo lugar de onde tinha tirado. Bill entrou e viu o pai ajoelhado ao lado da cama de George (cujos lençóis a mãe ainda trocava, apesar de apenas uma vez por semana agora, em vez de duas) com a cabeça nos antebraços musculosos e peludos. Bill viu que o pai estava chorando, e isso aumentou seu pavor. Uma possibilidade assustadora lhe ocorreu de repente: talvez as coisas às vezes não dessem errado e acabassem. Talvez elas às vezes continuassem dando mais e mais errado até tudo estar completamente fodido.
— P-Pa-Pai...
— Vai, Bill — disse o pai. Sua voz estava abafada e tremendo. Suas costas subiam e desciam. Bill queria muito tocar nas costas do pai, ver se talvez sua mão conseguiria acalmar aquele movimento inquieto. Ele não ousava. — Vai, se manda.
Ele saiu e percorreu lentamente o corredor do andar de cima, enquanto a mãe chorava na cozinha. O som era agudo e impotente. Bill pensou: Por que eles estão chorando tão longe um do outro?, mas logo afastou o pensamento.
Na primeira noite das férias de verão, Bill entrou no quarto de Georgie. Seu coração batia com força no peito e suas pernas estavam duras e desajeitadas de tensão. Ele entrava com frequência no quarto de Georgie, mas isso não significava que gostava de lá. O quarto era tão cheio da presença do irmão que parecia assombrado. Ele entrou e não conseguiu deixar de pensar que a porta do armário se abriria lentamente a qualquer momento e ali estaria George, entre as camisas e calças ainda penduradas com cuidado lá dentro, um Georgie vestido de capa de chuva coberta de manchas e riscos vermelhos, uma capa de chuva com um braço amarelo pendurado. Os olhos de George estariam brancos e terríveis, os olhos de um zumbi em um filme de terror. Quando ele saísse do armário, suas galochas fariam sons molhados, enquanto ele caminharia pelo quarto até onde Bill estava, sentado em sua cama, um bloco paralisado de terror...
Se tivesse faltado energia em alguma noite em que ele estivesse sentado na cama de George, olhando para os desenhos na parede de George ou para os modelos na escrivaninha de George, ele tinha certeza de que teria um ataque do coração, provavelmente fatal, nos dez segundos seguintes. Mas ele ia mesmo assim. Lutar contra seu pavor do Georgie-fantasma era uma necessidade muda e ávida, uma fome, de superar a morte de George de alguma forma e encontrar uma maneira digna de seguir em frente. Não de esquecer George, mas de encontrar um caminho para que ele não parecesse tão pavoroso. Ele entendia que os pais não estavam se saindo muito bem, e se queria fazer isso por si mesmo, teria que fazer sozinho.
E não era só por si mesmo que ele ia; ele também ia por George. Ele amava George, e, considerando que eram irmãos, se davam muito bem. Ah, eles tiveram momentos ruins, em que Bill torcia o braço de George, George dedurava Bill por descer escondido depois da hora de dormir para comer o resto da cobertura da torta de limão, mas em geral eles se davam bem. Já era bem ruim George estar morto. Que ele transformasse George em alguma espécie de monstro de horror... isso era ainda pior.
Ele sentia falta do irmão menor, essa era a verdade. Sentia falta da voz dele, da risada, sentia falta da forma como os olhos de George às vezes se dirigiam com confiança para os dele, com a certeza de que Bill teria as respostas de que ele necessitava. E uma coisa extremamente estranha: havia momentos em que ele achava que amava George mais quando estava com medo, porque mesmo com medo, com a sensação desconfortável de que um George-zumbi poderia estar escondido no armário ou debaixo da cama, ele conseguia se lembrar melhor de amar George ali, e de George amá-lo. Em seu esforço para conciliar melhor essas duas emoções, seu amor e seu pavor, Bill sentia que estava mais próximo de descobrir onde estava a aceitação final.
Essas não eram coisas sobre as quais ele teria sido capaz de falar; em sua mente, as ideias não passavam de uma confusão incoerente. Mas seu coração caloroso e desejoso entendia, e isso era tudo que importava.
Às vezes ele olhava os livros de George, às vezes ele mexia nos brinquedos.
Ele não olhava o álbum de fotos de George desde dezembro.
Agora, na noite que sucedeu o dia em que ele conheceu Ben Hanscom, Bill abriu a porta do armário de George (preparando-se como sempre para dar de cara com o próprio George, de pé com a capa sangrenta em meio às roupas penduradas, esperando como sempre ver uma mão pálida e úmida sair do escuro para segurar seu braço) e pegou o álbum na prateleira de cima.
MINHAS FOTOGRAFIAS, diziam as letras douradas na capa. Abaixo, em um pedaço de fita crepe (a fita estava amarelada e se soltando), havia as palavras cuidadosamente escritas GEORGE ELMER DENBROUGH, 6 ANOS. Bill levou até a cama onde George dormira, com o coração batendo mais forte do que nunca. Ele não conseguia dizer o que o tinha feito pegar o álbum de fotos de novo. Depois do que aconteceu em dezembro...
Uma segunda olhada, só isso. Só pra te convencer de que não foi real na primeira vez. Que a primeira vez foi um truque pregado pela sua cabeça.
Bem, ao menos era uma ideia.
Podia até ser verdade. Mas Bill desconfiava que era coisa do álbum. Ele exercia uma certa fascinação louca sobre ele. O que ele vira, ou o que achou que vira...
Ele abriu o álbum agora. Estava cheio com as fotos que George convenceu a mãe, o pai, tias e tios a dar para ele. George não se importava se eram fotos de pessoas e lugares que ele conhecia ou não; era a ideia das fotos em si que o fascinava. Quando ele não obtinha sucesso ao perturbar qualquer pessoa para dar a ele novas fotos para o álbum, ele sentava de pernas cruzadas na cama em que Bill estava sentado agora e olhava para as velhas, virando as páginas com cuidado, observando as imagens em branco e preto. Aqui estava a mãe deles quando era jovem e incrivelmente linda; aqui estava o pai, que tinha no máximo 18 anos, com dois amigos sorrindo e rifles nas mãos, atrás do cadáver de olhos abertos de um cervo; tio Hoyt de pé sobre pedras segurando um peixe; tia Fortuna na feira agrícola de Derry, ajoelhada com orgulho ao lado de uma cesta de tomates que ela plantara; um velho Buick; uma igreja; uma casa; uma rua que ia de algum lugar a outro. Todas essas fotos, tiradas por pessoas perdidas e por motivos perdidos, trancadas aqui no álbum de fotos de um garoto morto.
Aqui, Bill se viu aos 3 anos, deitado em uma cama de hospital com um turbante de ataduras cobrindo o cabelo. As ataduras desciam pelas bochechas até o maxilar fraturado. Ele foi atingindo por um carro no estacionamento do A&P na rua Center. Lembrava-se de bem pouco dessa estada no hospital, só que lhe deram milk-shakes com canudinho e que sua cabeça doera horrivelmente por três dias.
Aqui estava a família toda no gramado da casa, Bill ao lado da mãe e segurando a mão dela, e George, apenas um bebê, dormindo nos braços de Zack. E aqui...
Não era o fim do álbum, mas era a última página que importava, porque as seguintes estavam todas em branco. A foto final era a da escola de George, tirada em outubro do ano anterior, menos de dez dias antes de ele morrer. Nela, George estava usando uma camisa de gola careca. O cabelo rebelde estava controlado com água. Ele estava sorrindo e deixava à mostra dois buracos em que novos dentes jamais cresceriam, a não ser que eles continuassem a crescer depois que você morre, pensou Bill, e tremeu.
Ele olhou fixamente para a foto por algum tempo e estava prestes a fechar o álbum quando o que acontecera em dezembro aconteceu de novo.
Os olhos de George se moveram na foto. Eles se ergueram para olhar nos de Bill. O sorriso artificial de George se transformou em um esgar horrível. Seu olho direito fechou em uma piscadela: Te vejo em breve, Bill. No meu armário. Talvez esta noite.
Bill jogou o álbum do outro lado do quarto. Colocou as duas mãos sobre a boca.
O álbum bateu na parede e caiu no chão, aberto. As páginas viraram, apesar de não ter corrente de ar. O álbum se abriu naquela foto terrível de novo, a foto que dizia AMIGOS DA ESCOLA 1957-58 embaixo.
Sangue começou a jorrar da foto.
Bill ficou paralisado, com a língua inchada na boca, a pele arrepiada, o cabelo em pé. Ele queria gritar, mas os choramingos baixos que saíam de sua garganta pareciam o melhor que ele conseguia.
O sangue escorreu pela página e começou a pingar no chão.
Bill saiu correndo do quarto e bateu a porta.
Um dos desaparecidos: uma história do verão de 1958
Nem todos foram encontrados. Não; nem todos foram encontrados. E de tempos em tempos, suposições erradas foram feitas.
Retirado do Derry News de 21 de junho de 1958 (página 1):
GAROTO DESAPARECIDO DESPERTA NOVOS MEDOS
Edward L. Corcoran, morador da rua Charter nº 73, em Derry, foi registrado como desaparecido na noite de ontem pela mãe, Monica Macklin, e pelo padrasto, Richard P. Macklin. O garoto Corcoran tem 10 anos. Seu desaparecimento gerou novos medos de que a população jovem de Derry esteja sendo perseguida por um assassino.
A sra. Macklin disse que o garoto está desaparecido desde o dia 19 de junho, quando não voltou para casa depois do último dia de aulas antes das férias de verão.
Quando perguntados sobre o motivo de esperarem além das 24 horas necessárias para relatar o desaparecimento do filho, o sr. e a sra. Macklin se recusaram a comentar. O chefe de polícia Richard Borton também se recusou a comentar, mas uma fonte no departamento de polícia contou ao News que o relacionamento do garoto Corcoran com o padrasto não era bom e que ele tinha passado noites fora de casa antes. A fonte especulou que as notas finais do garoto poderiam ter sido um motivo para ele não aparecer. O superintendente da Escola Derry, Harold Metcalf, se recusou a comentar sobre as notas do garoto Corcoran, observando que não são uma questão de registro público.
“Espero que o desaparecimento desse garoto não cause medos desnecessários”, disse o chefe Borton na noite de ontem. “O ânimo da comunidade está compreensivelmente abalado, mas quero enfatizar que registramos de trinta a cinquenta desaparecimentos de menores a cada ano. A maioria aparece viva e bem uma semana após o registro. Esse será o caso de Edward Corcoran, se Deus quiser.”
Borton também reiterou sua convicção de que os assassinos de George Denbrough, Betty Ripsom, Cheryl Lamonica, Matthew Clements e Veronica Grogan não eram trabalho de uma pessoa só. “Há diferenças essenciais em cada crime”, disse Borton, mas não quis elaborar. Ele disse que a polícia local, em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado do Maine, ainda está seguindo várias pistas. Ontem à noite, em uma entrevista telefônica, ao responder sobre o quanto essas pistas são boas, o chefe Borton disse: “Muito boas.” Quando perguntamos se podíamos esperar uma prisão relacionada a algum dos crimes em breve, Borton se recusou a responder.
Retirado do Derry News de 22 de junho de 1958 (página 1):
TRIBUNAL ORDENA EXUMAÇÃO SURPRESA
Em uma virada bizarra no desaparecimento de Edward Corcoran, o Juiz do Tribunal Distrital de Derry, Erhardt K. Moulton, ordenou a exumação do irmão mais novo de Corcoran, Dorsey, no fim da tarde de ontem. A decisão judicial seguiu um pedido em conjunto com o Promotor do Condado e com o Médico-Legista do Condado.
Dorsey Corcoran, que também morava com a mãe e o padrasto na rua Charter, nº 73, morreu do que foram declaradas como sendo causas acidentais em maio de 1957. O garoto foi levado para o Derry Home Hospital sofrendo de fraturas múltiplas, incluindo traumatismo craniano. Richard P. Macklin, o padrasto do garoto, foi quem o levou. Ele declarou que Dorsey Corcoran estava brincando em uma escada na garagem e aparentemente caiu do alto. O garoto morreu sem recuperar a consciência três dias depois.
Edward Corcoran, de 10 anos, foi registrado como desaparecido no final da quarta-feira. Frente à pergunta se o sr. ou a sra. Macklin estavam sob suspeita da morte do garoto mais novo ou do desaparecimento do mais velho, o chefe Richard Borton se recusou a comentar.
Retirado do Derry News de 24 de junho de 1958 (página 1):
MACKLIN PRESO POR MORTE POR ESPANCAMENTO
suspeito de um desaparecimento ainda não solucionado
Devido a suspeitas relacionadas ao desaparecimento não solucionado, o chefe Richard Borton convocou uma coletiva de imprensa ontem para anunciar que Richard P. Macklin, morador do nº 73 da rua Charter, foi preso e acusado do assassinato do enteado Dorsey Corcoran. O garoto Corcoran morreu no Derry Home Hospital de “causas acidentais” no dia 31 de maio do ano passado.
“O relatório do legista mostra que o garoto estava muito ferido”, disse Borton. Embora Macklin tenha alegado que o garoto caíra de uma escada enquanto brincava na garagem, Borton disse que o relatório do médico-legista do condado mostrou que Dorsey Corcoran foi agredido brutalmente com um instrumento não cortante. Como resposta à pergunta de que tipo de instrumento, Borton disse: “Pode ter sido um martelo. Neste momento, o importante é a conclusão do legista de que o garoto levou golpes repetidos na cabeça com um objeto duro o bastante para quebrar seus ossos. Os ferimentos, particularmente os do crânio, não são consistentes com os que poderiam ocorrer em uma queda. Dorsey Corcoran foi surrado até ficar com apenas um fio de vida, depois largado na emergência do Home Hospital para morrer.”
Quando perguntado se os médicos que trataram o garoto Corcoran poderiam ter sido descuidados ao omitir um incidente de agressão infantil ou a causa verdadeira da morte, Borton disse: “Eles terão perguntas sérias a responder quando o sr. Macklin for a julgamento.”
Quando pedido a opinar sobre como esses desenvolvimentos poderiam estar relacionados ao desaparecimento recente do irmão mais velho de Dorsey Corcoran, Edward, registrado como desaparecido por Richard e Monica Macklin quatro dias atrás, o chefe Borton respondeu: “Acho que parece bem mais sério do que supomos no começo, você não acha?”
Retirado do Derry News de 25 de junho de 1958 (página 2):
PROFESSORA DIZ QUE EDWARD CORCORAN
“VIVIA COM HEMATOMAS”
Henrietta Dumont, que dá aulas para o quinto ano da Escola Derry, na rua Jackson, disse que Edward Corcoran, que agora está desaparecido há quase uma semana, chegava frequentemente na escola “coberto de hematomas”. A sra. Dumont, que dá aulas em uma das turmas de quinto ano da Escola Derry desde o fim da Segunda Guerra Mundial, disse que o garoto Corcoran chegou à escola um dia, cerca de três semanas antes de seu desaparecimento, “com os dois olhos quase fechados. Quando perguntei a ele o que tinha acontecido, ele disse que o pai ‘deu nele’ porque ele não jantou direito”.
Quando perguntamos por que ela não registrou uma surra de severidade tão óbvia, a sra. Dumont disse: “Não foi a primeira vez que vi uma coisa assim em minha carreira de professora. Nas primeiras vezes que um aluno meu tinha um pai que confundia surras com educação, tentei fazer alguma coisa. A diretora assistente na época, Gwendolyn Rayburn, me mandou ficar de fora. Ela me disse que quando funcionários da escola se envolvem em caso de suspeita de abuso infantil, isso sempre volta para assombrar o Departamento Escolar na época do orçamento. Procurei o diretor, e ele me mandou esquecer, senão eu seria repreendida. Perguntei se uma repreensão em um assunto desses iria para meus registros. Ele me disse que uma repreensão não precisava ir para os registros de uma professora. Eu entendi a mensagem.”
Quando perguntamos se a atitude no sistema escolar de Derry permanecia igual agora, a sra. Dumont disse: “Bem, o que parece, considerando a situação atual? E devo acrescentar que eu não estaria falando com você agora se não tivesse me aposentado no final do ano letivo.”
A sra. Dumont prosseguiu: “Desde que essa coisa aconteceu, eu me ajoelho todas as noites e rezo para que Eddie Corcoran tenha ficado cansado daquele padrasto animal e tenha fugido. Rezo para que, quando ele ler nos jornais ou ouvir no noticiário que Macklin foi preso, Eddie volte para casa.”
Em uma breve entrevista telefônica, Monica Macklin refutou intensamente as acusações da sra. Dumont. “Rich nunca bateu em Dorsey, e também nunca bate em Eddie”, disse ela. “Estou dizendo isso agora, e quando eu morrer, vou ficar diante do Trono do Senhor, vou olhar nos olhos de Deus e dizer para Ele a mesma coisa.”
Retirado do Derry News de 28 de junho de 1958 (página 2):
“PAPAI TEVE QUE ‘DAR EM MIM’ PORQUE SOU MAU”, DISSE O MENINO PARA A PROFESSORA ANTES DA SURRA QUE O MATOU
Uma professora de creche que se recusou a ser identificada disse para um repórter do News ontem que o pequeno Dorsey Corcoran chegou à aula bissemanal da creche com o polegar e três dedos da mão direita feridos menos de uma semana antes de sua morte, em um suposto acidente na garagem.
“Estava doendo o bastante para o pobrezinho não conseguir colorir o pôster de segurança do Mr. Do”, disse a professora. “Os dedos estavam inchados como salsichas. Quando perguntei a Dorsey o que aconteceu, ele disse que o pai (o padrasto Richard P. Macklin) tinha dobrado seus dedos para trás porque ele andou pelo chão que a mãe tinha acabado de lavar e encerar. ‘Papai teve que dar em mim porque sou mau’ foi a forma como ele falou. Senti vontade de chorar ao olhar para os pobres e lindos dedinhos dele. Ele realmente queria colorir o pôster como as outras crianças, então dei a ele aspirina infantil e deixei que colorisse enquanto os outros estavam ouvindo histórias. Ele adorava colorir os pôsteres do Mr. Do, era o que ele mais gostava de fazer, e agora estou feliz porque pude ajudá-lo a ter um pouco de felicidade naquele dia.
“Quando ele morreu, nem cruzou minha mente pensar que fosse qualquer coisa além de acidente. Acho que primeiro pensei que ele tivesse caído porque não conseguia segurar direito com aquela mão. Acho que não conseguia acreditar que um adulto pudesse fazer uma coisa assim a uma pessoinha. Agora, eu sei a verdade. Gostaria de não saber.”
O irmão mais velho de Dorsey Corcoran, Edward, de 10 anos, ainda está desaparecido. De sua cela na prisão do condado de Derry, Richard Macklin continua a negar qualquer participação na morte do enteado mais novo e no desaparecimento do mais velho.
Retirado do Derry News de 30 de junho de 1958 (página 5):
MACKLIN INTERROGADO SOBRE
AS MORTES DE GROGAN, CLEMENTS
Fornece álibis incontestáveis, alega fonte.
Retirado do Derry News de 6 de julho de 1958 (página 1):
MACKLIN SERÁ ACUSADO APENAS DO ASSASSINATO
DO ENTEADO DORSEY, DIZ BORTON
Edward Corcoran ainda está desaparecido.
Retirado do Derry News de 24 de julho de 1958 (página 1):
PADRASTO CHOROSO CONFESSA
MORTE DO ENTEADO A PAULADAS
Em um desenvolvimento dramático do julgamento de Richard Macklin no tribunal regional pelo assassinato do enteado Dorsey Corcoran, Macklin desabou sob o interrogatório severo do promotor Bradley Whitsun e admitiu que batera no garoto de 4 anos até a morte com um martelo sem retrocesso, que ele depois enterrou na extremidade da horta da esposa antes de levar o garoto para o pronto-socorro do Derry Home Hospital.
O tribunal ficou perplexo e silencioso enquanto o choroso Macklin, que previamente admitira bater nos dois enteados “ocasionalmente, se eles merecessem, para o próprio bem deles”, contava a história.
“Não sei o que me deu. Vi que ele estava subindo na maldita escada de novo, peguei o martelo no banco e comecei a usar. Eu não pretendia matá-lo. Com Deus por testemunha, nunca pretendi matá-lo.”
“Ele falou alguma coisa para você antes de ficar inconsciente?”, perguntou Whitsun.
“Ele disse ‘Para, papai, desculpa, eu te amo’”, respondeu Macklin.
“Você parou?”
“Em um determinado momento”, disse Macklin. Em seguida, começou a chorar de forma tão histérica que o juiz Erhardt Moulton declarou recesso no tribunal.
Retirado do Derry News de 18 de setembro de 1958 (página 16):
ONDE ESTÁ EDWARD CORCORAN?
O padrasto dele, condenado a cumprir pena de dois a dez anos na prisão estadual de Shawshank pelo assassinato do irmão de 4 anos, Dorsey, continua a alegar que não faz ideia de onde Edward Corcoran esteja. A mãe, que entrou com pedido de divórcio contra Richard P. Macklin, diz que acha que o futuro ex-marido está mentindo. Está?
“Eu, por exemplo, não acredito nisso”, diz o padre Ashley O’Brian, que atende os prisioneiros católicos de Shawshank. Macklin começou a se preparar para adotar a fé católica depois do começo de sua sentença, e o padre O’Brien passa bastante tempo com ele. “Ele realmente se arrepende do que fez”, prossegue o padre O’Brien, acrescentando que, quando perguntou inicialmente a Macklin por que ele queria ser católico, Macklin respondeu: “Ouvi que os católicos têm um ato de contrição e preciso de muito disso, senão vou para o inferno quando morrer.”
“Ele sabe o que fez ao garotinho”, disse o padre O’Brien. “Se também tiver feito alguma coisa com o mais velho, ele não lembra. No que diz respeito a Edward, ele acredita que suas mãos estão limpas.”
Quão limpas estão as mãos de Macklin no que diz respeito ao enteado Edward é uma questão que continua a perturbar os residentes de Derry, mas ele foi convincentemente inocentado dos outros assassinatos infantis que aconteceram aqui. Ele conseguiu fornecer álibis inquestionáveis para os três primeiros, e estava na cadeia quando os outros sete foram cometidos no final de junho, julho e agosto.
Todos os dez assassinatos permanecem sem solução.
Em entrevista exclusiva para o News na semana passada, Macklin mais uma vez garantiu não saber nada sobre o paradeiro de Edward Corcoran. “Eu batia nos dois”, disse ele em um monólogo doloroso que era constantemente interrompido por crises de choro. “Eu os amava, mas batia neles. Não sei por quê, tanto quanto não sei por que Monica deixava, nem por que me acobertou depois que Dorsey morreu. Acho que eu poderia ter matado Eddie com a mesma facilidade com que matei Dorsey, mas juro por Deus e Jesus e todos os santos dos céus que não matei. Sei o que parece, mas não matei. Acho que ele fugiu. Se fugiu, é uma coisa pela qual tenho que agradecer a Deus.”
Ao ser perguntado se está ciente de falhas em sua memória, se ele podia ter matado Edward e bloqueado da mente, Macklin respondeu: “Não percebi falha nenhuma. Sei bem demais o que fiz. Dei minha vida a Cristo, e vou passar o resto dela tentando pagar pelo que fiz.”
Retirado do Derry News de 27 de janeiro de 1960 (página 1):
CORPO NÃO É DO JOVEM CORCORAN, ANUNCIA BORTON
O chefe de polícia Richard Borton disse aos repórteres hoje cedo que o corpo em decomposição avançada de um garoto aproximadamente da idade de Edward Corcoran, que desapareceu de sua casa em Derry em junho de 1958, não é do garoto desaparecido. O corpo foi encontrado em Aynesford, Massachusetts, enterrado em uma cascalheira. Tanto as polícias estaduais do Maine como de Massachusetts a princípio desenvolveram a teoria de que o corpo poderia ser de Corcoran, acreditando que ele poderia ter sido capturado por um molestador pedófilo depois de fugir da casa na rua Charter, onde o irmão mais novo foi surrado e morto.
Raios X dos dentes mostraram conclusivamente que o garoto encontrado em Aynesford não era Edward Corcoran, que agora está desaparecido há 19 meses.
Retirado do Press-Herald de Portland de 19 de julho de 1967 (página 3):
ASSASSINO CONDENADO COMETE SUICÍDIO EM FALMOUTH
Richard P. Macklin, condenado nove anos atrás pelo assassinato do enteado de 4 anos, foi encontrado morto em seu pequeno apartamento de terceiro andar em Falmouth no fim da tarde de ontem. Em liberdade condicional, ele morava e trabalhava tranquilamente em Falmouth desde a soltura da prisão estadual de Shawshank em 1964. Aparentemente, foi suicídio.
“O bilhete deixado indica um estado mental extremamente confuso”, disse o subchefe de polícia de Falmouth, Brandon K. Roche. Ele se recusou a divulgar o conteúdo do bilhete, mas uma fonte no departamento de polícia disse que consistia em duas frases: “Vi Eddie ontem à noite. Ele estava morto.”
O “Eddie” a quem ele se referiu pode muito bem ser o enteado de Macklin, irmão do garoto por cujo assassinato Macklin foi condenado em 1958. Foi o desaparecimento de Edward Corcoran que acabou levando à condenação de Macklin pela morte por espancamento do irmão mais novo de Edward, Dorsey. O garoto mais velho está desaparecido há nove anos. Em um breve procedimento de tribunal em 1966, a mãe do garoto pediu que o filho fosse legalmente declarado como morto para poder tomar posse da poupança de Edward Corcoran. A conta tinha o total de 16 dólares.
Eddie Corcoran estava mesmo morto.
Ele morreu na noite de 19 de junho, e seu padrasto não teve nada a ver com isso. Morreu enquanto Ben Hanscom estava sentado em casa vendo TV com a mãe, enquanto a mãe de Eddie Kaspbrak colocava a mão ansiosa na testa de Eddie em busca de sua doença favorita, “febre fantasma”, enquanto o padrasto de Beverly Marsh (um cavalheiro que tinha, ao menos em temperamento, uma semelhança impressionante com o padrasto de Eddie e Dorsey Corcoran) dava um chute alto no traseiro da garota e mandava que ela “vá lá secar os malditos pratos como a mãe mandou”, enquanto Mike Hanlon ouvia gritos de alguns garotos do ensino médio (um dos quais alguns anos depois geraria o saudável e jovem homofóbico John “Webby” Garton) passando em um Dodge velho na hora em que ele arrancava ervas daninhas do jardim na lateral da pequena casa dos Hanlon na rua Witcham, não muito longe da fazenda do pai maluco de Henry Bowers, enquanto Richie Tozier estava dando uma espiada nas garotas seminuas em um exemplar da revista Gem que encontrou no fundo da gaveta de meias e cuecas do pai e ficava com uma bela ereção, e enquanto Bill Denbrough estava jogando o álbum do irmão menor do outro lado do quarto em descrença horrorizada.
Embora nenhum deles fosse se lembrar do que fez depois, todos olharam para cima no momento exato em que Eddie Corcoran morreu... como se por terem ouvido um grito distante.
O News estava absolutamente certo sobre uma coisa: o boletim de Eddie estava ruim o bastante para deixá-lo com medo de ir para casa encarar o padrasto. Além do mais, sua mãe e o coroa estavam brigando muito naquele mês. Isso piorava as coisas. Quando eles brigavam feio, a mãe gritava muitas acusações incoerentes. O padrasto respondia primeiro com resmungos, depois gritos para calar a boca, terminando com berros enfurecidos de um javali que está cheio de espinhos de porco-espinho no focinho. Mas Eddie nunca viu o coroa usar os punhos nela. Eddie achava que ele não ousaria. Ele guardava os socos para Eddie e Dorsey antes, e agora que Dorsey estava morto, Eddie ganhava a cota do irmãozinho além da sua própria.
Essas gritarias vinham e iam em ciclos. Eram mais comuns no final do mês, quando as contas chegavam. Um policial, chamado por um vizinho, aparecia vez ou outra quando as coisas estavam piores para mandá-los se acalmarem. Normalmente, isso encerrava a briga. A mãe era capaz de mostrar o dedo para o policial e desafiá-lo a prendê-la, mas o padrasto normalmente não dizia nada.
O padrasto tinha medo de policiais, achava Eddie.
Ele ficava quieto durante esses períodos de estresse. Era a coisa inteligente a fazer. Se você pensava que não, era só ver o que aconteceu a Dorsey. Eddie não sabia os detalhes nem queria, mas tinha uma ideia sobre o irmão. Ele achava que Dorsey estava no lugar errado na hora errada: a garagem no último dia do mês. Eles disseram para Eddie que Dorsey caiu da escada da garagem (“Eu mandei ele ficar longe dela uma vez, mandei sessenta vezes”, dissera o padrasto), mas a mãe não olhava para ele a não ser sem querer... e, quando seus olhos se encontravam, Eddie via um brilhinho assustado e delator nos dela do qual não gostava. O coroa ficava sentado em silêncio à mesa da cozinha com um litro de cerveja Rheingold, olhando para o nada por baixo das sobrancelhas baixas. Eddie ficava longe dele. Quando o padrasto estava gritando, ele costumava (nem sempre, mas quase sempre) estar bem. Quando ele parava, é que você tinha que tomar cuidado.
Duas noites atrás, ele jogou uma cadeira em Eddie, quando Eddie se levantou para ver o que estava passando no outro canal de TV. Simplesmente pegou uma das cadeiras de alumínio da cozinha, jogou por cima da cabeça e deixou que seguisse voando. Bateu na bunda de Eddie e o derrubou. Sua bunda ainda estava doendo, mas ele sabia que podia ter sido pior: podia ter sido na cabeça.
Houve também a noite em que o coroa de repente se levantou e esfregou um punhado de purê de batata no cabelo de Eddie sem motivo nenhum. Um dia em setembro, Eddie chegou da escola e tolamente deixou que a porta de tela batesse ao fechar enquanto o padrasto cochilava. Macklin saiu do quarto com a cueca samba-canção frouxa, o cabelo todo desgrenhado, as bochechas manchadas com dois dias de barba de fim de semana por fazer, o hálito manchado com dois dias de cerveja de fim de semana.
— Pronto, Eddie — disse ele —, tenho que dar em você por bater a porra da porta.
No léxico de Rich Macklin, “dar em você” era um eufemismo para “espancar”. E foi o que ele fez com Eddie. Eddie perdeu os sentidos quando o coroa o jogou no corredor da frente. A mãe tinha colocado um par de ganchos baixos para casacos ali, para ele e Dorsey terem onde pendurar os casacos. Os ganchos se enfiaram como dedos duros de aço na lombar de Eddie, e foi aí que ele desmaiou. Quando voltou a si dez minutos depois, ouviu a mãe gritando que ia levar Eddie para o hospital e ele não podia impedi-la.
— Depois do que aconteceu com Dorsey? — respondera o padrasto. — Você quer ir pra prisão, mulher?
Foi o fim do papo sobre o hospital por parte dela. Ela ajudou Eddie a ir para o quarto, onde ele ficou deitado na cama tremendo, com a testa coberta de suor. As únicas vezes em que ele saía do quarto nos três dias seguintes era quando os dois estavam fora de casa. Ele se esgueirava lentamente para a cozinha, gemendo baixinho, e pegava o uísque do padrasto debaixo da pia. Alguns goles aliviavam a dor. A dor tinha sumido quase toda no quinto dia, mas ele mijou sangue por quase duas semanas.
E o martelo não estava mais na garagem.
E isso? E isso, amigos e vizinhos?
Ah, o martelo Craftsman, o original, ainda estava lá. O desaparecido era o martelo sem retrocesso Scotti. O martelo especial do padrasto, o que ele e Dorsey foram proibidos de tocar.
— Se um de vocês tocar naquela belezinha — dissera ele no dia em que o levou para casa —, os dois vão usar as tripas pra tapar os ouvidos.
Dorsey perguntou timidamente se o martelo era muito caro. O coroa disse que era muito. Disse que era cheio de rolamentos e que não dava para fazer quicar ao martelar, independente da força com que o batesse.
Agora, tinha sumido.
As notas de Eddie não eram as melhores porque ele faltou muitas aulas desde que a mãe casou, mas ele não era um garoto burro. Ele achava que sabia o que tinha acontecido ao martelo sem retrocesso Scotti. Achava que talvez o padrasto o tivesse usado em Dorsey e enterrado no jardim, ou talvez jogado no canal. Era o tipo de coisa que acontecia com frequência nos quadrinhos de terror que Eddie lia, os que ele guardava na prateleira do alto do armário.
Ele andou até perto do canal, que corria entre as laterais de concreto como seda oleosa. Uma faixa de luar brilhava na superfície escura em forma de bumerangue. Ele se sentou, balançando os tênis contra o concreto em um movimento irregular. As últimas seis semanas foram secas, e a água corria mais de 2,5 metros abaixo das solas gastas dos tênis. Mas se você olhasse com atenção para as laterais do canal, dava para ler os vários níveis aos quais ele às vezes subia rapidamente. O concreto era manchado de marrom-escuro bem acima do nível atual. Essa mancha marrom lentamente passava a amarela, depois a uma cor que era quase branca no nível em que os calcanhares dos tênis de Eddie faziam contato quando ele os balançava.
A água fluía calma e silenciosamente de um arco de concreto calçado embaixo, passava pelo lugar em que Eddie estava sentado e seguia para a ponte coberta de madeira só para pedestres entre o Parque Bassey e a Derry High School. As laterais da ponte e as tábuas do piso, até mesmo as vigas debaixo do teto, estavam cobertas de uma variedade sem fim de iniciais, números de telefone e declarações. Declarações de amor; declarações que fulano de tal estava disposto a “chupar” ou “lamber”; declarações de que quem fosse encontrado chupando ou lambendo perderia o prepúcio ou piche quente seria enfiado em seus rabos; declarações excêntricas ocasionais que desafiavam definições. Uma sobre a qual Eddie refletira durante toda a primavera dizia SALVEM OS JUDEUS RUSSOS! REÚNAM PRÊMIOS VALIOSOS!
O que exatamente isso queria dizer? Alguma coisa? E importava?
Eddie não passou pela Ponte do Beijo esta noite; ele não tinha necessidade de atravessar para o lado da escola de ensino médio. Ele achava que dormiria no parque, talvez nas folhas mortas debaixo do coreto, mas por enquanto estava bem sentado ali. Ele gostava do parque e ia para lá com frequência quando precisava pensar. Às vezes havia pessoas de amassos nos recantos das árvores que permeavam o parque, mas Eddie as deixava em paz e elas o deixavam em paz. Ele tinha ouvido histórias apavorantes no parquinho da escola sobre as bichas que passeavam no Parque Bassey depois do pôr do sol, e aceitava essas histórias sem questionar, mas ele mesmo nunca tinha sido incomodado. O parque era um local tranquilo, e ele achava que a melhor parte era bem ali onde ele estava sentado. Ele gostava dali no meio do verão, quando a água estava tão baixa que estalava nas pedras e se dividia em riachos isolados que se contorciam e às vezes voltavam a se juntar. Gostava no final de março ou começo de abril, logo depois do degelo, quando às vezes ficava de pé ao lado do canal (estava frio demais para se sentar nessa época; sua bunda congelaria) por uma hora ou mais, com o capuz da parca velha, agora pequena demais para ele, cobrindo a cabeça, com as mãos enfiadas nos bolsos, sem perceber que seu corpo magrelo tremia e balançava. O canal tinha um poder terrível e irresistível na semana seguinte ao degelo. Ele ficava fascinado pela forma como a água fervia em bolhas brancas ao sair do arco branco e rugia ao passar por ele, carregando galhos e gravetos e toda forma de lixo humano consigo. Mais de uma vez ele imaginou-se andando ao lado do canal em março com o padrasto e dando um empurrão do cacete no pilantra. Ele gritaria e cairia, com os braços girando em busca de equilíbrio, e Eddie ficaria na margem de concreto vendo-o ser carregado pela corrente, com a cabeça uma mera forma preta balançando no meio do fluxo desgovernado cheio de espuma branca. Ele ficaria ali de pé, sim, e colocaria as mãos ao redor da boca e gritaria: ISSO FOI POR DORSEY, SEU VEADO PODRE! QUANDO CHEGAR AO INFERNO, DIZ PRO DIABO QUE A ÚLTIMA COISA QUE VOCÊ OUVIU FOI EU MANDANDO VOCÊ ENCARAR ALGUÉM DO SEU TAMANHO! Jamais aconteceria, é claro, mas era uma fantasia magnífica. Um grande sonho para se sonhar sentado junto ao canal, um g...
Uma mão se fechou ao redor do pé de Eddie.
Ele estava olhando para o outro lado do canal na direção da escola, dando um sorriso sonolento e um tanto belo ao imaginar o padrasto sendo carregado pela corrente violenta do degelo de primavera, para fora da sua vida para sempre. O aperto delicado mas forte o assustou tanto que ele quase perdeu o equilíbrio e caiu no canal.
É uma das bichas de quem os garotos grandes sempre falam, pensou ele, e olhou para baixo. Seu queixo caiu. A urina escorreu quente pelas pernas e manchou a calça jeans de preto à luz da lua. Não era uma bicha.
Era Dorsey.
Era Dorsey como tinha sido enterrado, Dorsey com o blazer azul e calça cinza, só que agora o blazer estava em frangalhos enlameados, a camisa de Dorsey estava em farrapos amarelos, a calça de Dorsey se agarrava molhada às pernas magras como cabos de vassoura. E a cabeça de Dorsey estava horrivelmente curvada, como se tivesse afundado atrás e sido projetada para fora na frente.
Dorsey estava sorrindo.
— Eddieeeee — grasnou seu irmão morto, como uma das pessoas mortas que sempre saíam do túmulo nos quadrinhos de terror. O sorriso de Dorsey se alargou. Dentes amarelos brilharam, e em algum ponto no fundo daquela escuridão, parecia haver coisas se contorcendo.
— Eddieeee... Vim te ver Eddieeeeee...
Eddie tentou gritar. Ondas de choque cinzento tomaram conta dele, e ele teve a sensação curiosa de que estava flutuando. Mas não era sonho; ele estava acordado. A mão em seu tênis era branca como a barriga de uma truta. Os pés descalços do irmão se agarravam ao concreto de alguma maneira. Alguma coisa havia arrancado um dos calcanhares de Dorsey a dentadas.
— Vem pra baixo Eddieeeee...
Eddie não conseguiu gritar. Seus pulmões não continham ar suficiente para conseguir emitir um grito. Ele soltou um ruído curiosamente fraco que parecia um gemido. Qualquer coisa mais alta parecia além da capacidade dele. Mas tudo bem. Em um segundo ou dois, sua mente entraria em parafuso e nada mais importaria. A mão de Dorsey era pequena, mas implacável. As nádegas de Eddie estavam deslizando pelo concreto até a beirada do canal.
Ainda emitindo aquele gemido fraco, ele esticou a mão para trás, segurou na beirada de concreto e se puxou. Ele sentiu a mão deslizar momentaneamente, ouviu um sibilar furioso e teve tempo para pensar: Esse não é Dorsey. Não sei o que é, mas não é Dorsey. E então a adrenalina inundou seu corpo e ele estava rastejando para longe, tentando correr antes mesmo de estar de pé, com a respiração saindo em assobios curtos e agudos.
Mãos brancas apareceram na beirada de concreto do canal. Houve um som úmido de tapa. Gotas de água voaram para o alto sob o luar, saídas da pele pálida e morta. Agora o rosto de Dorsey apareceu sobre a beirada. Brilhos vermelhos iluminavam seus olhos afundados. Seu cabelo molhado estava grudado no crânio. Lama manchava suas bochechas como pintura de guerra.
O peito de Eddie finalmente destravou. Ele inspirou e transformou o ar em grito. Ficou de pé e saiu correndo. Ele correu olhando por cima do ombro, por precisar ver onde Dorsey estava, e como resultado deu de cara com um grande olmo.
Parecia que alguém (o padrasto, por exemplo) havia acendido dinamite, que explodiu em seu ombro esquerdo. Estrelas brilharam e rodopiaram por sua cabeça. Ele caiu na base da árvore como se tivesse levado uma machadada, com sangue escorrendo da têmpora esquerda. Eddie nadou nas águas da semiconsciência por talvez 90 segundos. Em seguida, conseguiu ficar de pé de novo. Um gemido escapou de sua boca quando ele tentou levantar o braço esquerdo. O braço não quis ser levantado. Estava dormente e distante. Assim, ele ergueu o direito e esfregou a cabeça que doía terrivelmente.
Mas então ele lembrou por que deu de cara com o olmo quando estava correndo e olhou ao redor.
Ali estava a beirada do canal, branca como osso e reta como uma corda ao luar. Nem sinal da coisa do canal... se é que existiu alguma coisa. Ele continuou a virar, movendo-se lentamente para completar 360 graus. O Parque Bassey estava silencioso e parado como uma fotografia em preto e branco. Salgueiros chorões arrastavam os tenebrosos braços finos, e qualquer coisa podia estar de pé, curvada e insana, no abrigo daqueles galhos.
Eddie começou a andar, tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo. O ombro deslocado latejava em sincronia dolorosa com seus batimentos.
Eddieeeee, gemia a brisa nas árvores, você não quer me veeeer, Eddieeeee? Ele sentiu dedos flácidos de cadáver acariciarem a lateral de seu pescoço. Virou-se, elevando as mãos. Quando seus pés se emaranharam e ele caiu, viu que eram apenas folhas de salgueiro se movendo na brisa.
Ele se levantou de novo. Queria correr, mas quando tentou, outra explosão de dinamite aconteceu em seu ombro e ele teve que parar. Ele sabia que devia estar superando esse medo a essas alturas, estava se chamando de bebezão que se deixava assustar por um reflexo ou que talvez tivesse dormido sem perceber e tido um sonho ruim. Mas isso não estava acontecendo; era bem o contrário. Seu coração agora estava batendo tão rápido que ele não conseguia distinguir os batimentos individuais, e tinha certeza de que logo explodiria de pavor. Ele não podia correr, mas quando saiu da área dos salgueiros, conseguiu quase trotar mancando.
Ele fixou os olhos na luz do poste que marcava o portão principal do parque. Seguiu naquela direção, conseguindo um pouco mais de velocidade, pensando: Vou até o portão chegar à solução. Vou até o portão chegar à solução. Portão grandão, fim do medão, até de noitão, mas que visão...
Alguma coisa o estava seguindo.
Eddie conseguia ouvi-la destruindo o caminho para passar pela área dos salgueiros. Se ele se virasse, veria. Estava chegando perto. Ele conseguia ouvir os pés dela, uma espécie de passos arrastados e molhados, mas não olharia para trás, não, ele olharia para a frente, para o portão, o portão era a solução, ele continuaria a correr para o portão, e estava quase lá, quase...
O cheiro foi o que o fez olhar para trás. O cheiro avassalador, como se peixes tivessem apodrecido em uma enorme pilha até virar uma pasta de carniça no calor do verão. Era o cheiro de um oceano morto.
Não era Dorsey que estava atrás dele agora; era o Monstro da Lagoa Negra. O focinho da coisa era longo e pregueado. Fluido verde escorria de rasgos negros como bocas verticais em suas bochechas. Seus olhos eram brancos e gelatinosos. Os dedos unidos por membranas tinham garras como lâminas nas pontas. A respiração era borbulhante e profunda, o som de um mergulhador com regulador ruim. Quando ele viu Eddie olhando, seus lábios verde-enegrecidos se repuxaram sobre dentes enormes em um sorriso morto e vazio.
Ele andava com dificuldade atrás de Eddie, pingando, e Eddie de repente entendeu. Ele pretendia levá-lo de volta para o canal, carregá-lo para a escuridão úmida da passagem subterrânea. Para comê-lo.
Eddie se forçou a uma explosão de velocidade. A lâmpada do portão chegou mais perto. Ele conseguia ver a auréola de insetos e mariposas. Um caminhão passou na direção da autoestrada 2, o motorista mudando de marcha, e cruzou a mente desesperada e apavorada de Eddie que ele podia estar tomando café em um copo de papel e ouvindo uma música de Buddy Holly no rádio, completamente alheio ao fato de que a menos de 200 metros havia um garoto que poderia estar morto em vinte segundos.
O fedor. O fedor avassalador do monstro. Chegando perto. Ao redor dele.
Foi em um banco do parque que ele tropeçou. Alguns garotos o empurraram casualmente no começo da noite, ao irem para casa correndo para chegarem antes do toque de recolher. O assento estava elevado a menos de 5 centímetros da grama, em um tom de verde, quase invisível na escuridão do luar. A beirada do assento bateu nas canelas de Eddie, provocando uma explosão de dor perfurante e intensa. Suas pernas voaram e ele caiu na grama.
Ele olhou para trás e viu o Monstro se aproximando, com os olhos brancos de ovos pochê brilhando, as escamas pingando gosma da cor de algas marinhas, as guelras subindo e descendo no pescoço largo e as bochechas abrindo e fechando.
— Ag! — gemeu Eddie. Parecia ser o único som que ele conseguia emitir. — Ag! Ag! Ag! Ag!
Ele engatinhou agora, afundando os dedos na grama. Sua língua estava pendurada para fora.
No segundo anterior ao momento em que as mãos ásperas e fedendo a peixe do Monstro se fecharam ao redor de seu pescoço, ele teve um pensamento reconfortante: Isto é um sonho; tem que ser. Não existe Monstro de verdade, nem Lagoa Negra de verdade, e mesmo que houvesse, ficava na América do Sul ou em Everglades, na Flórida, ou em algum lugar assim. É só um sonho, e vou acordar na minha cama ou talvez nas folhas debaixo do coreto e eu...
Naquele momento, mãos batráquias se fecharam ao redor de seu pescoço, e os gritos roucos de Eddie foram sufocados; quando o Monstro o virou, os ganchos quitinosos que se projetavam daquelas mãos provocaram marcas sangrentas como caligrafia em seu pescoço. Ele olhou nos olhos brancos e brilhantes. Sentiu as membranas entre os dedos do Monstro se apertando contra seu pescoço como elásticos firmes feitos de algas marinhas vivas. Seu olhar aguçado pelo pavor reparou na nadadeira, meio como uma crista de galo e meio como uma nadadeira traseira venenosa de peixe-gato, acima da cabeça encurvada e prateada do Monstro. Conforme as mãos dele apertaram, cortando a passagem de ar, ele até conseguiu ver a forma como a luz branca do poste ficava verde-cinzenta ao passar por aquela nadadeira membranosa na cabeça.
— Você... não... é... real — disse Eddie, sufocando, mas nuvens escuras já estavam se aproximando, e ele se deu conta de que isso era bem real, esse Monstro. Afinal, ele o estava matando.
Mas mesmo assim alguma racionalidade permaneceu nele, mesmo até o final: quando o Monstro enfiou as unhas na carne macia de seu pescoço, quando sua artéria carótida se rompeu em um jorro quente e indolor que encharcou a pele reptiliana da coisa, as mãos de Eddie tatearam nas costas do Monstro em busca de um zíper. Elas só penderam quando o Monstro arrancou a cabeça dele dos ombros com um resmungo baixo de satisfação.
E quando a imagem de Eddie do que era a Coisa começou a sumir, a Coisa começou imediatamente a adquirir outra aparência.
Incapaz de dormir, assombrado por sonhos ruins, um garoto chamado Michael Hanlon se levantou logo depois da primeira luz no primeiro dia das férias de verão. A luz era pálida, envolta em uma névoa baixa e densa que sumiria às 8h, deixando à mostra um dia perfeito de verão.
Mas isso era para mais tarde. Agora o mundo estava todo cinza e rosado, tão silencioso quanto um gato andando em um tapete.
Mike, de calça de veludo, camiseta e tênis Keds pretos de cano alto, desceu a escada, comeu uma tigela de cereal Wheaties (ele não gostava de Wheaties, mas queria o prêmio que vinha na caixa, um Anel Mágico Decodificador do Captain Midnight), subiu na bicicleta e seguiu para a cidade, pedalando nas calçadas por causa da neblina. A neblina mudava tudo, transformava as coisas mais comuns, como hidrantes e placas de trânsito, em objetos misteriosos, coisas estranhas e um tanto sinistras. Dava para ouvir carros, mas não para vê-los, e por causa da qualidade acústica estranha da névoa, não dava para saber se eles estavam longe ou perto até você vê-los saírem da neblina com auras fantasmagóricas de umidade ao redor dos faróis.
Ele virou à direita na rua Jackson, desviando do centro, e atravessou a rua Main pela alameda Palmer, e durante seu curto trajeto por essa pequena via de mão única que seguia por apenas um quarteirão, passou pela casa onde moraria quando adulto. Ele não olhou para ela; era apenas uma residência de dois andares com garagem e um pequeno gramado. Não emitiu nenhuma vibração especial para o garoto que passava e que passaria a maior parte da vida adulta como dono e único morador dela.
Na rua Main, ele virou à direita e seguiu até o Parque Bassey, ainda errante, apenas andando de bicicleta e apreciando a imobilidade do início de dia. Depois de passar pelo portão principal, ele desceu da bicicleta, empurrou o descanso e andou até o canal. Ainda estava, até onde sabia, motivado por nada além de puro capricho. É certo que não lhe ocorreu pensar que seus sonhos da noite anterior tinham alguma coisa a ver com o trajeto atual; ele nem lembrava exatamente o que tinha sonhado, só que um sonho sucedeu o outro até que ele despertou às 5h, suado mas tremendo, e com a ideia de que devia tomar um café da manhã rápido e ir de bicicleta para a cidade.
Aqui em Bassey havia um cheiro na neblina do qual ele não gostava: um cheiro de mar, salgado e velho. Ele já tinha sentido esse cheiro antes, é claro. Em neblinas de manhã cedo, era comum sentir cheiro de oceano em Derry, apesar de a costa estar a 65 quilômetros de distância. Mas o cheiro esta manhã parecia mais denso, mais vital. Quase perigoso.
Alguma coisa chamou sua atenção. Ele se inclinou e pegou um canivete barato com duas lâminas. Alguém tinha rabiscado as iniciais E. C. na lateral. Mike olhou com atenção por um momento ou dois e colocou no bolso. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado.
Ele olhou ao redor. Ali, perto de onde ele encontrou o canivete, havia um banco de parque virado. Ele ajeitou o banco e colocou os pés de ferro nos buracos que criaram ao longo de um período de meses ou anos. Atrás do banco ele viu uma área esmagada de grama... e indo para longe dali, duas ranhuras. A grama estava voltando a ficar de pé, mas as marcas ainda estavam bem claras. Iam na direção do canal.
E havia sangue.
(o pássaro lembre-se do pássaro lembre-se do)
Mas ele não queria se lembrar do pássaro e afastou o pensamento. Uma briga de cachorros, só isso. Um deles deve ter machucado bastante o outro. Era um pensamento convincente pelo qual ele não foi totalmente convencido. Pensamentos de pássaros ficavam querendo voltar, o que ele tinha visto na Siderúrgica Kitchener, o que Stan Uris nunca encontraria em seu livro sobre pássaros.
Pare. Apenas saia daqui.
Mas, em vez de ir embora, ele seguiu as marcas. Enquanto fazia isso, criou uma historinha em pensamento. Era uma história de assassinato. Tem um garoto que ficou na rua até tarde, sabe? Bem depois do toque de recolher. O assassino o pega. E como ele se livra do corpo? Arrasta até o canal e joga lá dentro, é claro! Que nem no programa Alfred Hitchcock Presents!
As marcas que ele estava seguindo poderiam ter sido feitas pelo arrastar de um par de sapatos ou tênis, achava ele.
Mike tremeu e olhou ao redor com insegurança. A história era real demais, de alguma forma.
E suponhamos que não tenha sido um homem que fez isso, mas um monstro. Saído de quadrinhos de terror ou de um livro de terror ou de um filme de terror ou
(de um sonho ruim)
de um conto de fadas, alguma coisa assim.
Ele decidiu que não estava gostando da história. Era uma história idiota. Ele tentou afastá-la da mente, mas ela não queria ir embora. E aí? Que ficasse. Era idiotice. Sair para a cidade logo cedo foi idiotice. Seguir essas duas marcas na grama foi idiotice. Seu pai teria muitas tarefas para ele cumprir em casa hoje. Ele tinha que voltar e começar, senão a parte mais quente da tarde chegaria e ele estaria em um celeiro separando feno. Sim, ele tinha que voltar. E era isso que iria fazer.
Claro que vai, pensou ele. Quer apostar?
Em vez de voltar para a bicicleta, subir nela, voltar para casa e começar suas tarefas, ele seguiu as marcas na grama. Havia mais gotas de sangue seco aqui e ali. Mas não muito. Não tanto quanto naquela parte amassada perto do banco de parque que ele ajeitou.
Mike conseguia ouvir o canal agora, correndo serenamente. Um momento depois, ele viu a beirada de concreto se materializar na neblina.
Havia uma outra coisa na grama. Meu Deus, hoje é seu dia de encontrar coisas, disse sua mente com afabilidade duvidosa, e então uma gaivota berrou em algum lugar e Mike se encolheu, pensando de novo no pássaro que vira naquele dia, naquele dia naquela primavera.
Seja lá o que houver na grama, eu não quero olhar. E isso era tão verdade, mas aqui estava ele, já se abaixando, com as mãos nos joelhos, para ver o que era.
Um pedaço rasgado de tecido com uma gota de sangue.
A gaivota berrou de novo. Mike olhou para o pedaço de pano sujo de sangue e lembrou o que acontecera com ele na primavera.
Todos os anos, durante os meses de abril e maio, a fazenda Hanlon despertava da soneca de inverno.
Mike reconhecia que a primavera havia voltado não quando os primeiros açafrões surgiam debaixo das janelas da cozinha de sua mãe nem quando as crianças começavam a levar bichos e sapos para a escola, nem mesmo quando os Washington Senators davam início à temporada de beisebol (normalmente perdendo de lavada), mas sim quando seu pai gritava para que Mike fosse ajudá-lo a empurrar a picape velha para fora do celeiro. A metade da frente era um velho Ford Model-A, a parte de trás era uma picape com guarda traseira que era o que havia sobrado da porta do velho galinheiro. Se o inverno não tivesse sido frio demais, os dois conseguiam fazer a picape pegar empurrando pela entrada da garagem. A cabine da picape não tinha portas; também não tinha para-brisa. O assento era metade de um sofá velho que Will Hanlon tinha encontrado no lixão de Derry. O câmbio tinha uma velha maçaneta de vidro em cima.
Eles a empurravam pela entrada, um de cada lado, e quando ela pegava velocidade, Will pulava para dentro, girava a chave, retardava a ignição, enfiava o pé na embreagem e passava a primeira marcha com a mão enorme em cima da maçaneta. Em seguida, ele gritava:
— Vamos pra parte mais difícil!
Ele soltava a embreagem e o motor do velho Ford tossia, engasgava, estourava, explodia... e às vezes começava a funcionar, com dificuldade no começo, depois amaciando. Will saía pela rua em direção à fazenda Rhulin, fazia a volta na entrada da garagem (se ele fosse para o outro lado, o pai maluco de Henry Bowers provavelmente estouraria a cabeça dele com uma espingarda) e voltava para casa, com o motor sem silencioso rugindo estridente enquanto Mike pulava de empolgação, comemorando, e a mãe ficava na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato e fingindo uma repugnância que não sentia de verdade.
Outras vezes, a picape não pegava no tranco, e Mike tinha que esperar que o pai voltasse do celeiro, carregando a manivela e resmungando baixinho. Mike tinha certeza de que algumas das palavras resmungadas eram palavrões, e tinha um pouco de medo do pai naquele momento. (Só bem mais tarde, durante uma das visitas intermináveis ao quarto de hospital em que Will Hanlon morria, ele descobriu que o pai resmungava porque tinha medo da manivela: uma vez, ela deu um salto para trás, saiu voando do orifício e rasgou a lateral de sua boca.)
— Pra trás, Mikey — dizia ele, enfiando a manivela no orifício na base do radiador. E quando o motor estava finalmente ligado, ele dizia que no ano seguinte o trocaria por um Chevrolet, mas nunca trocava. Aquele velho Ford A híbrido ainda estava em casa, coberto de vegetação até o eixo e a guarda traseira de galinheiro.
Quando a picape estava ligada e Mike sentado no banco do passageiro, sentindo cheiro de óleo quente e fumaça azul, empolgado pela brisa que soprava pelo buraco em que antes ficava o para-brisa, ele pensava: A primavera voltou. Estamos todos despertando. E no fundo da alma ele dava um grito silencioso que sacudia as paredes daquele local geralmente feliz. Ele sentia amor por tudo ao seu redor, e mais do que tudo pelo pai, que sorria para ele e gritava:
— Se segura, Mikey! Vamos voar com essa belezinha! Vamos fazer alguns pássaros fugirem!
Em seguida, ele dirigia pela entrada da garagem, com as rodas de trás do Ford cuspindo terra preta e bolos de argila, com os dois quicando no assento-sofá na cabine aberta, rindo como tolos por natureza. Will dirigia o Ford A pela grama alta do campo dos fundos, que era plantado com feno, em direção ao campo do sul (de batata), do oeste (milho e feijão) ou do campo leste (ervilha, abobrinha e abóbora). Conforme eles seguiam, pássaros saíam voando da grama na frente da picape, berrando de pavor. Uma vez, uma perdiz saiu voando, um pássaro magnífico, marrom como folhas do final do outono, e o som explosivo de suas asas foi audível até mesmo acima do estrondo do motor.
Esses passeios eram a porta de Mike Hanlon para a primavera.
O trabalho do ano começava com a coleta de pedras. Diariamente, durante uma semana, eles saíam com o Ford e enchiam a caçamba com pedras que poderiam quebrar uma lâmina de arado quando chegasse a hora de remexer a terra para o plantio. Às vezes a picape ficava presa na terra úmida da primavera, e Will resmungava sombriamente baixinho... mais palavrões, supunha Mike. Ele conhecia algumas das palavras e expressões; outras, como “filho de uma meretriz”, o intrigavam. Ele tinha visto a palavra na Bíblia e, até onde sabia, uma meretriz era uma mulher que vinha de um lugar chamado Babilônia. Ele tinha decidido perguntar ao pai uma vez, mas o Ford estava com lama até a suspensão, havia nuvens tempestuosas na testa do pai, e ele decidiu esperar um momento melhor. Acabou perguntando a Richie Tozier em outra ocasião, e Richie disse que o pai dele falou que uma meretriz era uma mulher que recebia pagamento para fazer sexo com homens.
— O que é fazer sexo? — perguntou Mike, e Richie saiu andando segurando a cabeça.
Em uma ocasião, Mike perguntou ao pai por que, considerando que eles sempre retiravam pedras em abril, sempre havia outras no mês de abril do ano seguinte.
Eles estavam no local do despejo das pedras, perto do pôr do sol do último dia de coletas de pedras daquele ano. Uma estrada de terra antiga, não séria o bastante para ser chamada de estrada, levava da parte baixa do campo do oeste até a vala perto da margem do Kenduskeag. A vala era uma confusão de pedras que foram retiradas das terras de Will ao longo dos anos.
Ao olhar para as terras áridas, das quais ele cuidou primeiro sozinho, depois com a ajuda do filho (ele sabia que, em algum lugar debaixo das pedras, estavam os restos apodrecidos dos tocos de árvores que ele arrancara uma de cada vez antes que qualquer um dos campos pudesse ser cultivado), Will acendeu um cigarro e disse:
— Meu pai dizia que Deus ama as pedras, as moscas, as ervas daninhas e as pessoas pobres acima de todas as Suas outras criações, e foi por isso que fez tantos.
— Mas todo ano parece que elas voltam.
— É, acho que voltam — disse Will. — É a única forma que conheço para explicar.
Uma mobelha gritou ao longe no Kenduskeag, em um pôr do sol que tinha deixado a água de um tom laranja escuro. Era um som solitário, tão solitário que fez os braços cansados de Mike se contraírem de arrepio.
— Eu te amo, papai — disse ele de repente, sentindo um amor tão forte que lágrimas fizeram seus olhos arderem.
— Ah, eu também te amo, Mikey — disse o pai, e o abraçou apertado com os braços fortes. Mike sentiu o tecido áspero da camisa de flanela do pai na bochecha. — Agora, que tal a gente voltar? Temos tempo pra tomar banho antes que minha boa esposa coloque o jantar na mesa.
— Ok — disse Mike.
— Ok mesmo — disse Will Hanlon, e os dois riram, exaustos, mas sentindo-se bem, com braços e pernas cansados, mas não extenuados, as mãos ásperas das pedras, mas sem doer muito.
A primavera chegou, pensou Mike naquela noite, adormecendo no quarto enquanto a mãe e o pai assistiam a The Honeymooners na sala. A primavera voltou, obrigado, Senhor, muito obrigado. E, ao cair no sono, ao mergulhar, ele ouviu a mobelha gritar de novo, e a distância do pântano onde ela estava se misturou ao desejo dos sonhos dele. A primavera era uma época movimentada, mas era boa.
Após a coleta de pedras, Will estacionava o Ford na grama alta atrás da casa e tirava o trator do celeiro. Em seguida, era o momento de arar a terra, com o pai dirigindo o trator, e Mike ia atrás, se segurando no assento de ferro, ou andando ao lado, pegando pedras que eles deixaram passar e jogando para fora do campo. Depois vinha o plantio, e após o plantio vinha o trabalho de verão: capinar... capinar... capinar. A mãe ajeitava Larry, Moe e Curly, os três espantalhos, e Mike ajudava o pai a colocar um mooseblower no alto de cada cabeça cheia de palha. Um mooseblower era uma lata sem as duas extremidades. Um pedaço de barbante bem encerado e resinado era amarrado com força no centro da lata, e quando o vento soprava por ela, o resultado era um som maravilhosamente apavorante: uma espécie de grasnar lamuriante. Os pássaros que se alimentavam do plantio logo descobriram que Larry, Moe e Curly não eram ameaça, mas os mooseblowers sempre os assustavam.
No começo de julho, era hora de colher, além de capinar: ervilha e rabanete primeiro, depois alface e tomate que primeiro foram plantados em caixas, depois milho e feijão em agosto, mais milho e feijão em setembro, depois abóbora e abobrinha. Em algum momento no meio disso tudo era a vez das batatas, e então, conforme os dias ficavam mais curtos e o tempo mais frio, ele e o pai tiravam os mooseblowers (e às vezes, durante o inverno, eles desapareciam; parecia que era preciso fazer novos todas as primaveras). No dia seguinte, Will chamava Norman Sadler (que era tão burro quanto seu filho, Moose, mas infinitamente mais bondoso), e Normie ia até lá com o colhedor de batatas.
Durante as três semanas seguintes, os três trabalhavam colhendo batatas. Além da família, Will contratava três ou quatro garotos do ensino médio para ajudar na colheita, pagando 25 centavos por barrica. O Ford A subia e descia lentamente pelas fileiras do campo do sul, o maior, sempre em marcha lenta, com a caçamba aberta, cheia de barricas, cada uma com o nome de uma das pessoas trabalhando. No final do dia, Will abria a carteira velha e enrugada e pagava cada um com dinheiro. Mike recebia, assim como a mãe; aquele dinheiro era deles, e Will Hanlon nunca perguntou a nenhum dos dois se e como eles gastavam. Mike ganhou uma participação de 5% na fazenda quando tinha 5 anos; idade o bastante, dissera Will, para segurar uma enxada e saber a diferença entre ervas daninhas e pés de ervilha. A cada ano, ele ganhava mais 1%, e todos os anos, no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, Will calculava os lucros da fazenda e deduzia a parte de Mike... mas Mike nunca viu aquele dinheiro. Ia para a conta da faculdade, e não devia ser tocado por motivo nenhum.
Por fim, chegava o dia em que Normie Sadler levava o colhedor de batatas de volta para casa; então, o ar já teria ficado cinzento e frio e haveria geada nas pilhas de abóboras na lateral do celeiro. Mike ficava de pé na porta, com o nariz vermelho, as mãos sujas enfiadas nos bolsos da calça jeans, e via o pai levar primeiro o trator e depois o Ford A para dentro do celeiro. Ele pensava: Estamos nos preparando pra dormir de novo. A primavera... foi embora. O verão... foi embora. A colheita... está feita. Tudo que sobrava era o finalzinho do outono: árvores sem folhas, chão congelado, uma camada de gelo nas margens do Kenduskeag. Nos campos, os corvos às vezes pousavam nos ombros de Moe, Larry e Curly e ficavam pelo tempo que quisessem. Os espantalhos estavam sem voz e não eram ameaça.
Mike não ficava exatamente consternado pela ideia do fim de mais um ano (aos 9 e 10 anos, ele ainda era jovem demais para fazer metáforas mortais) porque havia muito pelo que ansiar: andar de trenó no Parque McCarron (ou em Rhulin Hill, em Derrytown, se você tivesse coragem, embora isso fosse mais para os garotos grandes), patinar no gelo, guerras de bola de neve, construção de fortes de neve. Havia tempo de pensar em sair com o pai em busca de uma árvore de Natal, e tempo para pensar nos esquis Nordica que ele talvez ganhasse de Natal. O inverno era bom... mas ver o pai colocar o Ford A no celeiro
(a primavera acabou o verão acabou a colheita acabou)
sempre o deixava triste, da forma como bandos de pássaros migrando para o sul no inverno o deixavam triste, ou da forma como uma certa incidência de luz podia às vezes dar nele a vontade de chorar sem nenhum motivo aparente. Estamos nos preparando pra dormir de novo...
A vida dele não se resumia a escola e tarefas, tarefas e escola; Will Hanlon havia dito para a esposa mais de uma vez que um garoto precisava de tempo para ir pescar, mesmo que pescar não fosse exatamente o que ele estivesse fazendo. Quando Mike chegava em casa depois da aula, deixava os livros sobre a TV na sala, preparava um lanche (ele gostava de sanduíches de creme de amendoim com cebola, uma mistura que fazia sua mãe erguer as mãos horrorizada) e lia o bilhete que o pai havia deixado, dizendo para Mike onde ele, Will, estava e quais eram as tarefas de Mike: retirar as ervas daninhas de certas áreas, carregar cestas, colher frutos, varrer o celeiro, coisas do tipo. Mas em pelo menos um dia por semana, e às vezes dois, não havia bilhete. E nesses dias Mike ia pescar, mesmo que não fosse exatamente pescar. Eram dias ótimos... dias em que ele não tinha lugar certo para onde ir, e consequentemente não sentia necessidade de chegar logo lá.
De vez em quando, o pai deixava outro tipo de bilhete: “Sem tarefas”, podia dizer um deles. “Vá até Old Cape olhar os trilhos dos bondes.” Mike ia até a área de Old Cape, encontrava as ruas que ainda tinham trilhos e os inspecionava com atenção, maravilhado de pensar que coisas como bondes já passaram bem no meio das ruas. Naquela noite, ele e o pai conversavam sobre eles, e o pai mostrava fotos do álbum de Derry com bondes em funcionamento: uma vara engraçada seguia do teto do bonde até um fio elétrico, e havia propagandas de cigarro nas laterais. Em outro momento, ele enviara Mike ao Parque Memorial, onde ficava a Torre de Água, para olhar para o bebedor de pássaros, e uma vez eles foram até o fórum juntos para olhar uma máquina terrível que o chefe Borton havia encontrado no sótão. Esse instrumento se chamava cadeira de vagabundo. Era de ferro fundido e havia algemas embutidas nos braços e pernas. Havia protuberâncias redondas no encosto e no assento. Fez Mike se lembrar de uma foto que ele vira em um livro, da cadeira elétrica em Sing Sing. O chefe Borton deixou Mike se sentar na cadeira e experimentar as algemas.
Depois que a novidade de usar as algemas passou, Mike olhou com dúvida para o pai e para o chefe Borton, sem entender por que essa deveria ser uma punição tão horrível para os “vagabas” (a palavra que Borton usava) que foram parar na cidade nos anos 1920 e 1930. As protuberâncias deixavam a cadeira um pouco desconfortável, claro, e as algemas nos pulsos e tornozelos dificultavam encontrar uma posição melhor, mas...
— Ah, você é só uma criança — disse o chefe Borton, rindo. — Quanto pesa? Trinta, 35 quilos? A maior parte dos vagabas que o xerife Sully prendia nessa cadeira antigamente pesava o dobro, pelo menos. Eles ficavam um pouco desconfortáveis depois de uma hora, mais ou menos, muito desconfortáveis depois de duas ou três, e péssimos depois de quatro ou cinco horas. Depois de sete ou oito horas, eles começavam a gritar, e depois de 16 ou 17, costumavam começar a chorar. E quando o período de 24 horas acabava, eles estavam dispostos a jurar perante Deus e qualquer homem que, na próxima vez que fossem para a Nova Inglaterra, passariam bem longe de Derry. Até onde sei, a maioria cumpriu a palavra. Vinte e quatro horas na cadeira de vagabundo era uma tremenda persuasão.
De repente, pareceu haver mais protuberâncias na cadeira, indo mais fundo em suas nádegas, espinha, lombar, até mesmo na nuca.
— Posso sair agora, por favor? — disse ele educadamente, e o chefe Borton voltou a rir. Houve um momento, um instante de pânico, em que Mike pensou que o chefe só balançaria a chave das algemas na frente dos olhos de Mike e diria Claro, vou deixar você sair... quando suas 24 horas estiverem completas.
— Por que o senhor me levou lá, papai? — perguntou ele no caminho de volta para casa.
— Você vai saber quando estiver mais velho — respondeu Will.
— O senhor não gosta do chefe Borton, não é?
— Não — respondeu o pai, com voz tão seca que Mike não ousou perguntar mais nada.
Mas Mike gostava da maior parte dos locais em Derry para os quais o pai o mandava ou levava, e quando Mike tinha 10 anos, Will já tinha conseguido passar seu próprio interesse pelas camadas de história de Derry para o filho. Às vezes, como quando ele passou os dedos pela superfície ligeiramente áspera da base onde o bebedor de pássaros do Parque Memorial ficava, ou quando se agachou para olhar melhor para os trilhos de bonde que marcavam a rua Groove em Old Cape, ele era atingido por uma sensação forte de tempo... o tempo como uma coisa real, como uma coisa com peso invisível, da mesma forma que a luz do sol tinha peso (alguns dos garotos da escola riram quando a sra. Greenguss disse isso, mas Mike ficou perplexo demais pela ideia para rir; seu primeiro pensamento foi Luz tem peso? Ah, meu Deus, isso é terrível!)... o tempo como uma coisa que acabaria enterrando-o.
O primeiro bilhete que seu pai deixou naquela primavera de 1958 foi rabiscado nas costas de um envelope e colocado debaixo do saleiro. O ar estava quente, maravilhosamente doce, e a mãe dele tinha aberto todas as janelas. Nada de tarefas, dizia o bilhete. Se você quiser, vá de bicicleta até a estrada Pasture. Você vai ver construções destruídas e maquinários velhos no campo à esquerda. Dê uma olhada e traga uma lembrança. Não chegue perto do buraco do porão! E volte antes de escurecer. Você sabe o motivo.
Mike sabia o motivo direitinho.
Ele falou para a mãe para onde estava indo, e ela franziu a testa.
— Por que você não vê se Randy Robinson quer ir com você?
— Tá, tudo bem, vou parar lá e perguntar — disse Mike.
Ele foi mesmo, mas Randy tinha ido para Bangor com o pai para comprar mudas de batatas. Assim, Mike seguiu de bicicleta até a estrada Pasture sozinho. Era um trajeto longo, pouco mais de 6 quilômetros. Mike achava que eram 15h quando ele apoiou a bicicleta em uma cerca velha de madeira no lado direito da estrada Pasture e a pulou para ir ao campo que havia atrás. Ele teria talvez uma hora para explorar e depois começar a voltar para casa. Normalmente, a mãe não se aborrecia com ele, desde que voltasse no máximo às 18h, quando colocava o jantar na mesa, mas um episódio memorável deixou claro que este ano era diferente. Nessa ocasião em que ele se atrasou para o jantar, ela ficou quase histérica. Ela foi atrás dele com o pano de prato e bateu nele enquanto ele ficava boquiaberto na porta da cozinha, com o cesto com a truta dentro no chão.
— Nunca me assuste assim! — gritara ela. — Nunca! Nunca-nunca-nunca!
Cada nunca foi pontuado com outra batida de pano de prato. Mike esperava que o pai se intrometesse e a fizesse parar, mas ele não fez isso... Talvez ele soubesse que, se fizesse, a ira dela se voltaria para ele também. Mike aprendera a lição; uma surra de pano de prato era mais do que suficiente. Chegar em casa antes de escurecer. Sim, senhora, combinado.
Ele atravessou o campo em direção às enormes ruínas no meio. Obviamente, eram os restos da Siderúrgica Kitchener; ele já tinha parado por ali, mas nunca pensou em explorar o local, e nunca tinha ouvido nenhum garoto dizendo ter feito isso. Agora, ao parar para examinar alguns tijolos caídos que formavam um montículo rudimentar, ele pensou que conseguia entender por quê. O campo estava muito iluminado, banhado pelo sol do céu de primavera (ocasionalmente, quando uma nuvem passava na frente do sol, uma grande sombra viajava pelo campo), mas havia alguma coisa de assustador ali mesmo assim, um silêncio sinistro que era rompido apenas pelo vento. Ele se sentia um explorador que encontrou os últimos restos de uma cidade perdida fabulosa.
À frente, à direita, ele viu o lado redondo de um enorme cilindro de azulejos na grama alta do campo. Ele correu até lá. Era a chaminé principal da siderúrgica. Ele olhou no buraco e sentiu um arrepio subir pela espinha. Era grande o bastante para ele poder entrar se quisesse. Mas não queria; Deus sabia que lodo estranho poderia haver grudado nos azulejos internos, enegrecidos pela fumaça, ou que insetos ou animais horrendos poderiam ter se abrigado no interior. O vento soprou. Quando passou pela boca da chaminé caída, fez um som assustadoramente parecido com o som do vento vibrando as cordas enceradas que ele e o pai colocavam no mooseblower todas as primaveras. Ele deu um passo para trás com nervosismo, pensando de repente no filme que ele e o pai viram na noite anterior no Early Show. O filme se chamava Rodan, e vê-lo pareceu bem divertido na hora, com o pai rindo e gritando “Pega aquele pássaro, Mikey!” cada vez que Rodan aparecia, e Mikey atirando com o dedo, até que a mãe passou a cabeça pela porta e mandou que eles calassem a boca antes que ela tivesse dor de cabeça com tanto barulho.
Não parecia engraçado agora. No filme, Rodan tinha sido libertado das profundezas da terra por mineiros japoneses que estavam cavando o túnel mais fundo do mundo. E, ao olhar para o interior negro dessa chaminé, foi bem fácil imaginar aquele pássaro agachado no fundo, com as asas como de morcego dobradas nas costas, olhando para o rosto pequeno, redondo e infantil que espiava a escuridão, olhando, olhando com olhos dourados...
Tremendo, Mike se afastou.
Ele andou ao longo da lateral da chaminé, que tinha afundado na terra até metade da circunferência. O terreno subia ligeiramente, e de impulso ele subiu na chaminé. Ela era bem menos assustadora por fora, com a superfície azulejada quente do sol. Ele ficou de pé e saiu andando, com os braços abertos (a superfície era larga demais para ele precisar ter medo de cair, mas estava fingindo ser um equilibrista no circo), gostando da forma como o vento soprava por seu cabelo.
Na extremidade, ele desceu e começou a examinar coisas: mais tijolos, moldes retorcidos, pedaços de madeira, partes de máquinas enferrujadas. Traga uma lembrança, dizia o bilhete do pai. Ele queria uma boa.
Ele se aproximou da abertura ampla do porão, olhando para os destroços e tomando o cuidado de não se cortar com vidro quebrado. Havia muito ali.
Mike não havia esquecido o porão nem o aviso do pai para ficar longe; nem havia esquecido as mortes que ocorreram naquele local cinquenta e poucos anos antes. Ele achava que, se houvesse um lugar assombrado em Derry, seria ali. Mas apesar disso ou por causa disso, ele estava determinado a permanecer até encontrar alguma coisa realmente boa para levar de volta para o pai.
Ele se deslocou lenta e sobriamente em direção ao porão, mudando o percurso para acompanhar a lateral irregular, quando uma voz de alerta dentro dele sussurrou que ele estava chegando perto demais, que um terreno enfraquecido pelas chuvas de primavera podia desmoronar debaixo de seus pés e jogá-lo naquele buraco, onde só Deus sabia quanto ferro afiado podia estar esperando para empalá-lo como um inseto, para que ele morresse uma morte enferrujada e contorcida.
Ele pegou um caixilho de janela e jogou para o lado. Havia uma concha grande o bastante para a mesa de um gigante, com a alça torcida por um calor inimaginável. Havia um pistão grande demais para ele sequer conseguir mover, muito menos levantar. Ele passou por cima. Passou por cima e...
E se eu encontrar um crânio?, pensou ele de repente. O crânio de um dos garotos que foram mortos aqui quando estavam procurando ovos de Páscoa de chocolate em mil novecentos e sei lá?
Ele olhou para o campo vazio banhado pelo sol, muito chocado com a ideia. O vento soprou uma nota em seu ouvido, e outra sombra cruzou silenciosamente o terreno, como a sombra de um morcego enorme... ou pássaro. Ele percebeu de novo o quanto estava silencioso ali, o quanto o campo parecia estranho com suas pilhas de pedras e pedaços de ferro inclinados para um lado ou para o outro. Era como se uma batalha horrível tivesse sido lutada ali muito tempo antes.
Não seja idiota, respondeu ele para si mesmo com desconforto. Encontraram tudo que havia para ser encontrado aqui cinquenta anos atrás. Depois do acontecimento. E mesmo que não tivessem encontrado, algum outro garoto (ou adulto) teria encontrado... o resto... depois. Ou você acha que é a única pessoa que veio em busca de lembranças?
Não... não, não acho isso. Mas...
Mas o quê?, o lado racional de sua mente perguntou, e Mike pensou que estava falando um pouco alto demais, um pouco rápido demais. Mesmo que houvesse alguma coisa para encontrar, teria apodrecido tempos atrás. Então... o quê?
Mike encontrou no mato uma gaveta de escrivaninha quebrada. Ele olhou dentro, jogou-a de lado e chegou um pouco mais perto do porão, onde havia mais coisa. Sem dúvida, encontraria algo ali.
Mas e se tiver fantasmas? Essa é a questão. E se eu vir mãos saindo de dentro daquele porão, e se elas começarem a subir, crianças com os restos das roupas de domingo de Páscoa, roupas que estão podres e rasgadas e marcadas com cinquenta anos de lama da primavera e chuva do outono e neve do inverno? Crianças sem cabeça (ele tinha ouvido na escola que, depois da explosão, uma mulher encontrou a cabeça de uma das vítimas em uma árvore em seu quintal), crianças sem pernas, crianças abertas como bacalhaus, crianças como eu que talvez quisessem sair pra brincar... aqui onde é escuro... debaixo das vigas de ferro inclinadas e das rodas dentadas velhas e enferrujadas...
Ah, para, pelo amor de Deus!
Mas um tremor subiu pelas suas costas e ele decidiu que era hora de pegar alguma coisa, qualquer coisa, e sair dali. Ele esticou a mão para o chão, de forma quase aleatória, e pegou uma roda dentada com uns 18 centímetros de diâmetro. Ele tinha um lápis no bolso e usou-o para tirar rapidamente a terra dos dentes. Em seguida, enfiou a lembrança no bolso. Ele iria embora agora. Ele iria, sim...
Mas seus pés se moveram lentamente na direção errada, em direção ao porão, e ele percebeu com uma espécie de horror terrível que precisava olhar lá dentro. Ele tinha que ver.
Ele segurou uma viga esponjosa que saía da terra e se inclinou para a frente, tentando ver para baixo e para dentro. Não conseguiu. Tinha chegado a 5 metros da beirada, mas ainda era longe para ver o fundo do porão.
Não ligo se vejo o fundo ou não. Vou voltar agora. Tenho minha lembrança. Não preciso olhar pra um buraco velho nojento. E o bilhete do papai me mandava ficar longe.
Mas a curiosidade infeliz e quase febril que o agarrara não queria soltar. Ele se aproximou do porão passo trêmulo a passo trêmulo, ciente de que logo que a viga de madeira estivesse fora de alcance, não haveria mais onde se segurar, ciente também de que o chão estava mesmo úmido e instável. Em pontos ao longo da beirada, ele conseguia ver fendas, como túmulos que despencaram, e sabia que eram os locais de desmoronamentos anteriores.
Com o coração batendo no peito como os passos fortes de botas de soldado, ele chegou à beirada e olhou para baixo.
Aninhado no porão, o pássaro olhou para cima.
Mike primeiro não teve certeza do que estava vendo. Todos os nervos e reações de seu corpo pareceram paralisados, incluindo os que conduziam pensamentos. Não foi só o choque de ver um pássaro monstro, um pássaro cujo peito era laranja como o de um tordo americano e cujas penas eram comuns, cinza e fofas como as de um pardal; mais do que tudo, foi o choque do puramente inesperado. Ele esperava monólitos de maquinário meio submersos em poças paradas e lama preta; em vez disso, estava olhando para um ninho gigante que enchia o porão de uma ponta a outra e de um lado a outro. Tinha sido feito com grama suficiente para compor mais de dez fardos de feno. No entanto, essa grama era prateada e velha. O pássaro estava no meio, com os olhos de contorno brilhante pretos como piche fresco e quente, e por um momento insano antes de sua paralisia sumir, Mike conseguiu se ver refletido em cada um deles.
O chão começou a mexer de repente e ceder debaixo de seus pés. Ele ouviu o som de raízes rompendo e se deu conta de que estava deslizando.
Com um grito, ele se jogou para trás, balançando os braços para se equilibrar. Ele perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão sujo. Um pedaço duro e cego de metal bateu dolorosamente em suas costas, e ele teve tempo de pensar na cadeira de vagabundos antes de ouvir o som alto e explosivo das asas do pássaro.
Ele ficou de joelhos, engatinhou, olhou para trás por cima do ombro e o viu subindo do porão. As garras apavorantes eram de um laranja escuro. As asas em movimento, com mais de 3 metros de envergadura, faziam voar os pedaços de grama para um lado e para o outro, aleatoriamente, como o vento gerado por hélices de helicóptero. Ele deu um grito zumbido e alto. Algumas penas soltas caíram das asas e espiralaram até o chão do porão.
Mike ficou de pé de novo e começou a correr.
Ele correu pelo campo, sem olhar para trás agora, com medo de olhar para trás. O pássaro não parecia Rodan, mas ele sentiu que era o espírito de Rodan, surgindo do porão da Siderúrgica Kitchener como uma horrível surpresa saída de uma caixa. Ele tropeçou, caiu sobre um joelho, ficou de pé e correu mais.
Aquele estranho grito zumbido soou de novo. Uma sombra o cobriu, e quando ele olhou para cima, viu a coisa: ela passou a menos de um metro e meio de sua cabeça. O bico, amarelo sujo, abria e fechava, revelando um interior rosado. Ele fez a volta na direção de Mike. O vento que gerava soprou em seu rosto, trazendo junto um aroma seco e desagradável: poeira de sótão, antiguidades mortas, almofadas podres.
Ele desviou para a esquerda e viu a chaminé caída de novo. Mike correu para ela a toda velocidade, com os braços fazendo movimentos curtos na lateral do corpo. O pássaro gritou, e ele ouviu o bater das asas. Pareciam velas de barco. Alguma coisa atingiu a parte de trás de sua cabeça. Um fogo quente desceu até sua nuca. Ele sentiu espalhar quando o sangue começou a escorrer pela gola da camisa.
O pássaro fez a volta de novo, pretendendo pegá-lo com as garras e carregá-lo como um falcão com um rato selvagem. Pretendendo carregá-lo para o ninho. Pretendendo comê-lo.
Quando voou na direção dele, em movimento descendente, com os olhos pretos e horrivelmente vivos fixados nele, Mike virou de repente para a direita. O pássaro errou, mas por pouco. O aroma poeirento das asas era exagerado, insuportável.
Agora ele estava correndo em paralelo à chaminé caída, com os azulejos um borrão ao lado. Ele via onde ela terminava. Se conseguisse chegar à extremidade e dobrar à esquerda para entrar, poderia ficar em segurança. Ele achava que o pássaro era grande demais para entrar. Ele chegou bem perto de não conseguir. O pássaro voou para cima dele de novo, diminuindo a velocidade conforme se aproximava, com as asas batendo e empurrando o ar em um furacão, com as garras cobertas de escamas agora apontadas para ele e descendo. O pássaro gritou de novo, e desta vez Mike pensou ouvir triunfo na voz.
Ele baixou a cabeça, ergueu o braço e pulou para a frente. As garras se fecharam, e por um momento o pássaro o segurou pelo antebraço. O aperto era como o de dedos incrivelmente fortes com unhas duras nas pontas. Mordiam como dentes. As asas do pássaro batendo pareciam trovão nos seus ouvidos; ele percebeu de longe as penas que caíam ao seu redor, algumas roçando em suas bochechas como beijos fantasmas. O pássaro subiu, e por apenas um momento, Mike se sentiu puxado para cima, primeiro ereto, depois na ponta dos pés... e por um segundo interminável, ele sentiu as pontas dos tênis perderem contato com o chão.
— Me SOLTA! — gritou ele para o pássaro, e girou o braço. Por um momento, as garras mantiveram o aperto, e então a manga de sua camisa rasgou. Ele caiu no chão. O pássaro berrou. Mike correu de novo, passando pelas penas da cauda da coisa, com vontade de vomitar por causa do cheiro seco. Era como correr por uma cortina de chuveiro feita de penas.
Ainda tossindo, com os olhos ardendo tanto pelas lágrimas quanto pela poeira terrível que cobria as penas do pássaro, ele cambaleou para a chaminé caída. Nesse momento, nem lhe ocorreu pensar no que poderia estar escondido lá dentro. Ele correu para a escuridão, com os soluços ofegantes assumindo um eco seco. Seguiu talvez 6 metros e se virou em direção ao círculo iluminado pelo dia. Seu peito subia e descia, tremendo. Ele ficou ciente de repente de que, se tivesse errado o tamanho do pássaro ou da entrada da chaminé, teria se matado com a mesma certeza de que se tivesse encostado a arma do pai na cabeça e puxado o gatilho. Não havia por onde sair. Isso não era apenas um cano; era um beco escuro. O outro lado da chaminé estava enterrado.
O pássaro gritou de novo, e de repente a luz na extremidade da chaminé foi bloqueada quando ele pousou. Mike conseguia ver as pernas com escamas amarelas, cada uma da grossura da panturrilha de um homem. Em seguida, o bicho baixou a cabeça e olhou para dentro. Mike se viu de novo olhando para aqueles olhos de piche fresco horrivelmente brilhantes, com íris douradas como alianças. O bico do pássaro abria e fechava, abria e fechava, e cada vez que fechava, Mike ouvia um clique, como o som que se escuta nos ouvidos quando se bate os dentes uns nos outros com força. Afiado, pensou ele. O bico dele é afiado. Acho que eu sabia que pássaros tinham bicos afiados, mas nunca pensei nisso até agora.
Ele gritou de novo. O som era tão alto na garganta de azulejo da chaminé que Mike cobriu os ouvidos com as mãos.
O pássaro começou a se forçar a entrar na boca da chaminé.
— Não! — gritou Mike. — Não, você não pode!
A luz escureceu quando mais do corpo do pássaro foi espremido na abertura da chaminé. (Ah, meu Deus, por que eu não lembrei que ele era composto mais de penas? Por que não lembrei que ele podia se espremer?) A luz diminuiu... diminuiu... sumiu. Agora só havia escuridão profunda, o sufocante cheiro de sótão do pássaro e o som das penas dele.
Mike caiu de joelhos e começou a tatear no chão curvo da chaminé, com as mãos bem abertas, procurando. Encontrou um pedaço de azulejo quebrado, com as beiradas afiadas cobertas do que parecia ser limo. Ele puxou o braço para trás e jogou. Houve um baque. O pássaro emitiu o som agudo e zumbido de novo.
— Sai daqui! — gritou Mike.
Silêncio... e então o som de estalos e movimento recomeçou quando o pássaro voltou a forçar o corpo para entrar no cano. Mike tateou no chão, encontrou outros pedaços de azulejo e começou a jogar um atrás do outro. Eles bateram e se chocaram no pássaro e estalaram ao cair no chão da chaminé.
Por favor, Deus, pensou Mike com incoerência. Por favor, Deus, por favor, Deus, por favor, Deus...
Ocorreu-lhe que deveria recuar para a extremidade da chaminé. Ele tinha entrado pelo que havia sido a base; era lógico que estreitasse conforme ele recuasse. Ele poderia andar para trás, sim, e ouvir aquele movimento baixo e poeirento enquanto o pássaro seguia atrás dele. Ele poderia recuar, e se tivesse sorte, poderia passar do ponto em que o pássaro não conseguiria mais avançar.
Mas e se o pássaro ficasse preso?
Se isso acontecesse, ele e o pássaro morreriam ali juntos. Eles morreriam juntos e apodreceriam juntos. No escuro.
— Por favor, Deus! — gritou ele, e estava totalmente alheio ao fato de ter gritado em voz alta. Ele jogou outro pedaço de azulejo, e desta vez o lançamento foi mais forte; ele contou para os outros bem depois que sentiu como se alguém estivesse atrás dele naquele momento, e esse alguém tivesse dado um tremendo empurrão em seu braço. Desta vez, não houve baque nas penas; em vez disso, houve um som úmido, o som que a mão de uma criança poderia fazer ao bater na superfície de uma tigela de gelatina meio solidificada. Desta vez, o pássaro gritou não de raiva, mas de dor verdadeira. O zunido tenebroso das asas dele encheu a chaminé; ar fedido soprou por Mike como um furacão, fazendo suas roupas voarem, fazendo-o tossir, ter ânsia de vômito e recuar quando poeira e limo voaram.
A luz apareceu de novo, cinza e fraca a princípio, depois clareando e se modificando conforme o pássaro voltava pela chaminé. Mike começou a chorar, caiu de joelhos de novo e voltou a tatear loucamente em busca de pedaços de azulejo. Sem qualquer pensamento consciente, ele correu para a frente com as duas mãos cheias de azulejos (naquela luz ele conseguia ver que os pedaços estavam manchados de musgo azul-acinzentado e líquen, como a superfície de lápides de ardósia), até estar quase na boca da chaminé. Ele pretendia, se pudesse, impedir que o pássaro voltasse.
O bicho se abaixou, inclinando a cabeça da forma que um pássaro treinado em um poleiro às vezes inclina, e Mike viu onde seu último azulejo atingiu-o. O olho direito do pássaro quase não existia mais. Em vez de a bolha brilhante de piche fresco, havia uma cratera cheia de sangue. Gosma branco-acinzentada escorria do canto da órbita e pingava pela lateral do bico do pássaro. Pequenos parasitas se contorciam nessa gosma purulenta.
O pássaro o viu e saltou para a frente. Mike começou a jogar pedaços de azulejo nele. Os pedaços bateram na cabeça e no bico. O pássaro recuou por um momento e partiu para cima dele novamente, com o bico aberto, mostrando aquele interior rosado de novo, exibindo uma outra coisa que fez Mike ficar paralisado por um momento, com o queixo caído. A língua do pássaro era prateada, a superfície era rachada como terra vulcânica que foi esquentada e se fragmentou.
E, na língua, como estranhas ervas que se enraizaram temporariamente ali, havia uma enorme quantidade de protuberâncias de cor laranja.
Mike jogou o resto dos azulejos diretamente naquela boca aberta, e o pássaro recuou de novo, gritando de frustração, fúria e dor. Por um momento, Mike conseguiu ver as garras reptilianas... Mas as asas bateram no ar e ele sumiu.
Um momento depois, Mike ergueu o rosto, um rosto que estava marrom de terra, sujeira e pedaços de musgo que as asas fazedoras de vento tinham soprado nele, em direção ao som de estalo das garras nos azulejos. Os únicos lugares limpos no rosto de Mike eram as marcas feitas pelas lágrimas.
O pássaro andou de um lado para o outro acima: Tak-tak-tak-tak.
Mike recuou um pouco, pegou mais pedaços de azulejo e os empilhou o mais perto da boca da chaminé que ousou. Se a coisa voltasse, ele queria poder disparar contra ela à queima-roupa. A luz lá fora ainda estava intensa (agora que era o mês de maio, ainda demoraria para escurecer), mas e se o pássaro apenas decidisse esperar?
Mike engoliu, com os lados secos da garganta se arrastando um no outro por um momento.
Acima: Tak-tak-tak.
Ele tinha uma boa pilha de munição agora. Na luz fraca, além do ponto em que o ângulo do sol fazia uma sombra em espiral dentro do cano, parecia uma pilha de louça quebrada reunida por uma dona de casa. Mike esfregou as palmas das mãos sujas nas laterais da calça jeans e esperou para ver o que aconteceria depois.
Um tempo se passou antes de qualquer coisa acontecer; se foram 5 ou 35 minutos, ele não sabia dizer. Só estava ciente do pássaro andando de um lado para o outro acima como um insone andando pela casa às três da madrugada.
De repente, as asas bateram de novo. Ele caiu na frente da abertura da chaminé. Mike, de joelhos atrás da pilha de azulejos, começou a lançar mísseis no bicho antes mesmo que ele pudesse abaixar a cabeça. Um deles bateu em uma perna amarela metálica e tirou um filete de sangue tão escuro que parecia quase tão preto quanto os olhos. Mike gritou de triunfo, um som agudo e quase perdido sob o berro irado do pássaro.
— Sai daqui! — gritou Mike. — Vou ficar jogando até você sair daqui, juro por Deus que vou!
O pássaro voou para o alto da chaminé e voltou a andar.
Mike esperou.
Por fim, as asas bateram de novo quando ele levantou voo. Mike esperou, achando que os pés amarelos como de galinha fossem aparecer de novo. Não apareceram. Ele esperou mais, convencido de que era algum tipo de truque, percebendo enfim que não era por isso que estava esperando. Ele estava esperando porque estava com medo de sair, com medo de sair da segurança daquele esconderijo.
Não ligo! Não ligo pra esse tipo de coisa! Não sou um coelho!
Ele pegou o máximo de pedaços de azulejo que conseguiu segurar confortavelmente e colocou mais um pouco dentro da camisa. Saiu da chaminé, tentando olhar para todos os lados ao mesmo tempo e desejando loucamente ter olhos na nuca. Ele viu apenas o campo se estendendo à frente e ao redor dele, coberto dos restos explodidos e enferrujados da Siderúrgica Kitchener. Deu meia-volta, certo de que veria o pássaro empoleirado na beirada da chaminé como um abutre, um abutre de um olho só agora, querendo apenas que o garoto o visse antes de atacar pela última vez, usando aquele bico afiado para perfurar, rasgar e arrancar.
Mas o pássaro não estava lá.
Tinha mesmo ido embora.
Os nervos de Mike entraram em colapso.
Ele emitiu um grito intenso de medo e correu para a cerca surrada pelo tempo entre o campo e a estrada, deixando cair os últimos pedaços de azulejo. A maior parte do resto caiu da camisa quando ela se soltou da calça. Ele saltou por cima da cerca apoiando-se em uma das mãos, como Roy Rogers se exibindo para Dale Evans ao voltar do curral com Pat Brady e o resto dos caubóis. Ele segurou o guidão da bicicleta e correu ao lado dela por 12 metros antes de subir. E pedalou loucamente, sem ousar olhar para trás, sem ousar diminuir a velocidade, até chegar à interseção da estrada Pasture e da rua Outer Main, onde havia muitos carros passando de um lado para o outro.
Quando ele chegou em casa, o pai estava trocando as velas do trator. Will observou que Mike estava coberto de bolor e poeira. Mike hesitou por apenas uma fração de segundo e contou ao pai que havia caído da bicicleta na volta para casa ao desviar para evitar um buraco.
— Você quebrou alguma coisa, Mikey? — perguntou Will, observando o filho com um pouco mais de atenção.
— Não, senhor.
— Torceu?
— Hã-hã.
— Tem certeza?
Mike assentiu.
— Trouxe uma lembrança?
Mike enfiou a mão no bolso e pegou a roda dentada. Ele mostrou para o pai, que olhou rapidamente e puxou um pequeno fragmento de azulejo da parte macia de carne abaixo do polegar de Mike. Ele pareceu mais interessado nisso.
— Daquela velha chaminé? — perguntou Will.
Mike assentiu.
— Você entrou lá?
Mike assentiu de novo.
— Viu alguma coisa lá dentro? — perguntou Will, e então, como se para tornar a pergunta uma brincadeira (que não pareceu em nada com uma brincadeira), acrescentou: — Um tesouro enterrado?
Sorrindo um pouco, Mike balançou a cabeça.
— Bem, não conte pra sua mãe que se meteu lá dentro — disse Will. — Ela me daria um tiro primeiro e depois em você. — Ele olhou com ainda mais atenção para o filho. — Mikey, você está bem?
— Hã?
— Está com olheiras.
— Acho que devo estar cansado — disse Mike. — São 12 a 16 quilômetros de ida e volta, não esqueça. Quer ajuda com o trator, pai?
— Não, acabei de mexer nele por esta semana. Entre e vá se lavar.
Mike começou a se afastar, mas o pai o chamou de novo. Mike olhou para trás.
— Não quero que você vá mais naquele lugar — disse ele —, pelo menos não até essa confusão estar esclarecida e terem capturado o homem que está fazendo isso... Você não viu ninguém lá, viu? Ninguém te perseguiu nem te chamou?
— Não vi pessoa nenhuma — disse Mike.
Will assentiu e acendeu um cigarro.
— Acho que foi erro meu te mandar lá. Lugares velhos assim... às vezes podem ser perigosos.
Eles se olharam rapidamente.
— Certo, papai — disse Mike. — Não quero voltar mesmo. Foi meio assustador.
Will assentiu de novo.
— Quanto menos se disser, melhor, eu acho. Vá se limpar agora. E diga pra ela colocar três ou quatro salsichas a mais.
Mike foi.
Deixa isso pra lá agora, pensou Mike Hanlon, olhando para as marcas que iam até a beirada de concreto do canal. Deixa isso pra lá, deve ter sido só um sonho mesmo, e...
Havia manchas de sangue seco na beirada do canal.
Mike olhou para elas e olhou para o canal. A água negra corria suavemente. Blocos de espuma amarela suja se agarravam às laterais, às vezes se soltando e flutuando na correnteza em círculos e curvas preguiçosos. Por um momento, só um momento, dois blocos dessa espuma se juntaram e pareceram formar um rosto, um rosto de garoto, com os olhos para cima em uma máscara de terror e agonia.
A respiração de Mike ficou presa na garganta, como se em um espinho.
A espuma se rompeu, se tornou sem sentido de novo, e naquele momento houve um som alto de água à sua direita. Mike virou a cabeça e se encolheu um pouco, e por um momento acreditou ter visto alguma coisa nas sombras do túnel de escoamento onde o canal ressurgia depois de seu curso por debaixo da cidade.
Mas logo sumiu.
De repente, com frio e tremendo, ele enfiou a mão no bolso para pegar o canivete que encontrou na grama. Ele o jogou no canal. Houve um ruído de água, um tremor que começou como um círculo e foi transformado no formato de uma seta pela corrente... depois, nada.
Nada exceto o medo que de repente o sufocava e a certeza mortal de que havia alguma coisa perto, alguma coisa observando-o, avaliando suas chances, ganhando tempo.
Ele se virou, com a intenção de voltar para a bicicleta (correr seria dignificar esses medos e se indignificar), e então ele ouviu o ruído na água de novo. Foi bem mais alto nesta segunda vez. Dane-se a dignidade. De repente, ele estava correndo o mais rápido que conseguia, em disparada na direção do portão e da bicicleta, levantando o descanso com o calcanhar e pedalando para a rua o mais rápido que conseguiu. Aquele cheiro de mar ficou forte demais... forte demais. Estava por toda parte. E a água pingando dos galhos molhados parecia alta demais.
Alguma coisa estava chegando. Ele ouviu os passos arrastados na grama.
Mike ficou de pé nos pedais, empurrou com tudo e disparou para a rua Main sem olhar para trás. Seguiu para casa o mais rápido que conseguiu, perguntando-se o que o tinha possuído para fazer com que ele fosse para lá... o que o tinha atraído.
Ele tentou pensar nas tarefas, em todas as tarefas, em nada além de tarefas. Depois de um tempo, acabou conseguindo.
E quando viu a manchete no jornal no dia seguinte (GAROTO DESAPARECIDO DESPERTA NOVOS MEDOS), ele pensou no canivete que jogou no canal, o canivete com as iniciais E. C. entalhadas na lateral. Pensou no sangue que viu na grama.
E pensou nas marcas que iam até a beirada do canal.
A represa no Barrens
Vista da via expressa às quinze para as cinco da manhã, Boston parece uma cidade dos mortos ressentida por alguma tragédia do passado: uma peste, talvez, ou uma maldição. O cheiro de sal, pesado e nauseante, vem do oceano. A neblina da manhã obscurece a maior parte do movimento que poderia ser visto se ela não estivesse lá.
Ao seguir para o norte pela via Storrow, sentado ao volante de um Cadillac preto 1984 que ele pegou com Butch Carrington na Cape Cod Limousine, Eddie Kaspbrak pensa que dá para sentir a idade da cidade; talvez essa sensação de idade não seja sentida em nenhum outro lugar dos Estados Unidos. Boston é jovem em comparação a Londres, uma criança em comparação a Roma, mas pelos padrões americanos, pelo menos, é velha, muito velha. Ela se assentou nessas colinas baixas pelo menos trezentos anos antes, quando os Impostos do Chá e dos Selos nem tinham sido criados, Paul Revere e Patrick Henry nem tinham nascido.
Sua idade, seu silêncio e o cheiro enevoado do mar, todas essas coisas deixam Eddie nervoso. Quando Eddie fica nervoso, ele pega a bombinha. Ele a enfia na boca e joga uma nuvem de spray reavivante na garganta.
Há poucas pessoas nas ruas pelas quais ele passa e um pedestre ou dois nas passarelas; eles refutam a impressão de que ele de alguma forma entrou em uma história lovecraftiana de cidades amaldiçoadas, males antigos e monstros com nomes impronunciáveis. Aqui, reunidos em um ponto de ônibus com uma placa onde se lê KENMORE SQUARE CITY CENTER, ele vê garçonetes, enfermeiras, funcionários públicos, com os rostos nus e inchados de sono.
Isso mesmo, pensa Eddie, agora passando debaixo de uma placa que diz PONTE TOBIN. Isso mesmo, prefiram os ônibus. Esqueçam os metrôs. Os metrôs são má ideia; eu não desceria lá se fosse vocês. Não lá embaixo. Não nos túneis.
É um pensamento ruim de ter; se ele não se livrar desse pensamento, logo vai ter que usar a bombinha de novo. Ele está feliz pelo trânsito mais carregado da Ponte Tobin. Ele passa pelas obras em um monumento. Pintada na lateral de tijolos há uma repreensão ligeiramente perturbadora: VÁ DEVAGAR! PODEMOS ESPERAR!
Há uma placa verde com refletores que diz PARA A 95 MAINE, N. H., TODOS OS PONTOS DO NORTE DA NOVA INGLATERRA. Ele olha para a placa e de repente um tremor profundo faz seus ossos tremerem. Suas mãos se grudam momentaneamente ao volante do Cadillac. Ele gostaria de acreditar que é uma doença chegando, um vírus ou talvez uma das “febres fantasma” da mãe, mas sabe que não é isso. É a cidade atrás dele, silenciosamente entre a beirada que separa o dia da noite, e o que aquela placa promete à frente. Ele está doente, claro, não há dúvida quanto a isso, mas não é um vírus nem uma febre fantasma. Ele foi envenenado por suas próprias lembranças.
Estou com medo, pensa Eddie. No fundo, sempre foi isso. O simples medo. Isso era tudo. Mas no final acho que contornamos isso de alguma forma. Nós o usamos. Mas como?
Ele não consegue lembrar. Pergunta-se se algum dos outros consegue. Pelo bem deles, ele espera que sim.
Um caminhão passa pela esquerda. Eddie ainda está com os faróis ligados e agora os pisca rapidamente quando o caminhão ultrapassa em segurança. Ele faz sem pensar. Tornou-se uma função automática, parte de dirigir como profissão. O motorista invisível do caminhão pisca o farol de navegação em resposta, rapidamente, duas vezes, agradecendo a Eddie a cortesia. Se tudo pudesse ser simples e claro assim, pensa ele.
Ele segue as placas até a I-95. O tráfego para o norte é leve, embora ele observe que as pistas para o sul em direção à cidade estão começando a encher, mesmo cedo assim. Eddie dirige o grande carro, pressupondo a maior parte das placas e pegando a pista certa bem antes do necessário. Há anos, literalmente, ele não supõe errado a ponto de passar direto por uma saída que queria. Ele faz suas escolhas de pista tão automaticamente quanto piscou o farol para o motorista do caminhão para avisar que ele podia ultrapassar, tão automaticamente quanto uma vez encontrou o caminho pelo emaranhado de passagens no Barrens de Derry. O fato de que nunca na vida tinha dirigido para fora do centro de Boston, uma das cidades mais confusas nos Estados Unidos para se dirigir, não parece importar nem um pouco.
Ele se lembra de repente de outra coisa daquele verão, de uma coisa que Bill disse para ele um dia:
— Vo-Você t-tem uma b-b-bu-ússola na cabeça, E-E-Eddie.
Como isso o deixou feliz! Ainda o deixa enquanto o Cadillac Eldorado 1984 desliza pela estrada. Ele aumenta a velocidade da limusine para seguros 90 km/h e encontra música tranquila no rádio. Ele acha que teria morrido por Bill naquela época se tivesse sido necessário; se Bill tivesse pedido, Eddie teria respondido simplesmente:
— Claro, Big Bill... já sabe que horas?
Eddie ri ao pensar nisso, não tanto com um som, só um ronco, mas o som o assusta e faz rir de verdade. Ele ri pouco atualmente, e não esperava encontrar tantas hahas (palavra de Richie que significava risadas, como em “Deu alguma boa haha hoje, Eds?”) nessa peregrinação sombria. Mas, supõe ele, se Deus é sacana o bastante para amaldiçoar os fiéis com o que eles mais querem na vida, deve ser excêntrico o bastante para lhe dar uma boa haha ou duas no caminho.
— Deu alguma boa haha ultimamente, Eds? — diz ele em voz alta, e ri de novo. Cara, ele odiava quando Richie o chamava de Eds... mas também gostava um pouco. Da mesma forma como achava que Ben Hanscom passou a gostar quando Richie o chamava de Monte de Feno. Era... como um nome secreto. Uma identidade secreta. Uma forma de eles serem pessoas que não tinham nada a ver com os medos, esperanças e exigências constantes dos pais. Richie não conseguia fazer as amadas Vozes à toa, mas talvez soubesse o quanto era importante idiotas como eles serem pessoas diferentes às vezes.
Eddie olha para as moedas enfileiradas no painel do Cadillac; enfileirar as moedas é outro gesto automático de quem trabalha com isso. Quando os pedágios chegam, não é bom ter que parar para procurar moedas, nem descobrir que você entrou na fileira do pedágio automático sem ter o dinheiro contado.
Dentre as moedas, há dois ou três dólares de prata com o perfil de Susan B. Anthony. Ele reflete que são moedas que você provavelmente só encontra nos bolsos de choferes e motoristas de táxi na área de Nova York atualmente, assim como o único lugar em que você deve encontrar muitas notas de dois dólares é em um guichê de pagamento de apostas em cavalos. Ele sempre tem algumas à mão porque as cestas do pedágio robô nas pontes George Washington e Triboro as aceitam.
Outra daquelas luzes se acende de repente em sua cabeça: dólares de prata. Não essas ligas metálicas falsas, mas dólares de prata de verdade, com a imagem de Lady Liberdade vestida com a túnica leve. Os dólares de prata de Ben Hanscom. Sim, mas não foi Bill, ou Ben, ou Beverly que usou uma vez um desses dólares de prata para salvar a vida deles? Ele não tem certeza disso, na verdade não tem certeza de nada... ou será que apenas não quer lembrar?
Estava escuro lá, pensa ele de repente. Eu me lembro disso. Estava escuro lá.
Boston ficou bem para trás agora, e a neblina está começando a ceder. À frente estão MAINE, N.H., TODOS OS PONTOS DO NORTE DA NOVA INGLATERRA. Derry está à frente, e tem alguma coisa em Derry que deveria estar morta há 27 anos, mas de alguma forma não está. Uma coisa com tantas caras quanto Lon Chaney. Mas o que é, de verdade? Eles não viram no final como ela realmente era, com todas as máscaras deixadas de lado?
Ah, ele conseguia se lembrar disso tudo... mas não o bastante.
Ele lembra que amava Bill Denbrough; lembra-se disso muito bem. Bill nunca debochava da asma dele. Bill nunca o chamava de bicha gay. Ele amava Bill como amaria um irmão mais velho... ou um pai. Bill sabia o que fazer. Aonde ir. Coisas a ver. Bill nunca era do contra. Quando você corria com Bill, corria para vencer o diabo e ria... mas raramente ficava sem fôlego. E raramente ficar sem fôlego era demais, era foda demais, Eddie diria para o mundo. Quando você corria com Big Bill, dava hahas todos os dias.
— Claro, garoto, TO-dos os dias — diz ele com uma Voz de Richie Tozier, e ri de novo.
Foi ideia de Bill fazer a represa no Barrens, e foi, de certa forma, a represa que os uniu. Ben Hanscom foi quem mostrou como podia ser construída (e eles a construíram tão bem que ficaram encrencados com o sr. Nell, o policial de plantão), mas tinha sido ideia de Bill. E apesar de todos eles, exceto Richie, terem visto coisas muito estranhas, coisas assustadoras, em Derry desde a virada do ano, foi Bill quem teve coragem primeiro de falar em voz alta.
Aquela barragem.
Aquela maldita barragem.
Ele se lembrava de Victor Criss:
— Tchau, tchau, garotos. Era uma barragem de bebê mesmo, acreditem. Vocês estão melhores sem ela.
Um dia depois, Ben Hanscom estava sorrindo para eles, dizendo:
— Nós poderíamos
— Nós poderíamos inundar
— Nós poderíamos inundar o
— ... Barrens inteiro se quiséssemos.
Bill e Eddie olharam para Ben com dúvida e então para as coisas que Ben levou: algumas tábuas (retiradas do quintal do sr. McKibbon, mas não tinha problema, porque o sr. McKibbon provavelmente tinha tirado de outra pessoa), uma marreta, uma pá.
— Sei lá — disse Eddie, olhando para Bill. — Quando tentamos ontem, não deu muito certo. A corrente ficava levando nossos gravetos.
— Isso vai funcionar — disse Ben. Ele também olhou para Bill em busca da decisão final.
— Bem, va-vamos t-tentar — disse Bill. — Ch-chamei R-R-R-Richie Tozier hoje de ma-manhã. Ele v-vem m-mais t-tarde, ele d-disse. Talvez ele e Sta-a-anley queiram aju-judar.
— Stanley quem? — perguntou Ben.
— Uris — disse Eddie. Ele ainda estava olhando com cautela para Bill, que parecia diferente hoje de alguma maneira, mais quieto, menos entusiasmado pela ideia da barragem. Bill estava pálido hoje. Distante.
— Stanley Uris? Acho que não conheço. Ele é da Escola Derry?
— Ele é da nossa idade, mas acabou de terminar o quarto ano — disse Eddie. — Ele começou a escola um ano mais tarde porque ficava muito doente quando era pequeno. Se você achou que se ferrou ontem, devia ficar feliz de não ser o Stan. Tem sempre alguém cobrindo o Stan de porrada.
— Ele é ju-ju-judeu — disse Bill. — Mu-Muitos g-garotos não g-gostam dele porque e-ele é judeu.
— Ah, é? — perguntou Ben, impressionado. — Judeu, é? — Ele fez uma pausa e disse com cautela: — Isso é como ser turco ou é mais como ser egípcio?
— A-Acho que é mais como tu-turco — disse Bill. Ele pegou uma das tábuas que Ben tinha levado e olhou para ela. Tinha 1,80 metro de comprimento e 90 centímetros de largura. — Meu p-p-pai diz que a maior parte dos ju-judeus tem n-narizes grandes e muito din-dinheiro, mas Stan-Stan-Stan...
— Mas Stan tem nariz normal e está sempre sem grana — disse Eddie.
— É — disse Bill, e abriu um largo sorriso pela primeira vez naquele dia.
Ben sorriu.
Eddie sorriu.
Bill jogou a tábua de lado, ficou de pé e limpou o traseiro da calça jeans. Andou até a margem do rio, e os dois outros garotos se juntaram a ele. Bill enfiou as mãos nos bolsos de trás e suspirou. Eddie tinha certeza de que Bill ia dizer uma coisa séria. Ele olhou para Eddie e para Ben e depois para Eddie de novo, sem sorrir agora. Eddie ficou com medo de repente.
Mas tudo que Bill disse naquele momento foi:
— Você está com sua b-b-bombinha, E-Eddie?
Eddie bateu no bolso.
— Estou preparado.
— E aí, deu certo a história do leite achocolatado? — perguntou Ben.
Eddie riu.
— Deu muito certo! — disse ele. Ele e Ben repararam em Bill olhando para eles, sorrindo, mas intrigado. Eddie explicou e Bill assentiu, sorrindo de novo.
— A mã-ãe de E-E-Eddie tem m-m-medo de e-ele que-quebrar e e-ela n-não poder r-receber o di-dinheiro de v-volta.
Eddie riu e fingiu que ia jogá-lo na água.
— Cuidado, cara de merda — disse Bill, parecendo absurdamente com Henry Bowers. — Vou girar sua cabeça tão pra trás que você vai conseguir se ver quando for se limpar.
Ben caiu no chão de tanto rir. Bill olhou para ele, ainda sorrindo, com as mãos ainda nos bolsos de trás da calça jeans, sorrindo, sim, mas meio distante de novo, um pouco vago. Ele olhou para Eddie e inclinou a cabeça na direção de Ben.
— O garoto é ru-u-im da c-cabeça — disse ele.
— É — concordou Eddie, mas sentiu que eles estavam apenas cumprindo o ritual de se divertirem. Bill estava com alguma coisa na cabeça. Ele achava que Bill ia falar quando estivesse pronto; a questão era: será que Eddie queria ouvir? — O garoto é retardado mental.
— Mongol — disse Ben, ainda rindo.
— V-Você v-v-vai nos mo-mostrar como c-construir uma barragem ou v-vai fi-fi-ficar s-sentado nessa b-bundona o dia t-todo?
Ben ficou de pé de novo. Olhou primeiro para o rio, fluindo em velocidade moderada. O Kenduskeag não era muito largo nessa parte do Barrens, mas os venceu no dia anterior mesmo assim. Nem Eddie nem Bill conseguiu entender como controlar a corrente. Mas Ben estava sorrindo, o sorriso de alguém que pensa em fazer uma coisa nova... uma coisa que vai ser divertida, mas não muito difícil. Eddie pensou: Ele sabe como fazer, acho mesmo que sabe.
— Certo — disse ele. — É melhor vocês tirarem os sapatos, porque vão molhar os pezinhos.
A consciência-mãe na cabeça de Eddie falou imediatamente, com voz tão dura e firme quanto a voz de um policial de trânsito: Não ouse fazer isso, Eddie! Não ouse! Pés molhados são uma das maneiras, uma das milhares de maneiras, de se pegar um resfriado, e resfriados levam a pneumonia, então não faça isso!
Bill e Ben estavam sentados na margem, tirando os tênis e as meias. Ben estava enrolando as pernas da calça jeans. Bill olhou para Eddie. Seus olhos estavam claros e calorosos, solidários. Eddie de repente teve certeza de que Big Bill sabia exatamente o que ele tinha pensado e ficou com vergonha.
— V-Você v-v-vem?
— Vou, claro — disse Eddie. Ele se sentou na margem e tirou os sapatos enquanto a mãe falava mais um pouco dentro de sua cabeça... mas a voz dela estava ficando cada vez mais distante e com eco, ele ficou aliviado em notar, como se alguém tivesse enfiado um anzol forte na parte de trás da blusa dela e agora a estivesse puxando para longe por um corredor bem comprido.
Era um daqueles dias perfeitos de verão dos quais, em um mundo onde tudo estava certo e seguindo o rumo esperado, você nunca se esqueceria. Uma brisa leve mantinha longe a maior parte dos mosquitos e das moscas. O céu estava azul-claro intenso. As temperaturas estavam em vinte e poucos graus. Pássaros cantavam e faziam suas coisas de pássaros nos arbustos e nas árvores. Eddie precisou usar a bombinha uma vez, e então seu peito ficou mais leve e sua garganta pareceu se alargar magicamente para o tamanho de uma estrada. Ele passou o resto da manhã com a bombinha esquecida no bolso de trás.
Ben Hanscom, que pareceu tão tímido e inseguro no dia anterior, se tornou um general confiante depois que ficou totalmente envolvido na verdadeira construção da represa. De vez em quando ele subia na margem e ficava ali de pé com as mãos lamacentas nos quadris, olhando para o trabalho em desenvolvimento e murmurando sozinho. Às vezes passava a mão pelo cabelo, e às 11 horas as mechas já estavam todas de pé e espetadas de maneira cômica.
Eddie sentiu insegurança a princípio, depois uma sensação de alegria e, por fim, um sentimento completamente novo, que era ao mesmo tempo esquisito, apavorante e arrebatador. Era um sentimento tão estranho para seu estado normal que ele não conseguiu identificar até aquela noite, deitado na cama, olhando para o teto e repassando o dia mentalmente. Poder. Era esse o sentimento. Poder. Daria certo, por Deus, e funcionaria melhor do que ele e Bill, e talvez o próprio Ben, tinham sonhado que era possível.
Ele também conseguia ver Bill se envolvendo, só um pouco no começo, ainda remoendo o que quer que tivesse na cabeça, e então, pouco a pouco, se dedicando completamente. Uma ou duas vezes ele bateu no ombro carnudo de Ben e disse que ele era inacreditável. Ben corou de prazer em cada uma das vezes.
Ben pediu que Eddie e Bill colocassem uma das tábuas atravessando o rio e que a segurassem enquanto ele usava a marreta para enfiá-la no fundo.
— Pronto. Entrou, mas você vai ter que segurar senão a corrente solta — disse ele para Eddie, então Eddie ficou no meio do riacho segurando a tábua enquanto a água passava por cima e fazia as mãos dele parecerem estrelas- do- mar.
Ben e Bill colocaram uma segunda tábua 60 centímetros abaixo da primeira. Ben usou a marreta de novo para firmá-la, e Bill a segurou enquanto Ben começou a encher o espaço entre as duas com terra da margem do rio. A princípio, ela foi levada pelas laterais das tábuas em nuvens poeirentas, e Eddie achou que não ia funcionar, mas quando Ben começou a acrescentar pedras e lama do fundo do rio, as nuvens de sedimento que fugiam começaram a diminuir. Em menos de 20 minutos, ele criou um canal amontoado de terra marrom e pedras entre as duas tábuas no meio do rio. Para Eddie, parecia uma ilusão de ótica.
— Se tivéssemos cimento de verdade... em vez de só... lama e pedras, eles teriam que mudar a cidade de lugar... para o lado de Old Cape no meio da semana que vem — disse Ben, empurrando a pá para o lado e sentando-se na margem até recuperar o fôlego. Bill e Eddie riram, e Ben sorriu para eles. Quando ele sorria, dava para ver o fantasma do homem bonito que se tornaria nas linhas do seu rosto. A água tinha começado a se acumular atrás da primeira tábua agora.
Eddie perguntou o que eles fariam sobre a água que escapava pelas laterais.
— Deixa pra lá. Não tem importância.
— Não?
— Não.
— Por quê?
— Não sei explicar exatamente. Mas você tem que deixar um pouco escapar.
— Como você sabe?
Ben deu de ombros. Apenas sei, dizia o movimento, e Eddie ficou em silêncio.
Depois de descansar, Ben pegou a terceira tábua, a mais grossa das quatro ou cinco que ele carregou pela cidade até o Barrens, e colocou com cuidado contra a segunda tábua, prendendo uma extremidade com firmeza no fundo do rio e apoiando a outra contra a tábua que Bill estava segurando, criando o escoramento que tinha colocado no desenho do dia anterior.
— Certo — disse ele, dando um passo para trás. Ele sorriu para os dois. — Vocês devem poder soltar agora. A lama entre as duas tábuas vai segurar a maior parte da pressão da água. O suporte vai segurar o resto.
— A água não vai derrubar tudo? — perguntou Eddie.
— Não. A água só vai enterrar mais fundo.
— E se você estiver er-er-errado, va-vamos m-m-matar v-você — disse Bill.
— Tudo bem — respondeu Ben com alegria.
Bill e Eddie recuaram. As duas tábuas que formavam a base da represa estalaram um pouco, se inclinaram um pouco... e só.
— Puta merda! — gritou Eddie, empolgado.
— Está de-de-demais — disse Bill, sorrindo.
— É — disse Ben. — Vamos comer.
Eles se sentaram na margem do rio e comeram, sem falar muito, vendo a água se acumular atrás da barragem e escorrer pelas laterais das tábuas. Eddie via que eles já tinham provocado alguma coisa na geografia das margens do rio; a corrente desviada estava abrindo buracos nela. Enquanto ele observava, o novo curso do rio abriu a margem o bastante do outro lado para provocar uma pequena avalanche.
Na parte do rio antes da represa, a água formava uma piscina circular, e em um ponto ela havia transbordado sobre a margem. Riachos luminosos corriam pela grama para a vegetação. Eddie começou a perceber lentamente o que Ben soubera desde o começo: a represa já estava construída. Os espaços entre as tábuas e as margens eram escapes de água. Ben não fora capaz de explicar isso para Eddie porque não conhecia a palavra. Acima das tábuas, o Kenduskeag adquirira um aspecto inchado. O som suave de água rasa batendo em pedras e cascalho havia desaparecido; todas as pedras antes da represa estavam submersas. De vez em quando, mais grama e terra, sendo invadida pelo riacho que se alargava, caíam na água com um estalo.
Depois da represa, o curso de água estava quase vazio; pequenos filetes corriam inquietos pelo meio, mas não passava disso. Pedras que estavam debaixo da água por Deus sabia quanto tempo estavam secando ao sol. Eddie olhou para essas pedras com curiosidade branda... e com aquele outro sentimento estranho. Eles tinham feito isso. Eles. Ele viu um sapo pulando e pensou que talvez o velho sr. Sapinho estivesse se perguntando para onde a água tinha ido. Eddie riu alto.
Ben estava guardando cuidadosamente as embalagens vazias na lancheira que tinha levado. Tanto Eddie quanto Bill ficaram impressionados com o tamanho da refeição que Ben arrumou com eficiência profissional: dois sanduíches de creme de amendoim com geleia, um sanduíche de mortadela, um ovo cozido (com uma pitada de sal que ele levou dentro de um pedaço de papel manteiga), duas barrinhas de figo seco, três biscoitos grandes com gotas de chocolate e um bolinho.
— O que sua mãe disse quando viu a surra que você tomou? — perguntou Eddie.
— Hummmm? — Ben ergueu o olhar da piscina de água que se formava atrás da represa e arrotou baixinho atrás das costas da mão. — Ah! Bem, eu sabia que ela ia sair pra fazer compras ontem de tarde, então consegui chegar em casa antes dela. Tomei um banho e lavei o cabelo. Depois, joguei fora a calça jeans e o moletom que eu estava usando. Não sei se ela vai reparar que sumiram. O moletom talvez não, eu tenho um monte, mas acho que tenho que comprar uma calça nova antes que ela comece a xeretar minhas gavetas.
A ideia de desperdiçar dinheiro com um item tão supérfluo provocou uma expressão de tristeza momentânea no rosto de Ben.
— E o t-t-tanto q-que v-você estava ma-machucado?
— Falei que me empolguei tanto de ter entrado de férias que saí correndo e caí pela escada — disse Ben, e pareceu impressionado e um pouco magoado quando Eddie e Bill começaram a gargalhar. Bill, que estava mastigando um pedaço do bolo devil’s food da mãe dele, cuspiu um jato marrom de migalhas e teve um ataque de tosse. Eddie, ainda uivando de tanto rir, deu tapinhas nas costas dele.
— Ah, eu quase caí mesmo pela escada — disse Ben. — Só que foi porque Victor Criss me empurrou, não porque eu estava correndo.
— Eu ia m-morrer de c-calor usando um moletom daqueles — disse Bill enquanto comia o último pedaço de bolo.
Ben hesitou. Por um momento, pareceu que ele não ia dizer nada.
— É melhor quando se é gordo — disse ele. — Estou falando do moletom.
— Por causa da barriga? — perguntou Eddie.
Bill deu uma risada roncada.
— Por causa dos pe-pe-pe...
— É, dos meus peitos. E daí?
— É — disse Bill em tom pacífico. — E d-daí?
Houve um momento de silêncio constrangedor e Eddie disse:
— Olha como a água está ficando escura quando passa por aquele lado da represa.
— Ah, caramba! — Ben ficou de pé. — A corrente está tirando o preenchimento! Droga, eu queria ter cimento!
O dano foi rapidamente consertado, mas até Eddie conseguia ver o que aconteceria sem alguém ali para jogar mais preenchimento constantemente: a erosão acabaria fazendo com que a primeira tábua despencasse em cima da segunda, e então tudo despencaria.
— Podemos fortalecer as laterais — disse Ben. — Não vai impedir a erosão, mas vai diminuir a velocidade.
— Se usarmos areia e lama, não vai tudo embora com a água? — perguntou Eddie.
— Vamos usar pedaços de gramado.
Bill assentiu, sorriu e fez um O com a junção do polegar e do indicador da mão direita.
— V-V-Vamos. Eu ca-cavo e v-você me m-mostra onde c-colocar, Big Ben.
Atrás deles, uma voz estridente e animada gritou:
— Meu Deeeeeus, alguém montou uma piscina pública aqui no Barrens, com limo e tudo!
Eddie se virou e reparou na forma como Ben ficou tenso ao ouvir o som de uma voz estranha, em como seus lábios se apertaram. Acima deles, no caminho que Ben cruzou no dia anterior, estavam Richie Tozier e Stanley Uris.
Richie desceu gingando até o rio, olhou para Ben com um certo interesse e beliscou a bochecha de Eddie.
— Não faz isso! Odeio quando você faz isso, Richie.
— Ah, você adora, Eds — disse Richie, e sorriu para ele. — E aí? Dando umas boas hahas, por acaso?
Os cinco encerraram os trabalhos por volta das 16h. Sentaram-se em um ponto bem mais alto na margem (o local onde Bill, Ben e Eddie haviam almoçado agora estava submerso) e olharam para o resultado. Até Ben achava meio difícil de acreditar. Ele teve uma sensação de sucesso cansado misturado com temor desconfortável. Viu-se pensando em Fantasia e na forma como Mickey Mouse soube fazer as vassouras começarem a trabalhar... mas não soube fazê-las parar.
— Incrivelmente foda — disse Richie Tozier baixinho, e empurrou os óculos para cima no nariz.
Eddie olhou para ele, mas Richie não estava fazendo um de seus shows agora; seu rosto estava pensativo, quase solene.
No outro lado do rio, onde o terreno primeiro subia e depois se inclinava de leve para baixo, eles haviam criado uma nova área alagada. Arbustos e samambaias estavam cobertos de 30 centímetros de água. Mesmo durante o tempo em que ficaram sentados ali, eles conseguiram ver o brejo gerando novos pseudorriachos, espalhando-se para o oeste. Atrás da barreira, o Kenduskeag, raso e inocente ainda naquela manhã, tinha se tornado um corpo de água parada e inchada.
Às 14h, a piscina cada vez maior atrás da represa havia engolido tanto da margem que os escoadouros haviam crescido quase até o tamanho de rios. Todos exceto Ben fizeram uma expedição de emergência ao lixão em busca de mais materiais. Ben ficou no local, bloqueando vazamentos metodicamente. Os aventureiros voltaram não só com tábuas, mas também com quatro pneus carecas, a porta enferrujada de um Hudson Hornet 1949 e um pedaço grande de aço corrugado. Sob a liderança de Ben, eles construíram dois braços na barragem original, bloqueando o escape de água nas laterais de novo, e, com os braços posicionados em um ângulo contra a corrente, a barragem funcionou ainda melhor do que antes.
— Acabou com aquela porcaria — disse Richie. — Você é um gênio, cara.
Ben sorriu.
— Nem tanto.
— Tenho uns cigarros Winston — disse Richie. — Quem quer um?
Ele pegou um maço amassado branco e vermelho dentro do bolso da calça e passou entre os meninos. Eddie, pensando no inferno que um cigarro faria com sua asma, recusou. Stan também recusou. Bill pegou um e, depois de pensar um momento, Ben também. Richie pegou uma caixa de fósforos com as palavras ROI-TAN do lado de fora e acendeu primeiro o cigarro de Ben e depois o de Bill. Estava prestes a acender o próprio quando Bill soprou o fósforo.
— Muito obrigado, Denbrough, seu merda — disse Richie.
Bill sorriu pedindo desculpas.
— T-T-Três no m-m-mesmo fo-fósforo — disse ele. — D-Dá azar.
— Azar dos pais de vocês quando vocês nasceram — disse Richie, e acendeu seu cigarro com outro fósforo. Ele se deitou e cruzou os braços debaixo da cabeça. O cigarro estava apontando para cima entre seus dentes. — Winston tem gosto bom, como um cigarro deve ter. — Ele virou a cabeça de leve e piscou para Eddie. — Não é mesmo, Eds?
Eddie viu que Ben estava olhando para Richie com uma mistura de assombro e cautela. Eddie conseguia entender. Ele conhecia Richie Tozier havia quatro anos e ainda não entendia qual era a dele. Sabia que Richie tirava A e B nas provas, mas também sabia que tirava regularmente C e D em comportamento. O pai enchia o saco dele por causa disso, e a mãe só chorava cada vez que Richie chegava em casa com uma nota ruim de comportamento, e Richie jurava que melhoraria, e talvez até melhorasse... por um bimestre ou dois. O problema com Richie era que ele não conseguia ficar parado por mais de um minuto nem ficar com a boca calada nunca. Aqui no Barrens, isso não gerava muitos problemas, mas o Barrens não era a Terra do Nunca, e eles não podiam ser os Garotos Perdidos por mais do que algumas horas seguidas (a ideia de um Garoto Perdido com bombinha no bolso de trás da calça fez Eddie sorrir). O problema com o Barrens era que você sempre tinha que ir embora. Lá fora, no mundo maior, as besteiras de Richie sempre o metiam em confusão: com adultos, o que era ruim, e com caras como Henry Bowers, o que era bem pior.
A chegada dele naquele dia era um exemplo perfeito. Ben Hanscom tinha acabado de dizer oi quando Richie caiu de joelhos aos pés de Ben. Ele começou a fazer uma série de salamaleques exagerados, com os braços esticados, as mãos batendo na margem lamacenta cada vez que fazia uma nova reverência. Ao mesmo tempo, começou a falar com uma de suas Vozes.
Richie tinha uma dezena de Vozes diferentes. Ele contara a Eddie em uma tarde chuvosa em que eles estavam no quarto acima da garagem da família Kaspbrak lendo revistinhas da Luluzinha que sua ambição era se tornar o maior ventríloquo do mundo. Ele seria mais famoso do que Edgar Bergen, disse ele, e apareceria no The Ed Sullivan Show todas as semanas. Eddie admirava essa ambição, mas previa problemas com ela. Primeiro, todas as Vozes de Richie soavam como a de Richie Tozier. Isso não era dizer que Richie não conseguia ser engraçado de tempos em tempos; ele era. Tanto fazendo piadas verbais quanto dando peidos altos, a terminologia era a mesma: ele chamava as duas coisas de Mandar Bem, e ele Mandava Bem das duas maneiras com frequência... mas normalmente em companhia inapropriada. Segundo, quando Richie fazia ventriloquismo, seus lábios se mexiam. Não só um pouco e só nos sons de “p” e “b”, mas muito, e em todos os sons. Terceiro, quando Richie dizia que ia projetar a voz, ela não costumava ir muito longe. A maior parte dos amigos dele era gentil demais (ou confusa demais com o charme às vezes encantador e muitas vezes cansativo de Richie) para mencionar essas pequenas falhas para ele.
Enquanto fazia salamaleques frenéticos em frente ao assustado e constrangido Ben Hanscom, Richie falava com a voz que ele chamava de Voz do Negro Jim.
— Deus tem piedade, é Monte de Feno Coulhoun! — gritou Richie. — Num cai em cima de mim, sinhô Monte de Feno! Vai me esmigaiá se caí! Deus tem piedade, Deus tem piedade! Cento e quarenta quilo de carne mole, mais de 2 metro de teta a teta, Monte de Feno deve cheirá a caca de pantera! Eu ia te trazê pro grupo, sinhô Monte de Feno, claro! Ia mesmo trazê ocê! Só num cai em cima desse negrinho aqui!
— N-Não se p-preocupe — disse Bill. — É s-s-só Ri-Ri-Richie. Ele é l-l-louco.
Richie ficou de pé.
— Escutei isso, Denbrough. É melhor você me deixar em paz, senão mando o Monte de Feno aqui pra cima de você.
— A m-melhor p-p-parte de você esc-correu pela p-perna do seu p-p-pai — disse Bill.
— Verdade — disse Richie —, mas olha quanta coisa boa sobrou. Como você está, Monte de Feno? Richie Tozier é como me chamo, fazer Vozes é o que amo. — Ele esticou a mão. Completamente confuso, Ben esticou a mão para apertá-la. Richie afastou a mão. Ben piscou. Richie cedeu e apertou a mão dele.
— Meu nome é Ben Hanscom, caso você esteja interessado — disse Ben.
— Já te vi na escola — disse Richie. Ele esticou a mão para indicar a poça de água. — Isso deve ter sido ideia sua. Esses merdas não conseguem acender uma bombinha sem um lança-chamas.
— Fale por você, Richie — disse Eddie.
— Ah, você quer dizer que a ideia foi sua, Eds? Jesus, me desculpe. — Ele caiu de joelhos na frente de Ed e começou os salamaleques loucos de novo.
— Levanta, você está espirrando lama em mim! — gritou Eddie.
Richie ficou de pé uma segunda vez e beliscou a bochecha de Eddie.
— Fofo, fofo, fofo! — exclamou Richie.
— Para, eu odeio isso!
— Confessa, Eds, quem construiu a barragem?
— B-B-Ben mostrou pra g-gente — disse Bill.
— Legal. — Richie se virou e encontrou Stan Uris de pé atrás dele, com as mãos nos bolsos, observando em silêncio Richie dar seu show. — Este aqui é Stan Uris, o Cara — disse Richie para Ben. — Stan é judeu. Além disso, ele matou Cristo. Pelo menos foi o que Victor Criss me contou um dia. Ando atrás de Stan desde esse dia. Concluí que se ele é velho assim, deve conseguir comprar umas cervejas. Né, Stan?
— Acho que deve ter sido o meu pai — disse Stan com uma voz baixa e agradável, e isso fez todos caírem na gargalhada, inclusive Ben. Eddie riu até estar chiando e lágrimas escorrerem pelo rosto.
— Mandou Bem! — gritou Richie, andando com as mãos acima da cabeça como um juiz de futebol americano sinalizando que o ponto extra valeu. — Stan, o Cara Manda Bem! Grandes Momentos da História! Sim, senhor! SIM, SENHOR!
— Oi — disse Stan para Ben, parecendo não dar a menor bola para Richie.
— Oi — respondeu Ben. — Éramos da mesma turma no segundo ano. Você era o garoto que...
— ... nunca falava nada — concluiu Stan, sorrindo um pouco.
— Isso.
— Stan não diria merda nenhuma nem se estivesse com a boca cheia — disse Richie. — Coisa que costuma acontecer com FRE-quência, sim, senhor! SIM...
— Ca-Ca-Cala a b-boca, Richie — disse Bill.
— Tá, mas primeiro tenho que contar mais uma coisa, por mais que eu odeie. Acho que vocês estão perdendo a represa de vocês. O vale vai alagar, parceiros. Vamos tirar as mulheres e as crianças primeiro.
E sem se dar ao trabalho de dobrar a calça, nem mesmo de tirar os tênis, Richie pulou na água e começou a enfiar nacos de grama no braço lateral da represa, onde a corrente persistente estava tirando o preenchimento de novo. Um pedaço de fita adesiva da Cruz Vermelha estava enrolado em uma das hastes dos óculos dele, e a ponta solta batia na bochecha enquanto ele trabalhava. Bill chamou a atenção de Eddie, sorriu um pouco e deu de ombros. Era apenas Richie. Ele era capaz de enlouquecer você... mas ainda assim era legal tê-lo por perto.
Eles trabalharam na represa durante a hora seguinte. Richie seguiu as ordens de Ben (que voltaram a ser hesitantes agora que havia mais dois garotos para instruir) com perfeita boa vontade e as executou em ritmo frenético. Quando cada missão era terminada, ele voltava até Ben para receber novas ordens, batendo uma continência britânica com a mão virada e juntando os calcanhares molhados dos tênis. De vez em quando, ele começava a dar sermão nos outros com uma de suas Vozes: o Comandante Alemão, Toodles, o Mordomo Inglês, o Senador do Sul (que parecia um pouco com Foghorn Leghorn e que, com o tempo, viraria um personagem chamado Buford Kissdrivel), o Narrador de Cinejornal.
O trabalho não apenas progrediu, mas deu um salto. E agora, pouco antes das 17h, enquanto eles descansavam na margem do rio, parecia que o que Richie havia dito era verdade: eles tinham conseguido interromper o rio. A porta do carro, o pedaço de aço corrugado e os pneus velhos viraram um segundo estágio da barragem, e atrás havia um enorme monte de terra e pedras. Bill, Ben e Richie estavam fumando; Stan estava deitado de costas. Um estranho poderia pensar que ele estava apenas olhando para o céu, mas Eddie sabia bem que não. Stan estava olhando para as árvores do outro lado do rio, em busca de um pássaro ou dois que pudesse colocar no caderno de pássaros naquela noite. O próprio Eddie ficou sentado de pernas cruzadas, sentindo-se agradavelmente cansado e um tanto tranquilo. Naquele momento, os outros pareciam para ele o melhor grupo de garotos do qual um moleque podia desejar participar. Eles pareciam a combinação certa quando estavam juntos; encaixavam nas extremidades uns dos outros. Ele não conseguia explicar para si mesmo melhor do que isso, e como não era mesmo necessária nenhuma explicação, ele decidiu deixar por isso mesmo.
Ele olhou para Ben, que estava segurando o cigarro meio fumado de maneira desajeitada e cuspindo frequentemente, como se não gostasse muito do sabor. Enquanto Eddie observava, Ben apagou o cigarro e cobriu com terra.
Ben ergueu o olhar, viu Eddie observando-o e afastou o rosto, constrangido.
Eddie olhou para Bill e viu uma coisa no rosto dele da qual não gostou. Bill estava olhando para o outro lado do rio, para o meio das árvores e plantas, com olhos cinzentos e pensativos. Aquela expressão taciturna tinha voltado para o rosto dele. Eddie pensou que Bill parecia quase assombrado.
Como se lendo seu pensamento, Bill olhou para ele. Eddie sorriu, mas Bill não sorriu em resposta. Ele apagou o cigarro e olhou para os outros. Até Richie havia se recolhido ao silêncio de seus pensamentos, um evento que ocorria tão raramente quanto um eclipse lunar.
Eddie sabia que Bill raramente dizia alguma coisa importante se o ambiente não estivesse completamente em silêncio, porque era muito difícil para ele falar. E de repente ele quis ter alguma coisa para dizer, ou desejou que Richie começasse a fazer uma das Vozes. Teve uma certeza repentina de que Bill abriria a boca e diria uma coisa terrível, uma coisa que mudaria tudo. Eddie procurou automaticamente a bombinha, tirou do bolso de trás e segurou na mão. Ele agiu sem nem pensar.
— P-Posso contar uma c-coisa pra v-vocês? — perguntou Bill.
Todos olharam para ele. Faz uma piada, Richie!, pensou Eddie. Faz uma piada, diz alguma coisa bem absurda, deixa ele constrangido, tanto faz, só faz ele calar a boca. Seja lá o que for, não quero ouvir, não quero que as coisas mudem, não quero ter medo.
Em pensamento, uma voz tenebrosa e rouca sussurrou: Faço por dez centavos.
Eddie tremeu e tentou dispensar aquela voz e a imagem repentina que ela evocava: a casa na rua Neibolt, com o jardim descuidado cheio de ervas daninhas e girassóis gigantes assentindo em um dos lados.
— Claro, Big Bill — disse Richie. — O que tá rolando?
Bill abriu a boca (mais ansiedade da parte de Eddie), fechou (alívio abençoado para Eddie) e abriu de novo (ansiedade renovada).
— S-S-Se vo-vo-vocês r-rirem, n-nunca mais v-vou andar com vocês — disse Bill. — É l-loucura, mas juro que n-não estou inventando. Aconteceu me-esmo.
— Não vamos rir — disse Ben. Ele olhou para os outros. — Vamos?
Stan balançou a cabeça. Richie também.
Eddie queria dizer Sim, vamos rir, Billy, vamos rir pra caramba e dizer que você é um idiota, então por que você não cala a matraca agora? Mas é claro que ele não podia dizer uma coisa assim. Afinal, era Big Bill. Ele balançou a cabeça com tristeza. Não, ele não riria. Nunca sentiu menos vontade de rir na vida.
Eles ficaram sentados acima da represa que Ben mostrou como construir, olhando do rosto de Bill para a piscina cada vez maior e para o brejo cada vez maior logo atrás, e depois para o rosto de Bill de novo, ouvindo silenciosamente enquanto ele contava sobre o que aconteceu quando ele abriu o álbum de fotos de George: que a foto escolar virou a cabeça e piscou para ele, que o álbum sangrou quando ele o jogou do outro lado do quarto. Foi um monólogo longo e doloroso, e quando ele terminou, Bill estava com o rosto vermelho e suando. Eddie nunca o ouviu gaguejar tanto.
Mas enfim a história foi contada. Bill olhou para eles, desafiador e com medo. Eddie viu uma expressão idêntica nos rostos de Ben, Richie e Stan. Era medo solene e assombrado. Não tinha nuance nenhuma de descrença. Ele sentiu uma vontade naquele momento de ficar de pé e gritar: Que história louca! Você não acredita nessa história louca, né, e mesmo que acredite, não acredita que nós acreditamos, né? Fotos escolares não piscam! Livros não sangram! Você está completamente louco. Big Bill!
Mas não podia fazer isso, porque aquela expressão de medo solene também estava em seu próprio rosto. Ele não conseguia ver, mas conseguia sentir.
Volta aqui, garoto, sussurrou a voz rouca. Eu te chupo de graça. Volta aqui!
Não, respondeu Eddie com um gemido. Vai embora, por favor, não quero pensar sobre isso.
Volta aqui, garoto.
E agora Eddie via mais uma coisa. Não no rosto de Richie, pelo menos ele achava que não, mas no de Stan e no de Ben com certeza. Ele sabia o que era essa coisa; sabia porque aquela expressão também estava em seu rosto.
Reconhecimento.
Eu te chupo de graça.
A casa 29 da rua Neibolt ficava perto do pátio de trens. Era velha e estava fechada com tábuas, a varanda estava afundando gradualmente no chão, o gramado mais parecia um campo cheio de mato. Havia um triciclo velho, enferrujado e derrubado escondido na grama alta, com uma roda torta aparecendo.
Mas à esquerda da varanda havia um enorme pedaço vazio no gramado, e dava para ver as janelas sujas do porão na base de tijolo da casa. Foi em uma dessas janelas que Eddie Kaspbrak viu pela primeira vez o rosto do leproso, seis semanas antes.
Aos sábados, quando Eddie não conseguia encontrar ninguém com quem brincar, ele costumava ir para o pátio de trens. Sem nenhum motivo especial; ele apenas gostava de ir lá.
Ele ia de bicicleta até a rua Witcham e virava para noroeste pela autoestrada 2, onde ela atravessava a Witcham. A escola batista da rua Neibolt ficava na esquina da autoestrada 2 e da rua Neibolt um quilômetro e meio depois. Era uma construção velha e arrumadinha de madeira com uma cruz grande no alto e as palavras DEIXEM VIR A MIM AS CRIANÇAS E NÃO AS IMPEÇAM na porta da frente em letras douradas de 60 centímetros de altura. Às vezes, aos sábados, Eddie ouvia música e cantoria vindos de lá de dentro. Era música gospel, mas quem tocava o piano parecia mais com Jerry Lee Lewis do que com um pianista comum de igreja. A cantoria também não parecia muito religiosa aos ouvidos de Eddie, embora houvesse muitas menções ao “belo Sião” e ser “lavado no sangue da ovelha” e “temos um grande amigo em Jesus”. As pessoas cantando pareciam estar se divertindo demais para o canto ser mesmo sagrado, na opinião de Eddie. Mas ele gostava do som de qualquer jeito, assim como gostava de ouvir Jerry Lee cantando “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”. Às vezes ele parava um pouco do outro lado da rua, encostava a bicicleta em uma árvore e fingia ler na grama, mas cantarolava junto com a música.
Em outros sábados, a escola batista da rua Neibolt ficava fechada e silenciosa, e ele seguia para o pátio dos trens sem parar, até onde a rua Neibolt terminava, em um estacionamento com ervas daninhas crescendo nas rachaduras do asfalto. Ele apoiava a bicicleta na cerca de madeira e via os trens passarem. Havia muitos trens aos sábados. A mãe havia dito para ele que no passado dava para pegar um trem de passageiros GS&WM no que era na época a estação da rua Neibolt, mas os trens de passageiros tinham parado de circular quando a guerra da Coreia estava começando.
— Se você pegasse um trem para o norte, ia para a estação de Brownsville — disse ela —, e de Brownsville podia pegar um trem que o levaria até o Canadá se quisesse, até o Pacífico. O trem para o sul levava até Portland e depois até Boston, e da estação South, o país era seu. Mas os trens de passageiros sofreram o mesmo destino que as linhas de bonde. Ninguém quer pegar um trem quando pode subir num Ford e viajar de carro. Você talvez nunca ande em um.
Mas grandes trens de carga ainda passavam por Derry. Eles seguiam para o sul carregados de madeira macia, papel e batatas, e para o norte com bens manufaturados para as cidades que o pessoal do Maine às vezes chamava de Grande Norte: Bangor, Millinocket, Machias, Presque Isle, Houlton. Eddie gostava particularmente de ver os trens que levavam carros para o norte, com seus Fords e Chevies cintilantes. Vou ter um carro assim um dia, prometeu ele a si mesmo. Assim ou até melhor. Talvez até um Cadillac!
Havia seis linhas de trilhos no total, que seguiam em direção à estação como tiras de teia de aranha seguindo para o centro: Bangor e Great Northern Lines do norte, Great Southern e Western Maine do oeste, Boston e Maine do sul e Southern Seacost do leste.
Um dia, dois anos antes, quando Eddie estava de pé perto da linha do leste vendo o trem passar, um funcionário bêbado jogou em cima dele uma caixa de um vagão que seguia em velocidade lenta. Eddie se abaixou e recuou, embora a caixa tenha caído nas cinzas a 3 metros de distância. Havia coisas dentro, coisas vivas que estalavam e se moviam.
— Última corrida, garoto! — gritou o funcionário bêbado. Ele tirou uma garrafa marrom achatada de um dos bolsos da jaqueta jeans, inclinou-a, bebeu e a jogou nas cinzas, onde ela se quebrou. O homem apontou para a caixa. — Leva pra casa pra sua mãe! Com os cumprimentos da linha da Southern Seacost da Porra da Boa Vontade! — Ele se inclinou para a frente para gritar essas últimas palavras enquanto o trem se afastava, pegando velocidade agora, e por um momento alarmante Eddie achou que ele cairia do vagão.
Quando o trem foi embora, Eddie foi até a caixa e se inclinou com cautela. Estava com medo de chegar perto demais. As coisas dentro eram escorregadias e deslizavam. Se o homem tivesse gritado que eram para ele, Eddie teria deixado a caixa bem ali. Mas ele disse para levar para casa para a mãe dele, e, assim como Ben, quando alguém falava mãe, Eddie pulava.
Ele arrumou um pedaço de corda em um dos depósitos e amarrou a caixa no bagageiro da bicicleta. A mãe olhou dentro da caixa com mais cautela ainda do que Eddie e depois gritou, mas de prazer, e não de pavor. Havia quatro lagostas na caixa, cada uma com um quilo e com as garras amarradas. Ela as cozinhou para o jantar e ficou muito aborrecida quando Eddie não quis comer.
— O que você acha que os Rockefeller estão comendo esta noite em Bar Harbor? — perguntou ela com indignação. — O que acha que os ricos estão comendo no Twenty-one e no Sardi’s em Nova York? Sanduíches de creme de amendoim e geleia? Eles estão comendo lagosta, Eddie, que nem nós! Agora vamos, experimente.
Mas Eddie não queria experimentar, ou pelo menos foi o que a mãe disse. Talvez fosse verdade, mas por dentro parecia mais a Eddie que ele não conseguia, em vez de não querer. Ele ficava pensando na forma como elas deslizavam dentro da caixa, nos sons de estalo que as garras faziam. Ela ficava dizendo o quanto estava gostoso e que delícia ele estava perdendo, até que ele começou a ofegar em busca de ar e teve que usar o aspirador. Só então ela o deixou em paz.
Eddie foi para o quarto ler. A mãe ligou para a amiga Eleanor Dunton. Eleanor foi até lá, e as duas leram velhos exemplares de Photoplay e Screen Secrets; riram das colunas de fofocas e se entupiram de salada de lagosta. Quando Eddie acordou para ir à escola no dia seguinte, a mãe ainda estava na cama, roncando e soltando peidos frequentes que pareciam longas notas musicais de uma corneta (ela estava Mandando Bem, Richie teria dito). Não havia nada na tigela em que a salada de lagosta estivera, exceto uns poucos resquícios de maionese.
Aquele foi o último trem Southern Seacost que Eddie viu, e quando ele voltou a encontrar o sr. Braddock, o responsável pela ferrovia de Derry, perguntou com hesitação o que tinha acontecido.
— A empresa faliu — disse o sr. Braddock. — Foi só isso. Você não lê os jornais? Está acontecendo no maldito país inteiro. Agora saia daqui. Aqui não é lugar pra um garoto.
Depois disso, Eddie às vezes acompanhava o trilho 4, que era o da Southern Seacost, e ouvia um condutor mental cantarolar nomes em seu pensamento, emitindo-os em um adorável sotaque da costa, aqueles nomes, aqueles nomes mágicos: Camdem, Rockland, Bar Harbor (pronunciado Baa Haabaa), Wiscasset, Bath, Portland, Ogunquit, the Berwicks; ele andava pela linha 4 para o leste até ficar cansado e o mato crescendo entre os trilhos o deixar triste. Uma vez, ele olhou para o alto e viu gaivotas (provavelmente só aves de lixão que não estavam nem aí se veriam ou não o oceano, mas isso não lhe ocorreu no momento) circulando e gritando, e o som das vozes delas também o fez chorar um pouco.
Uma época, havia um portão na entrada do pátio de trens, mas ele caiu em uma tempestade e ninguém se deu ao trabalho de substituir. Eddie entrava e saía quando queria, embora o sr. Braddock o expulsasse sempre que o via (ou qualquer outro garoto, na verdade). Havia motoristas de caminhão que corriam atrás de você às vezes (mas não por uma grande distância) porque achavam que você estava ali só para furtar alguma coisa, e às vezes os garotos faziam isso mesmo.
Mas em geral o local era tranquilo. Havia uma guarita, mas ficava vazia, e os vidros das janelas tinham sido quebrados por pedras. Não havia segurança em tempo integral desde 1950, mais ou menos. O sr. Braddock expulsava os garotos durante o dia, e um vigia noturno passava por lá em um velho Studebaker com um holofote preso na janela quatro ou cinco vezes por noite, e isso era tudo.
Mas havia mendigos e vagabundos às vezes. Se havia alguma coisa no pátio de trens que assustava Eddie, eram eles; homens com barbas por fazer e pele rachada e bolhas nas mãos e lábios feridos pelo frio. Eles andavam sobre os trilhos por um tempo e passavam uns dias em Derry, depois pegavam outro trem e iam para outro lugar. Às vezes, não tinham alguns dedos. Normalmente, estavam bêbados e queriam saber se você tinha um cigarro.
Um desses sujeitos saiu de debaixo da varanda da casa 29 da rua Neibolt um dia e se ofereceu para fazer um boquete em Eddie por 25 centavos. Eddie recuou, com a pele gelada, a boca seca como um pedaço de pano. Uma das narinas do mendigo estava carcomida. Dava para ver o canal vermelho e ferido.
— Não tenho 25 centavos — disse Eddie, recuando em direção à bicicleta.
— Faço por dez — disse o mendigo com voz rouca, andando em sua direção. Estava usando uma calça velha de flanela verde. Vômito amarelo estava secando sobre as pernas. Ele abriu o zíper e enfiou a mão lá dentro. Estava tentando sorrir. O nariz era um horror vermelho.
— Eu... também não tenho 10 centavos — disse Eddie, e pensou de repente: Ah meu Deus ele tem lepra! Se ele tocar em mim eu também vou pegar! Ele perdeu o controle e saiu correndo. Ouviu o mendigo começar a correr atrás dele arrastando os pés, com os velhos sapatos de amarrar batendo no gramado selvagem da casa vazia.
— Volta aqui, garoto! Eu te chupo de graça! Volta aqui!
Eddie pulou na bicicleta, ofegante agora, sentindo a garganta fechando até ficar só um buraco de agulha. Seu peito estava pesado. Ele bateu nos pedais e estava pegando velocidade quando uma das mãos do mendigo bateu no bagageiro. A bicicleta tremeu. Eddie olhou por cima do ombro e viu o mendigo correndo atrás do pneu traseiro (!!ALCANÇANDO!!), com os lábios repuxados sobre os cotocos pretos que eram seus dentes em uma expressão que podia ser de desespero ou fúria.
Apesar das pedras sobre o peito, Eddie pedalou cada vez mais rápido, esperando que uma das mãos feridas do mendigo fosse se fechar sobre seu braço a qualquer momento, puxá-lo da Raleigh e derrubá-lo na sarjeta, onde só Deus sabia o que aconteceria com ele. Ele não ousou olhar para trás até ter passado pela escola batista da rua Neibolt e pelo cruzamento da autoestrada 2. O mendigo tinha sumido.
Eddie guardou a história terrível dentro de si durante quase uma semana, e depois confidenciou a Richie Tozier e Bill Denbrough um dia, quando eles estavam lendo quadrinhos em cima da garagem.
— Ele não tinha lepra, seu burro — disse Richie. — Tinha sífilis.
Eddie olhou para Bill para ver se Richie estava de brincadeira. Ele nunca tinha ouvido falar de uma doença chamada síftilis. Parecia uma coisa que Richie era capaz de inventar.
— Existe uma doença chamada síftilis, Bill?
Bill assentiu com seriedade.
— Só que é s-s-sífilis, não síftilis.
— O que é?
— É uma doença que se pega fodendo — disse Richie. — Você sabe o que é foder, não sabe, Eds?
— Claro — disse Eddie.
Ele torcia para não estar corando. Ele sabia que, quando se ficava mais velho, saíam coisas do pênis quando ele ficava duro. Vincent “Meleca” Taliendo contou o resto para ele um dia na escola. O que você fazia quando fodia, de acordo com Meleca, era esfregar o pau no umbigo de uma garota até ele ficar duro (o pau, não o umbigo da garota). Depois você esfregava mais até começar a “sentir direitinho”. Quando Eddie perguntou o que isso queria dizer, Meleca só balançou a cabeça de uma maneira misteriosa. Meleca disse que não dava para descrever, mas que ele saberia assim que sentisse. Ele disse que dava para treinar deitando-se na banheira e esfregando o pau com sabonete Ivory (Eddie experimentou isso, mas a única sensação que teve foi vontade de urinar depois de um tempo). Meleca prosseguiu: depois que você “sentia direitinho”, uma coisa saía de dentro do pênis. A maior parte das pessoas chamava de porra, disse Meleca, mas seu irmão mais velho disse que a palavra científica verdadeira era sêmen. E quando você “sentia direitinho”, precisava segurar o pau e mirar rápido para lançar o sêmen dentro do umbigo da garota assim que saísse. Entrava pela barriga dela e fazia um bebê lá.
As garotas gostam disso?, perguntara Eddie a Meleca Taliendo. Estava um tanto perplexo.
Acho que devem gostar, respondera Meleca, parecendo intrigado.
— Agora escuta, Eds — disse Richie —, porque podem fazer perguntas depois. Algumas mulheres têm essa doença. Alguns homens também, mas são mais mulheres. Um cara pode pegar de uma mulher...
— Ou de outro c-c-cara se eles forem bi-bi-bichas — acrescentou Bill.
— Certo. O importante é que se pega sífilis quando se transa com uma pessoa que já tem.
— O que ela faz? — perguntou Eddie.
— Faz você apodrecer — disse Richie simplesmente.
Eddie olhou para ele apavorado.
— É ruim, eu sei, mas é verdade — disse Richie. — O nariz é a primeira coisa que vai. Alguns caras que têm sífilis perdem o nariz inteiro. Depois o pau.
— P-P-Por favor — disse Bill. — Acabei de c-c-comer.
— Ei, cara, isso é ciência — disse Richie.
— Então qual é a diferença entre lepra e sífilis? — perguntou Eddie.
— Você não pega lepra fodendo — disse Richie imediatamente, e caiu numa crise de gargalhadas que deixou Bill e Eddie perplexos.
Depois daquele dia, a casa 29 da rua Neibolt ganhou uma espécie de brilho na imaginação de Eddie. Ao olhar para o jardim cheio de mato e para a varanda inclinada e para as tábuas pregadas nas janelas, ele sentia uma fascinação nada saudável tomar conta dele. E seis semanas antes ele parou a bicicleta na beirada de cascalho da rua (a calçada terminava quatro casas antes) e andou pelo gramado em direção à varanda.
O coração batia forte no peito e a boca tinha aquele gosto seco de novo; ao ouvir a história de Bill sobre a terrível foto, ele soube que o que sentiu ao se aproximar da casa era mais ou menos o mesmo que Bill sentiu ao entrar no quarto de George. Ele não se sentiu no controle de si mesmo. Ele se sentiu empurrado.
Não parecia que seus pés estavam se movendo; em vez disso, a casa em si, taciturna e silenciosa, parecia chegar mais perto de onde ele estava.
Ele conseguia ouvir ao longe um motor a diesel no pátio de trens, isso e o baque metálico-líquido de acoplamentos sendo feitos. Estavam deixando alguns vagões e pegando outros. Formando um trem.
Sua mão segurou a bombinha, mas, estranhamente, sua asma não o atacou como no dia em que ele fugiu do mendigo de nariz podre. Só havia aquela sensação de estar parado vendo a casa deslizar furtivamente na direção dele, como se sobre trilhos escondidos.
Eddie olhou debaixo da varanda. Não havia ninguém ali. Não era surpreendente, na verdade. Era primavera, e os mendigos andarilhos costumavam aparecer em Derry no outono, do final de setembro até o começo de novembro. Durante essas seis semanas mais ou menos, um homem podia conseguir trabalho de um dia em uma das fazendas mesmo se sua aparência fosse apenas parcialmente decente. Havia batatas e maçãs a serem colhidas, cercas para consertar, tetos de celeiros e depósitos a serem ajeitados antes da chegada de dezembro, com o sopro do inverno.
Não havia nenhum mendigo debaixo da varanda, mas muitos sinais de que eles estiveram lá. Latas e garrafas vazias de cerveja, garrafas vazias de bebidas destiladas. Um cobertor tomado de sujeira estava caído sobre a base de tijolos como um cachorro morto. Havia pedaços de jornal amassado e um sapato velho e cheiro de lixo. Havia camadas grossas de folhas velhas lá embaixo.
Sem querer ir em frente, mas incapaz de se impedir, Eddie rastejou para debaixo da varanda. Ele conseguia sentir os batimentos na cabeça agora, criando pontos brancos de luz em seu campo de visão.
O cheiro era pior lá embaixo, de bebida, suor e o perfume marrom-escuro de folhas apodrecendo. As folhas velhas nem estalaram debaixo de suas mãos e joelhos. Elas e os velhos jornais só suspiraram.
Sou um mendigo, pensou Eddie com incoerência. Sou um mendigo e viajo de trem clandestinamente. É isso que faço. Não tenho dinheiro, não tenho casa, mas tenho minha garrafa e um dólar e um lugar pra dormir. Vou colher maçãs esta semana e batatas na semana que vem; quando o inverno congelar e trancar a terra como o dinheiro fica trancado em um cofre de banco, subo em um vagão GS&WM com cheiro de beterraba, fico sentado em um canto, jogo um pouco de palha em cima do corpo se houver palha e vou tomar minha bebida e mascar tabaco, e cedo ou tarde chego a Portland ou Beantown; se não for pego por um segurança ferroviário palhaço, subo em um vagão Alabama Star e sigo para o sul, e quando chegar lá vou colher limão ou laranja. E se eu for expulso, vou construir estradas pros turistas passearem. Ah, já fiz isso antes, não fiz? Sou apenas um andarilho velho e solitário, não tenho dinheiro, não tenho casa, mas tenho uma coisa; tenho uma doença que está me comendo por dentro. Minha pele está se abrindo, meus dentes estão caindo, e quer saber? Consigo me sentir ficando estragado como uma maçã apodrecendo, consigo sentir acontecendo, me comendo de dentro pra fora, comendo, comendo, me comendo.
Eddie empurrou o cobertor duro para o lado, segurando-o com as pontas do polegar e do indicador, e fez uma careta pela sensação enrijecida. Uma das janelas baixas do porão estava diretamente atrás dele, com uma vidraça quebrada e a outra opaca de sujeira. Ele se inclinou para a frente, sentindo-se agora quase hipnotizado. Chegou mais perto da janela, mais perto da escuridão do porão, inspirando aquele cheiro de tempo, umidade e podridão seca, cada vez mais perto do negrume, e é claro que o leproso o teria pegado se sua asma não tivesse escolhido aquele momento para atacar. Ela contraiu seus pulmões com um peso que era indolor, mas apavorante; sua respiração imediatamente adquiriu o odioso chiado.
Ele recuou, e foi nessa hora que o rosto apareceu. O aparecimento dele foi tão repentino, tão assustador (e ao mesmo tempo tão esperado), que Eddie poderia não ter gritado mesmo que não estivesse no meio de um ataque de asma. Seus olhos saltaram. Sua boca se abriu. Não era o mendigo com o nariz carcomido, mas havia semelhanças. Semelhanças terríveis. Por outro lado... essa coisa não podia ser humana. Nada podia ser tão carcomido e continuar vivo.
A pele da testa dele estava aberta. O osso branco, coberto por uma membrana de muco amarelo, estava visível como a lente de um holofote turvo. O nariz era uma ponte de cartilagem acima de dois vãos vermelhos. Um olho era azul e alegre. O outro buraco estava preenchido por uma massa de tecido esponjoso preto-amarronzado. O lábio inferior do leproso era frouxo como um pedaço de fígado. Ele não tinha lábio superior nenhum; os dentes apareciam como um sorriso de desprezo.
Ele esticou uma das mãos pela vidraça quebrada. Esticou a outra pelo vidro sujo à esquerda, quebrando-o em pedacinhos. As mãos investigativas e fortes estavam cobertas de feridas. Besouros rastejavam e caminhavam de um lado para o outro.
Choramingando e ofegando, Eddie recuou. Ele mal conseguia respirar. Seu coração era um motor disparado no peito. O leproso parecia estar usando os restos maltrapilhos de um terno prateado estranho. Coisas rastejavam nas mechas de cabelo castanho.
— Que tal um boquete, Eddie? — gemeu a aparição, sorrindo com seus restos de boca. Ele cantarolou: — Bobby cobra dez centavos pra chupar, é só você falar, cobra 15 se demorar. — Ele piscou. — Sou eu, Eddie, Bob Gray. E agora que fomos propriamente apresentados...
Uma das mãos dele caiu sobre o ombro direito de Eddie. Eddie gritou baixinho.
— Tudo bem — disse o leproso, e Eddie viu com pavor que parecia de sonho que ele estava saindo pela janela. O escudo ossudo por trás da testa aberta quebrou a tira fina de madeira entre as duas vidraças. A mão dele segurou na terra úmida cheia de folhas. Os ombros prateados do terno... fantasia... fosse lá o que fosse... começaram a surgir pela abertura. Aquele olho azul intenso nunca deixou o rosto de Eddie. — Estou chegando, Eddie, isso mesmo — disse ele com voz rouca. — Você vai gostar de ficar aqui embaixo com a gente. Alguns de seus amigos estão aqui.
A mão dele se esticou de novo, e em um canto da mente tomada por pânico e gritos, Eddie teve a certeza repentina e fria de que, se aquela coisa tocasse em sua pele, ele também começaria a apodrecer. O pensamento acabou com sua paralisia. Ele rastejou para trás sobre mãos e joelhos, depois se virou e correu para o outro canto da varanda. A luz do sol, que entrava em filetes estreitos e poeirentos pelas rachaduras entre as tábuas da varanda, riscava seu rosto de tempos em tempos. A cabeça dele forçou as teias de aranha, que se aninharam em seus cabelos. Ele olhou por cima do ombro e viu que o leproso estava com metade do corpo para fora.
— Não vai ser bom pra você correr, Eddie — disse ele.
Eddie tinha chegado à extremidade da varanda. Havia um contorno de treliça ali. O sol brilhou entre ela, criando diamantes de luz nas bochechas e testa dele. Ele baixou a cabeça e bateu na treliça sem hesitar, arrancando o contorno com um grito de pregos entortados. Uma roseira desordenada crescia atrás, e Eddie passou por ela, caiu ao passar e não sentiu os espinhos que provocaram cortes superficiais em seus braços, bochechas e pescoço.
Ele se virou e recuou sobre pernas bambas, enquanto tirava a bombinha do bolso e usava. Isso não tinha realmente acontecido, tinha? Ele estava pensando no mendigo e sua mente tinha... bem, tinha apenas...
(dado um show)
mostrado um filme, um filme de terror, como um dos filmes da matiné de sábado com Frankenstein e o Lobisomem que eram exibidos às vezes no Bijou ou no Gem ou no Aladdin. Claro, era só isso. Ele tinha se assustado! Que babaca!
Ele teve até tempo de dar uma risada trêmula pela vividez inesperada de sua imaginação antes de as mãos podres surgirem de debaixo da varanda, tateando pela roseira com ferocidade descuidada, puxando-a, rasgando-a, deixando as flores com gotas de sangue.
Eddie gritou.
O leproso estava saindo. Ele reparou que o sujeito usava roupa de palhaço, uma roupa de palhaço com grandes botões de cor laranja na frente. Ele viu Eddie e sorriu. Sua meia boca se abriu e a língua ficou pendurada para fora. Eddie gritou de novo, mas ninguém poderia ter ouvido o grito de um garoto sem fôlego com o som do motor a diesel no pátio de trens. A língua do leproso não só estava pendurada na boca; ela tinha pelo menos 90 centímetros e se desenrolava como uma língua de sogra de festas infantis. Tinha uma ponta de flecha que se arrastou na terra. Espuma grossa, grudenta e amarelada escorria por ela. Insetos rastejavam ali.
A roseira, que estava com os primeiros toques de verde primavera quando Eddie passou por ela, agora ficou morta e preta.
— Boquete — sussurrou o leproso, e ficou de pé.
Eddie correu até a bicicleta. Foi a mesma corrida de antes, só que agora tinha um aspecto de pesadelo, no qual você só consegue se mover com a lentidão mais terrível, não importando o quanto tente ir rápido... e nesses sonhos você nem sempre ouve ou sente algo, uma Coisa, se aproximando de você? Você não sente sempre o hálito fedido da Coisa, como Eddie estava sentindo agora?
Por um momento, ele sentiu uma esperança louca: talvez fosse realmente um pesadelo. Talvez ele fosse acordar na própria cama, banhado de suor, tremendo, talvez até chorando... mas vivo. Em segurança. Mas logo ele afastou o pensamento. O encanto dele era mortal, o conforto dele era fatal.
Ele não tentou montar na bicicleta imediatamente; em vez disso, correu com ela, de cabeça baixa, empurrando o guidão. Ele sentiu como se estivesse se afogando, não em água, mas dentro de seu próprio peito.
— Boquete — sussurrou o leproso de novo. — Volte quando quiser, Eddie. Traga seus amigos.
Os dedos podres pareceram tocar em sua nuca, mas talvez tenha sido apenas um pedaço de teia de debaixo da varanda preso em seu cabelo e roçando na pele trêmula. Eddie pulou na bicicleta e saiu pedalando, sem ligar por sua garganta estar fechada de novo, sem se importar em nada com a asma, sem olhar para trás. Ele só olhou para trás quando estava quase em casa, e é claro que não havia nada atrás dele além de dois garotos indo jogar bola no parque.
Naquela noite, deitado reto como uma tábua na cama, com uma das mãos segurando com força a bombinha e olhando para as sombras, ele ouviu o leproso sussurrar: Não vai ser bom pra você correr, Eddie.
— Uau — disse Richie com respeito. Era a primeira coisa que algum deles dizia depois que Bill Denbrough terminou sua história.
— V-Você t-t-em outro ci-ci-cigarro, R-R-Richie?
Richie deu a ele o último do maço que tinha roubado quase vazio da gaveta da escrivaninha do pai. Até acendeu para Bill.
— Você não sonhou isso, Bill? — perguntou Stan de repente.
Bill balançou a cabeça.
— N-N-Não foi s-sonho.
— Real — disse Eddie com voz baixa.
Bill olhou para ele de repente.
— O q-q-quê?
— Eu disse real. — Eddie olhou para ele quase com ressentimento. — Aconteceu mesmo. Foi real.
E antes que pudesse se impedir, antes mesmo de saber que faria isso, Eddie se viu contando a história do leproso que saiu do porão da casa 29 da rua Neibolt. Na metade da história, ele começou a ofegar e precisou usar a bombinha. E, no final, caiu em um choro estridente, com o corpo magro tremendo.
Todos olharam para ele com desconforto, e então Stan colocou uma das mãos nas costas dele. Bill deu um abraço desajeitado enquanto os outros olhavam para o outro lado, constrangidos.
— Está tu-tudo bem, E-Eddie. Está tu-tudo bem.
— Eu também vi — disse Ben Hanscom de repente. A voz dele estava sem vida, rouca e assustada.
Eddie ergueu o olhar, o rosto ainda coberto de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados.
— O quê?
— Eu vi o palhaço — disse Ben. — Só que ele não era como você falou, pelo menos não quando eu vi. Não era tão melequento. Estava... ele estava seco. — Ele fez uma pausa, abaixou a cabeça e olhou para as mãos, que estavam paralelas às coxas de elefante. — Acho que ele era a múmia.
— Como no filme? — perguntou Eddie.
— Daquele jeito, mas não daquele jeito — disse Ben lentamente. — Nos filmes, ela parece falsa. É assustadora, mas dá pra ver que é fantasia, sabe? Aquele monte de ataduras, elas parecem arrumadas demais, sei lá. Mas esse cara... ele parecia com o que uma múmia de verdade seria, eu acho. Se você realmente encontrasse uma em uma sala embaixo de uma pirâmide. Exceto pela roupa.
— Q-Q-Q-Que ro-oupa?
Ben olhou para Eddie.
— Uma roupa prateada com botões laranja enormes na frente.
O queixo de Eddie caiu. Ele fechou a boca e disse:
— Se você estiver brincando, diz logo. Eu ainda... Eu ainda sonho com aquele cara embaixo da varanda.
— Não é brincadeira — disse Ben, e começou a contar sua história. Ele contou devagar, começando com o fato de ter se oferecido para ajudar a sra. Douglas a contar e guardar os livros e terminando com os pesadelos. Ele falou devagar, sem olhar para os outros. Falou como se morresse de vergonha de seu comportamento. Só voltou a levantar a cabeça quando terminou a história.
— Você deve ter sonhado — disse Richie por fim. Ele viu Ben fazer uma careta e se apressou para falar: — Não leve pro lado pessoal, Big Ben, mas você tem que saber que aqueles balões não podem flutuar contra o vento...
— Fotos também não piscam — disse Ben.
Richie olhou para Ben e para Bill, perturbado. Acusar Ben de sonhar acordado era uma coisa; acusar Bill era bem diferente. Bill era o líder deles, o cara que todos admiravam. Ninguém falava em voz alta; ninguém precisava. Mas Bill era o homem das ideias, o cara que conseguia pensar em alguma coisa para fazer em um dia chato, o cara que se lembrava de jogos que os outros tinham esquecido. E, de uma forma estranha, todos sentiam uma coisa reconfortantemente adulta em Bill. Talvez fosse uma sensação de controle, um sentimento de que Bill assumiria a responsabilidade se fosse preciso. A verdade era que Richie acreditava na história de Bill, por mais doida que fosse. E talvez não quisesse acreditar na de Ben... nem na de Eddie, na verdade.
— Nada assim aconteceu com você, hein? — Eddie perguntou a Richie.
Richie fez uma pausa, começou a dizer uma coisa, balançou a cabeça, fez outra pausa e disse:
— A coisa mais assustadora que vi recentemente foi Mark Prenderlist mijando no Parque McCarron. Foi o pinto mais feio que já se viu.
Ben disse:
— E com você, Stan?
— Não — disse Stan rapidamente, e olhou para outro lugar. Seu rosto pequeno estava pálido, os lábios tão apertados que estavam brancos.
— A-A-Aconteceu alguma c-c-coisa, S-St-Stan? — perguntou Bill.
— Não, já falei! — Stan ficou de pé e andou até a margem com as mãos nos bolsos. Ele ficou vendo a água passar por cima da barragem original e se acumular atrás da segunda.
— Para com isso, Stanley! — disse Richie com um tom de falsete. Era outra de suas Vozes: Vovó Grunt. Quando ele falava com a Voz da Vovó Grunt, Richie mancava com um punho encostado na lombar e gargalhava muito. Mas ainda soava mais como Richie Tozier do que qualquer outra pessoa.
— Confesse, Stanley, conte pra vovó sobre o palhaço maaaaau, e vou te dar um biscoito de chocolate. É só contar...
— Cala a boca! — gritou Stan de repente, virando-se para Richie, que recuou um ou dois passos, atônito. — Cala essa boca!
— Sim, senhor, chefe — disse Richie, e se sentou. Ele olhou para Stan Uris com desconfiança. Pontos vermelhos surgiram nas bochechas de Stan, mas ele ainda parecia mais assustado do que irritado.
— Tudo bem — disse Eddie baixinho. — Deixa pra lá, Stan.
— Não foi um palhaço — disse Stanley. Seus olhos se dirigiram a cada um deles. Ele pareceu lutar consigo mesmo.
— P-P-Pode contar — disse Bill, também falando baixinho. — N-Nós c-c-contamos.
— Não foi um palhaço. Foi...
E foi naquela hora que o tom alto e rouco pelo uísque do sr. Nell os interrompeu, fazendo com que todos dessem um pulo como se tivessem levado um tiro:
— Je-sús Cristo de calça curta! Olha essa bagunça! Je-sús Cristo!
O quarto de Georgie e a casa na rua Neibolt
Richard Tozier desliga o rádio, que estava tocando “Like a Virgin”, de Madonna, na WZON (uma estação que se declara “a roqueira estéreo AM de Bangor!” com uma espécie de frequência histérica), para no acostamento, desliga o motor do Mustang que o pessoal da Avis alugou para ele no aeroporto internacional de Bangor e sai. Ouve sua própria inspiração e expiração nos ouvidos. Ele viu uma placa que fez a pele em suas costas ficar toda arrepiada.
Ele anda até a frente do carro e coloca uma das mãos no capô. Ouve o motor estalando baixinho enquanto esfria. Ouve uma gralha gritar rapidamente e calar a boca. Há grilos. E no que diz respeito à trilha sonora, isso é tudo.
Ele viu a placa, passou por ela, e de repente está em Derry de novo. Depois de 25 anos, Richie “Boca de Lixo” Tozier voltou para casa. Ele...
Uma dor que queima penetra em seus olhos de repente e apaga seus pensamentos. Ele dá um gritinho estrangulado e leva as mãos até o rosto. A única vez que sentiu uma coisa remotamente parecida com essa queimação foi quando prendeu um cílio na lente de contato na faculdade, e isso foi em um olho só. Essa dor terrível é nos dois.
Antes que ele consiga alcançar metade do caminho até o rosto, a dor some.
Ele baixa a mão lentamente, pensativo, e olha para a autoestrada 7. Ele saiu da via expressa na saída Etna-Haven, querendo, por algum motivo que não entendia, não chegar pela via expressa, que ainda estava em construção na área de Derry quando ele e os pais tiraram a sujeira dessa cidadezinha estranha das solas dos sapatos e foram para o Meio-Oeste. Não, a via expressa teria sido mais rápida, mas teria sido errada.
Assim, ele dirigiu pela autoestrada 9 pelo ninho adormecido de prédios que era Haven Village, depois saiu para a autoestrada 7. E conforme seguiu, o dia ficou cada vez mais claro.
Agora, essa placa. Era do mesmo tipo de placa que marcava as fronteiras de mais de seiscentas cidades do Maine, mas como essa apertou seu coração!
Condado de
Penobscot
D
E
R
R
Y
Maine
Atrás dessa, uma placa da Elks, uma placa do Rotary Club e, completando a trindade, uma placa proclamando o fato de que OS LEÕES DE DERRY RUGEM PELO FUNDO UNIDO! Depois dessa, só há a autoestrada 7 de novo, seguindo em linha reta entre áreas de pinheiros e abetos. Nessa luz silenciosa do dia que se firma, essas árvores parecem tão...
Stephen King
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















