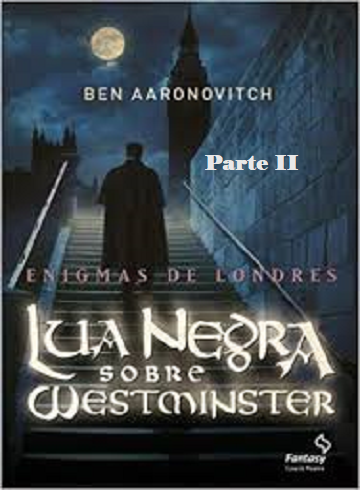Biblio VT




É um triste fato da vida moderna que, se você dirigir por tempo suficiente, cedo ou tarde vai acabar deixando Londres para trás. Se você viaja norte-leste pela A12 acaba chegando a Colchester, primeira capital romana da Inglaterra e primeira cidade a ser incendiada por aquela criança ruiva de Norfolk chamada Boadiceia. Sei de tudo isso porque estive lendo os Anais de Tácitus como parte dos meus estudos de latim. Ele é surpreendentemente complacente com os rebeldes britânicos e severo com a falta de preparo dos generais romanos que “pensavam mais no agradável que no conveniente”. O classicamente educado e sem queixo comandante do Exército britânico obviamente levou a sério a censura, porque Colchester é agora o lar de seus soldados mais duros, o Regimento de Paraquedistas. Depois de passar muitas noites de sábado como oficial de condicional enfrentando seguranças particulares em Leicester Square, tomei providências para continuar na estrada e passar direto pela cidade.
.
.
.
.
.
Depois de Colchester, virei para o sul e, com a ajuda do GPS do celular, cheguei à BI029, rumo à fatia de terra seca espremida entre o rio Colne e Flag Creek. No
fim da estrada fica Brightlingsea, que acompanha a costa – como Lesley sempre me disse – como destroços acompanhando a linha da maré alta. Na verdade, não acho que
era tão ruim. Chovia muito em Londres, mas, depois de Colchester, encontrei céu azul e sol iluminando as fileiras de varandas vitorianas que acompanhavam a orla.
Chez May era fácil de ver: um chalé dos anos de 1970 em falso estilo eduardiano com fachada de tijolo, repleto de luminárias e quase todo coberto por pedrinhas.
A porta da frente tinha, de um lado, um cesto suspenso cheio de flores azuis e, do outro, o número da casa inscrito em uma placa de cerâmica em forma de iate. Parei
e examinei o jardim: havia gnomos perto da banheira ornamental para pássaros. Inspirei e toquei a campainha.
Ouvi um imediato coro de vozes femininas gritando do lado de dentro. Através do vidro fosco da porta eu só conseguia ver silhuetas confusas correndo de um lado para
o outro no fundo do vestíbulo. Alguém gritou: – É seu namorado!
E a resposta foi um “shhh!” e uma censura em outra voz abafada. Um borrão branco marchou pelo vestíbulo até preencher completamente o vidro da porta. Recuei um passo
e a porta se abriu. Era Henry May – o pai de Lesley.
Ele era um homem grande, e dirigir caminhões e transportar equipamento pesado havia dado a ele ombros largos e braços fortes. Muitos cafés da manhã em paradas de
caminhoneiros e muitas idas ao pub haviam acrescentado um pneu em torno de sua cintura. O rosto era quadrado, e ele lidava com as entradas pronunciadas raspando
os cabelos castanhos. Os olhos eram azuis e inteligentes. Lesley herdara os olhos do pai.
Ter quatro filhas significava que ele havia transformado a vigilância parental em uma arte refinada, e eu lutei contra o impulso de perguntar se Lesley podia sair
para brincar.
– Oi, Peter – ele disse.
– Sr. May – respondi.
Ele não fez nenhum esforço para liberar a área da porta, nem me convidou a entrar.
– Lesley virá em um minuto – avisou.
– Ela está bem? – perguntei. Era uma pergunta idiota, e o pai de Lesley não expôs nenhum de nós ao ridículo tentando responder. Ouvi alguém descer a escada e me
preparei.
Maxilar, espinha nasal, ramo e mandíbula haviam sofrido danos severos, dissera o Dr. Walid. E, apesar de a maioria dos músculos subjacentes e tendões terem sobrevivido,
os cirurgiões do University College Hospital conseguiram salvar muita pele. Eles puseram um suporte temporário para deixá-la respirar e ingerir alimentos, e havia
uma chance de transplante parcial de face – se conseguissem encontrar um doador compatível. Considerando que o que restava de seu queixo era mantido no lugar por
uma rede de fios de metal hipoalergênico, falar estava fora de questão. Dr. Walid havia dito que, quando os ossos se soldassem suficientemente, talvez eles pudessem
recuperar uma parte da funcionalidade da mandíbula, o bastante para que ela pudesse falar. Mas, para mim, tudo soava meio condicional. O que quer que você veja,
ele havia dito, olhe pelo tempo que for necessário para se acostumar, aceitar, e depois siga em frente como se nada houvesse mudado.
– Aí está ela – disse o pai de Lesley, e se virou de lado para deixar a figura esguia passar por ele. Lesley vestia um moletom de listras azuis e brancas com o capuz
sobre a cabeça, o cordão amarrado tão apertado que não era possível ver sua testa e o queixo. A metade inferior do rosto era coberta por um lenço azul e branco,
e os olhos ela escondia com óculos escuros grandes e antiquados que, eu desconfiava, haviam sido garimpados em uma gaveta de roupa esquecida da mãe dela. Olhei atentamente,
mas não havia nada para ver.
– Você devia ter dito que íamos sair para assaltar – falei. – Eu teria trazido uma touca ninja.
Ela me olhou irritada – reconheci pela inclinação da cabeça e pela forma como ela erguia os ombros. Senti um tremor no peito e respirei fundo.
– Quer ir dar uma volta, então? – sugeri.
Ela assentiu para o pai, segurou meu braço com firmeza e me levou para longe da casa.
Senti os olhos do pai dela cravados em minhas costas enquanto nos afastávamos.
Se você não levar em conta a construção de barcos e a engenharia de iluminação, Brightlingsea não é uma cidade barulhenta, nem no verão. Agora, duas semanas depois
do fim das férias escolares, ela é quase silenciosa, apenas com um ou outro carro e o som das gaivotas. Fiquei quieto até atravessarmos a High Street, onde Lesley
pegou da bolsa seu bloco de anotações, abriu-o na última página e me mostrou o que estava escrito.
O que tem aprontado? Eram letras pretas atravessando a página.
– Nem queira saber – falei.
Ela deixou claro com alguns gestos que sim, queria saber.
Então contei a ela sobre o cara que teve o membro mordido por uma mulher com dentes na vagina, o que pareceu divertir Lesley, e falei sobre os boatos de que o inspetor-chefe
Seawoll era investigado pela Comissão Independente de Denúncias da Polícia por sua conduta durante os tumultos em Covent Garden, o que não a divertiu. Também não
contei a ela que Terrence Pottsley, outra única vítima que havia sobrevivido à magia que destruíra o rosto de Lesley, se matara quando a família lhe deu as costas.
Não fomos diretamente à praia. Em vez disso, Lesley me levou por Oyster Tank Road e por um estacionamento onde botes enfileirados estavam sobre reboques. Um vento
forte soprava do mar e gemia entre as cordas, fazendo com que as peças de metal batessem umas contra as outras e tilintassem como sinos de vaca. De mãos dadas, caminhamos
por entre os barcos e saímos do outro lado, na esplanada de concreto varrida pelo vento. De um lado, degraus de cimento desciam até uma praia dividida em faixas
estreitas por quebra-mares em decomposição; do outro lado havia uma fileira de cabanas de cores vibrantes. Muitas estavam fechadas, mas vi uma família disposta a
estender o verão até onde fosse possível, os pais bebendo chá no abrigo diante da porta, enquanto as crianças chutavam uma bola de futebol na praia.
Entre as cabanas no fim da praia e a piscina ao ar livre havia uma faixa de grama e um abrigo onde finalmente pudemos nos sentar. Construído no fim dos anos 1930,
quando as pessoas tinham expectativas realistas quanto ao clima britânico, era de tijolos e sólido o bastante para interromper a passagem de um tanque. Fomos sentar
no banco no fundo da alcova, protegidos do vento. O interior havia sido decorado com um mural da orla marítima: céu azul, nuvens brancas, velas vermelhas. Um maluco
qualquer havia grafitado “BMX” no céu, e havia uma lista de nomes rabiscados em uma parede lateral – Brooke T., Emily B. e Lesley M. Estavam no lugar exato para
terem sido pintados por um adolescente entediado sentado no canto do banco. Não era preciso ser um gênio para deduzir que era ali que os jovens de Brightlingsea
se reuniam, naquele difícil espaço espremido entre a idade da responsabilidade criminal e a maioridade legal para beber.
Lesley tirou um iPad da bolsa e o ligou. Alguém na família devia ter conhecimentos de informática. Eu sabia que não era Lesley, porque haviam instalado um sintetizador
de fala. Era um modelo básico com sotaque americano que a fazia soar como um surfista autista, mas pelo menos podíamos conversar com alguma normalidade.
Ela não perdeu tempo com rodeios.
– Magia pode consertar?
– Pensei que o Dr. Walid tivesse conversado com você sobre isso. – Eu temia essa questão.
– Quero que você diga – ela falou.
– O quê?
Lesley se inclinou sobre o aparelho e cutucou deliberadamente a tela com o dedo. Ela digitou várias linhas separadas antes de apertar o “Enter”.
– Quero ouvir de você – falou o iPad.
– Por quê?
Mais alguns segundos de digitação.
– Porque confio em você.
Respirei fundo. Dois idosos passaram pelo abrigo em carrinhos motorizados.
– Até onde posso dizer, a magia funciona limitada pelas mesmas leis físicas que governam todo o resto.
– O que a magia faz – disse o iPad – a magia pode desfazer.
– Se queimar a mão com fogo ou eletricidade, ainda terá uma queimadura. Você conserta com curativos, pomada e coisas assim. Não usa mais eletricidade ou mais fogo.
Você... teve a pele e os músculos do rosto desfigurados por um espírito do mal, sua mandíbula foi esmagada e tudo foi mantido junto por magia – quando ela acabou,
seu rosto caiu... seu lindo rosto. Eu estava lá; vi acontecer. E não pude fazer nada. Não posso simplesmente desejar que desapareça.
– Sabe tudo? – perguntou o iPad.
– Não – respondi. – E acho que Nightingale também não.
Ela ficou em silêncio e imóvel por um bom tempo. Queria abraçá-la, mas não sabia como ela iria reagir. Estava me preparando para tocá-la, quando ela assentiu e pegou
o iPad de novo.
– Mostre-me – falou o aparelho.
– Lesley...
– Mostre-me. – Ela apertou o botão de repetir várias vezes. – Mostre-me, mostre-me, mostre-me...
– Espere – falei e tentei pegar o iPad, mas ela o tirou de perto de mim. – Tenho que tirar a bateria – expliquei. – Ou a magia vai explodir os chips.
Lesley virou o iPad, abriu o compartimento da bateria e a removeu. Depois de destruir cinco aparelhos celulares, um após o outro, eu havia equipado meu mais novo
Samsung com um bloqueio que o mantinha seguro, mas tinha que usar elásticos para mantê-lo fechado. Lesley estremeceu ao vê-lo e fez um barulho estranho que eu suspeitava
ser uma gargalhada.
Criei em minha cabeça a forma apropriada, abri a mão e produzi uma bola de luz. Não era grande, mas suficiente para projetar uma luz pálida que era refletida pelas
lentes dos óculos escuros de Lesley. Ela parou de rir. Fechei a mão e a luz se apagou.
Lesley olhou para minha mão por um momento e depois fez o mesmo gesto, repetindo-o duas vezes de maneira lenta e metódica. Nada aconteceu. Ela olhou para mim e eu
soube que, por trás dos óculos e do lenço, sua expressão era de descontentamento.
– Não é tão fácil – expliquei. – Treinei todas as manhãs durante quatro horas por um mês e meio antes de conseguir, e isso é só a primeira coisa que você tem que
aprender. Já falei sobre o latim, o grego...?
Ficamos em silêncio por um momento, até ela cutucar meu braço. Suspirei e produzi outra bola de luz. Àquela altura eu conseguia a façanha até dormindo. Ela copiou
o gesto, e nada aconteceu. Não estou brincando sobre o tempo necessário para aprender isso.
Os idosos nos carrinhos voltaram pela esplanada. Apaguei a luz, mas Leslie continuou fazendo o gesto, e seus movimentos se tornavam mais impacientes a cada tentativa.
Aguentei enquanto pude, mas acabei segurando a mão dela para obrigá-la a parar.
Pouco depois, voltamos à casa dela. Quando chegamos à varanda, ela bateu de leve no meu braço, entrou e fechou a porta. Pelo vidro fosco eu a vi desaparecer rapidamente
pelo vestíbulo, até sumir por completo.
Estava me virando para ir embora quando a porta se abriu e o pai de Lesley saiu.
– Peter – ele chamou. Constrangimento não é algo comum em homens como Henry May, por isso não é fácil de disfarçar. – Achei que poderíamos tomar uma xícara de chá...
tem um café na High Street.
– Obrigado, mas tenho que voltar a Londres – respondi.
– Ah. – Ele se aproximou um pouco mais. – Ela não quer que você a veja sem a máscara... – E moveu as mãos vagamente mostrando a casa. – Sabe que, se você entrar,
ela vai ter que tirá-la, e não quer que a veja. Consegue entender, não é?
Eu assenti.
– Ela não quer que você veja o quanto é grave.
– E qual é a gravidade?
– É tão grave quanto pode ser – disse Henry.
– Sinto muito.
Henry deu de ombros.
– Só queria que soubesse que ninguém o mandou embora – ele explicou. – Não está sendo punido ou algo assim.
Mas eu havia sido dispensado, então me despedi, entrei no carro e voltei a Londres.
Havia acabado de encontrar a entrada para a A12 quando o Dr. Walid me ligou dizendo que tinha um corpo e queria que eu o examinasse. Pisei fundo. Era trabalho, e
eu me sentia grato por poder trabalhar.
*
Todos os hospitais em que eu já havia entrado tinham o mesmo cheiro – uma mistura de desinfetante, vômito e mortalidade. O University College Hospital era novo,
tinha menos de dez anos, mas o cheiro já começava a invadir todos os cantos, exceto, ironicamente, o porão onde ficavam os corpos. Ali a tinta nas paredes ainda
era impecável e o linóleo azul do piso rangia sob os pés.
A entrada do necrotério ficava na metade de um longo corredor cheio de fotos emolduradas do antigo hospital Middlesex, da época em que médicos lavando as mãos entre
um paciente e outro era o máximo da ciência medicinal. As portas corta-fogo tinham trava eletrônica e uma placa indicando Proibida a entrada de pessoas não autorizadas
– APENAS EQUIPE DO NECROTÉRIO. Outra placa solicitava que eu apertasse o botão do interfone, e foi o que eu fiz. O aparelho chiou, estalou e, pensando que por trás
do barulho alguém podia ter feito uma pergunta, anunciei que era o oficial Peter Grant e estava ali para ver o Dr. Walid. O interfone estalou e chiou novamente,
eu esperei, e depois de um instante o Dr. Abdul Haqq Walid, gastroenterologista, criptopatologista de renome mundial e escocês praticante abriu a porta.
– Peter – disse ele. – Como está Lesley?
– Bem, acho – respondi.
Lá dentro, o necrotério era muito parecido com o restante do hospital, porém com menos gente reclamando do plano de saúde. Dr. Walid e eu passamos pelo segurança
na recepção, e depois ele me apresentou ao corpo do dia.
– Quem é ele? – perguntei.
– Cyrus Wilkinson – respondeu ele. – Sofreu um colapso em um bar em Cambridge Circus anteontem, foi levado de ambulância ao pronto-socorro, declarado morto ao dar
entrada e enviado para cá para a rotina da autópsia.
O pobre e velho Cyrus Wilkinson não parecia tão mal, exceto, é claro, pela incisão em forma de Y que o abria do peito até a região entre as pernas. Felizmente, o
Dr. Walid havia terminado de vasculhar seus órgãos e o fechara antes de eu chegar. Ele era um homem branco, aparentando quarenta e poucos anos, bem conservado, com
uma pequena barriga de chope, mas ainda com alguma definição muscular nos braços e nas pernas. Para mim, parecia ser um corredor.
– E ele está aqui embaixo porque...?
– Bem, há evidências de gastrite, pancreatite e cirrose hepática – disse o Dr. Walid. – A última eu reconheci.
– Um beberrão? – deduzi.
– Entre outras coisas – confirmou o Dr. Walid. – Estava severamente anêmico, o que podia ter relação com os problemas hepáticos, mas é mais provável que seja decorrente
de uma deficiência de B12.
Olhei novamente para o corpo por um momento.
– Ele tem bom tônus muscular – comentei.
– E tinha boa forma física no passado. Mas, recentemente, parece ter relaxado.
– Drogas?
– Fiz todas as verificações rápidas, e nada – respondeu o Dr. Walid. – Em alguns dias terei os resultados das amostras de cabelo.
– Qual foi a causa da morte?
– Falência cardíaca. Encontrei indicações de cardiomiopatia dilatada – revelou o médico. – O coração aumentou de tamanho e não conseguia mais trabalhar direito.
Mas creio que o que o matou ontem à noite foi um infarto agudo do miocárdio.
Mais uma expressão que eu havia aprendido nas aulas em Hendon sobre “o que fazer se seu suspeito capota sob sua custódia”. Em outras palavras, um ataque cardíaco.
– Causas naturais? – perguntei.
– Aparentemente, sim – confirmou o Dr. Walid. – Mas, na verdade, ele não estava tão doente para cair morto como caiu. Não que as pessoas não caiam mortas o tempo
todo, é claro.
– Então, como sabe que esse é um dos nossos?
O Dr. Walid bateu no ombro do cadáver e piscou para mim.
– Vai ter que chegar mais perto para descobrir.
Não gosto de me aproximar de cadáveres, nem mesmo dos despretensiosos como Cyrus Wilkinson, por isso pedi ao Dr. Walid uma máscara com filtro e protetores para os
olhos. Quando eliminei as chances de tocar o cadáver acidentalmente, eu me dobrei com cuidado até meu rosto ficar perto do dele.
Vestigia são as marcas que a magia deixa em objetos físicos. É muito parecido com uma impressão sensorial, como a lembrança de um cheiro ou um som que você ouviu
um dia. Você provavelmente a sente cem vezes por dia, mas tudo se mistura com lembranças, devaneios e até cheiros que está sentindo e sons que está ouvindo. Algumas
coisas, pedras, por exemplo, absorvem tudo que acontece em torno delas, mesmo quando nem chega a ser magia – é isso que dá personalidade a uma casa velha. Outras
coisas, como o corpo humano, são terríveis para reter vestigia – é preciso o equivalente mágico a uma explosão de granada para gravar alguma coisa em um cadáver.
Por isso fiquei um pouco surpreso ao ouvir o corpo de Cyrus Wilkinson tocando um solo de saxofone. A melodia vinha de um tempo quando todos os rádios eram feitos
de Bakelite e vidro soprado, e com ela vinha o cheiro de um canteiro de obras, uma mistura de madeira cortada e pó de cimento. Fiquei ali por tempo suficiente para
ter certeza de que conseguia identificar a música, depois me afastei.
– Como percebeu? – perguntei.
– Verifico todas as mortes súbitas – respondeu o Dr. Walid. – Sempre há uma pequena chance. Achei que soava como jazz.
– Reconheceu a canção?
– Não. Meu negócio é rock progressivo e as românticas do século XIX – respondeu o Dr. Walid. – E você?
– É “Body and soul” – respondi. – Dos anos 1930.
– Quem tocava?
– Quase todo mundo. É um dos grandes clássicos do jazz.
– Ninguém morre de jazz – disse o Dr. Walid. – Morre?
Pensei em Fats Navarro, Billie Holiday e Charlie Parker que, quando morreu, foi confundido pelo legista com um homem que tinha o dobro de sua idade.
– Sabe, acho que vai descobrir que sim – respondi.
O jazz certamente havia caprichado com meu pai.
*
Não é possível encontrar vestigium em um corpo dessa maneira sem que tenha havido magia séria, o que significa que, ou alguém fez alguma coisa mágica com Cyrus Wilkinson,
ou ele mesmo era um usuário. Nightingale chamava os civis que usavam magia de “praticantes”. De acordo com ele, um praticante, mesmo que amador, frequentemente deixa
evidências de sua “prática” em casa, por isso atravessei o rio e fui para o endereço que constava na carteira de motorista do Sr. Wilkinson para saber se existia
alguém que o amava o suficiente para matá-lo.
Sua casa era um sobrado eduardiano no lado “direito” de Tooting Bec Road. Havia um VW Golf Country, além de dois Audis e um BMW para aumentar um pouco o nível. Estacionei
em uma faixa amarela e subi a rua. Um Honda Civic laranja fluorescente chamou minha atenção – não tinha apenas o pequeno e triste motor 1.4 VTEC, mas também uma
mulher no assento de motorista observando o endereço. Fiz uma nota mental do índice de credibilidade do carro antes de abrir o portão de ferro fundido, e depois
prossegui pelo curto passeio e toquei a campainha. Por um momento, senti cheiro de madeira cortada e pó de cimento, mas abri a porta e perdi o interesse em todo
o resto.
Ela tinha curvas antiquadas e estava roliça e sexy em um folgado pulôver azul-celeste. Tinha um bonito rosto pálido e um cabelo castanho bagunçado que bateria na
metade de suas costas se não estivesse preso em um rabo de cavalo. Seus olhos eram castanho-chocolate e sua boca era grande, com lábios grossos, e voltada para baixo
nas extremidades. Ela me perguntou quem eu era e me identifiquei.
– E o que posso fazer por você, oficial? – perguntou ela. Seu sotaque era cortante, beirando a paródia; quando ela falava, parecia que um avião Spitfire ia passar
bem próximo de nossas cabeças.
– Essa é a casa de Cyrus Wilkinson? – perguntei.
– Temo dizer que era, oficial – respondeu ela.
Perguntei quem era ela – educadamente.
– Simone Fitzwilliam – respondeu, e estendeu a mão. Eu a peguei numa reação automática; a palma era suave, morna. Cheirava a madressilva. Perguntei se podia entrar,
e ela se afastou para o lado para me deixar passar pela porta.
A casa havia sido construída para a classe média baixa, por isso o corredor era estreito, mas proporcional. No entanto, ainda tinha os azulejos preto e branco originais
e um dilapidado, mas antigo, armário de carvalho. Simone me levou à sala de estar. Notei suas pernas sólidas, mas bem torneadas, sob a legging preta. A casa havia
sido submetida ao pacote completo de padrão do enobrecimento: sala da frente invadindo a sala de jantar; tábuas de carvalho originais do piso lixadas, envernizadas
e cobertas com tapetes. A mobília parecia ser John Lewis – cara, confortável e sem criatividade. A TV de plasma era grande, como exigia a convenção, e conectada
à Sky e a um aparelho Blu-ray; as estantes mais próximas tinham DVDs, não livros. Uma reprodução de Monet adornava a parede sobre o local onde estaria a lareira,
se ela não houvesse sido removida em algum momento dos últimos cem anos.
– Qual era sua relação com o Sr. Wilkinson? – perguntei.
– Ele era meu amante – a mulher respondeu.
O aparelho de som era um Hitachi sofisticado e sem graça, só para CD – apenas um CD. Havia duas prateleiras de CDs: Wes Montgomery, Dewey Redman, Stan Getz. O restante
era uma seleção aleatória de sucessos dos anos 1990.
– Lamento por sua perda – falei. – Gostaria de lhe fazer algumas perguntas, se for possível.
– Isso é mesmo necessário, oficial?
– Costumamos investigar casos cujas circunstâncias em torno da morte não sejam claras – expliquei. Na verdade, nós, isto é, a polícia, não investiga nada a menos
que o crime seja óbvio, ou se a Central tiver emitido uma ordem recente para priorizarmos o crime du jour, seja qual for, durante o atual ciclo de notícias.
– Elas não são claras? – perguntou Simone. – Pelo que sei o pobre Cyrus teve um ataque cardíaco. – Ela se sentou em um sofá azul e me convidou com um gesto a sentar
na poltrona próxima. – Isso não é o que chamam de causas naturais? – Seus olhos brilharam, e ela os esfregou com o dorso da mão. – Sinto muito, oficial – disse.
Pedi a ela para me chamar de Peter, o que não se deve fazer nesse estágio de um inquérito. Eu podia praticamente ouvir Lesley gritando comigo do litoral de Essex.
Mesmo assim, ela não me ofereceu uma xícara de chá. Acho que aquele simplesmente não era o meu dia.
Simone sorriu.
– Obrigada, Peter. Pode fazer suas perguntas.
– Cyrus era músico?
– Ele tocava sax alto.
– E tocava jazz?
Mais um sorriso breve.
– Existe outro tipo de música?
– Modal, bebop ou mainstream? – perguntei me exibindo.
– Cool da Costa Oeste – ela disse. – Embora ele não se opusesse a tocar um pouco de bop quando a ocasião exigia.
– Você toca?
– Deus, não. Eu não poderia impor minha terrível falta de talento a uma plateia. É preciso saber reconhecer as próprias limitações. Mas sou uma ouvinte atenta...
Cyrus gostava disso.
– Estava como ouvinte naquela noite?
– É claro. Na primeira fileira, embora isso não seja difícil em um lugar tão pequeno como The Spice of Life. Eles estavam tocando “Midnight Sun”. Cyrus terminou
seu solo e sentou-se diante do monitor. Achei que ele estava um pouco agitado, de repente caiu de lado, e foi então que todos percebemos que alguma coisa estava
errada.
Ela parou e desviou o olhar. Os punhos estavam cerrados. Esperei um pouco e fiz algumas perguntas de rotina para mantê-la concentrada novamente. Ela sabia que horas
eram quando Cyrus sofreu o colapso? Quem havia chamado a ambulância? Ela havia ficado com ele o tempo todo? Fui anotando as respostas no meu bloco.
– Eu queria ter ido com ele na ambulância, de verdade, mas antes que eu percebesse, já o haviam levado. Jimmy me deu uma carona até o hospital, mas quando cheguei
já era tarde demais.
– Jimmy? – perguntei.
– Jimmy é o baterista, um homem muito bom. Acho que é escocês.
– Pode me dizer o nome completo dele?
– Acho que não. Não é horrível? Sempre pensei nele como Jimmy, o baterista.
Perguntei quem mais fazia parte da banda, mas ela só conseguiu se lembrar deles como Max, o baixista, e Danny, o pianista.
– Deve estar pensando que sou uma pessoa horrível – ela falou. – Tenho certeza de que sei o nome deles, mas não consigo lembrar. Talvez tenha sido a morte repentina
de Cyrus. O choque...
Perguntei se Cyrus havia estado doente recentemente. Simone disse que não. Ela também não soube dizer o nome do médico que o atendia, mas me garantiu que, se fosse
importante, poderia encontrar a informação nos papéis de Cyrus. Decidi pedir ao Dr. Walid para localizar o médico.
Senti que havia feito perguntas suficientes para encobrir o verdadeiro motivo da minha visita, e então, afetando toda inocência de que era capaz, pedi para dar uma
olhada na casa. Normalmente, a simples presença de um policial é suficiente para fazer até o cidadão mais correto se sentir meio culpado e, portanto, relutante em
permitir uma inspeção dessa natureza, por isso me surpreendi quando Simone apontou o corredor e me disse para ficar à vontade.
O andar de cima era como eu esperava – uma suíte master na frente, um segundo quarto no fundo, usado como sala de música, a julgar pelo espaço aberto e pelos tripés
encostados à parede. O quartinho havia sido sacrificado em prol de um banheiro maior, onde havia uma banheira, chuveiro, bidê e vaso sanitário, tudo revestido com
cerâmica azul-clara e estampas de flor-de-lis. O armário do banheiro era padrão: um quarto masculino, três quartos femininos. Ele preferia descartáveis lâminas duplas
de barbear e gel pós-barba; ela se depilava muito e comprava na Superdrug. Nada indicava que um dos dois estivesse envolvido com artes esotéricas.
No quarto principal, as duas portas do guarda-roupa estavam abertas, e uma trilha de roupas meio dobradas levava até a cama sobre a qual havia duas malas abertas.
O luto, como o câncer, atinge as pessoas em proporções diferentes, mas, mesmo assim, eu achava que era um pouco cedo para ela estar tirando do armário as coisas
de seu amado Cyrus. Então notei algumas peças de roupa que nenhum músico de jazz de respeito usaria, e compreendi que Simone estava fazendo as malas com as coisas
dela, o que considerei igualmente suspeito. Ouvi com atenção para ter certeza de que ela não estava subindo a escada e dei uma olhada nas gavetas de roupas íntimas,
mas não consegui nada além de uma vaga sensação de que não agia como um profissional.
A sala de música tinha mais personalidade; havia pôsteres emoldurados de Miles Davis e Art Pepper nas paredes, e prateleiras cheias de partituras. Eu havia deixado
aquele aposento por último porque queria ter uma ideia do que Nightingale chamava de sensis illic de uma casa, e do que eu chamava de vestigium passado antes de
entrar no que era claramente o santuário interno de Cyrus Wilkinson. Ouvi um lampejo de “Body and Soul” e, misturado ao perfume de madressilva de Simone, o cheiro
de poeira e madeira cortada outra vez, mas agora era tênue e fugaz. Diferente do resto da casa, a sala de música tinha estantes de livros onde havia fotografias
e recordações incrivelmente caras de viagens ao exterior. Sempre pensei que alguém interessado em se tornar praticante sem percorrer as vias oficiais teria que trilhar
um mar de lixo ocultista antes de encontrar magia de verdade – se é que isso é possível. Pelo menos alguns daqueles livros deviam estar nas prateleiras, mas Cyrus
não tinha nada desse tipo por ali, nem mesmo o Livro das Mentiras de Aleister Crowley, que é sempre bom para rir um pouco, embora não servisse para mais nada. Na
verdade, as estantes eram muito parecidas com as de meu pai: havia principalmente biografias de jazz – Straight Life, Bird Lives –, com alguns títulos de Dick Francis
para variar.
– Encontrou alguma coisa? – Simone estava na porta.
– Ainda não – respondi. Estava muito compenetrado no quarto para ouvi-la subir a escada. Lesley dizia que a capacidade de não escutar um grupo de dança folclórica
holandesa atrás de você não era uma característica favorável à sobrevivência no mundo complexo e rápido do ambiente policial moderno. Gostaria de comentar que, naquele
momento, eu estava dando instruções a um terrorista ligeiramente surdo, e era uma trupe de dança sueca, na verdade.
– Não quero apressar nada, mas chamei um táxi antes de você chegar, e sabe como esses caras odeiam esperar.
– Aonde vai? – perguntei.
– Passar uns dias com as minhas irmãs – respondeu ela –, até superar o choque.
Pedi o endereço e anotei as informações. Surpreendentemente, o lugar ficava no Soho, em Berwick Street.
– Eu sei – Simone falou ao ver minha expressão. – Elas são bem boêmias.
– Cyrus tinha outras propriedades, um cofre, um terreno, talvez?
– Não que eu saiba – respondeu ela, e depois riu. – Cyrus cuidando de um terreno, que ideia extraordinária.
Agradeci a ela por ter me recebido e fui levado até a porta.
– Obrigada por tudo, Peter – disse ela. – Você foi muito gentil.
Havia um reflexo suficiente na janela lateral para eu ver que o Honda Civic ainda estava estacionado na frente da casa, e que a motorista olhava diretamente para
nós. Quando me virei, ela desviou rapidamente o olhar e fingiu ler os adesivos no carro da frente. A mulher arriscou olhar para nós mais uma vez e me viu atravessando
a rua, caminhando em sua direção. Vi seu pânico e seu constrangimento, e a hesitação entre ligar o motor e sair do carro. Quando bati na janela, ela se encolheu.
Mostrei a ela minha credencial, e ela a olhou com uma expressão confusa. Essa é a reação que provocamos em metade dos casos, basicamente porque metade da população
nunca viu de perto um distintivo policial e nem imagina o que é. Depois de um tempo ela abriu a janela.
– Pode sair do carro, senhora, por favor? – pedi.
Ela assentiu e desceu. Era baixa, esguia e se vestia bem, com um tailleur azul comprado pronto, mas de boa qualidade. Uma corretora de imóveis, pensei, ou uma profissional
da área comercial ou de relações públicas. Quando lidam com a polícia, muitas pessoas se apoiam no carro em busca de apoio moral, mas ela não, embora girasse um
anel no dedo e ajeitasse os cabelos empurrando-os para trás das orelhas.
– Eu só estava esperando no carro – falou ela. – Algum problema?
Pedi para ver sua carteira de motorista e ela a entregou sem protestar. Se você perguntar nome e endereço a um cidadão comum, ele não só mente com grande frequência,
como não é obrigado a responder, a menos que você o acuse de algum delito. E você ainda tem que preencher uma declaração para provar que não está abordando corretoras
imobiliárias loiras injustamente. Porém, se você os faz pensar que é uma inspeção de trânsito, eles exibem alegremente a carteira de motorista com nome, incluindo
nomes do meio constrangedores, endereço e data de nascimento, dados que anotei. O nome dela era Melinda Abbot, nascida em 1980, e seu endereço era exatamente aquele
de onde eu havia acabado de sair.
– Esse é seu endereço atual? – perguntei ao devolver o documento.
– Mais ou menos. Era, e acontece que estou esperando ele voltar a ser agora. Por que quer saber?
– Porque isso faz parte de uma investigação em andamento. Conhece um homem chamado Cyrus Wilkinson?
– Ele é meu noivo – a mulher respondeu, e me encarou com firmeza. – Aconteceu alguma coisa com o Cyrus?
Havia diretrizes aprovadas pela polícia para dar más notícias a entes queridos, e elas não incluíam uma revelação precipitada no meio da rua. Perguntei se ela gostaria
de se sentar comigo no carro, mas a mulher estava ficando nervosa.
– É melhor falar de uma vez – disse.
– Tenho más notícias – comecei.
Qualquer um que já tenha visto as séries de TV The Bill ou Casualty sabe o que isso significa. Melinda deu um passo para trás e parou. Ela quase se descontrolou,
mas vi todas as emoções sendo sugadas para trás da máscara que era seu rosto.
– Quando? – perguntou ela.
– Há duas noites – respondi. – Foi um ataque cardíaco.
Ela me olhou atordoada.
– Ataque cardíaco?
– Receio que sim.
A mulher assentiu.
– Por que está aqui? – indagou.
Não precisei mentir porque um táxi parou na frente da casa e buzinou. Melinda virou-se, olhou para a porta da frente e viu Simone sair carregando duas malas. O motorista,
exibindo um nível incomum de cavalheirismo, correu para ajudá-la e acomodou as malas no carro enquanto ela trancava a porta da frente da casa.
– Sua vadia – Melinda gritou.
Simone a ignorou e caminhou para o táxi, o que provocou em Melinda exatamente o efeito que eu esperava ver.
– Sim, você – gritou ela. – Ele está morto, sua vadia! E você nem se deu ao trabalho de me avisar. Aquela casa é minha, sua gorda covarde.
Simone levantou a cabeça, e no primeiro momento pensei que ela não havia reconhecido Melinda. Mas, em seguida, ela assentiu, jogou as chaves da casa na nossa direção
e elas caíram aos pés de Melinda.
Reconheço um ataque incontrolável de fúria quando o vejo se aproximar, por isso já a segurava pelo braço antes mesmo de ela tentar atravessar a rua para agredir
Simone. Manter a Paz da Rainha – isso era o que importava. Para uma mulher tão pequena e magra, Melinda era bem forte, e tive que usar as duas mãos para contê-la
enquanto ela gritava ofensas por cima de meu ombro, fazendo meus ouvidos apitarem.
– Quer ser presa? – perguntei. Esse é um velho truque da polícia. Se você se limita a avisar, as pessoas costumam ignorar, mas, se você faz uma pergunta, elas são
obrigadas a pensar nela. E quando começam a pensar nas consequências quase sempre se acalmam – a menos que estejam bêbadas, é claro, ou drogadas, ou tenham entre
14 e 21 anos, ou sejam de Glasgow.
Felizmente, com Melinda a pergunta provocou o efeito desejado. Ela parou de gritar até o táxi se afastar. Quando tive certeza de que ela não me atacaria por causa
da frustração – um risco a que um policial está sempre exposto –, eu me abaixei, peguei as chaves e as pus na mão dela.
– Tem alguém para quem você possa ligar? – perguntei. – Alguém que possa vir ficar com você por um tempo?
Ela balançou a cabeça.
– Vou esperar no carro – disse. – Obrigada.
Não me agradeça, senhora – eu não disse –, estou só fazendo... O que eu estava fazendo? Não tiraria dela nada de útil naquele dia, por isso a deixei em paz.
Às vezes, depois de um dia duro de trabalho, só um kebab pode servir de conforto. Parei em um restaurante curdo quando passava pela Vauxhall e estacionei em Albert
Embankment para comer – nada de kebab no Jaguar, essa era a regra. Um lado do Embankment havia sofrido um surto de modernismo nos anos 1960, mas eu me mantinha de
costas para as fachadas de concreto sem graça e apreciava o sol incendiando os telhados de Millbank Tower e do Palácio de Westminster. O começo de noite ainda era
quente o bastante para permitir mangas curtas, e a cidade se agarrava ao verão como uma maria-chuteira a um centroavante promissor.
Oficialmente, faço parte do UCEE9, Unidade de Crimes Econômicos e Especiais – Unidade 9, também conhecida como Folly ou ainda como a unidade em que policiais simpáticos
e bem-educados não conversam perto de pessoas de alta classe. É inútil tentar se lembrar da UCEE9, porque a Polícia Metropolitana passa por uma reorganização a cada
quatro anos e todos os nomes mudam. Por isso a Unidade de Assaltos Comerciais do Grupo de Crime Sério e Organizado foi chamada de “O Esquadrão Voador” desde sua
apresentação em 1920, ou “The Sweeney”, se você quiser estabelecer sua identidade Cockney. Sweeney Todd, uma rima para Flying Squad, ou Esquadrão Voador, caso esteja
confuso.
Diferente da Sweeney, a Folly muitas vezes passa despercebida, em parte porque fazemos coisas sobre as quais ninguém gosta de conversar. Mas, principalmente, porque
não temos orçamento estabelecido. Sem orçamento não há escrutínio burocrático e, portanto, não existe o rastro da papelada. Além de tudo isso, até janeiro desse
ano o quadro da equipe tinha apenas um membro: um certo detetive inspetor-chefe Thomas Nightingale. Apesar de dobrar o contingente da unidade quando nela entrei
e encontrar o equivalente a dez anos de papelada parada, somos uma presença furtiva dentro da hierarquia burocrática da Polícia Metropolitana. Assim, passamos pelos
outros policiais de um jeito misterioso, como são misteriosos os deveres que temos que cumprir.
Um de nossos deveres é a investigação de magos não autorizados e outros praticantes de magia, mas não creio que Cyrus Wilkinson fosse praticante de alguma coisa,
exceto de um sax alto. Também duvido que ele tenha se matado com o tradicional coquetel musical de drogas e álcool, mas essa hipótese teria que esperar pela confirmação
do exame toxicológico. Por que alguém usaria magia para matar um músico no palco? Quero dizer, tenho meus problemas com o New Thing e o resto dos modernistas atonais,
mas não mataria alguém por tocar esse tipo de música – pelo menos não se não estivesse trancado na mesma sala com essa pessoa.
Do outro lado do rio, um catamarã afastou-se do píer Millbank com um ronco de diesel. Embrulhei o kebab e o joguei em uma lata de lixo. Voltei ao Jaguar, liguei
o motor e retornei ao tráfego do crepúsculo.
Em algum momento eu teria que pesquisar o banco de dados da Folly, procurar casos históricos. Polidori costumava ser bom com coisas lúgubres envolvendo bebida e
devassidão. Provavelmente por causa do tempo que passara transtornado com Byron e os Shelley em Lake Geneva. Se alguém sabia sobre mortes não naturais e prematuras
essa pessoa era Polidori, que literalmente escrevera o livro sobre o assunto antes de beber cianeto – Uma investigação sobre mortes não naturais em Londres nos anos
de 1768 a 1810, e ele pesa mais de um quilo. Eu só esperava que ler o livro não me levasse a cometer suicídio também.
Era tarde da noite quando cheguei à Folly e estacionei o Jaguar na garagem. Toby começou a latir assim que abri a porta de trás e veio correndo e derrapando pelo
piso de mármore do átrio para se jogar contra minhas canelas. Molly surgiu da direção da cozinha como a vencedora do Campeonato Mundial da Lolita Gótica Mais Pavorosa.
Ignorei os latidos de Toby e perguntei se Nightingale estava acordado. Molly balançou a cabeça em sentido negativo, depois me olhou intrigada.
Molly é uma espécie de governanta, cozinheira e exterminadora de roedores da Folly. Ela nunca fala, tem dentes demais e adora carne crua, mas tento nunca usar essas
coisas contra ela nem deixá-la se colocar entre mim e a saída.
– Estou exausto. Vou direto para a cama – falei.
Molly olhou para Toby, depois para mim.
– Trabalhei o dia todo – acrescentei.
Molly inclinou a cabeça, um gesto cujo significado era claro: Não me interessa, se não levar a coisa fedida para passear, você vai limpar a sujeira dele.
Toby parou de latir por um instante e me olhou esperançoso.
– Onde está a coleira? – perguntei.
2
The Spice of Life O público em geral tem uma visão distorcida da velocidade em que progride uma investigação. As pessoas gostam de imaginar conversas tensas por
trás das persianas, detetives com a barba por fazer, mas rusticamente bonitos, trabalhando com total dedicação e mergulhando na bebida e no fracasso conjugal. A
verdade é que, no fim do dia, a menos que tenha alguma pista urgente, o policial vai para casa e se dedica às coisas que realmente importam na vida – como beber,
dormir e, se tiver sorte, se relacionar com alguém do gênero e orientação sexual de sua escolha. E eu estaria fazendo pelo menos uma dessas coisas na manhã seguinte
se não fosse também o último aprendiz de feiticeiro na Inglaterra. O que significava que eu passava meu tempo livre aprendendo a teoria, estudando línguas mortas
e lendo livros como Ensaios sobre a metafísica, de John “quase todas as letras do alfabeto” Cartwright.
E aprendendo magia, é claro, o que justifica todo esse esforço.
Aqui vai um feitiço: Lux iactus scindere. Recite em voz baixa, recite em voz alta, diga com convicção no meio de uma tempestade enquanto faz uma pose dramática –
nada vai acontecer. Porque as palavras são apenas rótulos para a forma que você cria em sua mente: Lux para criar a luz e Scindere para colocá-la no lugar. Se fizer
esse feitiço corretamente, ele vai criar uma fonte de luz em uma posição fixa. Se o fizer de maneira errada, ele pode abrir um buraco em uma mesa de laboratório.
– Sabe – disse Nightingale –, acho que nunca vi isso acontecer antes.
Esguichei o conteúdo do extintor de CO2 pela última vez sobre a bancada e me abaixei para ver se o chão embaixo dela estava intacto. Havia uma marca de queimado,
mas, felizmente, nenhum buraco.
– Não consigo controlar – falei.
Nightingale levantou-se de sua cadeira de rodas e foi dar uma olhada. Ele se movia com cuidado, protegendo o lado direito. Se ainda tinha curativos no ombro, ele
os escondia embaixo de uma impecável camisa lilás que havia estado na moda durante a Crise da Abdicação. Molly cuidava de sua alimentação, mas, para mim, ele ainda
parecia pálido e magro. Nightingale me pegou olhando para ele.
– Gostaria que você e Molly parassem de olhar para mim desse jeito – disse. – Estou me recuperando. Já fui ferido por bala antes, sei do que estou falando.
– Devo tentar outra vez?
– Não – respondeu Nightingale. – O problema está no Scindere, é óbvio. Achei que você havia progredido depressa demais nesse capítulo. Amanhã vamos rever aquela
forma, e, depois, quando eu tiver certeza de que você dominou esse conceito, voltaremos a esse encantamento.
– Que bom – resmunguei.
– Isso não é incomum. – A voz de Nightingale era baixa e tranquila. – É preciso cuidar da fundação da arte corretamente, ou tudo que construir sobre ela será torto
e instável. Não existem atalhos na magia, Peter. Se houvesse, todos estariam fazendo feitiços.
Provavelmente no programa de TV Britain’s Got Talent, mas ninguém faz esse tipo de comentário com Nightingale, porque ele não tem senso de humor quando o assunto
é a arte, e só usa a televisão para assistir aos jogos de rúgbi.
Adotei o ar atento do aprendiz dedicado, mas ele não se deixou enganar.
– Fale sobre o músico morto – disse.
Expus os fatos, com ênfase na intensidade do vestigia que Dr. Walid e eu havíamos encontrado em torno do corpo.
– Ele sentiu com a mesma intensidade que você? – indagou Nightingale.
Dei de ombros.
– É vestigia, chefe – respondi. – Era forte o bastante para nós dois termos ouvido a melodia. Suspeito.
– Sim, é suspeito – ele concordou, e se acomodou na cadeira de rodas com uma expressão pensativa. – Mas houve crime?
– O estatuto fala apenas sobre matar ilegalmente alguém sob a Paz da Rainha com malícia planejada. Não diz nada sobre como matar. – Eu havia verificado no Manual
de polícia de Blackstone antes de descer para o café naquela manhã.
– Eu gostaria de ver o Serviço de Promotoria da Coroa usar esse argumento diante de um júri – ele respondeu. – Na primeira instância, seria preciso provar que ele
foi morto por magia e depois encontrar quem foi capaz de matá-lo e dar a impressão de causas naturais.
– Você conseguiria? – perguntei.
Nightingale teve que pensar um pouco.
– Acho que sim – disse. – Teria que passar um tempo na biblioteca primeiro. Seria um encantamento muito poderoso, e é possível que a música que vocês ouviram seja
a Signare de um praticante, sua marca registrada involuntária. Porque, como os antigos operadores de telégrafo conseguiam identificar uns aos outros pelo jeito como
batiam nas teclas, todo praticante faz um feitiço com um estilo único e próprio.
– Eu tenho uma assinatura? – perguntei.
– Sim – confirmou Nightingale. – Quando pratica, tudo tem uma alarmante tendência a pegar fogo.
– Sério, chefe.
– Ainda é muito cedo para ter uma Signare, mas outro praticante certamente saberia que você foi meu aprendiz. Isto é, desde que já tenha visto meu trabalho, é claro.
– E há outros praticantes por aí? – quis saber.
Nightingale se ajeitou na cadeira de rodas.
– Há alguns sobreviventes do grupo anterior à guerra – ele falou. – Mas, além deles, você e eu somos os últimos magos de treinamento clássico. Quero dizer, você
será, se conseguir se concentrar o suficiente para ser treinado.
– Pode ter sido um desses sobreviventes?
– Não se o jazz era parte da Signare.
Portanto, também não podia ser um de seus aprendizes – se é que eles os tinham.
– Se não foi um membro do seu grupo...
– Nosso grupo – disse Nightingale. – Você fez um juramento, lembre. Isso o torna um de nós.
– Se não foi ninguém de nosso grupo, quem mais pode ter sido?
Nightingale sorriu.
– Um de seus amigos ribeirinhos teria o poder – respondeu.
Isso me fez pensar. Havia dois deuses do rio Tâmisa, e cada um deles tinha os próprios filhos indóceis, um para cada afluente. Certamente tinham poder – eu mesmo
vi o rio Beverley inundando Covent Garden e, além disso, salvei a minha vida e a de uma família de turistas alemães.
– Mas Pai Thames não operaria abaixo da Comporta de Teddington – continuou Nightingale. – E Mamãe Thames não correria o risco de fazer um acordo conosco. Se Tyburn
quisesse sua morte, ela teria agido pelas cortes. Fleet humilharia você até a morte na mídia. E Brent é jovem demais. Por fim, deixando de lado o fato de Soho estar
do lado errado do rio, se Effra estivesse tentando usar música para matar você, não seria jazz.
Não quando ela é praticamente a santa padroeira do Grime no Reino Unido, pensei.
– Há outras pessoas? – perguntei. – Outras coisas?
– É possível – respondeu Nightingale. – Mas eu me concentraria em determinar como antes de me preocupar muito com quem.
– Algum conselho?
– Você pode começar visitando a cena do crime.
Para desgosto da classe dominante, que gosta de suas cidades limpas, organizadas e seguras, Londres nunca respondeu bem aos grandiosos projetos de melhorias, nem
mesmo depois de ter sido destruída em 1666. Acredite, isso não impediu as pessoas de tentarem, e na década de 1880 o Conselho Metropolitano de Obras construiu a
Charing Cross Road e a Shaftesbury Avenue para melhorar a comunicação entre norte e sul e leste e oeste. A eliminação da periferia Newport Market e a consequente
redução do número de pessoas pobres e imagens desagradáveis que se poderia ver ao perambular pela cidade foi, tenho certeza, pura coincidência. O local onde a estrada
e a avenida se cruzam tornou-se Cambridge Circus, e hoje, no lado oeste, fica o Teatro Palace em toda sua glória vitoriana. Ao lado dele, e construído no mesmo estilo,
está o que um dia foi o pub George and Dragon, mas que agora é chamado de The Spice of Life. De acordo com a publicidade deles mesmos, esse era o melhor lugar de
Londres para ouvir jazz.
Nos tempos em que meu pai ainda se apresentava, The Spice of Life não era uma casa onde se ouvia jazz. Era, de acordo com ele, um estabelecimento estritamente para
velhotes de agasalhos de gola alta e cavanhaque que liam poesia ou ouviam música folk. Bob Dylan tocou nesse lugar algumas vezes na década de 1960, e Mick Jagger
também. Mas nada disso significava alguma coisa para meu pai, que sempre dizia que rock era bom para quem precisava de ajuda para acompanhar um ritmo.
Até aquela hora de almoço, eu nunca havia sequer entrado no The Spice of Life. Antes de ser policial, aquele não era o tipo de bar onde eu costumava beber, e depois
de me tornar policial, aquele não era o tipo de bar onde eu prendia pessoas.
Programei minha visita para evitar o movimento maior da hora do almoço, por isso o público que encontrei na região do Circus era, basicamente, de turistas. O interior
do bar era agradável, fresco, meio escuro e vazio, com um toque de produtos de limpeza lutando contra anos de cerveja derramada. Queria sentir o clima do lugar e
decidi que, para isso, nada melhor que entrar e beber uma cerveja, mas estava em serviço, então pedi apenas meia cerveja. Diferente de muitos pubs de Londres, The
Spice of Life conseguia preservar o interior de bronze e madeira polida sem se tornar cafona. Fiquei parado perto do balcão bebendo minha cerveja e, quando sorvi
o primeiro gole, senti um lampejo de suor de cavalo e barulho de martelos batendo em uma bigorna, gritos e risadas, um grito distante de mulher e cheiro de tabaco
– tudo muito comum para um pub no centro de Londres.
Os filhos de Musa ibn Shakir eram brilhantes e ousados. Se não fossem muçulmanos, provavelmente teriam recorrido aos santos padroeiros dos tecno-geeks. Eles são
famosos por terem escrito um best-seller no século XIX, um compêndio de geniais aparatos mecânicos que, com muita criatividade, chamaram de Kitab al-Hiyal ou O livro
dos aparatos geniais. Nele descreveram o que poderia ser considerado o primeiro aparelho para medir pressão diferencial, e é aí que o problema realmente começa.
Em 1593, Galileu Galilei se afastou da astronomia e decretou heresia inventar um termoscópio para medir calor. Em 1833, Carl Friedrich Gauss inventou um aparelho
para medir a força de um campo magnético, e, em 1908, Hans Geiger criou um detector para radiação ionizante. Neste exato momento, astrônomos estão detectando planetas
em torno de estrelas distantes ao medir quanto suas órbitas oscilam, e as pessoas inteligentes do CERN – sigla francesa para Organização Europeia para a Pesquisa
Nuclear – estão juntando partículas na esperança de que Doctor Who apareça e diga a eles para parar. A história sobre como medimos o universo físico é a história
da própria ciência.
E o que Nightingale e eu temos para medir vestigia? Nada, e nem sabemos o que estamos tentando medir. Não é à toa que os herdeiros de Isaac Newton mantinham a magia
escondida e segura sob suas perucas. Eu havia desenvolvido de brincadeira minha própria escala de vestigia com base na quantidade de barulho que Toby fazia ao interagir
com magia residual, e dei a ela o nome de yap, sendo um yap uma quantidade de vestigia suficiente para ser aparente mesmo quando eu não estava procurando por ela.
O yap seria uma unidade do Sistema Internacional (SI), é claro, por isso o ambiente padrão de um pub no centro de Londres era de 0,2 yap (0,2Y) ou 200 miliyaps (200mY).
Satisfeito com esse padrão que estabeleci, terminei minha cerveja e desci ao porão, onde ficava o jazz.
Uma escada barulhenta descia até o Backstage Bar, que era uma sala octogonal com telhado baixo e colunas cor de creme que deviam ser de sustentação, porque não contribuíam
em nada para o visual. Enquanto estava na porta tentando sentir alguma energia mágica, percebi que minha infância ia interferir na investigação.
Em 1986, Courtney Pine lançou o disco Journey to the Urge Within, e de repente o jazz voltou à moda, e com ele vimos o terceiro e último momento de fama e fortuna
de meu pai. Eu nunca fui aos shows, mas, nas férias escolares, ele costumava me levar nas visitas às boates e aos estúdios de gravação. Algumas coisas permanecem
antes mesmo da memória consciente – cerveja velha, fumaça de cigarro, o som que um trompete faz quando o músico está se aquecendo. Poderia haver 200 kiloyaps de
vestigia naquele porão, e eu não seria capaz de separá-los das minhas lembranças.
Devia ter levado Toby. Ele seria mais útil. Aproximei-me do palco na esperança de que isso pudesse me ajudar.
Meu pai sempre disse que um trompetista gosta de mirar sua arma para a plateia, mas um saxofonista prefere um bom perfil, e eles têm sempre um lado favorito. Ainda
segundo meu pai, você não deve nem pegar um instrumento de sopro, a menos que se envaideça com a forma que seu rosto vai ter quando estiver tocando. Subi no palco
e imitei algumas posições clássicas de um saxofonista, e foi então que comecei a sentir alguma coisa, à frente e à direita do palco, um leve formigamento e a linha
melódica de “Body and Soul” tocada ao longe, penetrante e melancólica.
– Peguei você – disse.
Como tudo que eu tinha era o eco mágico de uma música em especial, decidi que era hora de descobrir exatamente qual das várias centenas de versões de “Body and Soul”
era aquela. Precisava de um especialista, alguém tão obcecado que tenha sido consumido pelo assunto a ponto de negligenciar a saúde, o casamento e os filhos.
Era hora de ir ver meu velho.
Por mais que eu ame o Jaguar, ele chama muita atenção para ser usado no meu trabalho diário de policial. Então, naquele dia, eu dirigia um velho Ford Asbo que já
havia pertencido à frota da Polícia Metropolitana e, apesar de todo meu esforço, cheirava vagamente a cachorro molhado e comida velha. Eu o escondi em Romilly Street,
com meu talismã mágico de policial em serviço preso à janela para manter afastados os guardas de trânsito. Eu havia levado o Asbo para um amigo que incrementara
seu motor Volvo e aumentara a potência, o que era útil para quem precisava desviar dos ônibus em Tottenham Court Road a caminho de Kentish Town, no norte.
Todos os londrinos têm seu feudo – uma coleção de fragmentos da cidade onde se sentem confortáveis. Onde você mora, ou onde cursou a faculdade; onde trabalha ou
pratica esportes; aquela área específica de West End onde você vai beber ou, se é da polícia, a área que patrulha. Se você nasceu em Londres (e, ao contrário do
que tem ouvido, nós somos a maioria), a porção mais forte do seu feudo é onde você cresceu. Há uma espécie particular de segurança proveniente de estar nas ruas
que você percorreu para ir à escola, onde deu seu primeiro beijo, onde bebeu pela primeira vez, ou onde vomitou seu primeiro vindaloo de frango. Eu cresci em Kentish
Town, um bairro que seria considerado arborizado e suburbano, se tivesse mais árvores e fosse mais... suburbano. E se tivesse menos propriedades do conselho. Uma
delas é a Peckwater Estate, meu lugar ancestral, construído em um tempo quando os arquitetos começavam a pensar que a prole poderia apreciar encanamento interno
e um ou outro banho, mas antes de eles perceberem que essa mesma prole poderia querer ter mais de um filho por família. Talvez acreditassem que três dormitórios
só serviriam para incentivar a natalidade na classe trabalhadora.
Uma vantagem do lugar era o quintal transformado em estacionamento. Lá encontrei uma vaga entre um Toyota Aygo e um velho e surrado Mercedes com uma lateral diferente
do resto do carro. Estacionei, desci do automóvel, acionei a trava elétrica e me afastei, seguro de que, por me conhecerem, ninguém ia mexer no meu carro. É isso
que significa estar no seu feudo. Mas, para ser honesto, desconfio de que os contraventores da área tivessem mais medo da minha mãe do que de mim – o pior que eu
podia fazer era prendê-los.
Era estranho, mas ouvi música quando abri a porta do apartamento de meu pai: “The Way You Look Tonight” tocada em um teclado no quarto principal. Minha mãe estava
deitada no sofá bom da sala de estar. De olhos fechados, ele ainda vestia as roupas de trabalho – jeans, moletom cinza, lenço estampado na cabeça. Fiquei chocado
ao constatar que o som estava desligado. A televisão também. A TV da casa dos meus pais nunca ficava desligada, nem mesmo nos funerais. Especialmente nos funerais.
– Mãe?
Sem abrir os olhos, ela levou o dedo aos lábios e depois apontou para o quarto.
– É o papai? – perguntei.
Os lábios de minha mãe se encurvaram em um sorriso lento, glorioso, um sorriso que eu só conhecia de fotos antigas. O terceiro e último renascimento de meu pai na
música havia acontecido no início da década de 1990, e acabara quando ele havia soprado os dentes pouco antes de uma apresentação ao vivo no BBC 2, e depois disso
não ouvi minha mãe falar mais do que duas palavras com meu pai por um ano e meio. Acho que ela tomou a situação como uma ofensa pessoal. A única vez em que a vi
mais aborrecida foi no funeral da princesa Diana, mas acho que ela gostou daquilo, de certa forma, de um jeito catártico.
A música prosseguia, emocionada e penetrante. Lembro-me de minha mãe, inspirada por muitas reprises do filme Buena Vista Social Club, comprando um teclado para meu
pai, mas não me lembro de ele aprendendo a tocar.
Fui até a pequena cozinha e preparei chá para nós enquanto a música soava. Ouvi minha mãe mudar de posição no sofá e suspirar. Não gosto tanto assim de jazz, mas
passei boa parte da infância como encarregado dos vinis de meu pai, escolhendo discos em sua coleção e levando-os à vitrola quando ele não estava bem, por isso sei
reconhecer uma boa música quando a escuto. Meu pai estava tocando música boa, “All Blues”, mas não fazia nada de especial com ela, apenas deixava transparecer e
brilhar a beleza melancólica. Voltei à sala e deixei a xícara de chá de minha mãe sobre a mesa lateral de imitação de carvalho, depois me sentei para vê-la ouvir
meu pai tocar.
A música não durou para sempre, não durou nem o suficiente. Como poderia? Ouvimos papai desafinar e parar de repente. Mamãe suspirou e sentou-se.
– O que faz aqui? – perguntou ela.
– Vim ver o papai – falei.
– Muito bem. – Ela bebeu um gole do chá. – Está frio – disse, e empurrou a xícara em minha direção. – Faça outro para mim.
Meu pai apareceu enquanto eu estava na cozinha. Ouvi quando ele cumprimentou minha mãe, depois escutei um barulho estranho de sucção que, percebi assustado, era
o ruído dos dois se beijando. Quase derrubei o chá.
– Pare com isso – ouvi minha mãe cochichar. – Peter está aqui.
Meu pai apareceu na porta da cozinha.
– Isso não pode ser coisa boa – falou ele. – Alguma chance de ter uma xícara para mim, também?
Mostrei a ele que já estava preparando mais uma xícara de chá.
– Impressionante.
Quando servi o chá, papai me perguntou qual era o motivo da visita. Eles tinham motivos para estarem um pouco cautelosos, porque na última vez em que apareci inesperadamente
eu havia incendiado Covent Garden Market – ou mais ou menos isso.
– Preciso da sua ajuda para entender uma coisa relacionada ao jazz – respondi.
Meu pai sorriu satisfeito.
– Venha ao meu consultório – convidou. – O doutor jazz vai recebê-lo agora.
Se a sala de estar era domínio de minha mãe e sua família, o quarto principal pertencia a meu pai e sua coleção de discos. Diz a lenda familiar que as paredes um
dia foram pintadas de marrom claro, mas agora cada centímetro havia sido dominado pelas prateleiras de pinho e aço de meu pai. Cada prateleira estava cheia de discos
de vinil, todos cuidadosamente arranjados em fileiras verticais longe da luz do sol. Desde que me mudei de lá, o enorme guarda-roupa de minha mãe migrou para o meu
antigo quarto acompanhado por sua vasta coleção de sapatos. O novo arranjo deixava espaço suficiente para a cama queen size, um teclado elétrico grande e o aparelho
de som de meu pai.
Contei a ele o que estava procurando, e meu pai pegou vários discos. Começamos, como eu sabia que seria, com a famosa versão de Coleman Hawkins em Bluebird, de 1938.
Foi perda de tempo, é claro, porque Hawkins nem conseguiu se aproximar da melodia real. Mas deixei meu pai apreciar a música até o fim antes de fazer esse comentário.
– Era antiga, pai. A que eu ouvi. Tinha uma melodia correta e tudo mais.
Meu pai resmungou alguma coisa e examinou o conteúdo de uma caixa de papelão cheia de 78s. De lá, ele retirou uma capa marrom simples reparada em três lados com
fita adesiva. Era o Benny Goodman Trio em goma-laca, com um selo preto e dourado da Victor. Papai tem uma vitrola Garrard com seletor de rotação 78, mas é preciso
trocar o cartucho antes, e eu tirei com todo cuidado o Ortofon e fui procurar o Stanton. Ainda era guardado onde eu lembrava, no único espaço vazio da estante atrás
do aparelho de som, deitado para proteger a agulha. Enquanto eu manuseava a pequena chave de fenda e encaixava o cartucho, papai tirou o disco da capa com todo cuidado
e o inspecionou com um sorriso satisfeito. Depois me entregou o disco. Era pesado como todos os 78s, muito mais pesado que um LP – e alguém que tenha crescido ouvindo
apenas CDs nem saberia o que fazer com ele. Segurei o disco entre as palmas das mãos e o coloquei sobre o prato da vitrola.
Ele chiou e estalou assim que a agulha tocou o sulco, e eu ouvi Goodman fazer sua introdução de clarineta, depois Teddy Wilson e seu solo de piano, e Benny de novo
com a clarineta. Felizmente, Krupa era discreto na bateria. Essa melodia era muito mais próxima da que o pobre e finado Sr. Wilkinson tocava.
– Alguma coisa mais recente – pedi.
– Não vai ser difícil – meu pai respondeu. – Essa versão foi gravada apenas cinco anos depois da composição.
Ouvimos mais alguns 78s, inclusive uma versão de Billie Holiday de 1940, que deixamos tocar porque “Lady Day” é uma das poucas coisas que meu pai e eu temos realmente
em comum. É bonita e triste, e me ajudou a perceber o que até então eu não via.
– Tem que ser mais animado – falei. – Era um combo maior, com mais swing.
– Swing? – repetiu meu pai. – Estamos falando de “Body and Soul”, essa música nunca teve swing que chamasse atenção.
– Pai, por favor, alguém deve ter feito uma versão mais cadenciada, nem que tenha sido só para os brancos.
– Pare com isso, seu idiota arrogante – papai me censurou. – Mas acho que sei o que pode estar procurando. – Ele enfiou a mão no bolso da calça e pegou um retângulo
de plástico e vidro.
– Você tem um iPhone – me espantei.
– Na verdade é um iPod Touch. O som não é ruim – disse o homem que preferia um amplificador Quad de cinquenta anos porque era um aparelho que tinha válvulas, não
transistores. Ele me ofereceu o fone de ouvido e deslizou o dedo pela tela como se houvesse usado esse tipo de controle a vida toda. – Escute – falou.
Lá estava, digitalmente remasterizado, mas ainda com chiados e estalos suficientes para manter contentes os puristas: a melodia clara de “Body and Soul” com swing
suficiente para torná-la dançável. Se não era essa a versão que eu havia escutado no corpo, definitivamente era outra tocada pela mesma banda.
– Quem é?
– Ken Johnson – disse meu pai. – O Velho Snakehips em pessoa. É uma faixa do Blitzkrieg Babies and Bands, diretamente da goma-laca. Os créditos afirmam que é “Jiver”
Hutchinson no trompete. Mas é evidente que é Dave Wilkins, porque a movimentação dos dedos é diferente.
– Quando foi gravado?
– O 78 original foi gravado em 1939 nos estúdios Decca em West Hampstead. – Meu pai me olhou interessado. – Isso faz parte de uma investigação? Na última vez que
esteve aqui você ainda não se interessava por coisas estranhas.
Eu não ia morder essa isca.
– Qual é a do teclado?
– Estou revitalizando minha carreira – respondeu ele. – Pretendo ser o próximo Oscar Peterson.
– É mesmo? – A declaração era inesperadamente arrogante, mesmo para meu pai.
– Sim – ele confirmou, e contornou a cama para se aproximar do teclado. Papai tocou algumas notas de “Body and Soul”, afirmando a melodia antes de acrescentar intensidade,
depois levando a composição em uma direção que eu nunca fui capaz de seguir ou reconhecer. Ele parecia desapontado com minha reação. Papai nunca perde a esperança
de que um dia eu desenvolva esse talento. Por outro lado, papai tinha um iPod, então... quem sabe o que pode acontecer?
– O que aconteceu com Ken Johnson?
– Foi morto na Blitz – respondeu meu pai. – Como Al Bowlly e Lorna Savage. Ted Heath me contou que às vezes eles pensavam que Göring escolhia os homens do jazz.
Disse que, durante a guerra, ele se sentia mais seguro em turnês pelo norte da África do que em concertos em Londres.
Eu duvidava de que estivesse procurando o espírito vingativo de Reichsmarschall Hermann Göring, mas não custava nada averiguar, só por precaução.
Mamãe nos expulsou do quarto para trocar de roupa. Preparei mais chá, e nós nos sentamos na sala.
– O que eu sei – meu pai falou – é que logo estarei procurando lugares e bandas para tocar.
– Com você nos teclados?
– O que importa é a música. O instrumento é só o instrumento.
E o músico vive para tocar.
Mamãe saiu do quarto com um vestido amarelo sem mangas. Os cabelos, agora livres do lenço, estavam presos em tranças que faziam meu pai sorrir. Quando eu era criança
mamãe costumava fazer relaxamento a cada seis semanas, pontualmente, como um relógio. Na verdade, todo fim de semana eu via alguém – uma tia, uma prima, a vizinha
do fim da rua – sentada na sala e aplicando a substância química do alisamento. Se eu não houvesse conhecido Maggie Porter – cujo pai era um terror e cuja mãe vendia
apólices de seguros de carros –, uma garota que usava os cabelos crespos e frequentava a discoteca Year Ten, eu poderia ter chegado à idade adulta pensando que os
cabelos de uma mulher negra cheiravam naturalmente a hidróxido de potássio. Pessoalmente, sou como meu pai – gosto deles ao natural, ou em tranças, mas a primeira
regra sobre o cabelo de uma mulher negra é que você não fala sobre o cabelo de uma mulher negra. E a segunda regra é que você nunca toca no cabelo de uma mulher
negra sem antes obter permissão escrita. E isso inclui depois do sexo, do casamento ou da morte. É claro, essa cortesia não é retribuída.
– Precisa cortar o cabelo – minha mãe comentou. E cortar o cabelo, para ela, significava passar a máquina, cortar curto o bastante para bronzear a cabeça. Prometi
a ela que cuidaria disso, e mamãe foi para a cozinha preparar o jantar.
– Era uma guerra – meu pai falava. – Sua avó foi evacuada antes de eu nascer, por isso em minha certidão consta Cardiff. Felizmente para você, ela nos levou de volta
a Stepney antes do fim da guerra.
Ou poderíamos ter sido galeses, o que, na opinião de meu pai, era pior que ser escocês.
Ele disse que, para quem crescia em Londres no fim da década de 1940, era como se a guerra ainda continuasse na cabeça das pessoas com todos aqueles locais bombardeados,
o racionamento e as vozes condescendentes da rádio BBC.
– Sem o barulho dos explosivos, é claro – papai continuou. – Naqueles dias as pessoas ainda falavam sobre Bowlly ter morrido no bombardeio em Jermyn Street, ou sobre
o avião de Glenn Miller ter desaparecido em 1944. Sabia que ele era major da Força Aérea americana? Até hoje seu nome ainda está na lista dos Desaparecidos em Ação.
Mas ser jovem e talentoso na década de 1950 era viver à beira da mudança.
– A primeira vez que ouvi “Body and Soul” foi no Flamingo Club – disse meu pai. – Ronnie Scott estava tocando, e naquela época ele estava se tornando Ronnie Scott.
O Flamingo Club no fim da década de 1950 era um ímã para soldados negros da Força Área de Lakenheath e outras bases americanas.
– Eles queriam nossas mulheres – contou papai –, e nós queríamos seus discos. Eles sempre tinham discos. Era um arranjo perfeito.
Mamãe chegou com o jantar. Sempre fomos uma família de duas receitas, uma para a mamãe, outra bem menos temperada para meu pai. Ele também gosta de fatias de pão
branco com margarina no lugar do arroz, o que seria pedir para ter problemas cardíacos, se ele não fosse magro como uma vassoura. Eu havia crescido com as duas receitas,
com o arroz e o pão branco, o que explica minha boa aparência e meu físico másculo.
Esta noite mamãe comia folha de mandioca, enquanto meu pai saboreava uma caçarola de cordeiro. Escolhi o cordeiro porque nunca gostei de folha de mandioca, especialmente
quando mamãe faz a preparação com óleo de palma. Ela usa tanta pimenta que sua sopa fica vermelha, e juro que é só uma questão de tempo até um de seus convidados
entrar em combustão espontânea no meio do jantar.
Comemos na grande mesa de centro com tampo de vidro na sala de estar, com uma garrafa plástica de água mineral no meio. Havia guardanapos de papel cor-de-rosa e
palitos de pão em embalagens de celofane, lembrança do último trabalho de faxina de minha mãe. Cortei uma fatia de pão para meu pai.
Enquanto comíamos, notei que minha mãe olhava para mim.
– O que é? – perguntei.
– Por que não pode tocar como seu pai? – ela disse.
– Porque sei cantar como minha mãe – respondi. – Mas, felizmente, também cozinho como Jamie Oliver.
Ela me deu um tapa na perna.
– Não é tão grande que não possa apanhar de mim – disse.
– É, mas sou mais rápido do que era no passado – respondi.
Não lembro a última vez em que me sentei com meu pai e minha mãe para fazer uma refeição, não sem meia dúzia de parentes presentes. Não sei nem se essas reuniões
aconteciam com frequência quando eu era criança. Havia sempre uma tia, um tio ou um diabólico primo mais novo ladrão de Lego – não que eu tenha ressentimentos –
em nossa casa.
Quando falei sobre isso com minha mãe, ela me contou que aquele primo que roubava Lego havia começado recentemente o curso de engenharia em Sussex. Ótimo, pensei,
agora ele pode pegar os Legos de outra pessoa. Lembrei a ela que eu era um oficial e trabalhava para um braço muito movimentado da Polícia Metropolitana.
– O que faz lá? – ela quis saber.
– É sigiloso, mãe. Se eu contar, vou ter que matar você.
– Ele faz magia – disse meu pai.
– Você não devia guardar segredos da sua mãe – mamãe me censurou.
– Não acredita em magia, não é?
– Não devia brincar com essas coisas – ela me censurou novamente. – A ciência não tem todas as respostas.
– Mas tem as melhores perguntas – apontei.
– Não está se metendo com bruxaria, está? – De repente ela ficou séria. – Já me preocupo o suficiente com você sem isso.
– Garanto que não estou me associando a nenhum espírito do mal, nem a nenhum outro tipo de entidade sobrenatural – falei. E era verdade, porque a criatura sobrenatural
com quem eu mais gostaria de me associar vivia atualmente em exílio rio acima, na corte de Pai Thames. Era um desses relacionamentos trágicos: eu sou um policial
júnior, ela é a deusa de um rio em um bairro no sul de Londres. Nunca iria dar certo.
Quando terminamos a refeição, eu me ofereci para lavar a louça. Enquanto usava meio litro de detergente para tentar remover todos os vestígios de óleo de palma,
ouvia a conversa de meus pais na sala. A TV continuava desligada, e mamãe não falava com ninguém pelo telefone há mais e três horas. Isso começava a ficar meio Fringe.
Terminei de lavar a louça e fui para a sala, onde os encontrei sentados lado a lado no sofá, de mãos dadas. Perguntei se queriam mais chá. Eles disseram que não
e me olharam com o mesmo sorriso estranho e meio distante. Percebi, assustado, que meus pais estavam ansiosos para eu ir embora, porque queriam ir para a cama. Peguei
meu casaco, me despedi de minha mãe com um beijo e praticamente saí correndo. Existem algumas coisas sobre as quais um homem não quer pensar.
Eu estava no elevador quando recebi um telefonema do Dr. Walid.
– Ainda não viu meu e-mail? – perguntou ele.
Expliquei que estava saindo da casa de meus pais.
– Estive analisando dados estatísticos sobre os índices de mortalidade entre músicos de jazz na área de Londres – ele contou. – Vai gostar de dar uma olhada nisso
assim que puder. E telefone para mim amanhã, depois de ver o e-mail.
– Tem alguma coisa que eu deva saber agora?
As portas do elevador se abriram e eu saí para o saguão de ladrilhos. A noite era quente o bastante para haver alguns jovens reunidos na calçada. Um deles tentou
me encarar, mas eu retribuí e o fiz desviar o olhar. Como eu disse, esse é o meu feudo. Além do mais, já fui aquele garoto.
– Pelos números que obtive, creio que dois ou três músicos de jazz morreram em até 24 horas depois de se apresentarem na área da Grande Londres no último ano.
– E suponho que isso é estatisticamente significativo?
– Expliquei tudo no e-mail – disse o Dr. Walid.
Ele desligou quando eu estava chegando no Asbo.
Para a caverna tecnológica, pensei.
A Folly, de acordo com Nightingale, é defendida por uma série de proteções mágicas entrelaçadas. Elas foram renovadas pela última vez em 1940, para permitir que
o Correio instalasse um então moderno cabo de telefone coaxial no edifício principal e para colaborar com a instalação de um também moderno painel de comandos. Eu
o havia encontrado embaixo de uma camada de poeira em uma alcova ao lado do saguão da entrada principal, um belo armário de mogno e vidro com puxadores de bronze
mantidos brilhantes graças à necessidade obsessiva de polir de Molly.
Nightingale diz que essas proteções são vitais, embora ele não explique por que, e que ele, agindo sozinho, não é capaz de renová-las. Levar um cabo de banda larga
para o interior do edifício estava fora de questão, e tudo indicava que, por um tempo, eu estaria ancorado na Idade Média.
Felizmente, a Folly havia sido construída no estilo da Regência, quando era moda construir estábulos separados no fundo de uma casa grande, de forma que cavalos
e empregados mais malcheirosos pudessem ser acomodados a favor do vento em relação a seus senhores. Isso significava que havia um edifício no fundo, agora usado
como garagem, e, sobre ela, um sótão reformado que no passado acomodara os criados, e depois servira como espaço de festas para os jovens, em um tempo em que a Folly
tinha jovens. Mais que um, pelo menos. As “proteções” mágicas – Nightingale não gostava quando eu as chamava de “campos de força” – assustavam os cavalos, por isso
não eram estendidas até a área onde antes era o estábulo e agora ficava a garagem. O que significa que posso puxar um cabo de banda larga, e pelo menos um canto
da Folly estará para sempre inserido no século XXI.
O sótão sobre a garagem tem uma claraboia em uma extremidade, uma otomana, uma chaise longue, uma TV de plasma e uma mesa de cozinha Ikea que Molly e eu levamos
três horas para montar. Eu havia usado o status da Folly como Unidade de Comando Operacional para fazer o Diretório de Informações cuspir meia dúzia de rádios Airwave
com rack de recarga, e um terminal HOLMES 21 dedicado. Também tenho meu laptop, meu laptop de back-up e meu PlayStation – que ainda nem consegui tirar da caixa.
Por causa disso, há uma grande placa na porta da frente com o aviso: Magia proibida sob pena de pena. Isso é o que chamo de caverna tecnológica.
A primeira coisa que recebi ao ligar o computador foi um e-mail de Leslie com o título “Tédio!”, então mandei para ela o relatório da autópsia feita pelo Dr. Walid
para mantê-la ocupada. Depois abri o SCP Xpress (Sistema de Computadores da Polícia) e fiz uma varredura no Índice para encontrar informações sobre o carro de Melinda
Abbot, e descobri que a informação relacionada batia com a que estava em sua carteira de motorista. Fiz a mesma coisa com Simone Fitzwilliam, mas, evidentemente,
ela não havia tirado carteira, nem tinha carro. Nem havia cometido, sido vítima ou registrado queixa de algum crime dentro do Reino Unido. Ou, possivelmente, toda
essa informação havia se perdido, fora introduzida de maneira incorreta no banco de dados, ou ela mudara de nome recentemente. Tecnologia da informação só vai até
certo ponto, e é por isso que os policiais ainda saem por aí batendo em portas e escrevendo coisas em bloquinhos pretos. Por precaução, joguei o nome das duas no
Google. Melinda Abbot tinha uma página no Facebook, e havia algumas pessoas com o mesmo nome, mas Simone Fitzwilliam não estava presente na internet. Não havia nenhum
sinal dela.
Estudei a lista que o Dr. Walid havia feito de músicos de jazz mortos – todos homens, notei – e a submeti ao mesmo tratamento. O pessoal da televisão está sempre
cruzando referências, e é tudo perfeitamente possível, mas o que eles nunca mostram é como isso demora. Era quase meia-noite quando cheguei ao fim da lista, e eu
ainda não sabia bem o que estava procurando.
Peguei uma Red Stripe na geladeira, abri a lata e bebi um gole.
Fato número um: em cada um dos últimos cinco anos, dois ou três músicos de jazz morreram até 24 horas depois de terem se apresentado na Área da Grande Londres. Em
todos os casos, o perito havia decidido que a morte havia sido “acidental”, decorrente de abuso de substâncias ou por “causas naturais” – principalmente ataques
cardíacos, com dois aneurismas no meio para variar um pouco.
O Dr. Walid havia incluído um arquivo suplementar relacionando todos os músicos – definidos como aqueles que haviam declarado a profissão de músico – entre 18 e
54 anos de idade e mortos no mesmo período. Fato número dois: embora outros músicos londrinos morram de “causas naturais” com frequência deprimente, nada indica
que morram regularmente depois de concertos, como os músicos de jazz.
Fato número três: Cyrus Wilkinson havia se declarado contador, não músico. Você nunca se declara freelancer ou artista, a menos que queira um cartão de crédito com
um limite ridículo. E isso leva ao fato número quatro: minha análise estatística foi bem imprestável.
Porém, três músicos de jazz morriam por ano – eu não acreditava em coincidência.
Mas Nightingale não se impressionaria com nada tão fugaz. E ainda ia querer que eu aperfeiçoasse Scindere, começando a partir de amanhã de manhã. Desliguei tudo,
inclusive das tomadas. É bom para o ambiente e, mais importante, impede que meu equipamento caríssimo seja frito aleatoriamente por uma descarga de magia.
Entrei pela cozinha. A lua minguante iluminava o átrio pela claraboia, por isso deixei as luzes apagadas quando subi a escada para o meu quarto. Na varanda da frente,
vi uma silhueta pálida deslizando silenciosamente entre as sombras compactas da sala de leitura a oeste. Era Molly fazendo de um jeito agitado o que fazia de um
jeito agitado todas as noites. Quando cheguei ao meu andar, o cheiro de mofo do tapete me disse que Toby havia adormecido outra vez encostado à minha porta. O cãozinho
estava deitado de costas, as costelas finas subindo e descendo sob seu pelo. Ele farejou e esperneou sem acordar, as patas traseiras se movendo no ar, indicando
pelo menos 500 miliyaps de magia. Entrei no quarto e fechei a porta com cuidado para não acordá-lo.
Deitei na cama e, antes de apagar o abajur, mandei uma mensagem para Lesley. Que droga fazemos agora?
Na manhã seguinte recebi a resposta: Falar com a banda – idiota!
1 HOLMES 2 (Home Office Large Major Enquiry System) é um sistema de tecnologia da informação utilizado principalmente pela polícia do Reino Unido para investigação
de casos muito graves, como assassinatos em série e fraudes multimilionárias. (N. da E.)
3
Um grande gole de Blues
Não foi difícil encontrar a banda. O The Spice of Life tinha as informações de contato, e todos aceitaram me encontrar no French House em Dean Street, mas tinha
que ser à noite, porque todos tinham emprego e estavam ocupados durante o dia. Isso era conveniente para mim, porque eu ainda estava correndo atrás do meu vocabulário
em latim. Cheguei ao Soho pouco depois das 18h, e encontrei todos esperando por mim, encostados em uma parede enfeitada com fotos de pessoas que haviam sido famosas
na época em que meu pai não era.
The Spice of Life anunciava o grupo O Melhor Quarteto, mas não os achei muito parecidos com músicos de jazz. Baixistas são conhecidos pela estabilidade, mas Max
– na verdade, Derek – Harwood era um cara branco de aparência comum com trinta e poucos anos. Ele até usava um suéter M&S de gola V e estampa de diamantes por baixo
do paletó.
– Já tivemos um Derek na banda antes do último – falou Max. – Por isso adotei Max para evitar confusão. – Ele bebeu um gole de cerveja. Eu havia pedido a primeira
rodada e me sentia meio explorado. Max era especialista em sistemas integrados na London Underground – aparentemente, trabalhava com alguma coisa relacionada a sistemas
de sinalização.
O pianista, Daniel Hossack, havia estudado os clássicos e era professor de música na Westminster School para alunos terminantemente privilegiados. Tinha entradas
acentuadas nos cabelos claros, usava óculos redondos e tinha aquele tipo de bondade sensível que, provavelmente, o tornava presa fácil para os alunos mais espertos.
– Como se conheceram? – perguntei.
– Acho que não nos conhecemos como está imaginando – disse James Lochrane, o baterista. Ele era baixinho, escocês, beligerante, e lecionava história francesa do
século XVII na faculdade Queen Mary. – Seria mais correto dizer que nos juntamos há cerca de dois anos...
– Quase três – disse Max. – Foi no Selkirk Pub. Eles tocavam jazz nas tardes de domingo. Cy mora lá, então, para ele é como estar em casa.
Daniel batia com os dedos no copo de um jeito nervoso.
– Estávamos todos lá vendo aquela banda horrível que tocava... – Seu olhar se perdeu na distância, como se ele tentasse enxergar a última década. – Não consigo lembrar
o que era.
– “Body and Soul”? – perguntei.
– Não – respondeu James. – Era Saint Thomas.
– E eles estavam assassinando a música – acrescentou Daniel. – E Cy falou em alto e bom som para todo mundo ouvir, inclusive a banda: “Aposto que qualquer um de
nós pode tocar melhor que isso.”
– E não parou por aí – comentou Max. Os três sorriram como se recordassem uma transgressão. – Pouco tempo depois estávamos dividindo uma mesa, pedindo mais rodadas
e falando sobre jazz.
– Como eu disse – lembrou James –, nós nos juntamos.
– Daí o nome da banda – explicou Daniel. – O Melhor Quarteto.
–Vocês eram os melhores? – perguntei.
– Não muito – reconheceu Max.
– Na verdade, éramos piores – Daniel confessou.
– Mas melhoramos – Max insistiu rindo. – Ensaiamos na casa de Cy.
– Ensaiamos muito – acrescentou Daniel, e esvaziou o copo. – Muito bem, quem quer o quê?
O French House não serve bebida em jarras, por isso James e Max dividiram uma garrafa do tinto da casa, e eu pedi uma cerveja. Havia sido um dia longo, e não há
nada como declinações de latim para deixar um homem com sede.
– Duas, talvez três, vezes por semana – disse Max.
– Então, eram ambiciosos? – perguntei.
– Nenhum de nós levava a coisa tão a sério – explicou James. – Não éramos garotos sonhando com o sucesso.
– Mesmo assim, ensaiavam bastante – repeti.
– Ah, queríamos ser músicos melhores – disse James.
– Éramos aspirantes a músicos de jazz – Max acrescentou. – Tocar a música por tocar a música, entende?
Respondi movendo a cabeça afirmativamente.
– Acha que ele atravessou o rio para ir buscar as bebidas? – perguntou James.
Olhamos para o bar. Daniel acenava no meio da multidão, a mão erguida com uma otimista nota de vinte entre os dedos. Numa noite de sexta no Soho, atravessar o rio
poderia ser mais rápido.
– Cyrus levava a coisa a sério? – perguntei.
– Não mais do que nós – falou James.
– Mas ele era bom – Max opinou, movendo os dedos como se tocasse um instrumento de sopro. – Ele tinha todo o jeito de saxofonista.
– Daí as mulheres – James disse.
Max suspirou.
– Melinda Abbot? – perguntei.
– Ah, Melinda – suspirou Max.
– Melinda era só a de casa – lembrou James.
– Sally, Viv, Tolene – contou Max.
– Daria – James acrescentou. – Lembra-se de Daria?
– Como eu disse – Max continuou –, toda a energia do saxofone.
Vi Daniel voltando com as bebidas e me levantei para ir ajudá-lo. Ele me olhou com interesse, e deduzi que não compartilhava da inveja de Max e James por causa das
mulheres. Sorri de um jeito politicamente correto e deixei os copos sobre a mesa. Max e James brindaram, e todos nós batemos os copos.
Era evidente que eles haviam esquecido que eu era um policial, o que era útil, então, formulei a questão seguinte com grande cuidado.
– E Melinda não se incomodava?
– Ah, sim, Melinda se importava – disse James. – Mas ela nunca ia aos shows, então...
– Não era fã – acrescentou Daniel.
– Sabe como são as mulheres – James opinou. – Não gostam que você faça coisas que não tenham relação com elas.
– Ela adorava essas coisas New Age, cristais e homeopatia – revelou Max.
– E sempre foi simpática conosco – Daniel contou. – Fazia café para nós quando estávamos ensaiando.
– E biscoitos – Max acrescentou com tom nostálgico.
– As outras garotas ele não levava a sério – disse James. – Não sei nem se transava com elas. Pelo menos até Simone. Aquela foi um problema dos grandes.
Simone foi a primeira mulher a ir à casa de Cyrus para assistir aos ensaios.
– Ela era tão quieta que, depois de um tempo, você esquecia que estava lá – Daniel lembrou.
Melinda Abbot não esquecia que Simone Fitzwilliam estava lá, e eu não a culpava por isso. Tentei imaginar o que aconteceria se meu pai levasse uma mulher para casa
para assistir ao ensaio. A história não teria acabado bem, isso posso dizer. Lágrimas teriam sido apenas o começo da encrenca.
Melinda, que obviamente seguia noções de elegância e etiqueta desconhecidas por minha mãe, ao menos esperava que todos fossem embora antes de, metaforicamente, arregaçar
as mangas e pegar o rolo de macarrão.
– Depois disso, a situação ficou tão complicada que Max deu um jeito de arrumar transporte para Londres – contou James. – Era horrível, mas bem menos estressante.
– Apesar de terrivelmente frio – acrescentou Daniel.
– Então, de repente, voltamos à casa de Cy – James continuou. – Mas não era mais Melinda servindo café e biscoitos, era a linda Simone.
– Quando isso aconteceu?
– Abril, maio, mais ou menos isso – Max respondeu. – Primavera.
– Como Melinda reagiu?
– Não sabemos – falou James. – Não a víamos muito nem quando ela estava por perto.
– Eu a encontrei algumas vezes – Daniel disse.
Os outros olharam para ele.
– Você nunca falou nada – James estranhou.
– Ela telefonou para mim, disse que queria conversar. Estava muito nervosa.
– O que ela disse? – Max quis saber.
– Não gosto de falar sobre isso – Daniel protestou. – Foi uma conversa privada.
E continuou privada. Consegui levar a conversa de volta aos hobbies místicos de Melinda Abbot, mas a banda não prestava muita atenção naquilo. O French House estava
ficando lotado, e apesar da proibição de música ambiente eu precisava gritar para ser ouvido. Sugeri comida.
– A Polícia Metropolitana vai pagar a conta? – perguntou James.
– Acho que podemos incluir no relatório de despesas – concordei – desde que a gente não exagere.
Todos concordaram movendo a cabeça. Claro que concordaram; quando você é músico, gratuidade é uma espécie de palavra mágica.
Fomos ao Wong Kei em Wardour Street, onde a comida é confiável, o serviço é rápido e você consegue mesa às 23h30 de uma sexta-feira – se não se incomodar em dividir.
Mostrei cinco dedos ao cara parado na porta e ele acenou para cima, onde uma jovem de aparência séria e camiseta vermelha nos encaminhou para uma das grandes mesas
redondas.
Dois estudantes americanos, que até então tinham a mesa só para eles, se encolheram quando nos acomodamos.
– Boa noite – disse Daniel. – Não se preocupem, somos perfeitamente inofensivos.
Os dois estudantes vestiam moletons Adidas vermelhos com Mnu Pioneers bordado no peito. Eles assentiram com nervosismo.
– Oi – disse um deles. – Somos do Kansas.
Esperamos que elaborassem, mas nenhum dos dois disse mais nada nos dez minutos que levaram para terminar de comer, pagar a conta e ir embora.
– O que é um MNU, afinal? – perguntou Max.
– Agora ele pergunta – disse James.
A garçonete chegou e começou a servir os pratos. Eu pedi pato com ho fun frito, Daniel e Max dividiram arroz, frango com castanha de caju e porco agridoce, e James
pediu macarrão e carne. A banda pediu mais uma rodada de cerveja Tsingtao, mas eu me contentei com o chá verde gratuito servido em um bule simples de cerâmica branca.
Perguntei aos músicos se eles tocavam frequentemente no The Spice of Life, o que os fez rir.
– Tocamos lá algumas vezes – disse Max. – Normalmente na hora do almoço na segunda-feira.
– Atraem um público grande? – perguntei.
– Estamos chegando lá – James respondeu. – Já nos apresentamos no Bull’s Head, no saguão do National Theatre e no Merlin’s Cave em Chalfont St. Giles.
– Sexta-feira passada foi nossa primeira noite lá – Max revelou.
– E o que veio depois? – perguntei. – Gravação de disco?
– Cyrus teria saído – disse Daniel.
Todos o encararam por um momento.
– Vamos lá, pessoal, todo mundo aqui sabe que isso teria acontecido – ele insistiu. – Teríamos feito mais alguns shows, alguém o teria visto e teria sido “valeu,
caras, a gente se fala”.
– Ele era tão bom assim? – perguntei.
James olhou carrancudo para o macarrão, depois os espetou algumas vezes com os palitinhos numa reação frustrada.
Em seguida ele riu.
– Ele era tão bom assim – disse. – E estava melhorando.
James levantou a garrafa de cerveja para brindar: – A Cyrus, o saxofonista – disse. – Porque o talento vai embora.
Batemos os copos.
– Tenho uma ideia – falou James. – Vamos terminar aqui e sair para procurar um pouco de jazz.
Soho em uma noite quente de verão é animado, cheio de conversas e fumaça de cigarro. Todos os pubs transbordam para a rua, todos os cafés atendem seus clientes em
mesas nas calçadas construídas com largura suficiente para permitir que os pedestres desviem dos excrementos de cavalo. Em Old Compton Street, homens jovens e fortes
vestindo camisetas brancas e justas e jeans apertados admiravam uns aos outros e o próprio reflexo nas vitrines das lojas. Percebi que Daniel olhava para dois rapazes
atraentes na frente da Admiral Duncan, mas eles simplesmente o ignoraram. Era noite de sexta, e depois de todas as horas de malhação eles não iriam para a cama por
menos que uma nota dez.
Um grupo de mulheres jovens com os indispensáveis cabelos longos, tons de areia do deserto e acentos regionais passou por nós – esquadrões femininos a caminho de
Chinatown e das boates em torno de Leicester Square.
Nós subimos a Old Compton Street analisando todos os grupos. James quase tropeçou quando duas garotas brancas passaram sobre saltos altos finos, desfilando em minivestidos
justos de malha pink.
– Essa me pegou – ele disse quando se recuperou.
– Não peguei nem vou pegar – respondeu uma das garotas quando a dupla se afastava. Mas não havia maldade no comentário.
James disse que conhecia um lugar em Bateman Street, uma boate pequena que funcionava em um porão na melhor tradição do lendário Flamingo.
– Ou Ronnie Scott’s – corrigiu ele. – Antes de ser Ronnie Scott’s.
Não fazia muito tempo que eu patrulhava aquelas ruas vestindo um uniforme, e eu tinha a terrível sensação de saber para onde estava indo. Meu pai costumava falar
com romantismo poético sobre uma juventude desperdiçada em enfumaçados bares de porão cheios de suor, música e garotas em roupas justas. Ele dizia que no Flamingo
você precisava escolher um lugar e se preparar para passar a noite nele, porque quando o bar enchia era impossível se mexer. O Mysterioso havia sido projetado como
uma recriação deliberada daqueles dias, e os autores do projeto eram dois rapazes que seriam a quintessência do empreendedor londrino arrojado e independente, se
os dois não fossem de Guildford. Seus nomes eram Don Blackwood e Stanley Gibbs, mas eles se denominavam A Gerência. Havia sido um raro fim de semana em que Lesley
e eu não acabamos numa gritaria na rua.
No entanto, o problema nunca estava dentro da boate, porque A Gerência contratava os seguranças mais durões que conseguia encontrar, vestia-os com ternos elegantes
e dava a eles carta branca para administrar a porta. Eles eram famosos pela arbitrariedade com que exerciam o poder, e mesmo às 23h45 havia uma fila de esperançosos
na calçada.
Sempre houve uma tradição de seriedade arrogante na cena do jazz britânico, e uma espécie de “sim, entendo” com a mão coçando o queixo e blusinhas de gola alta entre
os fãs – minha atual companhia sendo um exemplo claro disso. A julgar pelas pessoas na fila, essa antiga tradição não era o público-alvo da Gerência. Ali havia gente
vestindo Armani, exibindo diamantes e relógios caros, e eu não acreditava que os rapazes da banda e eu seríamos admitidos.
Bem, definitivamente, não os rapazes da banda, pelo menos. E, para ser franco, isso era conveniente para mim, porque apesar da simpatia que já sentia pelos rapazes,
uma noite de jazz semiprofissional nunca havia sido minha ideia de diversão. Se fosse, meu pai teria sido um homem mais feliz.
No entanto, James, na melhor e mais antiga tradição do escocês beligerante, não estava pronto para desistir sem lutar e, ignorando a fila, partiu imediatamente para
a ofensiva.
– Somos músicos de jazz – ele disse ao segurança. – Isso deve valer para alguma coisa.
O segurança, um grandalhão que, eu tinha certeza, havia cumprido pena em Wandsworth por vários crimes acompanhados da palavra “agravante”, parou para pensar.
– Nunca ouvi falar de vocês – ele respondeu depois de um instante.
– Talvez, talvez – disse James. – Mas somos todos parte da mesma comunidade espiritual... não? A mesma irmandade da música. – Atrás dele, Daniel e Max se entreolharam
e recuaram meio metro.
Eu dei um passo adiante para controlar a inevitável violência e, quando me aproximei, ouvi um trecho de “Body and Soul”. O vestigia era sutil, mas no ambiente do
Soho se destacava como uma brisa fresca em uma noite quente. E vinha da boate, não havia dúvida disso.
– É amigo dele? – perguntou o segurança.
Eu poderia mostrar minha credencial, mas depois disso todas as testemunhas úteis costumavam desaparecer na escuridão e criar álibis incrivelmente detalhados.
– Vá dizer a Stan e Don que o filho de Lord Grant está esperando aqui fora – falei.
O segurança estudou meu rosto.
– Conheço você? – perguntou ele.
Não, pensei, mas talvez se lembre de mim de sucessos das noites de sábado, coisas como “quer fazer o favor de soltar esse frequentador, gostaria de prendê-lo” e
“pode parar de chutar o cara, a ambulância chegou”, além do clássico “se não se afastar agora vou prender você também”.
– Filho de Lord Grant – repeti.
Ouvi James cochichar atrás de mim:
– Que diabos ele disse?
Quando meu pai tinha 12 anos, o professor de música deu a ele um trompete usado e pagou suas aulas com dinheiro do próprio bolso. Aos 15 anos ele deixou a escola,
encontrou um emprego como entregador de um restaurante no Soho e passava o tempo livre procurando avidamente por concertos. Quando tinha 18 anos, Ray Charles o ouviu
tocar no Flamingo e disse em voz suficientemente alta para ser ouvido por todos que fossem importantes: “Deus, esse garoto sabe tocar.” Tubby Hayes chamava meu pai
de Lord Grant como piada, e o apelido pegou.
O segurança bateu no fone bluetooth e pediu para falar com Stan, a quem contou o que eu havia dito. Quando obteve uma resposta, eu me impressionei com a forma com
que ele conseguiu manter a expressão inalterada, limitando-se a dar um passo para o lado a fim de nos deixar entrar.
– Você nunca disse que seu pai era Lord Grant – James protestou.
– Não é o tipo de coisa que se encaixa em uma conversa, é?
– Não sei – James respondeu. – Se meu pai fosse uma lenda do jazz, acho que pelo menos mencionaria de vez em quando.
– Não somos dignos – Max falou quando descíamos a escada para a boate.
– Não se esqueçam disso – falei.
Se The Spice of Life era madeira antiga e bronze polido, o Mysterioso era piso de cimento e aquele tipo de papel de parede que as casas de curry arrancaram de suas
paredes no fim da década de 1990. Como anunciado, era um lugar escuro, cheio e supreendentemente enfumaçado. Em sua busca pela autenticidade, A Gerência fazia vista
grossa para a fumaça de tabaco, contrariando o que era previsto no Ato de Saúde (2006). Não só tabaco, aliás, levando em conta o cheiro frutado que pairava sobre
a cabeça dos frequentadores. Meu pai teria adorado aquele lugar, apesar da acústica terrível. Só faltava um Charlie Parker animatronic gritando no canto, e seria
um parque temático perfeito.
James e os rapazes, seguindo a tradição da música em todos os lugares, seguiram diretamente para o bar. Eu os deixei ir e me aproximei da banda que, de acordo com
a frente da bateria, se chamava Funk Mechanics. Fazendo jus ao nome, eles tocavam jazz funk sobre um palco que era quase no nível do chão. Eram dois brancos com
um negro no baixo e um ruivo na bateria com meio quilo de prata presa a várias partes do rosto. Enquanto me aproximava do palco, percebi que eles executavam uma
versão animada de “Get Out of Town”, mas com um ritmo latino completamente espúrio que me enfureceu. O que achei estranho.
Havia banquetas estofadas e forradas com veludo vermelho acompanhando a linha das paredes, e as pessoas olhavam para a pista de dança. Garrafas cobriam as mesas,
e rostos pálidos, em sua maioria, mexiam a cabeça no ritmo do Funk Mechanics assassinando um clássico. Havia um casal branco se beijando nas banquetas do fundo.
A mão do homem havia desaparecido sob o vestido da mulher, o contorno dos dedos obscenamente visível através do tecido. A imagem me causou ultraje e repulsa, e foi
então que percebi que essas emoções não tinham nada a ver comigo.
Havia presenciado coisas muito piores em minhas viagens, e até gosto de jazz funk. Devia ter atravessado uma lacuna, um ponto de acúmulo de resíduo mágico. Eu estava
certo: tinha alguma coisa ali.
Lesley sempre reclamava de que eu me distraía com muita facilidade para ser um bom policial, mas ela teria passado direto pela lacuna sem dar a menor atenção em
nada ali.
James e os rapazes se aproximaram de mim com uma garrafa de cerveja. Bebi um gole e descobri que era boa. Examinei o rótulo e constatei que era uma garrafa cara
de Schneider-Weisse. Olhei para o grupo, e cada um tinha uma garrafa.
– Foi por conta da casa – Max gritou animado demais.
Senti que James queria falar sobre meu pai, mas, por sorte, o lugar era barulhento e cheio demais para ele começar uma conversa.
– Então, esse é o estilo moderno – gritou Daniel.
– Ouvi dizer que sim – James também gritou.
Então senti o vestigia frio e distante em meio ao calor dos corpos dançantes. Percebi que era diferente do resíduo de magia que se prendera ao corpo de Cyrus Wilkinson.
Isso era mais fresco, mais intenso, e por trás do solo havia uma voz feminina cantando – My heart is sad and lonely. De novo o cheiro de poeira e madeira quebrada
e queimada.
E mais alguma coisa – o vestigia que se prendera a Cyrus se manifestara como um saxofone, mas o que eu ouvia agora era um trombone, sem dúvida nenhuma. Meu pai era
sempre seletivo com relação ao trombone. Dizia que ficava bom em uma seção de metais, mas que era possível contar nos dedos de um pé o número de solistas de trombone
decentes. Era um instrumento difícil de levar a sério, mas até meu pai reconhecia que um homem capaz de fazer um solo com esse instrumento tinha que ser alguma coisa
especial. Ele então falava sobre Kai Winding, ou J. J. Johnson. Mas no palco havia trompete, baixo elétrico e bateria. Nenhum trombone.
Eu tinha a horrível sensação de que havia sorteado dois bilhetes premiados.
Deixei o vestigia me conduzir no meio das pessoas. Havia uma porta à esquerda do palco, meio escondida atrás da pilha de caixas de som e com um aviso escrito Apenas
funcionários, com tinta amarela sobre fundo preto. Só quando me aproximei da porta percebi que os rapazes da banda me seguiam como ovelhas perdidas. Disse a eles
para esperarem do lado de fora, então, é claro, eles entraram atrás de mim.
A porta se abria para uma sala verde que era camarim e almoxarifado, um espaço comprido e estreito que mais parecia um depósito de carvão reformado. As paredes eram
cobertas por pôsteres antigos e amarelados de bandas e shows. Uma antiga penteadeira de teatro com uma ferradura de lâmpadas ficava espremida entre uma geladeira
grande e uma mesa sobre cavaletes coberta por uma toalha descartável nas cores do Natal, vermelho e verde. Uma selva de garrafas de cerveja cobria uma mesinha, e
uma mulher branca com trinta e poucos anos dormia em um dos dois sofás de couro verde que ocupavam o resto da sala.
– Então é assim que vive a outra metade – disse Daniel.
– Faz todos aqueles anos de ensaio quase valerem a pena – comentou Max.
A mulher no sofá sentou-se e olhou para nós. Ela vestia um macacão cuja parte superior estava solta na altura na cintura e uma camiseta amarela com Eu disse não,
então fique longe estampado no peito.
– Posso ajudar? – perguntou ela. O batom roxo borrado havia deixado manchas em um lado do rosto.
– Estou procurando a banda – falei.
– E não estamos todos? – ela perguntou quando estendeu a mão. – Meu nome é Peggy.
– A banda? – perguntei, ignorando a mão dela.
Peggy suspirou e girou os ombros, o que destacou seu peito e chamou a atenção de todos – exceto de Daniel, é claro.
– Não está no palco? – perguntou ela.
– A banda que tocou antes deles – expliquei.
– Já foram embora – falou Peggy. – Ah, aquela vadia, ela disse que me acordaria depois da apresentação. Isso é demais.
– Qual é o nome da banda? – perguntei.
Peggy levantou-se do sofá e começou a procurar os sapatos.
– Honestamente, não lembro – disse. – Eles eram a banda da Cherry.
– Tinha um trombonista? – perguntei. – Bom?
Max encontrou os sapatos dela atrás do outro sofá. O salto fino tinha dez centímetros de altura, e a sandália de tiras finas não combinava com o macacão.
– Acho que sim – disse ela. – É o Mickey. Único, um em um milhão.
– Sabe aonde eles iam depois do show?
– Lamento, não, eu só acompanhava o movimento aqui. – Em cima do salto ela era quase tão alta quanto eu. O macacão se abria nas laterais e revelava uma faixa de
pele pálida e uma linha de renda escarlate de uma calcinha de seda. Eu me virei – havia perdido o vestigia ao entrar na sala, e Peggy não era exatamente uma ajuda
para minha concentração. Tive flashes de outra coisa, o cheiro de lavanda, o capô de um carro parado ao sol e um som agudo, como o silêncio que vem depois de muito
barulho.
– Quem é você? – perguntou Peggy.
– Somos a polícia do jazz – disse James.
– Ele é a polícia do jazz – Max falou referindo-se a mim, imagino. – Nós estamos mais para frequentadores irregulares da Old Compton Street.
Isso me fez rir, o que mostra o quanto eu estava bêbado.
– Mickey está encrencado? – Peggy quis saber.
– Só se estiver limpando sua válvula de saliva no ombro de alguém – disse Max.
Eu não tinha mais tempo para brincar. Havia outra porta na sala, e nela uma placa identificando a saída de incêndio, e foi para lá que me encaminhei. Do outro lado
da porta encontrei mais um corredor curto de tijolos cinzentos, uma passagem meio bloqueada por móveis empilhados, caixotes e sacos de plástico preto numa espetacular
contravenção das regras de Saúde e Segurança. Outra porta de incêndio, com barras para empurrar, se abria para uma escada que subia até a rua. As barras da porta
no alto da escada estavam acorrentadas irregularmente com um cadeado de bicicleta.
Nightingale tem um encantamento para arrancar fechaduras e abrir cadeados, mas, aparentemente, ainda falta um ano para eu chegar nessa aula. Tinha que improvisar.
Parei a uma distância segura e joguei uma de minhas malsucedidas bombas de luz contra o cadeado. O que elas não têm de elegância, compensam com ferocidade. Tive
que recuar um passo por causa do calor e, estreitando os olhos, consegui ver a fechadura amolecendo dentro do miolo pequenino. Quando imaginei que a fechadura estava
suficientemente mole, suspendi o feitiço e a trava se soltou do cadeado, estourou como uma bolha de sabão. Então criei em minha cabeça uma boa e básica Impello forma.
Havia sido a segunda forma que aprendi, então, eu sabia que era bom nisso. Impello move as coisas e, nesse caso em especial, moveu a linha central entre as duas
portas. Abriu as duas folhas com um estrondo, quebrando a fechadura e empurrando-as com violência suficiente para arrancar suas dobradiças.
Era impressionante, disse a mim mesmo. E os rapazes que me seguiam certamente concordavam comigo.
– Que diabos foi isso? – perguntou James.
– Goma de mascar de thermite – respondi esperançoso.
O alarme de incêndio disparou na boate. Era hora de seguir em frente. Os rapazes e eu percorremos os cinquenta metros até a Frith Street em tempo de índice olímpico.
Já era tarde o bastante para os turistas terem voltado a seus hotéis, e as ruas eram barulhentas com o movimento de rapazes e moças agitados.
James passou na minha frente e me fez parar de andar.
– Isso tem alguma coisa a ver com a morte de Cy, não tem?
Eu estava cansado demais para discutir.
– Talvez – respondi. – Não sei.
– Alguém fez alguma coisa com Cyrus? – insistiu ele.
– Não sei – falei. – Se houvesse acabado de sair de uma apresentação, para onde iria?
James parecia confuso.
– O quê?
– Me ajude, James. Estou tentando encontrar esse trombonista. Para onde você iria?
– O Potemkin tem alvará para funcionar até tarde – disse Max.
Fazia sentido. Lá havia comida e, mais importante, bebida alcoólica, até 5h da manhã. Desci a Frith Street com os rapazes. Eles queriam saber o que estava acontecendo
– e eu também. James em particular se mostrava perigosamente sagaz.
– Está com medo de que aconteça a mesma coisa com esse trombonista? – perguntou ele.
– Talvez – revelei. – Não sei.
Entramos na Old Compton Street, e assim que vi a luz azul e brilhante da ambulância, soube que era tarde demais. Ela estava parada na frente da GAY, cujas portas
pretas estavam abertas. Considerando a lentidão com que se moviam os paramédicos, a vítima não sofrera ferimentos... ou estava morta. Eu não apostava na ausência
de ferimentos. Um grupo de curiosos acompanhava tudo sob o olhar atento e cansado de dois Oficiais de Apoio à Comunidade e um policial que reconheci do período que
passei em Charing Cross.
– Purdy – gritei, e ele olhou para mim. – O que aconteceu?
Purdy aproximou-se com um andar arrastado. Quando você tem que carregar um colete à prova de balas, cinturão com equipamento, cassetete prolongável, capacete, protetor
de ombros, rádio, algemas, spray de pimenta, notebook e barras de chocolate para emergências, não tem outro jeito de andar. Phillip Purdy era conhecido por ser um
“portador de uniforme”: um policial que não é bom para nada além de usar um uniforme. Mas era melhor assim – eu não queria eficiência. Policiais eficientes fazem
perguntas demais.
– A ambulância veio remover o corpo – informou Purdy. – O cara caiu morto no meio da rua.
– Posso dar uma olhada? – perguntei. Não custa ser educado.
– Está trabalhando?
– Não saberei até dar uma olhada.
Purdy resmungou alguma coisa e me deixou passar.
Os paramédicos estavam levantando o corpo para colocá-lo na maca sobre rodas. O homem era mais jovem que eu, tinha pele escura e traços africanos – da Nigéria ou
de Gana, imaginei, ou, mais provavelmente, filho de pais naturais de um desses países. Ele se vestia bem: calça cáqui, paletó feito sob medida. Os paramédicos haviam
rasgado a camisa branca de algodão, aparentemente cara, para usar o desfibrilador. Os olhos dele estavam abertos. Se ele estivesse tocando “Body and Soul” um pouco
mais alto, eu poderia ter isolado a rua com cordas e vendido ingressos.
Perguntei aos paramédicos qual havia sido a causa da morte, mas eles deram de ombros e falaram em falência cardíaca.
– Ele está morto? – ouvi Max perguntar atrás de mim.
– Não, está só tirando um cochilo – James disparou.
Perguntei a Purdy se o homem tinha documentos que o identificassem, e ele mostrou um saco plástico lacrado com uma carteira dentro.
– Vai se responsabilizar por isto? – ele indagou.
Assenti, peguei o saco plástico e assinei a papelada com todo cuidado, garantindo a integridade das evidências para o caso de futuros procedimentos legais. Só depois
guardei tudo no bolso da calça.
– Havia alguém com ele?
Purdy balançou a cabeça.
– Ninguém que eu tenha visto.
– Quem chamou a emergência?
– Não sei – respondeu Purdy. – Alguém com um celular, provavelmente.
São oficiais como Purdy que dão à Polícia Metropolitana a cintilante reputação de serviço ao consumidor que faz de nós a inveja do mundo civilizado.
Quando levaram a maca para a ambulância, ouvi Max vomitar.
Purdy olhou para Max com o interesse de um policial diante de um longo plantão de sábado à noite, alguém que podia tranquilamente jogar um bêbado desordeiro dentro
da cela e deixá-lo lá por pelo menos algumas horas. A papelada seria preenchida na cantina com uma xícara de café e um sanduíche – porque essa fita vermelha burocrática
é o que mantém os bons policiais longe das linhas de frente onde acontece a ação! Decepcionei Purdy avisando que cuidaria disso.
Os paramédicos avisaram que estavam partindo, mas eu os fiz esperar. Não queria correr o risco de perder o corpo antes de o Dr. Walid ter uma chance de examiná-lo,
mas precisava saber se a vítima estivera tocando no Mysterioso. Dos rapazes da banda, Daniel era o que parecia estar mais composto.
– Daniel, você está sóbrio? – perguntei.
– Sim – respondeu ele. – E fico mais sóbrio a cada segundo.
– Tenho que acompanhar a ambulância. Pode voltar à boate e pegar uma cópia da lista de bandas? – Dei a ele meu cartão. – Ligue no meu celular quando a tiver em mãos.
– Acha que aconteceu a mesma coisa com ele? – Daniel indagou. – O mesmo que aconteceu com Cyrus, quero dizer.
– Não sei – respondi. – Assim que souber de alguma coisa eu ligo para vocês, rapazes.
Os paramédicos se impacientaram.
– Você vem ou não? – um deles perguntou.
– Pode fazer o que pedi?
Daniel sorriu para mim.
– Músicos de jazz, lembre – disse ele.
Levantei o punho, e depois de um instante de incompreensão, Daniel levantou o dele e bateu com os dedos nos meus.
Entrei na ambulância, e o paramédico fechou a porta.
– Vamos para o UCH? – perguntei.
– Essa é a ideia – ele confirmou.
O som da sirene e as luzes piscantes não nos incomodavam.
Não é possível simplesmente deixar um corpo no necrotério. Para começar, é preciso que a morte seja confirmada por um médico certificado. Não importa em quantos
pedaços o corpo chega; enquanto um médico certificado não declara oficialmente que ele está morto, esse corpo assume, burocraticamente falando, um estado indeterminado
como um elétron, uma caixa de areia atômica, e minha autoridade para conduzir o que equivalia a uma investigação de assassinato corria por minha conta e risco.
O início da madrugada de domingo na Emergência era sempre uma alegria, com o sangue, os gritos e as recriminações acompanhando a saída do efeito do álcool e a chegada
da dor. Qualquer policial que se sinta animado o suficiente para lidar com o público pode aparecer e se meter em meia dúzia de discussões excitantes, sempre contando
com o envolvimento de Ken e seu melhor amigo Ron, e não estávamos fazendo nada, oficial, de verdade, não provocamos nada. Então, fiquei na salinha de tratamento
com meu bom e quieto cadáver, muito obrigado. Peguei um par de luvas cirúrgicas de uma caixa em uma gaveta e examinei a carteira do morto.
De acordo com a carteira de motorista, o nome completo de Mickey era Michael Adjayi. Família nigeriana, então, e pela data de nascimento Michael tinha apenas 19
anos.
Sua mãe vai ficar muito brava com você, pensei com tristeza.
Ele tinha alguns cartões: Visa, Mastercard, cartões de banco e um da União dos Músicos. Havia dois cartões comerciais, entre eles o de um agente, e eu anotei os
detalhes no meu bloquinho. Depois guardei tudo com cuidado na embalagem de evidências.
Só às 2h45 um médico jovem apareceu e declarou Michael Adjayi oficialmente morto. Levei mais duas horas, já que declarei que o corpo fazia parte da cena de um crime,
para colher todos os dados do médico, conseguir cópias da documentação relevante, as anotações dos paramédicos e do médico, e levar o corpo para o necrotério no
subsolo, onde o Dr. Walid faria seu singelo trabalho. Sendo assim, isso me deixava apenas com a última e mais alegre parte do procedimento, o momento em que entro
em contato com os entes queridos da vítima e dou a notícia a eles. Atualmente, o jeito mais fácil de cumprir essa etapa é pegar o celular do morto e examinar o registro
das últimas ligações. Como era de se prever, Mickey tinha um iPhone. Encontrei o aparelho no bolso de seu paletó, mas a tela estava apagada e nem precisei abrir
o compartimento para saber que o chip havia sido destruído. Guardei o celular em outra embalagem de evidências, mas nem me dei o trabalho de colocar uma etiqueta
– o material iria comigo para a Folly. Assim que me certifiquei de que ninguém mexeria no corpo, liguei para o Dr. Walid. Não havia motivo para acordá-lo, por isso
telefonei para o número do escritório e deixei um recado que ele ouviria na manhã seguinte.
Se Mickey era mesmo a segunda vítima, isso significava que o mago assassino de músicos de jazz – e eu precisava pensar em um nome melhor para ele – havia atacado
novamente com menos de quatro dias de intervalo.
Eu me perguntava se já havia existido um grupo semelhante na lista de mortes do Dr. Walid. Teria que verificar quando voltasse à caverna tecnológica na Folly. Estava
tentando decidir se ia para casa ou dormia na sala dos funcionários do necrotério, quando meu telefone tocou. Não reconheci o número.
– Alô – falei.
– Aqui é Stephanopoulos – anunciou a detetive sargento Stephanopoulos. – Seus serviços foram solicitados.
– Onde?
– Dean Street.
Soho outra vez. É claro. Por que não?
– Pode me dizer qual é o caso?
– Assassinato e dos mais horríveis – respondeu ela. – Leve um par de sapatos extra.
Depois de certo ponto, café preto não funciona mais, e se não fosse pelo cheiro horrível do desodorante de ar que meu carrancudo motorista letão usava, eu teria
dormido no banco de trás do carro.
Dean Street estava interditada da esquina de Old Compton Street até onde ela cruzava com a Meard Street. Contei pelo menos duas vans Sprinter sem identificação e
vários Vauxhall Astras prateados, sinal claro da presença de uma grande equipe de investigação no local.
Um detetive que reconheci da Equipe do Assassinato Belgravia esperava por mim próximo à fita. Subindo a Dean Street, bem perto dali, uma tenda de perícia havia sido
montada na entrada do Groucho Club – o cenário era tão convidativo quanto o de um exercício de guerra biológica.
Stephanopoulos esperava por mim lá dentro. Ela era uma mulher baixinha, aterrorizante, cuja lendária capacidade de vingança deu a ela o título de oficial lésbica
menos propensa a aceitar uma piada sobre sua orientação sexual. Ela era encorpada, e tinha um rosto quadrado que não era favorecido pelo corte masculino do cabelo,
um estilo que você poderia chamar de lésbico chique pós-moderno irônico, mas se você realmente gosta de sofrer.
Ela já vestia o avental azul de legista, e a máscara estava pendurada em seu pescoço. Alguém havia conseguido duas cadeiras dobráveis em algum lugar e preparado
um traje de perícia para mim. Nós os chamamos de roupa de Pateta, e você sua muito quando usa um desses. Notei que havia manchas de sangue ao redor dos tornozelos
de Stephanopoulos sobre os protetores plásticos que cobriam seus sapatos.
– Como vai seu chefe? – perguntou Stephanopoulos quando me sentei e comecei a vestir o traje.
– Bem – respondi. – E o seu?
– Bem – disse ela. – Volta ao trabalho no mês que vem. – Stephanopoulos sabia a verdade sobre a Folly. Um número surpreendentemente alto de oficiais da polícia conhecia
a verdade; simplesmente não era o tipo de coisa que se discutia em uma conversa polida.
– É a encarregada do caso, senhora? – perguntei. O chefe de investigação de um crime sério normalmente era pelo menos um detetive inspetor, não um sargento.
– É claro que não – falou Stephanopoulos. – Temos um detetive inspetor emprestado da Departamento de Investigações Criminais de Havering, mas ele adota um estilo
de supervisão mais relaxado em que oficiais experientes assumem um papel de liderança em áreas nas quais têm mais experiência.
Em outras palavras, ele se trancava no escritório e deixava Stephanopoulos cuidar de tudo.
– É sempre gratificante ver oficiais de patente superior adotando uma postura progressista em seus relacionamentos verticais – falei, e fui recompensado por algo
que era quase um sorriso.
– Pronto?
Puxei o capuz sobre a cabeça e amarrei o cordão. Stephanopoulos me entregou uma máscara e eu a segui para o interior da boate. O saguão tinha um piso de cerâmica
branca que, apesar de todo cuidado obviamente tomado, tinha manchas de sangue que levavam a uma porta dupla de treliça de madeira.
– O corpo está lá embaixo no banheiro masculino – disse Stephanopoulos.
A escada era tão estreita que tivemos que esperar um grupo de peritos subir para podermos descer. Não existe nada que se possa chamar de uma equipe completa de perícia.
É muito caro, então as solicitações são feitas em partes, como delivery de comida chinesa. Considerando o número de trajes de Pateta que passavam por nós, Stephanopoulos
havia pedido todos os pratos do cardápio para seis e com porção extra de arroz. Acho que eu era o biscoito da sorte.
Como muitos banheiros no West End de Londres, os do Groucho eram apertados e tinham o teto baixo, porque funcionavam no porão da casa. A administração os revestira
com painéis que alternavam aço escovado e fibra de vidro vermelha – era como um nível particularmente sinistro do jogo System Shock 2. E a cena ficava ainda pior
com as pegadas de sangue rumo à saída.
– O faxineiro o encontrou – disse Stephanopoulos, o que explicava os passos.
À esquerda havia pias quadradas de porcelana na frente de uma fileira de mictórios padronizados, e à direita, dois degraus acima, ficava a única cabine com vaso
sanitário. A porta era mantida aberta por algumas tiras de fita adesiva. Ninguém precisava me dizer o que havia lá dentro.
É engraçado como a mente processa a cena de um crime. Nos primeiros segundos os olhos se afastam do horror e buscam o mundano. Ele era um homem branco de meia-idade
e estava sentado no vaso. Os ombros estavam encurvados e o queixo repousava sobre o peito, o que dificultava a visão do rosto, mas ele tinha cabelos castanhos e
o início de uma área calva bem no topo da cabeça. Vestia um paletó de tweed caro, mas velho e gasto, que havia sido abaixado nos ombros e deixava ver a camisa de
listras azuis e brancas. Calça e cueca estavam amontoadas em torno dos tornozelos, e as coxas eram brancas e peludas. As mãos pendiam sem vida entre as pernas; acho
que ele havia segurado a genitália até perder a consciência. As palmas estavam sujas de sangue, e os punhos da camisa e do paletó, encharcados. Obriguei-me a olhar
para o ferimento.
– Jesus Cristo – falei.
O sangue jorrava para dentro do vaso sanitário, e eu não queria ser o pobre perito que teria que pescar evidências nele mais tarde. Alguma coisa havia amputado o
pênis do homem bem na raiz acima das bolas e, a menos que eu estivesse enganado, o deixara agarrando o que restara e se esvaindo em sangue.
Era horrível, mas eu duvidava de que Stephanopoulos me houvesse chamado ali para um curso rápido de teoria de cena do crime. Devia haver mais alguma coisa, então
me obrigou a olhar para o ferimento novamente, e dessa vez vi a conexão. Não sou especialista no assunto, mas notei que o corte era irregular. Não devia ter sido
feito por uma faca.
Olhei para Stephanopoulos e notei que ela me encarava com ar de aprovação. Talvez por eu não ter vomitado e corrido da cena do crime gemendo e chorando.
– Isso parece familiar? – perguntou ela.
4
Um décimo de minhas cinzas
O Groucho Club – o nome pretendia refletir a famosa referência – havia sido fundado mais ou menos na mesma época em que eu nasci, e tinha a intenção de atrair um
público de artistas e profissionais da mídia que pudessem pagar o preço de seu irônico pós-modernismo. Geralmente ficava fora do radar da polícia porque, por mais
rebeldes e modernos que fossem seus clientes, eles geralmente não se manifestavam pelas ruas nas noites de sexta-feira. A menos que houvesse uma chance de aparecer
nos jornais no dia seguinte. Um número suficiente de celebridades candidatas a clínicas de reabilitação aparecia por lá para manter um nicho ecológico de paparazzi
instalado na calçada diante da entrada. Isso explicava por que Stephanopoulos havia interditado a rua. Imaginei que os fotógrafos agora deviam estar tão contrariados
quanto crianças de 5 anos.
– Está pensando em St. John Giles? – perguntei.
– Os modi operandi são bem distintivos – Stephanopoulos argumentou.
St. John Giles era um suposto estuprador de encontros de sábado à noite cuja carreira havia sido interrompida em uma boate quando uma mulher, ou pelo menos alguma
coisa parecida com uma mulher, arrancou seu pênis com uma mordida... da vagina. Vagina dentata é o nome disso, e não há registros de casos médicos comprovados. Sei
disso porque o Dr. Walid e eu fizemos uma pesquisa que nos levou de volta até o século XVII em busca de um caso.
– Algum progresso com a investigação? – perguntou Stephanopoulos.
– Não – falei. – Temos a descrição do homem, a descrições dos amigos dele e algumas cenas pouco nítidas gravadas pelo circuito interno de TV, e mais nada.
– Ao menos podemos começar com um estudo comparativo das vítimas. Quero que ligue para Belgravia, consiga o número do caso e importe os “nominais” para o nosso inquérito
– disse ela.
“Nominal” é uma pessoa que chamou atenção da investigação e foi incluída no sistema de inquérito HOLMES. Depoimentos de testemunhas, evidências periciais, anotações
de um detetive durante uma entrevista, até imagens gravadas por câmeras de circuito interno, tudo isso alimenta o sistema computadorizado de inquérito. O sistema
original foi desenvolvido como um resultado direto do Inquérito Byford no caso do Estuprador de Yorkshire. O estuprador, Peter Sutcliffe, foi chamado para depor
várias vezes antes de ser pego, por acidente, em uma barreira policial rotineira no trânsito. A polícia tolera parecer corrupta, violenta ou tirana, mas parecer
burra é intolerável. Isso acaba minando a confiança das pessoas nas forças da lei e é prejudicial à ordem pública. Sem bodes expiatórios convenientes, a polícia
foi obrigada a profissionalizar uma cultura que, até então, se orgulhava de ser composta por amadores desprovidos de talento. HOLMES foi parte desse processo.
Para que fossem úteis, os dados tinham que ser introduzidos no formato correto e verificados para que se tivesse certeza de que todo e qualquer detalhe relevante
havia sido destacado e indexado. Desnecessário dizer que eu ainda não havia feito nada disso com os dados do caso de St. John Giles. Quase cedi à tentação de explicar
que trabalhava em um departamento de dois homens, e um deles só havia aprendido recentemente a mexer no controle da TV a cabo, mas Stephanopoulos já sabia disso.
– Sim, chefe – respondi. – Qual é o nome da vítima?
– Jason Dunlop. Sócio do clube, jornalista freelance. Estava registrado em um dos quartos lá em cima. Foi visto subindo a escada para Bedfordshire pela última vez
pouco depois da meia-noite, e encontrado aqui pouco depois das três da manhã por um funcionário da equipe noturna de limpeza.
– Qual foi a hora da morte?
– Entre 12h45 e 2h30, adotando a habitual margem de erro.
Até o patologista abrir o corpo, a margem de erro podia ser de até uma hora para mais ou para menos.
– Há alguma coisa especial nele? – Stephanopoulos perguntou.
Não precisei perguntar o que ela queria dizer com especial. Suspirei. Não queria me aproximar de novo do corpo, mas me abaixei e aproveitei a oportunidade para dar
uma boa olhada no rosto. Não havia tônus muscular, mas a boca estava fechada por causa da posição do queixo sobre o peito. Não havia expressão facial que eu reconhecesse,
e tentei imaginar quanto tempo ele havia ficado ali sentado segurando a genitália antes de morrer. No início tive a impressão de que não havia vestigia, mas depois,
muito fraco, na frequência de 100 miliyap, tive a impressão de vinho do porto, melaço, gosto de sebo e cheiro de velas.
– Então? – perguntou ela.
– Na verdade, não – respondi. – Se ele foi atacado por magia, não foi diretamente.
– Gostaria que não usasse esse termo – Stephanopoulos reclamou. – Não podemos chamar de “outros meios”?
– Como quiser, chefe. É possível que esse ataque não tenha nenhuma relação com “outros meios”.
– Não? Uma mulher com dentes na “engraçadinha”? Eu diria que isso é bem “outros meios”, não acha?
Nightingale e eu havíamos falado sobre isso depois do primeiro ataque.
– Talvez ela usasse uma prótese, sabe, como uma dentadura, só que encaixada... verticalmente. Se uma mulher fizesse isso, não acha que ela poderia... – Percebi que
imitava movimentos de mordida com a mão e parei.
– Bem, eu não conseguiria – declarou Stephanopoulos. – Mas, obrigada, oficial, por essa fascinante pérola de especulação. Com certeza vai servir para me manter acordada
à noite.
– Os homens se impressionam muito mais, garanto – respondi, e me arrependi imediatamente.
Stephanopoulos me olhou de um jeito estranho.
– Engraçadinho, não é?
– Desculpe, chefe – falei.
– Sabe do que eu gosto, Grant? Um bom esfaqueamento sexta à noite, um pobre idiota sendo esfaqueado porque parecia engraçadinho aos olhos de outro filho da mãe bêbado.
Esse é um motivo com o qual consigo me identificar.
Ficamos ali parados por um momento, contemplando os nebulosos e distantes dias da noite passada.
– Você não é oficialmente parte dessa investigação – disse Stephanopoulos. – Considere-se apenas um consultor. Eu sou a Oficial responsável pela investigação, e
se achar que preciso dos seus serviços, eu mesma o chamo. Entendeu?
– Sim, chefe – falei. – Há algumas pistas que posso seguir, “outros meios” de conduzir uma investigação.
– Entendo. Mas todas as ações que gerar devem ser discutidas comigo antes. Qualquer pista normal deve ser introduzida no HOLMES e, em troca, garanto que tudo que
for esquisito vai envolver você. Ficou claro?
– Sim, chefe – respondi.
– Bom garoto. – Era evidente que ela não gostava de ser chamada de chefe. – Agora, suma daqui e vamos torcer para eu não ter que vê-lo de novo.
Voltei à tenda dos peritos e tirei meu traje de Pateta com cuidado, tentando não sujar minhas roupas com sangue.
Stephanopoulos queria que meu envolvimento fosse discreto. Considerando que o tumulto em Covent Garden havia levado quarenta pessoas ao hospital e outras duzentas
à prisão, inclusive boa parte do elenco de Billy Budd, mandara um auxiliar de comissário para o hospital e depois para uma suspensão disciplinar e obrigara o chefe
de Stephanopoulos a se afastar em licença médica depois que espetei nele uma seringa cheia de tranquilizante para elefante (tenho que explicar, ele estava tentando
me enforcar nessa ocasião) – e tudo isso antes da destruição da Royal Opera House e do incêndio no mercado –, discrição também era conveniente para mim.
Voltei à Folly e encontrei Nightingale na sala de café de manhã, comendo kedgeree servido em uma das baixelas de prata que Molly insistia em colocar à mesa todas
as manhãs. Levantei as tampas que cobriam os pratos e vi salsichas Cumberland e ovos cozidos. Às vezes, quando você passa a noite toda acordado, pode perfeitamente
usar a comida como substituta para o sono. Funcionou bem comigo, pelo menos enquanto eu resumia os acontecimentos no Groucho Club para Nightingale, embora tenha
me mantido longe das salsichas Cumberland por um ou outro motivo. Toby estava sentado ao lado da mesa e me olhava atento, esperando qualquer tipo de alimento que
pudesse cair perto dele.
Quando começamos a investigar o caso de St. John Giles, procuramos um perito em odontologia para confirmar que dentes haviam causado o estrago, não uma faca ou uma
pequena armadilha para ursos, ou alguma outra coisa parecida. O dentista havia criado uma reconstrução da configuração dos dentes a partir das informações que tinha.
Parecia muito com uma boca humana, mas era mais rasa e se abria no sentido vertical. Na opinião dele, canino e incisivos eram muito semelhantes àqueles encontrados
na boca humana, mas os pré-molares e os molares eram muito finos e afiados.
– O que sugere mais um carnívoro que um onívoro – o dentista havia concluído.
Ele era um homem simpático e muito profissional, mas tive a impressão de que achava que tudo era uma brincadeira.
Daí passamos ao bizarro debate sobre o processo de digestão humana, o que não nos levou a nenhuma conclusão até eu sair para ir buscar alguns livros de biologia
e instruir Nightingale sobre estômago, intestinos, intestino delgado e para que serviam. Quando perguntei se ele não tivera essas aulas em sua velha escola, Nightingale
respondeu que talvez sim, mas não havia prestado atenção. Quando perguntei o que prendia sua atenção na escola, a resposta foi rúgbi e feitiços.
– Feitiços? – repeti. – Está dizendo que estudou em Hogwarts?
O que me fez ter que explicar os livros de Harry Potter, e depois de me ouvir ele disse que sim, havia estudado em uma escola para filhos de famílias com fortes
tradições em magia, mas nada parecida com a escola descrita nos livros. Apesar de ele gostar da ideia do Quadribol, seu esporte no colégio era o rúgbi, e usar magia
no campo era estritamente proibido.
– Tínhamos nossa versão de squash – ele contou. – Usávamos formas em movimento. Era bem animado.
O prédio da escola havia sido requisitado pelo exército durante a Segunda Guerra, e quando foi devolvido para uso civil no início da década de 1950, não havia muitos
alunos para fazer o esforço valer a pena.
– E não havia muitos professores – Nightingale me contara antes de mergulhar em um período de silêncio. Decidi que não tocaria mais nesse assunto.
Passávamos muito tempo na biblioteca procurando referências à Vagina dentata, o que me levou ao Exotica de Wolfe. O que Polidori era para a morte macabra, Samuel
Erasmus Wolfe era para a fauna esquisita e o que Dr. Walid chama de “criptozoologia legítima”. Ele foi contemporâneo de Huxley e Wilberforce, e se mantinha informado
sobre a então nova teoria da evolução. Em sua introdução para O papel da magia na indução da herança pseudolamarckiana, ele argumenta que a exposição à magia poderia
induzir mudanças no organismo que poderiam, então, ser herdadas pelos descendentes. Entre os biólogos modernos, esse tipo de coisa ficou conhecida como “herança
soft”, e quem defende essa teoria se torna motivo de piadas e riso. Soava plausível, mas, infelizmente, antes que pudesse concluir a parte de seu livro onde provava
a teoria, Wolfe foi morto por um tubarão enquanto nadava nas águas de Sidmouth.
Pensei que, como uma teoria, ela podia explicar a “evolução” de muitas criaturas detalhadas no Exotica. Wolfe evitara mencionar em sua teoria os genii locorum, os
deuses locais, que certamente existiam. Mas eu podia notar que, se uma pessoa era posta sob a influência da vasta e sutil magia que parecia permear certas localidades,
talvez ela fosse fisicamente modificada por essa magia. Por exemplo, Pai Tâmisa, Mãe Tâmisa e até Beverly Brook, que eu havia beijado em Seven Dials.
Herdados pelos descendentes, pensei. Talvez fosse um ponto favorável Beverly Brook estar fora do alcance da tentação.
– Presumindo que o perito em odontologia confirme que é a mesma “criatura” – falei –, podemos imaginar que ela não é natural? Quero dizer, ela tem que ser mágica
de algum jeito, certo? O que significa que deve estar deixando um rastro de vestigia por onde passa.
Nightingale serviu mais chá.
– Você não apreendeu nada até agora.
– É verdade – concordei. – Mas se ela tem um covil, um ninho onde passa a maior parte do tempo, o vestigia pode ter se acumulado. E isso tornaria mais fácil a localização.
E como os dois ataques aconteceram no Soho, há chances de que o ninho da criatura seja lá.
– Está supondo demais.
– É um começo – insisti, e ofereci uma salsicha a Toby, que saltou para pegá-la. – Precisamos de alguma coisa que tenha um histórico comprovado de caçadas a coisas
sobrenaturais.
Nós dois olhamos para Toby, que engoliu a salsicha de uma vez só.
– O Toby, não – falei. – Alguém que me deva um favor.
Quando negociei a paz entre as duas metades do rio Tâmisa, parte do acordo envolvia uma troca de reféns. Tudo muito medieval, mas foi o melhor que pude fazer na
época. Da corte de Mãe Tâmisa, o contingente londrino, escolhi Beverly Brook, aquela de olhos castanhos e rosto redondo, e em troca recebi Ash, um bonitão com jeito
de astro do cinema e o carisma loiro e engordurado de um parque de diversões itinerante. Depois de uma estadia bem desastrosa na casa de Mãe Tâmisa em Wapping, as
filhas mais velhas o haviam mandado para o Generator, um hostel para estudantes que ficava na fronteira onde a pobre King’s Cross se tornava a afluente Bloomsbury.
O arranjo também o coloca mais perto da Folly, para o caso de emergências.
O hostel ficava perto do palácio Tavistock. Por fora era estritamente georgiano, tipicamente britânico com sua pintura cor de baunilha, mas por dentro era todo decorado
em cores primárias fáceis de limpar, como aquelas que enfeitam os cenários dos programas infantis na TV. Os funcionários vestiam uniforme, camisetas verdes e azuis,
bonés e sorrisos obrigatórios de felicidade, mas os sorrisos sempre se apagavam um pouco quando eu aparecia.
– Só vim para buscá-lo – informei, e os sorrisos recuperavam a intensidade habitual.
Notei que, apesar de ter trabalhado a noite toda, cochilado um pouco, tomado uma ducha e posto em dia a papelada, ainda consegui chegar ao quarto de Ash quando ele
estava se levantando. Ele abriu a porta vestindo um roupão de banho.
– Petey – disse. – Entre.
Os quartos privados do Generator eram mobiliados com beliches, preservando assim aquele crucial ambiente jovem de um hostel. Tecnicamente, mesmo quando você aluga
um quarto privado, tem que dividir o espaço com, pelo menos, mais um hóspede. Pouco depois de se mudar para lá, e usando um maçarico de oxiacetileno que conseguira
sabe Deus onde, Ash transformara o beliche de seu quarto em uma cama de casal. Se alguém quisesse dividir o quarto com ele, teria que dividir também a cama. Quando
a gerência reclamou, Mãe Tâmisa mandou sua filha Tyburn resolver o problema. E quando Lady Ty resolve alguma coisa, essa coisa é definitivamente resolvida. Para
ser justo com Ash, ele raramente passa uma noite sozinho. Ty o odeia, mas como eu era o topo de sua lista negra antes de Ash entrar em cena, considero a situação
um bônus.
A jovem da noite passada me olhou cautelosa de sua posição segura embaixo do edredom. Não havia outro lugar onde sentar se não ao pé da cama, por isso me acomodei
e sorri para a moça com a intenção de tranquilizá-la. Ela olhou nervosa para Ash, que já estava no corredor a caminho do banheiro coletivo.
– Boa tarde – falei, e ela respondeu com um movimento de cabeça.
Era bonita de um jeito calculado: faces delicadas, pele cor de oliva e cabelos negros e encaracolados na altura dos ombros. Só quando ela relaxou o suficiente para
sentar-se e deixar cair o edredom, revelando um peito liso, sem pelos e totalmente reto, compreendi que não era uma garota.
– Você é homem? – perguntei, demonstrando que o treinamento de sensibilidade a que fui submetido em Hendon não foi desperdiçado.
– Só no sentido biológico – respondeu ele. – E você?
Não precisei responder, porque a conversa foi interrompida pelo retorno de Ash. Totalmente nu, ele pegou uma calça jeans desbotada e uma camiseta. Parando apenas
para beijar a boca do rapaz na cama, ele calçou as botas Dr. Martens e nós saímos.
Esperei até estarmos fora do hostel e a caminho do Ford Asbo para perguntar sobre o garoto na cama dele.
Ash deu de ombros.
– Não sabia que era um garoto até ficarmos sozinhos no quarto. E estava me divertindo tanto que pensei, por que não?
Para alguém que nunca estivera em uma área construída maior que Cirencester durante toda a vida, Ash se mostrava surpreendentemente metropolitano.
– Aonde vamos? – ele perguntou quando entramos no carro.
– À sua parte favorita da cidade – respondi. – Soho.
– Vai me pagar o café?
– O almoço – respondi. – E já é tarde até para isso.
Acabamos comendo peixe com batatas em uma mesa ao ar livre na Berwick Street, que tem os escritórios das emissoras de TV em uma extremidade, um mercado de rua no
meio e uma furtiva coleção de sex shops do outro lado. Ali também estão algumas lojas de discos mundialmente famosas, apenas vinil, o tipo de lugar aonde meu pai
iria para vender sua coleção – como se isso tivesse alguma chance de acontecer.
Disse a Ash o que queria que ele fizesse.
– Quer que eu frequente o Soho?
– Exatamente – confirmei.
– Quer que eu vá aos bares, às boates, conheça gente nova...
– Sim. E que fique atento a uma assassina psicótica, possivelmente sobrenatural.
– Entendi. Vou às boates e procuro mulheres perigosas. Como ela é?
– Parecida com Molly, mas pode ter mudado um pouco o cabelo. Minha esperança é de que seja diferente o bastante para se destacar. E que se sobressaia no sentido
espiritual, especialmente para você.
Ash refletiu sobre o que eu estava dizendo.
– Entendi – ele respondeu. – E o que devo fazer se a vir?
– Deve telefonar para mim e ficar longe dela. Seu trabalho é só de vigilância. Entendeu?
– Perfeitamente. E o que ganho com isso?
– Paguei seu almoço, não paguei?
– Muquirana. Dinheiro para a cerveja?
– Eu reembolso suas despesas – falei.
– Não pode me adiantar alguma coisa?
Encontramos um caixa automático, e eu tirei uma quantia que entreguei a ele.
– Quero os recibos – avisei. – Ou vou contar a Tyburn o que realmente aconteceu naquela noite em Mayfair.
– Era só um gato – Ash argumentou.
– Há certas coisas que não devem acontecer com ninguém. Nem mesmo com um gato.
– Ele ficou bonitinho careca.
– Tyburn não concordaria com isso – avisei.
– Acho que vou começar pelo Endurance – Ash comentou. – Quer ir comigo?
– Não posso. Algumas pessoas precisam trabalhar para viver.
– Eu sei – Ash respondeu. – Estou fazendo o seu trabalho.
– Tome cuidado – eu disse.
– Como se eu fosse caçar. Em uma bela noite de luar.
Eu o vi pegar uma maçã de uma barraca no mercado quando se afastava sem pressa.
A principal característica do Soho é que, por ser uma área de trânsito caótico, sem metrô ou ônibus, todo mundo acaba andando para todos os lugares. E por estar
andando, você encontra pessoas que normalmente nem veria. Eu havia estacionado o Asbo na Beak Street, por isso entrei na Broadwick. Porém, antes que pudesse sair
do Soho e ganhar velocidade, fui interceptado na Lexington.
Apesar do barulho do tráfego, ouvi os saltos antes da voz.
– Oficial Grant! Você mentiu para mim.
Virei-me e vi Simone Fitzwilliam caminhando em minha direção com seus saltos altos. Um cardigã vermelho caía de seus ombros como uma estola sobre a blusa cor de
pêssego. Os botões ameaçavam explodir a qualquer momento, e a legging preta exibia sem restrições todo o poder daquelas pernas. Quando ela se aproximou senti o cheiro
de madressilva, rosa e lavanda, os perfumes de um jardim rural inglês.
– Srta. Fitzwilliam – falei, tentando soar formal.
– Você mentiu para mim – repetiu ela, e sua boca de lábios carnudos e vermelhos se distendeu num sorriso. – Seu pai é Richard “Lord” Grant. Não acredito que não
li a informação em seu rosto. Não foi à toa que falou com tanta propriedade. Ele ainda toca?
– Como tem passado? – perguntei, e me senti como um apresentador do horário diurno da televisão.
O sorriso perdeu um pouco do brilho.
– Alguns dias são melhores que outros – disse ela. – Sabe o que me animaria? Alguma coisa estupenda, deliciosa.
Estupenda não era uma palavra que eu normalmente ouvia de pessoas de verdade.
– Aonde quer ir? – perguntei.
Os ingleses sempre estenderam um forte veio missionário para o resto do continente, e de vez em quando indivíduos corajosos enfrentaram o clima, o encanamento e
o sarcasmo para trazer as melhores coisas da vida a essa ilha abençoada. Um desses pioneiros, de acordo com Simone, era madame Valerie, que abriu sua confeitaria
na Frith Street e, depois de ter a loja bombardeada pelos alemães, instalou-se novamente em Old Compton Street. Eu havia passado por lá várias vezes durante a patrulha,
mas, como o lugar não servia bebida alcoólica, raramente alguém me convidava a entrar.
Simone segurou minha mão e praticamente me arrastou para dentro da confeitaria, cujas vitrines brilhavam com a luz de fim de tarde. Delícias eram enfileiradas em
forminhas em tons de creme, rosa e amarelo, vermelho e chocolate, exibidas como qualquer exército exemplar.
Simone tinha sua mesa favorita perto da escada, na frente da vitrine de bolos. De lá, ela disse, era possível ver as pessoas entrando e saindo e ficar de olho nos
bolos – caso alguém tentasse roubá-los. Ela parecia saber o que estava fazendo, por isso a deixei pedir. Ela escolheu um sanduíche enganosamente compacto, feito
com massa e creme; o meu era, essencialmente, bolo de chocolate com granulado, chantilly e confeito de chocolate. Eu me perguntava se eu estava sendo seduzido ou
induzido a um coma diabético.
– Você precisa me contar o que descobriu – disse ela. – Soube que esteve no Mysterioso ontem à noite com Jimmy e Max. Não é um lugar horrível? Tenho certeza de que
precisou se conter para não prender os canalhas que viu por lá.
Disse que, sim, havia visitado o lugar, e concordei que era um antro de iniquidade, mas não contei a ela sobre Mickey, que, enquanto estávamos ali conversando, esperava
pelo Dr. Walid no necrotério do UCH. Em vez disso, falei superficialmente sobre alguns inquéritos em andamento e a vi comer o bolo. Ela o devorava como uma criança
impaciente, mas obediente, com mordidas pequeninas e rápidas, e ainda conseguia espalhar creme pelos lábios. Vi quando a língua passeou por eles recolhendo os vestígios
doces.
– Sabe com quem deveria falar? – ela me perguntou depois de limpar todo o creme. – Devia falar com a União dos Músicos. Afinal, não é função deles cuidar dos membros?
Se alguém sabe o que está acontecendo, essa pessoa está lá. Não vai comer seu bolo?
Ofereci a ela o pedaço restante, e a vi olhar para um lado e para o outro, como uma colegial culpada, antes de puxar o prato para seu lado da mesa.
– Nunca fui muito boa com essa coisa de controlar o apetite – disse ela. – Suponho que esteja compensando por quando era mais nova. Naquela época havia todo tipo
de carência.
– Que época?
– A época em que eu era jovem e tola – respondeu ela. Havia um pouco de chocolate em seu rosto e, sem pensar, eu limpei a área com meu polegar. – Obrigada – ela
falou. – Bolo nunca é demais.
Tempo também não. Paguei a conta, e ela me acompanhou até onde eu havia estacionado o Asbo. Perguntei em que ela trabalhava.
– Sou jornalista – Simone respondeu.
– Onde trabalha?
– Ah, sou freelancer. Aparentemente, hoje em dia todo mundo é.
– Sobre o que escreve?
– Jazz, é claro. A cena de Londres, fofocas do mundo da música... Boa parte dos meus textos é publicada em outros países. No Japão, principalmente. Os japoneses
gostam muito de jazz. – Ela explicou que suspeitava de que algum subeditor em Tóquio traduzia seu trabalho para o japonês, mas acabava perdendo muitas coisas nessa
tradução, inclusive o nome dela.
Chegamos à esquina.
– Estou hospedada em Berwick Street – falou.
– Na casa de suas irmãs – acrescentei.
– Você lembrou. Bem, é claro que sim, você é um policial. É treinado para essas coisas, sem dúvida. Então, se eu lhe der meu endereço, com certeza vai se lembrar
dele.
Ela recitou o endereço e prometi memorizá-lo. De novo.
– Au revoir – ela se despediu. – Até a próxima.
Eu a vi se afastar sobre os saltos altos, o quadril balançando de um lado para o outro.
Lesley ia me matar.
Nos velhos tempos, meu pai e os amigos dele costumavam se encontrar em Archer Street, onde ficava a União dos Músicos, na esperança de conseguir trabalho. Sempre
imaginei vários grupos de músicos espalhados pela rua. Então vi uma foto dessa mesma rua cheia de homens de chapéu e terno Burton empunhando seus instrumentos como
mafiosos desempregados. Era tão cheio e competitivo, meu pai dizia, que bandas tinham gestos secretos para se comunicar no meio da multidão, mostrando um punho para
um trombonista, a mão aberta com a palma para baixo para um baterista, agitando os dedos para uma corneta ou um trompete. Assim era possível continuar amigo de todos,
mesmo depois de privar alguns de um show no Savoy ou no Café de Paris. Meu pai dizia que era possível andar pela Archer Street e reunir duas orquestras, uma banda
completa, e ainda ter uma sobra para dois quartetos e um solista para tocar o teclado na Corner House de Lyon.
Hoje em dia os músicos trocam mensagens de celular e combinam seus concertos pela internet, e a União dos Músicos atravessou o rio para se estabelecer na Clapham
Road. Era domingo, mas considerando que a música, como o crime, nunca dorme, telefonei para lá. Convenci o homem no escritório de que o assunto era importante para
a polícia, e ele me deu o número do celular de Tista Ghosh, assistente social da Seção de Jazz. Liguei para ela e deixei uma mensagem me identificando e dando impressão
de urgência, sem dizer nada de concreto. Nunca grave nada que você não queira ver no YouTube, esse é meu lema. A Sra. Ghosh ligou de volta quando eu estava chegando
ao carro. Ela tinha o tipo de sotaque preciso de classe média que só pode ser consequência de ter aprendido inglês como segunda língua ainda no berço. Ela me perguntou
qual era o assunto, e eu disse que queria discutir algumas mortes inesperadas com seus membros.
– Tem que ser hoje? – perguntou ela.
Ao fundo, ouvi uma banda tocando “Red Clay”.
Disse a ela que tentaria manter o depoimento o mais breve possível. Adoro usar a palavra “depoimento”, porque as pessoas a consideram o primeiro degrau da longa
escada judiciária que vai de “ajudar a polícia com uma investigação” a passar um tempo à disposição de Sua Majestade, trancado em uma cela com um homem grande e
suado que insiste em chamá-lo de Susan.
Perguntei onde ela estava.
– No The Hub em Regent’s Park – revelou ela. – No Festival de Jazz ao Ar Livre.
Na verdade, de acordo com o cartaz que vi no portão mais tarde, aquela era a Última Chance para ver o Festival de Jazz ao Ar Livre patrocinado pela companhia antes
conhecida como Cadbury Schweppes.
Quinhentos anos atrás, o notoriamente sábio Henrique VIII descobriu um jeito muito elegante de resolver tanto seus problemas teológicos quanto sua crise de liquidez
pessoal – dissolveu o monastério e dividiu suas terras. Baseado no princípio de que alguém rico que quer permanecer rico jamais doa nada do que tem, a terra permaneceu
com a coroa desde então. Trezentos anos mais tarde, o príncipe regente contratou Nash para construir um grande palácio no lugar, com algumas varandas elegantes que
pudessem ser alugadas para cobrir a heroica tentativa do príncipe de se depravar até a morte. O palácio nunca foi construído, mas as varandas e a depravação permaneceram
– como o parque, que tem o nome do príncipe regente. Um extremo do parque, Northern Parklands, abriga campos e instalações para a prática esportiva, e no centro
dessa área fica The Hub, um grande outeiro artificial com um pavilhão e vestiários nele construídos. Há três entradas principais construídas como uma área de dispersão
de aeronaves, o que faz o lugar parecer a entrada principal do covil de um supervilão. No andar de cima há um café circular, cujas paredes de fibra de vidro permitem
vista panorâmica de todo o parque, e lá os clientes podem sentar, beber chá e traçar planos para dominar o mundo.
Ainda havia sol, mas o ar começava a ficar frio. Em agosto o público se espalhava na frente do palco temporário e, apoiado ao avental de concreto que cercava o café,
estaria seminu. Mas no meio de setembro moletons eram desamarrados da cintura e mangas eram abaixadas. Mesmo assim, havia sol suficiente para fingir, mesmo que só
por mais um dia, que Londres era uma cidade de cafés de rua e jazz no parque.
A banda que ocupava o palco no momento tocava alguma coisa misturada que nem eu classificaria como jazz, por isso não me surpreendi quando encontrei Tista Ghosh
saboreando um vinho branco além das barracas de bebida, onde o barulho era abafado. Liguei para o celular dela e Tista me orientou.
– Espero que esteja pagando – disse ela quando a encontrei. – Meu copo está esvaziando depressa.
Por que não, pensei, havia bebido a semana inteira. Por que parar agora?
A Srta. Ghosh era uma mulher magra, de pele clara, com nariz fino e comprido que combinava com os brincos grandes. Os cabelos pretos e longos estavam presos em um
rabo de cavalo. Ela vestia calça branca e blusa roxa e, por cima de tudo, uma jaqueta de couro que era, pelo menos, cinco vezes maior que ela. Talvez a houvesse
emprestado para se proteger do frio.
– Sei no que está pensando – disse ela. – O que uma garota como eu está fazendo em um concerto de jazz?
Na verdade, eu pensava em que lugar ela havia arrumado aquela jaqueta de couro e se, por razões religiosas, devia estar usando uma jaqueta de couro.
– Meus pais gostavam muito de jazz – continuou ela. – Eram de Calcutá, e havia aquela boate famosa em Park Street, a Trinca’s. Sabe, estive lá em setembro, houve
um casamento. Agora tudo está diferente, mas antes havia uma grande cena de jazz, e foi lá que eles se conheceram. Meus pais, não os parentes que se casaram.
A jaqueta tinha uma fileira de emblemas malfeitos na lapela do lado esquerdo, do tipo que se pode estampar com uma prensa manual. Eu os li discretamente enquanto
a Srta. Ghosh falava sobre a inovadora cena jazz que florescia na Índia pós-guerra – Rock contra o racismo, Liga antinazi, Não me culpe, Eu não votei em Tory – slogans
da década de 1980, a maioria mais velha do que eu.
A Srta. Ghosh falava sobre o tempo em que Duke Ellington havia tocado no Palácio de Inverno – o hotel em Calcutá, não o berço da Revolução Russa –, quando decidi
que era hora de devolver a conversa aos trilhos. Perguntei se ela sabia de alguma morte repentina de seus membros, especialmente durante ou logo após uma apresentação.
A Srta. Ghosh lançou um longo e cético olhar em minha direção.
– Está brincando comigo? – perguntou ela.
– Estamos investigando mortes suspeitas entre músicos – falei. – Esse é só um inquérito preliminar. As mortes podem parecer resultado de exaustão, ou abuso de drogas
ou álcool. Viu alguma coisa assim?
– Entre músicos de jazz? – disse ela. – Está brincando? Se eles não tiverem pelo menos um mau hábito, não o aceitamos no sindicato. – Ela riu, eu não, ela notou
e parou. – Estamos falando de assassinatos?
– Ainda não sabemos. Estamos apenas investigando informações recebidas.
– Não consigo pensar em ninguém agora. Posso dar uma olhada nos meus registros amanhã, se quiser.
– Seria ótimo. – Dei a ela meu cartão. – Pode fazer isso logo cedo?
– Sim, é claro. Você sabe que aqueles caras estão olhando para você?
Virei-me e vi os rapazes da banda me observando da barraca de cerveja. Max acenou para mim.
– Não vai querer falar com ele, moça – James gritou. – Esse homem é a polícia do jazz.
Despedi-me da Srta. Ghosh com a esperança de que ela ainda me levasse a sério, pelo menos o suficiente para conseguir a informação que pedi. Para me compensar, The
Irregulars aceitaram me pagar uma bebida.
– O que estão fazendo aqui? – perguntei.
– Eu estou onde os homens do jazz se reúnem – disse James.
– Devíamos tocar no festival – falou Daniel. – Mas sem Cyrus... – Ele deu de ombros.
– Não encontraram um substituto? – perguntei.
– Não sem baixarmos nosso padrão – James explicou.
– E eles já são bem baixos – acrescentou Max. – Sabe tocar?
Balancei a cabeça.
– Pena – disse ele. – Vamos tocar no Arches na semana que vem.
– Somos os penúltimos da lista – Daniel revelou.
Perguntei a Daniel se ele tocava alguma coisa além de piano.
– Um pouco de Gibson elétrica.
– O que acha de tocar com um homem que é quase uma lenda do jazz? – indaguei.
– Como é possível ser “quase” uma lenda do jazz? – Max quis saber.
– Cale a boca, Max – falou James. – O homem está falando do pai dele. Está falando sobre seu pai?
Houve uma pausa – todos sabiam que meu pai havia perdido a embocadura. Foi Daniel quem traduziu o pensamento em palavras.
– Ele trocou de instrumento, não é? – perguntou.
– Fender Rhodes – falei.
– E é bom? – Max quis saber.
– Ele vai ser melhor que eu – opinou Daniel.
– Lord Grant – James falou. – Quanto isso é legal?
– É muito legal – disse Max. – Acha que ele vai concordar?
– Vou perguntar – falei. – Mas não vejo por que não.
– Obrigado – Daniel respondeu.
– Não me agradeça, cara. Estou só fazendo meu trabalho.
Então, a polícia do jazz estava em missão de salvamento. Caso meu pai aceitasse – o que eu achava que provavelmente aconteceria. O Arches Club ficava em Camden Lock,
na rua do meu apartamento, então a logística seria simples. Decidi deixar minha mãe organizar os ensaios – ela ia gostar disso.
Só depois de me oferecer para ver o que conseguiria arrumar, percebi que nunca havia visto meu pai tocar para uma plateia antes. The Irregulars ficaram tão animados
que James, emocionado, se ofereceu para pagar mais uma bebida, várias, na verdade, mas eu estava dirigindo, então aceitei só uma. E foi melhor assim, porque dez
minutos depois Stephanopoulos ligou para mim.
– Estamos no apartamento de Jason Dunlop – disse ela. – Encontramos alguma coisa que queremos que você veja. – Ela me deu o endereço. O apartamento ficava em Islington.
– Eu chego em meia hora – falei.
Jason Dunlop morava no apartamento no meio porão de uma casa vitoriana reformada em Barnsbury Road. Em eras passadas, as acomodações dos criados costumavam ficar
completamente no subsolo, mas os vitorianos, que eram grandes inovadores sociais, haviam decidido que até os mais humildes deviam ter a possibilidade de ver os pés
das pessoas que andavam pela casa de seus senhores – daí o meio porão. Essa disposição e a luz natural mais intensa economizavam velas, e dinheiro poupado é dinheiro
ganho, e tudo mais. As paredes internas haviam sido pintadas de branco e não tinham nenhuma decoração: nada de fotos emolduradas, nem reproduções de Monet, Klimt
ou de cachorros jogando pôquer. Os armários da cozinha eram baratos e novos. Tudo ali sugeria que o imóvel havia sido comprado para alugar. A julgar pelos caixotes
ainda meio cheios na sala de estar, deduzi que Jason não se mudara para lá há muito tempo.
– Um divórcio complicado – disse Stephanopoulos enquanto me mostrava o apartamento.
– Ela tem um álibi?
– Até agora, sim – respondeu Stephanopoulos. As alegrias de lidar com suspeitos enlutados. Era bom saber que eu não estava encarregado dessa investigação. O apartamento
tinha apenas um dormitório, com duas malas masculinas em um canto, uma fileira de caixas com marcas de dedos na poeira sobre as tampas. Stephanopoulos me mostrou
onde uma pilha de livros havia sido cuidadosamente arrumada sobre um plástico ao lado da cama.
– Já foram manuseados pela perícia?
Stephanopoulos disse que sim, mas pus as luvas assim mesmo. É uma boa prática quando se lida com evidências, e minha atitude provocou um grunhido de aprovação por
parte da sargento. Peguei o primeiro livro. Era um velho e de capa dura, anterior à guerra, que havia sido cuidadosamente embalado em papel de seda branco. Abri
o volume e li o título: Philosophiae naturalis principia artes magicis, de Isaac Newton. Eu tinha uma cópia da mesma edição sobre a minha mesa, com um dicionário
de latim muito maior ao lado dela.
– Vimos isso – comentou Stephanopoulos – e pensamos em você.
– Tem mais? – perguntei.
– Deixamos a caixa para você – disse ela. – Caso tenha sido amaldiçoada ou alguma coisa assim.
Eu esperava que o comentário fosse apenas sarcástico.
Inspecionei o livro. A capa estava gasta nos cantos e manchada pelo tempo. As beiradas das páginas tinham dobras e manchas de manipulação. O proprietário não havia
deixado aquele livro em uma estante; ele fora usado. Seguindo um palpite, abri o volume na página 27 e vi, bem onde eu deixara um post-it com um ponto de interrogação,
uma palavra escrita a lápis e meio apagada: quis?. Mais alguém não conseguira entender o que Isaac dizia no trecho no meio da introdução.
Se alguém realmente estivera estudando o ofício, certamente sentira necessidade do A modern commentary on the great work, de Cuthbertson. A obra havia sido escrita
em 1897 em inglês, graças a Deus, e sem dúvida era recebida de braços abertos por todo estudante frustrado que já havia tentado iluminar seu quarto com uma luz mágica.
Examinei a caixa e encontrei uma cópia de Cuthbertson bem embaixo de um grande e moderno dicionário e gramática de latim – era bom saber que eu não era o único que
precisava de ajuda. O Modern commentary era, como o Principia, velho e bastante usado. Virei as páginas e encontrei um selo desbotado mais ou menos na página trinta
– um livro aberto cercado por três coroas e contornado pelas palavras Bibliotheca Bodleiana. Examinei o Principia e encontrei um selo diferente, o desenho de um
antigo compasso cercado pelas palavras Scientia potestas est qms. Olhei o frontispício e notei uma leve descoloração em forma retangular. Meu pai tinha livros com
aquele mesmo padrão, volumes que ele havia tirado da biblioteca da escola quando era jovem. A marca era da cola que prendia o recipiente onde o cartão da biblioteca
era encaixado quando dinossauros andavam pela terra e computadores eram do tamanho de máquinas de lavar roupa.
Esvaziei a caixa com cuidado. Havia mais seis livros, cuja autêntica relação com a magia eu reconheci, todos eles com o selo da biblioteca Bibliotheca Bodleiana.
Deduzi que o selo se referia à Biblioteca Bodleian, que, eu lembrava vagamente, ficava em Oxford, e, apesar de não reconhecer o segundo selo, reconheci o lema. Telefonei
para a Folly. O telefone tocou várias vezes antes de alguém atender.
– É Peter – eu disse. Silêncio do outro lado. – Preciso falar com ele imediatamente. – Ouvi um barulho quando o fone foi deixado em cima da mesa. Enquanto esperava,
pensei que já era tempo de Nightingale comprar um aparelho decente.
Quando Nightingale atendeu, expliquei sobre os livros. Ele me fez relacionar os títulos e descrever os selos. Depois perguntou se Stephanopoulos estava disponível.
Eu a chamei e ofereci o telefone.
– Meu superior quer falar com você – avisei.
Enquanto eles conversavam, comecei a guardar os livros nas bolsas de evidências e a identificá-las com etiquetas.
– E acha que isso aumenta a probabilidade? – perguntou ela. – Tudo bem. Vou mandar o garoto com os livros. Espero que mantenha uma cronologia de evidências.
Nightingale deve ter garantido que seria tão escrupuloso quanto o laboratório da Central de Polícia, porque ela assentiu e me devolveu o telefone.
– Acho – disse Nightingale – que podemos estar lidando com um mago negro.
5
O portão noturno
Magia negra, conforme a definição de Nightingale, era o uso da magia de forma a causar uma interrupção da paz. Comentei que essa definição era tão ampla que incluía,
essencialmente, qualquer uso da magia que não fosse aquela autorizada pela Folly. Nightingale respondeu que considerava esse fator positivo, não negativo.
– Magia negra é o uso da arte para causar mal a outra pessoa – continuou ele. – Prefere essa definição?
– Não temos nenhuma evidência de que Jason Dunlop jamais tenha causado mal a alguém pelo uso de magia negra – retruquei. Espalhamos as pastas do caso sobre uma mesa
na sala de café da manhã, junto com os livros que eu havia recolhido no apartamento de Dunlop e os restos da excêntrica versão de Molly para a receita de Ovos Benedict.
– Eu diria que temos uma clara indicação de que alguém fez mal a ele – respondeu Nightingale. – E forte evidência de que ele era um praticante. Considerando a natureza
incomum de seu agressor, creio que é seguro dizer que havia magia envolvida. Não concorda comigo?
– Nesse caso, não é possível que o assassino de Jason Dunlop tenha alguma reação com meus músicos mortos?
– É possível – reconheceu Nightingale. – Mas os modi operandi são muito diferentes. Acho melhor manter as duas investigações separadas, por enquanto. – Ele segurou
um garfo Sheffield com o monograma da Folly espetado em um ovo, balançando-o com um dedo. O garfo quase nem se moveu. – Tem certeza de que não está preso no muffin?
– Não está – respondi. – O garfo está preso apenas no ovo.
– Isso é possível? – Nightingale insistiu.
– Com Molly cozinhando, quem sabe?
Nós dois olhamos em volta para termos certeza de que ela não nos ouvia. Até aquela manhã, o cardápio de Molly se limitava ao das escolas públicas britânicas: muita
carne vermelha, batata, melaço e uma boa quantidade de gordura industrial. Nightingale havia explicado uma vez, quando estávamos em um restaurante de comida chinesa,
que ele achava que Molly se inspirava na própria Folly.
– É uma espécie de memória institucional – ele havia dito.
Ou minha chegada estava modificando essa “memória institucional” ou, mais provavelmente, ela descobrira que Nightingale e eu fugíamos para fazer algumas refeições
ilícitas em restaurantes.
Os Ovos Benedict eram uma tentativa de diversificar o cardápio.
Peguei o garfo e o ovo, o muffin e o que eu presumia ser um molho hollandaise, e tirei tudo do prato como uma massa elástica. Ofereci a porção a Toby, que cheirou
a comida uma vez, ganiu e se escondeu embaixo da mesa.
Naquela manhã não havia kedgeree, ou salsichas, ou ovos cozidos que não estivessem achatados e imersos em molho hollandaise vulcanizado, nem mesmo torrada e geleia.
Obviamente, a experimentação culinária havia esgotado Molly de tal forma que o restante do café da manhã não estava disponível no cardápio. Porém, o café ainda era
bom, e quando você está estudando as pastas de um caso, isso é o mais importante.
As investigações de assassinato começam com a vítima, porque, normalmente, é o que você tem em primeira instância. O estudo da vítima é chamado de vitimologia porque
tudo soa melhor com um “logia” no final. Para se certificar de não deixar de fora nenhum aspecto importante, a polícia desenvolveu a mnemônica mais inútil do mundo
– 5 X WH e H (em inglês, Who? What? Where? When? Why? e How?) –, também conhecido como Quem? O quê? Onde? Quando? Por quê? e Como? Na próxima vez que vir uma investigação
de assassinato real na televisão e um grupo de detetives de aparência séria conversando, lembre-se de que, na verdade, eles estão tentando decidir que porcaria de
ordem a mnemônica deve seguir. Quando tomam essa decisão, os exaustos oficiais se retiram para o bar mais próximo para uma bebida e um intervalo.
Felizmente para nós, na primeira questão, Quem é a vítima?, Stephanopoulos e a Equipe de Homicídios fez a maior parte do trabalho pesado. Jason Dunlop era um bem-sucedido
jornalista freelance, daí sua associação ao Groucho Club. Seu falecido pai havia sido funcionário público do alto escalão e o mandara para uma escola independente
de segunda em Harrogate. Ele havia lido inglês na Magdalen College, Oxford, onde foi um estudante sem distinções antes de se formar com um resultado igualmente indistinto.
Apesar do desempenho acadêmico medíocre, ele conseguira um emprego na BBC, onde havia sido primeiro um pesquisador, depois produtor no Panorama. Depois de um período
trabalhando, sobretudo para o Conselho Westminster na década de 1980, ele voltou ao jornalismo escrevendo artigos para The Times, o Mail e o Independent. Dei uma
olhada em alguns recortes; muitos artigos do tipo “você me mandou de férias e eu vou escrever uma crítica favorável”. Férias em família com a esposa Mariana, uma
executiva de RP, e seus dois filhos de cabelos dourados. Como Stephanopoulos me contara, o casamento havia acabado recentemente, advogados já haviam sido contratados
e a guarda das crianças era motivo de briga.
– Seria bom conversar com a esposa – disse Nightingale. – Perguntar se ela sabe alguma coisa sobre seus hobbies.
Examinei as transcrições da entrevista com a esposa, mas não havia nada sobre um eventual interesse no oculto ou sobrenatural. Tomei nota para acrescentar esses
dados ao arquivo da esposa no HOLMES e sugerir que ela fosse novamente convidada a depor sobre o assunto. Eu havia feito a sugestão a Stephanopoulos, mas ela não
nos deixaria conversar com a esposa, a menos que encontrássemos alguma coisa séria que justificasse a solicitação.
– Muito bem – disse Nightingale –, vamos deixar todas as conexões mundanas nas mãos capazes da detetive sargento. Acho que nosso primeiro movimento deveria ser rastrear
a origem do livro.
– Acho que Dunlop o roubou da Biblioteca Bodleian.
– É por isso que não devia fazer suposições – retrucou Nightingale. – Esse é um livro velho. Pode ter sido roubado antes de Dunlop chegar a Oxford e ter ido parar
nas mãos dele por algum outro caminho. Talvez a pessoa que o treinou.
– Presumindo que ele fosse um praticante – falei.
Nightingale bateu com a faca de manteiga sobre a cópia envolta em plástico do Principia artes magicis.
– Ninguém carrega este livro por acaso – argumentou ele. – Além do mais, reconheço o selo do outro livro. É da minha antiga escola.
– Hogwarts? – perguntei.
– Preferia que não a chamasse por esse nome – disse ele. – Podemos ir a Oxford agora de manhã.
– Vai comigo? – O Dr. Walid havia sido muito claro sobre a parte de irmos com calma.
– Você não poderá ter acesso à biblioteca sem mim – respondeu ele. – E já é hora de eu começar a apresentá-lo às pessoas conectadas à arte.
– Pensei que você fosse o último.
– Existe vida fora de Londres – lembrou Nightingale.
– As pessoas sempre dizem isso, mas nunca vi nenhuma prova.
– Podemos levar o cachorro – Nightingale sugeriu. – Ele vai apreciar o ar fresco.
– Nós não vamos – respondi. – Não se levarmos o cachorro.
Felizmente, apesar do tempo encoberto, o dia era quente, e pudemos seguir pela A40 com as janelas abertas para deixar sair o cheiro. Para dizer a verdade, o Jaguar
não é um carro confortável para estrada, mas eu me recusava a ir a Morse Central no Ford Asbo – padrões tinham que ser mantidos, mesmo com Toby no banco de trás.
– Se Jason Dunlop foi treinado – falei quando entramos na Great West Road –, quem foi seu professor?
Já havíamos discutido isso antes. Nightingale disse que era impossível apreender magia “newtoniana” organizada sozinho. Sem alguém para ensinar a diferença, é difícil
distinguir vestigia do ruído aleatório no fundo de seu cérebro. O mesmo vale para a forma; Nightingale tinha sempre que demonstrar a forma para mim antes que eu
conseguisse aprender o que era. Para aprender tudo isso sozinho você teria que ser o tipo de monomaníaco insano que deformaria o próprio globo ocular para testar
suas teorias em ótica – resumindo, alguém como Isaac Newton.
– Não sei – disse Nightingale. – Depois da guerra, não sobraram muitos de nós.
– Isso deve reduzir bem os suspeitos – eu disse.
– Boa parte dos sobreviventes deve estar velha agora – comentou Nightingale.
– E quanto aos outros países?
– Nenhuma das forças continentais saiu ilesa da guerra – Nightingale lembrou. – Os nazistas capturaram todos os praticantes que conseguiram encontrar nos países
ocupados e mataram os que se recusaram a se aliar a eles. Os que não morreram ao lado deles, morreram lutando contra eles. O mesmo vale para franceses e italianos.
Sempre acreditamos que havia uma tradição escandinava, mas eles a mantinham de forma muito discreta.
– E os americanos?
– Houve voluntários desde o início da guerra – contou Nightingale. – Eles se intitulavam Os Homens Virtuosos, eram da Universidade de Pensilvânia. – Outros haviam
chegado a Pearl Harbor nos anos seguintes, e Nightingale sempre teve a impressão de que havia uma profunda animosidade entre eles e os Homens Virtuosos. E duvidava
de que algum deles houvesse voltado à Inglaterra depois da guerra. – Eles nos culparam por Ettersberg – disse. – E havia um acordo.
– Ah, é claro que havia – respondi. Sempre havia um acordo.
Nightingale afirmava que os teria percebido, se eles houvessem começado a praticar em Londres.
– Eles não eram o que se pode chamar de sutil – disse.
Perguntei sobre outros países – China, Rússia, Índia, Oriente Médio, África. Não podia acreditar que não tinham pelo menos algum tipo de magia. Nightingale admitiu
que não sabia, mas teve a boa graça de soar constrangido.
– O mundo era diferente antes da guerra – ele explicou. – Não tínhamos esse acesso instantâneo à informação que é comum para a sua geração. O mundo era um lugar
maior, mais misterioso. Ainda sonhávamos com cavernas secretas nas Montanhas da Lua e com caçadas a tigres no Punjab.
Quando o mapa inteiro era cor-de-rosa, pensei. Quando todo garoto esperava viver a própria aventura e as meninas ainda não haviam sido inventadas.
Toby latiu quando ultrapassamos um maluco dirigindo um carro cheio de Deus sabe o que indo para Deus sabe onde.
– Depois da guerra foi como se acordássemos de um sonho – disse Nightingale. – Havia foguetes espaciais, computadores e jumbos no céu, e parecia uma coisa “natural”
que a magia desaparecesse.
– Resumindo, você não se deu o trabalho de procurar – falei.
– Era só eu – respondeu ele –, e eu era responsável por toda Londres e o Sudoeste. Nunca pensei que os velhos dias pudessem voltar. Além do mais, temos os livros
de Dunlop, então sabemos que seu professor não era de uma tradição estrangeira. O mago negro é doméstico.
– Não pode chamá-los de magos negros – protestei.
– Perceba que estamos usando “negro” em seu sentido metafórico aqui.
– Não importa – insisti. – As palavras modificam o que elas significam, não é? Algumas pessoas me chamariam de mago negro.
– Você não é um mago – ele disse. – Quase nem é um aprendiz.
– Está mudando de assunto – respondi.
– Como devemos chamá-los? – Nightingale perguntou, paciente.
– Praticantes de magia etnicamente prejudicados – sugeri.
– Só para satisfazer minha curiosidade, é claro – explicou Nightingale –, considerando que as únicas pessoas que nos ouvirão falar as palavras “mago negro” são você,
eu e o Dr. Walid, por que mudá-las é tão importante?
– Porque não acredito que o velho mundo volte tão cedo. Na verdade, creio que o novo mundo pode estar chegando.
Oxford é um lugar estranho. A periferia é parecida com qualquer outra cidade na Inglaterra, com as mesmas construções eduardianas passando a vitorianas, com um ou
outro erro da década de 1950, mas então você atravessa a ponte Magdalen e, de repente, está na maior concentração de arquitetura medieval do fim do século XVIII.
É historicamente impressionante, mas de uma perspectiva de administração do tráfego, isso significa que demoramos quase o mesmo tempo para percorrer aquelas ruas
estreitas e para percorrer de carro a distância desde Londres.
John Radcliffe, médico real de William e Mary, era famoso em seu tempo por ler muito pouco e escrever quase nada. Então, é razoável que uma das bibliotecas mais
famosas em Oxford tenha sido criada por ele. A Radcliffe Science Library está instalada em um prédio circular e abobadado que parece a catedral de St. Paul, menos
os detalhes religiosos. Dentro dela havia muita pedra lisa e esculpida, velhos livros, balcões e o silêncio tenso de gente jovem excepcionalmente quieta. Nosso contato
esperava por nós ao lado de um cartaz de avisos perto da entrada.
Fora das grandes cidades, minha aparição às vezes é suficiente para deixar certas pessoas sem fala. Foi assim que o PhD e membro da Royal Society Harold Postmartin,
curador de coleções especiais na Biblioteca Bodleian, evidentemente, esperava que Nightingale apresentasse alguém “diferente” como o novo aprendiz. Eu conseguia
vê-lo tentando formular a frase “mas ele é de cor” de um jeito que não fosse ofensivo, sem conseguir nada. Eu o tirei do sofrimento apertando sua mão; minha regra
geral é que, se eles não se encolhem diante da possibilidade de um contato físico, com o tempo vão acabar se acostumando.
Postmartin era um homem atarracado, de cabelos brancos, que parecia mais velho e mais frágil que meu pai, mas tinha um aperto de mão surpreendentemente firme.
– Então, você é o novo aprendiz – ele disse, e conseguiu evitar o tom de acusação. Nesse momento eu soube que íamos nos dar bem.
Como em todas as bibliotecas modernas, a porção visível de Radcliffe era a ponta de um iceberg, e a maior parte da coleção se encontrava submersa sob a Praça Radcliffe,
em câmaras cheias de livros e embaladas pela vibração invasiva de um moderno equipamento de controle do clima. Postmartin nos levou por uma série de corredores de
paredes caiadas até uma porta de metal com uma placa anunciando Entrada proibida. Ele passou um cartão magnético no painel de segurança e digitou uma combinação
numérica. A porta destravou com um estalo e nós entramos em uma sala com as mesmas prateleiras e o mesmo controle climático do restante da coleção. Havia uma mesa
vazia, exceto por uma máquina que parecia ter sido o produto de um casamento sem amor entre um velho Mac e um computador IBM.
– É um PCW Amstrad – disse Postmartin. – Anterior à sua época, suponho. – Ele se sentou em uma cadeira roxa de plástico moldado e ligou a velha máquina. Não tem
conexões com hardware, nem entradas USB, e usa disquetes de três polegadas que nem são mais fabricados. Isto aqui é a segurança pela obsolescência. Bem parecido
com a própria Folly. Não se pode hackear, se é que estou usando o termo certo, uma máquina para a qual não existe acesso.
A tela era de uma alarmante cor verde, monocromática, notei, como alguma coisa saída de um velho filme. O disquete de três polegadas estalou quando a máquina começou
a acessá-lo.
– Você tem a cópia do Principia? – Postmartin perguntou.
Entreguei o livro e ele começou a virar as páginas lentamente.
– Cada cópia na biblioteca foi marcada de um jeito único – ele falou, e parou em uma página que me mostrou. – Vê aqui? A palavra foi sublinhada.
Eu olhei; era a palavra regentis.
– Isso é significativo? – perguntei.
– Veremos – disse ele. – Talvez deva anotá-la.
Escrevi a palavra no meu bloquinho de anotações da polícia e notei que, enquanto isso, Postmartin rabiscava furtivamente em um bloco que ele pensava manter fora
do alcance dos meus olhos. Quando terminei, ele continuou virando as páginas até encontrar outra marca, e de novo eu anotei a palavra, pedem, e novamente o vi escrever
em seu bloco. Repetimos o processo mais três vezes, e depois Postmartin me pediu para ler as palavras escritas.
– Regentis, pedem, tolleret, loco, hostium – recitei.
Ele me olhou por cima da armação dos óculos.
– E o que acha que isso significa? – perguntou.
– Acho que significa que os números das páginas são mais importantes que as palavras – falei.
Postmartin reagiu com desânimo.
– Como soube?
– Posso ler seus pensamentos – eu disse.
O homem olhou para Nightingale.
– Isso é verdade?
– Não – respondeu Nightingale. – Ele viu que você anotava os números.
– Você é um homem cruel, oficial Grant – disse Postmartin. – Sem dúvida é alguém que vai longe. De fato, as palavras são irrelevantes, mas se a numeração das páginas
for arranjada como uma sequência alfanumérica, vão formar um número de identificação único. Introduzimos esse número no nosso velho amigo aqui, e voilà...
A tela do PCW exibiu uma página de texto em um tom feio de verde: título, autor, editora, localização na estante e uma lista breve de pessoas que haviam emprestado
o exemplar. A última pessoa relacionada era Geoffrey Wheatcroft, que o retirara em julho de 1941 e nunca o devolvera.
– Ah – disse Postmartin surpreso. – Geoffrey Wheatcroft? Não é alguém que eu chamaria de nefasto. Não é seu tipo criminoso, é, Thomas?
– Você o conhece?
– Conhecia – respondeu Postmartin. – Ele morreu no ano passado. Nós dois comparecemos ao funeral, embora Thomas tenha ido disfarçado de seu próprio filho para evitar
suspeitas.
– Isso aconteceu há dois anos – lembrou Nightingale.
– Meu Deus, tudo isso? – indagou Postmartin. – Não havia muita gente, se bem lembro.
– Ele era praticante ativo? – eu quis saber.
– Não – Nightingale respondeu. – Conseguiu seu cajado em 1939, não era considerado um mago de primeira linha, desistiu depois da guerra e conseguiu um cargo em Magdalen.
– Lecionando tecnologia, entre todas as coisas – acrescentou Postmartin.
– Na faculdade Magdalen? – perguntei.
– Sim – Nightingale confirmou, e de repente parecia pensativo.
Eu fui mais rápido.
– A mesma faculdade de Jason Dunlop.
Nightingale quis ir diretamente para a Magdalen, mas Postmartin sugeriu um lugar para almoçarmos no Eagle and Child. Achei que sentar e descansar um pouco seria
uma boa ideia, porque Nightingale se apoiava sobre o lado esquerdo novamente e parecia um pouco abatido, para ser franco. Ele recusou o almoço, mas sugeriu que nos
encontrássemos no pub depois da visita à faculdade. Postmartin me convidou para ir com ele, pois assim poderia ir me contando algumas coisas no caminho.
– Se acha que é realmente necessário – disse Nightingale antes que eu pudesse protestar.
– Creio que sim – persistiu Postmartin.
– Entendo. Bem, se acha que é melhor...
Postmartin disse que achava que era crucial, e nós o levamos de volta ao carro, onde apresentei Toby que, rápido, saiu do automóvel cercado por uma nuvem malcheirosa.
Sugeri que Nightingale usasse o Jaguar – assim, poderíamos voltar dirigindo do pub e ele não teria que andar.
– Então, esse é o famoso cão caçador de fantasma.
– Não sabia que ele era famoso – respondi.
Postmartin levou-me por uma alameda tão autenticamente medieval que ainda tinha uma canaleta de pedra no meio para servir de esgoto.
– Não é mais usada para sua função original – Postmartin explicou.
O lugar estava repleto de estudantes e turistas, todos fazendo o possível para ignorar os ciclistas que tentavam atropelar todo mundo com alegre abandono.
Perguntei a Postmartin que papel ele desempenhava na complexa rede de acordos, em sua maioria não escritos, que constituíam a aplicação das leis da magia na Inglaterra.
– Quando você e Nightingale escrevem relatórios, sou eu quem os lê – disse ele. – Pelo menos os trechos relevantes.
– Então, você é o chefe de Nightingale? – perguntei.
Postmartin riu.
– Não. Sou o arquivista. O responsável pela organização dos papéis do grande homem, e dos papéis de todas as criaturas menores que já estiveram sobre os ombros dele
desde então. Inclusive você e Nightingale.
Depois de toda essa história, foi muito bom entrar em Broad Street, que tinha, pelo menos, algumas varandas vitorianas e uma Oxfam.
– Por aqui – falou Postmartin.
– Newton era um homem de Cambridge – lembrei. – Por que os papéis dele estão aqui?
– Pelo mesmo motivo que os fez não querer seus trabalhos de alquimia lá – explicou Postmartin. – Depois de morto, o velho Isaac se tornou a estrela radiante da ciência
e da razão em Cambridge. Duvido que eles quisessem essa imagem prejudicada pela revelação de que ele era, vamos admitir, um homem complicado em seus melhores momentos.
Oxford seguiu sendo solidamente Tudor, com repentinas explosões de exuberância georgiana, até chegarmos ao pub Eagle and Child em St. Giles.
– Bom – disse Postmartin quando nos sentamos no que ele chamou de “nicho”. – Thomas ainda não está aqui. É sempre mais fácil ter certos tipos de conversa com um
xerez na mão.
Quando você é um garoto, sua vida pode ser mensurada por uma série de conversas desconfortáveis relutantemente iniciadas por adultos determinados a dizer coisas
que você já sabe ou não quer saber.
Ele pediu o xerez, eu escolhi limonada.
– Suponho que você entenda quanto foi singular e sem precedentes essa decisão de Thomas de aceitar um aprendiz – Postmartin começou.
– As pessoas deixaram isso claro – confirmei.
– Acho que ele devia ter feito isso antes. Quando ficou claro que os relatos de morte por magia haviam sido muito exagerados.
– O que denunciou a presença de magia?
– O rejuvenescimento de Thomas foi uma boa pista – falou Postmartin. – Eu arquivo os relatórios do Dr. Walid, e os trechos que entendo são... estranhos.
– Devo me preocupar? – perguntei. Só recentemente me havia acostumado à ideia de que meu superior havia nascido em 1900 e vinha, de acordo com ele mesmo, rejuvenescendo
desde o início da década de 1970. Nightingale acreditava que isso poderia estar relacionado ao aumento geral da atividade mágica desde os anos de 1960, mas não queria
realmente olhar os dentes de um cavalo dado. Eu não o criticava por isso.
– Gostaria de saber – falou Postmartin. Ele enfiou a mão no bolso e me deu um cartão. Nele havia seu número de telefone, e-mail e, me surpreendi ao descobrir, seu
Twitter. – Se tiver dúvidas ou preocupações, sabe como entrar em contato comigo.
– E se entrar em contato com você – falei –, o que vai fazer?
– Ouvir suas preocupações. E serei muito solidário.
Pelo menos mais uma hora passou antes de Nightingale juntar-se a nós, e ele bebeu uma cerveja enquanto relatava o que conseguira descobrir. Até onde Nightingale
podia determinar, Jason Dunlop não tivera nenhum contato com Geoffrey Wheatcroft durante seu tempo na universidade.
Nightingale havia pensado em pedir uma relação de todos os alunos e professores que haviam estado em Magdalen na mesma época do nosso homem Jason. Mais uma lista
de cada aluno que já havia assistido a uma aula de Geoffrey Wheatcroft. O volume de folhas correspondia a um livro de capa dura grande e pesado o bastante para ser
usado para bater em um suspeito sem deixar hematomas – se é essa a ideia que você tem da aplicação da lei. Se os dados fossem introduzidos no HOLMES, poderiam ser
automaticamente comparados a quaisquer outros nomes que surgissem durante a fase comum do inquérito. A Equipe de Homicídios comandada por Stephanopoulos tinha três
funcionários cuja única função era fazer esse tipo de trabalho tedioso, demorado, mas absolutamente vital. O que a Folly tinha? Você pode imaginar o que a Folly
tinha, e ele não estava satisfeito com a perspectiva.
Postmartin perguntou o que Nightingale pretendia fazer a seguir.
Nightingale fez uma careta e bebeu mais um gole de cerveja.
– Pensei em recuperar os cartões de biblioteca restantes em Ambrose House. É hora de descobrir de onde vieram os outros livros.
Nightingale me disse para sair da estrada em Junction Five, e seguimos por Stokenchurch que, para mim, parecia um hospital com um belo vilarejo agregado, até virarmos
à esquerda em uma avenida B, que logo se tornou uma rua estreita entre paredes verdes de sebes muito antigas.
– Uma grande parte da propriedade é alugada para agricultores locais – contou Nightingale. – O portão está à sua esquerda.
Se ele não me avisasse, eu teria passado direto. A sebe tornou-se de repente uma alta parede de pedra onde havia um largo portão de ferro fundido. Parei o automóvel
e Nightingale desceu, seguido por Toby, para ir destrancar o portão com uma grande chave de ferro. Ele empurrou as duas partes, que se abriram com um clássico rangido
de filme de terror. Eu entrei, e Toby aproveitou para demarcar o pilar do portão. Parei e esperei Nightingale entrar no carro, mas ele apontou para onde a alameda
descrevia uma curva repentina e sumia atrás de um aglomerado de árvores.
– Encontre-me na esquina – disse ele. – Não é longe.
Ele estava certo. Virei a esquina e lá estava o prédio principal da escola bem na minha frente. Os pneus do Jaguar rangeram sobre o cascalho quando brequei, e eu
desci do carro para olhar em volta.
O edifício não era ocupado há cinquenta anos, e dava para perceber. O gramado e os canteiros agora eram mato, espinheiros, brejos cheios de sapos e pasto para vacas,
e a casa tinha uma cor cinza envelhecida, com janelas largas e fechadas por tábuas pregadas. Eu esperava alguma coisa gótica, mas aquilo era mais uma obra da Regência
que havia escapado da área rural e se espalhado em todas as direções antes de um arquiteto cruel contê-la e devolvê-la à sua estreita largura original. Era abandonado,
mas não dilapidado. Era possível ver as calhas limpas e alguns trechos de telhas novas no telhado.
Toby passou correndo, latiu duas vezes para chamar minha atenção e seguiu em frente por uma área de árvores e vegetação alta à esquerda da escola. Evidentemente,
ele era um cachorro rural. Nightingale chegou logo depois.
– Tinha esperança de que o lugar houvesse passado por uma reforma – comentei.
– Para ser o quê? – quis saber Nightingale.
– Não sei. Hotel fazenda e centro de conferência, spa, clínica de reabilitação para celebridades?
– Não – Nightingale respondeu depois que expliquei o que era uma clínica de reabilitação para celebridades. – A Folly ainda é dona de toda a propriedade, e o aluguel
pago pelos agricultores cobre as despesas de manutenção.
– Por que não foi vendida?
– Houve muita confusão depois da guerra – disse Nightingale. – Quando tudo foi resolvido, eu era a única pessoa com algum tipo de posto oficial. Decidir sozinho
a venda da escola me pareceu um pouco... pretensioso.
– Achou que a escola poderia reabrir?
Nightingale se encolheu.
– Estava tentando não pensar na escola.
– O terreno deve valer muito agora – comentei.
– Acha que seria melhor como centro de reabilitação de celebridades?
Eu tinha que admitir que isso era improvável. Apontei as portas principais fechadas com tábuas e presas por um pesado cadeado.
– Tem a chave?
Nightingale riu.
– É aí que você olha e aprende.
Caminhamos até um ponto à esquerda da escada que subia até a porta onde, escondida pelo mato alto, outra escada estreita descia até uma pesada porta de carvalho
que, percebi, não tinha correntes nem tábuas. E também não havia ali nenhuma maçaneta visível.
– Veja – disse Nightingale. – O portão noturno. Foi construído para que os lacaios pudessem ir diretamente de seus aposentos para a carruagem de seu senhor antes
que ele descesse a escada.
– Típico do século XVIII – falei.
– Exatamente. Mas nos meus tempos de escola nós usávamos a passagem para outra coisa. – Ele apoiou a mão à porta, perto de onde deveria estar a maçaneta, e resmungou
alguma coisa em latim. Houve um estalo, depois um rangido. Nightingale empurrou e a porta se abriu. – Havia um toque de recolher, e nós, jovens terríveis que éramos,
queríamos sair para beber. Não é fácil escapar de um toque de recolher quando os mestres podem comandar os espíritos da terra e do ar contra você.
– É mesmo? Os espíritos da terra e do ar?
– Era o que eles diziam. E eu acreditava.
– Então, nada de bebida – deduzi.
Nightingale criou uma luz mágica e passou pela porta. Eu não queria ficar para trás, por isso criei minha própria luz e o segui. Ouvi Toby latindo do lado de fora,
mas ele parecia relutar em nos seguir. Nossas luzes mágicas iluminavam um corredor curto de tijolos aparentes que me lembrava corredores de serviço semelhantes no
subterrâneo da Folly.
– Não até você chegar à sexta forma – respondeu ele. – Quando o aluno era levado à sala comum, o pessoal da sexta ensinava aos novatos o feitiço do portão noturno
e todos podiam ir beber. A menos que você fosse Horace Greenway, que não era muito popular entre os veteranos.
Chegamos a um cruzamento em T e seguimos para a direita.
– O que aconteceu com ele?
– Morreu na batalha de Creta – disse Nightingale.
– Queria saber como ele chegava ao pub.
– Ah, um de nós abria a porta para ele.
– E os professores nunca perceberam que vocês saíam?
Chegamos a um lance de degraus de madeira que subiam. Eles estalavam pavorosamente sob nossos pés.
– Os mestres sabiam – disse Nightingale. – Afinal, eles também já haviam passado pela sexta forma.
Quando chegamos a um pequeno corredor revestido de madeira captei um lampejo de vestigia, gotas de limão e sherbet, lã molhada e o som de pés correndo. Vi que havia
cabides de bronze para casacos nas duas paredes, e bancos cujo tamanho era apropriado para meninos adolescentes sentarem e trocarem seus sapatos. Passei a ponta
dos dedos pela madeira, mas, em vez de senti-la, senti o papel áspero de Beano e Eagle.
– Muitas lembranças – disse Nightingale quando me viu parado.
Fantasmas, eu estava pensando, lembranças... Não sabia se havia uma diferença.
Nightingale abriu uma velha porta de madeira e nós chegamos ao grande salão. As luzes mágicas repentinamente inadequadas revelaram duas escadas enormes, e paredes
nuas de pedra que ainda tinham os retângulos desbotados onde fotos emolduradas haviam estado no passado. Com todas as janelas cobertas, estaríamos na mais completa
escuridão se não tivéssemos nossas luzes.
– O grande salão – disse Nightingale. – A biblioteca fica no alto da escada sinistra.
Eu me contive antes de perguntar por que ela era sinistra, e então percebi que nos aproximávamos da escada à esquerda. Sinister é a palavra em latim para “esquerdo”,
o que faz dela o tipo de piada comum em escolas só para meninos, uma verdadeira propaganda a favor da educação mista. Imagine só, se um de seus colegas de escola
tivesse tido o infortúnio de se chamar Dexter, “direito” em latim, pensei. Como eles deviam ter rido. Quando estávamos subindo, notei fileiras de nomes entalhados
na parede distante, mas, antes que eu pudesse perguntar o que era aquilo, Nightingale estava no corredor e a caminho das frias profundezas da escola.
As paredes eram basicamente de tijolos pintados, com mais marcas retangulares mostrando onde haviam estado as fotografias. Eu havia ajudado minha mãe a limpar muitos
escritórios, por isso sabia que a pessoa contratada por Nightingale para fazer a faxina usava um grande aspirador Hoover industrial para limpar os tapetes – era
possível ver as faixas e, considerando a poeira acumulada, devia fazer duas semanas que ninguém aparecia para fazer o serviço.
Sem livros, objetos ou mobília, a biblioteca era como qualquer outra sala grande, tornada cavernosa pela iluminação trêmula de nossas luzes. Reconheci os arquivos
de cartões pelo contorno embaixo dos lençóis para protegê-los da poeira. A biblioteca comum na Folly tinha dois exatamente iguais àqueles. Na biblioteca da escola
havia oito. Felizmente, Nightingale disse que só um arquivo continha os cartões dos livros de magia. Ele manteve sua luz acesa, enquanto eu removia o lençol e abria
as gavetas. Não havia poeira e, surpreendentemente, senti pouco vestigia.
– Eram livros sobre magia – Nightingale falou quando mencionei esse detalhe. – Não livros mágicos.
Havia cartões de índice comuns com o nome do livro e o número na biblioteca datilografados no topo, e uma lista manuscrita de nomes mostrando quem os havia emprestado
e quando. Fomos ao Ryman antes de deixar Oxford e pegamos um pacote gigante de elásticos para eu poder preservar a ordem em que estavam os cartões. Levei eras para
analisar todas as gavetas, e acabei com um saco preto de lixo que não era muito mais leve para carregar do que o próprio armário do arquivo.
– Devíamos ter levado o móvel todo de uma vez – falei, mas Nightingale lembrou que ele era parafusado às tábuas do piso.
Apoiei o saco de lixo sobre um ombro e, cambaleando um pouco, segui Nightingale de volta ao salão principal. Aproveitei a oportunidade para perguntar sobre os nomes
na parede.
– São dos mortos homenageados – Nightingale respondeu. Ele me levou à escada do lado direito e apontou sua luz para os primeiros nomes. – Campanha da Península –
disse. Havia ali um punhado de nomes. – Campanha Waterloo. – Só um nome. Meia dúzia para a Crimeia, dois para a Revolta dos Sipais, talvez mais vinte nomes espalhados
por uma lista de guerras coloniais do século XIX, um total maior que os menos de vinte mortos na Primeira Guerra Mundial.
– Havia um acordo entre nós e os alemães para que não fosse usada magia – contou Nightingale. – Escapamos dessa.
– Aposto que isso o tornou muito popular – eu disse.
Nightingale apontou sua luz em outra direção para mostrar os mortos da Segunda Guerra homenageados naquela parede.
– Lá está Horace – comentou ele, iluminando a inscrição: Horace Greenway, Kastelli, 21 de maio de 1941. – E lá estão Sandy e Champers e Pascal. – A luz percorria
as fileiras de nomes, relacionados como baixas em Tobruk e Arnhem e outros lugares que eu lembrava vagamente das aulas de história. Mas muitos deles estavam relacionados
entre os mortos em um lugar chamado Ettersberg, em 19 de janeiro de 1945.
Deixei o saco de lixo no chão e criei uma luz mágica suficientemente brilhante para ver a sala toda – o memorial cobria duas paredes inteiras do teto ao chão. Devia
haver milhares de nomes.
– Lá está Donny Shanks, que escapou do cerco a Leningrado sem um arranhão e depois foi atingindo por um torpedo, e Smithy at Dieppe e Rupert Dance, ou Dance Traseiro
Preguiçoso, como costumávamos chamá-lo.
A voz de Nightingale falhou. Virei e vi lágrimas correndo por seu rosto, e desviei o olhar.
– Em alguns dias tudo isso parece muito distante, e em outros... – ele comentou.
– Quantos? – perguntei antes de conseguir me conter.
– Dois mil, trezentos e noventa e seis – Nightingale respondeu com precisão. – Três a cada cinco magos britânicos em idade de serviço militar. Muitos dos que sobreviveram
foram feridos ou ficaram em estado mental tão lamentável que nunca mais praticaram. – Ele fez um gesto, e sua luz mágica saltou e pairou sobre a mão. – Acho que
já perdemos muito tempo no passado.
Deixei minha luz se apagar, joguei o saco de lixo sobre um ombro e o segui. Quando estávamos saindo, perguntei quem havia entalhado os nomes.
– Eu – respondeu Nightingale. – O hospital nos incentivou a adotar um hobby. Escolhi entalhe em madeira. Não contei a eles por quê.
– Por que não?
Voltamos aos corredores de serviço.
– Os médicos já estavam preocupados com minha morbidez.
– Por que entalhou os nomes?
– Ah, alguém tinha que fazer isso, e até onde eu podia ver, eu era o único ainda ativo. E também tinha aquela ideia ridícula de que isso poderia me ajudar.
– Ajudou?
– Não. Não realmente.
Saímos pelo portão noturno e fomos ofuscados pela luz da tarde. Eu havia esquecido que ainda era dia fora da escola. Nightingale fechou o portão atrás de nós e me
seguiu escada acima. Toby havia ido dormir no capô do Jaguar, cujo metal o sol havia aquecido. Era possível ver as marcas de lama que ele deixara na pintura. Nightingale
enrugou a testa.
– Por que temos esse cachorro? – perguntou.
– Ele diverte Molly – respondi, e joguei os cartões de arquivo no banco de trás. Toby acordou com o som da porta e, obediente, voltou ao banco traseiro, onde adormeceu
prontamente. Nightingale e eu afivelamos o cinto de segurança, e eu liguei o motor. Olhei pela última vez para as janelas da velha escola quando manobrei o Jaguar
para voltar a Londres.
Estava escuro quando entramos na M25 para enfrentar o trânsito da hora do rush. Grandes nuvens cinzentas se juntavam vindo do leste, e logo os primeiros pingos de
chuva caíam sobre o para-brisa. Os antiquados controles do Jaguar eram sólidos como rocha, mas os limpadores eram uma desgraça.
Nightingale fez a viagem de volta com o rosto virado para o lado, olhando pela janela. Não tentei puxar conversa.
Estávamos chegando ao Westway, quando meu telefone tocou. Atendi e pus a ligação no viva voz. Era Ash.
– Posso vê-la – ele gritou. Ao fundo, ouvi barulho de uma multidão e uma melodia cadenciada.
– Onde você está?
– No Pulsar Club.
– Tem certeza de que é ela? – perguntei.
– Alta, magérrima, pálida, longos cabelos negros. Tem cheiro de morte – acrescentou Ash. – Quem mais poderia ser?
Disse a ele para não se aproximar e avisei que estava a caminho. Nightingale pôs a mão para fora na chuva e prendeu a luz giratória sobre o teto do carro, e eu comecei
a ganhar velocidade.
Todo homem acha que é um excelente motorista. Todo policial que já teve que pegar um globo ocular em uma poça sabe que a maioria está se enganando. Dirigir no trânsito
é difícil, estressante e muito perigoso. Por causa disso, a Polícia Metropolitana tem uma escola de direção mundialmente famosa em Hendon, onde uma série integrada
de avançados cursos de pilotagem é criada para treinar oficiais e capacitá-los para promover uma perseguição em uma rua da cidade e manter a contagem de corpos em
números de um dígito.
Quando saí da Westway e entrei no tráfego pesado na Harrow Road, eu realmente desejei ser um deles. Nightingale, como meu oficial sênior, não deveria ter me deixado
dirigir. Mas ele nem devia saber que existia uma coisa chamada curso avançado de direção. Ou mesmo um exame de motorista, considerando que o teste só se tornara
obrigatório em 1934.
Entrei em Edgeware Road e a velocidade caiu para menos de quarenta quilômetros, mesmo com todos os motoristas de consciência pesada se esforçando para sair da minha
frente. Aproveitei a oportunidade para ligar para Ash. Disse a ele que estávamos a menos de dez minutos.
– Ela está a caminho da porta – Ash respondeu.
– Tem alguém com ela?
– Um homem.
Merda, merda, merda... Nightingale pensava muito mais depressa que eu. Ele tirou um rádio do porta-luvas e digitou um número – impressionante, considerando que eu
havia ensinado a ele como usar o aparelho uma semana atrás.
– Vá atrás dela – falei ao telefone –, mas não desligue e não se arrisque.
Esperei até Marble Arch para virar à direita – a Oxford Street é restrita a ônibus e táxis, e eu contava com sua relativa tranquilidade para cortar caminho, em vez
de percorrer o estranho sistema de vias de mão única em torno da Bond Street.
– Stephanopoulos está a caminho – disse Nightingale.
Perguntei a Ash onde ele estava.
– Saindo da boate. Ela está a cinco metros de mim.
– Indo em que direção?
– Para Piccadilly – ele disse.
Determinei a localização em minha cabeça.
– Sherwood Street – disse a Nightingale, que passou a informação para Stephanopoulos. – Indo em direção ao sul.
– O que faço se ela atacar o namorado? – Ash perguntou.
Desviei de um ônibus parado na rua com o pisca-pisca aceso, e a luz giratória sobre o carro iluminou o rosto dos passageiros que, pela janela, me viram passar.
– Fique longe dela – falei. – Espere por nós.
– Tarde demais – Ash respondeu. – Acho que ela me viu.
Os instrutores da autoescola não teriam ficado contentes se me vissem ultrapassar os faróis vermelhos em Oxford Circus e fazer uma curva à direita derrapando e cantando
pneus, entrando na Regent Street e deixando para trás um rastro de fumaça azul.
– Em frente – falou Nightingale.
– A boa notícia – Ash continuou – é que ela liberou o pobre rapaz.
– Eles estão quase em Denham Street – Nightingale avisou, referindo-se à polícia local. – Stephanopoulos está mandando a equipe cercar a área.
Quase gritei quando um motorista obviamente surdo e mudo em um Ford Mondeo decidiu parar na minha frente. Felizmente, as coisas que gritei para ele se perderam em
meio ao barulho da sirene.
– A má notícia – Ash anunciou – é que ela está vindo em minha direção.
Eu o mandei correr.
– Tarde demais – foi a resposta.
Ouvi um chiado, um grito e o barulho de um celular arremessado contra uma superfície dura.
Entrei na Glasshouse Street fazendo a curva em duas rodas, o que juro que me rendeu aplausos dos pedestres e um latido assustado de Toby, que bateu contra a porta
do passageiro. Havia um motivo para o Jaguar Mk II ser o carro de fuga favorito dos malfeitores e do Esquadrão Voador, e o Jaguar de Nightingale sem dúvida havia
sido feito para uma perseguição. E foi por isso que, quando a traseira do carro estabilizou, pude pisar fundo e chegar aos noventa por hora em poucos segundos.
Então, o que eu pensava ser o reflexo da nossa luz giratória se configurou como as luzes de uma ambulância, e todos nós descobrimos como eram bons os freios a disco
nas quatro rodas. A resposta foi imediata. Se houvesse um airbag no carro, agora eu o estaria comendo. Em vez disso, tinha um terrível hematoma no peito do cinto
de segurança, mas só notei isso mais tarde, porque saí do automóvel e corri pela Sherwood Street em velocidade suficiente para acompanhar a ambulância. Ela parou,
eu não.
Um lado da Sherwood Street era uma arcada ladrilhada com cerâmica no estilo da década de 1950 que, tendo sido projetada para parecer um banheiro público, era usada
como tal, talvez de maneira justificável, pelos bêbados que ficavam na rua até tarde da noite. Até onde a Equipe de Homicídios conseguiu reconstruir mais tarde,
tudo indicava que a comedora de pênis planejava levar sua última vítima para as sombras para uma vasectomia improvisada.
Encontrei Ash prostrado no meio de um círculo de cidadãos preocupados, dois deles tentando acalmar o pobre rapaz que se retorcia no chão. Havia sangue nele, nos
cidadãos preocupados e na estaca de ferro de meio metro cravada em seu ombro.
Consegui abrir espaço gritando “polícia!” para as pessoas ali aglomeradas, e tentei colocá-lo na posição de recuperação.
– Ash, eu disse que era para ficar longe dela – falei.
Ash parou de se debater pelo tempo necessário para olhar para mim.
– Peter – disse ele. – A vadia me atacou com uma grade.
6
A Imperatriz do Prazer
Os homens e mulheres do serviço de ambulâncias de Londres não eram propensos à histeria, considerando que passavam seus dias removendo vítimas de acidentes de carro
fatais, tentativas de suicídio bem-sucedidas e frustradas e gente que, “acidentalmente” caía na frente de um trem. Uma rotina diária feita de dor e infortúnio acaba
forjando personalidades fortes e pragmáticas. Resumindo, o tipo de pessoa que você quer no comando da sua ambulância no meio da noite. A paramédica na ambulância
de Ash era uma mulher de meia idade, com cabelos curtos e práticos e sotaque neozelandês. Mas, alguns minutos depois de partirmos, notei que ela começava a perder
a compostura.
– A vadia – Ash gritou –, a vadia me furou com uma grade!
Mais ou menos meio metro de ferro forjado arrancado de um belo pedaço de cerca vitoriana, considerando o trabalho preciso de serralheria e soldas. Para o meu olhar
destreinado, a impressão era de que a lança havia atravessado seu coração. Ash não parava de se debater e gritar.
– Segure-o – gritou a paramédica.
Agarrei os braços de Ash e tentei contê-lo em cima da maca.
– Não pode dar alguma coisa a ele? – perguntei.
A paramédica me olhou de um jeito transtornado.
– Dar alguma coisa? – repetiu. – Ele devia estar morto.
Ash soltou um braço da minha mão e agarrou o pedaço de ferro.
– Tire isto daqui – ele gritou. – É ferro frio, tire daqui!
– Podemos puxar? – perguntei.
A paramédica perdeu o controle.
– Você é maluco?
– Ferro frio – disse ele. – Está me matando.
– Vamos tirar no hospital – falei.
– Nada de hospital – Ash protestou. – Preciso do rio.
– O Dr. Walid vai estar lá – eu disse.
Ash parou de se debater e agarrou minha mão. Ele me puxou para mais perto.
– Por favor, Peter, o rio – insistiu.
Polidori fala sobre o ferro frio ter um efeito deletério sobre os encantados e seus muitos primos, mas imaginei que ele inventava isso ou declarava o óbvio. Ferro
frio tem um efeito deletério sobre qualquer pessoa, se você o enfiar no corpo de alguém.
– Por favor – pediu Ash.
– Vou tirar isso dele – avisei.
A paramédica disse que considerava minha decisão inadequada e que, simplesmente por considerar essa possibilidade, eu era uma pessoa anatomicamente incompleta de
baixa inteligência e com uma tendência para o autoabuso.
Segurou a estaca com as duas mãos. O sangue a deixava escorregadia. Ash percebeu o que eu fazia e ficou rígido. Quando tirei a barra de ferro, não foi o barulho
de tecido rasgando que me incomodou – o som foi encoberto pelo grito de Ash. O que não vou esquecer é de ter sentido a vibração do osso raspando a beirada áspera
do ferro.
O jato de sangue atingiu meu rosto. Senti cheiro de cobre e, estranhamente, de uma mistura de greasepaint, um tipo de maquiagem usada por atores, e ozônio. A paramédica
me empurrou e eu caí para trás quando a ambulância fez uma curva. Ela começou a cobrir com gaze os ferimentos de entrada e saída e a segurá-los no lugar. As bandagens
ficavam vermelhas e encharcadas de sangue antes mesmo de ela terminar. Enquanto trabalhava, ela resmungava palavrões.
Ash havia parado de se debater, estava silencioso. Seu rosto havia ficado pálido e sem tônus muscular. Rastejei pela ambulância até conseguir enfiar a cabeça na
cabine do motorista. Subíamos a Tottenham Court Road – menos de cinco minutos distante do hospital.
O motorista tinha a minha idade, era branco, magro, e usava um brinco de crânio e ossos em sua orelha.
Disse a ele para voltar, e ele me mandou para o inferno.
– Não podemos levá-lo ao hospital – falei –, ele tem uma bomba.
– O quê? – gritou o motorista.
– Ele pode estar preso a uma bomba – eu disse.
O homem pisou no breque e eu fui arremessado de cabeça para o interior da cabine. Ouvi o grito frustrado da paramédica no fundo da ambulância, e vi o motorista abrir
a porta e sair correndo pela rua.
Esse é um bom exemplo da razão pela qual você não deve usar a primeira mentira que passa por sua cabeça.
Pulei no assento vazio, fechei a porta, engatei a marcha da ambulância e lá fomos nós.
O serviço de ambulância de Londres usa uma frota de vans Mercedes Sprinter que são como as Sprinter comuns, mas com duas toneladas de equipamento na parte de trás
e uma suspensão que evita que o motorista mate o paciente cada vez que passa sobre uma lombada.
E também tem várias telas de LCD, botões e seletores que eu, pelo bem da simplicidade, simplesmente ignorei. Por isso ainda fazíamos barulho e iluminávamos a rua
toda quando passamos pela entrada de ambulâncias do UCH e seguimos pela Gower Street em direção ao rio.
Foi mais ou menos nessa hora, de acordo com o registro de chamadas, que a paramédica usou seu Airwave para reportar que a ambulância havia sido sequestrada por um
fugitivo da ala psiquiátrica que fingia ser policial.
Não há nada como dirigir um veículo de emergência com uma luz giratória na capota e uma sirene projetada para penetrar o casulo de iPod e sistema de som em que vivem
muitos motoristas e assustar pedestres aleatórios, empurrando-os de volta para a calçada. Moisés abrindo o Mar Vermelho devia ter se sentido como eu me sentia quando
atravessei o cruzamento da High Holborn com a Endell Street, com um breve momento de déjà vu quando desci a Bow Street e passei pelo andaime que marcava o local
onde ainda eram feitos os reparos dos danos causados à Royal Opera House.
É fácil se confundir tentando ir para o sul a partir de Covent Garden. Todas as vias eram fechadas com correntes e bloqueadas para não se tornarem rotas de fuga
de ratos do tráfego, mas eu havia passado dois anos patrulhando a área de Charing Cross, então, sabia onde estavam as passagens. Virei à direita em Exeter Street
e à esquerda em Burleigh Street, o que fez a paramédica no fundo gritar comigo de novo. O que foi desnecessário, já que eu sentia que finalmente começava a dominar
os complicados comandos da ambulância.
– Como ele está? – gritei por cima do ombro.
– Sangrando até morrer – a mulher gritou de volta.
Passei por entre alguns carros na Strand antes de atravessar o fluxo do tráfego e entrar na Savoy Street, uma via estreita que segue diretamente até o rio, a oeste
da Ponte Waterloo. Era difícil encontrar vagas para estacionar no centro de Londres, e as pessoas costumavam parar seus carros nas ruas sem pensar que um veículo
mais largo e pesado poderia passar por ali dirigido por alguém não muito confiante. Dito isso, o total dos danos causados ficou abaixo dos vinte mil – na maioria
pintura arranhada, espelhos laterais arrancados, laterais amassadas e algumas bicicletas de corrida que nunca deviam ter sido deixadas presas a um suporte sobre
a capota. Sem contar os estragos na ambulância que, tenho certeza, foram totalmente superficiais.
Cheguei ao fim da rua e ao Embankment, virei à direita e parei a ambulância na frente do píer Savoy. Pulei do assento do motorista para o fundo da ambulância, onde
a paramédica me olhou com ódio perplexo.
Ash quase não respirava, e a bandagem em seu peito estava completamente encharcada de sangue. Quando pedi para a paramédica abrir a porta, por um momento pensei
que ela ia me agredir, mas ela soltou a trava e empurrou as portas. Não me ajudou a tirar Ash do veículo, e eu não tinha tempo para decifrar como destravar a maca
e tirá-la dos trilhos, por isso o joguei sobre um ombro e saí correndo pela garoa.
Escolhi o píer Savoy por duas razões. Estava desativado, por isso eu não teria que passar por cima de um barco para chegar ao rio, e havia ali uma boa rampa de acesso
que teria sido perfeita para empurrar a maca, se eu tivesse conseguido tirar aquela coisa da ambulância. Em vez disso, tive que subir com dificuldade a rampa até
o portão com Ash sobre um ombro. Ele era um cara grande e saudável, e eu já me imaginava alguns centímetros mais baixo quando alcançasse o Tâmisa. No topo da rampa
tem uma construção que lembra uma cabine de telefone aberta, instalada para impedir que turistas, bêbados e criminosos comuns corram direto para o píer.
Parei para respirar e percebi que, acima do barulho da sirene da ambulância, eu podia ouvir outras sirenes se aproximando. Olhei para um lado e para o outro do Embankment,
e vi luzes azuis piscando e se aproximando dos dois lados. Espiei por cima do parapeito e vi que a maré estava baixa, o que significava que pular por cima dele seria
mergulhar de uma altura de três metros sobre pedras e lodo. Olhei para a cabine. Ainda havia a fechadura de metal de que eu me lembrava. Minha intenção era uma ação
sutil, mas como eu não tinha mais tempo, explodi a porta e a arranquei das dobradiças.
Quando descia a rampa correndo, ouvi as viaturas de emergência brecando com estardalhaço e uma mistura de grunhidos, gritos e estática de rádio que geralmente anunciam
que o Velho Bill chegou para pegar alguém. Quando atravessei correndo a largura do píer, alguma coisa me acertou com força nas coxas. A grade de segurança, percebi
tarde demais, e mergulhei de cabeça no Tâmisa.
A Deusa do Rio lhe dirá orgulhosa que o Tâmisa é, oficialmente, o rio industrial mais limpo da Europa, mas a água não é tão limpa que você queira bebê-la. Subi à
tona arfando, sentindo na boca um gosto metálico.
Uma sombra escura flutuava no rio a um metro de mim. Ash boiando de costas.
Eu usava um par de botas Dr. Martens sempre que estava trabalhando. São bonitas, resistentes e, o que é crucial, conservam parte daquela adequação de filme de horror
para chutes e pontapés, o que faz de uma DM o calçado preferido de todo skinhead e encrenqueiro de torcida de futebol. Por outro lado, elas são pesadas, e você não
vai querer usá-las quando tiver que nadar. Eu as tirei e nadei em direção a Ash. Ele parecia estar muito mais animado que eu. Consegui ouvir sua respiração, e ela
soava mais forte que antes.
– Ash? – chamei. – Está se sentindo melhor?
– Muito melhor – ele disse, lânguido. – A água é um pouco salgada, mas morna e agradável.
Para mim, a água era gelada o bastante para congelar o sangue. Olhei para o píer e vi meus colegas policiais apontando suas lanternas para a água, mas não tinha
problema, porque a maré continuava vazando e Ash e eu já estávamos duzentos metros correnteza abaixo. Bem, não teria problema até que fôssemos jogados no Mar do
Norte, ou eu morresse de hipotermia ou afogado – ou, mais provavelmente, de uma excitante combinação dos três fatores.
A correnteza nos levou sob os arcos da Ponte Waterloo.
– Você não me falou que ela era uma dama pálida – Ash comentou.
– Quem é a dama pálida? – perguntei.
– A dama da morte – ele disse, e depois falou alguma coisa em uma língua que parecia um pouco com o galês, mas não devia ser.
– Ei – chamou uma voz próxima. – O que estão fazendo no rio? – Jovem, feminina, de classe média, mas com as vogais marcadas provenientes de ter pais que acreditam
em educação, ou... Essa era uma das meninas da Mãe Tâmisa.
– Essa é uma pergunta difícil – gaguejei. – Eu estava saindo de Oxford e dirigia de volta para casa, mas Ash me telefonou, e a partir daí tudo ficou muito maluco.
O que você está fazendo no rio?
– É nosso turno na rota – disse uma segunda voz quando emergimos do outro lado da ponte.
Ash flutuava satisfeito, e eu me perguntei se era o único com dificuldade para manter uma conversa e nadar ao mesmo tempo. Alguma coisa morna roçou em minha perna
e eu me virei a tempo de ver a cabeça de uma garota emergir da água. Era difícil vê-la claramente apenas com as luzes da margem, mas reconheci o formato felino dos
olhos e o queixo forte que ela herdara da mãe.
– O que vocês são? Salva-vidas? – perguntei.
– Não exatamente – ela respondeu. – Se você sair sozinho do rio, muito bem. Se não, você pertence à Mamãe.
A primeira garota voltou à tona mais uma vez e se elevou até estar com água na altura da cintura, tão firme quanto se pisasse terra firme. Notei que ela vestia um
maiô com o logotipo da Orca no peito. A luz que iluminava seu rosto era suficiente para eu reconhecê-la: Olympia, vulgo Counter’s Creek, uma das filhas mais novas
de Mãe Tâmisa, o que significava que a outra era sua irmã gêmea, Chelsea.
– Gosta deste maiô? – Olympia perguntou. – É Neoprene. O melhor que se pode comprar.
– Pensei que preferissem nadar sem roupa – respondi. Beverly, a irmã mais velha, nadava nua no rio na última vez que a vi.
– Vai sonhando – disse Olympia.
Chelsea emergiu do outro lado de Ash.
– Achei que havia sentido cheiro de sangue – disse ela. – Como vai, Ash?
– Muito melhor agora – respondeu ele, sonolento.
– Acho que precisamos levá-lo de volta para a mamãe – opinou ela.
– Ele me pediu para trazê-lo para o rio – contei. Minhas pernas estavam ficando muito cansadas, e quando olhei em volta descobri que a margem estava muito mais longe.
A correnteza me arrastava para o canal central.
– O que você quer? Uma medalha? – perguntou Chelsea.
– Uma carona de volta à margem? – sugeri.
– Não é assim que funciona – Olympia avisou.
– Mas não se preocupe – disse Chelsea. – Se você afundar pela terceira vez, estarei esperando.
E então, com um estalo abafado e inexpressivo, as três desapareceram sob a superfície.
Nesse momento eu disse uma longa sequência de palavrões, e teria xingado por mais tempo se não estivesse morrendo congelado. Tentei determinar que margem estava
mais perto. Era difícil, porque a combinação de maré e correnteza me levava na direção da ponte Blackfriars.
*
A mesma ponte sob a qual Roberto Calvi, o Banqueiro de Deus,2 foi estrangulado – um presságio não muito promissor para mim. Eu estava congelando, tentando lembrar
o treinamento de sobrevivência na água que fazia parte do curso de natação na escola primária. Minhas pernas estavam pesadas e os braços doíam e, até onde eu podia
ver, nenhuma das margens estava mais próxima.
É muito fácil morrer no Tâmisa; muitas pessoas conseguem todos os anos. Eu começava a ter medo de ser uma delas.
Nadei para a margem sul, onde ficava a rua e era mais provável que houvesse gente para me ajudar. Além do mais, a Torre Oxo era um conveniente ponto de referência.
Não tentei lutar contra a corrente, e concentrei o que me restava de força na tentativa de chegar à margem.
Nunca fui um nadador resistente, mas se a alternativa é entrar para as estatísticas, é surpreendente o que se pode fazer com uma reserva de energia. O mundo se contraiu
à minha volta até não haver nada além do peso frio de minhas roupas, a dor nos braços e um ou outro tapa na cara de uma onda que me deixava ofegante e tossindo.
Mãe Tâmisa, supliquei, você me deve essa: leve-me até a margem.
De repente percebi que meus braços não estavam funcionando bem, e que ficava mais difícil até manter o rosto fora da água.
Mãe Tâmisa, pedi novamente, por favor.
Em algum ponto a maré mudou, e eu me senti sendo levado correnteza acima até me chocar contra uma elevação aleatória que me fez parar e me empurrou com delicadeza
para a margem de lama do Tâmisa. Arrastei-me derrapando margem acima, subi tanto quanto pude, e então rolei e me deitei de costas. Olhei para as nuvens de chuva
lá em cima, pintadas pelas luzes da cidade com um entediado vermelho sódio, e pensei que, de todas as coisas que eu nunca mais queria fazer, essa estava perto do
topo da lista. Sentia tanto frio que meus dedos dos pés e das mãos estavam entorpecidos, mas eu tremia, o que imaginei ser um bom sinal, porque tinha aquela vaga
noção de que é quando para de tremer que você tem que se preocupar de verdade. Decidi que podia ficar ali mesmo e recuperar o fôlego, ou talvez dormir um pouco.
Havia sido um longo dia.
Diferente do que você pode ter escutado, é quase impossível ficar prostrado e gemendo em um local público de Londres sem atrair uma multidão de supostos bons samaritanos
– mesmo que esteja chovendo.
– Você está bem, cara?
Havia pessoas no parapeito sobre mim. Olhei para os rostos curiosos de onde eu estava deitado. Pessoas úteis com telefones celulares que, eu esperava, ligariam para
a polícia que, por sua vez, provavelmente me pediriam ajuda no inquérito sobre uma ambulância sequestrada.
Não se meta nos assuntos dos magos, pensei, porque são complexos e difíceis de esclarecer.
Pensei em correr, mas a paramédica e o motorista da ambulância podiam me identificar e, de qualquer maneira, eu estava cansado demais para me mexer.
– Aguente aí, cara – disse a voz acima de mim. – A polícia está a caminho.
Os policiais demoraram cinco minutos para chegar, o que não era tão ruim em termos de tempo de resposta. Fui envolto em um cobertor e acomodado no banco traseiro
de uma viatura, onde relatei que havia caído no rio quando perseguia um suspeito e acabara sendo levado pela correnteza. Eles não me fizeram as perguntas habituais
sobre meu suspeito imaginário, o que achei estranho, até que vi o Jaguar parar ao lado da viatura e compreendi que Nightingale já havia criado uma versão plausível
para os fatos.
Quando passávamos pela ponte Waterloo já no caminho de volta, ele me perguntou se Ash estava certo.
– Acho que sim – respondi. – Chelsea e Olympia não pareciam preocupadas.
Nightingale assentiu.
– Bom trabalho – disse.
– Não estou encrencado? – eu quis saber.
– Está – ele avisou. – Mas não comigo.
Mas na manhã seguinte, ele me fez levantar e treinar o dobro do tempo – o filho da mãe.
Depois do treino, levei a edição de capa dura de Oxford para a caverna tecnológica, onde a joguei sobre uma chaise longue e tentei fingir que ela não existia. Introduzir
todos aqueles dados ia dar muito trabalho e, provavelmente, nem valeria a pena. Quando descobri que Lesley havia mandado três e-mails falando do insuportável tédio
de uma pequena cidade litorânea fora de temporada, tive uma daquelas ideias boas e estúpidas ao mesmo tempo. Respondi perguntando se ela queria fazer esse trabalho
de digitação de dados. Ela disse que sim, e eu chamei o serviço de entregas e providenciei para que a cópia fosse retirada e levada até ela de moto. Como não é possível
pedir a alguém como Lesley, mesmo entediada como estava, para fazer alguma coisa tão aborrecida sem dar uma explicação, resumi rapidamente para ela quem era Jason
Dunlop e como procurávamos conexões dele com Geoffrey Wheatcroft.
Livros perdidos de magia, ela escreveu. Digitação de dados. Estou muito triste.
Serve para se ocupar, respondi.
Ela não respondeu.
O Dr. Walid havia me mandado alguns arquivos jpeg do que pareciam ser fatias finas de couve-flor, mas que o texto anexo explicava serem secções do cérebro de Michael
“the Bone” Adjayi. Quando ampliadas, elas mostravam a reveladora lesão neurológica indicativa de degradação hipertaumatúrgica – que é o que mata quem faz magia demais.
Além disso, como aprendemos em nosso último caso importante, também é o que acontece se algum filho da mãe usa você para fazer magia por procuração. É claro que
testemunhas e depoimentos são importantes, mas nada supera a evidência física empírica. Na verdade, nem é tão claro assim, porque muitos policiais acreditam que
a palavra empírico tem alguma coisa a ver com Darth Vader, mas deveria ser claro. Para ser ainda mais contundente, o Dr. Walid incluiu imagens de secções do cérebro
de Cyrus Wilkinson para fazer a comparação. A lesão era idêntica.
Essa era a prova de que Mickey the Bone havia usado o mesmo método que Cyrus Wilkinson. Eu só queria entender por quê.
Fiz o pacote da remessa para Lesley e o entreguei a Molly com instruções claras sobre não morder o mensageiro que viria retirá-lo.
De volta à garagem, encontrei um bilhete dobrado e preso ao para-brisa do Jaguar, embaixo do limpador. A caligrafia surpreendentemente deselegante de Nightingale
anunciava: O uso não supervisionado do Jaguar está suspenso até que a carteira de motorista seja apresentada. Então, Nightingale sabia sobre os cursos de direção,
afinal.
Usei o Asbo. Ele é mais veloz mesmo.
Cheam fica no sudoeste de Londres, no ponto mais extremo onde você pode chegar sem sair da capital. É outro típico vilarejo da periferia londrina que conseguiu,
em pouco tempo, uma estação de trem, algumas luxuosas casas vitorianas e, finalmente, um sufocante cobertor de construções em falso estilo Tudor erguidas na década
de 1930. Cheam é o que o cinturão verde deveria evitar que acontecesse com o resto do sudeste da Inglaterra. Fotos de Cheam enfeitavam as paredes dos gabinetes de
planejamento de todas as prefeituras para servir como um terrível aviso. E isso foi antes de qualquer indivíduo negro se mudar para a área.
Chez Adjayi era uma ampla vila eduardiana localizada em uma via repleta de variações do mesmo tema. Com exceção de um oval de folhagens, o jardim frontal havia sido
cimentado para melhor acomodar os grandes carros alemães convenientemente estacionados na frente da casa. Pai e mãe haviam imigrado no fim da década de 1960, conseguiram
empregos para os quais tinham qualificações demais e compraram uma propriedade negligenciada em uma área relativamente depreciada, e agora viviam dos rendimentos
gerados pelo crescimento da propriedade. O pai usava ternos condizentes com sua posição e era o homem da casa, a mãe tinha um quarto cheio de pares de sapatos e
três telefones celulares. Esperava-se que os filhos se tornassem médicos, advogados ou engenheiros em ordem decrescente de preferência.
Uma jovem mais ou menos da minha idade abriu a porta. Imaginei que fosse uma das irmãs ou uma prima próxima. Notei a mesma testa larga, as maçãs do rosto altas e
o mesmo nariz chato, apesar de o rosto ser mais rechonchudo e redondo que o de Michael e de ela usar óculos de leitura com armação preta em formato meia lua. A mulher
sorriu ao me ver, mas o sorriso desapareceu quando me identifiquei. Ela vestia short de corrida e blusa de moletom. Senti cheiro de suor e cera para móveis. Quando
ela me deixou entrar, vi que o Hoover ocupava um lugar no meio do hall e que as fotos emolduradas nas paredes haviam sido limpas e polidas.
Perguntei o nome dela.
– Martha – disse a jovem, e ela deve ter percebido que me encolhi, porque ela riu. – Sim, eu sei. Estou na cozinha – disse, e me levou até lá. Era uma cozinha grande
com uma mesa de carvalho que era europeia, mas estava coberta de panelas, utensílios e bacias de plástico cheias de mandioca e bacalhau, que eram o mais puro oeste
da África.
Recusei chá e biscoitos, e nos sentamos na ponta da mesa.
– Minha mãe está no hospital – disse Martha. – Estou fazendo a faxina. – Ela não precisava ter explicado. Muita gente da família de minha mãe em Londres havia morrido
ao longo dos anos, eu sabia como as coisas funcionavam. Assim que a notícia sobre a morte de Michael Adjayi se espalhasse, os parentes começariam a chegar, e que
Deus ajudasse Martha se a casa não estivesse impecável quando eles aparecessem.
– Ele era o filho mais velho? – perguntei.
– O único filho – Martha respondeu com amargura. – Tenho outras duas irmãs. Elas não moram mais aqui.
Assenti para demonstrar que entendia. Filho preferido, as meninas trabalham, mas o menino leva o nome adiante.
– Há quanto tempo ele tocava jazz?
– Mickey? Desde sempre – Martha respondeu.
– Acha que ele era bom?
– Ele era brilhante.
Perguntei se os pais dela se incomodavam por ele ser músico, mas a jovem explicou que Mickey escondia a atividade.
– Ele frequentava a Queen Mary’s, leitura da lei. Imaginava que assim teria pelo menos quatro anos para ficar famoso.
E quando fosse famoso, mãe e pai não se incomodariam – desde que ele também fosse rico. Era evidente que Martha considerava o plano viável. Perguntei sobre a vida
amorosa de Mickey e, aparentemente, também não havia problemas nessa área – ou, pelo menos, não havia tantos problemas quanto poderia haver.
– Garota branca? – perguntei.
– Sim – disse ela. – Mas Cherie era legal e rica, e isso amenizou o golpe para papai e mamãe.
Martha não tinha detalhes sobre a namorada do irmão, mas prometeu que perguntaria aos pais quando eles voltassem. Ela não conseguia pensar em ninguém que quisesse
o mal de Mickey, ou em alguma coisa suspeita.
– Ele simplesmente saiu de casa uma tarde – ela acrescentou –, e voltou morto.
Quando voltava de Cheam, recebi um telefonema da Srta. Ghosh da União dos Músicos. Ela queria me contar sobre a nova onda de jazz anglo-indiano que chegava de Mumbai
ultimamente. Eu a deixei falar – era melhor que o rádio.
– Enfim – ela disse depois de um tempo –, houve um caso. Um associado chamado Henry Bellrush, morreu repentinamente depois de uma apresentação. Lembrei porque o
encontrei algumas vezes, e ele sempre me pareceu saudável e em boa forma física. Maratona de Londres... esse tipo de coisa.
Ela me forneceu o endereço. Ficava em Wimbledon, e como eu ainda estava do lado sul do rio, fui para lá. Além do mais, tinha certeza de que, mais cedo ou mais tarde
a história do sequestro da ambulância ia acabar caindo sobre minha cabeça. Eu não estava com pressa de voltar e enfrentar o problema.
*
– Não tenho certeza de que entendo realmente o que veio fazer aqui – disse a Sra. Bellrush quando me ofereceu uma xícara de chá.
Peguei a xícara e o pires – porcelana das visitas, percebi – e os acomodei sobre as pernas. Não ousava deixá-los em cima da imaculada mesinha de mogno, e equilibrar
o chá precariamente sobre o braço do sofá estava fora de cogitação.
– De vez em quando revemos os casos de morte ocorridos fora dos hospitais – falei.
– Por quê? – perguntou a Sra. Bellrush, e se sentou na minha frente, acomodando as pernas unidas do lado esquerdo. Anita Bellrush, viúva de Henry “os Lábios” Bellrush,
tinha cinquenta e poucos anos, vestia calça roxa e blusa de seda branca passada com capricho. Os cabelos eram claros e os olhos eram azuis e estreitos. Ela morava
em uma casa de tijolos típica da década de 1930, com janelas panorâmicas que é possível encontrar em todos os bairros do subúrbio da Inglaterra. Porém, essa casa
ficava em Wimbledon. A mobília era de mogno sólido coberta por uma camada de toalhinhas, e havia poltronas de estampa floral e cerâmica Dresden. Era chintz, mas
não do tipo que eu estava acostumado a ver nas casas de mulheres sozinhas cercadas de gatos. Talvez fosse a atitude da Sra. Bellrush, ou seus duros olhos azuis,
mas tive a clara impressão de que aquele chintz era agressivo, guerreiro, o tipo de chintz que saía para conquistar o Império e ainda tinha o bom gosto para se vestir
bem para o jantar. Se algum móvel moderno e prático da Ikea desse as caras por ali, certamente viraria lenha na lareira.
– Por causa de Harold Shipman – eu disse. – Lembra-se dele?
– O médico que matou seus pacientes – falou ela. – Ah, entendo. Fazem verificações aleatórias de mortes simples para garantir que a declaração é precisa. Presumo
que também apliquem sistemas de reconhecimento de padrão para tentar identificar quaisquer tendências anômalas.
Era uma ótima ideia, mas não fazíamos nada disso porque, de acordo com uma das principais regras do ofício de um policial, o trabalho sempre vai aparecer procurando
por você, portanto, não faz sentido ir atrás dele.
– Eu só faço o trabalho prático – expliquei.
– Alguém sempre tem que fazê-lo – respondeu ela. – Biscoitos?
Eram caros, com uma cobertura de chocolate escuro que certamente tinha mais que cinco por cento de cacau.
Henry Bellrush havia aprendido a tocar corneta no Exército. Ele se alistara no Corpo de Engenheiros Reais e progredira ao posto de Major antes de se aposentar prematuramente
na virada do século.
– Nós nos conhecemos no Exército – contou a Sra. Bellrush. – Ele era um impetuoso capitão, e eu também; foi muito romântico. Naquele tempo, o casamento era o fim
da carreira de uma mulher, então voltei à vida civil. – E, por ironia, acabara fazendo o mesmo tipo de trabalho que fazia no Exército. – Porém, com um salário muito
melhor, é claro – ela acrescentou.
Perguntei que trabalho era esse, mas a Sra. Bellrush disse que não podia me contar.
– Lamento, mas é muito sigiloso. Ato de Segredos Oficiais, essas coisas. – Ela me olhou por cima da beirada da xícara. – Muito bem, o que quer saber sobre a morte
de meu marido?
Henry Bellrush era um homem que havia desfrutado da aposentadoria. Jardim, netos, férias no exterior e, é claro, sua música. Ele e alguns amigos costumavam tocar
no pub local apenas por diversão.
– Mas ele se filiou à União dos Músicos – comentei.
– Henry era assim. Ele progrediu na hierarquia do Exército. Nunca perdeu essa noção de solidariedade com o homem comum.
– Não notou nada de incomum no comportamento dele? – Essa era uma pergunta padrão.
– O que, por exemplo? – A voz dela soou um pouco defensiva.
– Voltar para casa tarde, ausências sem explicação, esquecimento... – eu disse e... nada. – Mudanças nos gastos, recibos incomuns, faturas de cartão de crédito.
– Dessa vez notei uma reação.
Ela me encarou por um instante, depois desviou o olhar.
– Ele fazia compras regulares em uma loja no Soho – disse. – Não tentava esconder de mim, e estava tudo ali na fatura do cartão de crédito. Depois que ele morreu,
encontrei algumas notas ainda na carteira dele.
Perguntei de onde eram.
– Da loja A Glimpse of Stocking.
– A loja de lingerie?
– Você conhece?
– Já passei por lá – falei. Na verdade, uma vez passei dez minutos olhando a vitrine, mas estava na patrulha, eram três da manhã e eu me sentia entediado. – Tem
certeza de que ele não estava comprando um presente para você?
– Tenho certeza de que jamais ganhei um espartilho Alloetta vermelho em seda pura com calcinha combinando – ela respondeu. – Não que eu tivesse desgostado. Teria
ficado chocada, talvez, mas não contrariada.
As pessoas não gostam de falar mal dos mortos, nem mesmo quando eram monstros, muito menos quando eram entes queridos. As pessoas gostam de esquecer tudo de mal
que alguém fez, e por que deveriam lembrar? Eles não vão fazer de novo mesmo. Por isso mantive a conversa tão emocionalmente neutra quanto era possível.
– Acha que ele podia estar tendo um caso?
Ela se levantou e caminhou até uma antiga escrivaninha, onde pegou um envelope.
– Considerando a natureza das compras – disse, entregando-me o envelope –, não consigo pensar em outra explicação. Concorda?
Dentro do envelope havia várias notas fiscais, muitas delas eletrônicas, algumas manuscritas com uma caligrafia que, eu suspeitava, era deliberadamente arcaica.
Essas eram as que tinham o nome A Glimpse of Stocking no cabeçalho.
Ele podia ser um travesti, pensei, mas guardei essa opinião para mim.
Giacomo Casanova, o garanhão italiano, chegou em Londes e encontrou uma de suas ex-amantes e mãe de um filho dele instalada em Carlisle House, a antiga residência
do Conde de Salisbury, que ficava em frente à Praça Soho. O nome dela era Theresa Cornelys e, por serviços prestados à indústria da dissipação e devassidão e pela
decoração de sua casa, foi declarada a Imperatriz do Prazer.
Carlisle House tornou-se o primeiro clube fechado de Londres. Por uma modesta mensalidade, o associado podia desfrutar de uma noite de ópera, boa comida e, diziam
os boatos, simpática companhia íntima. Foi Theresa quem estabeleceu a antiga tradição do Soho de levá-los para dentro, embebedá-los e espoliá-los até deixá-los limpos.
Mas ela era melhor cortesã que administradora e, com o passar do tempo, após duas décadas, várias falências e uma viagem de volta, morreu sozinha e pobre em uma
prisão para devedores.
A ascensão e queda de Theresa Cornelys provam três coisas: que o preço do pecado é alto, que você deve simplesmente dizer não à ópera, e que é sempre sensato diversificar
seu portfólio de investimentos. Esse conselho foi seguido por Gabriela Rossi, também italiana, que chegou em Londres como filha de refugiados em 1948. Depois de
uma carreira no ramo de retalhos, ela abriu sua primeira loja A Glimpse of Stocking em 1986, e lá lucrou cobrando o preço do pecado e, apesar de ter bom gosto, disse
não à ópera e certificou-se de manter um portfólio adequadamente robusto. Quando morreu em 2003, foi como Dame Rossi, sagrada cavaleira por serviços prestados à
indecência e deixando para trás uma pequena cadeia de lojas de lingerie.
A loja do Soho era administrada por uma mulher loira e magra vestindo um discreto terninho, porém sem blusa por baixo, e mostrando os pulsos preocupantemente finos.
Ela reagiu com bom humor genuíno quando mostrei minha credencial, e apesar de não conhecer nenhum Henry Bellrush, riu alto quando sugeri que ele podia ter feito
compras para si mesmo.
– Duvido – disse a mulher. – Esse tipo específico de espartilho tem cintura “vintage”, vinte e cinco centímetros menor que o quadril. Duvido que um homem consiga
usá-lo.
A loja era repleta de cabides e armários antigos e de bom gosto, dando a ela uma agradável atmosfera retrô, de forma que até os ingleses pudessem apreciar requintadas
roupas íntimas, com a certeza de que elas vinham embrulhadas com um irônico laço pós-moderno. Em uma parede havia fotos emolduradas de mulheres, todas monocromáticas
ou nos tons desbotados da fotografia da década de 1960. As mulheres estavam seminuas, em sua maioria, ou vestindo espartilhos e calcinhas rendadas que provavelmente
haviam deixado meu pai agitado. Um dos quadros era um Morley, o famoso retrato de Christine Keeler sentada ao contrário em uma cadeira escandinava que parecia ser
muito desconfortável. Várias haviam sido autografadas, e eu reconheci um dos nomes – Rusty Gaynor, a lendária rainha das strippers do Soho na década de 1960.
A gerente da loja examinou cuidadosamente as notas fiscais.
– Definitivamente, não foram compradas para um homem – ela decretou. – Não com esses números. Porém, analisando o restante das peças, é possível dizer que foram
compradas para uma garota grande e robusta. Se tivesse que arriscar um palpite, eu diria que as compras foram feitas para uma apresentação.
– Que tipo de apresentação?
– De uma dançarina burlesca, sem dúvida. Provavelmente, uma das garotas de Alex. Alexander Smith. Produz espetáculos na Purple Pussycat. Tudo de muito bom gosto.
– Está falando de uma stripper? – perguntei.
– Ah, meu Deus – respondeu a gerente –, não deve chamá-las por esse nome.
A diferença entre stripper e burlesca, até onde eu podia ver, era a classe.
– Não temos poles no palco – explicou Alexander Smith, empresário do ramo burlesco. Ele era magro, tinha cara de raposa e vestia um terno caramelo com lapelas da
década de 1970, mas sem a gravata larga, porque existem limites impostos pela decência. No lugar dela, ele usava uma echarpe cor de ameixa do mesmo tecido do lenço
que estava no bolso de seu paletó e, provavelmente, meias de seda. Não me surpreendi quando ele disse que era casado e tinha netos. Um gay não ia precisar trabalhar
tanto. Smith me mostrou com alegria as fotos de “suas joias da casa” – a esposa e as pequenas Penélope e Esmeralda, e explicou por que poles eram obras do demônio.
– Invenção do próprio Belzebu – disse ele. – Fazer um striptease significa mostrar tudo no ritmo da música. Não existe erotismo real nisso; os espectadores querem
ver o corpo da dançarina, e ela quer receber para se exibir. Pá, pum, nem precisa agradecer, minha senhora.
Por cima do ombro dele, vi uma mulher branca e esguia no pequeno palco da boate. Ela girava o quadril no ritmo da versão de Lounge Against the Machine para “Baby’s
Got Back”. Ela vestia malha de dançarina e uma blusa larga de moletom pink, e tive que admitir que, apesar da falta de erotismo explícito, me senti devidamente fascinado.
Smith virou-se para ver o que eu estava olhando.
– A questão é glamour – disse ele –, e a arte da sensualidade. O tipo de show ao qual você pode levar sua mãe.
Não a minha mãe, pensei. Ela não aprecia o pós-modernismo irônico.
Mostrei a Smith a foto de Henry Bellrush que a esposa dele me dera.
– É Henry – disse Smith. – Aconteceu alguma coisa com ele?
– Ele era frequentador? – perguntei, tentando adiantar o assunto.
– Um artista. Um músico. Um excelente corneteiro. Ele faz o número com uma garota adorável chamada Peggy. Muito elegante, cheio de classe, só ela dançando enquanto
ele toca corneta. Aquela garota é capaz de hipnotizar a plateia tirando a luva. Dava para ouvir os suspiros quando ela mostrava os seios, porque os homens sabiam
que o número estava chegando ao fim.
– E eles mantinham um relacionamento estritamente profissional?
– Por que está falando no passado? Aconteceu alguma coisa com ele, não é?
Contei que Henry Bellrush estava morto e que eu conduzia a investigação de rotina.
– Ah, que pena – respondeu Smith. – Estranhei eles terem desaparecido. E, sim, o relacionamento entre eles era profissional: ele gostava de tocar, ela, de dançar.
E acho que as coisas paravam por aí.
Ele também gostava de comprar os figurinos com que ela se apresentava; ou considerava a compra como um investimento. Eu devia contar isso à viúva?
Perguntei se ele tinha fotos de publicidade da misteriosa Peggy, mas, embora tivesse certeza de que as fotos existiam, ele não tinha nenhuma na boate.
Perguntei quando havia sido a última apresentação deles, e Smith mencionou uma data no início do mês, menos de um dia antes da morte de Bellrush.
– Foi aqui? – perguntei. Quatorze dias era tempo demais para a permanência de vestigia transitório, mas valia a pena tentar.
– Não – disse Smith. – Foi muito mais elegante. A apresentação fez parte do nosso Festival Burlesco no Café de Paris. Fazemos o festival todo ano para chamar a atenção
do público para o burlesco.
A luz pálida do sol vespertino me fez piscar quando voltei à rua, e antes que eu conseguisse me recuperar, fui abordado por Simone Fitzwilliam.
– Oficial – ela falou animada, enganchando o braço no meu –, o que o traz de novo ao meu bairro? – Seu braço era quente e macio em contato com meu corpo, e senti
cheiro de madressilva e caramelo.
Respondi que ainda estava investigando algumas mortes suspeitas.
– Inclusive a do pobre Cyrus? – ela quis saber.
– Receio que sim.
– Bem, estou determinada a superar tudo isso – disse ela. – Cyrus não ia querer me ver choramingando. Ele acreditava em viver o momento e no caixa dois. E que graça
teria se fôssemos todos iguais? Então, aonde sua investigação vai nos levar agora?
– Preciso ir ao Café de Paris – respondi.
– Ah, não vou lá há muito tempo. Você tem que me levar, posso ser sua valente escudeira.
Como protestar diante disso?
No Café de Paris, inventei que estava dando continuidade a uma fiscalização de surpresa da Boates e Vício e disse que poderia entrar e sair em cinco minutos. O gerente
do dia acreditou, ou não ganhava o suficiente para se importar.
O interior era uma confusão de folheado a ouro, veludo vermelho e cortinas em azul royal. O salão principal era oval com uma escada dividida em uma extremidade e
um pequeno palco na outra. Uma galeria cercava todo o perímetro e me lembrava desconfortavelmente da Royal Opera House.
– É possível sentir a história – disse Simone apertando meu braço. – O Príncipe de Gales costumava vir aqui regularmente.
– A comida deve ser macrobiótica, então – falei.
– O que é macrobiótica? – Simone perguntou.
– Arroz e feijão – respondi, e parei quando percebi que também não sabia o que era macrobiótico. – Comida saudável.
– Não tem muito o jeito do príncipe – ela disse, e se colocou na minha frente. – Precisamos dançar.
– Não há música – lembrei.
– Podemos cantar. Cantarolar. Sabe como é, não?
– Preciso ir examinar o palco – argumentei, tentando me convencer ao mesmo tempo.
Ela fez um biquinho, mas os cantos dos lábios vermelhos se ergueram e a desmascararam.
– Quando o dever chama – disse ela –, não há lugar para diversão.
O pequeno palco tinha espaço suficiente para o piano de cauda e talvez um trio, se os cantores fossem magros. Eu não conseguia ver a exuberante Peggy se contorcendo,
mesmo que com bom gosto, sem cair dele. E expressei esse pensamento em voz alta.
– Ah, mas o palco pode ser estendido para frente para aumentar o espaço – respondeu Simone. – Acho que o pessoal do teatro chama isso de “palco extensível”. Na verdade,
tenho certeza de ter visto a banda do outro lado.
Eu podia sentir. Camadas de vestigia entranhadas nas paredes do Café de Paris, lampejos de risadas, cheiro de chá, trechos de música, um repentino e intenso gosto
de sangue na boca. Era como uma velha igreja enredada demais em muitas vidas e eventos para conseguir escolher outro caminho. Nada recente, isso era certo. Um vestigium
não é marcado como o sulco em um disco; não é como gravar uma fita. É mais como a lembrança de um sonho, e quanto mais você tenta capturá-lo, mais depressa ele desaparece,
se apaga.
Outro flash – pó de tijolo e um silêncio estridente. Eu lembrei; o Café de Paris havia sido atingido durante a Blitz, e o ataque matara a maioria dos músicos, inclusive
o lendário Ken Johnson. Talvez isso explicasse o silêncio. Polidori uma vez descreveu uma vala investigada por ele como um abismo de solidão – sujeito alegre que
era.
– Você me prometeu uma dança – disse Simone.
Na verdade eu não havia prometido nada, mas a tomei nos braços e ela pressionou o corpo contra o meu. Simone começou a cantarolar enquanto dançávamos sem muita maestria.
Eu não reconhecia a melodia. A mão dela apertou minha cintura com mais força e eu fiquei ereto.
– Você pode fazer melhor – ela disse.
Balancei com um pouco mais de ritmo e, por um momento, voltei a Brixton Academy com Lisa Pascal, que morava em Stockwell Park Estate e parecia determinada a ser
minha primeira mulher, embora, na verdade, ela tenha acabado vomitando violentamente na calçada do Astoria Park e eu tenha dormido no sofá da sala da casa da mãe
dela.
Então ouvi: as notas de abertura de Johnny Green, mas com um ritmo mais cadenciado e uma voz distante cantando... My heart is sad and lonely/For you I sigh, for
you, dear, only [Meu coração é triste e solitário/ Por você suspiro, por você, meu bem, apenas]. Simone era baixinha, o suficiente para apoiar o rosto em meu peito,
e só quando percebi que ela me copiava eu notei que estava cantarolando a melodia. O perfume dela se misturava ao vestigia de poeira e silêncio, e as palavras eram
suficientemente claras para eu poder cantá-las baixinho. Why haven’t you seen it?/ I’m all for you, body and soul [Por que você não viu?/ Sou todo seu, corpo e alma].
Senti Simone estremecer e passar um braço em torno do meu pescoço, puxando-me para baixo para cochichar no meu ouvido.
– Leve-me para casa.
Estávamos praticamente correndo quando chegamos a Berwick Street, e Simone segurava a chave da porta da frente, que se abria para uma escada comunitária coberta
por um carpete sujo, com lâmpadas de quarenta watts e aqueles interruptores com sensor de movimento que nunca deixavam a luz acesa pelo tempo necessário para a pessoa
chegar ao último degrau. Simone me levou até o topo do terceiro lance de escada, que contornava um bizarro retrofit recuperado na década de 1950, quando o prédio
abrigava criadas francesas e aspirantes a modelos. Era uma subida íngreme e eu começava a ofegar, mas o balanço do quadril de Simone me arrastou pelo quarto e último
lance de escada, e nós chegamos ao telhado. Consegui ter breves impressões de grades de ferro, vasos com plantas exuberantes, uma mesa de bar com um guarda-sol azul
e branco, e de repente estávamos nos beijando, as mãos dela descendo por minha calça jeans, me puxando para perto. E deitamos sobre um colchão.
Sejamos honestos, não tem como despir uma calça jeans justa com dignidade, especialmente se uma bela mulher tem uma das mãos na sua cueca e um braço em torno de
sua cintura. Você sempre acaba esperneando freneticamente no esforço de fazer a maldita calça passar pelos tornozelos. Mas eu era um cavalheiro, e a ajudei a tirar
a legging. Todas as outras peças tiveram que esperar, porque Simone não estava interessada em um aquecimento lento. Ela me colocou entre suas pernas e, tendo me
posicionado como queria, me puxou para mais perto. Continuamos assim por eras, mas finalmente levantei os olhos e a vi em cima de mim com a lua minguante sobre um
ombro, a cintura se movendo sob minhas mãos. Ela jogou a cabeça para trás e uivou, e nós chegamos juntos ao clímax.
Então ela caiu sobre mim, a pele febril e suada, o rosto enterrado em meu ombro.
– Que foda – falei.
– O quê? De novo? – perguntou ela. – Nada faz você parar, não é?
Fiquei ereto outra vez instantaneamente, porque nada excita mais um homem do que esse tipo de elogio. Sim, com relação ao sexo, somos muito superficiais. Fazia frio,
e me arrepiei quando rolei e a deitei de costas. Simone abriu os braços, mas eu os ignorei e deslizei os lábios por seu peito até o umbigo. As mãos dela agarraram
minha cabeça e a incentivaram a descer mais, mas eu não tinha pressa. Seja cruel, mantenha-a fiel, esse é meu lema. Pus a boca onde valia a pena e não parei até
as pernas dela apontarem para o alto e os joelhos se unirem. Então, voltei pelo mesmo caminho e me introduzi mais uma vez. Os tornozelos de Simone se uniram em minhas
costas e os braços envolveram meus ombros, e por muito tempo o raciocínio coerente deixou de estar entre as minhas habilidades.
Nós nos separamos com um estalo pegajoso, e por um momento ficamos ali silenciosos, fumegando no ar noturno. Simone me beijou com a boca aberta por um longo momento,
faminta, e depois se levantou do colchão.
– Volto em um minuto – disse.
.
.
CONTINUA
.
.
Vi o movimento pesado de suas nádegas pálidas quando ela caminhou descalça pelo telhado e passou pela porta. Ainda havia luar suficiente e iluminação da rua para eu ver que o topo do terraço havia sido transformado em um jardim suspenso, e havia sido um trabalho profissional, com lajes sólidas embaixo e grade de ferro na altura da cintura. Tubos de madeira haviam sido instalados nos quatro cantos, cada um deles plantado com alguma coisa que, ou era uma planta realmente grande ou uma pequena árvore. O colchão onde eu estava deitado era, na verdade, uma almofada para uso ao ar livre com um revestimento de PVC à prova de água. Ele esfriava sob meu traseiro nu, e eu também sentia cada vez mais frio.
Lá de baixo vinha o barulho abafado dos gritos festivos de mais uma noite no Soho. De repente lembrei que estava completamente nu, deitado no telhado de um prédio no centro de Londres. Esperava realmente que o pessoal do Apoio Aéreo não fosse convocado para a patrulha, ou poderia ir parar no YouTube, como aquele idiota pelado no telhado.
Estava pensando seriamente em procurar minhas roupas, quando Simone voltou com um cobertor e uma cesta de piquenique muito antiga com um F&M gravado em uma das laterais.
Ela deixou a cesta ao lado do colchão e se deitou ao meu lado, jogando o cobertor sobre nós.
– Você está congelando – disse ela.
– Você me deixou no telhado. Quase morri congelado. Já estavam preparando os helicópteros de resgate e tudo mais.
Ela me aqueceu por um tempo, e depois investigamos o conteúdo da cesta. Era uma cesta de piquenique Fortnum e Mason autêntica, com garrafa térmica de aço inox com chocolate quente, uma garrafa de conhaque Hine e um bolo Battenberg inteiro embrulhado em papel manteiga. Por isso ela havia demorado tanto a voltar.
– Tinha essas coisas em casa? – perguntei.
– Gosto de estar preparada – ela respondeu.
– Sabia que Casanova se instalava aqui quando estava em Londres? Quando saía para um encontro ele costumava levar uma pequena valise com ...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades