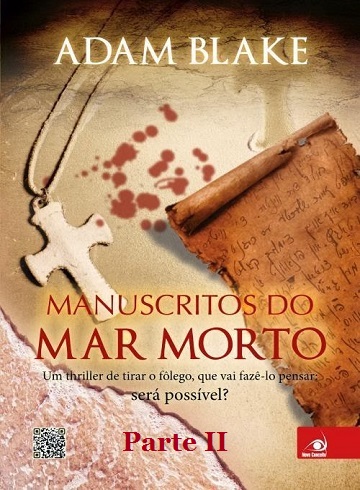Biblio "SEBO"




Quando a repórter telefonou para contar ao xerife Webster Gayle sobre o acidente aéreo, ele estava na pista de boliche, a um instante de afundar uma colher em uma enorme tigela de sorvete. Um dos pensamentos que lhe passou pela cabeça enquanto ouvia a notícia, junto com as primeiras pontadas de compaixão pelos mortos e seus familiares, além do desânimo ao imaginar a tempestade de discussões inúteis que isso lhe traria, foi que seu sundae de sete dólares agora certamente iria para o lixo.
Pouso de emergência? — ele perguntou, tentando certificar-se de que entendera. Colocou a mão em concha em torno do fone para isolá-lo dos sons reverberantes dos pinos que caíam e eram recolocados na pista adjacente.
Não — Connie disse com firmeza. — Não houve nenhum tipo de pouso. O avião simplesmente caiu do céu, acertou o chão e explodiu tudo. Não sei qual era o tamanho dele nem de onde estava vindo. Já liguei para os ATCs[1] de Phoenix e Los Angeles. Aviso você quando me responderem.
E está sem dúvida dentro dos limites do campo? — Gayle perguntou, agarrando-se a uma ínfima esperança. — Achei que a trajetória dos vôos era mais a oeste, passando por Arcona.
Ele desceu bem ao lado da estrada, Web. Juro por Deus, consigo ver a fumaça bem aqui da minha janela. Não só caiu nos limites, mas está tão próximo que você poderia andar até ele a partir do centro comercial Gateway. Já passei a notícia para o Doc Beattie. Quer que eu faça mais alguma coisa?
Gayle considerou.
Sim — respondeu depois de um momento. — Mande o Anstruther ir para lá e isolar a área com bastante espaço. Espaço suficiente para que ninguém venha bancar o turista e tirar fotos.
E quanto a Moggs? — Ela se referia a Eileen Moggs, que constituía a totalidade da equipe do Peason Chronicler e trabalhava 24 horas por dia. Moggs era uma jornalista da velha guarda, do tipo que andava por aí e conversava com as pessoas antes de fechar uma matéria. Até tirava suas próprias fotos com uma SLR digital exageradamente grande, que fazia Gayle pensar em um desses dildos presos a cintos que ele vira uma vez num catálogo de brinquedos sexuais e depois tentara esquecer.
A Moggs pode passar — Gayle respondeu. — Devo um favor a ela.
Ah, é? — Connie inquiriu num tom ameno o suficiente para que Gayle não tivesse certeza se havia uma insinuação ali. Ele empurrou a tigela de sorvete para longe de si, desconsolado. Era um daqueles sabores sofisticados com um nome longo e uma lista ainda mais longa de ingredientes, principalmente chocolate, marshmallow e caramelo em várias combinações. Gayle era viciado nisso, mas já fizera as pazes com sua fraqueza muito tempo atrás. Era mais forte do que álcool de longe. Provavelmente, mais forte ainda que heroína e crack, embora ele nunca tivesse provado nenhuma dessas drogas.
Estou indo para aí — disse. — Diga ao Anstruther um bom meio quilômetro.
Um bom meio quilômetro de quê, chefe?
A linha de isolamento, Connie. — Ele acenou para a garçonete, pedindo a conta. — Quero que esteja a pelo menos cinco minutos de caminhada do acidente. Vai ter gente de toda parte xeretando lá quando souberem do desastre. Quanto menos as pessoas virem, mais cedo vão dar meia-volta e ir para casa.
Tá. Cinco minutos de caminhada. — Gayle pôde ouvir Connie anotar a informação. Ela odiava números, alegava ser tão cega para eles como algumas pessoas eram para cores. — Só isso?
Por enquanto, só. Tente falar com os aeroportos de novo. Ligo para você quando chegar aí.
Gayle pegou o chapéu do assento vazio a seu lado e o colocou na cabeça. A garçonete, uma mulher atraente de pele escura, cujo crachá informava o nome Madhuksara, trouxe a conta pelo sorvete e por um cachorro-quente com fritas que ele pedira antes. Ela fingiu estar escandalizada por ele não ter nem tocado na sobremesa.
Bom, eu adoraria uma marmita disso, se existisse essa possibilidade — ele disse, tentando soar otimista. Ela entendeu a piada e riu mais alto e mais longamente do que ela merecia. Gayle sentiu-se ranger quando levantou. Estava ficando velho e reumático, mesmo nesse clima. — Senhora. — Ele tocou a aba do chapéu, cumprimentando-a, e saiu.
Os pensamentos de Gayle fluíram à toa enquanto ele cruzava o estacionamento dos fundos, muito quente, em direção a seu Chevrolet Biscayne azul e muito maltratado. Com o orçamento da polícia, ele tinha o direito de arranjar um carro novo sempre que quisesse, mas o Biscayne era praticamente uma atração turística. Onde quer que o estacionasse, era como se colocasse uma placa dizendo O chefe tá na área.
Como é que se pronunciava Madhuksara? De onde ela vinha e o que a tinha feito vir morar em Peason, Arizona? Essa era a cidade de Gayle, e ele estava ligado a ela por laços fortes e íntimos, mas não conseguia imaginar alguém vindo de muito longe para viver ali. O que atrairia a pessoa? O comércio? O cinema com três salas? O deserto?
É claro, ele se lembrou, era o século XXI. Madhuksara nem precisava ser uma imigrante. Poderia ter nascido e crescido bem ali, no canto sudoeste dos Estados Unidos. Ela certamente não tinha nenhum traço de sotaque estrangeiro. Por outro lado, ele nunca a vira na cidade antes. Gayle não era racista, o que, em alguns momentos de sua carreira como policial, rendera-lhe algumas surpresas. Ele gostava de variedade, tanto na humanidade quanto no sorvete. Mas seus instintos eram os de um policial, e ele tendia a classificar novas faces de quaisquer cores numa espécie de caixa de entrada mental, considerando que um desconhecido sempre poderia gerar problemas.
A Rodovia 68 estava livre por todo o caminho até a interestadual, mas, muito antes de chegar à encruzilhada, ele pôde ver a coluna preta como carvão se elevando em direção ao céu. Uma coluna de fogo durante o dia, uma coluna de fogo à noite, Gayle pensou de forma irrelevante. Sua mãe pertencera a uma igreja batista e citava as Escrituras do mesmo jeito que algumas pessoas comentam o tempo. O próprio Gayle não abria uma Bíblia havia 30 anos, mas algo daquele conteúdo se prendera a ele.
Ele virou para a pista única de asfalto que margeava a Bassett's Farm e entrou pelos campos em uma estrada de terra sem nome, onde, uma vez, muitos e muitos anos antes, ele ganhara o primeiro beijo que não era de alguma velhota da família.
Ficou surpreso e satisfeito ao encontrar a estrada isolada com uma enfática fita de acidente preta e amarela uns 90 metros antes de ele chegar perto o suficiente para ver o metal retorcido e esparramado do qual a fumaça subia. A fita fora esticada entre duas estacas de cerca de pinheiro, e Spence, um de seus mais taciturnos e impassíveis agentes, estava parado bem ali para cuidar de que os motoristas não tentassem ignorar o bloqueio na estrada tomando algum atalho rápido para o milharal.
Enquanto o agente soltava a fita para deixá-lo passar, Gayle baixou o vidro do carro.
Cadê o Anstruther? — perguntou.
Lá adiante. — Spence indicou a direção com um aceno de cabeça para o lado.
Quem mais?
O Lewscynski. O Scuff. E a srta. Moggs.
Gayle assentiu e seguiu dirigindo.
Assim como heroína e cocaína, um grande acidente aéreo era algo com que Gayle não tinha experiência. Em sua imaginação, o avião viera descendo como uma flecha e se enterrara no solo, de cauda para cima. Mas a realidade não era tão bonita. Ele viu um sulco largo de terra arrancada com cerca de 180 metros de comprimento e talvez quase 2 metros de altura nas bordas na ponta mais externa. O avião se partira enquanto cavava aquela fenda, espalhando grandes pedaços curvos de sua fuselagem como se fossem cascas gigantes de ovo ao longo de todo aquele trecho de solo revirado. O que restava da fuselagem estava queimando lá na outra ponta e — agora que a janela de Gayle estava aberta, ele percebia — enchendo o ar com um terrível fedor de combustão. Se era carne ou plástico que cheirava assim ao queimar-se, ele não poderia saber. E não estava com pressa de descobrir.
Estacionou o Biscayne perto da viatura de Anstruther e desceu. Os destroços estavam a uns 90 quilômetros de distância, mas o calor do fogo se espalhara pelo corpo de Gayle como uma barra atravessando uma porta quando ele andou até onde um pequeno grupo de pessoas jazia parado, à beira do sulco recém-cavado. Anstruther, seu sub-xerife, estava protegendo a visão ao olhar por sobre o campo desfeito. Joel Scuff, um imprestável que aos 27 anos já era mais uma desgraça para a força policial do que homens com o dobro dessa idade tinham conseguido ser, estava ao lado dele, olhando na mesma direção. Ambos pareciam sombrios e perdidos, como pessoas no funeral de alguém que não conheciam muito bem e temiam ser chamadas para conversar sobre o defunto.
Sentada aos pés deles na terra franzida via-se Eileen Moggs. Sua câmera fálica estava imponente em seu colo e sua cabeça, curvada. Desse ângulo, era difícil ter certeza, mas o rosto tinha o aspecto amarrotado de alguém que recentemente havia chorado.
Gayle estava a ponto de dizer algo para ela, mas, nesse momento, enquanto subia penosamente aquela fortificação de terra, sua cabeça ultrapassou a borda do terreno, e ele se deparou com o que todos já estavam vendo. Parou de súbito, involuntariamente, com o cérebro sobrecarregado diante daquela horrível imagem, incapaz de manter qualquer comunicação com suas pernas.
A Estrada Norte 40 de Bassett estava semeada de cadáveres: homens, mulheres e crianças, todos espalhados pela terra mastigada, enquanto as roupas expelidas de suas malas estouradas se arqueavam e se retorciam acima deles nas ondas térmicas, como se seus fantasmas estivessem dançando em trajes de gala para celebrar a recém-adquirida liberdade.
Gayle tentou xingar, mas de repente sua boca estava seca demais para que o som conseguisse sair. No terrível calor, suas lágrimas evaporaram assim que tocaram as bochechas, antes que alguém pudesse vê-las.
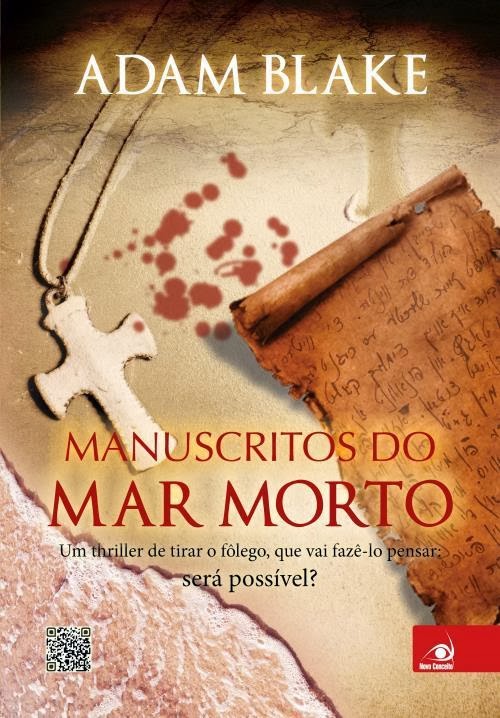
A foto mostrava um homem morto esparramado ao pé da escada. O enquadramento da cena era perfeito e a nitidez, total, e ninguém parecia ter notado a coisa mais interessante a respeito dela, mas ainda assim não causava a Heather Kennedy nada semelhante a entusiasmo.
Ela fechou a pasta de papel manilha novamente e empurrou-a sobre a mesa. Não havia mesmo muito mais que olhar nela.
Não quero — disse.
Encarando-a do outro lado da mesa, o inspetor-chefe Summerhill encolheu os ombros: um gesto que dizia todo mundo tem que enfrentar um pouco de chuva na vida.
Não tenho mais ninguém a quem entregar isto, Heather — disse a ela no tom de um homem razoável fazendo o que precisava ser feito. — Os quadros de tarefas já estão cheios lá no departamento. Você é quem está mais livre. — Ele não acrescentou, embora pudesse tê-lo feito, você sabe por que vai ter que engolir esta e sabe o que precisa acontecer para que isso pare.
Tá bom — Kennedy respondeu. — Eu estou livre. Então dê alguma desculpa ao Ratner ou ao Denning. Não vá me enfiar em algum beco sem saída para que eu fique com o caso aberto no meu currículo até o Dia do Juízo Final.
Summerhill nem mesmo se esforçou para parecer simpático.
Se não for assassinato — disse —, encerre o caso. Assine o relatório e pronto. Vou apoiar sua palavra, desde que ela cole.
Como é que posso resolver isso se a evidência já tem três semanas? — Kennedy disparou em resposta. Ela estava para perder a briga. Summerhill já tinha decidido. Mas ela não tornaria as coisas mais fáceis para o velho desgraçado. — Ninguém examinou a cena do crime. Ninguém fez nada com o corpo no local. Tudo que tenho para trabalhar são umas fotos tiradas por algum cara do posto de polícia mais próximo?
Bom, tem isso e o relatório da autópsia — Summerhill argumentou. — O laboratório do norte de Londres conseguiu descobrir várias perguntas sem resposta, o suficiente para trazer o caso de volta à vida — e possivelmente dar a você alguns pontos de partida. — Ele empurrou a pasta firme e irrevogavelmente de volta para ela.
Por que teve uma autópsia se ninguém considerou essa morte suspeita? — Kennedy perguntou, genuinamente intrigada. E como é mesmo que isso passou a ser problema nosso ?
Summerhill fechou os olhos, massageou-os entre os indicadores e os polegares. Fez uma careta cansada. Claramente queria apenas que ela aceitasse a pasta e desse o fora.
O morto tinha uma irmã, que pressionou para que a autópsia fosse feita. Agora ela tem o que queria — um caso aberto, oferecendo um mundo inteiro de possibilidades excitantes. Jogo limpo: não temos nenhuma alternativa agora. Ficamos malvistos por ter dispensado o caso como morte acidental tão rapidamente e ficamos malvistos também porque rejeitamos o primeiro pedido de autópsia. Então, precisamos reabrir o caso e seguir todo o procedimento até que aconteça uma das duas coisas: encontramos uma explicação verdadeira para a morte desse cara ou então damos de cara numa parede e podemos dizer que pelo menos tentamos.
O que pode durar para sempre — Kennedy apontou. Era um clássico "buraco negro". Um caso em que o trabalho não fora feito corretamente logo de início, e, agora, ela teria que se matar de trabalhar para compensar todos os erros, desde o exame da cena do crime até os depoimentos de testemunhas.
Claro. Fácil. Mas olhe pelo lado bom, Heather. Você também vai inaugurar um novo parceiro, um jovem investigador muito disposto que acabou de se juntar à nossa divisão e não sabe nada sobre você. Chris Harper. Transferido diretamente do St. John's Wood pela academia. Trate direitinho dele, sim? Estão acostumados a modos mais civilizados lá na Newcourt Street.
Kennedy abriu a boca para falar, mas a fechou. Não adiantaria. De fato, precisava admirar a limpeza e a economia daquela cilada. Alguém tinha ferrado tudo em nível épico — fechado o caso rápido demais e depois sido mordido no traseiro pelas evidências —, então, agora toda aquela bagunça estava sendo empurrada para a detetive mais dispensável da divisão e para um pobre coitado trazido de alguma cidadezinha para servir como bucha de canhão. Não haveria nada demais. E, ainda que houvesse, ninguém importante ficaria encrencado por causa disso.
Sussurrando um palavrão, ela se dirigiu à porta.
Reclinando-se na cadeira, as mãos cruzadas atrás da cabeça, Summerhill ficou olhando enquanto ela se retirava.
— Traga-o de volta vivo, Heather — ele a exortou languidamente.
Quando voltou à sua mesa, Kennedy encontrou o mais recente presente da comissão informal que batalhava para vê-la pelas costas. Era um rato morto numa ratoeira de aço inoxidável, largado por cima dos papéis sobre a mesa dela. Sete ou oito detetives estavam de tocaia ali, na cova dos leões, parados ao redor em grupos elaborados para parecerem casuais, e todos a observavam de soslaio, ansiosos para ver como ela reagiria. Talvez houvesse até apostas em dinheiro, a julgar pela atmosfera de excitação contida na sala.
Kennedy estivera tolerando em silêncio as provocações menores, mas, quando olhou para o cadáver pequeno e flácido, com uma crosta sangrenta e peluda ao redor da garganta, onde o espeto da armadilha o acertara, ela finalmente reconheceu o que 90% de sua mente já sabia: que não conseguiria dar um fim àquilo se continuasse carregando a cruz sem reclamar.
Então, quais eram as opções? Ela percorreu algumas mentalmente até encontrar uma que tinha ao menos a vantagem de ser imediata. Pegou a ratoeira e abriu-a com alguma dificuldade, pois a mola era rija. O rato caiu sobre a mesa com um baque audível. Então jogou a ratoeira de lado, ouvindo-a cair tinindo atrás de si, e recolheu o corpo, não cuidadosamente pegando-o pelo rabo, mas firmemente fechado no punho. Estava frio: muito mais do que o ambiente. Alguém o man- tivera num refrigerador, só esperando por esse momento. Kennedy olhou ao redor.
Josh Combes. Não que ele fosse o líder da gangue — a campanha contra ela não era assim tão conscientemente orquestrada. Mas, entre todos os policiais que sentiam a necessidade de tornar a vida de Kennedy desconfortável, Combes era o que fazia mais alarde e era um veterano em termos de anos de serviço. Então, ele serviria tão bem quanto qualquer um, e melhor do que a maioria. Kennedy cruzou a sala até a mesa dele e jogou o rato morto na virilha dele. Combes moveu-se violentamente, fazendo a cadeira rolar para trás sobre as rodas. O rato caiu no chão.
Jesus! — ele berrou.
Sabe — Kennedy disse em meio ao silêncio mansamente escandalizado —, rapazinhos crescidos não pedem à mamãe para fazer essas coisas por eles, Josh. Você deveria ter ficado de uniforme até suas bolas caírem. Harper, você vem comigo.
Ela nem tinha certeza se Harper estava ali. Não tinha idéia de como ele era. Mas, quando se virou para sair, ela viu, pelo canto dos olhos, um dos homens sentados ficar de pé e se separar do grupo.
Vaca — Combes rosnou às suas costas.
O sangue dela estava fervendo, mas ela soltou um risinho que todos ouviram.
Harper dirigia sob a leve chuva de verão que tinha chegado de nenhum lugar. Kennedy reexaminava o arquivo. Isso levou a maior parte do primeiro minuto.
—Já teve chance de dar uma olhada nisto? — ela perguntou a ele enquanto viravam na Victoria Street e se uniam ao tráfego.
O investigador piscou rapidamente, mas não disse nada por um ou dois instantes. Chris Harper, 28 anos, dos Oficiais de Camden, do St. John's Woods e da muito apregoada Academia Criminal da Unidade de Crimes Especiais; Kennedy tivera alguns momentos, entre o escritório de Summerhill e os policiais de tocaia na sala, para verificar o histórico de Harper no banco de dados da divisão. Não havia nada demais senão uma citação de bravura (relacionada a um incêndio num depósito) e uma advertência, depois revista, por uma altercação com um oficial sênior a respeito de uma questão pessoal, não mencionada. Não importa qual foi a questão, parecia ter sido resolvida sem que nenhum procedimento de punição fosse necessário.
Harper tinha cabelos claros e era magro feito um barbante, com uma ligeira assimetria no rosto, o que fazia com que parecesse estar se esquivando ou presenteando alguém com uma piscadela insinuante. Kennedy achou que já pudesse ter esbarrado nele de passagem por algum lugar, muito tempo atrás, mas, se tinha mesmo, fora um contato muito fugaz e não deixara para trás nenhuma forte impressão, boa ou má.
Não li tudo — ele admitiu afinal. — Só descobri que tinha sido escolhido para o caso cerca de uma hora atrás. Eu estava dando uma olhada no arquivo, mas daí... bom, você apareceu e deu aquele show com o rato morto, aí nós pegamos a estrada. — Kennedy lançou-lhe um olhar apertado, que ele fingiu não notar. — Li o formulário de resumo — disse. — E passei rápido pelo relatório inicial do incidente. Só isso.
Então você só perdeu a parte da autópsia — Kennedy respondeu. — Ninguém fez nenhum trabalho policial de verdade na cena. Isso te diz alguma coisa?
Não muito — ele admitiu, balançando a cabeça. Desacelerou o carro. Eles haviam chegado ao final de uma fila que parecia preencher toda a parte mais alta da Parliament Street: a via estava em obras, o que a reduzira a uma só pista. Não era necessário usar a sirene, pois não havia jeito nenhum de as pessoas cederem passagem. Seguiram com os outros carros, parando e recomeçando, mais devagar do que se fossem a pé.
O morto era professor — Kennedy disse. — Professor de universidade, aliás, do Prince Regent's College. Stuart Barlow. Cinqüenta e sete anos. O local de trabalho dele era o prédio de história do colégio, na Fitzroy Street, que foi onde ele morreu. Caiu de uma escada e quebrou o pescoço.
Certo — Harper assentiu, balançando a cabeça como se estivesse se recordando do caso.
Só que a autópsia agora diz que não foi isso que aconteceu — Kennedy continuou. — Ele estava largado ao pé da escada, então a queda pareceu a explicação lógica. Ele parecia ter tropeçado e caído de mau jeito: o pescoço estava quebrado e a cabeça tinha recebido uma pancada forte do lado esquerdo. Havia uma maleta com ele. Estava caída ao lado dele, aberta, e isso também gerou a conclusão-padrão. Ele tinha arrumado suas coisas, saído da sala para ir para casa, chegado ao alto da escada e então tropeçado. O corpo foi encontrado logo depois das nove horas da noite, talvez uma hora depois do momento em que Barlow normalmente terminava o expediente.
Parece fazer sentido — concordou Harper. Ficou em silêncio por alguns momentos, enquanto o carro seguia lento feito água do conta-gotas, vencendo poucos metros e depois parando outra vez. — Mas e aí? O pescoço quebrado não foi a causa da morte?
Foi, sim — Kennedy disse. — O problema é que não estava quebrado do jeito certo. Os danos aos músculos da garganta eram consistentes com estresse de torção, não de pancada.
Torção. Como se alguém tivesse torcido o pescoço dele?
Exato. Como se alguém o tivesse torcido. E isso requer um certo esforço concentrado. Não tende a acontecer quando você cai de uma escada. Tá, uma pancada aguda vinda do ângulo certo poderia virar o pescoço de uma vez, mas ainda assim você esperaria que o trauma no tecido mole ficasse linear, com o músculo danificado e o ferimento externo alinhados, mostrando o ângulo do impacto.
Ela folheou as páginas esparsas e insatisfatórias até chegar àquela que — depois da de autópsia — era a mais perturbadora.
E ainda tem o perseguidor — Harper disse, como se lesse os pensamentos dela. — Vi que havia outro relatório de incidente aí. O morto estava sendo seguido.
Muito bom, detetive. — Kennedy balançou a cabeça. — Talvez falar do perseguidor seja meio exagerado no caso, mas você está certo. O Barlow tinha feito a denúncia de que alguém o seguia. A primeira vez foi numa conferência acadêmica, depois, mais tarde, do lado de fora da casa dele. Quem quer que tenha fechado este caso da primeira vez ou não sabia disso ou não achou que fosse importante. A pessoa não cruzou as referências dos dois formulários de incidente, então acho que foi a primeira opção. Mas, diante dos resultados da autópsia, isso nos faz parecer muito estúpido mesmo.
Deus proíba isso — Harper murmurou mansamente.
Amém — Kennedy entoou.
O silêncio caiu sobre eles, como freqüentemente acontece após uma oração. Harper o rompeu:
Então, e aquela coisa com o rato? E parte da sua rotina diária?
Atualmente, sim. E parte do meu dia. Por quê? Você tem alergia?
Harper pensou a respeito. Por fim, respondeu:
Não ainda.
Apesar do nome, o prédio de história do Prince Regent's College possuía um design agressivamente moderno: uma caixa austera de concreto e vidro enfiada em uma rua lateral a cerca de 400 metros do principal edifício da universidade, na Gower Street. Também estava deserto, já que o ano escolar terminara uma semana atrás. Uma das paredes do hall de entrada continha um painel de notícias que ia do chão ao teto, anunciando show de bandas que Kennedy não conhecia, em datas que já haviam passado.
O tesoureiro Ellis, incomodado, saiu ao encontro deles. Seu rosto estava brilhando de suor, como se ele tivesse acabado de sair do equivalente burocrático de uma aula de aeróbica. Ele parecia ver aquela visita como um ataque pessoal ao bom nome da instituição.
— Disseram que a investigação já havia acabado — disse ele.
Duvido que quem disse isso tivesse alguma autoridade para fazê-lo, sr. Ellis — Harper respondeu, impassível. A linha oficial a seguir nesse momento era a de que o caso nunca havia sido fechado: aquilo tinha sido apenas um mal-entendido.
Kennedy detestava esconder-se atrás de palavras evasivas, e a essa altura sentia que não devia muita lealdade ao departamento. Então, acrescentou, sem olhar para Harper:
A autópsia revelou alguns fatos incomuns, o que mudou a forma como estamos lidando com esse caso. Provavelmente, é melhor não dizer nada sobre isso a quem quer que seja na faculdade, mas vamos precisar fazer mais investigações.
Posso pelo menos presumir que tudo isso vai ter acabado até o começo de nosso programa de verão da universidade? — o tesoureiro perguntou, com o tom de voz no meio do caminho entre a beligerância e o trêmulo pavor.
Kennedy desejava responder que sim de todo o coração, mas acreditava que dar esperanças às pessoas sem uma base adequada para crer nelas era condená-las a mais tristeza depois.
Não — ela disse bruscamente. — Por favor, não presuma isso.
A cara de Ellis caiu.
Mas... os estudantes — ele começou, apesar da evidente ausência de estudantes. — Coisas desse tipo não ajudam em nada o recrutamento, nem nosso perfil acadêmico.
Aquela era uma coisa tão notavelmente estúpida de se dizer que Kennedy não sabia como responder. Decidiu ficar em silêncio, deixando, infelizmente, uma lacuna que o tesoureiro pareceu sentir-se obrigado a preencher.
Há um tipo de contaminação por associação — disse ele. — Tenho certeza de que vocês sabem do que estou falando. Aconteceu no Alabama depois dos tiroteios no departamento de Biologia. Aquele era um professor assistente descontente, eu entendo — um acontecimento absurdo, uma chance em um milhão, e nenhum estudante esteve envolvido. Mas ainda assim o número de inscrições nessa faculdade teve uma queda no ano seguinte. E como se as pessoas pensassem que assassinato é uma doença contagiosa.
Ok, isso era menos estúpido, Kennedy pensou, mas muito mais detestável. Esse homem tinha perdido um colega em circunstâncias que estavam se mostrando suspeitas, e o primeiro pensamento dele era sobre como isso afetaria a reputação do colégio. Ellis era claramente um sujeito desprezível e egoísta, que tinha passado na fila da civilidade para levar só o pacote básico.
Precisamos ver o lugar onde o corpo foi encontrado — a oficial disse a ele. — Agora, por favor.
O tesoureiro os conduziu pelos corredores vazios e ecoantes. Para Kennedy, o cheiro do lugar lembrava jornal velho. Quando criança, ela havia construído uma casinha de brinquedo no jardim de seus pais montada com caixas de jornais. Seu pai as havia guardado por razões misteriosas (talvez, mesmo naquela época, a mente dele estivesse começando a falhar). A casinha tinha exatamente aquele cheiro: papel velho e tristonho, no fim da linha, derrotado em seus esforços para oferecer informação.
Viraram numa esquina, e Ellis parou subitamente. Por um momento, Kennedy pensou que ele pretendia argumentar com ela, mas o homem meio que levantou as mãos em um gesto estranho e constrangido, indicando o local imediatamente à frente.
Foi aqui que a coisa aconteceu — disse ele com uma ênfase em coisa que soou meio cuidadosa, meio lasciva. Kennedy olhou ao redor, reconhecendo o corredor curto e estreito e a escada íngreme das fotografias.
Obrigada, sr. Ellis — ela disse. — Deste ponto, podemos trabalhar sozinhos. Mas vamos precisar do senhor em breve, para nos deixar entrar no escritório do sr. Barlow.
Vou estar na recepção — Elis disse e saiu marchando, com uma nuvem preta sobre a cabeça dele, metafórica, mas visível.
Então tá — disse Kennedy, virando-se para Harper. — Vamos fazer o serviço. — Entregou a pasta do caso a ele, aberta e com as fotos à vista. Harper meneou a cabeça, concordando, um tanto alerta. Abriu as imagens em leque como uma mão de pôquer, olhando delas para as escadas e depois novamente para o material fotográfico. Kennedy não o pressionou: ele precisava analisar a situação, e, para isso, levaria o tempo que fosse necessário. Quer Chris soubesse disso ou não, ela estava lhe fazendo um favor, deixando-o juntar os pedaços na própria mente em vez de bombardeá-lo com seus pensamentos de uma só vez. Afinal, ele era um novato: em teoria, ela deveria treiná-lo, não usar o rapaz como capacho.
Ele estava deitado aqui — Harper disse, por fim, esboçando a cena com a mão livre. —A cabeça dele... ali, mais ou menos na altura do quarto degrau.
Cabeça na borda do quarto degrau — Kennedy interrompeu. Não estava discordando, apenas dizendo o mesmo em suas próprias palavras. Ela queria ver a cena, transferir a imagem em sua cabeça para o espaço diante dela, e sabia, por experiência, que dizer tudo em voz alta ajudaria. — Onde está a maleta? Perto do rodapé da parede, né? Aqui?
Aqui — Harper disse, indicando um ponto talvez a 1,80 metro de distância do pé da escada. — Está aberta e virada de lado. Tem um monte de papéis também, espalhados ao redor dela. O conteúdo se derramou todo até a parede oposta. O material pode ter escorregado para fora da maleta ou para longe das mãos do Barlow quando ele caiu.
O que mais?
O sobretudo dele — Harper apontou outra vez.
Kennedy ficou momentaneamente perplexa.
Não está nas fotos — disse.
Não — Harper concordou. — Mas está na lista de evidências. Eles o removeram porque tampava o corpo parcialmente e precisavam de uma linha de visão clara para fazer as fotos do trauma. O Barlow provavelmente estava com o sobretudo pendurado no braço ou algo assim. Era uma noite quente. Ou talvez o estivesse vestindo quando tropeçou. Ou, sabe, quando foi atacado.
Kennedy pensou a respeito disso.
O casaco combina com o resto das roupas dele? — perguntou.
Quê? — Harper quase riu, mas viu que Kennedy falava sério.
É da mesma cor que o paletó e as calças dele?
Harper folheou o arquivo por um longo tempo, sem encontrar nada que descrevesse ou mostrasse o casaco. Finalmente, percebeu que ele estava em uma das fotos — uma que havia sido tirada logo no começo do exame da cena do crime, mas de alguma forma havia ido parar no fundo do maço de fotos.
Na verdade, é uma capa de chuva preta — disse ele. — Não admira que ele não estivesse vestindo a peça. Provavelmente estava suando só por estar de paletó.
Kennedy subiu alguns degraus, observando-os de perto.
Havia sangue — ela disse para Harper por sobre o ombro. — Onde estava o sangue, detetive?
Contando a partir do pé da escada, no nono e no décimo terceiro degraus, lá em cima.
Tá, tá. Algumas manchas ainda estão visíveis na madeira aqui, olhe. — Ela colocou a mão ao redor de uma mancha, depois em outra, triangulando até o final da escada. — Ele acerta, pá!, depois quica... — Ela se virou para encarar Harper novamente. — Não foi roubo — disse, mais para si mesma do que para ele.
Ele voltou a olhar o arquivo — o resumo verbal dessa vez, não as fotos.
Aqui não diz que alguma coisa foi levada — concordou. — A carteira e o celular ainda estavam no bolso dele.
Ele trabalhou aqui por onze anos — Kennedy refletiu. — Por que cairia?
Harper manuseou algumas páginas e ficou em silêncio por um tempo. Quando ergueu o olhar, apontou para o topo da escada, acima de Kennedy.
O escritório do Barlow fica no final daquele corredor do primeiro andar — disse. — Esse aqui era o único caminho que ele poderia tomar para sair do prédio, a não ser que estivesse voltando à recepção para deixar alguma correspondência a ser despachada ou coisa assim. E diz aqui que a lâmpada não acendia, então a área da escada devia estar escura.
Não acendia? Quer dizer que tinha sido removida?
Não, ela tinha queimado.
Kennedy subiu o resto dos degraus. No topo, havia uma plataforma muito estreita. Uma única porta, centralizada, levava a outro corredor — pelo que Harper tinha dito, justamente o corredor que levava ao escritório de Barlow. De cada lado da porta havia duas janelas de vidro jateado que davam vista para o corredor, estendendo-se do teto até mais ou menos a altura da cintura de uma pessoa comum. Os cerca de 90 centímetros restantes entre as janelas e o chão eram painéis brancos de madeira.
Então, ele chegou ao topo da escada no escuro — ela disse. — Parou para acender a luz, mas ela não funciona. — O único interruptor ficava do lado esquerdo da porta. — E alguém que esperava aqui, do lado direito, partiu para cima dele enquanto ele estava de costas.
Faz sentido — Harper disse.
Não — Kennedy respondeu. — Não faz. Isso não é lugar para armar uma emboscada, né? Qualquer um que fique parado aqui fica visível tanto a partir do pé da escada como do corredor no piso superior, através dessas janelas. É um vidro trabalhado, mas mesmo assim você veria através dele se houvesse alguém parado lá.
Com a luz apagada?
A luz podia estar apagada na plataforma, mas precisamos presumir que estivesse acesa no corredor acima. Você não deixaria de ver alguém parado bem ali na sua frente, do outro lado do vidro.
Tá bom — disse Harper. Ele parou, pensando. — Mas isto é uma universidade. Você não presumiria simplesmente que é sinistro haver alguém parado no topo das escadas.
Kennedy ergueu as sobrancelhas, depois as deixou cair novamente.
O assassino saberia que é sinistro — disse. — Então, seria um lugar estranho para escolher. E o Barlow já tinha dado queixa de que vinha sendo seguido, então, ele poderia estar mais alerta do que o normal. Mas existe uma resposta ainda melhor para tudo isso. Continue.
Uma resposta melhor?
Eu te mostro num minuto. Continue.
Tá bom — Harper respondeu. — Então, quem quer que fosse ficou parado na plataforma por sei lá quanto tempo, deixou o Barlow passar, depois o agarrou por trás. Torceu o pescoço dele até quebrar e o atirou escada abaixo.
Enquanto dizia tudo isso, Harper sorria. Ele exalava escárnio diante de suas próprias conclusões. Kennedy olhou para ele, inquisitiva, e ele apontou para o topo da escada, depois para o final dela.
Tem razão — disse. — Não faz sentido nenhum. Quero dizer, seria um exagero. A queda provavelmente mataria o Barlow de todo jeito. Por que não simplesmente empurrá-lo?
Uma questão interessante — Kennedy respondeu. — Talvez o sr. Desconhecido não quisesse se arriscar. E não podemos nos esquecer de que o sr. Desconhecido sabe como quebrar o pescoço de alguém com uma simples torção. Talvez ele não tenha chance de mostrar suas habilidades com freqüência e essa tenha sido sua noite de brilhar.
Harper juntou-se ao jogo.
Ou eles podem ter lutado e a torção foi uma chave de pescoço que deu errado. Tanto isso como a queda podem ter sido meio que acidentes. Mesmo que encontremos o cara, podemos não conseguir provar que houve intenção.
Kennedy tinha descido novamente enquanto ele falava. Passou por ele, voltando ao pé da escada. O corrimão sobre balaústres acabava ali, curvando-se para baixo num pilar de madeira mais grosso. Ela procurava por um sinal específico, o qual sabia que deveria estar ali. Estava a uns 90 centímetros do chão, do lado de fora do pilar — o lado voltado para o corredor inferior, e não para a própria escadaria.
Tá legal — ela disse a Harper, apontando. —- Agora, olhe para isso.
Ele desceu e se agachou ao lado dela, vendo o que ela via.
Um entalhe na madeira — disse. — Você acha que foi feito na noite em que o Barlow morreu?
Não — Kennedy respondeu. — Antes. Provavelmente muito tempo antes. Mas estava definitivamente aqui naquela noite. Ele aparece em algumas das fotos da perícia. Olhe.
Heather pegou a pasta dele e folheou o material, tirando do arquivo uma imagem que vira pouco antes, no mesmo dia, quando estivera sentada diante da mesa de Summerhill e ele lhe oferecera o caso, um verdadeiro cálice envenenado. Ela o passou para Harper, que olhou primeiro com interesse superficial, mas depois sustentou o olhar.
Mas que diabos! — ele disse afinal.
Arrã. Que diabos mesmo.
O que a foto mostrava era um pequeno retalho de tecido marrom-claro preso na borda serrilhada daquela minúscula imperfeição na madeira. O fotógrafo da perícia tivera o cuidado de registrá-lo com um foco muito nítido, presumivelmente acreditando, naquela hora, que ele estaria participando do que poderia ser o começo de um inquérito por assassinato.
O tufo de pano rasgado tinha sido catalogado como evidência também e, portanto, ainda jazia em um saco etiquetado dentro de uma caixa também rotulada em uma prateleira lá na ala de apoio à perícia da divisão. Mas ninguém parecia ter dado a menor importância ao objeto desde então. Afinal, normalmente não era preciso trabalhar tão duro para estabelecer a presença da vítima na cena do crime.
Na foto, no plano de fundo, mas ainda mais ou menos dentro do foco, o próprio Stuart Barlow também aparecia, vestindo um paletó marrom-claro com pedaços de couro costurados nos cotovelos — o estereótipo do acadêmico solteirão, exceto pelo pescoço virado em um ângulo estranhíssimo e a face petrificada na lividez da morte.
Vi todas as fotos, mas não enxerguei isso antes — Harper admitiu. — Eu estava olhando mais para o corpo.
Assim como o encarregado anterior da investigação. Mas você percebe o que isso quer dizer, né?
Harper assentiu, mas seu rosto mostrou que ele ainda estava avaliando as implicações.
E do paletó do Barlow — disse. — Ou talvez das calças dele. Mas... está no lugar errado.
Paletó ou calças, o Barlow não deveria estar em nenhum lugar perto deste ponto — Kennedy concordou, cutucando o entalhe com o dedo. — Isto está a uns bons dois metros, quase três, lateralmente, de onde ele foi parar, e do lado errado do corrimão da escada — o lado de fora. O chanfro na madeira está virado para baixo, também. Você meio que teria que se mover para cima para encostar na borda afiada e rasgar a roupa nela, e isso só se estivesse de pé aqui onde estamos. Não vejo nenhum modo de isso ter acontecido se o corpo caiu lá de cima.
Talvez o Barlow tenha se debatido depois de chegar ao chão — Harper especulou. — Não exatamente morto. Tentando levantar e conseguir ajuda ou... — Ele parou abruptamente e balançou a cabeça. — Não, isso é ridículo. O pobre coitado teve o pescoço quebrado.
Isso. Se as fibras perdidas tivessem sido da capa de chuva, então talvez eu acreditasse nisso. Não dá para adivinhar os ângulos de uma coisa que se move para todo lado quando pendurada na mão de alguém. Mas a capa de chuva é preta. Isso veio das roupas que a vítima usava, que não se moveriam para cima quando o corpo dele se movia para baixo, nem fariam piruetas elaboradas ao redor de objetos sólidos. Não, acho que o Barlow encontrou o atacante bem aqui, ao pé da escada. O cara esperou fora das vistas, provavelmente nesse espaço abaixo da escada, e depois, quando ouviu os passos descendo, assumiu a posição certa, apareceu enquanto o Barlow passava e o agarrou por trás.
E aí ajeitou o corpo para fazer parecer que tinha caído — Harper finalizou o pensamento. — Isso explicaria ele ter puxado a vítima para cima e as roupas dele terem enganchado no entalhe.
Kennedy balançou a cabeça.
Lembre-se do sangue no degrau superior, Harper — disse. — O corpo caiu mesmo. Só que eu acho que caiu depois. O atacante matou o Barlow aqui embaixo, porque era mais seguro. Não tem janelas e era menor a chance de o professor vê-lo chegando — ou de reconhecê-lo, talvez, se já se conheciam. Mas ele foi meticuloso e quis se certificar de que a evidência física estivesse correta. Então, depois que a vítima morreu, o assassino arrastou o corpo escada acima para poder atirá-lo para baixo novamente e acrescentar esse toque extra de autenticidade. No processo, enquanto ele manuseava o corpo, o paletó enganchou neste entalhe e um retalho dele ficou preso.
Isso é complicado demais — Harper protestou. — Você só tem que acertar o cara com uma chave de grifo, né? Todo mundo vai presumir que foi um assalto que deu errado. Você poderia sair daqui com a arma do crime debaixo do casaco e ninguém jamais saberia. Arrastar o corpo escada acima mesmo tarde da noite, quando não tem ninguém olhando, é um risco estúpido de correr.
Pode ser que ele tenha preferido esse risco ao de haver uma investigação — disse Kennedy. — E ainda tem a lâmpada.
A lâmpada?
Na plataforma superior. Se não me engano, o Barlow não foi morto, nem mesmo atacado, lá em cima. Mas a luz foi apagada para tornar a idéia de que ele caiu ainda mais verossímil. Pode ser só uma coincidência estranha, mas acho que não. Acho que nosso assassino cuidou desse pequeno detalhe também. Desatarraxou a lâmpada, sacudiu-a até o filamento estalar e colocou-a de volta.
Depois.
Sim. Depois do assassinato. Eu sei, parece loucura. Mas, se for isso que aconteceu, então, talvez...
Ela começou a subir a escada novamente, dessa vez apoiada nas mãos e nos joelhos, a cabeça curvada para baixo buscando examinar os limites das bordas dos degraus. Mas foi Harper quem encontrou o que ela procurava, sete degraus acima, depois que a detetive já havia passado pelo sinal.
Aqui — ele a chamou, apontando.
Kennedy virou-se e inclinou-se para espiar mais de perto. Preso na cabeça de um prego que havia sido martelado em um leve ângulo e permanecido saliente na madeira, havia outro fiapo de tecido marrom-claro. Havia continuado ali por estar muito próximo da parede, onde era menos provável que as pessoas que usavam a escada pisassem. Kennedy meneou a cabeça positivamente, satisfeita.
Bingo — disse. Evidência para corroborar sua tese. O corpo de Barlow havia sido arrastado escada acima antes de cair escada abaixo, mas presumivelmente depois da morte.
Então — Harper resumiu —, temos um assassino que ataca saindo das sombras, quebra o pescoço de um cara com uma única torção, depois o puxa até o alto de uma escadaria de uso público e fica por aqui tempo suficiente para dar uma enfeitada no cenário, tudo para poder simular um acidente e evitar uma investigação de assassinato. Precisa ter muito colhão para isso!
Foi tarde da noite — Kennedy lembrou-o, mas não discordou. O caso sugeria uma performance executada a sangue-frio e com extremo autocontrole, não um crime passional ou uma luta que simplesmente acabara mal.
Vamos dar uma olhada no escritório do Barlow — sugeriu ela, levantando-se.
Nos sonhos de Leo Tillman, sua esposa e filhos estavam vivos e mortos ao mesmo tempo. Consequentemente, essas imagens não tinham quase nada em que se apoiar — uns detalhes minúsculos que faiscavam criando associações erradas em seu subconsciente — e descambavam para pesadelos. Eram muito escassas as noites em que ele conseguia dormir até de manhã. Não poucas alvoradas o encontravam já acordado, sentado na beirada da cama, desmontando e limpando seu revólver Única ou vasculhando bancos de dados on-line na esperança de uma descoberta.
Esta manhã, no entanto, não estava na cama. Era no assento de uma complicada máquina de exercícios que ele se acomodava, no quarto de um estranho, observando o sol surgir por sobre Magas. E não havia uma arma em sua mão, mas uma folha A4 impressa com umas 200 palavras em uma cópia ligeiramente borrada. O Única estava enfiado em seu cinto, com a trava de segurança ativada.
Uma janela panorâmica colossal diante dele emoldurava o palácio presidencial no outro extremo de uma estreita avenida contornada por cercas de ferro ornamentadas. Era exatamente como a Casa Branca seria se alguém largasse uma mesquita bem no meio dela e a deixasse lá. Além do palácio, ficava a Main Street, e, depois dela — abrindo-se diretamente a partir da pista principal, a Estrada Transcaucasiana. Chamar Magas de cidade era uma piada, na opinião de Tillman, assim como considerar a Inguchétia um país. Não tinha exército. Não tinha infra-estrutura. Não tinha nem mesmo pessoas. O último censo informara que a população da república era menor do que, digamos, a de Birmingham.
Pessoas eram importantes para Tillman. Ele podia se esconder no meio da multidão, assim como o homem que ele estava procurando. Isso tornava Magas tanto atraente como perigosa. Se sua presa estivesse aqui, o que ele admitia ser uma aposta arriscada, não havia muitos lugares onde poderia se esconder. Mas o mesmo valia para Leo se as coisas dessem errado.
Houve movimento na cama atrás dele: os gestos débeis e sem objetivo que vêm com o despertar.
Era quase hora de ir trabalhar.
Mas ele observou o nascer do sol por mais alguns momentos, pego — sem querer — em um sonho acordado. Rebecca estava parada ao sol, como o anjo do Livro do Apocalipse, e, com ela, aninhados em seus braços, Jud, Seth e Grace. Todos como da última vez que os vira: não haviam envelhecido, não haviam sido tocados pelo tempo. Eram tão reais que faziam Magas parecer um modelo de cidade feito em papelão, um cenário de filme ruim.
Tillman permitia-se esses momentos porque eles o mantinham vivo, mantinham-no em movimento. E ao mesmo tempo os temia, pois tais momentos o suavizavam, tornavam-no fraco. O amor não fazia parte de seu presente, mas era real e vivido no passado, e as memórias vinham como um tipo de vodu. Faziam com que o solo morto dentro dele bocejasse e se escancarasse, com que partes de sua própria natureza, agora quase morta, se erguessem. Na maior parte do tempo, Tillman era um sujeito muito simples. Relembrar tornava-o complexo. E contraditório.
Ouviu um suspiro e um resmungo indistinto vindos da cama. Então, um movimento mais concentrado. Relutantemente, Tillman fechou os olhos. Quando os abriu novamente, alguns segundos depois, o sol era apenas o sol, outra vez incapaz de aquecer o mundo dele: só um holofote brilhando de um posto de guarda no céu.
Ele se levantou e foi até a cama. Kartoyev estava plenamente acordado agora e começando a compreender a situação. Ele retesou as cordas, mas apenas uma de cada vez, testando a tensão. Não desperdiçaria energia em esforços inúteis. Ergueu o olhar para Tillman, com os dentes arreganhados e os músculos dos braços flexionados.
'Kto tyi, govri'uk? — perguntou. Sua voz tinha um tom áspero de pedra.
Inglês — Tillman disse a ele, conciso. — E fique parado. É um conselho de amigo.
Houve um momento de silêncio. Kartoyev olhou de relance para a porta, ouvindo e calculando. Não havia som de passos aproximando-se. Nem um único som no resto da casa. Então, teria esse intruso assassinado seus guarda-costas ou apenas passado por eles sem ser visto? Fazia diferença. De uma forma ou de outra, sua melhor opção seria tentar ganhar tempo — mas quanto tempo seria diferente em cada caso.
'Ya ne govoryu pa-Angliski, ti druchitel — ele murmurou. — Izvini.
Bom, isso certamente não é verdade — Tillman respondeu mansamente. — Ouvi você noite passada, falando com sua namorada.
Só então Kartoyev lançou o olhar para sua esquerda. Estava sozinho na enorme cama. Não havia sinal da ruiva que a compartilhara com ele na noite anterior.
Ela está lá embaixo — Tillman disse, lendo a expressão do russo. — Assim como seus brutamontes. Não fazia sentido fazê-la passar por todos os aborrecimentos que você e eu vamos experimentar em breve. Não, ela não traiu você. Foi a bebida que pegou você, não a garota. — Ele enfiou a mão no bolso e de lá tirou uma pequena garrafa, agora quase vazia. Poderia parecer que Tillman estava tripudiando, mas, na verdade, apenas demonstrava ao russo que ele realmente estava na merda, e bem fundo. — 1,4 — disse. — Butanediol. Quando chega ao estômago, vira GHB, a "droga do estupro". Mas, se você beber junto com álcool, leva muito mais tempo para te nocautear. A droga e o álcool competem pela mesma enzima digestiva. Foi por isso que você dormiu tão profundamente. E é por isso que toda a sua gente está agora amarrada no banheiro feito um feixe de gravetos.
O garoto no bar — Kartoyev disse, repugnado, finalmente falando inglês. — Jamaat. Ele está morto. Sei o nome dele, conheço a família dele e onde ele mora. É um homem morto, pode ter certeza.
Tillman balançou a cabeça. Não se incomodou em negar a cumplicidade do jovem checheno: a bebida era o único fator comum, e Kartoyev não era bobo.
Tarde demais para isso — disse para o russo. — O moleque foi embora. Dei a ele uns 2 milhões de rublos do seu cofre. Não é uma fortuna, mas é o bastante para ele recomeçar a vida na Polônia ou na República Tcheca. Algum lugar fora do seu alcance.
Não existe um lugar fora do meu alcance — replicou Kartoyev. — Conheço todos os voos que saem de Magas e tenho amigos no Ministério do Interior. Vou rastrear o moleque e acabar com ele. Vou acabar com vocês dois.
Possivelmente. Mas talvez você esteja superestimando seus amigos. Depois que o funeral acabar, eles provavelmente vão estar ocupados demais em dilapidar seu imperiozinho para se preocuparem muito com quem o tirou de circulação.
Kartoyev lançou a Tillman um olhar longo e duro, avaliando-o, calculando que tipo de homem era. Claramente, encontrou algo que tomou por fraqueza.
Você não vai me matar, zhopa. Fica aí com essa pistola enorme enfiada no cinto, feito um gângster, mas não tem colhões para isso. Você está com jeito de quem vai começar a chorar feito uma menininha já, já.
Tillman não se incomodou em argumentar. Talvez seus olhos tivessem ficado um tanto úmidos quando ele olhara diretamente para o sol, e o russo que interpretasse isso do jeito estúpido que quisesse.
Tem razão — Tillman disse. — Pelo menos, em relação à arma. Ela vai ficar onde está por enquanto. A maior parte do que eu pretendia fazer com você já foi feita. Só que eu posso desamarrá-lo se me der o que vim buscar.
O quê? — Kartoyev escarneceu. — Você está a fim de mim, americano? Quer chupar meu pinto, é?
Sou inglês, Yanush. E não estou a fim, obrigado.
Kartoyev ficou tenso ao ouvir seu primeiro nome e retesou as cordas novamente.
Você vai sangrar, babaca. É melhor me matar. É melhor me matar mesmo, porque, se eu puser as mãos em você...
Ele se interrompeu abruptamente. Mesmo sob o próprio discurso violento, o clique fora claramente audível. Viera da cama, diretamente de debaixo dele.
Eu mandei você ficar parado — disse Tillman. — O quê? Você não tinha sentido a saliência na base da sua coluna? Mas está sentindo agora, com certeza. E talvez saiba o que é, já que está no seu catálogo. Na parte das ofertas especiais.
Os olhos de Kartoyev se arregalaram, e ele congelou numa paralisação súbita e completa.
Pronto — Tillman disse, encojarador. — Você armou.
Kartoyev xingou longa e estrondosamente, mas tomou o cuidado de não se mover.
Tillman ergueu a folha de papel que estava segurando e a leu em voz alta:
A mina anti-pessoal de metal reduzido SB-33 é um sofisticado equipamento para o campo de batalha combinando facilidade de uso, flexibilidade de implantação e resistência à detecção e ao desarmamento.
Pode ser posicionada à mão ou por meio do sistema de dispersão a ar SY-AT (página 92), o formato irregular da mina torna-a difícil de localizar na maior parte dos terrenos, enquanto sua arquitetura milimétrica (apenas sete gramas de metal ferroso em todo o conjunto) faz com que a maioria dos sistemas convencionais de detecção se torne inútil.
Yob tvoyu mat! — Kartoyev gritou. — Você é louco. Vai morrer também. Nós dois vamos morrer!
Tillman balançou a cabeça solenemente.
Sabe, Yanush, eu realmente acho que não. Aqui diz que a explosão é altamente direcionada: direto para o alto, para estourar as bolas e talvez as tripas do pobre diabo que pisar nela. Provavelmente vou ficar bem se continuar aqui onde estou parado. Mas você me interrompeu antes de eu chegar à melhor parte. A SB-33 tem uma chapa de dupla pressão. Se você se inclinar muito sobre ela, do jeito que acabou de fazer, ela não detona, apenas trava. Isso é para que você não possa detoná-la a longas distâncias, com uma carga para limpar campos minados. É seu próximo movimento que vai destravar a chapa e mostrar-lhe o que é viver como em uma partida de futebol: dividido em dois.
Kartoyev xingou outra vez, tão vigorosamente quanto antes, mas a cor havia se esvaído de seu rosto. Conhecia esse item de seu inventário muito bem, e não apenas pela reputação: durante seus tempos de exército, ele provavelmente tivera muitas oportunidades de ver o que a carga mutilante da SB-33 podia fazer a um corpo humano à queima-roupa. Provavelmente, estava pesando em sua mente as muitas maneiras diferentes como a carga direcionada poderia destroçá-lo, em vez de matá-lo. Com a superfície superior da mina pressionada diretamente contra sua coluna lombar, era praticamente certo que ela o mataria. Mas havia outras possibilidades realmente repugnantes.
Então — Tillman continuou —, eu estava procurando informações sobre um de seus clientes. Não é uma conta grande, mas regular. E sei que ele passou por aqui muito recentemente para ver você. Mas não sei em qual dos seus muitos produtos e serviços ele estava interessado. Nem como encontrá-lo. E quero muito fazer isso.
O olhar de Kartoyev ricocheteou para cima, para baixo, para os lados e só depois de volta a Tillman, pela rota mais longa possível.
Que cliente? — perguntou. — Diga o nome dele.
O russo era esperto e disciplinado demais para demonstrar qualquer coisa em sua expressão, mas Tillman viu, mesmo assim, naqueles olhos inquietos, os sinais claros de um cálculo complexo. Era impossível ser tão bem-sucedido como esse homem em tantas ocupações diferentes — venda ilegal de armas, drogas, tráfico de pessoas, compra e venda de influência política — se ficasse por aí delatando os próprios clientes. Tudo o que ele dissesse precisaria soar plausível e tudo o que dissesse teria que ser mentira. Detalhes pequenos e inconseqüentes estariam bem próximos da verdade, enquanto informações-chave sobre lugar e horário e transações realizadas seriam mentiras de escala espetacular, épica. Kartoyev estava construindo uma pirâmide invertida de falsidades em sua mente.
Tillman descartou a pergunta dele bruscamente.
O nome me escapa agora — disse. — Nem se preocupe com isso. Preciso ir pegar um café e talvez um lanchinho. Conversamos depois.
Os olhos de Kartoyev se arregalaram.
Espere... — começou, mas Tillman já se encaminhava para a porta. Quando já havia cruzado metade do hall superior, ouviu o russo gritar: — Espere! — novamente, em um tom levemente mais urgente. Ele desceu a escada em espiral, pisando pesadamente nos degraus revestidos de madeira para que seus passos ressoassem.
Verificou os outros prisioneiros antes de fazer qualquer outra coisa. A namorada de Kartoyev e muitos dos guarda-costas não estavam no banheiro: teria levado muito tempo para arrastar todos eles dos vários lugares onde haviam caído no sono, drogados. Tillman os havia apenas amarrado e amordaçado onde estavam ou puxado os corpos um pouco, largando-os atrás de móveis se houvesse alguma chance de serem vistos do edifício ao lado. A maioria estava acordada e grogue agora, então Tillman passou por eles com seringas de etomidato, feito um Papai Noel viciado com presentes para todos. Injetou a substância na veia cubital esquerda ou direita da mulher e dos homens, já que os braços amarrados bem apertados faziam com que essas veias saltassem como cordas. Logo estavam todos dormindo novamente, mais profundamente do que antes.
Quando se tratava de matar, Tillman era preciso e profissional, e sua escolha de drogas refletia isso. A diferença entre uma dose efetiva de etomidato e uma letal era de cerca de 30 para 1 em um adulto saudável. Essa gente acordaria depois sentindo-se enjoada e fraca de dar pena — mas acordaria.
Com essa tarefa concluída, Tillman foi até a janela e sentou-se por um tempo, observando a rua. A casa ficava nos fundos do terreno, com portões altos e muros encimados por arame farpado. Para desencorajar visitantes não convidados, sem dúvida. Mas ele não queria ser surpreendido por algum convidado, algum colega ou conhecido que viesse querendo saber por que Kartoyev não comparecera a um compromisso ou outro. Se isso acontecesse, a casa, a cidade e toda a República da Inguchétia rapidamente se tornariam uma armadilha à prova de fugas para Tillman. Ele tinha todos os motivos para trabalhar rápido.
Mas tinha razões melhores ainda para esperar, e foi o que fez. E, como estava tenso demais para comer ou beber, ler ou descansar, ele esperou quieto, parado, observando, pela janela, o capim e as coníferas.
Tillman fora mercenário por nove anos. Nunca fizera trabalho de interrogatório — não tinha uma predileção particular pela tarefa, e por experiência própria os homens especializados nisso eram profundamente problemáticos —, mas já vira a coisa ser feita e conhecia o segredo, que consistia em fazer com que o próprio interrogado fizesse a maior parte do trabalho pesado. Kartoyev era um desgraçado durão, que escalara todo o caminho até sua posição atual de eminência usando as bolas e a garganta dos mortais inferiores como apoio para as mãos. Mas agora ele estava deitado em cima de uma mina de contato, e sua imaginação estaria se auto-alimentando a uma velocidade feroz, tóxica. Quando um homem poderoso se vê indefeso, a força se torna a fraqueza.
Tillman deixou que duas horas e meia se passassem antes de subir de volta ao quarto. Até onde pôde ver, Kartoyev não movera um músculo. O rosto do homem tornara-se branco, os olhos estavam arregalados e os lábios ligeiramente separados, deixando entrever os dentes cerrados lá dentro.
Qual era o nome? — ele perguntou em um tom baixo e distinto. — Sobre quem você quer saber?
Tillman apalpou os próprios bolsos.
Desculpe — disse. — Anotei em algum lugar. Vou ver na minha jaqueta.
Quando ele se virou novamente em direção à porta, Kartoyev emitiu um som horrível e esfarrapado — como se estivesse tentando falar com um estrepe espetado no meio da língua.
Não! — ele grasnou. — Diga o nome!
Tillman fingiu que estava pensando, tentando tomar uma decisão. Cruzou o quarto até a cama e sentou-se na beirada dela, acomodando seu peso com exagerado cuidado.
Se mentir para mim uma só vez — disse —, vou desistir de você. Entendeu? Tem outros caras na minha lista, outras pessoas com quem esse cara faz negócios, então você é completamente dispensável — tanto para mim quanto para ele. Se mentir, se ao menos hesitar em me dizer tudo o que sabe, vou embora. Nesse caso, vai ser um longo dia para você.
Kartoyev baixou o queixo até o peito, depois o ergueu outra vez, um menear de cabeça concordante, em câmera lenta.
Michael Brand — Tillman disse.
— Brand? — O tom de Kartoyev era dolorido, incapaz de compreender. Ele estivera claramente esperando um nome diferente. — Brand... não é ninguém.
Eu não disse que ele era importante. Só disse que quero informações sobre ele. Então, o que sabe, Yanush? O que é que ele compra? Arma? Drogas? Mulheres?
O russo respirou asperamente.
Mulheres não. Nunca. Armas sim. Drogas... sim. Ou, pelo menos, coisas que possam ser usadas para fazer drogas.
De que quantidade estamos falando? — Tillman teve o cuidado de manter a voz controlada, não permitindo que a urgência se revelasse, pois precisaria de toda a sua força. Qualquer fenda em sua armadura poderia fazer com que o russo vacilasse.
Para os armamentos — Kartoyev murmurou —, não muita coisa. Não o suficiente para um exército, mas o bastante — se você for um terrorista — para financiar uma jihad mediana. Armas de fogo: foram centenas, não milhares. Munição. Granadas, uma ou duas. Mas não explosivos. Ele não parece gostar muito de bombas.
E as drogas?
Efedrina pura. Amônia líquida. Lítio.
Então, ele está fabricando metanfetaminas? — Tillman franziu o cenho.
Eu vendo metanfetamina — Kartoyev soou indignado. — Eu disse a ele uma vez: se é isso que quer, sr. Brand, por que comprar todo esse material bruto, desajeitado e inconveniente? Por uma pequena sobretaxa te dou pedra ou pó na quantidade que quiser.
E o que ele respondeu?
Pediu para eu fornecer o que ele tinha pedido. Disse que não precisava de mais nada que eu pudesse oferecer.
Mas e as quantidades? — Tillman insistiu. — O suficiente para vender, comercialmente?
Kartoyev começou a balançar a cabeça, mas estremeceu. Ele estivera mantendo uma posição de rigidez paralisada por muitas horas, e seus músculos estavam travados em agonia.
Não mesmo — grunhiu. — Mas, recentemente, na última compra, foi muito, muito mais do que o normal. Mil vezes mais.
E é sempre o Brand que recebe e paga?
Novamente, aquele olhar de por que ele está perguntando isso?
Sim. Sempre... O homem usa esse nome. Brand.
Quem ele representa?
Não tenho idéia. Não vi razão para perguntar.
Tillman adquiriu um ar zangado. Levantou-se repentinamente, balançando um pouco a cama e fazendo Kartoyev gritar — o lamento abafado de angústia antecipada. Mas não houve explosão.
Mentira — disse Tillman, debruçando-se sobre o prisioneiro. — Um homem do seu tipo não trabalha às cegas. Nem mesmo em negociações pequenas. Você tentaria descobrir tudo o que pudesse sobre o Brand. Eu já avisei sobre mentir, seu canalha imbecil. Acho que você acabou de esgotar minha boa vontade.
Não! — Kartoyev estava desesperadamente disposto a cooperar. — E claro que tentei! Mas não encontrei nada. Não havia nenhum rastro levando até ele ou partindo dele.
Tillman considerou a resposta, mantendo o rosto inalterado. Até esse ponto, sua experiência fora idêntica à do russo.
Então, como é que você entra em contato com ele?
Não entro. O Brand me diz do que precisa e depois aparece. Paga sempre em dinheiro. Ele arranja seu próprio transporte. Carros, normalmente. Uma vez veio um caminhão. Todos foram contratados usando nomes falsos. Antes de devolvê-los, alguém os limpou totalmente.
Como é que o Brand contata você?
Por telefone. Usa celulares, sempre. Descartáveis, sempre. Ele se identifica com uma palavra.
Tillman atentou para esse detalhe. Parecia improvável, amadorístico e desnecessário.
Ele não confia que você vá reconhecer a voz dele?
Sei lá qual é a razão. Ele se identifica por uma palavra. Diatheke.
O que significa?
Kartoyev balançou a cabeça lentamente, com grande cuidado, só uma vez.
Não sei o que significa para ele. Para mim, significa Brand. Só isso.
Tillman olhou para o relógio. Estava quase certo de que o russo não tinha mais nada a dizer, mas o tempo estava contra ele. Provavelmente era hora de começar a arrumar as coisas para partir. Mas Kartoyev fora a melhor pista que ele tivera em três anos e era difícil ir embora sem tentar espremê-lo até soltar a última gota.
Ainda não acredito que você tenha desistido tão fácil — disse, olhando para baixo, para o homem rígido e suado. — Que tenha feito negócios com ele ano após ano sem tentar descobrir qual é a dele.
Kartoyev suspirou.
Eu já disse. Eu tentei. O Brand vem usando rotas diferentes, de aeroportos diferentes, e vai embora do mesmo jeito, em direções diferentes: às vezes pelo ar, às vezes pela estrada. Ele paga em todo tipo de moeda — dólar, euro, às vezes até rublo. As necessidades dele são... ecléticas. Não só as coisas que você mencionou, mas também, às vezes, tecnologia legal adquirida de forma ilegal. Geradores. Equipamento médico. Uma vez, um veículo de vigilância, novo, criado para a SVR — a inteligência russa. O Brand é um intermediário, claro. Ele trabalha por muitos interesses diferentes. Adquire o que é necessário para quem quer que esteja preparado para pagar.
Um tremor perpassou Tillman, que não pôde reprimi-lo ou escondê-lo do russo.
Sim — concordou. — E isso que ele faz. Mas você diz que nunca vendeu pessoas para ele.
Não. — A voz de Kartoyev estava apertada. Ele podia ler a emoção na face de Tillman e estava obviamente preocupado com o que aquela perda de controle poderia significar. — Pessoas não. Não para trabalho nem para prostituição. Talvez ele obtenha essas coisas em outro lugar.
Essas coisas?
Essas mercadorias.
Tillman balançou a cabeça. Mostrava agora o rosto impassível do carrasco.
Não melhorou muito — disse.
Sou um homem de negócios — Kartoyev murmurou firmemente, sardônico até mesmo naquela situação extrema. — Você vai ter que me perdoar.
Não — Tillman respondeu. — Não há nada que me obrigue a fazer isso.
Ele se inclinou e colocou a mão atrás do corpo de Kartoyev. O russo gritou outra vez, de desespero e raiva, enrijecendo-se numa contração que abarcava o corpo todo enquanto se preparava para a explosão.
Tillman tirou a caixa de plástico achatada de debaixo dele, deixando o russo ver o mostrador digital inerte, apagado, e as palavras alarme, hora, ajustar, liga-desliga impressas em branco no painel negro. Um pedaço de cabo elétrico e um plugue de estilo continental balançavam, pendurados ao dispositivo, onde o nome do fabricante, Philips, também estava notavelmente gravado. O relógio despertador era uma velharia dos anos 1980. Tillman o comprara debaixo da Ponte Zyazikov, de um turco que tinha seus magros artigos à venda espalhados na base da estátua do presidente.
A risada incrédula de Kartoyev soou como um soluço.
Filho da puta! — ele grunhiu.
Aonde o Brand foi desta vez? — Tillman perguntou, fazendo a pergunta de forma rápida e vivaz. — Quando é que ele partiu?
Inglaterra — Kartoyev respondeu. — Foi para Londres.
Tillman tirou o Única do cinto, destravou a segurança no mesmo movimento e atirou, acertando Kartoyev na têmpora esquerda, inclinando o tiro para a direita. O colchão recebeu a bala e abafou algo do som, mas Tillman não estava preocupado com isso: as janelas da casa tinham vidros triplos e as paredes eram sólidas.
Ele arrumou suas coisas rápida e metodicamente — o relógio, a arma, a página fotocopiada e o resto do dinheiro do cofre de Kartoyev. Já havia limpado suas digitais do quarto, mas fez isso novamente. Então, meneou a cabeça para o homem morto na cama, como numa despedida, desceu e saiu da casa.
Londres. Ele pensou naquele solo morto em sua mente, em sua alma. Havia ficado fora durante muito tempo, e não fora por acidente. Mas talvez houvesse um Deus, afinal, e Sua providência tivesse uma forma simétrica.
A forma de um círculo.
O escritório de Stuart Barlow já havia sido examinado pelo primeiro encarregado do caso, mas não havia notas sobre evidências no arquivo e nada tinha sido levado. Vasculhá-lo seria uma tarefa desanimadora: cada superfície estava cheia de livros e papéis. As camadas de pastas e impressos na mesa haviam se espalhado, colonizando grandes áreas do chão de ambos os lados, o que, pelo menos, tinha o efeito de esconder os ladrilhos verde-musgo do chão. Gravuras de estátuas helênicas e cariátides egípcias, parecendo onduladas sob suas molduras de vidro após muitas estações do úmido clima britânico, miravam toda aquela bagunça com rostos duros e impiedosos.
O espaço pequeno e desorganizado era claustrofóbico e indefinivelmente triste. Kennedy imaginou se Barlow teria se envergonhado de ter seu caos privado exposto ao escrutínio público dessa forma ou se aquela fortaleza de cadernos e impressos empilhados era algo que profissionalmente lhe dava orgulho.
O sr. Barlow estava no corpo docente de história — ela comentou, virando-se para o tesoureiro. Ellis havia voltado, como prometido, para deixá-los entrar no escritório, e agora estava parado ali, com as chaves na mão, como se esperasse que os detetives admitissem a derrota quando vissem a bagunça intratável deixada pelo morto. — O que isso queria dizer? Ele tinha um horário completo de aulas?
Oito horas diárias — Ellis disse sem hesitar por um momento. — Cinco delas usadas para tarefas administrativas.
Que eram?
Ele era o segundo em comando no departamento. E administrava o Novos Insumos, nosso programa de talentos.
Ele era bom nesse trabalho? — Kennedy perguntou bruscamente.
Muito bom — Ellis piscou. — Toda a nossa equipe é boa, mas... bom, sim. O Stuart era apaixonado pelo que fazia. Era o hobby dele tanto quanto sua profissão. Ele apareceu na TV três ou quatro vezes, em programas de história e arqueologia. E o website de revisão da matéria dele era muito popular entre os estudantes. — Fez uma pausa. —Todos vamos sentir muito a falta dele.
Kennedy traduziu essa afirmação mentalmente como: ele fazia os alunos botarem o traseiro nas cadeiras e estudarem.
Harper tinha pegado um livro, Napoleão contra a Rússia, de Dominic Lieven.
Esta era a especialidade dele? — perguntou.
Não. — Novamente, Ellis foi categórico. — A especialidade dele era paleografia, o estudo dos primeiros textos escritos. Não era algo que o professor pudesse ensinar com freqüência, pois é uma parte muito pequena de nosso plano de ensino, mas ele escreveu bastante sobre o assunto.
Livros? — Kennedy perguntou.
Artigos. A maioria com foco em análises textuais profundas dos achados do Mar Morto e de Rylands. Mas ele estava trabalhando em um livro — sobre as seitas gnósticas, eu acho.
Kennedy não tinha a menor idéia do que eram as seitas gnósticas, mas deixou passar. Não estava considerando seriamente a possibilidade de o professor Barlow ter sido assassinado por um rival acadêmico.
Sabe alguma coisa sobre a vida pessoal dele? — ela perguntou, em vez disso. — Sabemos que ele não era casado, mas estava envolvido com alguém?
O tesoureiro pareceu surpreso pela pergunta, como se o celibato fosse um efeito colateral necessário da vida acadêmica.
Acho que não — respondeu. — É possível, logicamente, mas ele nunca mencionou ninguém. E, quando vinha para o departamento cumprir suas funções, nunca estava acompanhado.
Aquilo parecia excluir maridos enganados ou ex-amantes ciumentas. As chances de encontrar um suspeito estavam se tornando mais distantes. Mas Kennedy nunca tivera grandes esperanças. Por experiência própria, a maior parte do trabalho de resolução de um caso era feita nas primeiras horas. Ela não esperava voltar a um caso que já estava frio havia três semanas e pular esse lapso rumo a um destino surpreendente.
Durante todo o tempo, Harper estivera fuçando entre os livros e papéis — um esforço simbólico, mas talvez ele sentisse que, como nada conseguira com Napoleão, não tivesse mais nada a perder ao procurar um insight pela segunda vez. Dessa vez, o detetive ergueu o que parecia ser uma figura, mas se revelou ser um recorte de jornal, colado cuidadosamente em papelão e depois emoldurado. Estivera encostado contra uma das pernas da mesa. A manchete dizia: Fraude de Nag Hammadi: duas pessoas presas. O homem na foto que acompanhava a notícia era visivelmente um Stuart Barlow muito mais jovem. Seu rosto exibia um sorriso desajeitado, congelado.
Seu colega tinha uma ficha criminal? — Harper quis saber.
Ah, não! — Ellis riu de verdade. — De jeito nenhum. Esse foi o triunfo dele, cerca de quinze anos atrás, talvez mais. O Stuart foi convocado como testemunha especialista nesse caso porque o conhecimento dele sobre a livraria de Nag Hammadi era muito amplo.
Que caso foi esse? — Kennedy perguntou. — E, já que estamos falando sobre isso, o que é Nag Hammadi?
Nag Hammadi foi o mais importante achado paleográfico do século XX, inspetora — Ellis respondeu. Ela não se importou em corrigi-lo em relação a seu cargo, embora, de soslaio, tenha visto Harper revirar os olhos expressivamente. — No Alto Egito, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, perto da cidade de Nag Hammadi, dois irmãos foram cavar em uma caverna de rocha calcária. Estavam interessados apenas em encontrar guano — excremento de morcego — para usar como fertilizante para os campos deles. Mas o que encontraram foi um jarro lacrado contendo cerca de uma dezena de códices amarrados.
O que amarrados? — Harper perguntou.
Códices. Um códice é um número de páginas costuradas ou presas juntas. O primeiro livro, essencialmente. Códices começaram a ser usados bem no começo da Era Cristã, embora, naquela época, a norma fosse escrever em rolos ou folhas sozinhas de pergaminho. Revelou-se que os códices achados em Nag Hammadi eram textos mais ou menos dos séculos I e II da Era Cristã: evangelhos, cartas, esse tipo de coisa. Havia até mesmo uma tradução fortemente modificada de A República de Platão. Um tesouro incrível do período logo após a morte de Cristo, quando a igreja cristã ainda estava lutando para definir sua identidade.
E como é que isso virou caso de tribunal? — Harper perguntou, interrompendo a palestra no exato momento em que o tesoureiro parou para tomar fôlego no que parecia outro derrame de informações ainda maior. Desviado de seu intento, ele pareceu tanto indignado quanto levemente perdido.
O caso do tribunal veio muito mais tarde. Tinha a ver com cópias forjadas dos documentos de Nag Hammadi, que estavam sendo vendidas on-line para negociantes de antigüidades. Stuart surgiu como testemunha de acusação. Acho que ele estava lá principalmente para dar uma opinião sobre as diferenças físicas entre os documentos originais e as falsificações. Ele conhecia cada ruga e cada mancha de tinta naquelas páginas.
Harper colocou o artigo de lado e remexeu um pouco mais. O rosto de Ellis adquiriu uma expressão mortificada.
Detetive, se planeja conduzir uma extensa busca, posso, por favor, prosseguir com minhas tarefas e voltar mais tarde?
Harper lançou um olhar questionador para Kennedy, que ainda estava pensando no caso do tribunal.
Qual foi o veredito? — ela perguntou ao tesoureiro.
Duvidoso — Ellis respondeu, um tanto taciturno. — Os negociantes — um casal, eu acho — foram considerados culpados de vender os itens fraudulentos e de algumas infrações técnicas relacionadas à documentação apropriada. Mas foram considerados inocentes da acusação de falsificação, que era a principal. Tiveram que pagar uma multa e alguns dos custos do tribunal.
Como resultado do testemunho do professor Barlow?
Ellis fez cara de "ah!", finalmente compreendendo aonde ela queria chegar.
Stuart não foi parte tão grande do caso — disse ele, inseguro. — Para dizer a verdade, todo mundo achou engraçado que ele tenha dado tanta importância a isso. Acho que a maior parte das evidências relevantes veio das pessoas que haviam comprado os documentos forjados. E, como eu disse, tudo só resultou numa multa. Não acredito realmente que...
Kennedy também não acreditava, mas arquivou a questão para abordá-la mais tarde. Seria válido segui-la se não conseguissem obter nada por outros caminhos. Não que os outros caminhos fossem muitos, até o momento.
Por que a irmã do professor Barlow não levou tudo isso embora? — perguntou. — Ela é a única parente viva dele, não?
Rosalind. Rosalind Barlow. Ela está nos nossos arquivos como parente mais próxima — Ellis concordou. — E trocamos correspondência com ela. Ela disse não estar interessada em nenhuma das coisas do Stuart. As palavras exatas que usou foram: "Pegue o que quiser para a biblioteca da faculdade e dê o resto para alguma instituição de caridade". Provavelmente é o que vamos fazer, em algum momento, mas vai levar um tempo para separar tudo isso.
— Muito tempo — Harper concordou, acrescentando, logo a seguir: — Terminamos aqui, inspetora?
Ela lhe lançou um olhar de aviso, mas a expressão dele era tão branda quanto um pudim mole.
Terminamos, detetive — disse ela. — Vamos embora.
Ela estava caminhando para a porta enquanto falava, mas hesitou. Algo havia sido registrado por sua visão interior, sem que ela percebesse, e agora exigia ser reconhecido por sua atenção consciente. Kennedy sabia que não deveria ignorar aquela fisgada. Então desacelerou o passo e olhou ao redor mais uma vez.
Quase havia entendido o que era quando Ellis fez as chaves tilintarem e partiu o estreito fio que ela estava puxando para trazer o pensamento à luz do dia. Disparou contra ele um olhar fixo, o que o fez titubear ligeiramente.
Há outras coisas que preciso fazer — disse ele sem a menor convicção.
Kennedy respirou profundamente.
Obrigada por sua ajuda, sr. Ellis — disse. — Talvez seja necessário fazermos mais perguntas ao senhor depois, mas não precisamos mais tomar seu tempo hoje.
Os dois voltaram para o carro. Kennedy revirava na mente o pouco que sabiam sobre esse caso já muito mutilado. Precisava falar com a irmã do morto. Essa era a prioridade número 1. Talvez Barlow realmente tivesse uma nêmesis na arena paleográfica; ou alguma estudante que ele engravidara, ou um irmão mais novo que ele atormentara até causar um ressentimento inflamado. Havia dez vezes mais chances de um policial apanhar um assassino cujo nome lhe fosse revelado diretamente do que de descobri-lo somente galgando uma escadaria de pistas. E eles ainda não tinham a escada. Não tinham nem mesmo o primeiro degrau.
Na verdade, tinham, sim. O perseguidor, o sujeito que Barlow dissera que o estava seguindo. Esse era o outro caminho para o assassino. Harper a detestaria, pois ela estava determinada a falar com a irmã pessoalmente, então a maior parte do trabalho maçante ficaria para ele.
No carro, Kennedy revelou a idéia para ele, do começo ao fim e do fim ao começo.
— Quando o Barlow disse que estava sendo seguido — explicou, lendo as anotações do arquivo —, ele estava em algum tipo de conferência acadêmica.
O Fórum Histórico de Londres — Harper disse. Ele estivera folheando o arquivo vez ou outra durante a visita deles ao escritório, e evidentemente aprendera algo. — Isso. Barlow disse que o cara estava rondando o lobby e depois o viu de novo no estacionamento.
Estou imaginando se mais alguém o vira. Barlow não fez uma descrição do perseguidor, mas talvez possamos preencher as lacunas. Talvez alguém até conheça o cara. Deve ter havido dúzias de pessoas lá, afinal. Talvez centenas. Os organizadores devem ter uma lista de contatos. Números de telefone. Endereços de e-mail.
Harper lançou-lhe um olhar cauteloso.
Nós vamos falar com eles juntos, né?
Claro que vamos. Mas antes tenho que ir ver a irmã do Barlow. Você vai ter que conduzir o caso sozinho até eu voltar.
Harper não pareceu feliz, mas concordou:
Tá bom — disse. — Que mais?
Kennedy ficou levemente impressionada. Ele lera a expressão dela acuradamente, percebendo que havia algo mais.
Vai ter que aturar muita chatice trabalhando comigo — disse ela. — E o jeito como as coisas são agora.
E daí?
Daí que você pode sair dessa facilmente. Vá falar com o Summerhill e diga que temos diferenças pessoais.
Houve uma pausa.
Nós temos?
Eu nem te conheço, Harper. Só estou te fazendo um favor. Talvez fazendo um a mim mesma, também, porque, se você for amiguinho daqueles babacas, prefiro que fique fora do meu caminho a ficar metido nos meus negócios — e você vai preferir ficar fora também, porque com certeza não vou deixar barato nada do que façam.
Harper bateu no volante com uma unha, bem de leve, enchendo de ar uma bochecha, depois a outra.
Este é meu primeiro caso como detetive — disse.
E daí?
Faz só duas horas que entrei e você já está tentando me fazer cair fora.
Estou te dando essa opção.
Harper virou a chave da ignição, e o motor do antiquado Astra rugiu corajosamente — feito um gato velho fingindo ser um tigre.
Vou manter a opção em aberto — disse o detetive.
Como planejara fazer, Tillman dirigiu o carro alugado até os limites de Erzurum, onde o deixou bem longe da estrada, escondido sob uns poucos galhos de árvore e montes de arbustos. Ele o alugara usando um nome falso, que por sua vez era diferente do nome falso que estava no passaporte que ele mostrara nas fronteiras da Geórgia e da Turquia.
De um bar na Sultan Mehmet Boulevard, ele dera um telefonema — impossível de rastrear, no que dizia respeito aos representantes da lei locais — para a polícia em Magas, queria garantir que soubessem do corpo. Encontrariam os guardas amarrados e dopados, se alguém ainda não houvesse feito isso, e ninguém morreria, exceto Kartoyev. Não se tratava de misericórdia, é claro, só um hábito mental que Tillman atribuía ao desejo de limpeza ou orgulho profissional.
Ele não planejava ficar ali por muito tempo, mas pretendia dar mais alguns telefonemas antes de sair novamente do radar. O primeiro foi para Benard Vermeulens — um policial, mas um policial que, como Tillman, prestara tanto o serviço militar regular quanto serviços como mercenário antes de voltar à vida civil. Agora, trabalhava na missão da ONU no Sudão e tinha acesso a todos os tipos de informações improváveis, mas importantes, as quais ele às vezes estava preparado para compartilhar.
Hoe gaat het met jou, Benny? — Leo perguntou, usando a única frase em holandês que Vermeulens já tivera sucesso em lhe ensinar.
Mãe de Deus. Ciclone! — A voz rouca e áspera de Vermeulens fez o telefone vibrar na mão de Tillman. — Met mij is alies goed! E quanto a você, Leo? O que posso fazer por você? E não se incomode em dizer "nada".
Realmente não é um "nada" — Tillman admitiu. — É o de sempre.
Michael Brand.
Ouvi dizer que ele estava em Londres. Ainda pode estar lá. Consegue desencavar as informações de sempre? Quero ver se o nome dele aparece em algo oficial. Ou em qualquer coisa possível.
—Joak. Vou fazer isso, Leo.
E a outra coisa de sempre?
Bom, quanto a isso tenho más notícias.
Alguém está procurando por mim?
Alguém está procurando muito por você. Há duas semanas. Muitas buscas, muitas perguntas. O cara faz muitos desvios, então não consigo descobrir quem anda investigando. Mas tem alguém perguntando pra valer.
Tá bom. Obrigado, cara. Te devo essa.
Isso é amizade. Se você me devesse, não seríamos amigos.
Então não te devo nada.
Assim é melhor.
Leo desligou e telefonou para Insurance. Mas Insurance simplesmente riu quando ouviu a voz dele.
Leo, você é um risco que ninguém mais está a fim de aceitar — ela lhe disse de um jeito que soou como afeição genuína.
Não? O que é isso, Suzy? — ele perguntou. Não faria mal lembrar a ela que ele era uma das três ou quatro pessoas vivas que a conheceram quando ainda tinha um nome de verdade.
Se você mata alguém num beco lá no Fim do Mundo, querido, é uma coisa. Mas assassinar alguém numa via principal de uma cidade grande onde todos vivemos... bom, isso é diferente.
Tillman não disse nada, mas cobriu o bocal com a mão por um momento, receoso de que pudesse xingar ou simplesmente suspirar de susto. Horas. Só umas poucas horas. Como é que as notícias haviam corrido à sua frente? Como é que alguém poderia ter ligado seu nome a uma morte que acabara de ser descoberta?
Pensei que o mundo fosse uma vila — foi tudo o que disse.
Bem que você gostaria. Numa vila, só seria necessário se preocupar com o irmão mais velho do MacTeale. Mas, no mundo real, tem que se preocupar com todo mundo do Rolodex.
MacTeale? — Por um segundo, Tillman teve dificuldade até para reconhecer o nome. Então se lembrou do escocês grande e furioso que chefiara seu pelotão no último ano que passara a serviço do Xe. — Alguém matou o MacTeale?
Você fez isso, aparentemente. Pelo menos, é o que dizem por aí.
Isso é mentira, Suzie.
É o que você diz.
Eu não matei o MacTeale. Matei algum intermediário russo sem a menor importância que achou que tinha amigos influentes, mas acho que eram o tipo de amizade que se aluga a curto prazo. Escute, só o que eu quero é outro passaporte, caso este aqui fique inutilizado. Posso pagar adiantado, se isso facilitar as coisas.
Pode facilitar as coisas quanto quiser, Leo. Ninguém vai te vender mais nada, nem te contratar, nem compartilhar informações com você. A comunidade fechou as portas.
E isso inclui você?
Leo, é claro que me inclui. Se eu começar a ofender a sensibilidade dos meus clientes, vou ter uma velhice bem solitária e pobre. O que ainda vai me deixar melhor que você, já que, pelo que ouvi, não te resta muito tempo. Sem ressentimentos.
Talvez alguns — Tillman disse.
Boa sorte. — Insurance soou sincera ao dizer isso, mas desligou sem esperar que ele respondesse.
Tillman desligou o telefone batendo-o com força e o empurrou para longe de si. Meneou a cabeça para o barman, que veio trazer para ele outro uísque e água. Alguém havia trabalhado um bocado para tirá-lo de circulação. Quem quer que fosse, havia operado milagres em um curto período. Ergueu o uísque em um brinde silencioso a seu adversário desconhecido. Seu primeiro erro, sr. Brand, ele pensou, foi me deixar descobrir seu nome. Agora, cá estamos, apenas 13 anos depois, e você cometeu um novo erro.
Deixou-me saber que estou no caminho certo.
Tillman não era ninguém. Ele fora o primeiro a admitir isso: mais ainda enquanto envelhecia, enquanto se movia para mais e mais longe daquele momento em sua vida quando tudo havia adquirido foco e — brevemente — fazia algum sentido.
Era o mistério do qual ele era cativo atualmente. A caçada era o que dava forma e significado à sua vida, e, assim, ele era definido por uma ausência: quatro ausências, na verdade. As únicas coisas reais para ele eram as que já não estavam ali. Já fazia tanto tempo, agora. Tanto sangue passara sob a ponte, e muito mais viria, definitivamente, pois a alternativa era parar de procurar. Se ele parasse de procurar, não seria apenas ninguém: ele seria nada, em lugar nenhum. Admitir que nunca mais veria Rebecca ou as crianças era o mesmo que estar morto. Que nunca voltaria para casa, ou, como ele dizia a si mesmo: admitiria, finalmente, que o mundo se tornara vazio.
Fora diferente quando ele era jovem. Não ser ninguém era a melhor opção naquela época. Nascido em Preston, Lancashire, onde vivera até os 16 anos, ele crescera com a natureza de um nômade e o conjunto de habilidades de um nômade, preguiçoso demais para ser perigoso ou mesmo eficaz. Vagava de interesse em interesse, entrando e saindo deles, e não se importava com nada.
Na escola, Tillman fora bom na maior parte das matérias, tanto nas atividades acadêmicas quanto nos cursos intensivos e esportes, mas era muito descomprometido com tudo para passar de bom a ótimo. O bom vinha sem esforço, e era suficiente. Consequentemente, ele abandonara a escola aos 16 anos e arranjara um emprego numa oficina mecânica que pagava suficientemente bem para suprir um estilo de vida de vícios casuais — bebida, mulheres, a ocasional jogatina —, adotado sem grande convicção.
Um dia, no entanto, talvez inevitavelmente, ele vagara além de sua órbita costumeira. Tornara-se parte de um êxodo geracional que ia do norte da Inglaterra para o sul, onde parecia haver muito mais coisas acontecendo. Não fora nem mesmo uma decisão, na verdade: nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, as fábricas e usinas de Lancashire haviam afundado feito barcos torpedeados, e as ondas geradas por seu colapso haviam impulsionado milhares de pessoas para o extremo oposto do país. Em Londres, Tillman fizera uma série de coisas, não sendo ambicioso em nenhuma delas: um homem forte cujas forças estavam ocultas para ele. Mecânico de automóveis, gesseiro, telhador, segurança, marceneiro. Trabalhos que exigiam habilidade, certamente, e Tillman parecia adquirir todas elas rapidamente. O que não fazia era dedicar-se a um só caminho por tempo suficiente para descobrir o que ele era sob aqueles disfarces cotidianos.
Talvez, em retrospecto, devesse ter ficado óbvio que um homem como ele encontraria seu centro de gravidade numa mulher. Quando conheceu Rebecca Kelly, numa festa regada a álcool dada por seus ex-chefes num pub do leste de Londres após o horário permitido, ele tinha 24 anos e ela era um ano mais jovem. Parecia deslocada ali, contra o papel de parede retrô rosa-escuro, mas era tão extraordinária que provavelmente teria parecido deslocada em qualquer lugar.
Não usava maquiagem, nem precisava: os olhos castanhos continham todas as cores e a pele pálida fazia com que os lábios parecessem mais vermelhos do que qualquer batom poderia torná-los. O cabelo era como aquele descrito no Cântico dos Cânticos, do qual Tillman se recordava vagamente de uma aula de estudos religiosos: cachos de uvas negras. Sua tranqüilidade era como a de uma bailarina parada, esperando a abertura da peça começar.
Tillman nunca conhecera beleza tão perfeita, nem paixão tão intensa. Nunca encontrara uma virgem, tampouco, então a primeira noite em que fizeram amor fora inesperadamente traumática para ambos. Rebecca havia chorado, sentada entre os lençóis manchados de sangue com a cabeça enterrada nos braços dobrados, e Leo sentira-se aterrorizado pela idéia de tê-la machucado de alguma forma profunda e irrevogável. Então ela o abraçara, beijara-o ferozmente, e eles tentaram novamente, e fizeram a coisa funcionar.
Ficaram noivos três semanas mais tarde e se casaram um mês depois, em um cartório de Enfield. Fotos daquela época invariavelmente mostravam Tillman com o braço protetor em volta da cintura da esposa, o sorriso dele tocado pela solenidade de um homem que carrega algo precioso e frágil.
O trabalho nunca havia sido algo inteiramente real para ele. Prosperara sem esforço, serpenteara pela vida sem limites. O amor, contudo, era claramente real: o casamento era real. A vida de Tillman desdobrara-se intimamente junto à vida de outra pessoa, criando foco onde antes não havia nenhum.
A felicidade era algo de que ele nunca sentira falta porque sempre acreditara já a possuir. Agora, entendia a diferença e aceitava o milagre completo do amor de Rebecca com inquieta admiração. Não havia nada que um homem pudesse fazer para merecer um presente como aquele, então, de alguma forma, ele sempre meio que esperava que a magia se desfizesse e o presente fosse arrancado dele.
Em vez disso, as crianças tinham nascido, e o milagre simples se tornara complexo. Jud. Seth. Grace. Os nomes tinham um toque bíblico. Tillman nunca lera a Bíblia, mas sabia que havia um jardim nela, antes de o demônio aparecer e toda aquela merda acertar o ventilador. Sentia como se estivesse vivendo lá. Por seis anos ele sentiu isso.
Parte de ser feliz era que ele aprendera a focalizar suas habilidades e seu intelecto. Abrira sua própria empresa para vender sistemas de aquecimento central e estava indo muito bem — bem o suficiente para alugar um depósito com um pequeno escritório anexo e contratar uma secretária. Trabalhava seis dias por semana, mas não ficava até tarde a não ser que fosse uma emergência. Sempre quisera estar em casa para ajudar Rebecca a colocar as crianças na cama, muito embora ela nunca tivesse permitido que ele lesse histórias para elas antes de dormir. Era a única coisa a respeito de sua esposa que não compreendia. Ela tinha horror a histórias, nunca lia ficção e o interrompia no meio da frase se ele tentasse se aventurar com um "era uma vez".
Ela era um mistério, precisava admitir. Ele era capaz de se explicar para ela em uma dúzia de frases mais ou menos, sem a ajuda de gráficos, mas Rebecca era reticente a respeito do próprio passado e mais ainda em relação à família. Dizia apenas que eles eram muito próximos e muito reservados: "Éramos tudo uns para os outros". Ficava muito quieta depois de dizer tais coisas, e Tillman suspeitava de alguma tragédia a qual ele tinha medo de sondar.
Havia se casado com uma pintura? Uma fachada? Sabia tão pouco dela... Mas um homem poderia não saber nada sobre a força da gravidade e ainda assim continuar preso à Terra. Ele estava preso a ela e às crianças, bem apertado. Ao gentil e nervoso Jud, ao impetuoso e rude Seth, à furiosa e amável Grace. E a Rebecca, a quem os adjetivos assentavam muito mal porque não havia forma de descrevê-la. Se ele precisasse saber de mais alguma coisa, ela lhe contaria. E, quer contasse ou não, a força da gravidade ainda operaria.
Numa noite em setembro, quando o verão havia parado tão repentinamente quanto uma batida de carro e as árvores estavam como que em chamas, vermelhas brilhantes e amarelas, Tillman chegou em casa, nem um minuto mais tarde do que o comum, e encontrou o lugar vazio. Completamente vazio. Jud tinha cinco anos e havia acabado de entrar na escola, então, a princípio, ele pensou que talvez tivesse misturado datas e perdido uma reunião de pais e mestres. Contrito, verificou o calendário.
Nada.
Então verificou os quartos e sua contrição tornou-se abjeto terror. O lado do guarda-roupa que cabia à Rebecca estava vazio. No banheiro, a prateleira dos produtos que ela usava estava nua e a escova de dentes dele permanecia sozinha na caneca de plástico púrpura que tinha a cara de Barney, o Dinossauro. Os quartos das crianças haviam sido ainda mais completamente despidos: roupas e brinquedos, lençóis e edredons, pôsteres e peças de decoração e desenhos feitos no jardim de infância, antes pregados na parede — tudo se fora.
Quase tudo. Um dos brinquedos de Grace — o sr. Neve, um uni- córnio que cheirava a essência de baunilha — havia caído atrás do sofá e sido esquecido.
Então ele encontrou o bilhete, escrito na letra de Rebecca, com apenas quatro palavras:
Não procure por nós.
Ela nem mesmo havia assinado.
Tillman estava caminhando, magoado, tentando funcionar em meio ao choque do que ele sentia como se fosse uma amputação. Chamou a polícia, que disse a ele que deveria esperar. Uma pessoa não era considerada desaparecida por ter saído de casa: era necessário algum tempo até que alguém recebesse esse status. Tillman poderia, talvez, telefonar para os amigos e parentes da esposa, o sargento sugeriu, e ver se ela estava com alguém que conhecia. Se as crianças não aparecessem na escola no dia seguinte, então ele deveria telefonar novamente. Até lá, era muito mais provável que a família inteira estivesse bem e a salvo em algum lugar próximo do que tivesse sido abduzida em massa. Especialmente porque havia um bilhete.
Rebecca não tinha nenhum amigo, disso Tillman sabia, e não tinha nem idéia de onde a família dela vivia, caso ainda estivessem vivos. Essas opções estavam fechadas para ele. Tudo o que podia fazer era andar pelas ruas esperando a mais remota chance de esbarrar nela. Ele andou, mesmo sabendo que aquela era uma esperança vazia. Rebecca e as crianças já deviam estar longe a essa hora; o propósito do bilhete fora garantir que ele não os seguisse ou persuadi-lo — se é que isso era possível — de que haviam partido porque quiseram.
Não haviam. Esse era o ponto de partida. Enquanto perambulava pelas ruas de Kilburn como um autômato, ele reprisava os eventos do dia de novo e de novo: as crianças despedindo-se dele aos beijos, com tanta espontaneidade e amor quanto sempre; Rebecca dizendo-lhe que o carro talvez ficasse na oficina para uma inspeção, então, se ele precisasse de carona para casa, ela provavelmente não poderia pegá-lo no trabalho (ele ligou para a oficina para verificar: Rebecca havia realmente levado o carro para lá no meio do dia, pedido que trocassem o estepe na mesma hora e combinado que o pegaria na manhã seguinte, a não ser que não passasse pela inspeção). Até mesmo o conteúdo da geladeira dava testemunho: ela havia feito um estoque para a semana, presumivelmente durante a manhã, antes de deixar o carro no mecânico.
Então, o bilhete fora escrito sob coação — uma perspectiva que ele precisou afastar da mente à força, pois a perigosa raiva que ela evocava ameaçava rasgar um caminho para fora dele de forma violenta.
A polícia não fora muito mais prestativa na manhã seguinte. O bilhete, explicaram, deixava claro que a sra. Tillman o havia deixado por sua própria vontade e levado as crianças consigo porque não confiava mais nele para cuidar delas.
— Houve alguma disputa conjugal na noite anterior? — uma oficial perguntou a ele. Tillman pôde ver o desprezo nu nos olhos dela: é claro que houve uma briga, aqueles olhos diziam. Mulheres deixam o marido o tempo todo, mas elas não saem correndo com os três filhos a não ser que algo esteja seriamente errado.
Não houvera nada, Tillman dissera, mas a mesma pergunta reaparecia de novo e de novo, a cada momento acompanhada pela recusa absoluta de colocar Rebecca na lista de pessoas desaparecidas. Os filhos, sim: crianças em idade escolar e pré-escolar não podem simplesmente desaparecer. Descrições foram anotadas e fotografias, coletadas. As crianças seriam procuradas, foi o que disseram a Tillman. Mas, quando encontradas, não seriam tiradas da mãe, e a polícia não necessariamente cooperaria com a retomada de contato entre Tillman e a esposa. Isso dependeria da história que Rebecca contasse e dos desejos que expressasse.
Em algum ponto daquele círculo vicioso de indiferença condescendente e suspeita manifesta, Tillman perdeu o controle. Passou uma noite numa cela da delegacia após ter de ser retirado à força de cima de um policial, extremamente jovem, gritando obscenidades, depois que aquele roedorzinho perguntou-lhe se Rebecca andara tendo um caso. Foi sorte ele não ter conseguido colocar as mãos em torno do pescoço do rapaz: certamente pretendera fazer isso.
Até onde Tillman podia ver, não houvera nenhuma investigação verdadeira. Ele obtinha relatórios do andamento do caso a intervalos irregulares: avistamentos, os quais, de acordo com a polícia, sempre eram investigados, mas acabavam sendo alarmes falsos; artigos com notícias esporádicas, que em determinado ponto pareceram estar evoluindo para um tipo de teoria da conspiração na qual ele havia assassinado a esposa e os filhos ou então assassinado a esposa e vendido os filhos a pedófilos belgas. Mas esse tipo de fenômeno precisava ter algo de que se alimentar, e, como não houve mais notícias depois da primeira vez, acabou enfraquecendo antes de atingir massa crítica.
Tillman contemplou a ruína de sua vida. Ele poderia ter voltado a trabalhar, tentado esquecer, mas nunca sequer considerou isso como uma opção. Esquecer seria abandonar Rebecca, assim como as crianças, nas mãos de estranhos cujos planos ele não poderia nem começar a tentar adivinhar. Se eles não haviam partido por vontade própria, e ele sabia que não haviam, então tinham sido levados de uma cidade populosa sem deixar nenhum rastro. E agora estavam esperando por socorro. Estavam esperando por ele.
O problema, como Tillman era inteligente o suficiente para reconhecer, era que ele não estava nem mesmo perto de ser o homem de quem precisavam: aquele que encontraria e libertaria a família das garras de seus captores. Nem sabia por onde começar.
Sentado na cozinha de sua casa, uma semana depois do desaparecimento, ele pensou no assunto de forma implacável e lógica lúcida. O que precisava ser feito não poderia ser realizado por ele e não poderia ser confiado a mais ninguém.
Ele tinha que mudar. Precisava tornar-se o homem que os encontraria, lutaria e os libertaria e faria o que fosse preciso para restaurar o equilíbrio ao mundo. Os recursos que tinha à sua disposição eram 1.400 libras guardadas e uma mente que jamais fora testada até seus limites.
Tirou o bilhete de Rebecca do bolso. Não procure por nós. Pela milésima vez ele leu essas palavras, primeiro superficialmente, depois procurando significados ocultos. Talvez, mas apenas talvez, o espaço depois da primeira palavra fosse maior do que os outros espaços: a ânsia de Rebecca por ele projetada naquela minúscula lacuna, implorando a ele que enxergasse o que o coração dela estava realmente gritando enquanto a mão escrevia.
Não procure por nós
Estou indo, ele disse a ela mentalmente, a mão fechando-se num punho. Não vai ser já, mas estou indo. E as pessoas que tomaram vocês de mim vão sangrar e queimar e morrer.
No dia seguinte ele se alistou no exército — O Quadragésimo Quinto Regimento Médio da Artilharia Real — e começou, metodicamente, a se reconstruir.
De volta à cova dos leões, mais tarde, os colegas policiais de Harper estavam ansiosos para ouvir sobre o dia dele na rua com a megera. Ele os desapontou ao demonstrar que não tinha nada de substancial a dizer.
Ficamos juntos no carro por, tipo, uns dez minutos — explicou. — O resto do tempo passamos vasculhando a cena, duas semanas depois. Mal conversamos. Não é como se a gente tivesse saído para jantar.
Se tivessem — Combes comentou —, ela sairia por aí depois dizendo que você "disparou" cedo demais. — Isso causou muitas risadas ao redor, apesar de ser só outra variação tosca da piada-padrão sobre Kennedy que estivera circulando nos últimos seis meses. Como acontecia com as piadas, ela mantivera sua posição aparecendo em e-mails anônimos, pichações nos banheiros, nas reuniões bêbadas de baixíssimo nível no Old Star. Por que Kennedy largou o namorado ? O que Kennedy disse ao conselheiro matrimonial? Por que Kennedy nunca tem um orgasmo?
Contaram a história a Harper. Ele já a conhecia intimamente, assim como cada oficial da Polícia Metropolitana a essa altura, mas os detetives que recontavam a lenda o faziam mais para sua própria diversão do que para a dele. Kennedy fora parte de uma ARU, uma unidade de resposta armada. Ela entrara como membro de uma equipe de três. Um cara do lado de fora de um sobrado geminado em Harlesden, às 2 horas da manhã, gritava, sacudindo uma arma. Vizinhos haviam ouvido janelas se quebrarem. Uma pessoa dissera ter ouvido um tiro.
Kennedy tomara a frente, aproximando-se do sujeito de frente enquanto Gates e Leakey, seus dois colegas, moviam-se por trás de carros estacionados na rua para cercá-lo. O cara em questão, um tal Marcus Dell, de 30 anos, estava alto feito uma pipa, chapado de uma coisa ou outra, e o que ele sacudia na mão realmente parecia uma arma. Mas a mão esquerda dele estava sangrando desgraçadamente, e, de acordo com o depoimento de Kennedy depois do caso, ela suspeitara de que ele tivesse quebrado a janela dando um soco no vidro, em vez de um tiro.
Então ela se aproximara um pouco mais, falando, falando, falando o tempo todo com ele, até estar a uns três metros de distância. Então ela vira o que Dell estava segurando: um celular do tipo abre e fecha, com a parte de cima espetada para fora num ângulo sugestivo.
Ela declarou que podiam baixar as armas, e os dois outros policiais saíram dos esconderijos, cheios daquela mistura de adrenalina, alívio, raiva e a tontura ligeiramente surreal que surge nos momentos em que ficamos diante de decisões de vida ou morte e então alguém nos avisa que está tudo bem.
Dell jogou o telefone em Leakey, acertando-o bem no olho. Então, tanto Gates como Leakey perderam o controle, disparando 11 balas de um lado e de outro em seis segundos vertiginosos. Quatro dos tiros acertaram diretamente: braço, perna, tronco, tronco.
Incrivelmente, no entanto, Dell não caiu. Em vez disso ele foi em direção a Kennedy, e, como ela agora estava a pouca distância dele, o homem só precisou dar um passo à frente para fechar as mãos em torno do pescoço dela.
Consequentemente, foi Kennedy quem disparara a bala que o derrubou: atravessou o ventrículo esquerdo a uma distância sucintamente anotada no arquivo do incidente como "zero metro". Ela meio que fez o coração dele explodir pelas costas, e depois o homem ficou ali, esvaindo-se em sangue, enquanto Gates e Leakey confirmavam a morte.
Essa era a história contada pela esposa do morto, a única testemunha ocular disposta a se apresentar. Revelou-se que Dell estivera tentando entrar à força na própria casa, o resultado de um desentendimento conjugai cujas raízes estavam na droga que ele consumira e em sua indisposição para compartilhá-la. Lorina Dell fora muito clara em relação à seqüência de eventos e aos respectivos papéis que os três oficiais armados haviam desempenhado.
Gates e Leakey contaram uma história diferente, é claro. Alegaram que haviam atirado antes de Dell jogar o telefone, e a crença ainda não alterada de que aquilo era uma arma de fogo.
A história ficava um tanto vaga nesse ponto. Leakey também ofereceu como evidência uma arma, uma GSh-18 russa e barata, ainda com o pente cheio, que ele alegava ter encontrado enfiada na parte de trás do cinto de Dell. Gates confirmou que essa era a proveniência da arma, mesmo quando se descobriu que não havia uma única impressão digital de Dell nela.
O testemunho que confrontou os deles, quando o caso finalmente chegou a um tribunal, não foi o da esposa drogada do morto. Foi o de Kennedy. Ela negou que a GSh-18 tivesse sido encontrada na cena do crime (uma grande quantidade de armas havia chegado recentemente aos armários de evidências após uma batida policial em um navio cargueiro que revelara estar contrabandeando armas, haxixe e — incongruentemente — pílulas de Viagra ilegalmente fabricadas). Ela acusou ambos os parceiros de terem disparado contra Dell quando ele claramente não oferecia ameaça.
A decisão de Kennedy de bancar a honesta pegou todos de surpresa. Significava que sua própria licença de ARU se tornara inválida, assim como a de Gates e Leakey, e a colocava contra o departamento numa luta que, no final, ela não poderia vencer. O sujeito havia morrido com as mãos ao redor do pescoço de uma policial; o caso nem precisaria ir a julgamento se todos eles contassem a mesma história.
Em sucessivas entrevistas, Kennedy fora convidada a repetir sua versão dos eventos provavelmente uma dúzia de vezes, sem que uma única palavra fosse anotada. Entrevistadores diplomáticos convidaram-na a considerar a ordem em que os eventos-chave haviam se sucedido e a verdadeira extensão do perigo gerado pelo ataque do sr. Dell a ela. Essas sessões de revisão já haviam sido usadas em outros casos controversos com resultados positivos para a força e todos os oficiais envolvidos. Mas não havia nada que pudessem fazer por uma policial sem senso de auto-preservação. Kennedy continuou a declarar que ela, Gates e Leakey haviam usado força letal contra um viciado em drogas confuso que mal conseguia parar em pé. Ela obrigou o promotor a acusá-la formalmente.
Até então, isso ainda não havia acontecido. O caso tornara-se uma escaramuça de três lados entre a Polícia Metropolitana, o escritório da Promotoria e a Comissão de Queixas Contra a Polícia. Um inquérito completo estava em andamento e precisaria ser finalizado antes que quaisquer acusações fossem feitas. Até lá, Gates e Leakey estariam suspensos com salário completo, enquanto Kennedy pôde continuar na divisão, sem porte de arma, fazendo seu trabalho normalmente.
Só que nada havia voltado ao normal para ninguém ali. Kennedy estava em Coventry: uma pária na cova dos leões, um alvo ambulante para qualquer coisa que os outros investigadores quisessem atirar nela, e talvez, Harper pensou, prejudicada de formas menos tangíveis — abaixo da superfície, onde ninguém poderia ver. Quando ela o avisara para ficar longe dela, ele tivera a impressão de que se tratava de frio pragmatismo, mais do que de generosidade extravagante. Algo como a maneira como os oficiais presos no Titanic haviam finalmente dito aos botes de resgate que se afastassem para que não fossem também puxados para baixo quando o grande navio afundasse.
Harper percebeu que Combes ainda estava olhando para ele, esperando uma resposta para a história preventiva.
Ela não parece a pessoa mais fácil do mundo para trabalhar - Harper disse, como quem joga um petisco para acalmar um cão furioso.
É isso aí — alguém concordou. Seria Stanwick?
Mas acho que ela realmente ficou contrariada com a forma como aqueles outros dois caras estragaram a ação de prisão.
A atmosfera na sala ficou um tanto mais fria.
O que é que aquele desgraçadozinho esperava? — Stanwick perguntou. — Ele atacou uma policial, morreu. Bem feito!
Legal — Harper disse. — E eles provavelmente vão concordar com isso. Então, a Kennedy não está prejudicando ninguém por manter a história que contou.
Você acha que tem chance, é? — Combes inquiriu num tom peremptório. — Ela é bem bonita, né?
Considerando objetivamente, Kennedy tinha tudo o que era necessário para fazer jus a essa descrição: uma figura que tinha as curvas nos lugares certos, com belíssimos cabelos loiro-claros usados severamente amarrados atrás de um jeito sugestivo como se fosse soltá-los e sacudi-los em um prelúdio ao sexo, e que isso seria algo digno de ver, e um rosto que — embora um tanto pronunciado no nariz e no queixo - ainda tinha uma expressão intensa, atraente, sem dúvida.
Mas ela era dez anos mais velha do que a namorada de Harper, Tessa, e aquele relacionamento era novo o suficiente para distorcer o julgamento dele em relação a quaisquer outras mulheres. Ele encolheu os ombros evasivamente.
Ele acha que tem uma chance — Combes anunciou para a sala.
Bom, pode esquecer isso aí, filho. Ela é sapatão.
Ah, é? — Harper estava interessado agora, mas apenas como detetive. — Como é que você sabe?
Nós fomos ver uma corrida de cavalos no último mês de março. O departamento inteiro foi — Stanwick disse a ele, como se estivesse falando com um idiota —, e ela levou uma franguinha com ela.
Isso não faria metade de vocês ser sapatão também? — Harper perguntou inocentemente. Seu tom era leve e amigável, mas o frio na sala só aumentou: em algum nível, isso era um teste, e ele não estava indo bem.
De todo jeito, é melhor aproveitar enquanto pode, colega — um dos outros detetives concluiu. — Ela não vai ficar aqui por muito mais tempo.
Não — Harper concordou. — Provavelmente não.
A conversa voltou-se para outros assuntos e fluiu ao redor dele, deixando-o de fora. Ele deixou a roda. Tinha uma porção de telefonemas a fazer e poderia muito bem começar enquanto Kennedy estava fora, entrevistando a irmã de Barlow.
O Fórum Histórico de Londres era um evento bianual que acontecia na universidade. Ele descobriu o escritório da organização, que ficava em Birkbeck, e depois de fazer todo o percurso telefônico com uma tonelada de recepcionistas e assistentes, conseguiu finalmente solicitar uma cópia da lista de contatos da última conferência. Ela chegou anexada a um e-mail meia hora depois — mas, em vez de um documento digitado em um editor de textos, eram imagens em JPEG. Cada página havia sido inserida separadamente na bandeja da copiadora e escaneada, em alguns casos sem nenhum cuidado, de forma que as primeiras letras dos sobrenomes estavam cortadas do lado esquerdo e as últimas duas ou três linhas de cada página pareciam estar faltando.
Harper respondeu ao e-mail perguntando se havia uma versão em Word da lista em algum lugar do sistema deles. Depois, imprimiu as imagens. Podia trabalhar com o que já havia recebido.
Enquanto seguia pelo corredor até a impressora, Harper pensou na conversa que acabara de ter. Por que ele havia apoiado Kennedy ou, no mínimo, se recusado a juntar-se à condenação generalizada? Ela estava longe de ser agradável e deixara abundantemente claro que ficaria feliz em trabalhar sozinha naquele caso.
Mas era o primeiro caso de Harper, e uma parte primitiva dele se rebelava contra a idéia de dar as costas a isso. O anjo que cuidava do trabalho policial devia olhar apenas vagamente para os oficiais que se recusavam a agir por medo de correr perigo. E Kennedy parecia ter bons instintos, também: não era espalhafatosa, mas metódica e cuidadosa. Já vira policiais espalhafatosos e preferia o conjunto básico de habilidades aplicado de forma inteligente. Por mais que a mente dela estivesse fora do eixo como resultado do incidente Dell, o caso pendente na corte e o fato de viver exilada no próprio departamento, ela ainda estava tentando fazer seu trabalho.
Então, ele trabalharia com Kennedy e lhe daria o benefício da dúvida — por enquanto, pelo menos. Se ela o podasse demais, ou se provasse ser mais instável do que imaginara, ele ainda tinha a opção de falar com seu superior e alegar diferenças pessoais com a parceira, como ela havia sugerido.
Enquanto isso, estar do lado oposto numa discussão com gente como Combes e Stanwick — os quais ele já identificara como babacas interesseiros — era um bálsamo para a alma.
Ele levou as folhas impressas de volta a sua mesa e começou a árdua e desagradável tarefa de desencavar o depoimento de uma testemunha ocular que poderia nem mesmo existir.
Tinha percorrido apenas sete nomes na lista quando encontrou o próximo cadáver.
O endereço de Rosalind Barlow era o mesmo de Stuart Barlow. Irmão e irmã viviam juntos — haviam vivido juntos num bangalô estilo chalé, localizado logo ao sair do anel viário M25, em Merstham, lugar que provavelmente já havia sido uma vila. Assim como William e Caroline Herschel, os Wordsworths e Emily, Anne e Charlotte com Bramwell[2]. Kennedy tinha um irmão também e, portanto, duvidava desses arranjos domésticos. Namorados que vinham morar junto já eram ruins o bastante: ter um irmão ocupando a casa era uma garantia ainda maior de prender as pessoas a ferros em sua imaturidade e numa co-dependência neurótica.
Dez minutos após chegar ela já havia mudado completamente essa estimativa inicial. Ros Barlow era uma mulher dura e auto-confiante, alta e de compleição sólida, com uma cabeça de cabelos castanho-avermelhados feita para ser esculpida em algo grande e heráldico — o tipo de mulher a quem as pessoas atribuem uma "beleza digna". Era 15 anos mais jovem do que o irmão, e a casa era dela, herdada dos pais. Stuart Barlow estivera vivendo ali sem pagar aluguel por muitos anos, enquanto Ros se mudara para aceitar um emprego no departamento de segurança de um banco em Nova York. Ela voltara a Londres apenas recentemente para usufruir de um cargo melhor na cidade; então acabara compartilhando a casa com o irmão por alguns meses, enquanto ele procurava outro lugar para morar. Agora, no entanto, era ela quem estava procurando outro local.
Tenho uma amiga com quem posso ficar por algumas noites. Depois disso, vou tentar conseguir uma casa mais perto do centro. Se não encontrar nada à venda, alugarei por enquanto. Com certeza não vou ficar aqui.
Por que não? — Kennedy perguntou, surpresa com a veemência da mulher.
Por que não? Porque é do Stu. Cada uma das coisas aqui é dele, e ele levou anos para deixar tudo exatamente do jeito que queria. Prefiro vender a casa para alguém que goste desse tipo de coisa a passar os próximos dois anos mudando peça por peça até chegar a algo de que eu goste. Se ficasse aqui, sentiria como se... — ela tateou mentalmente, procurando as palavras certas — ... como se ele ainda estivesse tentando se agarrar a mim e eu estivesse quebrando os dedos dele um por um. Seria horrível.
Ros havia recebido a notícia de que a investigação fora reaberta de um modo muito peculiar:
Que bom — fora tudo o que dissera.
As duas estavam sentadas na sala de estar do chalé, em que se viam gravuras do século XIX retratando o personagem Punch nas paredes e um balcão de bebidas que havia sido remodelado a partir de uma escrivaninha vitoriana com tampo corrediço. Uma escada aberta de iesign moderno, de degraus que tinham as partes verticais vazadas, iividia a sala em duas — algo que não se esperaria em um bangalô. Presumivelmente, Barlow mandara realizar algum trabalho de extensão no espaço do sótão, e agora havia um quarto lá em cima.
A senhora pediu a autópsia — Kennedy disse, colocando de lado a pequena, mas extremamente potente, xícara de café espresso que Ros lhe dera quando ela chegara. — Foi porque a senhora suspeitou de que a morte de seu irmão não foi acidental?
Ros bateu os dentes impacientemente.
Eu sabia que não tinha sido — disse. — E eu disse exatamente por que ao policial que veio até aqui. Mas pude perceber que ele não estava ouvindo, então, tive que exigir a autópsia também. Já vi muita gente extenuada de tanto trabalhar e reconheço os sinais. Você tem que fazer barulho, tem que se tornar absurdamente barulhenta e óbvia para ser ouvida por elas. Do contrário, simplesmente arquivam seu pedido como sempre e não dá em droga nenhuma.
Kennedy concordou nesse ponto, mas não disse nada sobre isso. Não estava lá para brincar de "ai, isso não é horrível?".
Foi um oficial local, eu presumo? — perguntou. — Uniformizado?
Sim, uniformizado. — Ros franziu o cenho, lembrando-se. — E o chamei de policial, mas, na verdade, não perguntei o posto dele. Ele tinha uns números — números e letras — nos ombros, mas não havia listras nem estrelas nem nada assim. Eu morei no exterior por uns bons anos, mas acho que isso faz dele um policial comum, a não ser que as regras quanto aos uniformes tenham mudado.
Sim — disse Kennedy —, é isso mesmo. — Ela apreciou o fato de que Ros conseguisse relembrar tais detalhes depois de duas semanas. Significava que ela poderia lembrar outras coisas com a mesma clareza. — Então, o que a senhora achou que havia acontecido com Stuart? — perguntou.
A expressão de Ros endureceu.
Ele foi assassinado — disse.
Certo. Por que diz isso?
Ele me contou. — A surpresa de Kennedy deve ter se mostrado através de sua face profissional indiferente, pois Ros continuou mais enfaticamente, como se alguém a estivesse contradizendo: — Ele contou, sim. Contou isso para mim três dias antes de acontecer.
Contou que seria assassinado?
Que alguém poderia atacá-lo. Que ele se sentia ameaçado e não sabia o que fazer.
Ros estava se tornando mais estridente. Diante daquela emoção exaltada, Kennedy mostrou-se deliberadamente apaziguadora:
Isso deve ter sido terrível para vocês dois — disse. — Por que a senhora não entrou em contato com a polícia?
Stu já tinha feito isso ao perceber que estava sendo seguido.
Na conferência.
Sim. Nessa ocasião.
Mas, se ele estava mesmo sendo ameaçado... — Kennedy experimentou. Podia perceber que a outra mulher não gostava de ser interrogada e que provavelmente encararia qualquer pergunta como um desafio, a não ser que ela escolhesse palavras tão neutras quanto possível. — Ele explicou essas coisas naquela época? — perguntou. — Quero dizer, quando ele chamou a polícia e contou que estava sendo seguido? Ou havia algo mais? Algo que ele guardou consigo? Estou perguntando porque li o arquivo do caso agora e não houve menção a nenhuma ameaça real.
Ros balançou a cabeça, fechando o cenho.
Eu disse que ele se sentia ameaçado, não que estava sendo ameaçado. Ele contou à polícia tudo o que havia para contar, tudo o que era verificável. O resto eram... impressões, eu acho. Mas sei que ele tinha medo. Não medo em geral, mas de algo específico. Sargento Kennedy, meu irmão não era exatamente um homem equilibrado. Quando éramos crianças, era sempre ele quem tinha os entusiasmos repentinos — vivia tendo manias de colecionador, ficando viciado em HQs ou séries de TV cult, esse tipo de coisa. E emocionalmente, também, ele sempre foi... simplesmente uma bagunça. Então, eu tinha todos os motivos para acreditar que meu irmão estava exagerando, inventando alguma coisa a partir de nada. Mas não foi isso. Dessa vez, foi diferente.
Diferente como?
Alguém invadiu a casa, tarde da noite, e mexeu em todas as coisas do Stuart. Isso não foi imaginação.
A resposta de Kennedy saiu automática:
Vocês fizeram uma denúncia? Quero dizer, há alguma evidência registrada? Isso está documentado em algum lugar?
Claro que denunciamos. Do contrário, não poderíamos acionar o seguro.
Então, algo foi roubado?
Não. Nada, até onde pudemos ver. Mas precisávamos de novas rechaduras e a porta dos fundos necessitava ser consertada. Foi assim, por lá, que ele entrou, quem quer que fosse.
Isso foi antes ou depois de o professor Barlow perceber que estava sendo seguido?
Depois. E foi quando comecei a levar toda essa história a sério. Mas vocês evidentemente não levaram.
Porque ninguém tinha dado a devida atenção ao caso, Kennedy pensou, mesmo depois de Barlow aparecer morto. A queixa de Barlow a respeito do perseguidor só viera à tona depois de os resultados da autópsia ficarem prontos — e quaisquer registros desse arrombamento e invasão de domicílio provavelmente ainda estavam perdidos no sistema. Chegava a ser ridículo. O registro criminal central não era exatamente novo, nem complicado. Supostamente, deveria funcionar de maneira automática agora, cruzando referências dos casos antigos com as dos novos à medida que entravam no banco de dados da divisão. Desde que, antes de tudo, os encarregados preenchessem os campos corretamente, os casos mais velhos surgiriam em destaque sem que o usuário precisasse fazer nada.
Mas não dessa vez.
Parece que nós realmente erramos desde o começo — Kennedy admitiu, tentando antecipar-se à hostilidade de Ros Barlow fazendo um mea-culpa. — Mas, se a senhora estiver certa, por que o assaltante não atacou seu irmão aqui, depois de ter conseguido entrar na casa? Ele foi pego no flagra ou algo assim? A senhora e seu irmão o ouviram entrar?
Ros balançou a cabeça.
Não, não ouvimos — disse. — Só descobrimos que alguém tinha invadido a casa quando descemos, na manhã seguinte.
Então, assumindo que houvesse mesmo uma ligação entre os eventos, o motivo tinha que ir além do simples desejo de matar Barlow. Ele poderia ter sido morto aqui com a mesma facilidade com que fora na universidade, mais facilmente ainda, se tivesse sido pego enquanto dormia.
Kennedy pensou novamente na bagunça espetacular que era o escritório de Barlow. Talvez aquele não fosse o estado normal das coisas: alguém poderia ter invadido o local, também. Ela olhou para a faixa de sol ligeiramente inclinada que entrava por entre as cortinas, as partículas de poeira suspensas no ar parado. A palavra assassinado parecia um tanto irreal nessa sala — e a cena que ela imaginara, com o corpo de Barlow sendo arrastado escada acima no prédio de história para ser jogado para baixo novamente, soava ridícula e melodramática. Mas, ao contrário de Stuart Barlow, ela não estava agindo com base em sensações. Estava respondendo a evidências, e a evidência apontava em direção a algo complicado e sórdido. Um assassinato precedido por um arrombamento completamente separado significava um plano ou um motivo maior do que simplesmente o desejo de ver alguém morto.
A senhora discutiu com seu irmão sobre o que esse intruso poderia estar procurando? — ela perguntou. — Se o professor Barlow estava com medo, era porque tinha algo específico nas mãos? Algo de valor que alguém poderia vir procurar?
Ros hesitou dessa vez, mas finalmente balançou de novo a cabeça — uma admissão de ignorância.
É possível, mas o Stu quase nunca discutia o trabalho dele comigo porque sabia que isso me enchia o saco. Ele falava muito com os Ravellers, ultimamente. Então, estava trabalhando em algo antigo. Mas na maior parte do tempo eles lidam com fotos e transcrições, não com os originais. Não haveria razão para ele ter artefatos valiosos aqui em casa.
Os Revellers?
É Ravellers, não Revellers. É uma comunidade da Internet para paleógrafos — pessoas que trabalham com manuscritos velhos e incunábulos.
Acadêmicos profissionais, então, como seu irmão?
E amadores também. Muita gente faz isso por diversão.
Como posso entrar em contato com eles?
Ros encolheu os ombros.
Desculpe, não sei. Só uso computadores para fazer planilhas e mandar e-mails. Eles são... um fórum? Um website? Eu nem sei. Vai ter que perguntar a um dos colegas do Stu. Mas acho que você definitivamente deveria começar com eles. Não consigo pensar em mais nada na vida do Stu que poderia ter motivado alguém a seguido ou atacá-lo.
Kennedy lembrou-se de algo que Ellis dissera.
Ele estava escrevendo um livro. Poderia haver algo de sensacional ou controverso nele? Uma nova teoria ou refutação de uma teoria antiga? Algo que poderia ter prejudicado a reputação de alguém?
De repente, Ros pareceu desolada. Por um momento, não respondeu, e, quando o fez, tinha um tremor na voz:
O Stu passou os últimos dez anos trabalhando naquela droga de livro. Ele dizia que provavelmente acabaria escrevendo os agradecimentos só no leito de morte. — Ela fez uma pausa e então acrescentou, em um tom mais frio e monótono: — O fato de ele não conseguir decidir nem qual era a porcaria do tema do livro não ajudou. Por uns bons cinco anos, ia ser sobre os Manuscritos do Mar Morto. O Stu estava convencido de que ainda havia grandes coisas a descobrir neles, mesmo que todo mundo do ramo já os tivesse estudado nos últimos sessenta e poucos anos. Sabe quantos livros já foram escritos sobre esses manuscritos? Centenas. Literalmente, centenas. Quando eu perguntava ao Stu por que alguém ia querer ler o dele, ele ficava todo misterioso e citava versos de William Blake.
Que versos? — Kennedy perguntou.
Hum... alguma coisa do tipo "nós dois lemos a Bíblia dia e noite, mas tu lês negro onde eu leio branco". O Stu achava isso simplesmente genial, o que quer que signifique. Mas aí ele perdeu totalmente o interesse por esses manuscritos. Entrou no período gnóstico dele. Todos aqueles primeiros cultos cristãos esquisitos — os arianos e os nestorianos e toda aquela gente feliz. Depois, foi sobre o bispo Irineu. Então, finalmente, passou a ser sobre o Rum. Acho que, da última vez que falamos sobre isso, era nesse ponto que ele estava. O Rum. Seria uma reinterpretação completa do Rum.
Kennedy fez um gesto de "prossiga", o que a poupou de ter que admitir verbalmente que não tinha a menor idéia do que a outra mulher estava falando. Ela presumiu que não tivesse nada a ver com bebidas alcoólicas.
O Códice do Rum — Ros explicou. — É uma tradução medieval de uma versão perdida do Evangelho de João. É a coisa mais obscura que você pode imaginar, a não ser que queira pesquisar algo como a origem da pontuação gráfica. Eu não acho que a reputação de alguém estivesse ameaçada pelo livro do Stu. Nem mesmo a do Stu. Algumas universidades requerem que os acadêmicos publiquem obras para continuar fazendo parte da equipe. Mas o Stu tinha estabilidade, então estava escrevendo no próprio ritmo.
Kennedy fez mais algumas perguntas, a maioria sobre os colegas de Barlow na Prince Regent e os amigos que ele fizera on-line. Ros foi vaga em ambos os assuntos. Claramente ela não estivera muito envolvida nem na vida pública do irmão nem nos entusiasmos particulares dele.
Enquanto ela acompanhava Kennedy até a porta, no entanto, algo lhe ocorreu.
Michael Brand — disse, como se respondesse a uma pergunta que Kennedy já tivesse feito.
Quem é esse?
Um dos Ravellers. É o único cujo nome Stu já mencionou para mim. Você pode até não precisar ir tão longe assim, se quiser falar com ele. Ele está trabalhando em Londres no momento, ou, pelo menos, estava, até poucas semanas atrás. O Stu encontrou com ele na noite antes de morrer.
Só socialmente ou...?
Ros abriu as mãos, mostrando as palmas vazias.
Não tenho a menor idéia. Mas ele estava hospedado em um hotel em algum lugar da zona oeste, perto da universidade. Perto o suficiente para o Stu ir caminhando até lá depois do trabalho. Talvez eles tenham conversado sobre isso tudo. Talvez seja por isso que Brand estava lá.
Caminharam juntas até a porta, e Ros visivelmente ainda procurava uma entre suas memórias recentes.
Não era o Bloomsbury — murmurou. — Nem o Great Russell. Mas era nessa região, e o nome tinha duas palavras. Duas palavras curtas.
Ela abriu a porta. Kennedy saiu, depois se virou para encará-la.
Pride Court — disse Ros. — O Pride Court Hotel.
Foi de grande ajuda, srta. Barlow — Kennedy respondeu. — Muito obrigada.
Não há de quê — Ros volveu sem calor. — É só retribuir o favor.
O telefone de Kennedy tocou enquanto ela voltava para o carro.
Reconheceu o número como um dos telefones da cova dos leões e ficou tentada a ignorá-lo, mas poderia ser Summerhill pedindo notícias. Ela o abriu usando apenas uma mão enquanto procurava as chaves com a outra.
Kennedy.
Oi. E o Chris Harper.
Como estão indo as coisas?
Estão indo muito bem. Sério, sargento, minha taxa de produtividade já está varando o teto.
O carro emitiu um som digital irritado quando Kennedy pressionou o alarme da chave, mas ela não se moveu em direção à porta.
O quê? — perguntou a Harper. — O que quer dizer?
A risada dele carregava um tremor de agitação, mas ele conseguiu adotar um tom de voz tedioso e triunfal ao responder:
Quando começamos, só tínhamos um cadáver. Agora, temos três.
As primeiras histórias de zumbis começaram a chegar dois dias depois do acidente, mas a grande onda de boatos estourou só no quarto dia. Essas coisas levam um tempo para ganhar impulso, o xerife Webster Gayle conjecturou, mas depois que atingem certo ponto não há forma de detê-las.
Houve apenas uma história no segundo dia — um avistamento real, se é que se podia chamar assim, embora, de fato, não fosse exatamente isso. Sylvia Gallos, a viúva de um dos homens que haviam morrido no Vôo 124 da Coastal Airlines, acordara no meio da noite ouvindo ruídos no andar de baixo da casa. Embora perturbada pela angústia do luto, ela ainda teve presença de espírito para remexer na gaveta da mesa de cabeceira e encontrar o pequeno revólver calibre .22 que Jack, seu marido, comprara para ela. Os negócios dele o haviam mantido longe de casa por longos períodos, e ele se preocupara com a segurança dela.
De arma em punho e mão mais ou menos firme, a sra. Gallos descera lentamente para encontrar a casa vazia e a porta ainda firmemente trancada. Mas a TV estava ligada, um copo de uísque com água jazia meio bebido na mesa da sala e o ar estava repleto do cheiro da colônia favorita de seu falecido marido, Bulgari Black.
Foi só o que aconteceu no segundo dia, mas a repercussão foi grande e a notícia ficou por longo tempo nos noticiários, normalmente ao final dos 10 ou 12 minutos de notícias mais sérias e solenes sobre o desastre. As autoridades ainda estavam tentando descobrir em quem jogar a culpa pela queda do avião. A caixa-preta ainda não fora recuperada, embora muita gente estivesse procurando por ela, e as opiniões se dividiam quanto ao que exatamente acontecera durante o voo. Teria sido uma atrocidade terrorista? Talvez uma conseqüência de longo prazo de toda a cinza vulcânica acumulada no topo da atmosfera depois da erupção daquele vulcão na Islândia mais ou menos um ano atrás? Ou, pior de tudo, do ponto de vista industrial, uma falha de projeto que significava que todos os aviões daquele modelo (era um Embraer E-195 com apenas quatro anos de uso) teriam que ser mantidos no solo num futuro próximo?
No terceiro dia, de acordo com a TV, alguém encontrara uma parte da resposta para isso. Ainda não havia caixa-preta, mas o pessoal do seguro e da Administração Federal de Aviação (FAA) já havia vasculhado a maior parte dos destroços e eles contavam uma história consistente, ainda que incompleta. Uma das portas se estourara e abrira no meio do vôo, causando uma despressurização repentina e maciça. Depois disso, as coisas foram se sucedendo feito peças de dominó em queda: a antepara de pressão se dobrara, fazendo com que alguns cabos hidráulicos se rompessem, e poucos segundos depois os estabilizadores verticais se romperam. Os motores perderam velocidade, o fluxo de ar se interrompera e, a partir desse momento, o avião — que, quando vazio, pesava 32 toneladas — tornara-se tão aerodinâmico quanto um saco gigante cheio de calotas de pneu. A gravidade fez seu trabalho, envolvendo o Vôo 124 em seu abraço destrutivo.
Em Peason, ainda havia um sentimento de choque e luto pelos estranhos mortos que haviam tombado do céu, mas para a nação como um todo parecia haver uma sensação de que o acontecimento era um pouco menos interessante, agora que tinha uma explicação. Consequentemente, no terceiro dia as histórias particulares sobrepujaram os relatos sobre a queda em si. O foco agora se voltava para a mulher que estivera voando para Nova York com o propósito de reunir-se com a irmã após vinte anos de inimizade; para o cara que pretendia fazer uma proposta de casamento a seu amor de infância; para os três passageiros que, embora viajassem separadamente e aparentassem não se conhecerem, haviam estudado na mesma turma no Northridge Community High School.
E entre todas essas histórias trágicas de telenovela caça-níqueis havia os mortos ambulantes. No quarto dia, eles surgiram com toda a força.
Um escrevente do Departamento de Obras Públicas de Nova York, que tomara o Vôo 124 para voltar para casa após uma viagem oficial à Cidade do México, havia deslizado para dentro de seu escritório, mandado alguns e-mails, visto pornografia na Internet e depois — sem deslizar para fora nem ser visto pelos funcionários da segurança ou da recepção — desaparecido sem deixar rastros. Estava deitado em uma mesa do necrotério em Peason no momento, mas evidentemente a rotina é uma coisa poderosa.
Uma mulher de Nova Jersey, também entre os passageiros do 124, tirara o carro da garagem e dirigira até um supermercado local, onde sacara 50 dólares em um caixa eletrônico e aparentemente comprara uma lata de anchovas e um brinquedo para gatos que imitava um peixinho dourado preso a um fio. Tais coisas foram encontradas no porta-malas do carro depois, no mesmo dia, quando o mercado fechara e viram o veículo ainda no estacionamento. O namorado da mulher afirmou que, depois de voltar de uma viagem, ela sempre comprava para Félix, seu gato birmanês, agrados daquele tipo.
E, talvez o caso mais sinistro de todos, outra passageira, uma sra. Angélica Saville havia telefonado a seu irmão em Schenectady para reclamar que o avião estaria voando em círculos havia horas em uma neblina tão densa que não se podia ver nada pelas janelas. O telefonema havia acontecido 61 horas completas depois de o 124 vir ao chão.
Você ouviu essas coisas? — Webster Gayle perguntou a Eileen Moggs durante o costumeiro almoço dos dois no meio da semana, no café Kingman Best of the West, a pouco mais de três quilômetros da cidade, na Rodovia 93. Ele lhe mostrou a história sobre a mulher de Nova Jersey, e ela se encolheu como se aquilo lhe causasse dor física.
Alguém traz essa história de volta a cada dez anos, mais ou menos — Moggs disse. A expressão no rosto dela era azeda, e Gayle lamentou tê-la causado. Achava o rosto dela — marcado, de feições fortes, enfático, coroado por um tufo de cabelos vermelhos como fogo baixo — uma coisa linda e incrível de olhar. — As pessoas só esperam até que todo mundo tenha esquecido a última vez que a história foi contada e, aí, raios me partam se não saem contando tudo de novo. E uma tradição picareta. Vem desde a época da Grande Inundação de Melaço de Boston.
Gayle achou que não havia ouvido direito.
Inundação de quê?
A Grande Inundação de Melaço de Boston, em 1919. Pare de sorrir, Web. Foi um verdadeiro desastre, e duas dúzias de pessoas morreram. Um tanque de armazenamento estourou. As pessoas se afogaram no melaço, o que deve ser um jeito bem horrível de morrer.[3]
Sentindo-se repreendido, Gayle balançou a cabeça, concordando que era um desastre mesmo. Moggs continuou defendendo o que dizia:
— Por várias semanas depois, os jornais publicaram histórias sobre como os mortos ainda estavam aparecendo para o trabalho. Ou os fantasmas deles. Citavam sobreviventes — colegas e parentes — que teriam dado todo tipo de detalhe corroborativo. "Sim, essa era a camisa do John", "Mary sempre sentava nessa cadeira" e por aí vai. Só que as pessoas nunca disseram essas coisas. Ou talvez uma ou duas tenham dito. Depois disso, restaram só os picaretas inventando e os malucos e pilantras colaborando. Foi só isso que aconteceu.
O xerife Gayle disse que aceitaria a palavra dela a respeito disso, como normalmente fazia com a maior parte de tudo o que escapava à própria experiência pessoal, muito limitada — o que significava dizer qualquer coisa fora dos limites do condado de Coconino. Mas não era bem verdade. Em algum nível subconsciente, ele se sentia atraído por essas histórias de estranhas aparições. Um bando de pessoas havia morrido de uma só vez, de forma repentina e traumática. Seria exagero imaginar que algumas delas poderiam voltar? Que talvez seus espíritos tivessem sido libertados tão rapidamente que eles nem mesmo haviam percebido que estavam mortos, então continuaram fazendo todas as mesmas coisas de sempre até que as notícias os alcançassem e eles desaparecessem? Era uma idéia assombrosa. Ele não a dividiu com Moggs, mas continuou revirando-a mentalmente, de novo e de novo.
No quinto dia, notícias de mortos ambulantes só tiveram um breve descanso na mídia de massa, mas era possível encontrar um zilhão delas na Internet. Com a ajuda de Connie, que era muito menos cética do que Moggs, ele saiu à procura dessas histórias e começou a compilar uma lista definitiva. Não se incomodava que nem sempre citassem fontes e que detalhes como nomes e idades mudassem de um relato para o outro. Não há fogo sem fumaça, raciocinou. E já que essa metáfora reerguia a memória horrenda e indelével do próprio desastre, parecia haver quase que uma verdade atemporal nela. Havia mais coisas no céu e na terra. As pessoas só não sabiam disso — até que algo acontecesse com elas e então passassem a saber.
Por todo esse tempo, o Departamento do Xerife do Condado esteve envolvido na investigação do desastre, mas apenas, digamos, como força facilitadora. A equipe mantivera a multidão longe dos destroços no primeiro dia e coordenara o acesso para as ambulâncias e os paramédicos. Jornalistas vinham aos montes e eram mantidos bem longe do local, exceto por Moggs, que tinha permissão para vagar por ali à vontade, desde que não fizesse alarde a respeito disso. Ninguém via esse privilégio com maus olhos: o xerife Gayle era tido em alta conta, e a maior parte de seus oficiais meio que se sentiam tomados por uma certa satisfação com a idéia de que ele estava conseguindo "favores especiais" da jornalista por isso.
Então, quando os peritos da companhia aérea, os da FAA e os da companhia de seguros apareceram, Gayle e sua gente tomaram a frente na busca pela caixa-preta, que teria sido como procurar uma agulha num palheiro se tivesse sido deixada para os forasteiros. A coisa emitia um sinal, e os localizadores eram umas bugigangas especiais, travadas naquele comprimento de onda e tão sensíveis que o usuário quase podia senti-los puxando seu braço feito um cão de caça na guia. Mas ainda era preciso conhecer a área para fazer com que o equipamento localizasse alguma coisa. Se deixasse o aparelho trabalhar por conta própria, o usuário acabaria topando com um planalto ou leito de riacho seco depois de uns poucos quilômetros, e teria que voltar. E aí já teria saído do caminho inicial e acabaria partindo em outra direção, atirando o carro em uma vala e por aí vai. Então, o Departamento do Xerife do Condado mandou quatro oficiais para trabalhar com os grupos de busca, só para ajudá-los a se deslocar sem problemas pelo terreno.
Também estavam oficialmente encarregados do que ia e vinha, laboriosamente preenchiam formulários e registravam a remoção de evidências físicas. Não era um trabalho policial glamoroso — muito pouco do que caía na jurisdição de Gayle poderia ser chamado assim —, mas mantinha o acidente aéreo na vanguarda de sua mente e o colocava em contato diário com as pessoas que realmente estavam investigando o caso.
Ele aproveitava a oportunidade para mencionar os avistamentos de mortos ambulantes com qualquer pessoa que parecesse considerar o assunto divertido ou mórbido, e de uma forma ou de outra todos achavam que eram mentira. Uma das funcionárias do FAA, no entanto, fora mais receptiva à idéia. Era uma mulher alta e agitada chamada Sandra Lestrier e membro de uma igreja espiritualista. Isso não a tornava crédula, como ela fazia questão de explicar: espiritualista não era outra palavra para trouxa, significava alguém que acreditava e mantinha contato com outra dimensão da infinita pluralidade que era a vida. Mas ela tinha uma teoria sobre fantasmas e, ainda que relutasse no começo, acabou consentindo em dividi-la com Gayle.
Com sua altura impressionante e a aparência rude e bonita sem esforço, ele sempre exercera certo encanto sobre as moças. Mas nunca abusava disso: agora, aos 50 anos, com o cabelo ficando prateado, mas ainda farto como sempre, seu charme se metamorfoseara — para sua dor — no ar de um tio amigável e seguro. As mulheres gostavam de falar com ele. Mas só Moggs parecia disposta a levar a conversa para a cama.
— Os fantasmas são as feridas do mundo — Sandra Lestrier disse a Gayle. — Vemos o mundo como uma coisa grande e física, mas essa é só uma pequena parte do que ele é. O mundo está vivo — é assim que ele consegue gerar vida. E, se algo assim tão grande está vivo, era de se esperar que tivesse uma alma enorme também, né? Quando o mundo sangra, o que ele sangra é espírito. E é isso que os fantasmas são.
Gayle ficou abalado. A religião nunca fora algo importante em sua família, mas ele tinha consciência dela e sabia que vinha em três sabores: normal, que era tranqüilo; judaico, que era tranqüilo também, porque o Senhor aparecera para os judeus e dera a eles um sinal de aprovação; e muçulmano, que era a maçã ruim. Ele nunca percebera, até o momento, que poderia haver progresso na religião tanto quanto em todo o resto, como modas que vêm e vão.
Pediu à srta. Lestrier que lhe contasse mais sobre as feridas do mundo, mas a explicação aprofundada acabou sendo um tanto confusa e desinteressante. Tinha algo a ver com a persistência da vida no vale da morte e com vários tipos diferentes de almas humanas que possuíam o nome e lugar numa hierarquia. Quanto mais técnica a coisa ficava, mais Gayle se desinteressava. No fim, preferiu ficar com pouco mais que aquela metáfora. Mas ele gostava mesmo era da metáfora.
A situação estava ficando meio louca naquele momento: a caixa-preta do Vôo 124 ainda não fora encontrada, e isso estava se tornando um tanto embaraçoso para os federais. O sinal começara a falhar, aparentemente, e agora estava difícil para eles fixá-lo em algum ponto, ainda que tivessem trazido algum tipo de satélite espião para coordenar a busca. Os caras da FAA no campo estavam ansiosos para transferir parte da culpa ao apoio inadequado do Departamento do Xerife, e Gayle trocara palavras ásperas com um dos bambambãs deles, que viera até o escritório fazer exigências.
A coisa estava ficando feia — e chegando a um nível político. Gayle odiava política e queria que a caixa fosse encontrada antes que alguém do escritório do governador se envolvesse. Começou a conduzir a busca pessoalmente, o que gerou o benefício acidental de, às vezes, pegar uma carona com a srta. Lestrier e ouvir um pouco mais sobre a religião moderna dela.
Contudo, estava sozinho quando encontrou as pessoas pálidas. Seguia a linha de um leito largo e seco de rio com dezenas de tributários — um solo extremamente acidentado já examinado pelos federais. Era o final da tarde, mas ainda estava quente, o tipo de dia sem nuvens em que as sombras são tão negras quanto nanquim derramado e o sol fica bem no meio do céu, próximo, feito um pedaço de fruta que alguém poderia, esticando a mão, quase tocar. Gayle ficou dentro do carro com ar-condicionado tanto tempo quanto pôde, mas precisava sair e descer até o canal sempre que os barrancos eram altos o suficiente para escondê-lo. Não que houvesse algum fluxo no canal nessa época do ano: só algumas poças aqui e ali no leito do riacho, cada uma rodeada por um punhado de lagartos, como uma guarda de honra.
Não havia ninguém mais à vista. Ninguém teria mesmo razão para ir até ali no calor do dia. Gayle havia saído do carro meia dúzia de vezes para caminhar até o fundo do leito, chutar algumas pedras de lado para provar que estivera lá e depois subir novamente.
Então, em dado momento, ele foi se arrastando e escorregando barranco abaixo e deu de encontro abruptamente face a face com dois completos estranhos. Não estavam se escondendo nem nada, não saltaram para fora de esconderijos. Foi mais como se ele estivesse perdido nos próprios pensamentos, e, da primeira vez que registrou a presença deles, os dois já estavam ali, bem à sua frente, debaixo de seu nariz, encarando-o.
Um homem e uma mulher. Ambos jovens — talvez com seus 20 e poucos —, altos e esbeltos de uma forma que sugeria muito tempo passado numa academia ou pista de corrida. Tinham pele incrivelmente pálida, quase como a dos albinos, mas o homem revelava áreas vermelho-escuras no topo das maçãs do rosto, nas quais ele obviamente pegara sol demais. Ambos tinham cabelos absolutamente negros, os do homem longos e soltos, os da mulher presos atrás da cabeça em um eficiente coque do tamanho de um punho fechado. Os olhos dos dois pareciam negros também, embora provavelmente fossem apenas castanho-escuros.
Mas o que Gayle notou antes e mais do que tudo foi a simetria: camisas idênticas cor de areia, calças bege, sapatos bege, como se estivessem tentando se misturar ao deserto à sua volta; expressões idênticas em rostos idênticos, como se ele olhasse para a mesma pessoa duplicada, ainda que eles tivessem sexos diferentes e não fossem realmente parecidos. Ele pensou na luneta de brinquedo que tivera quando criança e em como na verdade cada imagem era composta por duas imagens em lados opostos do cano. Era essa a impressão — e, por um segundo, quase teve medo de falar com eles, caso respondessem num uníssono sinistro.
Mas não fizeram isso. Em resposta a seu demorado "Tarde", a mulher meneou a cabeça enquanto o cara respondeu com estranha formalidade: "Bom dia para você". Então, ambos voltaram a encará-lo: nenhum dos dois havia se movido um centímetro.
Estou procurando a caixa-preta do avião que caiu — Gayle explicou, desnecessariamente. — E assim, quadrada. — Ele gesticulou usando as mãos, o que, é claro, fez com que saíssem do cinto, onde sua pistola semiautomática FN Five-seven, fornecida pelo departamento, repousava no velho coldre de couro. Percebeu isso um momento depois; voltou a baixar as mãos, desajeitadamente, e ainda assim nenhum dos estranhos se moveu. Gayle não conseguia entender por que se sentia mal tão facilmente.
Não vimos nada parecido com isso aqui — o homem respondeu. A voz dele era profunda e tinha um quê de estranho que Gayle não conseguiu identificar de jeito nenhum. Não é que ele soasse como um estrangeiro, embora soasse um pouco, sim. Era o ritmo das palavras, que parecia meio cantado, como o de alguém que lê em voz alta: ligeiramente mais baixo que a fala normal, com um peso desnecessário em um comentário casual como aquele. O homem também colocou uma leve, porém perceptível ênfase na palavra aqui, à qual Gayle se agarrou e considerou estranha.
Bom, eu aceito qualquer pista que aparecer — ele respondeu. — Viram algum sinal dessa caixa em algum outro lugar?
O homem franziu o cenho, parecendo momentaneamente perturbado ou irritado, então contrapôs uma pergunta:
Por que está procurando por ela? É importante?
Talvez seja, sim. Ela tem toda a informação sobre como o avião caiu. Tem muita gente procurando essa coisa por todo lado.
A mulher meneou a cabeça. O cara nem mesmo reagiu.
Bom, fiquem de olho vivo, de qualquer jeito — disse Gayle, só para ocupar o silêncio.
Vamos nos empenhar em fazer isso — a mulher prometeu. Novamente, assim como com o parceiro, havia aquele comedimento e aquele peso, como se as palavras tivessem sido escritas para ela dizer. E novamente o sotaque era impossível de identificar, mas definitivamente não era local. Gayle, para quem local era a medida de todas as coisas benignas, experimentou essa estranheza com um ligeiro desconforto.
O homem jovem ergueu a mão para esfregar o olho, como se houvesse um grão de poeira nele. Quando voltou a baixar a mão, havia uma mancha vermelha sobre sua face, bem debaixo do olho. Isso deixou Gayle um tanto chocado. Esquecendo as boas maneiras, ele apontou com o dedo.
Tem uma coisa aí — disse futilmente —, bem aí, na sua bochecha.
Meu choro é meu testemunho — o homem disse. Ou, pelo menos, foi assim que soou.
E o quê? — Gayle perguntou. — Parece que você... Você se machucou ou algo assim? Parece que está sangrando.
Talvez você possa procurar lá — a mulher interrompeu, ignorando a solicitude de Gayle. — Na base do penhasco. Se a caixa tivesse caído lá, teria deslizado até as moitas na base do barranco. Estaria fora das vistas a não ser que você se aproximasse muito dela.
Agora, o ritmo comedido soava como o de um advogado no tribunal, a mulher escolhia as palavras de modo a se desviar de um assunto incômodo. Gayle se perguntou se aqueles dois saberiam de algo que não estavam dizendo. Não havia nenhum pretexto para detê-los, contudo, e algo a respeito deles ainda lhe causava um formigamento na nuca. Ele só queria que esse encontro acabasse, e estava prestes a despedir-se com um aceno e um muito obrigado, e então ir embora.
Mas os estranhos se moveram primeiro, ambos ao mesmo tempo, e sem que parecesse haver qualquer sinal entre eles. Por mais lentamente que falassem, quando se moveram foi como se deslizassem depressa numa superfície inclinada. Alcançaram Gayle em meio segundo, separando-se para passar um de cada lado dele. Trôpego e embaraçosamente lento, ele se virou para observá-los partir. Viu-os ultrapassar seu carro e seguir até a estrada, devagar e suavemente, marchando um no ritmo do outro, como soldados.
A construção mais próxima — um posto de gasolina — devia ficar a uns oito quilômetros além, na estrada, e era uma caminhada que ninguém escolheria fazer no meio do dia. Ainda assim, parecia ser o que os estranhos pretendiam fazer. Fora assim que haviam chegado ali? Simplesmente andando a partir de lugar nenhum? Como poderiam ter feito isso sem que suas mãos e o rosto ficassem destruídos de tanto sol?
Gayle abriu a boca para chamá-los. Uma pessoa poderia morrer de insolação só por ir até ali daquele jeito, sem um chapéu. Mas as palavras meio que morreram no caminho entre o cérebro e a boca dele. Observou as duas figuras galgarem uma subida leve e caminharem para fora de sua vista.
Com esforço, Gayle mandou a mente de volta à tarefa que tinha em mãos.
A curta extensão do riacho seco estava vazia, também, mas ele viu claros sinais de que aqueles dois excêntricos haviam andado um pouco por ali: pegadas e marcas de pés que se arrastaram na areia e na terra mais escura do leito do riacho, um pouco de vegetação que havia sido arrancada quando passaram através dela. Eles pareciam ter feito exatamente o que ele estava fazendo: desceram a partir da estrada, andaram até onde podiam ao longo do barranco próximo, depois pararam e deram meia-volta ao chegar a uma vala que não puderam cruzar.
Podia ter sido apenas uma caminhada vespertina. Compra ou venda de drogas. Pagamento por algum favor político. Encontro sexual. Não, o último, não. Havia algo naqueles dois que fazia Gayle acreditar que fossem parentes — parentes muito próximos —, e sua imaginação se rebelou contra a visão de onanismo ao ar livre que surgiu em sua mente. Ele a afastou da vista e tentou esquecer a dupla sinistra. Não haviam feito nada de realmente estranho, haviam sido extremamente educados e prestativos, na verdade, e não tinham obrigação nenhuma de explicar à lei o que estavam fazendo ali, seguindo um riacho seco num dia quente.
Ele escalou o barranco, abruptamente consciente de que estava suando feito um porco. Enquanto caminhava de volta ao carro, pôde ouvir a voz de Connie murmurando no radiofone, pedindo que ele atendesse se estivesse ali.
Apanhou o aparelho através da janela aberta e apertou o botão para falar.
Estou aqui, Connie — disse. — Perto do Highwash, a uns cinco quilômetros da 66. Estava pronto para voltar para a estrada. Precisa de mim?
Oi, Web — Connie respondeu, com a voz encoberta pelo esta- lido das altas rochas do local. — Pode voltar para cá. Já terminamos com a história da caixa-preta.
Gayle engoliu a informação com certa resignação sombria. Havia dedicado muitas horas a essa tarefa.
Tá bom — disse. — Onde ela foi encontrada?
Não foi.
Quê? — Gayle enfiou a cabeça pela janela do carro para se isolar do som do vento, que surgira com força bem no momento errado. — O que você disse?
Ninguém encontrou a caixa-preta. Ela simplesmente parou de transmitir o sinal, e os caras desistiram de achá-la. Mas aquela mulher da FAA com quem você está sempre conversando disse que eles já conseguiram tudo de que precisavam nos destroços. Armaram toda essa porcaria de circo para depois terminar assim. Ela pediu para dizer tchau para você. Câmbio e desligo.
Gayle jogou o telefone de volta a seu lugar, sentindo-se mais perplexo do que prejudicado — apesar de precisar admitir que estava muito magoado, lá no fundo. Simplesmente desistir? Um segundo atrás a busca era crucial, agora ninguém mais dava a mínima?
Gayle era um homem teimoso, e a situação não o agradava. E aquilo não acabaria até ele dizer que acabara.
Um benefício extra de ser um policial era que se podia ignorar os pedágios urbanos, as restrições de estacionamento no centro de Londres e o limite de velocidade. Kennedy dirigiu de volta a Londres pela estrada A23 com a janela aberta — não acelerando feito um piloto de Fórmula 1, mas rápido o suficiente para resfriar sua mente agora hiperaquecida.
Três historiadores mortos na mesma conferência. Nas palavras de Oscar Wilde, isso parecia estar consideravelmente acima da média apropriada que as estatísticas estabeleceram para nos guiar. Ainda poderia não significar nada, provavelmente não era nada. Mesmo agora, uma coincidência ultrajante parecia ser mais possível do que um assassino implacavelmente eficiente, perseguindo e abatendo pessoas que tinham opiniões fortes sobre o tal Códice do Rum e seitas cristãs já extintas.
Mas a morte de Stuart Barlow não havia sido acidente. Isso era óbvio, tanto pela autópsia quanto pelas evidências físicas. A opinião de Kennedy a respeito de autópsias era confusa: às vezes, elas tinham mais a ver com política do que com fatos, e a política é a arte do possível. Com a evidência física, ela confiava em seus instintos — e lamentava o tempo todo o fato de que ninguém havia se incomodado em chamar uma equipe de peritos na noite em que Barlow havia descido e subido e descido de novo aquela escada feito um ioiô. Se tivessem feito isso, ela agora poderia estar de posse de DNA, fibras, impressões digitais e uma grande quantidade de informações úteis, em vez de estar tateando no escuro em busca de um caminho.
Talvez em algum nível ela também desejasse que um caso como esse não tivesse surgido agora. Ela estivera vivendo num tipo de animação suspensa desde a noite em que Marcus Dell fora baleado. Ou melhor, desde a noite em que ela disparara a bala que derrubara Dell. Era importante acertar a gramática da frase. Heather, sujeito ativo, como em Heather puxou o gatilho. Dell, objeto passivo, como em a bala acertou Dell no coração e rasgou o peito dele de um lado ao outro.
Quando um policial pedia uma licença da ARU, ele passava por testes numa tonelada de quesitos, e estabilidade mental era um deles.
Simplesmente o chamavam por uma série de nomes diferentes, como habilidade para lidar com estresse, inteligência emocional, índice de controle do pânico, aumento de integração psicológica e por aí vai. Tudo se resumia a uma questão: você perderia o controle se tivesse que atirar em alguém ou se alguém estivesse atirando em você?
E a resposta, para dizer de forma clara, era que ninguém sabia. Kennedy tivera a pontuação máxima em todas essas escalas. Ela também já sacara a arma em três ocasiões e disparara em duas. Num caso, trocara tiros com um suspeito armado — um assaltante de banco chamado Ed Styler que ela derrubara com uma bala no ombro. Ela sobrevivera a tudo isso muito bem e nunca perdera uma noite de sono por causa disso.
Dell fora diferente. E sabia bem o porquê, mas ainda não queria encarar o fato. Era uma caixa de Pandora que, uma vez aberta, talvez se mostrasse impossível de afastar novamente. Então, ela prosseguia sem uma arma; aliviada, na verdade, por não ter uma no momento, até que aquela bagunça toda se resolvesse. O problema, contudo — o problema maior, que fazia todo o processo jurídico encolher até virar uma coisa que parecia estar muito distante, visível só por um telescópio — era que ela poderia ter perdido algo mais junto com a arma e o direito de carregá-la: a firme fé que tivera em seu próprio julgamento, que fora o que tornara possível carregar uma arma.
Encontrou Harper na cantina e tirou-o de lá, levando-o diretamente para uma das salas de interrogatório. De jeito nenhum ela teria essa conversa com mais alguém da divisão à escuta. Fechou a porta e apoiou-se contra ela. Harper sentou-se à mesa, ainda com metade de um sanduíche de frango na mão direita e uma lata de Fanta na esquerda. Eram 4 horas da tarde, e ele finalmente conseguira parar para almoçar. Pela cara do parceiro, Kennedy conseguia ver como estava feliz com o andamento do caso. A sala cheirava a mijo e mofo, mas ele não parecia se importar.
Comece pelo começo — ela disse.
Harper, com as mandíbulas trabalhando, lançou-lhe um meneio de cabeça irônico, mas não disse nada. Kennedy teve que esperar, com toda a paciência que conseguiu arranjar, até ele engolir o que estava mastigando e tomar um gole de refrigerante para ajudar a descer.
Consegui a lista e comecei a dar os telefonemas — ele disse, finalmente. — Não descobri nada sobre o perseguidor. Ninguém mais o viu. Ninguém nem mesmo se lembrou de o Barlow ter falado sobre ele.
Fale das mortes — Kennedy disse bruscamente.
Bom, é aí que a coisa fica interessante. Catherine Hurt e Samir Devani. Os dois estiveram na conferência de história e ambos morreram depois disso. Incrível, né? E sabe o que é ainda melhor? A Hurt morreu na mesma noite em que o Barlow. O Devani, no dia seguinte.
Kennedy não disse nada enquanto ponderava sobre aquele intervalo. Era uma margem bem apertada, qualquer um reconheceria. Do nada, ela se lembrou de uma ou duas falas pinçadas de Hamlet: alguém perguntando à Morte qual era o grande evento no mundo além-túmulo que fizera com que ela levasse tantos príncipes na mesma noite.
Como eles morreram? — perguntou.
Acidentes em ambos os casos. Ou foram registrados como acidentes. Mas a morte do Barlow também foi, né? — Harper ergueu a mão esquerda e foi batendo o dedo indicador na mesa enquanto recitava a breve ladainha: — Catherine Hurt, atropelamento. Devani, choque elétrico de um computador mal instalado.
Você pegou os arquivos?
Só existe um arquivo para a Hurt. Está na minha mesa, mas, falando sério, não tem nada nele. Nem testemunhas, nem registro por câmeras de circuito interno, nem nada.
Para Kennedy, isso foi como um soco na cara. Ela ouvira num documentário de TV que o Reino Unido tinha 20% de todas as câmeras de circuito interno do mundo, mas era um triste fato da rotina policial do século XXI que essas câmeras nunca estavam onde eram mais necessárias.
Só tem esses dois? — ela perguntou a Harper. — Ou você ainda está trabalhando na lista?
Cobri cerca de dois terços dela. Mas ainda estou esperando que um monte de gente me ligue de volta. Então, falei com pouco menos da metade das pessoas. Antes que você pergunte, estive tentando encontrar uma ligação entre as três vítimas, mas não descobri nada até aqui. Bom, tirando a convenção em si. Eles nem eram todos historiadores. O Devani era o mais diferente — era conferencista de idiomas modernos num centro comunitário em Bradford. A Hurt era professora assistente em Leicester De Montfort. O nome deles não aparecem juntos em lugar nenhum se você os digitar num mecanismo de busca.
Kennedy ficou surpresa com isso. Por experiência, sabia que, se digitasse qualquer coleção aleatória de nomes no Google, automaticamente receberia um milhão de resultados. Talvez a ausência de uma conexão fosse, por si só, suspeita e anômala.
Tudo bem para você continuar trabalhando na lista? — ela perguntou a Harper.
O desapontamento ficou evidente no rosto dele.
Temos duas novas vítimas — apontou. — Não deveríamos sair e fazer trabalho de campo?
Possíveis vítimas. E os casos já são tão velhos quanto o do Barlow. Amanhã vamos sair e fazer um reconhecimento. Primeiro, vamos nos certificar de que não há mais ninguém.
E você vai ficar fazendo o quê? — Harper quis saber, com um tom de suspeita na voz.
Vou voltar para o Prince Regent's e dar outra olhada no escritório do Barlow. A casa dele foi invadida um tempo atrás. Estou pensando se alguém pode ter invadido o escritório dele na universidade e mexido nas coisas lá também.
O que isso provaria?
Kennedy estava agindo por instinto — a sensação indefinível de que deixara passar algo da primeira vez que estivera naquele lugar —, mas não queria dizer isso: era difícil demais de defender.
Para começar — disse então —, provaria que havia mesmo um perseguidor. E poderia nos dar uma pista sobre o motivo dele. Velhos artefatos, manuscritos, alguma coisa assim. Contrabandeá-los, forjá-los, roubá-los. Não sei. O Barlow achava que alguém o estava seguindo e talvez pensasse que sabia por quê. Posso perguntar sobre essas duas outras pessoas ao mesmo tempo, ver se alguém no Prince Regent's sabe de alguma conexão entre elas e Barlow. — Ela fez uma pausa. — Faz mais uma coisa por mim?
Ah, qualquer coisa. Vou estar aqui mesmo, sentado, com todo o tempo do mundo nas mãos.
Ligue para um hotel. O Pride Court, na zona oeste. Em algum lugar perto de Bloomsbury. Peça as informações de contato de alguém que se hospedou lá recentemente. Michael Brand.
Tá, ok. Quem é ele?
Ele fazia parte de um tipo de clube on-line ao qual Barlow também pertencia. Eles se chamam de os Ravellers. Na verdade, seria ótimo se você pudesse conseguir uma lista dos membros dele em algum lugar. Se algum dos outros dois mortos estiver no mesmo grupo, podemos estar no caminho certo.
Harper a fez soletrar o nome antes de ir embora.
Quando você vai dar notícias para o Summerhill? — perguntou ele enquanto os dois andavam pelo corredor.
Quando soubermos o que temos de verdade. Ainda não. O chefe jogou essa bomba para nós porque não quer ter nada a ver com ela. Quando a levarmos de volta, a primeira coisa que ele vai pensar é que estamos tentando enganá-lo. Precisamos montar um caso de verdade.
Três historiadores mortos não são um caso?
Serão, se tiverem sido assassinados. Ainda não sabemos disso.
Ah, eles foram assassinados, sim. — Harper soou quase feliz. — Me dê os parabéns, Kennedy.
Pelo quê?
Esse é o meu primeiro caso na divisão. Já estou lidando com um assassino serial no meu primeiro caso.
Kennedy não compartilhava do entusiasmo dele. Aquele padrão de supostos acidentes ainda a perturbava um bocado. Um assassino trabalhando com toda uma lista? Improvável. Improvável mesmo. Ele precisaria ser muito sortudo, ou então ter feito um trabalho de reconhecimento imaculado, para matar três pessoas em dois dias e escapar sem deixar rastros. Assassinos seriais eram freqüentemente obsessivos, e muito bons em encontrar vítimas que suprissem as necessidades de sua psicose particular, mas na maior parte das vezes tratavam cada assassinato como um projeto separado. E os spree killers[4] simplesmente explodiam num horário e lugar de sua própria escolha. Se ela e Harper estivessem lidando com um assassino, era alguém que não parecia cair em nenhuma dessas categorias.
Ela parou no corredor a algumas esquinas de distância da cova dos leões, para poupar a reputação de Harper, e virou-se para encará-lo. Ele olhava para ela, cheio de expectativa. Fez um gesto com a mão aberta, convocando-a a passar.
Beleza. Parabéns, Harper.
Diga do jeito certo. Ela socou o ombro dele.
E isso aí, Chris. Você é foda. O primeiro de muitos, cara.
Obrigado. Isso me compensa por passar o dia todo ao telefone.
Amanhã vai ser diferente.
Ela se lembrou da promessa depois e se perguntou se ele acreditara nela.
Solomon Kuutma era um mistério até para si mesmo. Um homem que reverenciava a honestidade e a transparência, ele se movia em segredo e escondia as verdades mais profundas nos poços mais profundos: via toda vida como sagrada, mas matava sem remorso e mandava que outros matassem também.
Se algo em sua vida o perturbava, era a idéia de que essas contradições, vistas do exterior, talvez parecessem mera hipocrisia. Outros homens poderiam não se incomodar em refletir sobre os paradoxos até chegarem à simples verdade no âmago deles. Poderiam julgá-lo, e julgá-lo injustamente, e, embora esse julgamento dos homens pesasse tanto quanto uma pluma (e o das mulheres, infinitamente menos), a injustiça — puramente hipotética — era enfadonha para ele.
Havia pensado, portanto, em escrever suas memórias, para que fossem entregues ao mundo após sua morte. Todos os nomes, todos os detalhes circunstanciais seriam removidos, mas o fato central de que um bom homem dobrara sua consciência até conseguir passá-la pelo buraco de uma agulha seria claramente explicado, e assim seria compreendido por aqueles que lessem com olhos, mente e coração abertos.
Obviamente, isso era loucura. As memórias nunca seriam escritas, a explicação, nunca oferecida. Ainda que sem nomes, a verdade ficaria aparente, e seu trabalho de tantos anos seria privado de significado com um só golpe. Seus mestres ficariam horrorizados ao saber que Kuutma havia acalentado uma idéia louca como essa por um único segundo. Poderiam até convocá-lo de volta para casa — uma convocação sem honra e, por isso, insuportável: a mais intensa alegria transformada na dor mais cortante.
Ainda assim, Kuutma compunha, na privacidade de sua mente, uma explicação para seus atos. Recitava-a para si mesmo, não como uma prece, mas como uma forma de profilaxia — uma proteção contra o mal, porque um homem responsável pelas coisas que Kuutma fizera corria o risco de decair para o mal sem nem mesmo perceber. Sentado no terraço superior de um café em Montmartre, com Paris espalhada lascivamente abaixo dele como uma amante submissa, ele considerou a situação que surgira por causa das ações de Leo Tillman, e explicou, para ninguém mais além de si mesmo e talvez Deus, o que pretendia fazer para resolver tal situação.
Minha maior habilidade, pensou, meu maior dom, é o amor. Você não pode derrotar um inimigo sem conhecê-lo, e não pode conhecê-lo sem amá-lo, sem deixar que sua mente trabalhe em silenciosa simpatia com a dele. Uma vez que essa tarefa hercúlea seja cumprida, você estará sempre à frente dele, e sem esforço, capaz de armar uma emboscada em todos os caminhos da vida dele.
Mas Kuutma não conseguia amar Tillman. E talvez fosse por isso que esse homem ainda estivesse vivo.
Kuutma estivera seguindo o ex-mercenário desde a Turquia, tentando decidir qual abordagem seria apropriada, agora que Tillman havia assassinado Kiril Kartoyev e, presumivelmente, antes disso, havia falado com ele.
Era um problema dinâmico, gerado em quatro dimensões enquanto Tillman se deslocava pela face do continente. Tillman movia-se muito rapidamente, mas isso, por si só, não era uma fonte de dificuldades. Muito mais problemático era o fato de que ele se movia de forma deliberadamente desorganizada, tornando a caçada complicada e exigindo que Kuutma retirasse suas equipes de campo e as reorganizasse muitas e muitas vezes. Tillman alugava um táxi, mas saía caminhando. Comprava uma passagem de trem, depois roubava um carro. E, como se ele soubesse do desastre americano, o que nesse ponto parecia impossível, ele nunca, nunca pegava aviões.
Tillman ficara em Erzurum por apenas algumas horas, não por tempo suficiente para que Kuutman mandasse uma equipe para cercá-lo lá. Nem mesmo suficiente, de fato, para ele ter mudado de roupa, feito a barba e talvez entrado em contato com quaisquer redes que usasse para descobrir se havia quaisquer efeitos secundários da invasão à casa de Kartoyev em Inguchétia que pudessem afetá-lo pessoalmente.
A morte de Kartoyev era inconveniente para Kuutma. O russo não passava de apenas um fornecedor, e tinha uma vileza indigna sequer de ser tocada, pois as coisas que ele fornecia serviam aos impulsos mais baixos do homem. Ainda assim, fora eficiente e útil, e aprendera muito tempo atrás a aceitar o lugar que lhe fora designado no esquema das coisas. Kartoyev não fazia perguntas. Ele providenciava itens difíceis de forma rápida e sem deixar rastros. E mantinha sua cobiça dentro de limites aceitáveis.
Agora, um novo Kartoyev precisaria ser encontrado, e isso era culpa de Tillman. Ou talvez a culpa coubesse ao próprio Kuutma, por não ter se dedicado mais cedo aos problemas únicos que esse homem representava.
Eu hesitei em matá-lo porque queria ter certeza, além de qualquer dúvida, de que você precisava ser morto: que não havia possibilidade de meu julgamento estar corrompido. Não foi covardia, mas escrúpulo. E isso não me rebaixa.
Ainda assim, em Erzurum, Kuutma hesitara mais uma vez. Mesmo que seus piores pressentimentos se realizassem, havia tempo; tempo para deslocar-se gentilmente em direção àquela síntese de perspectivas que era o coração de seu mistério. Tempo para entender tudo, e para perdoar tudo, e então agir.
De Erzurum, Tillman voltara para Bucareste, provavelmente passando por Ankara. Muito provavelmente ele tomara um trem, ou talvez vários, voltando pelas montanhas ao norte de Bursa a pé. Havia um lugar ali onde duas linhas secundárias passavam a cerca de 11 quilômetros uma da outra, antes de mudarem bruscamente para o norte e para o oeste. O tráfego na linha do oeste era, na maior parte, de cargas: teria sido relativamente fácil para Tillman saltar a bordo de um trem ao passar por uma curva gradual e então viajar clandestinamente, ou forçar a porta de um vagão e ser carregado por mais de 480 quilômetros sacolejantes, cruzando duas fronteiras mal vigiadas, até a capital da Romênia.
Em Bucareste, no entanto, ele usara seu novo passaporte — um dos muitos, mas um que ele já usara antes e que podia ser rastreado — para alugar um quarto no Calea Victoriei Hotel. Kuutma pesara suas opções com fina perspicácia. Ainda não ficara claro quanto Tillman sabia, nem quais eram seus objetivos, e, nessas raras e ambíguas circunstâncias, o credo dos Mensageiros tinha dupla face. Não faça nada que não seja autorizado. Faça tudo o que for necessário.
O assassinato de Kartoyev, Kuutma raciocinou, fizera com que Tillman cruzasse aquela linha invisível e oscilante e fosse parar na segunda daquelas categorias. Ele deveria ser removido, e, idealmente, ser interrogado antes. Kuutma cuidaria pessoalmente do interrogatório. Contatara Mensageiros locais, e uma equipe de quatro pessoas fora despachada para o Calea Victoriei para deter Tillman tempo suficiente para que o próprio Kuutma chegasse e assumisse o controle.
Mas, embora Tillman tivesse se registrado no hotel e feito o pagamento adiantado por três noites, esse parecia ser mais um dos becos sem saída que ele gostava de criar aonde quer que fosse. Quando os Mensageiros entraram, foi para encontrar a cama vazia e o quarto intocado, exceto por um bilhete que, no devido momento, chegou até Kuutma.
O bilhete dizia: A faca tem dois gumes.
Kuutma teve certeza de que a mensagem não se referia diretamente a ele, embora parecesse ter sido deixada para ele. Tillman não poderia saber o nome dele. Apenas uma pessoa com quem Tillman já havia se encontrado poderia ter sabido o nome dele, e aquela pessoa estava segura, sem a menor sombra de dúvida. Não, o bilhete era um insulto — e, portanto, um gesto juvenil e equivocado da parte de Tillman. Ele pretendia dizer apenas que Kuutma, bem como os poderes que ele representava, não poderiam fazer nada contra ele sem se revelar e tornar a busca de Tillman mais fácil.
Ele aprenderia que aquela faca não tinha dois gumes: era somente na última e menor era da história humana, quando o irrelevante era santihcado, que as lâminas eram feitas cortantes de ambos os lados.
De Bucareste Tillman fora para Munique e de Munique a Paris, de formas complicadas e paranóicas — entre elas, o carro roubado. Ou ele evitava completamente paradas em alfândegas ou apresentava um passaporte falso que as fontes de Kuutma ainda não haviam vinculado a ele. Não havia registros oficiais da jornada dele, nenhuma pegada para seguir, não mais do que haveria se o próprio Kuutma tivesse feito a mesma peregrinação.
Em Paris, uma equipe já havia sido montada, pois Kuutma, a essa hora, tinha mais do que um pressentimento de para onde sua presa estava indo. Os três Mensageiros ali — escolhidos e designados por Kuutma com a devida consideração pela natureza da tarefa e do alvo — pegaram o rastro de Tillman na Boulevard du Montparnasse e moveram-se rapidamente. Presumiram que ele estava se dirigindo para a estação de metrô, e já haviam decidido matá-lo ali. Em vez disso, Tillman entrara no estacionamento subterrâneo da Torre Maine. Mas, quando a equipe se aproximou para eliminá-lo, ele havia desaparecido. Uma busca completa na área não revelou nenhum traço dele.
Nesse ponto, a equipe cometeu uma enorme quebra de protocolo. Sob as ordens de seu líder, eles se dispersaram, como era correto e apropriado, e voltaram para seus esconderijos usando caminhos diferentes. Mas falharam em usar o sistema de verificar, reverter e verificar novamente, proposto por Kuutma para garantir que ninguém fosse seguido.
Quando o esconderijo em Paris foi deixado sem ninguém novamente, ele foi revistado. Tillman voltou o veneno de Kuutma contra ele com certa elegância. Felizmente, eles não mantinham nenhum tipo de documento no esconderijo. De que documentos os Mensageiros precisavam? Tillman escapou, mas escapou de mãos vazias.
Kuutma sentiu que estava aprendendo com tais insucessos. Tillman fora mercenário por nove anos e a maior parte de sua experiência vinha de combates em ambiente urbano. Ele ficava confortável em cidades, sabia como se tornar invisível na multidão e enxergava rotas de fuga onde outras pessoas viam apenas becos sem saída. Claramente, da próxima vez que tentassem jogar a rede sobre ele, deveria ser num lugar onde tais habilidades se mostrassem inúteis.
Magas. Erzurum. Bucareste. Munique. Paris. A tendência de Tillman a seguir caminho para o oeste estava marcada e inequívoca agora, e parecia inevitável que terminasse no lugar aonde era menos conveniente deixá-lo chegar. Kuutma podia ser paranoico, também. Usou todos os recursos de que dispunha — não muitos, mas certamente adequados — para vigiar as principais estações que saíam de Paris em direção ao norte e os portos de balsa saindo de Quimper para Hoek van Holland.
Enquanto isso, ele revisava o que sabia sobre o homem que se tornara a irritação mais fascinante de sua existência nada serena. O mais interessante para Kuutma, sem dúvida, era o período da vida de Tillman que começava com o dia em que ele voltara do trabalho e dera com sua família desaparecida e a casa, fria e vazia.
O ex-mercenário poderia facilmente ter voltado a ser o que era antes — um homem adormecido, tornado dócil primeiramente por seu próprio ócio e, depois, por um apático contentamento. Poderia ter encontrado outra mulher e sido igualmente feliz com ela, já que, certamente, para um homem sério, todas as mulheres eram parecidas. Mas ele não fizera nada disso. Seguira uma direção inteiramente diferente e adquirira um novo conjunto de habilidades. Visto de dentro do contexto, constituía uma resposta extrema, mas não surpreendente, para o luto e a perda: tornar-se um soldado, um homem que matava sem sentimento humano, já que nada em sua própria vida parecia requerer o exercício de tal sentimento. Uma resposta extrema, sim.
Mas agora, em retrospecto, era possível ler a mesma decisão com outros olhos.
Doze anos atuando como soldado, primeiro no exército regular e depois como mercenário. Pela primeira vez, Tillman parecera completamente absorto, completamente comprometido. Fora promovido a cabo, depois a sargento. Um posto comissionado lhe fora oferecido, mas então ele já estava usando o uniforme de um mercenário, e postos, numa organização como essa, eram na melhor das hipóteses coisas vagamente definidas. Tillman escolheu continuar como sargento para permanecer no trabalho de campo, e seus contratantes ficaram felizes em deixá-lo ali porque, no campo, ele era notável. Os soldados que serviam com ele ofereceram-lhe uma adoração taciturna e o nome de Ciclone — um tributo à sua habilidade de passar por onde quer que fosse necessário sem um arranhão e mantendo miraculosamente ilesos quaisquer outros que estivessem sob sua responsabilidade.
Tillman parecia ter encontrado um novo foco, uma nova família. Mas Kuutma, revendo a evidência agora, suspeitava de que isso sempre fora uma ilusão. Ele não tinha interesse em adquirir uma nova família. Seu propósito ainda era encontrar aquela que havia perdido. Ao longo daqueles anos, estivera se equipando para uma tarefa específica. Arregimentava um conjunto de habilidades que seriam suprema e meticulosamente apropriadas quando ele deixasse de ser soldado e se lançasse — subitamente e sem aviso — à sua busca atual.
Kuutma lembrou-se de uma conversa com inquietante nitidez. A última vez... não. Não fora a última vez. Houvera outra vez depois daquela. Mas perto do terrível fim, do momento indelével.
Ele vai esquecer você?
Ah, Deus! Por que você se importa com isso?
Ele vai esquecer você?
Nunca.
Então ele é um idiota.
Sim.
O ponto de partida de Tillman era um nome: Michael Brand. Rebecca Tillman encontrara-se com um Michael Brand no dia de seu desaparecimento, um encontro previamente marcado. Infelizmente, ela deixara um bilhete com o nome, a hora e o lugar combinados em um bloco perto do telefone, na cozinha, onde atendera ao telefonema — e, apesar de ter arrancado a página e a levado consigo, Tillman fora capaz de enxergar a impressão da letra dela na folha de baixo.
O nome não levava a parte alguma, é claro. O hotel onde Rebecca combinara encontrar-se com Brand não fora cena de nenhuma ação carnal ou criminosa, e a investigação da perícia não desencavaria nada ali. Era simplesmente o lugar onde conversaram sobre o que ela precisava para que os arranjos necessários fossem feitos. O momento fora até tardio, já passara da hora de resolver isso, e atrasos eram sempre lastimáveis nessas questões. Talvez se Brand tivesse sido mais cuidadoso com seus deveres... mas Brand era, por necessidade, um instrumento brusco e incerto.
Ainda assim, era um beco sem saída. Aquele deveria ter sido tanto o fim quando o começo da missão de Tillman. Ele tinha um nome, mas nada a que relacioná-lo. Ele tinha o fato de um encontro marcado, mas nenhuma hipótese que desse sentido ao encontro. Deveria ter desistido.
Treze anos mais tarde, ele ainda não havia desistido. Havia emergido das poças sangrentas dos campos de batalha do mundo, um homem entregue à violência e à morte, para reassumir, com vigor inesperado, uma busca que, agora, ele parecia nunca ter abandonado. Estava procurando por sua esposa, que depois de tão longa ausência poderia nem mesmo estar viva; por seus filhos, que ele nem reconheceria hoje se os visse. Estava tentando reconstruir por força de vontade o único momento de alegria real que sua vida já oferecera.
Era da maior importância para Kuutma, e para as pessoas que ele empregava e que depositavam sua confiança nele, que Tillman falhasse. Também era, embora num sentido diferente, importante para o destino de outros 20 milhões de pessoas.
Pois, se Tillman se aproximasse da verdade, esse era o número de pessoas que morreriam.
O tesoureiro não estava disponível quando Kennedy chegou a Prince Regent's. Na verdade, ninguém estava. O edifício de história parecia estar deserto exceto por um homem de aparência tristonha sentado à mesa da recepção, emoldurado, nos fundos, pelo quadro de aviso com sua vista sem fim dos shows do ano anterior: The Dresden Dolls, Tunng, The Earlies. Ela perguntou se o recepcionista poderia abrir o escritório para ela: isso não era parte das funções dele. E havia alguém ali que pudesse fazer isso? Ninguém. E quanto ao edifício principal? O edifício principal também não era parte das funções dele.
Ela mostrou seu distintivo.
Mande alguém vir até aqui agora — disse a ele, severamente.
Não estou pedindo um prazo maior para entregar a lição de casa. Estou investigando uma morte.
O homem tristonho agarrou o telefone e falou a alguém com certa urgência. Alguns minutos depois, Ellis irrompeu pela porta, irritado e aturdido.
Inspetora Kennedy — disse. — Eu não esperava ver a senhora de novo tão cedo. —A expressão dele dizia outras coisas mais, nenhuma delas lisonjeira.
Eu gostaria de dar mais uma olhada no escritório do professor Barlow, sr. Ellis. Seria possível?
Agora? — A falta de entusiasmo do tesoureiro era palpável.
Seria o ideal, sim. Agora.
É que há uma cerimônia de graduação amanhã e temos muito que fazer para preparar tudo. Seria muito mais conveniente se a senhora pudesse esperar até a semana que vem.
Ela não se deu ao trabalho de repetir o discurso sobre investigar uma morte.
Vou ficar feliz em simplesmente pegar a chave e ir até lá sozinha - disse a ele. — Sei que o senhor é um homem ocupado. Mas é claro que, se estiver muito tarde, eu volto amanhã de manhã. — Durante a porcaria da sua cerimônia de graduação, ela pensou.
O tesoureiro cedeu com diligência. Mandou o homem tristinho da recepção pegar a chave submestra do faxineiro num armário trancado na parede atrás dele.
Isto vai abrir todas as portas daquele corredor — Ellis disse a ela.
Mas obviamente vou precisar que a senhora me avise se tiver a intenção de entrar em qualquer outra sala. Há questões de privacidade.
Só estou interessada naquele escritório — respondeu Kennedy.
Obrigada.
Ellis se virou para sair, mas Kennedy o deteve com um toque no braço. Ele se voltou para ela, exibindo uma expressão aflita.
Sr. Ellis, há outra coisa que eu gostaria de perguntar antes de o senhor sair. O professor Barlow era membro de um tipo de grupo ou associação on-line. Os Ravellers. O senhor sabe algo sobre isso?
Um pouco — Ellis admitiu de má vontade. — Não é minha área, como eu disse antes, mas, sim. Sei o que eles fazem.
E o que é?
Eles traduzem documentos. Documentos muito antigos, muito difíceis. Códices mal preservados, fragmentos descontextualizados, esse tipo de coisa. Alguns deles, como o Stuart, são profissionais da área, mas acho que muitas pessoas do grupo são só amadores interessados. E um lugar onde trocam idéias, sugerem hipóteses e obtêm resultados. O Stuart costumava dizer de brincadeira que, quando a CIA descobrisse como os Ravellers eram bons, tentariam ou recrutar todos eles ou mandar matá-los.
Kennedy não entendeu a piada. Em resposta à expressão vazia dela, Ellis elaborou o tema:
Para decifrar códigos, entende? Alguns dos primeiros códigos estão tão danificados que o decodificador tenta entender toda a mensagem baseado em cerca de um terço dos caracteres. Tem que usar raio X, análise de fibras, todo tipo de coisa para descobrir o que está faltando.
De onde vem o nome? — Kennedy perguntou. — Os Ravellers?
Foi a vez de Ellis exibir um olhar vazio.
Não tenho idéia. "Ravel" não é um verbo de verdade, não é? Acho que é só uma brincadeira com o verbo "unravel": desemaranhar, desembaraçar algo. Tecer coisas? Combinar pequenos pedaços para formar significados maiores? Ou talvez seja algum termo técnico. Eu realmente não sei.
O senhor conhece algum outro membro desse grupo ou uma forma de eu entrar em contato com eles?
O interesse do tesoureiro, que de início já não era muito, estava visivelmente desaparecendo.
A senhora teria que entrar em contato com quem quer que administre o fórum, eu acho — disse. — Não acho que seria muito difícil. — Outro pensamento lhe ocorreu e ele ergueu as sobrancelhas. — Isso, é claro, presumindo que o servidor e os moderadores estejam hospedados aqui, no Reino Unido — ele refletiu. — Pode ser mais difícil se estiverem nos Estados Unidos, por exemplo, ou em algum lugar na Europa. Haveria problemas de jurisdição, não é mesmo?
Possivelmente. Obrigada, sr. Ellis, o senhor foi de grande ajuda.
Ela pegou a chave e dirigiu-se à escada. Atrás de si, ouviu as aflições do homem tristonho crescerem sob a voz do tesoureiro, em tons baixos, mas ferozes. Claramente, Ellis sentia que aquele assunto poderia ter sido resolvido sem sua intervenção pessoal.
O escritório de Barlow estava exatamente como ela se lembrava, exceto que, agora, era o final da tarde e a luz do dia brilhava através das ripas das persianas num ângulo mais raso. Ela ficou parada à porta, tentando lembrar-se do que havia visto antes, o que parecera deslocado o suficiente para registrar-se em seu subconsciente. Era uma linha, ela decidiu, uma linha fora de lugar, e abaixo da altura de seus olhos. Não parecia estar aqui agora, mas talvez isso se devesse à mudança na luz.
Ela pegou o ártico de jornal emoldurado com ambas as mãos, o tampo de vidro virado para baixo. Captando a luz da janela, usou o quadro para refleti-la ao seu redor, pela sala, como um holofote móvel que imitava a luz da manhã do outro dia.
Levou algum tempo, mas ela finalmente chegou lá. Um dos ladrilhos do chão estava protuberante em relação às peças adjacentes, criando uma sombra ao longo de sua borda. Como se tivesse sido erguido e recolocado, mas não se encaixado exatamente na mesma posição de antes.
Kennedy ajelhou-se. Introduzindo as unhas sob a borda do ladrilho, ela o ergueu gentilmente. Debaixo dele, desprotegido no chão poeirento, estava um retângulo de papel duro e ligeiramente brilhante. No topo havia uma única palavra: Aqui? Caneta esferográfica azul, letra rápida, duplamente sublinhada. E então, no canto inferior direito, vários conjuntos de caracteres escritos muito mais cuidadosamente em preto, com caneta-tinteiro:
P52
P75
NH II-1, III-1, IV-1
Eg2
B66, 75
C45
Virando o cartão, ela viu que era uma fotografia.
Mostrava um edifício a distância: uma fábrica, ou mais provavelmente um imenso tipo de depósito. Uma parede de concreto pintada de cinza erguia-se até seis andares ou mais a partir do asfalto rachado de um estacionamento cheio de mato. Havia algumas poucas janelas perto do topo, mas, fora isso, a superfície era ininterrupta. Uma pequena faixa de estrada estava visível num canto da foto. Via-se ainda uma cerca de elos de metal entrelaçados que parecia razoavelmente intacta, mas muitas evidências de ruínas se revelavam no resto do ambiente: o lixo empilhado contra a cerca, o mato crescendo entre as placas do calçamento e, num canto da foto, a carcaça abandonada de um carro, as rodas sem pneus apoiadas em tijolos. A imagem toda estava desfocada e o ângulo, um pouco torto: uma foto tirada de maneira muito displicente, ou talvez muito rapidamente, por alguém de dentro de um carro ou trem. Parecia o tipo de foto de teste que as pessoas tiravam à toa após colocar um novo rolo de filme na câmera. Mas quem usava filme hoje em dia?
Kennedy virou o cartão novamente para olhar as figuras atrás. Algum tipo de código? Não poderia ser uma mensagem muito longa, se fosse. A não ser que as imagens fizessem referência a passagens em um livro, uma chave de código predeterminada, algo assim. Ou talvez indicassem a combinação de algum cadeado digital ou a senha para abrir um arquivo. Não havia como saber o que era sem alguma outra pista para apontar a direção certa.
Ela colocou a foto num saco de prova e o etiquetou, rabiscando uma breve nota para si mesma em seu bloco de evidências sobre onde encontrara esse objeto. Então, ergueu os ladrilhos adjacentes para certificar-se de que não estava deixando de ver nenhum truque óbvio. Não havia nada.
Ela não pretendera fazer uma busca completa no escritório, apenas dar uma olhada, mas mesmo assim deu consigo verificando outros possíveis esconderijos: atrás dos quadros nas paredes, os fundos das gavetas da mesa, a parte de baixo dos móveis. Nada mais apareceu, e o simples volume de papéis e livros a derrotou. Alguém precisava olhar tudo aquilo com olhos bem informados, e esse alguém não era ela.
A paranóica que vivia dentro dela estava agora plenamente acordada, no entanto, e, lembrando-se do intruso no chalé de Barlow, Kennedy pensou em verificar a porta dessa vez. A fechadura era embutida na maçaneta, um modelo-padrão com cinco pinos. Havia leves marcas de arranhões em torno do buraco da fechadura e ainda mais sinais na fechadura em si. Alguém a havia pinçado por dentro com uma ferramenta de tensão e depois girado todo o cilindro com uma mini-parafusadeira para abri-la.
Havia algo de bom e de ruim naquela questão. Por um lado, quem quer que tivesse forçado a entrada no escritório não havia encontrado a foto escondida.
Por outro, não se podia dizer o que essa pessoa havia encontrado — e levado.
Chris Harper odiava rotina e tarefas repetitivas, e odiava ainda mais o fato de que era bom nelas. Depois de ter feito as ligações iniciais a todas as pessoas na lista do Fórum Histórico de Londres sem encontrar mais nenhum cadáver, ele passou aos outros dois itens na lista de afazeres que Kennedy lhe dera.
Michael Brand não estava mais hospedado no Pride Court, o funcionário da recepção lamentava lhe informar. Brand partira muitas semanas atrás, desocupando o quarto em 30 de junho. Três dias depois de Barlow e Hurt morrerem, dois dias depois de Devani. A irmã de Barlow estivera certa, então: Brand estivera em Londres durante todo aquele tempo, enquanto seus colegas Ravellers morriam de formas curiosas e ambíguas em todos os cantos do país. Então, ele esperara alguns dias antes de partir para novas paragens. Talvez tivesse vindo avisar Barlow; ou tivesse trazido algo para ele, ou recebido algo dele. Talvez ele conhecesse o assassino. Talvez ele fosse o assassino. De qualquer forma, nenhuma dessas hipóteses realmente combinava com o fato de ele ter ficado num hotel barato em Londres por dois dias após toda aquela merda acertar o ventilador.
Ele informou um endereço residencial? — Harper perguntou. O funcionário mostrou-se reservado, mas só até Harper mencionar uma investigação em andamento. Então, ele não teve escrúpulos em oferecer um endereço em Gijon, Espanha, com um número de telefone para acompanhar.
Harper lhe agradeceu, desligou e digitou o número. Obteve aquele som de uma nota só que indica que nenhuma conexão foi estabelecida, depois um clique e uma voz irritantemente aristocrática que dizia:
Perdão. Seu número não foi reconhecido. Perdão. Seu número não foi...
Então Harper entrou no registro de eleitores na Espanha por meio do banco de dados da Interpol e digitou o endereço em Gijon: Campo del Jardin, número 12. Os três nomes ligados a ele eram Jorge Ignacio Argiz, Rosa Isabella Argiz e Marta Pacheco. Nenhum Michael Brand, e o número de telefone indicado era diferente daquele que Brand fornecera. Harper ligou para lá e conseguiu falar com Jorge Argiz na primeira tentativa. Jorge conhecia um Michael Brand? O inglês de Argiz era bom o suficiente para garantir ao detetive que não, não o conhecia.
Harper deixou Brand de lado e começou a pesquisar sobre os Ravellers.
O primeiríssimo resultado que apareceu no website de busca foi o fórum on-line deles, Ravellers.org, cuja respeitável e brilhante página inicial escondia centenas de outras de tagarelice sobre interpretações diversas e identificações discutíveis. Interpretações e identificações de quê? Não parecia haver forma alguma de saber. Entradas no fórum tipicamente possuíam títulos como "Propagação do pigmento variante 1-100, papiros NH 2.2.1 — 3.4.6", "PH 1071 visto em espectro infravermelho — usando filtro de l.000nm!" e "Zaine duvidoso em DSS 9P1, linha 14, posição 12". Harper poderia igualmente estar lendo sânscrito. Algumas das postagens certamente continham sânscrito, e nem pediam desculpas por isso.
Havia uma opção de fale conosco na barra do menu, mas o endereço de e-mail vinculado a ela era parte do extinto domínio Freeserve, o que provavelmente significava que não era modificado havia anos e não levava mais a um servidor ativo. Harper mandou uma mensagem mesmo assim, mas não confiava que ela chegaria a alguém — e não podia postar nada no fórum sem se inscrever no grupo, o que parecia demais para ele.
Voltou aos resultados da busca e refinou os parâmetros, procurando por uma intersecção de "Ravellers" com "Barlow". Os primeiros dois itens eram obviamente combinações automáticas geradas por programação. "Leia histórias de Ravellers Barlow e veja fotos e vídeos de Ravellers Barlow!" O terceiro, entretanto, era uma postagem curta de um fórum on-line diferente, anunciando um prêmio dado a uma certa dra. Sarah Opie por serviços prestados ao conhecimento humano. Entre os muitos comentários feitos à postagem havia um de Stuart Barlow, que dizia: "Você merece, Sarah!". A postagem fora feita cerca de 18 meses atrás. O resultado aparecera na lista de Harper porque a dra. Opie indicara o fato de ser membro dos Ravellers entre seus interesses e méritos — e ela era parte da equipe da Universidade de Bedfordshire, não do departamento de história da instituição (que parecia não existir), mas da escola de ciências da computação e tecnologia.
Harper digitou no telefone o número da universidade e pediu para falar com a dra. Opie. Quando a recepcionista pediu que deixasse um recado, ele se identificou e explicou que o assunto estava conectado a uma investigação de assassinato. Um curto instante depois, estava falando com a própria dra. Opie.
Lamento muito incomodar a senhora — começou ele —, mas sou parte da equipe que está investigando a morte do professor Stuart Barlow. Entendo que a senhora pertence a uma organização da qual ele também era membro. Uma organização chamada de Ravellers.
Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Harper estava a ponto de falar novamente quando a dra. Opie finalmente respondeu — com uma pergunta.
Quem é você? — A voz dela, que soou mais jovem do que ele esperava, também parecia cheia de tensão e desconfiança.
Ele já havia dito a ela, mas repetiu outra vez:
Meu nome é Christopher Harper. Sou detetive da Agência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Metropolitana de...
Como posso saber se é verdade? — ela disparou a pergunta antes mesmo que ele terminasse as formalidades.
Desligue e verifique, então — Harper sugeriu. Dada a atual contagem de corpos do caso, a paranóia dela parecia justificável. — Ligue para a New Scotland Yard, peça para falar com Operações e depois com a Divisão de Detetives. Informe meu nome e diga que eu pedi à senhora que telefonasse. Eu ainda vou estar aqui, e aí nós podemos conversar.
Ele esperava que a linha caísse, mas isso não aconteceu. Pôde ouvir os distantes ruídos que se produzem quando alguém se move e respira, apenas mostrando que está ali.
Você disse que isso era sobre o Stuart.
Bom, não só isso. E sobre algumas outras coisas, também.
Que coisas?
Harper hesitou. Estou fazendo uma lista de historiadores mortos. A senhora conhece algum? Isso soava como uma pergunta-armadilha, até mesmo dentro de sua cabeça.
Olhe — disse —, por que a senhora não desliga e me liga de volta? Acho que vai se sentir melhor se falar sobre isso sabendo que não é um telefonema falso.
Quero saber do que se trata — a voz do outro lado da linha disse, a tensão elevando-se a meio grau.
Harper respirou fundo. No tempo em que usava uniforme, isto é, cerca de um ano atrás, ele invejara a marca pessoal dos detetives, a autoridade natural que exibiam. Mas talvez esse fosse um truque que ele deveria aprender.
Trata-se de um padrão de mortes suspeitas — disse, e então acrescentou a frouxa emenda: — Potencialmente. Potencialmente suspeitas.
Ouviu um som como o de um baque surdo — como se o telefone houvesse caído da mão dela e acertado o chão ou batido em alguma coisa quando ela se movera.
Alô? — Harper disse. — A senhora ainda está aí?
Que mortes? Conte. Que mortes?
Stuart Barlow. Catherine Hurt. Samir Devani.
Opie emitiu um gemido desconcertante.
Ai, meu Deus. Não foram... não foram acidentes?
Espere — pediu Harper. — A senhora conhecia todos eles? Dra. Opie, isso é importante. Como a senhora os conheceu?
A única resposta foi o clique e o sibilo do telefone sendo desligado. Esperou, indeciso, por um minuto e meio. Se ele telefonasse para a universidade outra vez, sua linha ficaria ocupada enquanto o transferiam para o edifício dela na faculdade e depois para o ramal da professora. Se ela estivesse ligando para ele nesse momento, em vez de simplesmente ter cortado a ligação de propósito, ele a estaria afastando.
Quando finalmente desistiu e esticou a mão para o telefone, ele tocou. Harper atendeu-o.
Ligação externa para você — o oficial de comunicações disse. — Uma dra. Opie.
Vá em frente — respondeu Harper. — Pode passar.
O ruído da recepção deu lugar ao silêncio.
Dra. Opie?
Sim.
Como a senhora conheceu essas pessoas?
Ele sabia qual seria a resposta, o que de certa forma explicou o sentimento de déjà-vu que sentiu quando ela respondeu:
Eram Ravellers. Estavam todos no grupo. E...
Ele esperou. Nada mais veio.
Alô?
Estavam trabalhando na mesma tradução.
Tillman ressurgiu em Calais, onde comprou uma passagem em uma balsa que cruzava o Canal da Mancha até Dover, na Inglaterra. Mas é claro que ele faria isso: era a rota marinha mais curta, a menor janela dentro da qual estaria fechado e vulnerável. Ainda assim, Kuutma não considerava nada como certo. Ele manteve as âncoras em seus lugares ao longo da costa norte e seu espião nos escritórios da SNCF, em alerta total até receber a confirmação visual de que Tillman havia embarcado na balsa.
Mesmo então, Kuutma agiu metódica e meticulosamente. Era a última travessia do dia, deixava o porto às 11h40 da noite, mas o terminal de balsa em Calais ainda estava lotado. Os Mensageiros — novamente, três deles, como em Bucareste e Paris — embarcaram por último e permaneceram perto das saídas, as quais ficaram observando até as portas da proa se fecharem e a embarcação começar a se afastar do atracadouro.
Kuutma permaneceu à beira do cais, contemplando. Será que Tillman apareceria na doca no último instante, alegando que deixara algo para trás e precisava desembarcar agora? Seria esse um novo blefe duplo ou triplo?
Parecia que não. Nenhum alarme de última hora soou, nenhum tumulto nem pânico para proporcionar distração, nenhum movimento falso. A balsa partiu sem incidentes, com Tillman a bordo. Tillman e os três que deveriam matá-lo. Kuutma fez o sinal do nó corrediço enquanto ela se afastava, pedindo a bênção do enforcado para seus Mensageiros.
Com atraso, mas também com fervor, ele desejou estar com eles. Novamente, deparou consigo tendo pensamentos não proveitosos. Refutou seus próprios processos mentais, infrutíferos e até perigosos. Não ajudaria sentir-se dividido dessa forma. Ele estava preparado para admitir, agora que aquela missão chegava ao fim, que odiava Tillman e esperara tempo demais para agir contra o mercenário porque duvidara da pureza de seus próprios motivos. Não cometeria esse erro novamente.
Não restava mais ninguém por quem cometê-lo.
Tillman observou a costa da França ficar para trás com sentimentos conflitantes.
Kartoyev confirmara muito do que ele já sabia, fornecera algumas novas pistas e, crucialmente, dera-lhe certeza de seu próximo destino. Ele sentia, pela primeira vez, que estava perto de alcançar Michael Brand. Outrora ele caçara um nome, depois um fantasma, mas agora perseguia um homem real, que quase podia visualizar correndo à sua frente.
Por outro lado, tinha novas anomalias a considerar. As drogas, para começar. Nunca encontrara nenhuma ligação entre Brand e o tráfico de drogas. Ele liderara operações secretas na Colômbia e estava consciente, de forma geral, de como esse tipo de negócio era conduzido. Os movimentos de Brand ao redor do globo não eram os de um vendedor ou comprador. Um impositor, talvez, mas o que estaria impondo? E por que, se estava atuando no tráfico de drogas, ele viajaria para tão longe com a intenção de comprar ingredientes que estavam prontamente disponíveis na maioria dos países. A ex-União Soviética não era a base de Brand, disso Tillman tinha certeza. As permanências dele ali eram curtas demais e estreitamente focadas em alguns contatos específicos.
Uma cortina de fumaça, então. Brand comprava substâncias químicas na Inguchétia porque não queria deixar um rastro que levasse para perto de sua verdadeira base de operações. E recusara a oferta de Kartoyev de refinar metanfetamina para ele, presumivelmente porque queria fabricar a sua própria. E estava prestes a produzir uma leva dez vezes maior do que sua produção usual.
Tillman arquivaria essa idéia para pensar melhor depois. Nesse momento, havia assuntos mais urgentes nos quais pensar.
Em sua jornada para o oeste através da Europa, ele adquirira consciência como nunca antes de que era tanto a caça como caçador. Em Bucareste, só a pura sorte o havia feito escapar. Andando por Mãtãsari, um lugar onde todo mundo precisa ter olhos na nuca, ele percebera, pela reação de um homem pelo qual passara na rua, que provavelmente estava sendo seguido. Não olhara para trás, mas testara a teoria caminhando por uma feira de rua lotada, onde seus perseguidores haviam se aproximado mais por pura necessidade. Ele parara de barraca em barraca em padrões aleatórios, memorizando os rostos a seu redor, e depois de meia hora havia isolado um como sendo definitivamente um dos perseguidores, além de outros dois como probabilidades. Uma vez que soubera estar marcado, fora apenas uma questão de escolher o melhor momento para livrar-se deles. Mas não tinha idéia de quem eram aqueles homens, nem do que queriam.
Em Paris, estivera pronto para os capangas. Esperando ser encontrado, já preparado para qualquer sinal de perseguição ou vigilância, fora capaz de virar a mesa contra seus seguidores sombrios e rastrear um deles de volta à base. Mas havia pouco para ver por lá. A casa que o grupo estivera usando na Périphérique não tinha nem mobília, a não ser três sacos de dormir dispostos lado a lado em um chão nu de madeira. Esses homens claramente eram ascetas. Como os primeiros santos cristãos que passaram anos nos ermos, mortificando suas carnes. Para Tillman, era perturbador pensar que as pessoas que o caçavam eram capazes de dedicação tão solene e severa. Perturbava-o ainda mais descobrir que eram tantos. Não tinha idéia de por que uma organização desse tamanho e de tal grau raptaria mulheres e crianças das ruas de Londres.
Mas talvez caçar fosse um termo forte demais. Era possível que quisessem somente ver até onde Tillman havia chegado. Se ele estava finalmente indo na direção certa ou ainda andando em círculos. Ele desejava, agora que era tarde demais, ter passado pela Bélgica e pela Holanda, tentado gerar um rastro falso com mais afinco. Mas, no final das contas, havia muitas e muitas formas de chegar à Inglaterra a partir da Europa continental para quem não queria pegar um avião. Mesmo com recursos moderados, era possível vigiar todas elas.
E ele precisava ir para a Inglaterra. Ficara em Paris tempo suficiente para contatar alguns antigos amigos e conhecidos no ramo de segurança privada. Muitos deles permaneciam ativos naquele mundo anfíbio, semi-legal, e haviam sido capazes de dar a ele um punhado de informações muito atuais e muito interessantes sobre Michael Brand. Por treze anos, o desgraçado se mantivera oculto abaixo da superfície. Agora ele se tornara visível, e Tillman precisava estar lá. Simplesmente não havia outra opção.
Tillman afastou-se do parapeito da balsa e abriu caminho entre a pequena quantidade de passageiros no deque em direção às portas duplas que levavam para a área interna. Enquanto fazia isso, observou seu relógio. Era uma travessia de apenas 90 minutos, e ele notou, satisfeito, que 20 daqueles minutos já haviam se passado.
No saguão da balsa havia muito mais gente. Famílias sentavam-se em grupos fechados, seu território marcado por maletas e mochilas. A maioria parecia rígida ou cansada, mas famílias mais felizes eram retratadas nas paredes atrás delas em impressões fotográficas gigantes, mantendo algum tipo de equilíbrio cármico. Na ausência de assentos livres, algumas pessoas sentavam com suas malas encostadas a divisórias, enquanto outras se apoiavam no balcão que ocupava o lado direito do salão. Um único barman servia chope Stella Artois de uma única chopeira. Na chopeira de Guinness, ao lado, havia uma placa de quebrada. Mais adiante, sem interrupção, o bar cedia lugar a um balcão de comida diante do qual as pessoas formavam fila para pedir baguettes e salgadinhos. O ar cheirava a cerveja velha e óleo de fritura muito usado.
Tillman não estava com fome e preferia uísque a fermentados. Olhou para os rótulos de Bell's, Grant's e Johnny Walker alinhados numa prateleira alta atrás do bar, todos perfeitamente bebíveis. Mas no exército só bebera quando queria o esquecimento, e nos tempos de agora ele raramente permitia a si mesmo tal luxo. Sentiu-se tentado por um ou dois segundos e desacelerou o passo, mas depois descartou a idéia e continuou em frente. Mais tarde, quando chegasse a Londres, poderia encontrar um bar e familiarizar-se novamente com aquela carícia química e momentânea. Por enquanto, preferia manter-se desperto e alerta.
Estava procurando um lugar para sentar que atendesse a seus critérios usuais: uma vista de todas as saídas, uma parede atrás dele e algo próximo, como uma parede ou um balcão que pudesse bloquear a linha de visão de alguém se necessário. Nessa sala lotada, ele sabia que isso não seria possível. Era também, ele percebia, levemente ridículo aplicar critérios como aqueles num cenário onde qualquer ataque seria obstruído pelo estouro instantâneo de pânico que ele desencadearia, e de onde o assassino não teria maneira de escapar prontamente mesmo se o ataque fosse bem-sucedido. As pessoas que o haviam seguido em Bucareste e Paris ainda não haviam feito nada que sugerisse que pretendiam feri-lo. Tudo o que fizeram, em ambas as vezes, fora rastreá-lo.
Então, seria paranóia? Sua cautela costumeira ultrapassando o limite e saltando o abismo finalmente em direção à mania e à psicose? Ou ele reagira a algum palpite que não havia processado conscientemente? Normalmente, confiava em seus instintos, mas estivera pressionando a si mesmo por muito tempo. Sentia o peso da exaustão cair sobre ele tão abruptamente que era como um fardo físico. Com ele, vinha a repugnância contra a aglomeração humana a seu redor — o burburinho das vozes soando como a externação de alguma convulsão ou pluralidade em seu próprio coração, em sua própria alma.
Tillman seguiu para o ouro extremo do saguão e chegou a uma área bem menor, um lobby com máquinas caça-níqueis de um lado e banheiros do outro. Vasculhou sua mala em busca de uma das bolsas de dinheiro trocado que carregava — uma que continha moedas de euro. Encontrou o sr. Neve, o unicórnio, e enfiou uma pata daquela coisa macia, vaga e doentiamente fofa no bolso de seus jeans. O unicórnio ficou pendurado ali, um mascote inútil, enquanto Tillman enfiava 40 ou 50 euros na caça-níqueis. Mover as alavancas e pressionar os botões aleatoriamente devorou seu tempo sem exigir nada de sua atenção, permitindo que ele observasse o fluxo de pessoas que passavam e daquelas que paravam ali. Elas passavam e paravam com perfeita convicção. Sem anormalidades, sem avisos. Mas tampouco houvera avisos e anomalias em Bucareste. Ele não duraria muito se subestimasse seus inimigos.
Quando Tillman finalmente ficou sem moedas, verificou o relógio. Pela hora, eles já deveriam ter percorrido metade do caminho. Voltou ao saguão, entrou na fila e comprou um café, mas novamente o barulho e a pressão claustrofóbica o esmagaram. Voltou ao lobby antes mesmo de ter tomado mais que dois goles daquele líquido insípido.
Não havia muito mais lugares aonde ir. Decidiu passar a última meia hora da travessia no deque, mas sentiu o cansaço alcançá-lo. Na ausência de cafeína, ele podia ao menos jogar um pouco de água fria no rosto. Passou pela porta com o estilo de um homem cujos braços se afastavam para os lados do corpo, como os de um atirador entrando em um duelo.
O banheiro era um cubo de 20 por 20 metros, sem janelas, com urinóis ao longo de uma parede, pias do lado oposto e três cubículos nos fundos. Cruzou o piso cheio de água, que transbordara de uma pia cujo ralo fora entupido com papel toalha imitando um tampão. Uma única faixa de néon tremulante iluminava a cena deprimente.
Então pendurou a jaqueta sobre uma máquina de preservativos, com a mala a seus pés, e deixou a torneira de água fria aberta por um bom tempo antes de finalmente aceitar que a água não sairia fria. Ele a jogou no rosto mesmo assim, tépida, depois ligou o secador de mãos e baixou a cabeça sob o jato de ar. A porta atrás dele resmungou ao ser aberta, resmungou novamente e então se fechou.
Quando Tillman se endireitou, eles estavam lá. Dois deles, lado a lado, já vindo para cima dele. Dois homens de terno, espantosamente bonitos, asseados e de ar sério. Do tipo que bateria à porta de alguém para perguntar se a pessoa já aceitara Jesus ou se poderiam contar com o voto dela para o candidato do partido conservador. Ele só teve tempo de assimilar a fantástica sincronização dos dois — algo que só poderia ter sido adquirido após infindáveis horas de exercício sob o mesmo treinador ou comandante. Então, eles ergueram as mãos, e as lâminas curtas que seguravam brilharam, uma intensamente e outra nem tanto, quando cruzaram a luz da faixa de néon.
Tillman arrancou sua jaqueta da máquina de preservativos com a mão esquerda e girou-a no ar diante de si, retrocedendo no espaço de três metros que o recinto lhe permitia. Por trás daquela cortina de movimento, ele sacou o pesado Mateba Única do lugar onde costumeiramente ficava — enfiado na parte de trás de seu cinto — e ao mesmo tempo moveu a trava de segurança.
Os dois homens pareceram antecipá-lo. No exato instante em que ergueu a arma, um deles fez um meio desvio e simultaneamente mandou um chute: um perfeito yoko geri[5]. Tillman percebeu-o chegando, mas o homem movia-se com velocidade tão inumana que vê-lo não o ajudou em nada. O calcanhar do sujeito chocou-se contra a parte de dentro do pulso de Tillman antes que ele pudesse se desviar, arrancando a arma de sua mão. Ela bateu no chão tinindo. Ambas as facas surgiram como vultos cortantes, uma dirigida ao coração de Tillman e a outra ao rosto dele. Pego desprevenido, ele fingiu se jogar para a direita e desceu a jaqueta feito um açoite, fazendo com que se enrolasse no pulso do homem à sua esquerda. A lâmina do outro homem passou pela parte de cima de seu braço produzindo um corte amplo e profundo, mas ele ignorou a dor. A armadilha da jaqueta deixou o homem ao alcance de Tillman, que lhe deu uma cabeçada no rosto, e, depois — porque ele não caíra —, jogou-se para trás dele para usá-lo como escudo e obter uma rápida pausa.
Novamente, os dois homens moveram-se e reagiram em uníssono perfeito. O que estava enrolado na jaqueta agachou-se e o outro se inclinou por cima dele, lançando outro ataque cortante. Tillman dobrou-se para trás usando os joelhos como um dançarino que passa sob o bastão segurado entre duas pessoas, escapando por pouco do alcance da lâmina.
O atacante saltou por cima de seu comparsa ajoelhado e avançou novamente, a faca zunindo para a frente e para trás na altura do estômago de Tillman. Instintivamente, Tillman baixou a mão para bloquear um golpe que possivelmente o estriparia: o instinto quase o matou. A faca veio para dentro de sua guarda, movendo-se em torno de seu bloqueio sem o menor esforço, como se o braço não estivesse lá. Recuando para o lado, sentiu e ouviu o ar se deslocar quando a arma passou por seu rosto.
Agora, o outro homem voltara a ficar de pé e movia-se atrás de seu parceiro, e as coisas pareciam ir de mal a pior. Tillman pesou suas chances. Habilidades de caratê não o impressionavam muito: aqueles dois tinham compleição mais leve do que a dele, e mesmo as facas não contavam tanto no espaço restrito do banheiro. O que tornava a situação impossível eram o fato de serem dois contra um e a velocidade espantosa dos homens. Diante de tudo isso, ele provavelmente estaria morto nos próximos dez segundos.
A única esperança de Tillman era mudar a disparidade. Erguendo a mão acima da cabeça, ele enfiou o punho fechado no centro exato do tubo de néon.
Na ausência de janelas, a faixa fluorescente era a única luz no recinto. Quando o vidro se esmigalhou contra as articulações nuas da mão de Tillman, o banheiro mergulhou em absoluta escuridão.
Tillman atirou-se ao chão e rolou. Apalpou o espaço, buscando a arma, cuja localização ele mantivera na memória. Nada.
O som de pés espirrando água. Algo movendo-se à sua direita. Ele chutou, fez contato, rolou de novo. Dessa vez, a ponta de seus dedos roçou o metal frio e familiar de seu Única. Encontrou o cabo, ergueu-o e ficou de pé ao mesmo tempo que atirava num amplo arco: uma, duas, três vezes, abrangendo todo o recinto.
Era um risco calculado. Atirar às cegas revelava sua própria localização. Na escuridão perfeita, nada seria mais fácil do que arremessar uma daquelas facas perversamente afiadas diretamente contra o clarão do cano da arma. Mas o Única estava carregado com um cartucho .454 Casull, excedendo até mesmo o poder de parada[6] do cartucho Magnum. Mesmo que seus atacantes estivessem usando coletes de kevlar sob aqueles ternos elegantes, a essa distância não faria diferença. Um único disparo os deixaria fora de combate.
Com a arma à altura da cabeça, movendo-a na forma de um oito, Tillman retrocedeu em direção à porta. Sua memória semi-fotográfica veio novamente em seu auxílio, e depois de apenas três passos ele sentiu a barra da maçaneta da porta cutucar bruscamente a parte mais baixa de sua coluna.
Outro movimento, desta vez à sua esquerda. Tillman disparou naquela direção — deixando uma única bala no cilindro do Única — e escoiceou a porta atrás de si, abrindo-a. Um jorro de luz invadiu o recinto, assim como o incongruente tilintar das máquinas caça-níqueis no canto oposto. Ambos os homens estiveram avançando contra Tillman na escuridão. Um deles agarrava o próprio braço, o que indicava um impacto de raspão daquela última bala. O outro se atirou sobre Tillman, atacando-o com a faca numa estocada reta.
Sem aquela luz fortuita, Tillman teria recebido o golpe bem no meio da garganta. Precavido no último instante, seu treinamento de krav maga, adquirido em sua época como mercenário sob a orientação de um velho desgraçado e astuto chamado Vincent Less, ressurgiu automaticamente. Quando os dois saíram para o corredor, ele usou a mão direita, ainda segurando a arma, para desviar o golpe de lado, depois agarrou o pulso do homem com a mão livre e torceu-o, forçando-o a largar a faca. Trazendo a mão que segurava o revólver novamente para junto do homem, bateu no rosto dele com a coronha do Única para completar o movimento. Ele cambaleou, livre, enquanto o homem caía. Então, forçou-se a ficar de pé, virou-se e correu. Um de seus oponentes estava fora de combate, o outro pelo menos ferido, mas para Tillman restava apenas um último round — e, vencendo ou perdendo, ele não poderia ficar por ali para nenhum tipo de investigação oficial.
Tillman afastou-se do saguão. Imaginou que os tiros deviam ter sido ouvidos e que a multidão em pânico ali provavelmente seria intransponível. Reduzindo a corrida até uma caminhada rápida, virou a primeira esquina do corredor e imediatamente deu de cara com uma nova multidão saindo da loja de artigos isentos de impostos. Claramente, o som do tumulto penetrara ali também, mas ninguém parecia saber de onde os tiros haviam partido. Ninguém decidida para que lado correr. Tillman abriu caminho entre a turba nervosa tão rapidamente quando pôde. Nesse momento, o maior perigo para aquela gente era ficar perto dele.
Encontrou uma escada, subiu-a e saiu no deque agora deserto. Imediatamente uma mulher surgiu por outra porta no outro extremo do deque. Ela parou quando o viu e o encarou com uma expressão que poderia ser de perplexidade ou aflição.
— Volte para dentro! — gritou para ela. Foi até o parapeito e olhou ao longe. Ainda restavam alguns quilômetros até a costa de Dover, mas a balsa deixara de ser viável, então ele realmente não tinha escolha. Se ficasse ali, seria interrogado, e, se fosse interrogado, seria preso — se não por qualquer outra coisa, pela arma sem licença.
Ele deixara a maior parte da documentação que trouxera consigo na jaqueta, que ficara no banheiro. Isso também significava encrenca, já que dessa vez viajava usando seu nome verdadeiro. Mas era um problema que ele podia adiar. Escorregou os pés para fora dos sapatos e chutou-os para longe.
A dor que explodiu no lado de seu corpo o pegou completamente de surpresa. Uma brusca concussão que desabrochou subitamente num estouro de pura agonia. Virando-se, ele viu a mulher andando em sua direção, tirando uma segunda faca do quadril e sopesando-a na mão. O punho da primeira arma dela agora se projetava para fora da coxa dele, onde se enterrara até a guarda.
A mulher era bonita e de feições muito semelhantes àquelas dos homens no banheiro: pele pálida, olhos e cabelos escuros, com uma solenidade na face como a de uma criança em sala de aula quando a mandam levantar e ler em voz alta.
Não houve nada que ele pudesse fazer para impedir o segundo arremesso. Ela já lançara a mão para trás, e mesmo enquanto erguia o revólver Tillman sabia que não conseguiria apontar e atirar no tempo que lhe restava. Mesmo assim, ele mirou no braço dela e apertou o gatilho quando ela atirou a faca. A lâmina foi invisível, de tão rápida, exceto pelo curto momento de sua trajetória quando a luz de uma lâmpada de segurança a iluminou num tom dourado incongruente.
A bala acertou a faca e a fez zunir para longe por cima de sua cabeça. Foi muito mais questão de sorte do que de julgamento, e Tillman sabia que não poderia fazer aquilo novamente nem em um milhão de anos, ainda que sua arma não estivesse vazia.
Ele subiu no parapeito e saltou. Uma terceira faca voou por cima de seu ombro, passando muito perto, e o acompanhou em seu salto louco e parabólico. Nesse ponto, o deque principal projetava-se para fora cerca de três metros e meio a mais que o convés superior. A faca cobriu essa distância confortavelmente. Tillman, por poucos centímetros.
A água fria fechou-se ao redor dele, que continuou caindo em meio a um ambiente mais denso, mais frio e muito mais hostil. Quando caíra cerca de nove metros, ele desacelerou, parou e começou a subir.
Com algum esforço e a perna já endurecida, virou uma cambalhota na água e nadou ainda mais para baixo. Não havia direções na água negra como a meia-noite, então ele não podia ter certeza de onde estava em relação à balsa. Ficar submerso por tanto tempo quanto pudesse era a melhor maneira de ganhar alguma distância da embarcação.
Quando seu fôlego começou a acabar, ele parou de nadar e deixou-se subir. Nesse momento, de pulmões gritando por mais ar, ele viu algo caindo para longe dele em direção às profundezas logo abaixo, onde não poderia seguir o objeto agora. Algo puramente branco, que captou a claridade vaga e oscilante da luminária da balsa e lampejou como a asa de um pássaro.
Era o sr. Neve.
Tillman ressurgiu na superfície atrás da balsa, a uma longa distância dela. Não viu figuras no deque olhando ou apontando na direção dele. A noite o esconderia e os assassinos decerto nem relatariam que ele saltara. Provavelmente nem haveria uma busca. A água intensamente fria reduziria o sangramento de suas feridas e ele dificilmente deixaria de encontrar a costa sul da Inglaterra, considerando quão grande ela era.
Agora tinha uma resposta para sua pergunta, finalmente. As pessoas que o andavam seguindo realmente o queriam morto. Talvez isso significasse que Michael Brand tinha medo dele. Esperava que sim.
Mas não poderia esperar encontrar o sr. Neve na escuridão e no frio agudo da água. Precisava de cada partícula de suas forças se quisesse sobreviver até chegar à costa.
— Sinto muito — Tillman murmurou enquanto as ondas o sacudiam e chutavam. Não falava com o brinquedo, mas com a filha que perdera tantos anos antes. Sentia-se como se tivesse traído a confiança de Grace, de alguma forma. E como se houvesse perdido um vínculo que realmente não suportaria perder.
Sobreviver. Isso era tudo o que importava agora. Ele usou o rastro da balsa para orientá-lo em direção ao norte e à costa, que ainda estava 16 quilômetros adiante.
Quando Kennedy telefonou do Prince Regent's para verificar como ia o progresso de Harper, ele contou a ela — com uma presunção perdoável — que havia encontrado um elo entre os três acadêmicos mortos. Eram notícias espetaculares, mas não pareceram assim tão importantes quando Kennedy propôs outras perguntas que ele deveria ter feito a Sarah Opie enquanto a mantivera na linha: os três Ravellers mantinham-se em contato direto só por meio do website ou se conheciam de outros lugares? Há quanto tempo haviam compartilhado aquele projeto, e quem sabia sobre ele? Alguém mais estava colaborando com eles, alguém que não tivesse comparecido ao Fórum Histórico de Londres? Não o estava criticando: era apenas a forma como ela trabalhava, o que ele já sabia por meio da rápida convivência. Ela estava juntando as coisas em sua mente, tentando descobrir o que já tinham e do que ainda precisavam.
Eu pensei que algumas dessas perguntas poderiam esperar até irmos lá falar com ela pessoalmente — Harper disse, pesaroso. — Quero dizer, essa é a grande descoberta, né? Nós temos o elo. Se temos o elo, devemos estar muito perto de encontrar o motivo. Mas eu sabia que precisaríamos de um depoimento completo e não queria colocar idéias na cabeça dela por antecipação.
Você fez bem, Harper. Mas me diga o que é essa coisa que eles estavam traduzindo.
O Códice do Rum — Harper disse. — É meio que uma piada pronta no fórum dos Ravellers, aparentemente. A maioria das pessoas acha que é falso. Mas o Barlow tinha uma nova abordagem a respeito, a dra. Opie disse, algo que apareceu na pesquisa dele sobre aqueles primeiros cristãos. Os acrósticos.
Gnósticos.
Ou isso. Então, tudo leva de volta ao Barlow. Ele começou a tentar traduzir essa coisa de Rum e levou os outros dois na onda.
Só os outros dois? Quero dizer, não tem mais ninguém envolvido? Ninguém que precise ser alertado de que alguém pode querer matá-lo?
Harper estava em solo mais firme nessa questão.
Não havia mais nenhum outro colaborador. O Barlow chegou a se aproximar de outro cara, um grande especialista nesses documentos muito antigos. Emil Gassan é o nome dele. Trabalha em algum lugar na Escócia. Mas ele se recusou totalmente a ter qualquer coisa a ver com o professor. Mandou o cara à merda, essencialmente.
E quanto à própria Opie? Como é que ela sabe de tudo isso?
Por causa de comentários no fórum? — Harper disse, mas falou em tom de pergunta. — Tá bom, admito que foi só um palpite. Perguntei-lhe isso algumas vezes, diretamente, mas ela conseguiu me driblar das duas vezes. Ela era amiga do Barlow. Bom, ele a conhecia mesmo, porque comentou naquele outro fórum quando ela recebeu um tipo de grande prêmio. Mas Opie disse que não fazia parte desse projeto. Muito definitivamente. Não tinha nada a ver com o projeto. Ela disse isso duas vezes.
E ainda assim ela sabia sobre o que era o projeto? — Kennedy perguntou.
Harper começava a sentir que o subtexto ali era que ele era um idiota que não conseguia interrogar uma suspeita.
Não é como se fosse um segredo — ele lembrou Kennedy, tentando não soar truculento. — Essa mulher é ativa no site dos Ravellers, então não achei que houvesse nada de incomum no fato de ela saber disso aí. De todo modo, você mesma pode perguntar. Vou marcar uma reunião com ela, tá?
Ele olhou para o relógio de pulso enquanto dizia isso. Já passava das 6 horas da tarde, o que significava que provavelmente não pegariam Opie no campus agora. Harper teria que conseguir o número do telefone da casa dela ou do celular e tentar falar com a doutora na rua. Opie não gostaria disso. O humor dela se tornara mais sombrio ao longo do interrogatório bastante inexperiente de Harper. Ela ficara temerosa e abalada, como qualquer um poderia ficar ao saber que três pessoas a quem conhecia bem poderiam ter sido vítimas do mesmo assassino. As palavras dela haviam se tornado mais e mais concisas e monossilábicas, não porque ela se recusasse a cooperar, Harper suspeitara, mas porque estava tendo problemas para fazer com que sua mente tocasse no assunto. O trauma físico induz ao choque clínico. O choque psicológico trava as engrenagens da mente, impedindo que elas girem — e esta era a verdadeira razão pela qual ele não havia pressionado Opie demais para obter detalhes. Tivera medo de empurrá-la em direção a algum tipo de crise mental da qual ele não seria capaz — a distância — de convencê-la a sair.
Esta noite, não — disse Kennedy, para seu alívio. — Acho que o próximo passo é voltar a falar com o chefe. Quando ele nos deu este caso, pensou que estava só tirando a coisa do caminho. Ele precisa saber o que o caso virou para poder tomar uma decisão a respeito dos recursos.
Harper ficou escandalizado.
Você quer dizer entregá-lo a outra equipe? De jeito nenhum, sarja. Este é o meu assassino serial. Nosso, quero dizer. E eu tenho até um nome para ele.
Harper, eu não quero nem...
O Assassino Acadêmico. Você tem que pensar nessas coisas, Kennedy. Se quer grandes manchetes, tem que dar à mídia algo que eles possam usar. Mal posso esperar pela primeira coletiva de imprensa.
Legal, Harper. Só que, se houver uma coletiva de imprensa, tem uma grande chance de você e eu não estarmos nela.
Eu vou estar nela nem que eu morra por isso.
O suspiro dela farfalhou pela linha telefônica. O suspiro de uma mãe com um filho teimoso.
Provavelmente não vão querer soar nenhuma fanfarra para esse caso por causa da mancada que alguém deu no começo da investigação sobre o Barlow. Se quiserem levar o caso à mídia, pode apostar que o Summerhill é que vai usar pessoalmente o microfone. Talvez deixem a gente sentar lá e fazer cara de paisagem, e só. Você já anotou tudo o que descobriu?
A maior parte — Harper mentiu. Ele tinha apenas o indecifrável rabisco que anotara enquanto fazia o trabalho. Não digitara nada, nem preenchera nenhum formulário ainda.
Deixe na minha mesa. Vou acrescentar meu próprio material e colocar tudo na caixa de entrada do Summerhill esta noite. De manhã vamos falar com ele, pedir uma decisão. Se o interrogatório de uma testemunha importante ainda está pendente, isso o forçará a tomar uma atitude: ele não vai querer atrasar as coisas de forma que possa ficar aparente no arquivo. Mas me dê o número do telefone daquele outro cara, aquele na Escócia que disse não ao Barlow. Vou ligar para ele agora e colocar os pingos nos "is".
Tá bom. — Harper informou o número que haviam lhe dado como sendo de Emil Gassan para que Kennedy pudesse cuidar da questão. Sentia-se inquieto. — Você não acha mesmo que o Summerhill vai nos tirar do caso, acha?
— Você, provavelmente, não. Mas ele definitivamente vai colocar outra pessoa como encarregada do caso.
Por quê?
Porque, se isso deixar de ser uma porcaria só para perder tempo, deixa de ser meu departamento especial. Pensando bem, não coloque suas anotações na minha mesa. Me mande o arquivo e eu imprimo tudo de uma vez. — Kennedy não disse, mas Harper sabia que ela estava pensando em Combes e sua gente. Eles não hesitariam em pegar o material na mesa de Kennedy e lê-lo inteiro, fosse com a intenção de prejudicá-la, fosse por simples curiosidade. Se encontrassem algo que queriam, fariam de tudo para consegui-lo, e de repente ele e Kennedy estariam pressionados de dois lados. De todo modo, era assim que Harper pensava na questão: como se o múltiplo assassinato (triplo assassinato soava ainda melhor) fosse uma maçã bem vermelha que caíra em seu colo, provando a lei universal, e ele esperava que um dia fosse nomeada em homenagem a ele, de que grandes detetives magicamente atraem casos dignos de suas fabulosas habilidades.
Depois que Kennedy desligou, ele percebeu que havia esquecido de contar a ela a respeito de Michael Brand ter dado endereço e telefone falsos. As revelações da dra. Opie haviam tirado aquela novidade de sua mente. Talvez Kennedy tivesse se interessado mais se ele tivesse começado a conversa com a notícia de que talvez houvesse um suspeito real. Bom, ela saberia disso pelas notas do caso, e então poderia lhe dizer que perguntas deveria ter feito ao cara espanhol quando falara com ele ao telefone.
Em seguida digitou as anotações — outro trabalho tedioso para o qual ele tinha um talento levemente embaraçoso — e começou a arrumar suas coisas para sair. Mas ainda não havia desligado o computador. Stanwick perambulou para perto dele e começou a ler o arquivo por cima de seu ombro. Harper virou o monitor em um ângulo oblíquo, afastando-o de Stanwick.
—Jesus, eu só estava olhando! — ele resmungou. — De todo modo, pensei que o seu caso fosse uma dessas merdas que não descem mesmo que a gente dê a descarga. Por isso é que o entregaram para você e para a Jane Calamidade. Então, cadê o grande segredo?
O assassino é alguém aqui da divisão — respondeu Harper. — Pode ser o chefe. Pode ser até mesmo você.
Stanwick olhou fixamente para ele, confuso.
Era para isso significar alguma coisa? — perguntou.
Sim — disse Harper. Ele esticou o braço para baixo e puxou a tomada do computador com o arquivo ainda aberto. — Deveria significar "vá cuidar da sua vida".
Ele se afastou, esperando uma mão pousar em seu ombro, e que o homem grandalhão o virasse à força e plantasse um murro na cara dele. Mas Stanwick apenas assobiou aquela nota que começava baixa e depois subia, aguda, indicando surpresa. Se ele não tinha causado uma boa impressão antes, recusando-se a ajudar a detonar a reputação de Kennedy, aquele assobio claramente dizia que Harper se colocara mais um degrau abaixo. Um que todo o restante da divisão usaria como urinol.
Harper realmente não se importava. Era ambicioso, de forma geral, mas desejava mais experiência do que recompensas de carreira. Queria ver e fazer coisas extraordinárias. O trabalho policial uniformizado havia sido pequeno demais para ele, e talvez a Divisão de Detetives provasse sê-lo também. Só esperava que a jornada fosse louca.
Depois que Harper saiu, o fluxo do início da noite jogou mais algumas pessoas na cova dos leões, mas a maior parte era só o refluxo da maré. Os outros detetives e sargentos detetives gotejaram um a um para a sala, formando pequenos aglomerados, até que, quando Kennedy chegou lá, em torno das 20 horas, a grande sala estava vazia. Ela não se incomodou nem um pouco com isso.
Levou algum tempo para digitar todo o trabalho daquele dia. Não que ela tivesse coberto grandes distâncias; as descobertas, por mais sensacionais que fossem, podiam ser condensadas em uns poucos parágrafos explosivos. Ela estava apenas se garantindo. Ainda que as mancadas do caso fossem anteriores a seu envolvimento, o fato não lhe ofereceria muita proteção caso uma cabeça tivesse que rolar. E com três assassinatos negligenciados em lugar de apenas um, uma decapi- tação pelo bem do moral parecia cada vez menos improvável.
Então Kennedy fez questão de que as anotações do caso fossem impecáveis. Ela e Harper haviam seguido meticulosamente cada regra e protocolo, foram infalivelmente educados e infinitamente explicativos para com as testemunhas, haviam detido seu processo lento, diligente e obediente às regras apenas para fazer anotações completas e simultâneas a respeito de tudo o que estavam fazendo. Em resumo, eram santos do trabalho policial.
Lendo as anotações de Harper, ela descobriu a bomba de Michael Brand e xingou em voz alta. Endereço falso? Número de telefone inventado? Cristo. Por que Harper não havia mencionado isso a Opie e perguntado a ela o que Brand tinha a dizer sobre si mesmo no fórum dos Ravellers? Ele ainda postava lá? Os moderadores do site possuíam alguma informação de contato dele? Se Brand havia mentido quanto a seu endereço, era impossível dizer sobre o que mais ele poderia ter mentido — e Rosalind Barlow dissera que o irmão dela havia se encontrado com Brand na noite antes de morrer. Esse poderia ser o assassino, ou então uma testemunha vital em potencial, e já tinha sobre eles uma vantagem de três semanas.
O que restava? Restava o cara escocês. Emil Gassan. Ela ligou para ele usando o número que Harper lhe dera, mas descobriu que era apenas o telefone geral da universidade. Disseram-lhe que o dr. Gassan já fora embora naquela noite, mas ela conseguiu que o recepcionista — depois de toda a fanfarronada usual de identificação — lhe fornecesse os números pessoais de contato do doutor. Tentou falar com ele ligando para o telefone de sua casa, porém não obteve resposta, e para o celular, que estava desligado. Sem opções, deixou sua própria informação de contato no correio de voz do doutor, junto com uma mensagem dizendo que queria muito falar com ele a respeito de uma investigação pendente. Fez uma anotação mental para tentar ligar para os números da casa e do celular novamente, mais tarde.
Perturbada e preocupada, imprimiu as anotações de Harper e acrescentou-as às suas. Detestava esse jogo de compensação — a sensação de ser prejudicada pelo trabalho malfeito de outros policiais. Eles estariam três semanas atrasados para tudo, durante todo o processo. Ela encaminhou as anotações para Summerhill como um anexo de e-mail, depois fez a curta caminhada pelo corredor até a mesa da secretária dele e ali deixou a cópia impressa, junto com o resto do arquivo do caso, em cima da caixa de entrada, onde ele veria tudo na manhã seguinte.
Feito. Nada poderia impedi-la de ir para casa agora. Não havia nenhuma razão para adiar mais isso.
Ela pegou seu casaco na sala comum, notando, enquanto o fazia, que a ratoeira de aço fora tirada do cesto de lixo. Quem quer que a tivesse trazido para intimidar Kennedy provavelmente a queria de volta. Ou talvez a ratoeira aparecesse em uma de suas gavetas no dia seguinte, ou em seu armário.
Em comparação com o que a esperava agora, essas provocações mesquinhas encolheram-se até sua proporção real.
Já passava das 22 horas quando Kennedy voltou a seu apartamento no canto mais barato de Pimlico, e ela chegou a tempo de ouvir Izzy dizendo sacanagem na frente do pai dela pela quarta vez seguida. Isso significava que ela teria que pedir desculpas a Izzy enquanto, simultaneamente, ficava louca da vida com ela. Era o tipo de coquetel amargo e ao mesmo tempo azedo que deixava Kennedy de mau humor.
A jovem vivia no apartamento de cima e era capaz de combinar cuidados com o pai de Kennedy — e com as crianças do vizinho do andar de baixo — com seu trabalho regular. Mas o trabalho regular dela era ser a parte receptiva de um disque sexo, e o turno dela começava às 21 horas na maior parte das noites. Se Kennedy chegava em casa tarde, Izzy simplesmente sacava o telefone e começava o expediente — e Peter acabava ouvindo mais de cem variações de "Você quer, amor, você quer meter em mim?".
Izzy parecia lidar com isso muito melhor do que Kennedy. Não se sentia nem um pouco inibida pelo fato de o velho ouvir sua performance. Isso até a ajudava a manter a qualidade, ela alegava, tentando extrair um mínimo sinal de reação de Peter. Ela sabia que seu chefe às vezes monitorava os telefonemas para verificar se suas garotas estavam se empenhando enquanto os clientes, do jeito deles, empenhavam-se mais ainda. Ela não queria receber uma reprimenda pela qualidade de suas obscenidades, e gerar alguma agitação na calma quase zen de Peter lhe dava uma meta a alcançar.
Kennedy considerava isso perturbador em diversos níveis, e seus sentimentos se tornavam ainda mais complicados porque ela achava Izzy insanamente atraente. Era uma morena tipo mignon com uma cintura minúscula e uma bunda enorme, o que estava próximo do tipo perfeito para Kennedy. Mas, por causa da inconveniência de ela ser cuidadora do pai da detetive, e porque Izzy era quase dez anos mais jovem que ela, nunca fora capaz de flertar com a garota.
A cada vez que ela tinha que ouvir Izzy conduzindo sexo via telefone com masturbadores solitários, ela experimentava uma onda agridoce de excitação e frustração.
Mas não era como se ela tivesse uma escolha. A verdade era que a supervisão intermitente de que seu pai sempre precisara estava se tornando mais e mais contínua agora. Kennedy desculpou-se profusamente com sua vizinha. Izzy dispensou as palavras com um aceno, com o telefone ainda metido na orelha mesmo que ela estivesse no intervalo entre performances.
Ele já comeu — ela disse enquanto guardava no bolso o pequeno maço de notas que Kennedy lhe dera. — Espaguete à bolonhesa, porque eu estava cozinhando isso mesmo para os monstrinhos do andar de baixo. Só que não dei nenhum fio de espaguete para ele porque ele não consegue engolir. Então seu pai comeu só molho de carne. Talvez seja melhor você ver se ele quer torrada ou algo assim para a ceia.
Kennedy levou Izzy até a porta, ouvindo com apenas metade de sua atenção o relatório do status atual: o que Peter comera e bebera ao longo do dia, o humor de Peter, as fraldas geriátricas de Peter. Izzy sempre considerara esse despejo de informações como parte do contrato, então Kennedy tinha que ouvir ou, pelo menos, ficar ali parada enquanto a moça falava.
Finalmente, a jovem partiu e Kennedy foi verificar pessoalmente o estado de Peter. Ele estava com as luzes apagadas e a TV ligada — um documentário do Channel 4 sobre o mais recente susto pós-vacinação — e permanecia sentado diante do aparelho, olhando para ela na maior parte do tempo, embora seu olhar também vagasse um bocado pelas paredes e pelo teto. Ele vestia calças e uma camiseta, mas só porque Izzy tinha fobia de homens velhos andando pela casa de pijamas: ela provavelmente escolhera as roupas para ele e o ajudara a vesti-las. O cabelo branco de Peter estava desgrenhado e o rosto anguloso, coberto de sombras inconstantes sob as luzes bruxuleantes da TV, como um vídeo acelerado de nuvens correndo por sobre uma montanha.
Oi, pai — Kennedy disse.
Peter olhou na direção dela e meneou a cabeça.
Bem-vinda — disse vagamente. Ele raramente a chamava pelo nome, e quando o fazia havia apenas uma chance a cada quatro de acertá-lo. Chamava-a de Heather com a mesma freqüência com que a chamava de Janet (sua mãe), Chrissie (sua irmã) ou Jeannine (sua sobrinha). Ocasionalmente ele a tomava por Steve (seu irmão mais velho), mesmo que ninguém na família tivesse visto Steve desde que ele fizera 18 anos e fora embora.
Kennedy acendeu a luz, e Peter piscou algumas vezes, perturbado pelo clarão súbito.
Quer uma torrada, pai? — ela perguntou. — Uma xícara de chá? Talvez um biscoito?
Vou esperar o jantar -— Peter respondeu, e voltou sua atenção para a TV.
Ela fez um par de torradas de pão de centeio, mesmo assim, e as levou para ele. Seu pai não se lembraria de ter dito não e definitivamente precisava dos carboidratos se tudo o que havia comido fora uma tigela de molho. Ela colocou as torradas em uma bandeja diante dele, junto com uma xícara de café instantâneo, e retirou-se para seu quarto, que tinha uma TV, um sistema de som e uma mesa. Era como se todo o resto do lugar fosse o apartamento de um vovô e somente esse quarto fosse território dela. Era menor do que a maioria dos quartos que ela ocupara quando era estudante, mas tinha realmente tudo de que precisava — o que, a essa altura da vida, soava mais como uma acusação do que como algum tipo de auto-elogio.
Mas se sentia mal por deixar Peter sozinho depois de ter ficado fora até tarde. Era ridículo, ela sabia. A figura fantasmagórica de sua irmã ficava junto de seu ouvido, fazendo uma preleção fantasma:
Depois de tudo o que esse desgraçado nos fez passar...
Ela não tinha defesa, era verdade. Peter havia sido um marido e pai verdadeiramente detestável, e estava infinitamente mais tolerável na condição atual, ocupando o lugar de uma personalidade agora ausente. As crueldades dele, suas falhas, a haviam moldado, mas o mesmo haviam feito o exemplo e as expectativas dele. A longo prazo, nada disso importava. Tudo se resumia a ser capaz de abandoná-lo ou não, e ela claramente não era.
Então, levou o próprio café de volta à sala de estar e sentou-se durante o resto do programa de TV ao lado do pai. Quando acabou e os comerciais surgiram na tela, ela desligou o aparelho.
E aí, como foi seu dia? — perguntou a ele.
Muito bom — ele respondeu. — Muito bom. — Nunca dava outra resposta.
Kennedy contou-lhe sobre sua investigação de assassinato com uma quantidade razoável de detalhes. Peter ouviu em silêncio, meneando a cabeça em concordância ou murmurando um "oh!" de tempos em tempos, mas quando ela parou ele não ofereceu nenhum comentário nem pergunta. Apenas olhou para ela, esperando para ver se havia algo mais. Bem, ela não esperara uma reação. Apenas sentia uma compulsão — intermitentemente, e só até certo ponto — de tratá-lo como um ser humano, já que não havia mais ninguém por perto preparado para fazer isso por ele.
Ela foi até o aparelho de som e colocou uma música para tocar: The Legendary Gipsy Queens and Kings, cantando "Sounds from a Bygone Age". A mãe de Kennedy, Janet — cujas alegações de que tinha sangue cigano Peter sempre declarara serem totalmente absurdas —, não ouvira nada além de Fanfare Ciocãrlia durante o ano de sua última doença. Peter desdenhara disso enquanto ela vivera, como desdenhara da maioria das coisas que sua esposa fazia e dos motivos dela para fazê-las. Mas quando ela morrera ele chorara. Fora apenas duas vezes em sua vida que ele fizera isso, até onde Kennedy sabia. Depois, ele mesmo passara a colocar o álbum para tocar, tarde da noite ou nas primeiras horas da manhã, num silêncio hipnotizado. E então ele começara a comprar discos de música cigana dos Bálcãs como que por atacado. Kennedy não tinha idéia se ele gostava daquilo ou não. No entanto, suspeitava que, às vezes, se o acertassem na hora certa e no ângulo certo, aqueles álbuns poderiam funcionar para Peter como uma espécie de construto sonoro de sua esposa morta. A música tinha o poder — ainda que intermitente — de mudá-lo, tanto enquanto estava tocando como por algum tempo depois que já havia acabado.
Essa noite, pareceu funcionar. Os olhos de Peter ganhavam mais foco enquanto o violino guinchante e o acordeão bombástico se chocavam um contra o outro tentando dominar a melodia. Ela tocou apenas três faixas, pois a claridade era uma faca de dois gumes. Se ele lembrasse que Janet estava morta, seu humor decairia para algo mais sombrio e imprevisível e ele provavelmente não dormiria naquela noite.
Você parece cansada, Heather — Peter disse a Kennedy enquanto as últimas notas de "Sirba" ainda pendiam no ar. — Você tem trabalhado demais. Deveria ser um pouquinho mais egoísta. Cuidar mais de si mesma.
Como você sempre fez — ela contrapôs. O tom brincalhão foi assumido inteiramente. Era mais doloroso do que agradável ouvi-lo falar novamente como o homem que já fora. Fazia com que ela sentisse falta dele, mas também fazia com que o odiasse, já que parcialmente o reconstruía — levando-o a ser, pelo menos parcialmente, responsável pelo que fazia, alguém que podia ser odiado.
Eu trabalhei por você — Peter resmungou. — Por você e pelas crianças. Pelo que você está trabalhando?
Era uma boa pergunta, mesmo que o jeito como ele a fizera parecesse demonstrar que o pai a confundira com sua mãe. Ela deu uma resposta mentirosa:
Pelo bem público.
Peter bufou.
Certo, certo. O público vai agradecer do jeito que sempre agradece, querida. Do jeito que agradeceu a mim. — Ele bateu no peito quando disse mim. Esse já havia sido seu gesto característico, como se as palavras eu e mim precisassem de ênfase adicional quando se referiam a Peter Kennedy.
Você faz o que sabe fazer — ela disse. Uma resposta melhor, e Peter a aceitou com uma risada e um meneio de cabeça. Os olhos dele estavam mudando novamente, a luz se suavizando enquanto a mente deslizava para longe da ilha de consciência rumo ao mar de fiapos e estática no qual geralmente flutuava.
Involuntariamente, Kennedy ergueu a mão e lançou-lhe um aceno de adeus.
Vai nessa, pai — ela disse gentilmente enquanto piscava em rápido stacatto, meia dúzia de vezes, determinada a não deixar a lágrima cair.
De seu quarto, mais tarde, Kennedy tentou falar com Emil Gassan novamente. Dessa vez, teve sorte: alguém atendeu o telefone da casa. Ele tinha uma voz aguda e lamuriosa e um sotaque que estava muito mais para o padrão inglês do que para o escocês.
Emil Gassan — ele disse.
Dr. Gassan, meu nome é Heather Kennedy. Sou sargento detetive da Polícia Metropolitana de Londres.
Da polícia? — Gassan imediatamente soou tanto alarmado quando levemente indignado. — Não entendi.
Estou investigando a morte de um ex-colega seu. O professor Stuart Barlow.
Ainda não estou entendendo.
É possível que haja algo de suspeito na morte dele. Especialmente considerando a coincidência das mortes de dois outros acadêmicos com os quais o professor Barlow tinha ligação.
Está sugerindo que o Barlow foi assassinado? Eu achei que ele tinha caído da escada!
Não estou sugerindo nada nesse estágio, dr. Gassan. Só estou reunindo informações. Eu gostaria de saber se o senhor teria um tempinho para falar comigo sobre o projeto de tradução do professor Barlow.
O projeto do Barlow? Meu Deus do céu, você não está falando do Rum, está?
Sim. O Rum.
Bom, eu dificilmente dignificaria aquela proposta asinina com o termo "projeto", sargento... — Ele esperou que ela completasse o nome.
Kennedy.
E, além disso, eu hesitaria em chamar Stuart Barlow de colega. Ele mal publicou qualquer coisa nas últimas duas décadas, sabia disso? Ele lança hipóteses malucas naquele, como é o nome? Fórum dos Ravellers. Mas uns poucos e-mails aqui e ali não contam como séria atuação acadêmica. E quanto à idéia de que alguma coisa poderia ser descoberta a respeito do Códice do Rum a esta altura... bom, mentes melhores do que a do Barlow já naufragaram com esse barco. — A última declaração foi acompanhada de uma risada azeda e desdenhosa.
Então, quando ele abordou o senhor — Kennedy disse — e perguntou se queria ser parte da equipe dele...
Eu disse não. Enfaticamente. Não tinha tempo a perder com isso.
Kennedy analisou seus riscos. O caso inteiro parecia depender de coisas que estavam muito além da zona de conforto dela, e a arrogância desse cara tinha que estar baseada em pelo menos algum grau de conhecimento.
O senhor tem tempo para me explicar exatamente o que é o Códice do Rum, dr. Gassan? Já ouvi vários relatos até aqui, mas ainda não entendo totalmente.
Bom, leia meu livro. Textos Paleográficos: Substância e Substrato. Leeds University Press, 2004. Está à venda na Amazon. Posso mandar o número do ISBN para você, se quiser.
Não sou especialista, dr. Gassan. Provavelmente eu me perderia nos detalhes. E, de qualquer jeito, já estou falando com o senhor.
Houve um silêncio levemente carregado do outro lado da linha.
O que é que você queria saber? — Gassan perguntou por fim. — Não tenho tempo para dar um curso rápido de paleografia a você, sargento Kennedy. Não a partir do zero. E, mesmo para dar uma introdução, eu normalmente esperaria ser pago.
Bem que eu gostaria de poder pagar — Kennedy volveu. — Mas na verdade não quero saber muita coisa. Só o que o senhor acha que o professor Barlow estava tentando fazer e por que isso seria tão importante — para ele ou para qualquer outra pessoa no ramo. Obviamente, do ponto de vista do senhor, ele estava cometendo erros elementares. Eu só gostaria de visualizar o contexto para entender onde é que ele estava errando porque, no momento, estou trabalhando no escuro.
Outra hesitação. Será que ela havia exagerado na adulação sugerida? Gassan podia parecer tudo, menos tolo.
Mas, tolo ou não, mesmo assim mordeu a isca.
Para falar sobre o Rum, vou precisar explicar o básico sobre estudos bíblicos.
O que for necessário.
Um breve resumo, então. Porque, realmente, eu tenho outros assuntos dos quais cuidar.
Um breve resumo seria ótimo. Tudo bem se eu gravar a conversa? Gostaria que meus colegas se beneficiassem dela também.
Desde que eu receba o crédito — Gassan disse em tom desconfiado.
Com certeza.
Muito bem, sargento. O que sabe sobre a Bíblia?
Transcrição do depoimento feito pelo dr. Emil Gassan em 23 de julho, começando às 22h53.
Emil Gassan: Muito bem, sargento. O que sabe sobre a Bíblia?
Sargento Detetive Kennedy: Não muita coisa, eu acho. Sei que há dois testamentos.
EG: De fato, há. E você sabe, é claro, que o Novo Testamento foi escrito muito tempo depois.
SDK: É claro.
EG: Quanto tempo depois?
SDK: Ah. Deve ter sido uns mil anos, né? O Novo Testamento foi escrito logo depois dos eventos que ele descreve — logo depois que Jesus morreu. O outro foi... bom, lá no tempo dos faraós.
EG: Uma parte dele, sim. Mas levou muito tempo para juntar tudo o que forma a Bíblia — para deixá-la do jeito que a conhecemos agora. Parte desse material data do século XIII a.C., então, você tem razão, é muito, muito antigo. De antes de Roma. Antes de Atenas. Quase antes de Micenas, até. Mas outras partes dele foram escritas mil anos mais tarde. Os Manuscritos do Mar Morto, que são as cópias mais antigas que temos de alguns trechos-chave do Velho Testamento, datam de apenas um século antes de Jesus. E o texto continuou mudando. O que foi incluído — o que contava como a palavra de Deus — foi diferente de geração para geração.
SDK: Tudo isso é relevante para o Códice do Rum?
EG: Ah, eu mal comecei a falar, sargento Kennedy. Então, o Velho Testamento passou mais ou menos uns mil anos sendo formado. O Novo Testamento continuou o mesmo em alguns aspectos, mas ficou diferente em outros. Levou algum tempo para adquirir a forma que conhecemos hoje, mas a escrita dele, em si, aconteceu relativamente rápido. A maioria dos textos-chave já havia sido escrita no final do século II. Essa é a teoria prevalente. Agora, quantos evangelhos existem?
SDK: Quatro?
EG: Obrigado por tentar. A resposta correta está mais perto de seis.
SDK: Hum... Mateus, Marcos, Lucas, João...
EG: Tomás, Nicodemos, José, Maria, Filipe, Matias, Bartolomeu... e eu só estou falando dos livros que são chamados de evangelhos. A palavra em si não significa muito, no final das contas. Para uma oficial da polícia, talvez signifique, hã, o depoimento de uma testemunha. O depoimento de uma testemunha que presenciou eventos assombrosos.
SDK: É uma analogia interessante.
EG: Obrigado. Talvez eu a use novamente. Contando todos, há perto de cem outros livros que foram incluídos na Bíblia em épocas diferentes, ou por igrejas diferentes, mas não fazem mais parte dela hoje. Embora alguns deles ainda estejam presentes em algumas outras escolas da cristandade. As fés ortodoxas grega e eslavas, por exemplo, têm uma Bíblia muito diferente da igreja católica. Há uma porção de livros extras nelas.
SDK: O senhor está falando dos Apócrifos. Os Evangelhos Apócrifos.
EG: Bom, sim. Estou, sim. Parcialmente. Mas também estou dizendo que os apócrifos de um homem são a ortodoxia de outro. A discussão sobre o que era realmente a palavra divina e o que não era continuou firme até a Idade Média. E é difícil saber quem venceu. As diferentes igrejas ficaram com seus próprios textos, e cada uma delas falava que o seu era o certo. Os livros normalmente conhecidos como Apócrifos são aqueles que ninguém quis. Mas até mesmo eles foram promovidos às vezes — ou vice-versa, textos que costumavam ser parte da Bíblia foram descartados. Como o Livro do Pastor de Hermas. Os primeiros padres da igreja o colocaram logo depois de Atos dos Apóstolos. Agora, quase ninguém mais lembra o que ele era.
SDK: Então, o Códice do Rum é um Apócrifo? Algo que foi retirado da Bíblia?
EG: Está mesmo determinada a pular etapas, não é, sargento? Está com pressa. Mas receio que ainda não tenhamos chegado lá. No começo da história da igreja cristã, toda essa questão — o que veio de Deus, o que veio do homem — era literalmente uma questão de vida e morte. Eles lutaram por isso. Mataram uns aos outros para decidir quem tinha a melhor versão da verdade. E estou falando tanto de assassinatos quanto de execuções e martírios. Ario de Alexandria foi envenenado e morreu em agonia porque havia atacado a doutrina da santa trindade. E muitos dos textos religiosos que obtivemos dessa época são realmente polêmicos. Eles dizem: não acredite nisto, acredite naquilo. Dizem: afaste-se das pessoas que dizem isso e isso. Já ouviu falar de Irineu?
SDK: Não, temo que não. Ah, espere. A irmã do Stuart Barlow... Ela disse que Barlow estava estudando esse homem em determinado momento.
EG: Stuart estudava tudo em algum momento ou outro. Bispo Irineu de Lugdunum — e, mais tarde, no devido momento, Santo Irineu. Ele viveu no final do século II depois de Cristo no lugar que, na época, ainda era chamado de Gália. E escreveu um trabalho muito influente chamado Adversus Haereses. Que era, essencialmente, um ataque às fés desviantes — uma lista do que bons cristãos poderiam ou não poderiam ler. A maior parte dos escritos que ele atacava pertencia ao que hoje chamamos de tradição gnóstica.
SDK: Outro dos assuntos de estimação de Stuart Barlow.
EG: Recomendo meu comentário anterior sobre isso.
SDK: E o senhor diria que o Códice do Rum está ligado à tradição gnóstica de alguma forma?
EG: Ah, sim.
SDK: Por favor, continue, dr. Gassan.
EG: O Adversus Haereses de Irineu é como um aviso de segurança do novo cristão. Ele diz aos fiéis o que evitar. Fala sobre todas aquelas idéias que andavam flutuando por aí — idéias sobreviventes, algumas delas, de épocas anteriores, mas agora atreladas à religião de Cristo —, as quais, na opinião do bom bispo, eram na verdade bombas prontas para explodir. Ele avisa seu rebanho a respeito de supostos homens santos que na verdade eram como estranhos com doces nos bolsos e más intenções. E ele foi particularmente incisivo ao atacar os movimentos gnósticos, que eram quase como sociedades secretas dentro da cristandade — religiões de mistério, compartilhando um conhecimento arcano sobre a vida e os ensinamentos de Cristo. Conhecimento que, às vezes, ia diretamente contra os ensinamentos das igrejas ortodoxas.
SDK: Então, o Rum é uma das coisas que Irineu ataca?
EG: [risos] Não exatamente.
SDK: Tá bom. Eu obviamente não entendi alguma coisa aí.
EG: O Códice do Rum data do século XV, sargento. Ganhou esse nome porque um capitão de barco português o trocou pór um barril de rum. E uma tradução — para o inglês — de um evangelho.
SDK: Um Evangelho Apócrifo?
EG: De forma alguma. E o Evangelho de João. O Evangelho de João completo, não muito bem traduzido, mas muito próximo da versão que temos. Mas então, no fim, e é isso que o torna fascinante — e controverso —, há algo mais. Uns poucos versos de um evangelho diferente. E este outro é muito apócrifo, pois nunca foi encontrado. Nunca apareceu em lugar nenhum. São sete versos de um evangelho diferente, que começa com algumas afirmações muito peculiares. Sabe o que é um códice, sargento?
SDK: Descobri recentemente. Os primeiros livros, né?
EG: Exato. Mas eles só eram livros no sentido de que eram conjuntos de páginas que haviam sido dobradas e costuradas juntas. Diferentes dos livros modernos, eles freqüentemente juntavam textos que não tinham a menor conexão uns com os outros. As pessoas da época ainda não tinham o conceito de um livro como um único texto entre um par de capas. Códices nem tinham capas. Só páginas mantidas juntas. E, se o autor chegasse ao fim de um escrito antes de chegar ao fim da página, freqüentemente já se começava a escrever outra coisa na mesma página.
SDK: Que é o que acontece com o Rum.
EG: Que é exatamente o que acontece com o Rum. Os versos extras no final não são de João. Não são de nenhum evangelho conhecido. Mas Judas Iscariotes aparece de forma proeminente neles, e Irineu fala de um Evangelho de Judas que existia naquela época — um evangelho que ele acreditava conter ensinamentos realmente muito perversos.
SDK: Então, quer dizer que, depois do Evangelho de João, o Rum tem um trecho desse outro evangelho? O de Judas?
EG: Bom, possivelmente. Possivelmente do Evangelho de Judas. De fato é um evangelho no qual Cristo fala com Judas sozinho, em segredo.
SDK: Então, o Rum.
EG: Bom, nós não sabemos. Não sabemos. O Rum pelo menos parece ser a tradução de um códice — um livro no qual o Evangelho de João é seguido pelo Evangelho de Judas. Mas, se esse for o caso, então o original — o códice verdadeiro, escrito em aramaico, a partir do qual essa tradução parcial para o inglês foi feita — nunca foi encontrado, nem sequer positivamente identificado.
SDK: Isso é meio decepcionante.
EG: Não é? O Capitão De Veroese deveria ter ficado com o rum. Ele comprou gato por lebre.
SDK: Espere. Talvez eu não esteja mesmo compreendendo o senhor, dr. Gassan. Eu achei que o que o Barlow estava fazendo era criar uma nova tradução do Códice do Rum.
EG: Não. Não poderia ter sido isso. O Rum já é uma tradução. Está escrito em inglês. Um inglês horrível, mas é inglês mesmo assim.
SDK: Então, o que o Barlow propunha fazer com o códice?
EG: Receio que teria que perguntar a ele.
SDK: Ele não disse ao senhor o que tinha em mente? Quando falou com o senhor sobre tudo isso?
EG: Ele disse que tinha uma nova abordagem. Que podia haver mais no Rum do que qualquer um jamais imaginou. Mas ele não estava preparado para me dizer mais nada a não ser que eu concordasse em trabalhar com ele, e eu não tinha a menor intenção de fazer isso.
SDK: O senhor estaria disposto a especular?
EG: Certamente. Eu especulo que, o que quer que fosse, era uma completa e absoluta perda de tempo. Se ele tivesse me dito que pretendia jogar uma nova luz sobre a vida e a obra de Cristo por meio de um exame meticuloso das letras do musical Jesus Cristo, Superstar, eu teria tido — no mínimo — um leve interesse a mais na empreitada. Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você, sargento Kennedy?
SDK: Doutor, o senhor fez mais do que o suficiente. Obrigada.
EG: Não tem de quê. Boa noite.
Kennedy dormiu e sonhou com Judas.
Ele não estava muito feliz. Estava num campo, sob uma árvore sem folhas da qual um nó corrediço pendia, então ela compreendeu que momento era esse. O momento antes do suicídio dele. Ele parecia preocupado, no entanto, em contar o dinheiro que tinha na mão.
Em dado momento, notou que ela estava lá. Ergueu o olhar e encontrou o dela com olhos tristes, escuros. Mostrou-lhe as moedas. Trinta peças de prata.
— Eu sei — disse Kennedy. — Sei que é grave.
Era um verso de uma música dos Smiths, e ela se sentiu inclinada a pedir desculpas por isso. Mas Judas estava pendurado na árvore agora, balançando lentamente para a frente e para trás como o sino dos ventos mais feio do mundo.
O momento havia passado.
Tillman levou um longo tempo para recompor-se e entrar na linha novamente depois de finalmente rastejar para a praia em Folkestone. Ensopado, gelado e enfraquecido pela exaustão e pela perda de sangue, sabia que não poderia se dar ao luxo de ir para um hospital. Tinha que continuar andando se queria continuar vivo. Do contrário, sucumbiria à hipotermia e ao choque.
Teve sorte nesse aspecto. As 3 horas da manhã, Folkestone era um lugar relativamente fácil para conseguir tudo de que precisava. Invadiu uma farmácia para pegar bandagens e sulfadiazina e assaltou as sacolas plásticas deixadas do lado de fora de um bazar de caridade para arranjar uma troca de roupas. Um banheiro masculino perto de um estacionamento de trailers tornou-se seu vestiário e sala de cirurgia.
Os ferimentos no ombro e na coxa estavam sangrando muito livremente, e a sulfadiazina nem mesmo desacelerou o processo. Tillman suspeitava de que a água muito fria, perto o suficiente do ponto de congelamento para comprimir suas artérias, havia salvado sua vida. Alguma coisa sórdida — algo que revestira as lâminas das facas, presumivelmente — estava impedindo seu sangue de coagular. Ele fez uma nova invasão, dessa vez a uma pequena loja de conveniência, onde procurou em vão por isqueiros BIC e acabou se conformando com uma caixa de fósforos. Usou alguns deles para acender um ramo quebrado da cerca viva de pinheiros de alguém. Então, fechou os dentes sobre um rolo feito com sua camiseta enquanto cauterizava os talhos limpos, de arestas perfeitas, com fogo puro. O cheiro forte da resina do pinheiro misturou-se nauseantemente ao de sua carne queimada. Feito isso, ele aplicou mais uma espessa camada de pomada desinfetante com mãos que tremiam ligeiramente e enfaixou as feridas da melhor forma que pôde.
Ir para Londres era o próximo obstáculo. Pelo menos ele ainda tinha a carteira, que estivera no bolso de sua calça e não no da jaqueta que ele deixara para trás, na balsa. Tillman procurou ficar longe das estações de trem, sabendo que seu aspecto era ruim o suficiente para que alguém ficasse tentado a chamar a polícia se ele tentasse comprar uma passagem. Um ônibus noturno parecia uma aposta melhor. Ele tinha quase certeza de que Folkestone possuía uma estação de ônibus, e a cidade era tão pequena que ele a encontrou sem grandes problemas. O primeiro ônibus do dia saía antes de o sol nascer. Comprou uma passagem numa pequena cabine perto de um colossal estacionamento de carros da NCP e esperou fora do alcance das luzes da rua até ver o motorista entrar no ônibus. Então, juntou-se à pequena fila de pessoas no último instante possível. Não provocou nenhum comentário, mas uns poucos olhares desconfiados. Ele parecia um sem-teto com condicionamento físico anormalmente bom e provavelmente cheirava como um incêndio numa farmácia. Ótimo. Ninguém iria querer cruzar o olhar com o dele, muito menos falar com ele. Ele poderia dormir, desde que seus ferimentos permitissem.
Em Victoria, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Pediu um café da manhã reforçado e cheio de frituras em um café na Buckingham Palace Road, cujo proprietário estava acostumado a lidar com os sem-teto do albergue adjacente e não dava a mínima para a aparência e o cheiro de Tillman. A comida o fez sentir-se muito melhor, e a dor causticante das feridas de faca começou a ceder só um pouco. O suficiente para ele funcionar, pelo menos, e pensar com clareza.
Ele precisava estabelecer uma base para si até ter notícias de Vermeulens. Tinha de descobrir o que Michael Brand estivera fazendo em Londres e se ele ainda estava lá. Precisava estar pronto para agir, e agir rápido, se houvesse alguém ou algo contra o qual enfrentar.
Tillman ainda possuía a casa em Kilburn onde vivera com Rebecca e criara uma família com ela, mas nem mesmo considerou a possibilidade de ir até lá. Quem quer que tivesse tentado matá-lo na balsa certamente sabia muito sobre seus atuais deslocamentos, que eram complexos e crípticos. Então, também conheciam seu passado, que era transparente e óbvio.
Depois de visitar um depósito em St. Pancras, um de seus muitos esconderijos de emergência, tomou o metrô até Queens Park. Lá, alojou-se numa hospedaria do tipo bed and breakfast. Pagou em dinheiro, apresentando como documento de identidade um passaporte falso em nome de Crowther — uma das últimas coisas que ele comprara de Insurance antes de ela cortar relações com ele. Ocorreu-lhe imaginar se era seguro usar esse passaporte agora. Talvez não, se fosse em qualquer situação que envolvesse validá-lo de acordo com um banco de dados. Da próxima vez que ele pegasse um avião — se algum dia decidisse que era seguro fazer isso —, provavelmente sairia para comprar novas identidades primeiro.
Dispondo diante de si as poucas posses que lhe restavam e fazendo uma lista mental das coisas que precisariam ser adquiridas e substituídas nos próximos dias, ele se lembrou do afogamento do sr. Neve. A memória era como a linha de um pescador com um grande tubarão branco agarrado à outra ponta. Tillman puxou a linha, sentiu a tensão e rápida, desesperadamente, desviou sua mente para outros assuntos.
Tirou as roupas e as bandagens e tomou um banho frio. Não queria arriscar água quente, nem mesmo morna, sobre a pele queimada das feridas que mal haviam se fechado. Deu um telefonema para Vermeulens e deixou uma mensagem no correio de voz informando a ele seu novo número de celular. Era uma manhã clara e ensolarada, mas as grossas cortinas mantinham a maior parte da luz do lado de fora. Ele deitou — de barriga para baixo, o que parecia irritar menos seu ombro ferido — e dormiu por 18 horas diretas.
O que o despertou foi o telefone. Ele tateou, procurando-o, tentando organizar seus pensamentos e trazer à tona uma lembrança de onde estava agora.
Oi — grasnou ao telefone antes de descobrir quem diabos estava ligando para ele.
Hoe gaat het met jou, Leo?
Benny.
E, sou eu. Você ficou fora do radar por um tempo. Eu liguei para o seu número de sempre, mas eu não conhecia o cara que atendeu. Disse que era amigo seu. Presumi que não era.
O telefone dele ficara no bolso da jaqueta. Os homens com facas e sua garota polivalente deviam tê-lo pego. Teriam verificado se havia uma agenda de telefones ou lista de números memorizados, mas Tillman nunca guardava essas informações. Então, mantinham o aparelho ligado na esperança de que os amigos ou contatos de Leo telefonassem para ele. Era uma estratégia desajeitada e oportunista, e não os levaria muito longe. Apenas meia dúzia de pessoas tinha aquele número de telefone, e nenhuma, exceto Vermeulens, tendia a telefonar para Tillman sem acordo prévio.
Não era amigo meu — Tillman confirmou.
E mesmo assim ele pareceu muito ansioso para saber se você estava bem. Ou, pelo menos, se não estava bem, onde ele poderia te visitar.
Tillman riu.
Arrã. Aí ele me mandaria flores. Provavelmente cravos-de-defunto.
Você está irritando pessoas, Leo. Sei disso porque estão circulando boatos sobre você que não parecem verdadeiros para mim.
MacTeale.
E outras coisas. Dizem que você está traficando drogas agora, aparentemente, mas seus parceiros nesse negócio já foram presos duas vezes em operações com agentes infiltrados. Você escapou das duas vezes. Então, claramente decidiu que entregar seus próprios comparsas é uma manobra lucrativa.
Não estou traficando drogas, Benny. Nem dedurando.
E claro que não. Você nunca teve esse tipo de ética profissional. Mas rumores como esse custam dinheiro, Leo. Alguém está querendo te deixar sem conforto e suprimentos. E sem amigos.
Sem oxigênio também. Eu acabei de pular de uma balsa onde tentaram me estripar feito um peru. Trabalho profissional.
Profissional — Vermeulens concordou. — Muito. Era isso, na verdade, que eu estava tentando dizer. Que eles são profissionais e estão bem relacionados, com acesso tanto a dinheiro como a canais. E melhor você tomar cuidado.
Foi por isso que você ligou?
Não, Leo. Não foi por isso que liguei. Na maior parte do tempo, apesar de sermos amigos, não fico preocupado com seu bem-estar a ponto de te ligar para lembrar você de usar agasalho nas noites frias de inverno. E, de todo modo, provavelmente é verão aí onde você está.
Como você sabe onde eu estou, Benny? — Ele ouviu a pontada de paranóia na própria voz, o medo indistinto abaixo da agressão. Algo havia mudado na mente de Tillman, em seu mundo. Ele experimentou a mudança como algo gradual, como se o chão reto houvesse se transformado em uma ladeira sobre a qual ele estava agora, de forma a precisar reequilibrar-se de segundo em segundo para manter-se de pé.
O telefone, Leo. Seu novo número é do Reino Unido. Isso provavelmente significa que você está de volta à Grã-Bretanha, mas note que não estou perguntando. Enquanto isso, e eis a razão pela qual liguei, tem o Michael Brand.
Tillman sentou-se.
O que tem o Michael Brand?
Ele andou sendo indiscreto. Muito.
O que isso significa?
Ele é procurado por assassinato, Leo. Por muitos assassinatos. Acho que sua sorte pode ter finalmente mudado.
Na manhã seguinte, eles esperaram do lado de fora do escritório de Summerhill por uns bons 45 minutos, mas o chefe não apareceu. A policial Rawl, na recepção, disse que ele estava a caminho, mas se atrasara. Então, alguns minutos depois, corrigiu a informação:
Ele precisou fazer um desvio. Teve que ir a Westminster primeiro para falar com algum comitê. Sobre verbas e apropriações, algo assim. Ele vai demorar pelo menos uma hora.
Kennedy e Harper consideraram a situação e trocaram idéias. O argumento sobre deixar Opie pendente para acrescentar urgência à decisão do chefe ainda se sustentava. Era mais provável que Summerhill os mantivesse no caso se houvesse algo a ser feito naquele mesmo instante. E interrogar Opie apropriadamente era algo que realmente precisava ser feito, quanto mais cedo melhor.
Você tomou café da manhã? — Harper perguntou a Kennedy.
Não — ela admitiu. Só muito raramente o café da manhã era parte de sua rotina.
Bom, vamos comer alguma coisa, então. Enquanto comemos, podemos discutir quais vão ser as perguntas, e voltamos daqui meia hora. Se ele não tiver voltado, a gente sai.
Kennedy concordou, suprimindo um impulso de relutância. Seu dia de trabalho tendia a ser uma corrida em linha reta. Comida, como todo o resto das coisas comuns da vida, era algo que ela relegava a segundo plano.
Mas alguém havia aberto recentemente o Queen Anne Café e o Centro Comercial na esquina da Broadway, uma empreitada extravagante para a qual Kennedy sempre tivera algum tempo. Então, concordou, e eles foram adiante.
O lugar estava um pouco mais lotado do que ela esperava, e falar sobre os detalhes do caso pareceu estranho na presença de tantos possíveis curiosos. Os dois experimentaram vários circunlóquios, mas assassinato soava como assassinato, não importava com quantos véus se tentasse disfarçar o assunto. Desistiram de tentar fazer isso mais ou menos na hora em que o café da manhã reforçado de Harper e a torrada com manteiga de Kennedy chegaram.
Você sabe que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? — Harper disse, espiando o prato frugal de Kennedy.
Para mim, seria o jantar — ela replicou.
Então, como é? No jantar você acrescenta uma fatia extra? Um bolinho? Geléia de morango?
Kennedy considerou dizer que o que ela comia não era da conta dele, mas olhou bem para o rosto dele e percebeu que a piada pretendia apenas quebrar o gelo, nada mais. Harper ainda não sabia exatamente como falar com ela, em que estágio seu relacionamento profissional estava agora. Não fazia nem 24 horas desde que ela lhe dissera para pular fora do caso.
Marmelada — ela respondeu. — Com pedacinhos de fruta.
Harper assobiou.
Com pedacinhos. Agora, sim!
Ele comeu rapidamente, e já estava na metade de sua salsicha, ovo e bacon enquanto Kennedy ainda estava espalhando manteiga no pão.
Então, você sempre quis ser detetive? — ele perguntou entre garfadas.
Sim — Kennedy respondeu. — Sempre. — Não era a verdade literal, mas estava perto o suficiente dela para funcionar. Ela sempre quisera ser algo que obtivesse a aprovação do pai, que a tirasse da região venenosa e perigosa do desprezo dele. — E você? — ela volveu, instintivamente afastando a conversa daquele território.
O que tem eu?
Quando decidiu que esta vida era para você?
Na sétima série — Harper respondeu sem hesitar.
O sistema de numeração dos anos escolares na Inglaterra havia mudado desde a época de Kennedy. Ela teve que fazer uma tradução mental da informação.
O primeiro ano do ensino secundário — disse ela. — Você devia ter 12 anos.
Harper estava devorando o último pedaço de salsicha, tendo-o esfregado no prato para absorver um pouco da gema do ovo frito. Isso ocupou completamente a atenção dele, embora parecesse estar pensando, também, na explicação que estava prestes a dar.
Eu era um molequinho magricela — disse por fim. — E meio sonhador. Do tipo quieto. Era bem frouxo, para falar a verdade. Tão frouxo que você poderia ter me matado com um tiro pelas costas, como minha mãe costumava dizer quando estava de mau humor. Me provocaram muito na escola primária, mas nada demais. As professoras estavam lá para garantir que a situação não saísse de controle, e eu me escondia na barra da saia delas. Não tinha a menor vergonha.
Ele empurrou o prato vazio para longe de si.
Daí fui para a Burnt Hill, uma escola estadual para todo tipo de crianças. E aí a coisa ficou péssima. O filhinho da mamãe de repente jogado bem no meio da cova dos leões. — Ele sorriu para Kennedy, como se a estivesse convidando a rir daquela imagem. — Da primeira vez que vi um moleque puxar um canivete numa briga, eu tive um choque de realidade. Foi como se... houvesse um equilíbrio antes e depois não houvesse mais. A disposição das crianças ao meu redor para fazer o mal — e a habilidade delas para isso — tinha crescido n vezes por cento, sendo n um número muito alto mesmo.
"Mas o sistema de controle não havia mudado nem um pouco. Ainda éramos ameaçados com suspensões, deméritos e perda de privilégios. Era como dizer a Al Capones em miniatura, desgraçadinhos maldosos com mente evasiva e armas pesadas, que teriam que ficar de castigo depois da aula se não mudassem de idéia. Foi naquele exato momento que eu percebi para que serviam os policiais, e comecei a querer ser um."
Ele sorriu para ela novamente.
E, oito anos depois, meu sonho se realizou. Você não adora uma história com final feliz?
Kennedy registrou a autobiografia resumida com um solene meneio de cabeça.
Tá certo — ela disse. — Obrigada. Entendo você um pouco melhor agora, Harper. O severo disciplinador mantendo os alunos malcriados do mundo sob controle. Uniformes fazem parte dessa fantasia?
Eu acabei de largar o uniforme — Harper lembrou-a. — Não fico sexy de uniforme. Roupas normais — é isso que me cai bem, Kennedy.
Claro. — Ele olhava para ela de forma especulativa. Ela enfrentou aquele olhar diretamente, um pouco irritada. — Que foi? No que está pensando?
Em você. Estou pensando numa coisa que talvez possa explicar para mim. Você parece muito focada no trabalho — e parece ser muito boa nele. Eu só te conheço há um dia e já te avaliei, mais ou menos, como uma policial de carreira. Quero dizer, isso não é nem um pouco casual para você. Nunca descreveria seu trabalho como "só um emprego". Estou errado?
Isso é relevante de alguma forma?
Bom, talvez não. Só estou perguntando porque seria bom saber. Quero dizer, já que estamos trabalhando juntos.
Não é só um emprego. E daí?
Harper ergueu as mãos.
Então, como você se meteu numa situação tão ridícula? E como se tivesse escolhido isso. Como se quisesse ser jogada de lado e odiada. Quero dizer, seguir seu próprio caminho em vez de apoiar o resto da sua unidade. Relatar uma história contra outros oficiais em um inquérito oficial. É uma escolha incomum, né?
Kennedy passou por diversas respostas em sua mente. A maioria envolvia mandar Harper enfiar aquela pergunta bem no fundo do rabo dele. Mas ela finalmente se decidiu por:
O resto da minha unidade tinha acabado de meter quatro balas num homem desarmado.
Mas não é essa a questão, né? Não mesmo. Eu estou presumindo que não é essa a questão.
Por que não seria? Você acha que o Marcus Dell não importa porque ele era negro e drogado?
Jesus! — Harper encolheu-se bruscamente, como se as palavras tivessem assentado sobre seus ombros e ele quisesse desalojá-las. O tom dele tornou-se mais sério. — Escute, eu me inscrevi para uma ARU assim que consegui minha transferência para a Divisão de Detetives. A lista de espera é de três anos, eu sabia disso. Mas não passei nem na primeira fase, porque os testes psicológicos são muito sensíveis — quero dizer, eles procuram reações perfeitas. Não pontuei alto o suficiente no quesito controle de impulsos. Então, acho que faz sentido pensar que qualquer um que tenha conseguido colocar as mãos numa arma tenha provado que é capaz de trabalhar com uma. Está entendendo o que quero dizer, Kennedy? Você conseguiu entrar num grupo de elite. Fez sua própria seleção. E a melhor da classe.
"Então, quando está numa situação como essa, acho que sua equipe é a coisa mais importante do mundo. Não importa se esse cara, o Dell, estava armado ou não. Ele parecia estar armado, e ele atacou uma policial. Você não critica os desgraçados azarados que têm que tomar uma decisão como essa, né? Eu diria que é algo básico. Então, o que eu não estou entendendo aqui?"
Harper ficou em silêncio, olhando para ela com expectativa. Eles poderiam ter ficado sentados lá até o fim dos tempos. Kennedy não sentia que lhe devia uma explicação, nem se importava demais com o que ele pensava dela. Mas se importava com a falsa lógica. Sabia aonde ela levava.
Você tem alguma idéia de quantas mortes a polícia já causou, Harper? — perguntou a ele. — No total. Desde 1829, quando dispensaram os Bow Street Runners[7] e criaram o serviço moderno?
Harper fez um som estalando o ar entre os dentes.
Não. Nem você.
Certo. Tem razão. Mas posso dizer quantas pessoas nós mandamos para a cova por ano, em média. Em tiroteios, quero dizer. Não em acidentes. Policiais atirando para matar.
Harper ruminou a idéia junto com um pedaço de pão frito.
Bom, eu vou chutar, mas não sei se isso é muito menos do que...
Uma.
As sobrancelhas de Harper mergulharam, depois subiram. Ele não disse nada.
E isso aí — disse Kennedy. — Em alguns anos chegam a ser duas ou, Deus proíba, três, mas em outros anos não temos nenhuma. Então, em média, a longo prazo, é só uma por ano. — Ela não disse: E no ano passado essa uma foi minha. Não parecia ser necessário dizer.
Harper meneou a cabeça, aceitando a informação e convidando Kennedy a chegar aonde queria.
Por todo o país — e eu estou contando Gales e a Escócia também —, o pior ano deste século foi 2005. Foi um ano ruim mesmo. Uma vergonha e um escândalo. A contagem de corpos foi três vezes maior do que no ano anterior. Isso quer dizer seis mortos. Seis pessoas baleadas num ano. Num país. Entendeu, Harper? Mas, como sabe, podemos ser mais específicos nessa avaliação. Todas as mortes causadas por contato de civis com oficiais da polícia — espancamentos em celas de delegacia, técnicas de detenção duvidosas, perseguições em alta velocidade que vão um pouco longe demais. Qual é a contagem agora? Algum palpite?
Não — Harper disse. — Nenhum palpite, Kennedy. Mas tenho certeza de que você vai me contar.
É menos de cem ao ano. Muito menos. Na maioria dos anos, digamos mais ou menos umas sessenta. Há cidades na América — e não são nem cidades particularmente grandes — que têm mais mortes sob a custódia da polícia do que em toda a nossa ilha. E vou te dizer por quê. E porque a maioria dos policiais não está nas ruas para fazer pontos ou lutar em guerras. Eles estão nas ruas para fazer um trabalho. Um trabalho que é duro. Duro no nível sangue, suor e lágrimas.
Tá bom. — O tom de Kennedy fora tão firme que um homem precisaria ser muito corajoso para discordar dela. Mas Harper não discordaria mesmo assim. — Essa era meio que a minha questão antes de ser a sua — ele disse. — Que o trabalho é realmente duro, e, se você estiver no ramo há um certo tempo, talvez mereça um pouco de amor e compreensão. Mas você tirou uma conclusão diferente, obviamente.
Não é só uma conclusão diferente, Harper. E uma conclusão oposta. Se você tem orgulho desses números, ou se simplesmente acha que eles significam alguma coisa, então você coloca os servidores policiais num padrão mais elevado, não num padrão mais baixo. Porque a pior coisa que alguém pode fazer é oferecer vista grossa a essas coisas. Entre nós três, meu time e eu, nós matamos um homem quando não havia nenhuma boa razão para isso. Se você acha que não deveríamos responder por isso, então sente aí e fique olhando os números das mortes aumentarem cada dia mais. Sente e fique olhando a contagem subir até o céu enquanto cowboys imbecis tipo o Gates e o Leakey voltam para a divisão e ganham tapinhas nas costas como se tivessem feito uma coisa maravilhosa.
Ela estava falando um pouco alto demais quando terminou, e algumas pessoas das outras mesas lhes lançavam olhares nervosos.
Tá bom — Harper disse. — Tá bom, Kennedy. Já entendi. Acho que era isso que eu queria ouvir. Acho que agora sei com quem estou lidando.
Não, não sabe — ela garantiu, austera. Pois ela havia deixado de fora o principal ponto da história. Não tivera a intenção clara de fazê-lo. Só descobrira, quando chegara àquele ponto, que era a parte mais difícil de traduzir em palavras.
Mas Harper ainda estava olhando para ela, esperando pelo resto. Então, ela o deu a ele, sem saber exatamente por quê.
Antes que houvesse uma Kennedy, H., sargento detetive número 4031, houvera um Kennedy, P., sargento detetive número 1117. Ele servira por 12 anos como policial comum e 28 como detetive. Entrara para uma ARU em 1993, embora, na época, o nome não fosse esse, mas Open Carry, ou os caras com licença para portar armas de fogo, porque esse era um termo americano que estava se popularizando na época e soava muito bem.
Em 27 de fevereiro de 1997, portando sua arma, o sargento detetive Peter Kennedy perseguira um homem armado, Johnny McElvoy, que estava fugindo da cena de um tiroteio entre gangues. A caçada levara Kennedy a um beco onde, no escuro e pensando — como descobriria depois, equivocadamente — que estava sendo atraído para uma emboscada, ele disparara três vezes contra uma mulher grávida a uma distância de seis metros.
Incrivelmente, a mulher sobrevivera. Mas a bala que havia passado por seu útero e destruído o que ele continha também passara pela base de sua espinha, deixando-a paraplégica.
Kennedy ficara devastado. Seus amigos, no entanto, o apoiaram e combinaram entre si apresentar uma versão dos eventos que poupava tanto o colega quanto a força de uma grande quantidade de sofrimento e vergonha. McElvoy, eles disseram, ficara em posição defensiva no beco e estava atirando contra eles. Kennedy reagira atirando, e a mulher, em pânico, havia corrido para o caminho de suas balas.
Kennedy chegou a esse ponto da narrativa e parou. Harper estava olhando para ela, claramente esperando mais, mas era aí que a coisa se tornava complicada e feia e difícil de explicar.
Eles o acobertaram — resumiu.
Entendi — Harper disse. — Mas foi um acidente, né? Só um acidente horrível.
Harper, foi um acidente que arruinou uma vida e abortou outra.
Daí...? — Ele tinha uma expressão vazia.
Kennedy ficou exasperada por ele não compreender.
Daí que tomar o partido de um colega não é a resposta certa a uma situação como essa. Se foi um erro razoável, dizer a verdade deveria ser bom o suficiente. Se foi uma mancada, então a verdade precisa ser exposta, e o policial deve perder o porte de arma porque ele não foi bom o suficiente para usá-la direito.
Harper recostou-se na cadeira, olhando para ela astutamente.
Tá bom — disse. — Qual é a parte da história que você está deixando de fora?
Não estou deixando nada de fora — Kennedy respondeu.
Está, sim. Eu concordo com você até aqui: o que seu pai fez foi terrível. Foi terrível mesmo. E consigo entender como isso deixou uma marca em você. Mas não impediu que você entrasse para a polícia, nem se tornasse detetive nem se candidatasse para uma ARU. Então, onde está a marca, Kennedy? Onde o calo aperta?
Kennedy não respondeu. Deixou uma nota de dez libras para cobrir o café da manhã e a gorjeta e os dois andaram de volta para a rua. Ela se manteve em silêncio enquanto caminhavam, e Harper fez o mesmo. Ele parecia ter aquela habilidade de interrogador de fazer o silêncio pressionar o interrogado até que ele sinta que precisa preencher o vazio.
Tá bom — disse Kennedy. E contou o que era, para ela, a pior coisa. A coisa que, mesmo depois de todo esse tempo, ela não conseguira descrever em voz alta. Como Peter Kennedy havia colocado a esposa e os três filhos diante de si e lhes ensinado cada detalhe daquela mentira, caso alguém — um amigo na escola, um jornalista, alguém que eles encontrassem no mercado — um dia perguntasse. Pois Deus proibiu que houvesse uma falha grande o suficiente para um estranho enfiar um pé de cabra nela e abrir a porta atrás da qual ele estava escondido. Heather e Steve e até a pequena Chrissie, assim como a mãe deles, tiveram que repetir para o sargento Peter Kennedy, como papagaios, a exata seqüência dos eventos, na ordem correta, de novo e de novo, e quando eles erravam o pai gritava com eles numa fúria que vinha diluída com o pânico em sua alma, e quando eles acertavam ele os abraçava com amor fervoroso.
"Isso acabou com a gente, com a família — Kennedy disse. Tendo contado tudo, agora ela podia pelo menos fazer esse resumo de forma desapaixonada. — Então tínhamos aquela mentira enorme entre nós por toda a porcaria do tempo. Não dava para falar sobre ela, então não falávamos sobre nada. O que é que foi salvo, Harper? Ele nunca foi nada além de sargento, pois, não importava o que o relatório dissesse, todo mundo sabia o que havia acontecido. Todo mundo enxergava a culpa dele. Ele começou a beber feito um maníaco, e acho que isso provocou o Alzheimer dele. O estresse — bom, talvez não tenha causado o câncer da minha mãe, mas pareceu fazer com que ela se entregasse à doença muito mais rápido. E nenhum de nós sente mais nada um pelo outro. Eu não vejo meu irmão há dez anos. Vejo a Chrissie só em ano bissexto. Nós... paramos de funcionar e nos separamos. Fim do jogo."
E seu pai morreu?
Kennedy pensou no conjunto trêmulo de maneirismos com quem dividia o apartamento.
Sim — respondeu. — Meu pai morreu.
Então. Daí você virou lésbica para se vingar dele?
Kennedy ficou rígida, parou e virou-se para encarar Harper, pronta para dar uma surra naquele egozinho zombeteiro dele. Mas Harper estava sorrindo e ergueu as mãos em gesto de rendição.
Só estou tentando descontrair — ele disse.
Idiota.
Não, sério. Sigmund Freud disse...
Eu provavelmente vou conseguir meu porte de arma de volta em algum momento, Harper. Mantenha isso em mente.
Ele concordou, ainda sorrindo, e deixou a piada parar por ali mesmo.
Summerhill ainda não havia aparecido. Rawl disse que ele não havia nem chegado à sala do comitê ainda.
Kennedy decidiu deixar para depois. Eles iriam até Luton e estariam de volta na hora do almoço. Provavelmente ainda voltariam antes de Summerhill dar as caras. Ela foi pegar o arquivo do caso para que eles pudessem acrescentar nele o depoimento de Opie se ela dissesse algo pertinente. Deixou um recado para Summerhill explicando o que os dois fariam. Enquanto isso, pediu a Harper para pesquisar o nome de Michael Brand no banco de dados da Interpol. Talvez tivessem alguma sorte, afinal.
O carro que haviam usado no dia anterior estava indisponível por alguma razão, então eles pediram outro veículo da força e o encontraram, depois de uma rápida procura, na garagem da Caxton Street: um Volvo S60 verde-escuro, em boas condições a não ser por um profundo arranhão em toda a extensão do lado do motorista, onde alguém havia passado uma chave. Ao abrir a porta, depararam com um miasma de fumaça velha que fez Harper xingar e Kennedy se encolher. Mas não valia a pena voltar para dentro e preencher mais uma papelada para pegar outro carro.
Haviam escapado da pior parte do horário de pico quando chegaram à M1, mas o tráfego ainda estava lento. Harper queria colocar o farolete do lado de fora e ligar a sirene. Já tendo perdido tanto tempo da manhã, Kennedy não viu razão para isso.
Diferente do Prince Regent's College, a universidade Park Square ainda parecia estar fervilhando de estudantes determinados e em movimento, apesar da época do ano, e o estacionamento estava lotado. Eles deram duas voltas na rua, logo à frente de uma van Bedford branca que estava fazendo exatamente a mesma coisa, antes que Harper entrasse numa vaga onde a palavra Reservada havia sido gravada em grandes letras amarelas. A van passou por eles, e Kennedy teve um rápido vislumbre do motorista: um homem no começo da meia-idade, surpreendentemente bonito de uma forma austera e aristocrática. O cabelo negro era muito crespo e curto, tão lustroso como se tivesse sido untado com óleo. O rosto, no entanto, parecia tão pálido quanto o de uma estátua grega, e o olhar que ela encontrou brevemente lhe deu um importuno solavanco de reconhecimento. Era como o do pai dela quando estava flutuando para as paragens íntimas de sua demência. Um olhar que nunca chegava realmente ao mundo exterior, ou então passava para muito além dele. Enervada, ela desviou os olhos.
Do portão principal, eles foram direcionados ao edifício de Ciências da Computação, que ficava no final de uma faixa ampla de gramado esfarrapado e descorado. Depois, para um laboratório no terceiro andar onde uma centena de estudantes trabalhavam silenciosamente numa grande quantidade de máquinas novas, reluzentes. Não, silenciosamente era a palavra errada. O recinto era preenchido por um sussurro de dedos digitando em teclados soft-touch, como o ruído de uma centena de passarinhos escondidos. Sarah Opie estava sentada diante de uma estação de trabalho que não parecia diferente de nenhuma das outras, exceto pelo fato de que ficava voltada para elas e era ligada por um cabo pendente a um imenso monitor de LCD acima da cabeça dela. O monitor estava desligado.
A dra. Opie parecia mais jovem do que Harper esperara: mais jovem e muito mais atraente, com cabelos loiro-avermelhados cortados na altura dos ombros e levemente alvoroçados. Ela devia estar em seus 20 e poucos anos, jovem o suficiente para que o doutorado fosse uma aquisição muito recente. Jovem o suficiente para que os alunos na sala, os quais ela estava presumivelmente ensinando ou supervisionando de alguma forma, parecessem mais seus colegas do que pupilos. Ela havia tentado distinguir-se deles adotando uma aparência formal, mas o tailleur azul-marinho em risca de giz que vestia parecia quase uma fantasia — como o traje de uma stripper bancando a secretária sexy.
Opie estava esperando por eles. Ela ficou de pé e seguiu sem dizer palavra para um escritório contíguo cuja fachada de vidro formava a parede dos fundos do laboratório principal. Esperou com a mão na maçaneta até que eles se juntassem a ela, então fechou a porta. Alguns dos alunos haviam erguido o olhar de seu trabalho quando os detetives chegaram e ainda os observava de soslaio agora. A dra. Opie virou-lhes as costas para encarar os dois policiais, os braços rigidamente cruzados.
O olhar dela fixou-se primeiro em Harper.
Eu já disse tudo o que sei — ela declarou em voz baixa.
Esta é a sargento detetive Kennedy — ele respondeu. — Ela é a encarregada do caso e gostaria de ouvir a história também. Além disso tenho algumas perguntas que surgiram depois da nossa conversa ontem. Espero que esteja tudo bem.
A expressão no rosto de Opie indicava que para ela provavelmente não estava nada bem, mas ela moveu a cabeça no que foi quase um gesto de concordância e, um momento depois, sentou-se em uma das duas cadeiras do escritório. Kennedy ficou com a outra, deixando Harper precariamente apoiado contra um dos pilares de alumínio que separavam os painéis de vidro do chão até o teto.
Então, temos três fatalidades — Kennedy disse assim que ligou o gravador e obteve a permissão de Opie para usá-lo. — Stuart Barlow. Catherine Hurt. Samir Devani. Todos estavam interessados em história — ou, pelo menos, em documentos antigos — e eram membros desse seu grupo, que gosta de discutir esses assuntos. Agora, a senhora diz que eles estavam trabalhando juntos num projeto particular?
A dra. Opie franziu o cenho, um tanto impaciente. Pareceu sentir que aquela era uma questão da qual ela já tratara.
Sim — foi tudo o que disse.
E o projeto era algo que eles discutiam no fórum on-line? — Kennedy prosseguiu.
Sim.
Que é um fórum dedicado a história. Mas a senhora não é historiadora, obviamente.
Não.
Dessa vez Kennedy esperou, fitando Opie em silenciosa expectativa. Harper sabia o que ela estava fazendo e teve o cuidado de não interromper. Perguntas fechadas eram boas porque eram focadas, mas, se eles não tivessem cuidado, e se a testemunha não fosse do tipo tagarela, poderiam cair num padrão de pergunta fechada/resposta monossilábica — e aí acabariam correndo atrás da própria cauda. O silêncio se prolongou por alguns segundos, mas no fim obteve o efeito desejado.
É um hobby para mim — Sarah Opie disse. — Estudei os clássicos na escola e sou muito boa em grego antigo. As pessoas acham que isso é meio esquisito para uma especialista em TI, mas eu amo linguagens. E sou boa nelas. Tive um namorado judeu que me ensinou um pouco de hebraico, e a partir daí voltei um pouco atrás para estudar aramaico. O que me fascina, no aramaico e no grego antigo, é como os conjuntos de caracteres são quase os mesmos das versões modernas dessas linguagens, mas às vezes houve uma mudança foné- tica, de forma que o mesmo sinal gráfico designa sons muito diferentes. E claro que, em alguns casos, nós nem sabemos como a linguagem viva realmente soava. A pronúncia "seca" versus a pronúncia nasal de mu mais pi — sabe, onde é que isso entra? Temos textos antigos e falantes modernos, e não é fácil fazer...
A senhora pode nos dizer o que sabe sobre o projeto Rum do Stuart Barlow? — Kennedy interrompeu. Harper quase sorriu. Tendo persuadido Opie a falar algo além de monossílabos, a sargento agora precisava freá-la novamente. Era 8 ou 80.
O professor Barlow entrou no fórum para pedir colaboradores — Opie respondeu. — Foi assim que tudo começou. Ele disse que queria examinar o Rum outra vez, mas sob um novo ângulo, e perguntou se alguém estava a fim de trabalhar nisso também. Era este o título da postagem: "Alguém está a fim de dar uma nova olhada no Rum?".
E quando foi isso?
Opie balançou a cabeça, mas respondeu mesmo assim:
Dois anos atrás. Talvez três. Eu teria que voltar e olhar as postagens no fórum. Ainda estão todas disponíveis no site.
Então, quem respondeu? — Harper perguntou.
A voz de Opie tremeu um pouco enquanto ela desfiava a lista de nomes:
A Cath. Catherine Hurt. E o Sam Devani. O Stuart foi atrás do Emil Gassan porque ele é muito bom no aramaico do Novo Testamento, mas o Gassan não quis saber do assunto.
Por quê?
Ele meio que achava que o Stuart não tinha as credenciais acadêmicas para isso. Bom, o time todo, na verdade. Ele não queria se associar a eles.
Então, foram só os três — Kennedy disse. — O Barlow, a Hurt e o Devani.
Sim. Só esses três.
Ninguém mais que a senhora tenha esquecido?
Não. — Opie deixou sua irritação transparecer. — Ninguém.
E quanto a Michael Brand?
Michael Brand... — Ela repetiu o nome sem nenhuma ênfase. — Não. Ele nunca fez parte do projeto.
Mas a senhora o conhece?
Não mesmo. Acho que vi o nome dele no fórum uma ou duas vezes. Ele nunca fez parte de nenhuma discussão de que eu tenha participado. E eu só apareço no fórum, não nos simpósios. Não sou historiadora, obviamente — então, não poderia conseguir fundos para ir a uma conferência de história e não poderia bancar minha ida com meu próprio salário.
Isso é incomum, não é? — Kennedy prosseguiu. — Que vocês fizessem parte do mesmo grupo de mensagens e não conhecessem um ao outro?
Opie encolheu os ombros.
Na verdade, não. Quantos membros registrados o fórum dos Ravellers tem? Da última vez que verifiquei a contagem, já passavam de 200. Há um contador de membros na página inicial, de forma que você pode ver quando alguém novo chega — e uma postagem na qual essas pessoas se apresentam. Nem todos postam regularmente. Eu mesma não posto. Não faço isso a não ser quando tenho um projeto de verdade em andamento. Eu diria que conheço bem talvez 20 ou 30 dentre os membros, e posso lhes dizer o nome de mais 20. O nome que usam na Internet, quero dizer.
A senhora disse "quando tenho um projeto" — Harper disse, mas Kennedy claramente não estava interessada em fazer com que a dra. Opie falasse sobre si. Ela queria saber a respeito do grupo de Stuart Barlow e o que eles estavam fazendo. Ela passou por cima da pergunta de Harper, o que o irritou um pouco — mas ela era a oficial superior e tinha direito de liderar um interrogatório.
O professor Barlow já havia falado com a senhora sobre o que exatamente ele estava tentando fazer? — ela perguntou. — O que ele queria dizer com essa nova abordagem?
Ora, sim — Opie disse, parecendo intrigada. — É claro que falou.
Por que "é claro"?
O Stuart e eu éramos muito bons amigos. Eu disse que nunca ia a nenhuma das conferências e isso é verdade — mas, quando as conferências eram em Londres, às vezes eu pegava um trem até lá e encontrava com uma ou duas das pessoas que conhecia depois que as sessões acabavam na sexta e no sábado. Nós saíamos para beber alguma coisa, às vezes para jantar. Conheci a Cath assim, e o Stuart também. Ele era muito divertido — como a caricatura de um professor meio maluco de um programa de TV. Mas era uma das pessoas mais inteligentes que já conheci. Acho que é por isso que ele nunca publicou nada. Achava difícil se decidir por uma coisa só. Ele tinha uma idéia brilhante, mas aí, enquanto estava trabalhando nela, tinha outra idéia brilhante e acabava deixando a outra sem conclusão. Era assim que ele falava, também. — Ela sorriu, provavelmente se lembrando de alguma conversa específica, mas então ficou séria novamente, quase de uma vez. — Então, sabem, não havia jeito de ele, no mínimo, não mencionar algo tão grande para mim. Ele provavelmente me falou a respeito do projeto antes de falar com qualquer outra pessoa.
Então a senhora pode resumir o projeto para nós — Kennedy disse, colocando Opie de volta nos eixos novamente. — Acho que isso vai ser útil neste estágio do caso.
Opie olhou — talvez com algum anseio — pela janela em direção à classe. Alguns dos alunos ainda estavam lançando olhares ocasionais na direção do escritório contíguo, mas a maior parte trabalhava em silêncio. Nenhum tumulto em andamento. Talvez todos estivessem vendo pornografia na Internet ou jogando paciência, mas faziam isso discretamente.
Tá bom — Opie disse, parecendo resignada. — O Stuart disse que queria usar uma abordagem de força bruta.
O que significa?
Bom, não tenho certeza se ele sabia o que significava quando disse isso, mas, no fim, essa estratégia se resumia a processar os números. Digitalizar o Rum e então esmiuçá-lo usando um programa de varredura com tecnologia de ponta que praticamente precisava ser criado do zero. Era por isso que o Stuart queria ter suporte de TI. Entendam, ele achava que o melhor jeito de encontrar o documento original do Rum era...
Espere aí — Harper disse com ímpeto. — Diga isso de novo. Ele queria?
Opie piscou, espantada.
Ele queria suporte de TI. Porque o que tinha em mente envolveria centenas de horas de...
Isso significa a senhora? — Harper quis saber, interrompendo-a novamente. — Suporte de TI significa a senhora?
Claro que significa eu. Eu criei o software e o coloquei para funcionar. De que outra forma você acha que eu sei de tudo isso?
Mas a senhora disse que não estava na equipe! — Kennedy exclamou, ficando de pé.
A dra. Opie ainda parecia confusa, mas agora parecia também assustada e defensiva.
Eu não estava — declarou, involuntariamente empurrando sua cadeira um pouco para longe de Kennedy, que estava de pé diante dela, evidentemente perto demais. — Eu só fazia buscas e filtragens para eles. Suporte. O Stuart, a Cath e o Sam eram a equipe. Eram eles que iam escrever a monografia, se um dia fosse publicada. Quero dizer, sabem, se encontrassem o que esperavam encontrar. O Stuart só me pediu para dar o suporte técnico, e eu disse sim. Isso não faz de mim...
O que isso faz da senhora — Kennedy disparou, cortando Opie — é um alvo. Se alguém está matando os membros desse grupo, por que fariam alguma distinção entre a senhora e os outros três? A senhora diz que estava apenas ajudando — mas falou com eles, trabalhou com eles. Para quem olha de fora, não parece que a senhora estava na equipe?
Opie balançou a cabeça, firmemente a princípio, mas a convicção se desvaneceu em três rápidos estágios:
Balance para a esquerda — vocês estão num estágio avançado de loucura.
Balance para a direita — mas já tem um monte de gente morta.
Balance para a esquerda — e vocês estão dizendo... ah, meu Deus.
Ela soltou uma risada incrédula e ligeiramente dolorosa. Harper lamentou por ela. Incredulidade parecia uma resposta razoável. Se você vive na atmosfera rarefeita de teorias arcanas e minúcias acadêmicas, provavelmente acaba sentindo que há pelo menos uma ou duas muralhas de puro marfim entre você e a realidade suja do mundo. Mas agora o assassino acadêmico estava na área e as muralhas estavam ruindo. Por um instante apenas, ele se sentiu culpado pela parte de si mesmo que gostava da situação.
Não estou — Opie disse novamente. — Não estou na equipe. — Mas era um protesto fraco agora. Um apelo a um tribunal inexistente de justiça natural.
Suporte técnico — Kennedy disse, lembrando-lhe as próprias palavras. — O professor Barlow queria que a senhora o ajudasse. Quem mais sabia disso? A senhora falou sobre isso no fórum?
Claro que falei! —A própria Opie ficou de pé agora, confrontando Kennedy por um momento ou dois com os punhos apertando-se e abrindo-se numa emoção desfocada, mas forte. — É claro que falei. Não era segredo. Tudo o que fiz foi usar os programas. Eu nem mesmo li as impressões. Não significavam nada para mim.
Kennedy abriu a boca, mas mudou de idéia e fechou-a novamente. Ela se virou para Harper, questionando-o com o olhar. Ele assentiu. Os detalhes não importavam. O que ela estava perguntando a ele era se a situação precisava mudar de jurisdição, e a resposta só poderia ser sim. Poderiam estar enganados a respeito de todo o resto: os acidentes que haviam matado Hurt e Devani poderiam ter sido apenas acidentes, e as invasões à casa e ao escritório de Barlow no Prince Regent's, incríveis coincidências. O desaparecido Michael Brand — Harper subitamente se lembrou de que ainda não mencionara nada disso a Kennedy — poderia ser um completo inocente que simplesmente era muito distraído com seu endereço. Não fazia diferença. Havia somente uma prioridade aqui, e apenas um jeito de lidar com ela. Tinham razão para acreditar que uma testemunha estava correndo perigo físico imediato. Precisavam levá-la.
Devo trazer o carro para a entrada? — Harper perguntou a Kennedy.
Sim — ela respondeu. — Obrigada, Chris. Faça isso. — Então, ela ergueu a mão em sinal de "pare" e virou-se para Opie. — Há uma porta dos fundos?
O quê? — Opie perguntou. Não pareceu entender para onde a situação caminhava.
Neste prédio. Há outra saída?
Só a de emergência.
Para Harper, Kennedy disse:
Vamos por esse caminho, e vamos juntos. Dra. Opie, levaremos a senhora sob custódia preventiva para sua proteção. Por favor, pegue tudo o que precisa levar agora. Obviamente vamos mandar alguém até sua casa mais tarde para pegar qualquer outra coisa que a senhora queira — mas pode levar algum tempo para a senhora poder voltar lá pessoalmente.
Estou no meio de uma aula — Opie declarou, como se ainda fosse relevante.
Dispense a classe — Kennedy disse. — Ou mande os alunos continuarem trabalhando sem supervisão. A senhora confia que eles fariam isso?
Sim, mas...
Vamos explicar aos seus empregadores — às autoridades da universidade — que isso estava fora do seu controle. Que foi decisão nossa. E tenho certeza de que vão encontrar alguém para substituir a senhora no trabalho enquanto estiver fora.
Opie ainda parecia infeliz e continuou discutindo até o momento em que Kennedy pegou a maleta dela e a colocou nas mãos dela. De algum modo, isso tanto a estimulou quanto a silenciou. Ela pegou uns poucos itens de sua mesa — um flashdrive, uma bolsa e algumas grossas canetas para quadro branco — e os jogou na maleta. Então, lançou a Kennedy um olhar repreensivo e desnorteado, que talvez ela tivesse a intenção de lançar contra Deus ou Nêmesis, e deu um passo em direção à porta. Quase imediatamente, ela ganiu como se tivesse sido aguilhoada e voltou rapidamente à mesa. Revirou alguns papéis, remexeu o conteúdo de uma bandeja de entrada vermelha e plástica e, finalmente, encontrou uma única folha de papel amarelo dobrada.
A senha — ela disse a Harper e Kennedy. — Para meus arquivos. Troco toda semana.
A senhora anota sua senha num papel? — Harper perguntou, levemente escandalizado.
É claro que não — Opie disparou, exasperada pela reprimenda sugerida. — Mas mantenho uma referência dela caso eu me esqueça.
Ela saiu para a sala de trabalho principal do laboratório. Harper e Kennedy a seguiram.
Todos os estudantes ergueram os olhos de seu trabalho, sabendo que algo fora do comum estava acontecendo e curiosos para descobrir o que viria a seguir.
Vamos terminar a aula um pouco mais cedo — a dra. Opie disse. — Quem quiser continuar trabalhando pode ficar aqui até as 12h30. E a data para entrega do serviço de banco de dados continua a mesma, então, por favor, usem o tempo com sensatez. Vejo vocês na semana que vem.
Todos os estudantes voltaram-se para seus monitores, mas ficou claro, pelos movimentos rápidos com que juntavam suas coisas, que a maioria estava se preparando para sair. Kennedy impeliu Opie em direção à porta, ansiosa para chegar a ela antes que o êxodo de alunos começasse. Harper veio atrás, o espaço estreito entre as mesas obrigava-os a andar em fila única. Tiveram que passar por cima de mochilas e livros deixados no corredor, então o progresso foi mais lento do que poderia ter sido.
Abruptamente, Kennedy parou. Ela se voltou para olhar para Harper, ou talvez para além dele, a expressão fechando-se, enigmática.
— Espere — ela disse. —Aqueles homens parecem...
Houve um som como o de uma cadeira arrastando os pés ao ser empurrada para trás. Algo se moveu junto ao cotovelo de Harper. Ele se virou e se viu encarando o rosto de um homem talvez dez anos mais velho do que ele, de cabelos escuros e pele pálida, vestido numa camisa branca folgada e terno bege, o rústico tecido fazendo com que parecessem peças tecidas ã mão. O homem estava de pé, havia acabado de se levantar. No rosto tinha uma expressão de calma estranha, desinteressada, mas as pupilas de seus olhos eram enormes. Drogas, Harper pensou: ele devia estar chapado.
Harper colocou uma mão no ombro do homem para fazê-lo sentar-se novamente, ao que o homem pegou a mão de Harper pelo pulso, de maneira firme como o aperto inflexível de uma algema, e torceu-o súbita, inesperadamente. Harper arfou e caiu de joelhos enquanto a dor percorria todo o seu braço.
Ele ouviu Kennedy gritar, mas não reconheceu as palavras. Avançou desajeitadamente, usando a mão esquerda, e fez contato, mas o soco pegou o homem mais no ombro do que na mandíbula, onde ele mirara. O aperto no pulso de Harper continuou tão forte quanto antes de o homem lhe devolver o soco, pegando o detetive em cheio no estômago e arrancando seu fôlego na forma de um grunhido de dor.
Achou difícil recuperar o fôlego, substituir o ar perdido. O homem soltou seu braço, e, para sua própria surpresa, Harper caiu pra trás, esparramado, derrubando um computador da mesa atrás de si. Ouviu gritos. Conseguia entender por quê. O homem que acabara de bater nele estava chorando, e as lágrimas eram vermelho-escuras.
Mais gritos. Harper tentou se endireitar, mas suas pernas estavam vacilantes e não queriam suportar o peso do corpo. O homem dos olhos que sangravam, fios vermelhos corriam pelas bochechas, olhou para ele por um momento a mais — um olhar de completo desdém — antes de se virar e partir.
Por sobre os gritos, Harper certamente não poderia ter ouvido o sangue pingando para o chão entre seus pés. Mas vislumbrou uma das gotas enquanto caía. Tocou o estômago e sentiu algo molhado e pegajoso ali, insinuante e terrível. Olhou para os próprios dedos vermelhos, e uma risada incrédula forçou caminho para fora de sua garganta.
O universo se reduzia àquela vermelhidão. Era quente como o inferno e tinha gosto de ferro.
O primeiro e único aviso que Kennedy recebeu foi aquela sensação dupla de déjà-vu.
Ela passou pelo homem, sentindo apenas uma vaga pontada de reconhecimento. Quando passou por ele pela segunda vez, a memória se revelou como um clique. Era o homem que ela vira lá embaixo, no estacionamento, dirigindo a van Bedford branca. Mas agora havia dois dele.
Ela parou, forçando Harper a fazer o mesmo, e virou-se. Quase instantaneamente, percebeu que sua impressão inicial estivera errada. Havia diferenças físicas entre os dois homens, um era um pouco mais alto e mais corpulento que o outro. Uma disparidade entre as idades deles — de dez anos, pelo menos — e no rosto deles também, ou pelo menos nas expressões. O que parecia uma calma ligeiramente distanciada no rosto do homem mais magro se metamorfoseara nas feições mais largas do outro como um pasmo assustadoramente robó- tico. Eles eram muito parecidos na compleição e na cor do cabelo — e na estranheza de sua conduta, naquele olhar de olhos arregalados que abarcava o mundo todo ao mesmo tempo e que mal reconhecia sua existência.
Harper a olhava com expectativa, e Kenndey abriu a boca para dizer algo, mas hesitou, tentando estruturar em sua mente um aviso contra uma ameaça que ela nem tinha certeza de estar mesmo ali.
O segundo homem, o que estava mais próximo deles, empurrou a cadeira para trás e se levantou, o som das pernas da cadeira contra o chão fez Harper virar a cabeça para olhá-lo. Depois disso, as coisas aconteceram tão rapidamente que pareceram imagens em uma exibição de slides estroboscópica, cada uma imprimindo-se na mente de Kennedy como uma cena parada.
Harper estava tocando no ombro do homem.
O braço do homem estava erguido, tocando no estômago de Harper.
Um metal reluziu, depois não brilhou mais, pois estava embainhado: embainhado na carne.
Harper caiu contra uma mesa.
Em algum ponto dessa série em forma de folioscópio, Kennedy gritou para toda a sala:
— Para baixo! Todo mundo se abaixe! — E aproximou-se para ajudar Harper enquanto ele desabava no chão. Ela mirou o mais simples dos golpes de caratê no homem, o único que ela já praticara: palma da mão para cima, nós do indicador e do dedo do meio para a frente, socando a partir da altura do quadril enquanto avançava com a perna do mesmo lado do braço.
Ela não chegou nem perto de tocar o homem. Ele se inclinou para o lado, escapando ao soco e dando um passo em direção a ela, movendo-se com velocidade atérrorizante, quase impossível, ao mesmo tempo não parecendo estar com nenhuma pressa. Por um instante, Kennedy olhou para o rosto dele e percebeu que ele estava chorando: lágrimas vermelhas, como sangue, correndo rosto abaixo. Por alguma razão, a visão fez seu estômago se revirar, e essa repulsa instintiva a salvou. Ela retrocedeu como se por um medo primitivo e inconsciente de contaminação. A faca que o homem usara em Harper, com a lâmina curta e grossa obscenamente avermelhada e espalhando gotas de sangue feito um spray, cortou o ar em frente ao peito dela e então, no final do arco que traçou, rasgou seu ombro. A lâmina era tão afiada que a camisa e a jaqueta dela, assim como a pele e os tendões abaixo, nem ao menos pareceram desacelerá-la.
Gritos se ergueram ao redor dela, ultrapassando toda a razão, como se um astro do rock tivesse entrado numa sala cheia de fãs adolescentes. O homem ficou sem equilíbrio momentaneamente, e Kennedy chutou na direção a que ele já estava indo, acertando-o na parte de baixo da perna. Ele cambaleou, seu centro de gravidade momentaneamente fora da base, e ela o golpeou com o punho fechado, acertando o lado da mandíbula dele enquanto ele caía.
O gêmeo — gêmeo que parecia tão imensamente diferente dele, e mesmo assim semelhante a ele de forma tão sinistra — estava de pé atrás dele, no mesmo ângulo em relação a Kennedy. O efeito visual foi como arrancar uma camada de pele de uma cebola e encontrar as mesmas estruturas e texturas repetidas na camada abaixo. Mas o segundo homem tinha o braço estendido horizontalmente, longe do ombro, apontando para ela. Não com um dedo acusador, mas com uma arma de cano longo. Os olhos dele, mirando-a firmemente por cima daquele cano de aço fosco, eram de um azul pálido raiado de vermelho.
Kennedy nunca antes ficara paralisada perante a visão de uma arma. Armas eram coisas familiares para ela: ferramentas perigosas, mas úteis, e responsivas à vontade dela. Nas mãos de outras pessoas, deveriam ser temidas, mas ela sabia como ler a linguagem corporal de um atirador e como antecipar-se a ele. Não poderia sair do caminho de uma bala uma vez que fosse disparada, mas havia uma janela de oportunidade razoável antes disso. Meio segundo entre aquele puxão no gatilho e a chegada da carga: no começo desse meio segundo, o atirador se comprometia. O ínterim era território negociável.
Dessa vez, era diferente. Ao ver a arma, Kennedy sentiu uma súbita ausência de vontade, um escoamento mental. Ficou ali parada, não porque estivesse congelada no lugar, mas porque não conseguia se mover.
— Da b'koshta — o homem disse.
Ele atirou três vezes, e tão rapidamente que o som dos três disparos pareceram se sobrepor. Kennedy encolheu-se e enrijeceu, aguardando a chegada da morte, esperando que as balas passassem por ela como o vento pelo milharal.
Sarah Opie dançou uma jiga breve e brutal enquanto as balas seguiam para o alvo, e não começou a cair até que a terceira a atingisse.
O som veio mais tarde, perambulando para dentro da cena como um trovão enlouquecido depois que o relâmpago já havia passado. Tarde demais, realmente tarde demais, Kennedy lançou-se para a frente. A arma virou num movimento ágil como uma chicotada e apontou para a cabeça dela, mas dessa vez o soco da detetive foi mais rápido e mais bem dirigido, e ela empurrou o instrumento mortal para o lado. Entrando na guarda do homem, ela tentou travar a perna atrás da dele e derrubá-lo, mas o espaço restrito trabalhou contra ela. Kennedy colidiu contra a quina de uma mesa e cambaleou. Algo a acertou na têmpora esquerda e a derrubou. Ela atingiu o chão com dureza, jatos aleatórios de luz e escuridão se alternaram diante dos olhos dela.
Ela tentou se mover, alavancar-se do chão. Enquanto sua vista voltava aos pedaços, os ângulos e as cores repulsivamente errados, ela deu consigo olhando nos olhos da dra. Opie. Os lábios da mulher, tão brancos quanto o rosto, moveram-se sem emitir som, e os dedos dela tremeram enquanto rabiscavam no chão de ladrilhos.
Houve uma calmaria nos gritos, e Kennedy ouviu, com uma claridade onírica, um pequeno fragmento do que Opie estava dizendo:
Um pombo... o pombal...
Uma luz encoberta alertou Kennedy e fez com que olhasse de uma vez para cima. O homem com a arma pairava sobre ela, então jogou o pé para trás, tomando impulso, e chutou-a com força no peito. A dor se expandiu de um ponto no meio de sua caixa torácica como uma explosão de fogos de artifício sinestésicos. O chute a ergueu do chão e a jogou de volta. Não lhe restava fôlego, sua consciência oscilante reconstruía-se em torno da dor assombrosa como se ao redor de um objeto sólido e volumoso.
Com movimentos vagarosos, mas precisos, o atirador — o assassino, porque era isso o que ele era — ajudou o colega caído a ficar de pé. Os dois passaram por cima de Kennedy, saindo de seu campo de visão, e ela ouviu os passos deles desaparecerem. Ou talvez apenas tenha sentido a vibração através da bochecha enquanto permanecia deitada de lado no chão. Os gritos haviam voltado com todo vigor e volume, então era difícil para qualquer outro som içar-se pelo ar saturado. E talvez, se um dia conseguisse tomar fôlego novamente em meio à massa de agonia que tomava seu peito, ela acrescentasse sua própria voz àquele coro.
Ela rolou até ficar de barriga para baixo e — laboriosamente, lutando contra a náusea e a sensação de estar flutuando, entorpecida, sendo invadida pela inconsciência — conseguiu levantar-se. Estava sugando oxigênio em pequenos goles, e isso era tão doloroso quanto engolir arame farpado semi-mastigado.
Alguns poucos estudantes não haviam sido rápidos o suficiente para passar pela porta e, por isso, haviam simplesmente se encolhido nos cantos da sala, aterrorizados, enquanto a hedionda pantomima se desenrolara.
Chamem a polícia — Kennedy disse a eles. As palavras saíram erradas, ou talvez fosse apenas ela que as ouvira mal. Sua língua parecia grande demais para caber na boca e o corpo oscilava como se não conseguisse encontrar o sentido vertical.
Ela tentou sair correndo mesmo assim. Os assassinos deveriam estar indo para a van. Ainda havia tempo para detê-los, ou pelo menos para anotar a maldita placa do carro.
Ela quase caiu da escada, movendo-se rápido demais para se manter equilibrada. Seu equilíbrio se fora, em todo caso. O tempo movia-se aos solavancos, momentos surgiam como beliscões nas cordas tensas de um instrumento musical ao ritmo irregular do pulso dela. Sangue ensopava a manga de sua camisa, tão escuro que era mais negro do que vermelho. No saguão, alunos retrocediam, alarmados diante daquela mulher louca, bêbada, de rosto inchado e sangrando. Kennedy chegou às portas duplas, lutou para abri-las e cambaleou em direção à luz do dia.
Viu a van imediatamente. Era um pouco mais alta do que os carros compactos que preenchiam cada vaga do estacionamento. Viu um dos homens subir para o assento do motorista. O outro havia aberto a porta do lado do passageiro e estava prestes a entrar, mas havia se virado para olhar um guarda da universidade que, Kennedy imaginou, lhe oferecera uma objeção. A mão do homem se moveu em direção ao casaco. O guarda era um homem acima do peso que tinha uma expressão zangada e abstraída, e estava prestes a morrer.
Polícia! — Kennedy gritou. Ou algo cujas vogais assemelhavam-se a essa palavra. — Vocês estão presos!
O assassino virou-se para olhar na direção da detetive enquanto ela caminhava para o asfalto, entre os carros estacionados, entrando em uma faixa estreita que não continha nada além dela e dele. Ele olhou para Kennedy, momentaneamente inativo, como se solicitasse um contexto no qual compreendê-la, o guarda temporariamente esquecido, o que já era alguma coisa. Kennedy caminhou resoluta na direção dele, e o homem completou o movimento que já havia iniciado, enfiando a mão dentro do casaco para pegar o que estava ali, pronto para ser pego. Mas não era a arma de fogo, como ela estivera esperando. Era a faca. Um alívio incongruente a preencheu. A faca poderia matá-la, mas não a anularia como uma cruz anula um vampiro. Nem parecia tão especial, embora, a essa hora, ela soubesse o que a lâmina podia fazer. Tinha uma forma bizarra e assimétrica, saliente para um lado. Ela continuou andando enquanto o segurança retrocedia, murmurando:
Ah, merda.
O braço do assassino se desdobrou, o movimento abstrato e perfeito, a faca alinhando-se precisamente com o olhar dela, de forma que a lâmina esguia se tornou invisível.
Vocês estão presos — ela disse novamente, agora com um pouco mais de convicção, ainda que falar estivesse ficando mais difícil. — E você vai abaixar essa arma ou juro por Deus que vou tomá-la de você e te descascar feito uma fruta.
— Da b'koshta — o homem disse. Exatamente a mesma seqüência de sons que fizera dentro do laboratório. Ele estendeu o braço e Kennedy ficou tensa como um goleiro encarando um chute de pênalti, já decidindo para que lado saltar. Se não a acertasse, ela teria uma janela de cerca de um segundo e pretendia usá-la.
Houve um estouro oco e nítido que pareceu vir de todas as direções de uma vez, e a faca explodiu na mão do assassino como um fogo de artifício feito de aço. Mas ele não gritou: não emitiu um único som, na verdade. Pressionou a mão no peito, os dedos estranhamente dobrados para dentro, e virou-se para olhar à esquerda de Kennedy. O segundo tiro atingiu-o no peito, o que foi visível por causa do casaco de cor clara que, subitamente, desenvolveu um círculo vermelho brilhante, feito um botão de papoula.
O atirador surgiu diante das vistas, saindo da direção dos portões, correndo e atirando ao mesmo tempo. Uma bala estilhaçou uma das janelas traseiras da van e outra não atingiu nada que Kennedy pudesse ver.
O assassino moveu-se, mergulhando — ou talvez estivesse caindo — em direção ao veículo, visando à porta já aberta do lado do passageiro. O motor roncou, chiou, roncou novamente.
O recém-chegado — um homem grande, maior e mais sólido até mesmo do que o mais corpulento dos dois assassinos — estava a uma curta distância da van quando ela entrou em marcha a ré de uma vez, forçando-o a pular de lado. O veículo disparou pelo corredor estreito, chocou-se contra a traseira de outro carro estacionado, então projetou-se num arco largo e bêbado em direção ao portão.
O recém-chegado mirou cuidadosamente e disparou mais duas balas. A primeira não chegou a lugar nenhum. A segunda arrebentou um lado do para-choque traseiro da Bedford, mas não acertou o pneu. A van colidiu contra o portão fechado — o atendente do local atirou-se para longe e se encolheu enquanto fragmentos cheios de mossas voavam girando pelo ar — e foi-se. O atirador baixou a arma, que parecia um tipo exótico de revólver, e virou-se para Kennedy.
Com cabelos cor de areia e compleição rude, passando muito de 1,80 metro de altura, com ombros grandes e mãos do tamanho de pernis, aquele era um homem feito para brigas de bar e trabalho duro. Era difícil imaginá-lo num tiroteio milimetricamente preciso. Havia algo no rosto dele, contudo: um estoicismo sombrio que parecia voltar-se tanto para dentro como para fora, como se o corpo físico do homem fosse um tampão na muralha de uma represa interior.
Mas os olhos azuis pálidos dele não estavam olhando nos de Kennedy. Eles focavam a ferida dela, que ele indicou com um brusco menear de cabeça.
Vá cuidar disso aí rápido — disse. A voz, suave e áspera, não combinava com a dureza afiada do rosto. — Sério. Agora mesmo.
E então ele saiu correndo atrás da van. O segurança do portão reuniu sua coragem e colocou-se no caminho dele, mas saiu novamente, de uma vez, ao ver que o homem não desacelerara. No instante seguinte o atirador se fora também. Como se toda aquela cena tivesse sido uma alucinação. Como se ela houvesse estado adormecida e sonhando isso em algum lugar, talvez sentada do lado de fora do escritório de Summerhill com Harper ao lado dela, assobiando sem seguir uma melodia.
Harper.
Ela cambaleou de volta para dentro e escada acima. A escadaria e o corredor estavam repletos de pessoas desnorteadas, a maior parte das quais saiu rapidamente do caminho dela assim que viu o sangue. Kennedy ainda tinha seu distintivo na mão e exibia-o onde quer que fosse necessário para evitar ter que se explicar. Seus ouvidos estavam cheios de um zunido monótono e enjoativo, como o som que uma pessoa ouve ao trazer um microfone para perto demais de seu alto-falante.
A multidão era mais densa logo do lado de fora do laboratório de TE A maior parte eram estudantes que haviam fugido da violência e agora rastejavam de volta para espiar o resultado. Mas ela viu alguns poucos homens de terno que haviam se juntado à multidão e estavam, em vão, tentando restaurar a calma, solicitando isso em alto volume. Kennedy agarrou um deles e gritou na cara dele:
Ligue para 999. Chame uma ambulância. Chame a polícia e uma ambulância.
O homem, que era careca e corado, fitou estupidamente o rosto ferido de Kennedy, o distintivo dela, o rosto dela novamente, até que ela o dispensou com um empurrão. A voz estava ainda mais engrolada, a mandíbula rangendo agonizantemente a cada palavra, mas apenas um idiota congênito teria falhado em entender o que ela dissera.
Harper jazia onde havia caído e parecia estar muito mal. Restava-lhe pouca consciência, e ele agarrava o próprio estômago, de onde o sangue brotava e fluía em quantidades inaceitáveis.
Kennedy ajoelhou-se ao lado dele, depois desabou numa posição sentada, descansando as costas contra uma mesa caída, enquanto suas últimas forças se esvaíam. Harper virou a cabeça para olhar para ela, emudecido.
— Agüente firme aí, Harper — ela disse. Era apenas um fiapo de som.
Diante de sua própria incapacidade de falar, Kennedy fez algo que a espantou mesmo no meio de tantas outras coisas espantosas pelas quais acabara de passar. Ela ergueu a cabeça de Harper, desajeitada, mas cuidadosamente, e aninhou-a no colo, acariciando o cabelo dele e a testa branca, lavada de suor, até os olhos dele finalmente se fecharem.
Disseram-lhe, mais tarde, que aquele não deveria ter sido um ferimento letal. Profundo como era, mesmo assim não havia atingido os principais órgãos e — por escassos centímetros — a artéria celíaca. Harper poderia ter enfrentado, mais tarde, o risco de peritonite, como em qualquer ferida na cavidade corporal. Mas com cirurgia abdominal imediata e antibióticos de amplo espectro ele poderia ter se recuperado completamente.
Ele morreu nos braços dela, seu sangue fluindo de um manancial sem fim.
O POMBAL
Seis dias passaram como neblina.
O ferimento no ombro de Kennedy fora fechado com uma porção de pontos, mas vazara primeiro sangue e depois puro pus pelos primeiros três dias. Havia um anti-coagulante na lâmina da faca, os médicos disseram a ela. Era a única explicação. Por isso Harper morrera tão rapidamente de uma ferida da qual deveria ter sobrevivido. Não haviam identificado a substância até o momento, portanto era simplesmente impossível neutralizá-la. Tudo o que podiam fazer era esperar até que tal substância abandonasse o organismo de Kennedy, mantendo-a com transfusão de plasma gota a gota e trocando as bandagens no ferimento de hora em hora.
A parte inferior do rosto dela havia intumescido e ficado inchada a ponto de, até o quarto dia, ter sido impossível para ela falar. Mas o aspecto grotesco, pesado de um lado só, que isso lhe dava era mais difícil de tolerar do que a dor, atenuada que era pela morfina. A maior parte do dano havia sido causada pelo último chute, que havia rachado duas de suas costelas. Os médicos haviam enfaixado seu tronco, envolvendo-o todo desde o esterno, na frente, até a espinha, atrás. Era como estar em um espartilho que ela não podia nem tirar nem afrouxar.
Deitada na cama do hospital, tentando raciocinar em meio à nuvem de analgésico, ela meditou sobre as lacunas em sua memória — não da luta, mas do que viera depois. Lembrava-se de sentar com as costas contra a mesa caída, a cabeça de Harper em seu colo. A mão dele na ferida e a mão dela na mão dele, pressionando-a, tentando estancar o sangramento. Talvez tivessem permanecido assim por horas ou apenas por alguns minutos. Todos os alunos haviam fugido, então a única companhia que lhes restava era o cadáver de Sarah Opie, cujo olhar fixo não era tão acusativo quanto incrédulo.
Ela se lembrava de ter falado com Harper e dele respondendo. Mas, quando pensou no que ele havia dito, percebeu que não era nem mesmo a voz de seu parceiro, mas a do pai dela. Por que você quer ser policial? Não te demos o bastante?
— O que seria o bastante, pai? — ela murmurou, a voz tornada ininteligível pela mandíbula inchada.
Isso, continue me respondendo, Heather. Me faça ir até aí.
Então, houvera mais uma lacuna.
E então alguém estava removendo a mão dela do estômago de Harper, onde não era mais necessária, e ela não conseguia abrir o próprio punho porque o havia mantido fechado com extrema força e por muito tempo naquela posição.
Ele é detetive — disse aos paramédicos. — Nós dois somos detetives. — Sua voz, saindo forçosamente pelo lado da boca, soou como se saísse de um fole, como a voz do assistente corcunda de Victor Frankenstein. — Reporte isso.
Consegue ficar de pé? — alguém perguntou a ela. — Consegue andar?
Ela devia ter feito as duas coisas. Lembrava-se de entrar na ambulância, sentar-se ereta na maca, olhar para o corpo de Harper enquanto os paramédicos o deitavam do lado oposto do veículo num invólucro plástico opaco, feio, de 90 centímetros de largura por 2,30 metros de comprimento.
Outra lacuna. Ela estava olhando para o rosto de Harper. Alguém devia ter aberto o zíper do saco plástico.
Uma voz disse:
Ah. Ei. Não era para você ver isso.
Harper parecia perturbado, os olhos fechados com força, a testa marcada por vincos, como se estivesse fazendo força para lembrar-se de algo.
Ela acariciou a bochecha dele. A pele estava fria demais, com uma insensibilidade cerosa.
Sinto muito, ela lhe disse sem falar. Sinto muito, Chris.
E então, embora não tivesse idéia se isso era ou não verdade: Eu vou pegá-los.
No sétimo dia, Deus descansou. Kennedy não era Deus: ela voltou ao trabalho e ao comitê do incidente.
Era presidido pelo detetive-chefe Summerhill, que exibia a face de um juiz, mas manteve as perguntas amenas durante a primeira meia hora, mais ou menos, enquanto conduzia Kennedy pelo conteúdo do arquivo do caso. Uma vez que ele estabelecera, para o benefício da oficial de recursos humanos, Brooks, e para a observadora do IPCC[8], uma megera velha e empedernida chamada Anne Ladbroke, que esse era um caso envolvendo potencialmente pelo menos três homicídios, ele prosseguiu — com animosidade imparcial e fria —, pronto para o massacre.
Por que você e o policial Harper entraram nessa situação sem apoio? — ele perguntou. — Deveria ser aparente que a dra. Opie estava correndo risco.
Não, senhor — Kennedy respondeu. — Não era aparente de forma alguma. — A mandíbula dela doía quando falava, mas ela tinha muito a dizer e não deixaria que isso a detivesse. — Todas as três pessoas que se sabe terem morrido estavam diretamente envolvidas no projeto de pesquisa do Stuart Barlow no Códice do Rum. A dra. Opie expressamente negou qualquer conexão com o projeto. Foi só no interrogatório que percebemos que era ela membro da equipe do Barlow — algo que ela própria, como o senhor ouviu na gravação, continuou a negar.
A sala, basicamente um almoxarifado, era quente, sem ar-condicionado. A cada inspiração ela ingeria o cheiro penetrante e agudo de cartuchos de tôner. Falar sobre aquelas coisas as trazia vividamente de volta, mas com as camadas do tempo que ela já passara lembrando-se delas em sua cama no hospital. Depois de um tempo, todas as memórias deveriam sofrer esse tipo de metástase, até que a pessoa estivesse se lembrando, mais do que tudo, das emoções que acompanhavam cada revisitação e revisão sucessiva.
Só no interrogatório... — Summerhill refletiu. —Algo que vocês poderiam ter feito na tarde anterior. Por que esperaram?
Kennedy encarou os olhos inexpressivos dele.
Pela mesma razão, senhor — respondeu. — Não parecia haver motivo para agir rapidamente porque a dra. Opie havia sido identificada como uma testemunha útil, não como uma vítima em potencial. Se ela tivesse sido mais aberta com o policial Harper — se ela tivesse dito a ele que ofereceu suporte técnico ao Barlow e à equipe dele —, teríamos chegado a uma conclusão diferente e agido mais rapidamente.
Então, a culpa cai parcialmente sobre as técnicas de entrevista do policial Harper — Summerhill resumiu com uma casualidade venenosa. — Ainda assim, como encarregada do caso, você deveria acatar alguma responsabilidade sobre isso.
A mulher do IPCC rabiscou uma anotação para si mesma.
Isso, continue me pressionando, seu desgraçado. Me deixe acuada no canto e fique vendo onde vou te morder.
Não aceito que houvesse nenhuma falha no interrogatório do detetive Harper à dra. Opie — ela disse, e, depois de uma breve pausa: — senhor. Como bem sabe — como bem sabia quando o entregou a mim —, esse caso veio parar na Divisão como um homicídio incorretamente classificado. A investigação foi reaberta depois que os resultados da autópsia falharam em apoiar a conclusão inicial de que a morte fora acidental. Subseqüentemente, encontramos evidências de incidentes com perseguição e arrombamento, ambos pertinentes ao caso. Os dois incidentes haviam sido registrados, mas nenhum deles havia sido anexado ao arquivo do caso. Esse acúmulo de erros tornou mais difícil para nós identificar um padrão no que estávamos vendo. Apesar disso, o detetive Harper teve sucesso em desencavar as outras duas mortes suspeitas e em relacioná-las com a do professor Barlow. Tudo num só dia. Sob quaisquer padrões, o tratamento que ele deu ao caso foi exemplar.
Summerhill fingiu que estava examinando os papéis acumulados diante de si. Depois, olhou para ela novamente.
Talvez você apenas tenha padrões mais baixos do que o resto de nós, sargento.
Talvez sim, senhor — Kennedy respondeu sem se alterar.
Em Park Square — Summerhill continuou, voltando a seu exame dos documentos —, vocês averiguaram que a dra. Opie era uma vítima em potencial, mas ainda assim falharam em chamar reforços.
Decidimos trazê-la nós mesmos. Consideramos que o tempo era essencial.
E que, portanto, os protocolos-padrão de operação eram negociáveis.
Kennedy pensou antes de responder.
Suas perguntas anteriores foram a respeito de uma demora sem motivo, senhor — ela disse, sustentando o olhar de Summerhill. — Agora o senhor está dizendo que, ao colocar a dra. Opie sob custódia, eu não demorei o suficiente? Se é assim, por favor, lembre-se de que os assassinos dela já estavam dentro do prédio. Os reforços não poderiam ter nos alcançado antes deles a não ser que se teleportassem. Consideramos que tínhamos pouco tempo, e Deus sabe que estávamos certos.
Vocês poderiam ter continuado no escritório da dra. Opie — Brooks sugeriu. — Com a porta trancada.
Com a porta trancada? — Kennedy repetiu, impassível.
Sim.
As paredes eram feitas de vidro e os assassinos tinham armas. — Você ao menos leu o arquivo, sua vaca carreirista ?
Ainda assim — Summerhill interrompeu apressadamente —, podemos presumir seguramente que havia outros escritórios naquele prédio cujas paredes fossem mais sólidas. Ter raciocínio rápido é sempre ótimo, sargento Kennedy, mas estamos falando de sua capacidade de decisão — que, no final, levou a uma situação na qual um colega policial e uma informante civil morreram.
Houve um silêncio pesado. Kennedy esperou. A inspiração de Summerhill parecia ter acabado agora, e Kennedy interpretou isso como um mau sinal. Mostrou como era fina a camada de verniz que ele estava aplicando sobre o desejo que tinha de se livrar dela.
Brooks aproveitou a brecha novamente.
Houve mais uma altercação — disse ela. — Mais um enfrentamento, quero dizer. Você seguiu os dois homens — os assassinos — para fora, até o estacionamento.
Sim.
Onde um terceiro atirador apareceu. E aparentemente feriu um dos dele.
Não acredito que estivessem juntos. Ele estava agindo contra eles, não com eles.
Ou então ele tinha uma péssima mira.
Ele derrubou com uma bala a faca que estava na mão de um daqueles palermas. E o atingiu de novo antes que ele pudesse entrar no veículo da fuga, e depois atingiu o próprio veículo em movimento. Eu deveria dizer que a mira dele era muito boa.
Brooks aceitou essa resposta com um mero farfalhar e remexer de seus papéis.
E ele foi deixado para trás quando a van escapou?
Sim. Brevemente. Então ele perseguiu a van.
Você tentou dar voz de prisão, sargento?
Kennedy engoliu a primeira resposta que lhe veio à mente, depois engoliu a segunda.
Como podem ver pelo meu relatório — disse finalmente —, eu já havia tentado prender os assassinos. A intervenção do terceiro homem ocorreu naquele momento, quando eles haviam acabado de se virar para mim e estavam prestes a me atacar pela segunda vez. Além disso, eu estava desarmada. Uma oficial desarmada, agindo sozinha, não deve abordar um assaltante armado se não houver nenhuma expectativa razoável de que ela possa rendê-lo. — Especialmente quando ele provavelmente acabou de salvar a vida dela.
Então, voltamos à ausência de reforços.
Suponho que sim.
Sua descrição do terceiro homem foi muito vaga.
Eu devia estar distraída pelas minhas costelas quebradas e pelo ferimento profundo no meu ombro.
Brooks ergueu as sobrancelhas num espanto inocente: a vítima irrepreensível do sarcasmo dirigido.
Seu tom não a está ajudando, sargento — Summerhill disse.
Imagino que não. — Ela estava ficando sem paciência. Felizmente, eles pareciam estar ficando sem perguntas.
Mas o detetive-chefe havia deixado o melhor para o final.
Vamos voltar aos eventos no laboratório de TI — disse ele. — Especificamente, o assassinato da dra. Opie. O detetive Harper já estava ferido nesse momento, correto?
Correto. — Kennedy meneou a cabeça, desconfiada.
Mas o homem que tinha a faca — o que o atacou primeiro e depois a você — estava no chão.
Isso mesmo.
Quando o segundo homem mostrou uma arma e a apontou para a dra. Opie, onde você estava em relação a ele e a ela?
Ela conseguia ver aonde esse catecismo pretendia levá-la, mas não havia meio de defender-se.
Eu estava entre eles — admitiu.
A distância era de, digamos, três metros?
Mais ou menos.
Qual? Mais ou menos?
Menos, provalmente. Uns dois metros e meio.
Poucos passos, então. E a arma estava apontada para outra pessoa, atrás de você. Na sua avaliação, haveria a possibilidade de você se interpor e tentar desarmar o atirador antes que ele disparasse?
Kennedy lembrou-se daquele momento de horror gélido, do esvaimento de sua habilidade de pensar e mover-se e agir. Ele estivera enraizado em outra memória: a de Marcus Dell atirando-se contra ela, fechando as mãos em torno de sua garganta, e então sua própria G22 escoiceando a palma de sua mão enquanto ela mandava uma bala calibre .44 numa jornada breve e significativa para a cavidade torácica de Dell.
Algumas coisas já são dolorosas demais para deixá-las abertas por meio de uma mentira.
Aconteceu muito rápido — ela disse, consciente de sua própria ligeira hesitação, do tremor em sua voz. — Talvez... talvez eu tenha hesitado, por um segundo. É difícil lembrar. Mas o atirador foi muito rápido. Muito profissional.
Ele atirou três vezes. Isso deve ter levado alguns segundos.
Suponho que sim.
Mas não houve tempo suficiente para você intervir?
Eu disse que não me lembro.
Summerhill começou a juntar os papéis e colocá-los de volta à pasta do arquivo.
Bom — ele disse —, vamos considerar suas recomendações. Por favor, mantenha-se disponível para nós pelo resto do dia. Vamos tomar uma decisão antes do final do seu expediente.
Foi súbito demais, e a mente de Kennedy ainda estava repleta demais de imagens que a desafiavam e acusavam. Estivera esperando por esse momento, mas quando ele veio ela não estava pronta.
Só isso? — quis saber, a voz soando estúpida e rabugenta a seus próprios ouvidos.
Por enquanto, sim — Summerhill disse. — Você pode querer falar com o Departamento de Recursos Humanos, se tiver alguma dúvida sobre como esse procedimento é feito. A sra. Brooks estará disponível o dia todo.
Era agora ou nunca: a hora da verdade.
Na verdade, senhor — Kennedy disse —, eu gostaria de falar com o senhor. Em particular.
Pego no ato de fechar a pasta do arquivo e, com ela, a carreira de Kennedy, o detetive-chefe ergueu o olhar, surpreso.
Acho que já temos toda informação de que precisamos, sargento — disse.
Trata-se de informação relativa à condução do caso — ela persistiu, a voz controlada e cortês. —- No entanto, é de natureza delicada e só pode ser discutida com oficiais.
O semblante de Summerhill passou por uma gama de emoções, tudo por trás de uma máscara de indiferença profissional que aos poucos escorregava do rosto.
Muito bem — disse ele finalmente. — Vamos discutir isso no meu escritório. E depois — acrescentou, olhando para Brooks e Ladbroke —, volto a me reunir com vocês.
Com a porta do escritório fechada contra o mundo exterior, Summerhill afundou numa cadeira, mas propositalmente não convidou Kennedy a sentar na outra. Ela sentou mesmo assim.
O que você quer me contar? — ele perguntou.
Eu tenho sangue cigano — Kennedy disse, a voz ainda longe de estar firme.
Summerhill olhou para ela com vago espanto.
- Quê?
Honestamente, Jimmy. Posso ler sua sorte. Daqui a uns dois meses, talvez três, vejo você esvaziando as gavetas dessa mesa e andando em direção ao pôr do sol. E está chovendo. Chovendo bem forte.
A expressão de Summerhill indicava que isso ainda era um disparate para ele.
Você disse que tinha informação pertinente ao caso — ele a relembrou, friamente.
Pertinente à condução do caso — ela o corrigiu. — Sim. Eu tenho. Já está na sua caixa de entrada, há uma semana. No servidor de e-mails do departamento também, e Deus sabe onde mais. A Central de Apoio mantém cópias de tudo, certo? Então, já está por toda parte, se alguém quiser olhar. O título: Arquivo do Caso de Stuart Barlow. Vá em frente, olhe.
Summerhill fez isso. Encontrou o e-mail dela, enviado uma semana atrás, e deu de ombros.
E daí?
Verifique a data no cabeçalho. Foi enviado na noite anterior ao dia em que fomos a Luton falar com a Sarah Opie. Estava bem aí, esperando por você, quando chegou no dia seguinte. Quando chegou atrasado. Sei disso porque nós esperamos você por bem mais de uma hora antes de finalmente desistirmos e irmos entrevistar a testemunha.
Summerhill fez um gesto brusco: diga logo o que quer dizer.
Você chegou ao menos a ler o e-mail, Jimmy? Eu disse a você que o caso havia se transformado em algo realmente assustador. Sugeri que deveria rever o tamanho da equipe encarregada do caso e o alcance da investigação. Eu pedi para você tomar uma decisão — urgentemente — em relação às prioridades imediatas.
Nenhuma delas — disse Summerhill — faz diferença em relação aos fatos. Vocês foram para lá sem reforços, e uma civil morreu. Assim como seu colega oficial, que era novo no trabalho e seguia seu exemplo.
Kennedy assentiu.
Sim — ela disse austeramente. — Ele me seguia. Ele morreu nos meus braços, Jimmy. Dificilmente vou esquecer isso. Mas pensei que sua primeira pergunta lá dentro seria por que esperamos tanto. Não parece ter te ocorrido que nós esperamos por você.
Summerhill já estava balançando a cabeça negativamente.
Não, não, sargento. Lamento. Isso não vai funcionar. Eu me ausentei porque estava em Westminster cuidando de assuntos da divisão. E, na minha ausência, você deveria se reportar a outro oficial sênior.
Em sua mente, Kennedy só havia levado a questão até esse ponto. O resto era apenas um palpite, e ela estaria ou certa ou errada. Pensou em Harper deitado em seu colo, sangrando até morrer. O horror daquele momento, ainda fresco, agiu como um alicerce para ela, mantendo-a equilibrada e serena nessa hora.
Talvez — ela admitiu. — Talvez você estivesse em Westminster. Mas essa é a quinta ou sexta vez que eu ouço essa história de comitê, e uma dessas vezes foi em janeiro, antes mesmo que o Parlamento voltasse do recesso. Você costumava ter um problema com bebida, né, Jimmy? Umas duas advertências e, uma vez, quase uma audiência disciplinar, ou é o que dizem. Estou fora do grupinho de fofocas agora, por razões óbvias, mas acho que um problema como esse não desaparece simplesmente. Então, minha teoria é de que a policial Rawl tem dois fardos bem grandes para suportar aqui: uma ordem geral de te dar cobertura quando você chega tarde e uma completa falta de imaginação.
Ela fez uma nova pausa. Era nesse ponto que a casa cairia, se é que isso aconteceria. Pareceu levar um longo tempo até que Summerhill falasse. Quando ele o fez, sua voz estava muito mais controlada do que ela estivera esperando e muito mais agressiva: totalmente apoiada num subterfúgio, sem chafurdar nem esperar por outro ataque verbal dela.
Sargento detetive — disse ele —, você parece achar que pode tirar o seu da reta ao me atacar. Me deixe repetir, caso não tenha me ouvido da primeira vez: um policial está morto por causa das suas ações. Tentar me chantagear não tem a menor chance de afetar...
Eu vou te derrubar também — Kennedy disse. Summerhill continuou falando por cima das palavras dela, então, a detetive não pôde ter certeza de que ele a ouvia. Mas a maior parte da mensagem estava em seu rosto e em seu tom.
... a decisão pertence a um tribunal independente no qual eu sou só...
Se a Rawl estava te dando cobertura, eu vou te afundar.
... um membro. A decisão vai ser tomada por todos nós.
Então me dê um funeral viking — Kennedy disse, a garganta apertada. -— Vá em frente. Porque isso é tudo o que tenho. Mas eu juro por Deus, Jimmy, se você me demitir ou mesmo se apenas tentar me tirar desse caso, vou fazer meu advogado gritar para o mundo que o Harper morreu porque você estava bêbado demais para vir trabalhar. Se eu estiver certa, se você não tiver sido chamado pela Câmara dos Comuns naquele dia e não houver nenhum membro do Parlamento para testemunhar a seu favor, então a anotação da Rawl no livro de registro vai ser suficiente para provar que você mentiu. Eles vão te crucificar. E isso não vai trazer o Chris Harper de volta dos mortos, mas vai significar que um pouquinho de justiça foi feita no meio de toda a merda de sempre.
Ambos acabaram de pé, encarando um ao outro, e ele ficou sem palavras antes dela.
Me avise, de todo modo — ela murmurou, subitamente enjoada com ele e consigo mesma.
Deixou o escritório de Summerhill sem olhar para trás e voltou à sala comum para esperar, mas a atmosfera lá era palpável. Todos sabiam daquele exame e todos sabiam por que fora feito. Ela havia causado a morte de um detetive. Ela passara de alguém que eles odiavam para algo que eles queriam repudiar. Nenhum olhar enfrentou o dela.
Ela não tinha nem certeza de que poderia ter enfrentado os próprios olhos agora, se houvesse um espelho à mão. Sabia, objetivamente, que Harper já havia sido ferido quando ela ficara paralisada diante da arma. Ter agido mais rapidamente não o teria salvado, mas poderia ter salvado Sarah Opie.
Ela revirara o evento em sua mente tantas vezes agora que as memórias haviam se desfiado e se entretecido novamente na seqüência errada, nos ângulos errados, atrapalhadas e incompreensíveis. Mas as suportou mesmo assim.
Kuutma estava a uma longa distância de Londres quando recebeu o telefonema da equipe de Abidan. Na verdade, estava em Moscou, cuidando do conserto das redes de comunicação que haviam sido danificadas quando Tillman assassinara Kartoyev. Estava de pé na ante-câmara do Ministério de Negócios da Rússia, uma sala com metade do tamanho de um estádio de futebol, viajando sob sua identidade costumeira e esperando descobrir se seria recebido ali.
Quando Abidan lhe contou sobre o atirador misterioso que por pouco aparecera tarde demais para sabotar a missão, Kuutma soube na mesma hora, pela descrição — a altura, a compleição, o cabelo que era ou do mais claro entre os castanho-claros ou de um ruivo pálido e, é claro, a exatidão dos tiros — que o homem era Tillman. Suas preocupações provaram-se justificadas até demais: Tillman havia demorado para chegar a Londres, mas estivera mesmo se dirigindo para lá desde a morte de Kartoyev e agora havia compreendido a conexão entre Michael Brand e as mortes recentes.
O problema estava entranhado na própria instituição dos Mensageiros, pois era a maneira como trabalhavam, e esta sempre havia funcionado e deveria continuar funcionando até que os 30 séculos se completassem (e já estava chegando a hora; a contagem era discutível, mas era próxima da verdade). Eles tomavam a droga, kelalit, e ela lhes dava as bênçãos da força e da velocidade. Era um sacramento. E também era uma neurotoxina, que, no fim, ou os matava ou os enlouquecia. Então, Kuutma estava constantemente envolvido no treinamento de novos Mensageiros e tinha uma dificuldade interminável para designar líderes de equipes com experiência suficiente.
Erros haviam sido cometidos no manejo do projeto Rum, assim como no manejo do Voo 124. Pontas soltas haviam sido deixadas, oportunidades haviam sido perdidas, métodos complexos usados quando outros mais simples estavam à disposição. Cabia a Kuutma, agora, remanejar essas situações e levá-las a desfechos felizes.
Sendo um homem honesto, ele reconhecia, também, seus próprios erros de julgamento. Tillman ainda vivia: Kuutma tinha que carregar a responsabilidade por essa desastrosa circunstância e precisava endireitá-la.
Ele quase podia argumentar a favor de cuidar disso pessoalmente, a essa altura. Mas a força de seu desejo de fazê-lo precisava ser encarada como um aviso de que ele não deveria fazê-lo: suas emoções estavam envolvidas, e, portanto, ele não podia confiar no próprio julgamento.
Mas a equipe de Abidan estava esgotada agora. Hirah havia sido baleado no peito e na mão. Ambos os ferimentos já estavam parcialmente curados, outro efeito colateral da kelalit, mas nisso, como em todo o resto, a droga tanto dava quanto tirava. O ferimento no peito estava bem, mas os ossos e os músculos da mão haviam ficado retorcidos enquanto se curavam e assumiram uma posição antinatural. A mão se tornara inútil.
Kuutma ponderou e chegou a uma decisão.
Você deve levar Hirah de volta a Ginat'Dania — disse a Abidan. — Ele precisa descansar e estar com a família dele. O dano causado a ele — à alma, assim como à carne — vai ser sanado mais rapidamente lá.
Abidan pareceu desalentado.
Mas Tannanu — ele disse —, a missão...
Eu sei, Abidan. Ainda há trabalho a ser feito. Muito trabalho, talvez, agora que esse Tillman está envolvido.
Tillman?
O homem que atirou em Hirah. E esse o nome dele.
O tom de Abidan expressou choque e talvez alarme:
Mas Tillman — Leo Tillman — foi o homem que...
— Abidan. — Kuutma silenciou seu Mensageiro com essa repreensão gentil.
Sim, Tannanu?
Volte a Ginat'Dania. Leve sua equipe com você. Tenho outra equipe naquele país agora. Eles seguiram Tillman desde a França e vão gostar de uma nova chance de se encarregar dele.
Posso perguntar, Tannanu, que equipe é essa? —Abidan questionou, cuidadoso, mas infeliz. Doía ser retirado da missão, como Kuutma entendia muito bem.
A equipe de Mariam Danat. A própria Mariam, Ezei e Cephas. Vá em paz, Abidan, e sinta orgulho do que fez.
Ele desligou o telefone e olhou para a parede que o encarava. Estava adornada com uma pintura da retirada de Napoleão de Moscou conforme imaginada por um pintor soviético, cuja assinatura no canto da tela era ilegível. Na obra de arte, Napoleão afundava na sela, olhando com ar fatigado para um corredor infinito de neve rodopiante. Atrás dele, uma linha de soldados franceses derrotados e moribundos prolongava-se até o infinito, todos exibindo variações da mesma expressão: a humilhação do conquistador ampliada e magicamente duplicada, como numa sala de espelhos.
Kuutma pensou em ver aquela expressão no rosto de Tillman.
Ele vai esquecer você?
Nunca.
Então ele é um idiota.
Sim. E você deveria ter medo dele. Ele é simplesmente estúpido demais para saber quando já perdeu ou quando se render. Vai ignorar aquele bilhete. Não vai parar de procurar. Um dia, ele vai olhar nos seus olhos, Kuutma, e um de vocês vai piscar.
O time de Mariam. Ele os orientaria pessoalmente. E, embora não fosse a Londres ele mesmo, iria observá-los com cuidado e os dirigiria; não diretamente até Tillman, porque a situação do Rum era o problema que exigia solução imediata. Mas, claramente, Tillman havia se colocado numa rota de colisão com o Rum.
De uma forma ou de outra, independentemente de qualquer energia que ele tivesse acumulado e quaisquer recursos que trouxesse, ele seria destruído nessa colisão.
Foi uma vitória parcial, e, se Kennedy ainda tivesse algo a perder no departamento, teria sido uma vitória pírrica. Enquanto antes Summerhill estivera contente em deixá-la proceder como quisesse e à mercê da não tão gentil cova dos leões, agora ele estava debruçado sobre o caso dela de uma forma muito mais comprometida, muito menos casual.
O comitê do incidente deu a ela um atestado de saúde e a manteve no caso, mas não havia, agora, nenhuma possibilidade de deixarem que uma mera sargento o conduzisse. Summerhill já apontara a si mesmo como oficial encarregado do caso, o que significava que ela trabalharia diretamente abaixo dele. Bem ao alcance da mira dele, a cada hora do dia.
Mais do que apenas substituir Harper, ele ampliara a equipe do caso para cinco pessoas, sem contar consigo mesmo. O outro sargento, para esfregar as falhas de Kennedy no nariz dela tão completamente quanto possível, era Josh Combes. Três outros policiais completavam a lista, e ela conhecia todos eles. Stanwick era o puxa-saco de Combes, pura e simplesmente; McAliskey era competente, mas sem imaginação, e falhara duas vezes no teste para sargento; Cummings era um lobo solitário, bom em tudo, exceto em dividir.
Kennedy imprimiu uma cópia do arquivo do caso e levou-a para casa consigo naquela tarde. Depois de um banho longo e quente, ela sentou-se no sofá vestindo um robe, o cabelo molhado enrolado numa toalha, para ler tudo. O arquivo não era muito mais grosso agora do que fora uma semana antes. Aproxima reunião da equipe — ou a próxima rodada, como tendiam a chamá-la na divisão — era às 9 horas da manhã seguinte. Summerhill tentaria lhe passar a rasteira se pudesse, e todo o resto do grupo adoraria o show.
Seu pai se aproximou e olhou por cima de seu ombro enquanto ela lia, o que era um tanto incomum. Ele nunca mais pegara um livro, nem mesmo uma revista. Seus momentos de atenção simplesmente não duravam o suficiente para completar uma frase média. Mas a semana que ela passara fora de casa o deixara inquieto. Sua irmã, Chris- sie, tinha vindo (com muita má vontade) cuidar dele. Ela o levara para sua própria casa em Somerset, em que nada estava onde ele lembrava e onde ele era o último a escolher o que ver na TV, depois do marido obcecado por críquete e da filha adolescente dela. Devia ter sido uma situação péssima para ele. Embora, se o mal de Alzheimer tinha um lado positivo, era que as tristezas passadas presumivelmente deixavam de ser reais assim que o paciente as esquecia.
Caso de assassinato, pai — ela disse em tom indiferente. — Múltiplo. Múltiplo e depois mais dois. Quatro civis e um policial mortos.
Ela imaginou que ele talvez reagisse a isso — à morte de um oficial —, mas o pai não pareceu escutá-la. Também não tentava ler o arquivo. Estava apenas ficando perto dela, observando-a atentamente. Talvez ele tivesse sentido a falta da filha e estivesse se reconfortando com o fato de que ela estava de volta. O que quer que fosse, não a agradava muito.
Tem rocambole na cozinha, pai — disse. Ele gostava daqueles rolinhos, os que vinham embalados individualmente em papel-alumínio, e a resposta que deu à frase foi pavloviana. Saiu arrastando os pés para procurar o rocambole, deixando Kennedy mergulhar no arquivo.
A designação oficial de todas as três mortes originais — de Barlow, Hurt e Devani — agora era assassinato. O carro que atropelara Catherine Hurt fora encontrado por acaso, abandonado a algumas centenas de quilômetros dali, em Burnley, tendo (ao que parecia) sido roubado apenas a poucas ruas de distância de onde Hurt fora morta. Fedia a desinfetante e provara estar clinicamente destituído de impressões digitais ou fibras. Gravações de câmeras de circuito interno mostravam a jornada para o norte, mas não puderam revelar nada sobre o motorista.
As fibras de tecido que ela e Harper haviam encontrado no Prince Regent's eram totalmente compatíveis com o que Barlow estivera vestindo no momento da morte, então, a hipótese de ele ter sido carregado escada acima enquanto permanecia inconsciente parecia sólida.
Pelo relatório da balística, a arma que havia matado Sarah Opie era uma Sig-Sauer P226, uma pistola popular entre forças do exército e da polícia de todo o mundo. A munição fora comprada na Alemanha como parte de um grande carregamento que originalmente deveria ter seguido para as Forças de Defesa de Israel. Até onde se podia determinar, o contêiner no qual a munição estivera fora despachado de Lübeck para Haifa, extraviara-se em algum lugar e nunca fora descarregado.
Emil Gassan agora havia sido colocado sob custódia para sua proteção. Quando ouvira sobre os eventos em Park Square, nem mesmo protestara muito — embora parecesse estar chocado com o pensamento de que o trabalho de Stuart Barlow havia inspirado algo mais que brando desprezo.
Alguma ação havia sido realizada na intenção de montar uma busca por Michael Brand, mas ele não fora encontrado. Pagara em dinheiro no Pride Court Hotel, mostrara uma foto de identidade falsa identificando-o como um palestrante da Universidade de Astúrias, em Gijon, onde — é claro — ninguém jamais ouvira falar dele. Combes agora emitira um alerta sobre ele, mas até o momento o sujeito não havia aparecido. Descrições dos dois homens que haviam matado a dra. Opie e Chris Harper, e do terceiro homem que aparecera de lugar nenhum no estacionamento de Park Square para interceptá-los, também estavam circulando: nenhuma pista.
Pegadas. Placas de carro. Bloqueios na estrada. Buscas. Nenhuma impressão digital nem avistamento. Era como tentar agarrar fantasmas, mas ela não podia culpar os métodos de Summerhill. Ele parecia estar fazendo tudo o que podia, tudo o que ela estaria fazendo caso estivesse no lugar dele.
O telefone tocou, interrompendo um fluxo de pensamento que estava girando num círculo estreito e inútil. Ela atendeu e encaixou o gancho desinteressadamente sob a mandíbula: provavelmente era alguém da Divisão com alguma porcaria de notícia do comitê do incidente.
Kennedy — disse bruscamente.
Bom nome — respondeu uma voz masculina. — Algum irlandês na família?
Era uma voz que ela conhecia, embora não fosse capaz de identificá-la imediatamente. Uma voz que a fez endireitar-se na cadeira de uma só vez, esparramando alguns papéis da pasta do arquivo, que caíram de seu colo para o sofá e para o chão.
Quem é? — ela perguntou. A resposta surgiu em sua cabeça ao mesmo tempo que o homem respondia.
Nós nos conhecemos no campus de Park Square. Uma semana atrás. Eu era o cara que não estava tentando matar você.
Houve uma pausa enquanto ela pensava em como diabos responder àquilo. Tente o óbvio.
O que você quer?
Não houve pausa do outro lado.
Conversar — respondeu ele.
Sobre quê?
O caso.
Qual caso?
O homem soltou o ar com um som alto, parecendo irritado ou impaciente — ela não saberia dizer.
Eu fui um bom menino católico — disse ele. — Mas há muito tempo ninguém me pede para recitar o catecismo. Já estou bem adiantado em relação ao que você anda fazendo, detetive. É por isso mesmo que eu estava em Park Square, vendo você tentar fazer a prisão de dois matadores experientes estando desarmada. Sei sobre o assassinato do Barlow e sei que é parte de um padrão — embora vocês não tenham conseguido encontrar um motivo ou um elo entre as vítimas a não ser o mais óbvio, de que todas elas conheciam umas às outras. Sei que você tem passado por maus bocados porque seu parceiro morreu e sei que não está mais no comando. Mas estou achando que sabe mais sobre o que está acontecendo do que qualquer outro desses caras que entraram no caso semana passada. Além disso, acho que já quebramos o gelo, então pareceu fazer sentido ligar para você primeiro.
Foi a vez de Kennedy de respirar com força.
Olhe — disse. — Sou grata pelo que você fez. Me ajudou a escapar por um triz. Mas, com todo o respeito, tudo o que sei sobre você é que sabe usar uma arma e não se incomoda em dar um tiro de aviso ou de arriscar. Isso poderia fazer de você muitas coisas, e policial não é uma delas.
Não sou policial. Mas tenho alguns bons amigos que são, e muitos mais que costumavam ser.
Então você é o quê? O segurança particular de alguém?
Não.
Militar?
Não exatamente.
Algum tipo de leão de chácara?
Estamos entrando naquele território do catecismo outra vez. Se vamos conversar, o telefone não é a melhor forma de fazer isso.
Não? Onde, então?
Tem um café perto da estação de metrô. O Costella. Vou estar lá em cinco minutos. Espero até no máximo sete.
Isso não me dá muito tempo, né?
Não, não dá. Especificamente, não te dá muito tempo para armar nenhuma surpresa para mim. Sério, detetive, nós poderíamos fazer uns favores enormes um ao outro, mas não estou pedindo para você confiar em mim e não sou idiota o suficiente para confiar em você. Espere por mim do lado de fora do café, vá sozinha e traga seu celular. Vamos continuar a partir de lá.
Ela ouviu um clique e então a linha ficou muda.
Kennedy considerou as opções, mas já estava enfiando um jeans e um suéter enquanto pensava. Não havia nada a fazer com seu cabelo, que estava apenas meio seco e tão alvoroçado quanto um palheiro. Ela o recolheu todo para dentro de um boné de beisebol e correu para o andar de cima, até o apartamento de Izzy.
Izzy estava ao telefone, o que não era surpreendente.
Ah, eu gosto dos grandes — ela disse, olhando para Kennedy, mas falando com quem quer que estivesse do outro lado da linha. — Gosto dos bem grandes. Diz que tá pegando nele agora, amor. — Kennedy ergueu ambas as mãos, os dedos abertos. Dez minutos, ela dizia. Izzy balançou a cabeça violentamente, fazendo que não, mas Kennedy já tinha uma nota de 20 libras na mão. Izzy mudou de idéia no meio do menear negativo, agarrou a nota e acenou para Kennedy: vai, vai, vai.
Kennedy foi.
Kennedy chegou ao Costella Café quase no final do sétimo minuto. O lugar estava vazio — era pequeno o suficiente para que não houvesse canto nenhum onde alguém pudesse sentar sem ser visto da rua — e ninguém a esperava do lado de fora. Ela se virou num círculo lento sobre a calçada, analisando cada pessoa à vista, mas ninguém se parecia nem remotamente com o baita brutamontes que encontrara tão brevemente na semana anterior.
Seu celular tocou no momento em que ela estava completando o circuito.
Kennedy.
Eu sei. Estou vendo você. Ande até o final da rua. Tem uma igreja. Entre nela. Compre uma vela e acenda.
Isso é você sendo um bom menino católico.
Ah, eu menti a respeito disso. A vela é só para me dar tempo de andar ao redor da igreja umas duas vezes — e ver se não tem ninguém te seguindo.
Não estou tentando armar para você. Se eu estivesse, faria isso com um gravador escondido, não com uma escolta.
Desde que você tivesse um gravador à mão na sua casa, claro. Na verdade, estou te dando o benefício da dúvida aqui, detetive. As pessoas com as quais estou preocupado agora não são as que estão no seu time.
Kennedy caminhou até a igreja — um edifício moderno e impessoal de tijolos amarelos — e fez o que ele havia dito. Acender a vela votiva e colocá-la no suporte de metal no corredor lateral pareceu-lhe um ato sem sentido — ela nunca acreditara em nenhum deus, nem em nenhum tipo de poder superior —, mas se pegou, para sua própria surpresa, levemente desconfortável por estar fazendo aquilo de forma tão mecânica. A morte de Harper era recente demais, estava fresca demais em sua memória. Essa pantomima de devoção tinha um sabor amargo para ela, de alguma forma — como uma piada às custas dele, ou dela.
Com a vela no lugar, ela se virou, meio que esperando descobrir que o grandalhão aparecera atrás dela sem fazer nenhum som. Mas estava sozinha na igreja.
Kennedy esperou, sentindo-se um pouco ridícula. O telefone não tocou novamente e ninguém apareceu. Depois de cinco minutos, saiu pela mesma porta pela qual havia entrado. O grandalhão estava apoiado contra a parede logo ao lado da porta, as mãos enfiadas bem fundo nos bolsos de um casaco preto muito simples. Agora ele parecia menos um anjo vingador e mais um pedreiro ou estivador, inócuo, apesar de todo o tamanho.
Parece que estamos sozinhos.
Ótimo — Kennedy disse. — E agora?
Um drinque — o grandalhão respondeu. — Em algum pub bem barulhento.
O bar Crown and Anchor, na Surrey Street, estava lotado, então correspondia muito bem ao critério. O drinque acabou sendo uísque e água, que o grandalhão — que se apresentou como Tillman — comprou para ela sem perguntar se queria. Ela não o tocou, mas ele também não tocou o dele. Parecia ser só um gesto de camuflagem protetora. Assim como o barulho, Tillman explicou.
Não dá para evitar um microfone escondido — ele disse. — Nem um leitor de lábios, aliás. Mas nenhum dos dois vai adiantar muito num lugar como este. Você precisaria de uma atmosfera sem tanto ruído ou de um campo de visão limpo.
Então você ainda acha que estou sendo seguida? — Kennedy perguntou a ele, meio impressionada, meio confusa. O que quer que ele pudesse ser, estava claro que esse homem não brincava em serviço ao vigiar a própria retaguarda.
Tillman balançou a cabeça.
Não. Tenho quase certeza de que não. Não estavam atrás de você em Luton, estavam? Eles queriam a mulher da computação — a última da lista. Eu era a única pessoa que estava seguindo você — porque achei que estivesse seguindo outra pessoa. Alguém que estou procurando há muito tempo.
Kennedy estreitou os olhos para Tillman.
Você disse que a Sarah Opie era a última da lista. Lista de quem? E como é que você sabe?
É só uma inferência — Tillman respondeu. — Você não foi atrás de mais ninguém, então, não acha que haja mais alguém em perigo.
Xão estou dizendo que esteja certa. Só estou dizendo que você parece achar que, por enquanto, acabou. Que não vai haver mais mortes.
Tillman a observou, cheio de expectativa, esperando que ela confirmasse ou negasse. Kennedy não fez nenhuma das duas coisas. Apenas sustentou o olhar e deixou a resposta por conta da imaginação dele.
Então, do que se trata? — ele perguntou, finalmente. — O Barlow foi o primeiro — ou o primeiro que você encontrou. Eles estavam trabalhando juntos em alguma coisa. E isso causou a morte deles. Essa é a hipótese de trabalho.
Esse som que você está ouvindo — Kennedy disse-lhe, friamente — sou eu não dizendo nada. Você está com a vantagem, Tillman. Está me dizendo coisas que não deveria saber sobre meu próprio caso — coisas que não contamos ao público nem a ninguém fora da Divisão. Não vou dizer uma palavra até você me contar como é que sabe disso tudo. Com certeza não vou presumir que, só porque você já conhece metade da história, eu deveria lhe contar todo o resto.
Tillman assentiu, meneando ligeiramente a cabeça, reconhecendo a razão.
Tá bom — disse. — E justo. Michael Brand.
O que tem ele?
Você está procurando por ele. Eu também. A diferença é que você está procurando por ele há cerca de dez dias. Eu estou atrás dele há treze anos. Você já fez aquelas coisas que as pessoas fazem nos filmes, de amarrar um cabelo na maçaneta da porta ou deixar um palito de fósforo no batente para ver se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora?
Não até agora — Kennedy respondeu. — Posso tentar adquirir o hábito.
Venho fazendo isso há anos, detetive. Todos os tipos de cabelos e palitos de fósforos, calços de papelão, latas e pedaços de barbante. Possuo minha própria rede de informações, indo para a frente e para trás e passando por toda parte, só para me avisar quando o Michael Brand aparecer. Tenho amigos, e amigos de amigos, em lugarejos estranhos por todo o mundo, de olho na informação assim que ela desponta na estrada. Trechos de códigos virais em bancos de dados on-line. Até em oficinas de impressão à moda antiga numas duas dúzias de países onde computadores ainda são uma extravagância ou onde eu simplesmente quero ter aquela segurança extra. O Michael Brand é uma obsessão para mim, sabe. Ele não sai muito por aí, mas quando sai eu quero saber que ele fez isso. Então, quando ele apareceu na sua investigação, apareci também. Essa é a resposta curta.
Kennedy estava perplexa. A maior parte daquela resposta não havia soado muito sã, embora Tillman a tivesse dado num tom de voz calmo e razoável. Ela não retrucou. Depois de um ou dois momentos, como forma de distração, ela pegou o uísque e bebeu um gole. Não era bom de jeito nenhum, mas era melhor do que ficar olhando para Tillman do jeito que a gente olha para um maluco dentro do ônibus.
Ele riu de forma um tanto infeliz, como se tivesse lido perfeitamente a expressão dela.
Tá bom — disse. — Talvez isso precise de um contexto para ser entendido. Entenda, eu perdi minha esposa e filhos alguns anos atrás.
Sinto muito — Kennedy respondeu; a resposta automática e sem significado. — Como eles...
Como morreram? Não morreram. Eu simplesmente os perdi. Voltei para casa numa noite qualquer e eles não estavam lá. A casa havia sido esvaziada da porta de entrada até o último quarto. Treze anos atrás. Eu ainda estou procurando.
Ele esboçou rapidamente a história para ela. Os obstáculos oficiais; a recusa da polícia em montar uma investigação; o luto, o medo e a confusão; a busca e os esforços infrutíferos; e a percepção que ele tivera, por fim, de que precisava de uma abordagem inteiramente diferente se pretendia algum dia sair da estaca zero.
Enquanto ouvia, Kennedy presumiu, a princípio, que Tillman era como qualquer outro homem ainda apaixonado por uma parceira que o deixara para trás. Mas a absoluta convicção dele começou a afetá-la. Treze anos é um longo tempo para alguém passar em negação e, além disso, um longo tempo para alguém ficar brincando de esconde-esconde com três crianças. Uma mulher sozinha poderia se esconder facilmente. Uma mulher com três filhos teria que registrá-los em consultórios médicos, dentistas, escolas, serviços de cuidados de todos os tipos imagináveis. Seriam chamativos, distintos e fáceis de encontrar. A não ser que estivessem mortos, é claro. Ela não mencionou essa possibilidade, mas, novamente, Tillman pareceu antecipar os pensamentos dela.
Ela deixou um bilhete — disse. — Pedindo que eu não os procurasse. E havia uma espécie de lógica... não, quero dizer uma espécie de assinatura nas coisas que foram levadas. Eu disse que a casa tinha sido esvaziada, mas não foi exatamente assim. Algumas coisas tinham sido deixadas para trás: umas coisinhas sem importância. Livros. Brinquedos. Roupas. Mas era essa a questão. Tudo que foi deixado eram coisas que não importavam. Coisas de que as crianças não sentiriam falta. Os livros favoritos, os brinquedos favoritos, as roupas que gostavam de usar e que ainda serviam bem, todas essas coisas foram levadas. Foi a escolha da Rebecca, e ela fez tudo extremamente bem, exceto...
A voz dele sumiu.
Exceto o quê?
Nada. Nada importante.
Kennedy deu de ombros.
Tá bom. Mas e aí, o que é que isso te diz, Tillman? Significa que ela foi embora por vontade própria, né?
Não — ele disse bruscamente. — Significa que ela sabia que eles ficariam vivos e que ficariam juntos. Ela levou tudo de que precisavam para levar a vida em algum outro lugar. Mas eu não acredito — não consigo me forçar a acreditar — que uma vida sem mim era o que ela queria. E mesmo que fosse possível eu estar errado a respeito disso, detetive, ainda ia querer encontrá-la e perguntar por quê. E ainda ia querer ver meus filhos de novo. Mas não estou errado. A Rebecca foi embora porque não teve escolha. E me deixou um bilhete mandando que eu não os procurasse porque achou que eu nunca seria capaz de encontrá-la ou trazê-la de volta do lugar aonde ela estava indo. Ela estava tentando me poupar de pelo menos essa dor.
Ele parou, observando-a atentamente. Parecia ser importante para ele que ela aceitasse totalmente a palavra dele. Kennedy desviou-se da questão.
Michael Brand — ela o lembrou.
Tillman meneou a cabeça, concordando com relutância. Aquela era a questão correta, a razão pela qual os dois estavam ali. A razão pela qual haviam aceitado conversar.
A Rebecca o viu — ele disse. — Combinou uma reunião com ele — ou ele combinou com ela, mais provavelmente. Ele ligou e pediu que ela fosse vê-lo. Num Holiday Inn a cerca de cinco minutos de caminhada da nossa casa, onde estava hospedado. Foi no mesmo dia em que ela foi embora. E Rebecca foi até lá. Encontrou-se com ele. O funcionário da recepção do hotel conhecia o Brand de vista — um cara de trinta e poucos anos, ele disse, de cabeça raspada e jeito de durão, como se fosse policial ou ex-militar. Eu mostrei ao recepcionista uma foto da Rebecca e ele se lembrou de tê-la visto com o Brand. Não sei o que aconteceu entre eles, nem o que ele disse a ela. Mas, o que quer que tenha sido, os dois saíram de lá juntos. Foram para nossa casa, eu acho, onde Rebecca começou a fazer as malas. Foi a última vez que a vi. A última vez que vi todos eles.
O tom de Tillman continuou equilibrado durante toda essa recita- ção. Kennedy não conseguia imaginar quanto esforço isso exigia dele. Se ainda estava procurando a família treze anos depois, esses eventos que ele estava descrevendo eram, coletivamente, uma ferida aberta que abrangia toda a vida dele. Ela também sabia, como Tillman deveria saber, que, mesmo se estivesse certo em cada detalhe, não significava que a família dele ainda estivesse viva nesse momento, nem que ainda estivesse viva uma hora depois de deixar a casa. Significava que Rebecca havia acreditado que estariam vivos. Ele poderia estar caçando um fantasma: quatro fantasmas, ou cinco, se contasse Brand.
E, obviamente, quando parava para pensar nisso, vi que Brand era o ponto mais fraco naquele castelo de cartas.
Não pode ser o mesmo homem — Kennedy disse. — O seu Michael Brand, o nosso Michael Brand...
Por que não?
Bom, por que deveria ser? O seu Michael Brand tem encontros insignificantes com mulheres casadas em hotéis baratos. O meu Michael Brand transita por fóruns acadêmicos on-line, aparece em seminários de história feito... — ela procurou uma comparação — um cometa antes da peste. Ele aparece quando acontece um assassinato em massa e depois evapora. Eles não têm muita coisa em comum, Tillman. E esse não pode ser um nome tão incomum. Sério, quais são as chances de o seu homem ser o nosso?
Tillman estava girando o uísque dentro do copo, mas ainda não o havia experimentado.
Tirando uma coisa ou outra? — ele perguntou calmamente. — Eu diria que há cem por cento de chance. Mesmo considerando o que você acabou de dizer, o modus operandi é o mesmo: o cara aparece, se hospeda num hotel, faz o que veio fazer e depois desaparece. Duas missões inteiramente diferentes, é claro, mas é assim que ele trabalha em ambos os casos.
Eu ainda não...
Me deixe terminar, detetive. Pois prometo que você vai gostar do meu trabalho de investigação. Eu comecei a distribuir minhas latinhas e barbantes para pegar o Michael Brand muito tempo atrás. Isso significa que tive chance de fazer algumas coisas que você ainda não fez. Criei um álbum de recortes. Meio que um banco de dados, só que bancos de dados são feitos em computadores e eu não me dou bem com computadores. São só umas anotações que tomei enquanto seguia em frente. Coisas no fundo de um envelope, por assim dizer. Um fato aqui, outro ali.
Ele se inclinou em direção à mesa e encarou-a com um olhar de pretensa sabedoria.
Não é só o nome. Há outras coisas que ele não muda. Se ele dá um endereço falso, é sempre o mesmo endereço falso. Garden Street. Ou Estrada Garden, Travessa Garden, Avenida, Alameda, Praça, o que seja, mas alguma coisa Garden, ou Jardim. Onde é que o seu Michael Brand disse que morava?
Campo del Jardin — Kennedy murmurou. — Você poderia ter tirado isso direto do arquivo.
Eu não li seu arquivo. Mas teria apostado um bom dinheiro nisso. De todo modo, tem mais. Eu encontrei um dos contatos do Brand na Rússia — desculpe, na ex-União Soviética — que me disse que o homem que eu estava caçando tinha vindo para Londres. Foi assim que descobri sua investigação, em primeiro lugar. Mas você está certa, ainda poderia ter sido um Michael Brand diferente. Então, eu procurei debaixo de mais algumas pedras e achei o endereço do hotel onde ele estaria.
O Pride Court. Em Bloomsbury.
Exatamente. Você foi dar uma olhada no quarto?
Não — Kennedy admitiu. — Não pessoalmente. Um dos meus colegas conduziu uma busca.
Um dos seus colegas encontrou alguma coisa?
Não que eu saiba.
Não. Bom, eu encontrei. Encontrei isto. — Tillman colocou a mão no bolso e de lá tirou algo pequeno e brilhante, que segurou entre o polegar e o indicador. Colocou o objeto na mesa entre eles. Era uma moeda de prata.
Kennedy apenas olhou para ela por um momento. Era como a moeda do sonho dela tornada real, e isso a inquietou muito profundamente.
Ela se recompôs com um esforço que esperava que ele não pudesse notar e estendeu a mão para pegá-la — mas então parou e inquiriu Tillman com o olhar: posso?
Claro — ele disse. — Vá em frente. Nunca tem nenhuma impressão digital nelas. Nunca tem um rastro, em lugar nenhum, depois que o Brand dá o fora. A não ser isso.
A moeda parecia velha e gasta: a única razão pela qual se sabia que era uma moeda era por ser um pedaço pequeno e achatado de metal exibindo o contorno de uma cabeça humana. Estava longe de ser circular, longe de ter um formato regular. O desenho da cabeça estava gasto a ponto de não ser possível nem saber se era de um homem ou de uma mulher, mas havia uma série de pequenas saliências ao longo da testa que poderiam ser algum tipo de ornamento, talvez uma coroa de louros.
Kennedy virou a moeda. O anverso era ainda mais difícil de distinguir: uma figura que poderia ter sido um pássaro de asas dobradas ou talvez só um ramo de trigo, e alguns símbolos que pareciam incluir um K e um P.
A anormalidade finalmente a atingiu depois que ela virou e virou a moeda várias vezes. Prata oxidava rapidamente e desenvolvia uma pátina negra que era difícil de remover. Se essa moeda era tão antiga, por que era tão brilhante? Tinha que ser algum tipo de reprodução. Mas era pesada o suficiente para ser de metal sólido.
Ele a deixou dentro do sifão da pia do banheiro — Tillman disse a ela. — Seu colega deveria ter procurado um pouco mais. O Brand — a minha versão do Brand, um ponto zero — sempre deixa uma dessas coisas para trás, em qualquer lugar onde fique por mais que um dia. Ele costumava colocá-las em lugares mais óbvios, como em cima do batente de uma porta ou atrás da cabeceira de uma cama. Ele ainda faz isso, às vezes, mas hoje em dia normalmente demonstra ter mais imaginação.
Kennedy balançou a cabeça.
Não entendo — ela murmurou. — Se ele se dá ao trabalho de informar endereços falsos, por que deixar um cartão de visita?
E por que usar sempre o mesmo nome? — Tillman contrapôs. — E essa a verdadeira questão, e não sei a resposta. Mas ele sabe. Eu costumava pensar que era um jogo comigo. Uma provocação, talvez. Como: "Eu posso fazer as coisas tão óbvias quanto eu quiser e ainda assim você não vai chegar nem perto de mim". Mas acho que ele nem sequer sabia, até uns dois anos atrás, que eu estava procurando por ele, e o Brand fez esse tipo de coisa durante todo o tempo. Então, a explicação é outra. E algo que talvez vá fazer sentido quando soubermos o que é que ele está fazendo.
E o que é que ele está fazendo? O bom senso de Kennedy reafirmou-se num último esforço de rebelião:
Não há nenhum tipo de missão que possa incluir o seqüestro da sua família treze anos atrás e o assassinato de quatro professores de história hoje.
Três professores de história. Uma conferencista de TI.
Dá no mesmo. E eu não quero cortar seu barato, Tillman, mas havia dois assassinos em Park Square. Não um. E possível que nenhum deles seja o Michael Brand.
É certeza que nenhum deles era o Michael Brand — ele disse. — Não acho que ele execute as mortes pessoalmente.
Então, o que ele faz?
Vou te contar. Mas não de graça. Eu já te contei muita coisa. Divida comigo tudo que descobrir na sua investigação — tudo o que já sabe até aqui e tudo o que ficar sabendo daqui em diante — e eu te digo o que sei.
Kennedy nem teve que pensar a respeito disso. Ela balançou a cabeça.
Não.
Por que não?
Porque sou uma detetive da polícia, Tillman, e você não é nada disso. Estou realmente agradecida por você ter aparecido quando aquele cara estava prestes a me fatiar, mas não posso discutir ativamente uma investigação com pessoas que não fazem parte da equipe do caso. E principalmente pessoas que nem fazem parte da força policial.
Tillman ficou em silêncio, estudando o rosto dela.
Tá falando sério? — perguntou, finalmente.
Estou falando sério.
Então, acho que terminamos. — Ele estendeu a mão para pegar a moeda. Kennedy a manteve consigo.
Isto é uma evidência — ela disse. — É relevante para uma investigação de assassinato e você não tem nenhum direito de ficar com ela.
Me dê a moeda, detetive. Isto aqui não é uma via de mão única. Eu vim aqui com uma oferta, você recusou. Voltamos para o ponto onde estávamos.
Ela abriu a bolsa e jogou a moeda dentro.
Kennedy...
Não. — Ela o cortou. — Para fazer o que é certo eu deveria te intimar como testemunha, senão como suspeito. Não vou fazer isso porque te devo uma e porque você já passou por problemas suficientes, e eu me sentiria mal em acrescentar mais alguns. Mas você não pode ficar com a moeda. Tillman, existe uma linha. Eu estou de um lado dela e você está do outro. Eu tenho o direito de caçar criminosos. E o meu trabalho. Você não. Então, o que fez com aquele homem — o que estava prestes a me esfaquear — faz de você um criminoso também.
Tillman fez um gesto de impaciência.
Você está falando de detalhes técnicos — disse. — Achei que fosse alguém capaz de enxergar além de todo esse lixo.
Não, eu não sou. Não sou mesmo. — Ela considerou que fosse importante explicar a ele, embora fosse tão óbvio e básico para ela que nem precisava ser dito. — Tem coisas ruins que eu posso fazer e não perder nem um segundo de sono por causa disso, mas essa não é uma delas. Não posso compartilhar informações com você, Tillman. Não posso fazer isso e continuar sendo policial. Isso me faria ultrapassar aquela linha. Uma linha que ainda importa para mim.
Importava e muito, ela percebia agora. Sua voz estava tremendo. Falar sobre essas coisas trouxera de volta à sua mente o complexo de emoções e ansiedades que se enroscavam em torno do que ela havia feito a Marcus Dell. O que Tillman fizera ao assassino de Harper era diferente — e o que o pai dela havia feito, tantos anos atrás, era ainda mais diferente. Mas de alguma forma as diferenças pareciam um tanto tênues agora.
Ela levantou, e Tillman recolheu a mão.
Tá bom — ele disse. — Fique com a moeda. Tenho outras. Mas você vai achar bem difícil explicar onde a conseguiu, e mais difícil ainda registrá-la como evidência. Lamento que não possamos fazer negócios, sargento Kennedy. Se mudar de idéia, bom, você tem meu número no seu celular agora, não é? Mas não me telefone a não ser que tenha decidido compartilhar o que sabe. Essa foi sua última amostra grátis.
A expressão nos olhos dele enquanto falava foi o que permaneceu na mente dela. Permaneceu porque estava em conflito com as palavras dele. Sua fala era a de um cara durão saído de um filme. Mas seu aspecto era o de um homem pendurado na borda de um alto edifício enquanto os dedos iam perdendo a força, um por um, numa contagem regressiva para o desastre.
Ele foi embora, deixando o uísque intocado.
Kennedy drenou o dela.
Em casa, depois de agradecer a Izzy e de colocar o pai para dormir, Kennedy voltou ao arquivo. Ela garimpou nas profundezas turvas do caso por cerca de uma hora sem descobrir nem uma única pepita de ouro.
Mas havia coisas que ela poderia caçar, ainda assim: três delas, no total.
Havia as últimas palavras da dra. Opie, ditas enquanto ela morria. Kennedy as mencionara em seu relatório, mas elas não pareciam levar a lugar algum e a referência havia sido ignorada. Era difícil enxergar o que é que alguém poderia fazer com elas.
Havia a foto que ela encontrara no escritório de Barlow. A imagem de um edifício em ruínas num lugar indistinto, anônimo, com algumas linhas de caracteres sem significado no verso. Barlow escondera a foto; o assassino dele, ou talvez outra pessoa, havia vasculhado tanto a casa como o escritório do professor, mas não a encontrara. Ou então — não era uma alternativa tão boa, mas precisava ser considerada — ele a encontrara e a pusera de volta porque era irrelevante.
E havia a faca.
Kennedy levou um longo tempo para conseguir dormir. Continuava pensando nos olhos assombrados de Tillman no momento antes de ele ir embora, e na jornada dele: uma peregrinação de treze anos em meio a uma floresta que não poderia de forma alguma levá-lo a uma terra do leite e do mel. Em casos de abdução, a maior parte dos detetives contava blocos de três dias. Os primeiros três dias eram 50% contra 50%: a suposta vítima tinha tanta chance de aparecer viva como de aparecer morta. Cada três dias a mais depois disso dobravam as chances de estar morta.
Tillman acreditava mesmo nessa missão maluca ou a estava usando para se distrair da quase certeza de que sua esposa e filhos estavam mortos?
Qualquer que fosse o caso, ela suspeitava, era apenas a caçada que o mantinha vivo. Como um tubarão, ele morreria se um dia se permitisse ficar parado.
A primeira reunião da manhã foi criada para testar a alma dos homens. A alma das mulheres também, aliás. Summerhill a começou fechando inteiramente uma linha de investigação.
Como vocês sabem — ele disse —, recolhemos todos os computadores do professor Barlow — os dois da faculdade e o da casa dele — para exame. Nós os entregamos à equipe de suporte forense em TI para ver o que conseguem encontrar, mas o resultado foi zero. Não há absolutamente nada nas máquinas. Nenhum arquivo, nenhum e-mail, nem foto, nem nada no histórico de acesso à Internet. Alguém apagou tudo o que havia ali e instalou um sistema operacional novo. Em todos os três computadores. Barlow tinha dois discos rígidos externos e eles estão vazios, também. E meia dúzia de CDs graváveis que foram descobertos totalmente vazios, nem mesmo formatados. Só tinha isso. Estamos examinando os registros em papel agora, mas não parece haver neles nada que seja novo ou relevante.
Kennedy pensou nos arrombamentos ao escritório e ao chalé de Barlow. Talvez esse tivesse sido o objetivo deles: não uma expedição em busca de algo, mas uma limpeza geral. Se os cães de caça da TI, que eram capazes não só de extrair sangue de pedra, mas também de lhe perguntar que tipo sangüíneo você queria, tinham voltado de mãos vazias, então aquela fora uma limpeza profissional. A maior parte das pessoas acreditava que apertar a tecla Delete acabava com um arquivo, quando, na verdade, isso só o mandava para a lixeira virtual do computador. Quem quer que tivesse matado Barlow fizera um serviço muito mais completo.
E quanto às outras vítimas? — ela perguntou, — Nós requisitamos os arquivos e documentos delas também? Quero dizer, se presumirmos que o motivo está de alguma forma ligado ao projeto Rum do Barlow...
Combes estava suspirando e balançando a cabeça, mas foi Summerhill quem a interrompeu:
Nós estamos enfaticamente não presumindo isso, Sargento — disse ele. — Pelo menos, se o projeto ofereceu um motivo, nosso melhor palpite é de que foi de forma indireta. O projeto foi o que reuniu as vítimas — embora, ainda assim, pareça ter havido uma relação prévia entre elas por meio do fórum dos Ravellers. Uma vez reunida, a equipe do Barlow se meteu em algo que atraiu a atenção de um grupo muito profissional e muito organizado de assassinos. Possivelmente, compraram algum documento ou artefato no mercado negro e acidentalmente pisaram no calo de algum cartel criminoso do qual compraram. Há inúmeras situações que poderiam explicar esse padrão de mortes, e muito poucas se apoiam diretamente no conteúdo da pesquisa do Barlow. As pessoas normalmente não se tornam vítimas de assassinato por causa de um desentendimento acadêmico.
Mas se ao menos soubéssemos...
Não vamos descartar nada disso. — O tom de Summerhill foi mais afiado dessa vez: pare de remar contra a maré, ele estava dizendo, quando deveria ser grata por ainda estar no barco. — É claro que procuramos nos computadores das outras vítimas. Particularmente no da Opie, já que todos os arquivos dela tinham cópias de segurança no servidor da faculdade, e fomos capazes de ver até os mais antigos. Não encontramos neles nenhuma correspondência com o Barlow, nem referências ao nome dele. Também não conseguimos localizar nenhum arquivo ou pasta que fizesse referência ao Códice do Rum, nem ao projeto, nem a ninguém ligado a ele. Obviamente, há outros parâmetros de busca que poderiam ser aplicados, mas não queríamos nos aprofundar demais nesse ponto. Se fizéssemos isso, uma estimativa modesta, seriam milhares de páginas de material, dezenas de milhares de e-mails, possivelmente milhões de palavras. Até encontrarmos uma pista que sirva como bússola, tentar ler cada uma das palavras não parece levar a lugar nenhum.
Summerhill desviou o olhar de Kennedy e encarou Combes.
Vamos ouvir o que você andou fazendo — ele disse. — Josh, atualize a gente.
Combes contou-lhes tudo o que obtivera na pesquisa sobre o evasivo Michael Brand. Ele interrogara as maiores redes de hotéis no Reino Unido e na Espanha para ver se o homem havia se hospedado em algum lugar usando aquele nome. Também havia enviado uma descrição verbal e um retrato falado, ambos fornecidos pelo funcionário da recepção do Pride Court: um homem de meia-idade, careca, de estatura superior à média, com olhos castanhos, pele pálida e sotaque estrangeiro, embora fosse difícil definir de onde.
Não havia muito com que trabalhar e não houvera nenhum retorno até o momento. Enquanto isso, Combes também solicitara pesquisas nos bancos de dados operacionais de linhas aéreas, férreas e marítimas, para ver se conseguia mapear os movimentos de Brand antes da chegada dele ao Pride Court, e depois. Uma pesquisa paralela nos registros da polícia e do sistema prisional já havia dado um resultado negativo. Não havia nenhum Michael Brand em nenhum ponto do universo conhecido que tivesse ficha criminal e a possibilidade de combinar com a idade e a descrição do homem que eles procuravam.
Combes estava agora analisando os outros membros do fórum dos Ravellers para descobrir se algum deles já conhecera Brand ou trocara alguma correspondência particular com ele.
Stanwick e McAliskey haviam tomado depoimentos corroborativos dos alunos que testemunharam a morte de Sarah Opie. Eles também haviam examinado gravações de câmeras de circuito interno do sistema de segurança da faculdade, esperando encontrar algum vídeo dos dois assassinos ou no laboratório de informática ou caminhando até ele. Não tiveram sorte. As câmeras salvavam o material num disco, e o disco relevante havia desenvolvido um erro de formatação, o que significava que não podia ser acessado. Encontraram um técnico que talvez fosse capaz de extrair alguma informação útil do material, mas o processo estava se mostrando lento. Enquanto isso, haviam espalhado kits com imagens de identificação tanto para outras forças regionais como para o programa Crimewatch, da BBC, pedindo a quem quer que tivesse visto os dois homens que telefonasse para uma linha de apoio dedicada somente a isso. Meia dúzia de policiais de uniforme estavam recebendo as centenas de telefonemas que já estavam chegando.
Cummings havia assumido a tarefa de investigar a morte de Samir Devani, a única que ainda poderia ser interpretada como um acidente. Desmontando e examinando os componentes do computador fatal, ele fora capaz de mais ou menos desqualificar essa idéia. O cabo de força havia se soltado dentro da máquina e então, de alguma forma, se dobrado até encostar no invólucro do computador. O ângulo era agudo, e o fio precisara ser introduzido no dissipador térmico da placa-mãe para ficar no lugar, de forma que, quando o computador foi ligado na tomada de parede, o belo invólucro de metal em estilo retrô ganhara vida. Agora, Cummings estava tentando determinar quem tivera acesso não supervisionado à máquina das 16 horas entre a última vez que fora usada até o fatídico momento em que aquele cabo fora ligado.
Summerhill ouviu todos eles, interpolando perguntas e sugestões. Manteve um ritmo rápido, senso de urgência e propósito. Então, pausou quando chegou a Kennedy.
Algo a relatar, sargento Kennedy? — ele perguntou com uma brandura suspeita. Nenhuma tarefa fora passada para ela, e ela só estava fora do hospital havia um dia. Talvez aquele lampejo no olhar do detetive-chefe fosse alimentado pela expectativa de um "não".
Quero continuar a investigação da arma do crime — Kennedy disse. — Quero dizer, a outra arma do crime. Temos toda essa informação sobre o revólver, mas nada sobre a faca que matou o Harper. Eu acho que vale...
Lâmina com sete centímetros de largura — Combes disse. — Muito afiada. Provavelmente curva na ponta. Há algo mais que você queira saber? — Ele falou por cima do ombro, sem olhar para ela.
Acho que vale a pena investigar — Kennedy continuou, ainda falando com Summerhill. — Esse Michael Brand tinha sotaque estrangeiro, de acordo com o depoimento da testemunha, e em Luton o assassino com o revólver falou comigo no que tenho certeza de que era uma língua estrangeira. Talvez os três homens sejam da mesma região — do mesmo país. A faca tinha um design muito exótico. É possível que seja específica de um local. Se for, podemos acabar obtendo dados suficientes para pedir auxílio a outra força.
Summerhill não pareceu impressionado, mas não descartou a idéia de imediato.
Você viu a faca com clareza suficiente? — perguntou. — Mesmo? Com clareza suficiente para reconhecê-la se a visse de novo?
Kennedy indicou com um aceno de cabeça o cavalete no canto da sala, com folhas de papel e algumas canetas-marcador deixadas após alguma outra reunião.
Posso?
Vá em frente.
Ela cruzou o recinto até o cavalete, pegou uma caneta e começou a desenhar o que havia visto. Atrás dela, alguém resmungou:
Já consegue ver o que é?
Mais alguém riu. Ela os ignorou, tentando lembrar o formato exato da lâmina estranha e feia. Tinha o mesmo comprimento do cabo de uma faca, mas era mais larga e assimétrica, com uma saliência de um dos lados com aspecto de metade da cabeça de um cogumelo. Parecia desajeitada e sem propósito, mas era afiada como uma navalha e tinha acabado com Chris Harper de um só golpe.
Ela colocou a caneta de volta no lugar e virou-se para encarar o resto da equipe.
Era assim — disse, voltando à sua cadeira.
Todos olharam para o desenho.
Tá — McAliskey comentou laconicamente. — É bem característica.
Poderia ser uma espátula para alisar reboco — Cummings observou. — Ou para cortar bolo. Mas não parece muito com uma arma de assassinato.
Eu gostaria de falar com alguém do Arsenal Real — Kennedy disse a Summerhill. — A não ser que você precise de mim para alguma outra tarefa. Também gostaria de voltar a verificar os arquivos do fórum dos Ravellers e ver se existe alguma informação lá a respeito do que o Barlow estava tentando fazer com esse projeto Rum dele.
Não tem — disse Combes. —Já reviramos esse negócio. O Barlow não publicou nada no fórum, exceto aquele primeiro pedido de voluntários. Ninguém conseguiu saber para o que é que ele queria voluntários a não ser as pessoas que ele escolheu para a equipe, e, opa, a gente não tem mais nenhuma delas, né?
Já chega, sargento Combes — Summerhill rosnou. — Tá. Tudo bem. Faça isso, Kennedy. O endereço do site e os códigos de acesso estão no arquivo do caso.
Eu também gostaria de falar com a Ros Barlow outra vez.
A irmã do professor? Por quê?
Porque o professor falou com ela sobre Michael Brand, e agora o Michael Brand parece ser fundamental para o caso — quer você pense nele como testemunha ou como suspeito. — Enquanto fazia o pedido, ela estava desconfortavelmente consciente de que era só uma cortina de fumaça. Depois de falar com Tillman, estava definitivamente pensando em Brand como o vilão do enredo. Precisava verificar isso. — Além disso, se Barlow não disse mais nada sobre o projeto no fórum, pelo menos vale a pena perguntar se ele falava sobre isso em casa.
Summerhill meneou a cabeça, assentindo, mas olhou para Combes.
Cuide disso, Josh — ele disse, e Combes concordou, rabiscando uma anotação para si mesmo.
Ela já me conhece — Kennedy contrapôs, tentando não perder a calma.
Não vamos agir de forma territorial, sargento Kennedy. — Summerhill juntou as mãos como se estivesse prestes a conduzir o grupo numa prece, depois as abriu outra vez, palmas voltadas para cima. — Me liguem se descobrirem alguma coisa. Do contrário, anotações do caso na minha mesa até as 18 horas. O que estão esperando, cavalheiros? Títulos oficiais?
Eles juntaram suas coisas e se espalharam. Então, Summerhill ia mantê-la por perto, Kennedy refletiu enquanto caminhava de volta à sala comum. Ou tentaria, pelo menos. Mas ele não podia proibi-la de sair do prédio. Só o que ele podia fazer era entregar todas aquelas pistas promissoras a outras pessoas.
O que significava simplesmente que ela teria que arranjar outras pistas.
Seu telefonema para o Arsenal Real, ou Museu Nacional de Armas e Armaduras do Reino Unido, foi atendido por um estagiário, que a deixou na espera por um longo tempo e depois a passou para uma srta. Carol Savundra — a gerente de aquisições das coleções do museu. Savundra respondeu mecanicamente. Seu tom indicava que ela tinha uma lista de tarefas cheia, um pavio curto e tempo e paciência zero para pedidos incomuns que chegavam via canais não ortodoxos. Kennedy não tinha grandes esperanças, mas descreveu a faca mesmo assim.
Nada me vem à mente — Savundra disse.
Bom, posso passar via fax um esboço da lâmina? Pode ser que acabe se lembrando de algo. Ou a senhorita poderia fazer a imagem circular entre seus colegas.
Claro — respondeu Savundra, mas não ofereceu seu número de fax até que Kennedy o pediu e foi vaga em informar quando poderia entrar em contato com ela. — Para dizer a verdade, antigüidades são uma parte cada vez menor do que fazemos aqui.
Essa faca foi usada em um assassinato recente.
Sério? Bom, vá em frente, mande para mim. Talvez quando eu a vir tenha um lampejo de inspiração.
Kennedy desenhou a faca novamente, em uma folha A4, e a enviou por fax.
Em seguida ela tentou a fábrica Sheffield Knives, onde falou com um sr. Lapoterre, o principal projetista do lugar. Ele foi muito mais amigável, mas nunca ouvira falar de nada remotamente parecido com o que Kennedy descreveu. Ele ligou para ela assim que recebeu o fax, mas apenas para confirmar que não tinha idéia do que fosse.
Fazemos muitas facas com lâminas assimétricas — disse —, mas essa é nova para mim.
Não faz o senhor se lembrar de nenhuma faca produzida em um lugar específico do mundo?
Não me faz lembrar de coisa nenhuma. É como... Se você encontrasse o esqueleto de um pássaro, saberia que é um pássaro porque os ossos estariam nos lugares certos em relação aos ossos de um pássaro. Mas não saberia que pássaro é. É o que digo em relação a essa faca. Não é nada. Não se encaixa em nenhuma categoria para a qual eu possa dar um nome. Sinto muito.
Kennedy esperava coisa melhor da Guilda Britânica dos Colecionadores de Facas e da CIA, que incluía aquisição de armas brancas para o Exército Americano em sua lista de realizações on-line. Mas nenhum dos dois pôde ajudar.
Desencorajada, ela se voltou para a outra tarefa do dia: as velhas postagens no fórum dos Ravellers, que outra pessoa havia examinado antes dela sem sucesso. Kennedy fez o login no fórum e usou o código de acesso para entrar nos diretórios arquivados. Imediatamente percebeu o tamanho do trabalho e entendeu que — por mais categórico que Combes tivesse soado — ele não havia examinado o material. Havia sete mil páginas dele, ou melhor, sete mil postagens, cada uma das quais se desenrolava até o último comentário. Certamente havia dezenas de milhares de comentários. Ler apenas os títulos provavelmente seria trabalho para uns dois meses.
Talvez ela pudesse selecionar o que leria. O site não tinha um mecanismo de busca, mas ela sabia como fazer o mecanismo do próprio departamento, feito sob encomenda pelos CDFs do Ministério da Defesa, realizar uma busca num domínio de Internet específico. O nome que Barlow usara no fórum estava escrito no arquivo sob o código de acesso: barlow prcl, o sobrenome e as iniciais da universidade. Evidentemente, os Ravellers não tinham tantos membros a ponto de precisarem usar nomes enigmáticos e pós-modernos em seus Ids.
Uma primeira busca mostrou a ela que Barlow havia publicado comentários em 218 postagens, 71 das quais ele mesmo começara. Ela dirigiu sua atenção a estas, em especial.
Imediatamente, esbarrou no mesmo problema do qual Harper havia reclamado. Os cabeçalhos, que em teoria deveriam demonstrar o tema de cada postagem, eram tão arcanos que na maior parte dos casos não davam nem a mais vaga idéia de seu possível conteúdo.
AWMC Catal-Huyuk omitir/revisar?
Distribuição irregular de sigma medial por período estatística 905
Greensmith 2B não vai
Combinações propostas na subpasta para o Códice Branche em M1 102
Então clicou em algumas postagens aleatoriamente. Nas mais antigas, como ela poderia ter esperado, os Manuscritos do Mar Morto eram mencionados várias vezes. Barlow comprara brigas com interpretações já existentes, propunha suas próprias leituras alternativas, era vaiado ou aplaudido ou visto com condescendência.
Depois as menções aos Manuscritos diminuíam gradualmente e outras coisas iam surgindo, como foco ainda na tradução e na interpretação do texto, mas o tema agora era, na maior parte, o Novo Testamento — fragmentos avulsos dos evangelhos identificados por séries de letras e números. As opiniões de Barlow pareciam ser freqüentemente controversas, mas Kennedy não conseguia entender por quê, pois os argumentos eram obscuros demais e as piadas internas, incompreensíveis.
Finalmente, encontrou a postagem que estava procurando. O cabeçalho, como Opie já havia dito a ela, era: "Alguém está a fim de dar uma nova olhada no Rum?". Sob esse cabeçalho, um punhado de frases concisas: Estou pensando em analisar o Códice do Rum sob um novo ângulo. Por diversão e para um livro que estou escrevendo, mas sem verba. Trabalho duro, decodificação de dados infinita, possível fama e fortuna. Alguém interessado?
A postagem provocou uma curta corrente de respostas, a maior parte delas agressiva ou zombeteira. Por que voltar ao Rum? E sem verba? Barlow não podia estar falando sério. Não havia nada de novo para encontrar ali, e o códice provavelmente nem era uma tradução, só uma mistura de fontes. As respostas positivas vinham de hurt ldm e devani [campo em branco]. Nada de Sarah Opie. Barlow prometia entrar em contato com seus colaboradores via telefone, e a postagem ia enfraquecendo depois de mais algumas provocações nada simpáticas de outros membros do fórum. Depois, muito mais tarde — quase dois anos depois, de acordo com o cabeçalho, e apenas três meses antes da morte de Barlow —, outra resposta aparecia, de brand uas. Estou muito feliz pelo que vocês conseguiram até aqui. Adoraria conversar e quem sabe ajudar em alguma parte mais difícil.
Depois disso, nada.
Depois disso, quedas fatais de escadarias escuras, computadores eletrificados, atropelamentos com fuga e adagas desembainhadas à luz do dia.
Então, como Barlow respondera a Brand?, Kennedy se perguntou. Ele não respondera à própria postagem, nem mesmo para pedir um número de contato. Talvez ele tivesse acessado o perfil de Brand e pegado a informação de contato dele ali. Ela tentou e descobriu que não havia nada. O perfil de Brand era apenas um nome, nada mais.
Uas, ela descobriu num registro do local, significava Universidade de Astúrias, Espanha. Mas, se Barlow tivesse seguido aquela rota, teria descoberto rapidamente que Brand era uma fraude. Presumivelmente, confiando que ninguém estaria em um fórum de história exceto historiadores, ele não se dera ao trabalho de fazer isso.
Uma mensagem particular, então. Mensagens particulares tinham um código de acesso diferente, mas o moderador do fórum dos Ravellers havia fornecido isso a eles, também. Kennedy abriu o arquivo numa janela diferente e descobriu que os dados eram armazenados para cada ID de membro. Sob o nome de Barlow havia duas dúzias de mensagens.
Havia uma mensagem para Sarah Opie, um pouco depois da troca de correspondência com os outros três membros da equipe: Sarah, lembra-se da conversa que tivemos no jantar no Founder's? Você acha que seria possível fazer o que eu pedi, usando seu próprio sistema ou suas máquinas de trabalho? Me ligue, vamos conversar.
E uma mensagem para Michael Brand, com data do mesmo dia do comentário dele no fórum: Sr. Brand, o senhor me intriga. Sei que Devani falou com o senhor no FBF, mas também sei que ele não lhe contou nada. Como o senhor soube de nós? Por favor, não responda pelo fórum. Eu prefiro refrear a especulação a respeito disso em lugar de inflamá-la. Meu ramal é 3214.
Nada mais depois disso. Nada que parecesse de forma alguma se relacionar ao projeto em andamento. Num impulso, ela deu uma busca pelas mensagens particulares dos outros Ravellers para ver se alguém mencionava o Códice do Rum lá. Provavelmente ela estava numa brecha técnica do mandado de busca, mas isso só importaria se encontrasse alguma coisa, e ela não encontrou. O Rum não era um grande tópico. Ninguém estava fofocando sobre o grande projeto de Barlow nem especulando sobre para que seria. Ninguém parecia dar a mínima. Dos cabeçalhos de postagens que ela conseguiu entender, a maioria parecia relacionada a dinheiro — auxílio para pesquisas, orçamento de departamentos, cobertura de despesas diárias, bolsas de estudo, editais para obtenção de verba pública, distribuição de capital, moedas encontradas ao acaso debaixo de almofadas de sofá. Ninguém tinha o suficiente e ninguém sabia de onde o próximo pagamento viria.
Não estava fácil para ninguém, exceto para Stuart Barlow e seu pequeno bando de transgressores: eles faziam aquilo por diversão. E estavam mortos.
O dia passou nessa busca quase sem direção, enfadonhamente lento e inerte. Uma das quebras de rotina ocorreu quando Kennedy foi até a mesa de Harper para livrá-la de qualquer documento relativo ao caso que ainda pudesse estar lá. Debaixo de uma pilha de bobagens intradepartamentais, ela encontrou os formulários de pedidos de informações à Interpol que ele preenchera a respeito de Michael Brand. Eram os originais, guardados depois de terem sido enviados por fax. Olhando para eles, Kennedy percebeu que Harper havia cometido um erro elementar. Pedira para receber informações apenas a respeito de casos aos quais Michael Brand fora vinculado como suspeito ou listado como testemunha em potencial. Havia um imenso território entre essas duas posições no qual o nome de Brand poderia aparecer no depoimento de outra pessoa, e ela queria essa lista também. Mandou uma nova requisição — o mesmo formulário com mais alguns campos selecionados. Por ser o mesmo formulário, ela não precisou passá-lo por Summerhill para obter autorização, mas acrescentou sua própria assinatura e identificação ao pé da página e — com uma breve pontada de tristeza — riscou a de Harper.
Ela fez mais algumas ligações relacionadas à faca, sem obter mais nada, e saiu da Divisão quando o relógio anunciou as 5 horas da tarde — a primeira vez, em sete anos, que fazia isso.
Izzy ficou impressionada por vê-la aparecer no apartamento antes das 6 horas: quase indignada.
Você nunca volta tão cedo — ela disse, juntando suas coisas. — Que foi, ninguém cometeu crimes hoje?
Sou do departamento de Crimes Sérios — Kennedy respondeu.
Houve crimes hoje, mas só crimes engraçados.
Como sempre, elas foram até a porta juntas.
Bom, ele está de mau humor — Izzy relatou. — Estava chorando mais cedo e ouvindo aquela porcaria de música horrorosa, pleim-pleim-pleim. Estava falando da sua mãe.
Kennedy ficou surpresa e desconcertada.
O que ele disse sobre ela?
Disse que sentia muito. "Sinto muito, Caroline. Sinto muito por ter magoado você." Coisas assim.
Kennedy teria dito que não era mais capaz de sentir nada pelo pai agora além daquela mistura de afeição dolorida e ressentimento semi-curado, à qual ela estava tão acostumada. Mas ouvir isso doeu: acertou em cheio todas aquelas muitas coisas que faziam com que a ferida parecesse estar em carne viva. Ela segurou a respiração, e Izzy percebeu que, de alguma forma, dissera uma grande asneira.
O que foi? — perguntou, aflita. — Sinto muito, Heather. O que eu disse?
Kennedy balançou a cabeça.
Estou bem — respondeu. — E só que... — Mas havia coisas demais a explicar desde o início. — O nome da minha mãe era Janet - murmurou.
É? Então, quem era essa Caroline? Alguém com quem ele teve um caso?
Não. Só uma mulher que ele matou. Boa noite, Izzy.
Ela fechou a porta.
Não houve reunião no dia seguinte. Summerhill estava no prédio, mas ficou fechado em sua sala, e os outros detetives se espalharam logo cedo e sem conferenciar. Kennedy foi deixada ali sem um propósito, na sala comum, podendo apenas abordar seus especialistas em facas novamente — sem nenhuma alegria.
Nada havia chegado da Interpol, mas ela podia acessar os arquivos on-line deles e ver se havia algo entre os casos mais antigos, encerrados, nos quais nenhuma autorização interdepartamental seria necessária.
O serviço de arquivos digitais da Interpol apresentava uma interface absurdamente complicada, que exigia do usuário o preenchimento de toda uma profusão de parâmetros informativos freqüentemente irrelevantes antes que pudesse começar a usar a busca do sistema. Mas Kennedy tinha muito tempo disponível e sentia-se perversamente disposta a talhar um caminho entre aquela floresta sem vida para chegar até a seiva em seu interior.
E havia mesmo alguma seiva quando ela chegou lá. Diversos Michael Brands estiveram envolvidos em furtos e estupros, mas as idades e descrições deles estavam a anos-luz de distância do Michael Brand pelo qual ela estava procurando. Contudo, dez anos atrás, no norte do Estado de Nova York, e, depois, sete anos atrás, na Nova Zelândia, South Island, houvera casos de pessoas desaparecidas que tropeçaram no nome de Michael Brand.
Kennedy extraiu tudo o que estava disponível em ambos os casos e ficou surpresa e atemorizada com o que descobriu.
O caso de Nova York: uma mulher, Tamara Kelly, e seus três filhos foram dados como desaparecidos pelo marido da mulher, Arthur Shawcross, um representante de vendas de uma empresa de artigos de escritório. Ele voltara para casa após uma semana na estrada para encontrar a casa vazia. A esposa e as crianças haviam sumido. No dia anterior, a casa recebera um telefonema de um número que Shawcross não reconhecera. Descobrira-se depois que pertencia a Michael Brand, mas a investigação subsequente falhou em encontrar o homem.
Nova Zelândia: Erwin Gaskell, carpinteiro e marceneiro, passara dois dias longe de casa, visitando a mãe, que se recuperava de uma cirurgia no coração. Ele voltara para casa e o que encontrou foi o lugar queimado, reduzido a uma carcaça. Sua esposa, Salomé, e seus três filhos haviam desaparecido. Por causa do fogo, e da suspeita de incêndio criminoso, residentes de um hotel nas redondezas haviam sido interrogados. Um deles, Michael Brand, não fora interrogado porque nunca retornara a seu quarto para apanhar as poucas coisas que deixara ali. Ele fora visto falando com Salomé Gaskell no dia em que ela desaparecera — ou, pelo menos, alguém cuja descrição combinava com a dele fora visto. Era uma descrição bem circunstancial: a cabeça raspada e os olhos escuros ficaram na mente das pessoas.
Mulher e três filhos, todas as vezes. Que diabo isso significava? Por um lado, que Tillman poderia ser menos louco do que aparentava. Por outro, que Michael Brand estava no negócio de sumir com mulheres e crianças numa escala até então insuspeitada.
Escravidão sexual? Mas por que procurar famílias inteiras, em cada caso? E por que sempre famílias com essa configuração exata? E mais: por que as mulheres concordariam em encontrar-se com Brand e conversar com ele, como Rebecca Tillman fizera, e parecia que cada uma das outras mulheres fizera também? Que tipo de negócio ele estaria propondo a elas?
Seria um assassino serial? Brand seria um psicopata recriando algum momento primordial de seu próprio passado? Isso soava ridículo considerando que fosse o mesmo Brand que era capaz de convocar uma falange de assassinos para eliminar Stuart Barlow e sua equipe azarada.
A essa altura, momentaneamente sem idéias e sofrendo terrivelmente com o tédio e o isolamento, Kennedy simplesmente começou a improvisar de forma louca. Repetiu sua jornada de telefonemas a respeito da faca, ligando para museus e arquivos e lendo para eles as séries de letras e números da fotografia cuidadosamente escondida de Barlow.
P52
P75
NH II-1, III-1, IV-1
Eg2
B66, 75
C45
Ninguém admitiu ter nenhum conhecimento do que elas poderiam significar.
Kennedy mudou de tática, usando mecanismos de busca on-line. Mas foi inútil, porque linhas alfanuméricas aleatórias apareciam em toda parte — nos números de série de produtos e componentes, nas placas de identificação de carros e trens, nos números dos modelos de tudo o que existia sob o sol. Simplesmente não havia meio viável de restringir a busca.
Ela decidiu, enquanto estava nessa tarefa, verificar as anotações sobre o caso de todos os outros membros de sua equipe no banco de dados do departamento para ver se algo havia sido acrescentado à soma total de seu conhecimento. Seu login não funcionou.
Olhou à sua volta. Nenhum dos outros oficiais do caso havia voltado ainda, mas McAliskey deixara seu computador ligado e com login operante — uma violação disciplinar, se alguém tivesse se importado em reportá-la. Kennedy foi até a mesa dele e abriu o arquivo lá.
O que viu a fez xingar diante da tela, os olhos arregalados de espanto.
Ela não era dada a rompantes tempestuosos, mas sua caminhada da sala comum até o escritório do detetive-chefe poderia com justiça ser considerada uma rajada de vento. Rawl pareceu espantada em vê-la.
Ele... ele não está recebendo ning... — começou ela.
Vou ser rápida — Kennedy disse, já passando além dela.
Summerhill estava ao telefone. Ele ergueu o olhar quando ela entrou, mas não teve nenhuma outra reação.
Sim — disse. — Sim, senhor. Estou ciente disso. Vamos fazer nosso melhor. Obrigado. Para o senhor também.
Ele colocou o telefone no gancho e olhou para ela do outro lado da mesa, erguendo as sobrancelhas para convidá-la a falar.
Você me tirou do arquivo do caso — ela disse.
Não exatamente.
Minha senha não funciona. O que conta como "exatamente"?
É um lapso administrativo, Heather. Nada mais. Quando você é o assunto de um comitê de inquérito, todos os seus arquivos operacionais têm que ser inspecionados pelo departamento de RH e pelo IPCC. Isso inevitavelmente significa que sua segurança fica comprometida. Todas as senhas são desativadas e todos os códigos de acesso, revistos. Você vai receber uma nova senha em um ou dois dias.
E, enquanto isso, você me transforma na moça que traz o cafezinho.
Não sei do que você...
Keneddy jogou o impresso sobre a mesa dele, que olhou para aquilo por um instante antes de perceber o que era: uma página das anotações de Combes do dia anterior, acrescentadas ao arquivo no horário marcado de 19h30.
O Combes falou com a Ros Barlow ontem à tarde e ela o mandou à merda — Kennedy resumiu.
Summerhill assentiu.
Sim. Bom. Sua sugestão de perguntar a ela se o irmão já havia falado sobre o trabalho dele era algo que valia a pena seguir. Mas ela provou ser menos do que cooperativa.
Jimmy, ela pediu para falar comigo.
Estou ciente disso.
Ela se recusou a falar com o Combes e pediu especificamente para falar comigo. Quando você estava pensando em me contar isso?
O olhar dele cruzou com o dela sem pedir desculpas.
Se você lesse o resto das anotações do sargento Combes, saberia que ele considerou que Rosalind Barlow não tinha mais nada a acrescentar ao depoimento que já tinha dado. Ele não recomendou uma nova visita.
Que se foda isso! — Kennedy explodiu. — Ela pediu para falar comigo. Você acha que isso significa que ela não tinha nada a dizer ou acha que significa que considerou o Combes uma caricatura de machinho arrogante com voz de taquara rachada e preferiu falar com um ser humano?
Kennedy, acho melhor moderar seu linguajar. Não estou inclinado a deixar passar em branco acessos de fúria contra colegas policiais.
Kennedy encolheu os ombros, impotente.
Pelo amor de Deus — ela disse, a voz extenuada. — Eu estou neste caso ou estou de folga? Se você se recusa a me dar alguma coisa substancial para fazer, Jimmy, qual é a razão de eu estar aqui?
Summerhill pareceu aguçar os ouvidos quando ela disse isso, como se estivesse esperando por isso havia muito tempo e ficasse feliz porque finalmente acontecera.
Está solicitando uma transferência? — perguntou. Ele empurrou a cadeira para longe da mesa em direção ao armário atrás dela, no qual Kennedy sabia conter cópias de toda a papelada da Divisão, incluindo o formulário PD-012 que ela aconselhara Harper a preencher caso ele não quisesse trabalhar com ela. Oficial solicitando transferência em razão de fatores pessoais estarem afetando a efetividade do trabalho.
Ela riu.
Não — disse, e a mão de Summerhill, a meio caminho, caiu no colo dele. — Lamento te desapontar, Jimmy. Não vou pedir transferência. Achei que já tínhamos discutido isso e achei que tínhamos nos entendido, mas foi só ingenuidade minha, não foi? Não, continue aí. E, enquanto isso, peça a Rawl que me dê uma senha temporária. Você pode me manter na rédea curta se quiser, mas não tente me esconder nada.
Kennedy ficou de pé, e ele disparou contra ela um olhar cheio de suspeita e desagrado.
Você não vai falar com a Ros Barlow, Heather — disse. — Essa não é uma forma produtiva de usar seu tempo, e a hostilidade dela contra nosso escritório e esta investigação faz dela uma testemunha não confiável.
Eu acho que faz dela uma alma gêmea, mas você é quem manda.
Tente se lembrar disso.
Se eu esquecer, tenho certeza de que você vai me lembrar.
Ela saiu rapidamente. Assim, caso a vontade que sentia de socar alguma coisa superasse seu autocontrole, a cara de Summerhill não pareceria um alvo tão tentador.
De volta à sua mesa, ela pensou em tudo aquilo.
Summerhill estava determinado a mantê-la à margem das coisas. Provavelmente, a seu próprio modo, ele se sentia absolutamente à vontade para fazê-lo: ela tivera uma chance com o caso e provara, em Park Square, que não era capaz de lidar com ele, deixando um policial morto no chão. A manobra de última hora de que ela lançara mão após o comitê do incidente a havia colocado de volta no time, mas o detetive-chefe estava deixando claro, a seu próprio modo sem charme, que ela não iria mais longe que isso.
Isso lhe deixava três opções.
Poderia calar a boca e ver a vida passar sentada confortavelmente diante de sua mesa. Nesse caso, ela poderia igualmente estar morta.
Poderia recorrer novamente a seu ultimato anterior e tentar torcer o braço de Summerhill um pouco mais. Mas ela não estivera blefando na primeira vez, e desta vez estaria. Agora que tinha seu emprego de volta, ela tinha ao menos uma coisa a perder.
Ou...
Pegou o celular, abriu-lhe a tampa e dedilhou a lista de chamadas recebidas. Encontrou o número de Tillman facilmente: foi o único que ela não reconheceu logo de cara. Deu o comando chamar número.
Alô?
Tillman.
Sargento Kennedy. — Ele não soou surpreso, mas havia uma pontada de antecipação em sua voz; uma pergunta insinuada.
Este não é um negócio do tipo ou tudo ou nada, é?
Não sei o que quer dizer. Trocamos informações, só isso. Não estou pedindo que você trabalhe comigo. Só que me conte o que sabe. Mas vamos estabelecer uma regra: nada de mentiras, nem mesmo por omissão. Nada de segurar informações para sair na vantagem.
E você vai fazer o mesmo por mim?
Você tem minha palavra.
Tá. — Ela foi até a mesa de McAliskey, onde o arquivo do caso ainda estava aberto. — Tenho algo para você, para começar. Uma amostra grátis porque eu sinto que te devo uma. — Ela contou a ele sobre as outras duas mulheres — nomes, lugares, datas e horários. Pôde ouvi-lo rabiscando, anotando os detalhes, provavelmente para poder verificá-los com seus próprios contatos. Mas ele não reagiu às notícias, ao menos não de uma forma que ela pudesse perceber ao telefone.
Então — ela disse. — Pegou tudo?
Sim — Tillman respondeu. — E agora?
Vinte perguntas. Você começa.
Por uma hora, ele a interrogou a respeito do caso. Ela começou com Stuart Barlow e seguiu com as outras duas vítimas: causa da morte, a conexão com os Ravellers, o projeto secreto de Barlow (que, como pretexto para homicídios múltiplos, soou tão ridículo como sempre), o perseguidor desconhecido e o que a investigação obtivera até ali. Tillman fez perguntas focadas e circunstanciais a cada estágio. O tipo de perguntas que um policial faria. O que havia feito com que decidissem que a morte de Barlow havia sido assassinato? Os assassinos haviam deixado alguma impressão digital ou traços de DNA em alguma cena de crime? Em caso negativo, fora encontrada alguma evidência física capaz de provar o vínculo entre as vítimas ou estavam apenas trabalhando com o fato de um punhado de mortes suspeitas? Kennedy deu todas as respostas que pôde e admitiu sua ignorância quando não tinha nenhuma a oferecer. Quando Tillman ficou sem perguntas — ou, pelo menos, ficou em silêncio —, ela acrescentou alguns comentários por conta própria.
Ainda estamos trabalhando no escuro no que diz respeito ao motivo, mas estou achando significativo o fato de o Barlow e a equipe dele terem decidido manter em segredo o que quer que tenham descoberto — e até mesmo o que estavam procurando.
Significativo como?
Não tenho idéia. Mas há um território em que uma pesquisa histórica legítima e uma caçada ao tesouro se sobrepõem. Lembra-se daqueles grandes achados anglo-saxões do ano passado — ouro dos vikings, valendo milhões de libras? Vira um tesouro sem dono se você declarar que é. As pessoas que o encontram e os proprietários da terra recebem uma recompensa e o estado fica com a propriedade. Suponha que o Barlow tenha tropeçado em algo assim. E que daí mais alguém descobriu o que ele tinha encontrado.
Funciona como motivo para um assassinato — Tillman admitiu.
Você não parece nem um pouco convencido disso.
Nem você, sargento.
Heather. E Heather, Tillman. Heather Kennedy. Não é uma policial que está falando com você agora. Eu fui tão longe quanto pude como policial. Você agora está falando com uma cidadã preocupada.
Tá bom. Heather. Eu sou Leo.
Eu sei. Procurei seu nome. E você tem razão, também não acredito que tenha sido só por dinheiro. E um propósito grande e amplo, do tipo pelo qual as pessoas fariam praticamente qualquer coisa, mas aqueles caras em Luton... eles se comportavam mais como soldados do que como qualquer outra coisa. E mataram três pessoas num período de dois dias, de três maneiras diferentes. Eles têm alcance e pessoal treinado.
Cartéis do crime organizado podem operar como exércitos.
Sim, aposto que sim. Mas me corrija se eu estiver errada, eles também não operam como empresas? Importação e exportação, distribuição, divisão de vendas, produtos de fontes confiáveis e alta rotatividade. Não fosse o fato de que as coisas que vendem são ilegais, eles estariam no Top 100 Melhores Empresas para Trabalhar da revista Fortune. Estariam à caça de antigüidades roubadas? Acho que não. Isso é coisa de outro tipo de criminoso. O tipo que não tem infraestru- tura de alcance mundial.
Então, aonde é que isso te leva?
Me leva a pensar no Michael Brand, Leo. Essa é uma das razões pelas quais liguei para você. Acho que talvez esse caso não se resolva com o uso de lógica indutiva, como numa história do Sherlock Holmes. Talvez precisemos do que você tem.
Uma das razões? Qual é a outra?
Vou chegar lá. Fale do Michael Brand.
Se você me disser uma coisa antes.
Desembuche.
Notei que você não está encarando o Brand como o perseguidor do Barlow. Você se refere a ele como duas pessoas diferentes. Por quê?
Ah, tá. — Ela teve que pensar antes de responder. Chegara a essa conclusão muito cedo, e já fazia algum tempo que não pensava mais nela. — E principalmente porque o Barlow já conhecia o Brand on-line. Em algum momento, não muito antes de o Barlow ser assassinado, eles se encontraram pessoalmente. Claro que isso nos dá uma conexão, mas por que o Brand se daria ao trabalho de criar o personagem falso de um acadêmico interessado se fosse seguir Barlow por aí feito um detetive barato?
Então, são duas abordagens diferentes do mesmo problema — Tillman disse.
Isso — Kennedy respondeu. —Acho que é exatamente isso. Sabemos que alguém anda mexendo nas coisas das vítimas: casas, escritórios, dados de computador. Então, eles estão procurando por algo e continuam voltando de mãos vazias. Brand faz amizade com o Barlow. Esse é o lado "seja paciente e discreto" da equação. Mas ele mandou alguém ficar na cola do Barlow caso fosse possível encontrar o que eles queriam seguindo-o ou roubando-o.
E quando ambas as abordagens falharam eles mataram todo mundo.
E passaram o pente fino em tudo o que as vítimas tinham.
Certo.
Tillman ficou em silêncio por um tempo. Kennedy esperou. Brand era o centro de tudo para Tillman, tinha que ser, por causa do que ele contara a ela da primeira vez que se encontraram. Ela imaginou que ele estava prestes a tocar novamente no ponto de agonia que havia se tornado o centro da vida dele. Então, estava completamente despreparada para o que ele finalmente disse:
Brand é um comprador.
Ele é o quê?
Ou um provedor, talvez. Alguém que procura e obtém coisas em nome de outra pessoa.
Que tipo de coisas?
Qualquer coisa. Tudo. Não há um padrão para isso. Armas e medicamentos são duas constantes, mas todo tipo de outros materiais se misturam a isso. Computadores e placas-mãe. Softwares. Máquinas industriais. Equipamento de vigilância eletrônica. Madeira. Suplementos vitamínicos. E... no meio de tudo isso...
Kennedy preencheu o silêncio fustigado pela estática:
Mulheres com exatamente três filhos.
Sim.
Tá bom. Então, vamos presumir que o que está acontecendo agora é parte do mesmo padrão. Brand está tentando colocar as mãos em outra coisa: algo que o Barlow e a turma dele encontraram, ou fizeram, ou apenas conheciam. Ele entrou em cena. Colocou outros caras em cena. Falou com o Barlow com jeitinho, depois o matou e revistou a casa dele. Mas não encontrou o que queria porque o trabalho da equipe ainda não havia acabado. Então, eles ainda estão procurando.
Por alguns segundos ela não ouviu nada além da respiração de Tillman.
Eles ainda estão procurando — ele concordou. — Mas sua hipótese não funciona.
Por que não?
Porque eles não tentaram falar com a Sarah Opie, só atiraram nela. Não acho que isso seja para adquirir algo. Não acho que sejam os negócios de sempre. Acho que é algo mais, e isso nos faz pensar que talvez tenhamos uma chance. O Brand é especialista em aparecer saído de lugar nenhum, pegar o que quer e depois desaparecer. Ele nunca fica um tempo a mais e nunca deixa rastros. Mas agora faz o quê? Uns dois meses desde que o Barlow foi morto? E o pessoal do
Brand ainda está aqui. Então, a situação não está inteiramente sob o controle dele. É um...
Kennedy forneceu novamente as palavras que faltavam:
Controle de danos.
Acho que sim. Olhe, você disse que havia mais uma coisa que queria de mim.
Ela contou a ele sobre a faca e seus esforços vãos de identificá-la. Tillman pareceu feliz em envolver-se com um problema distinto e concreto. Fez com que ela desligasse o telefone e fotografasse o próprio esboço e o enviasse usando o celular. Então ele telefonou para ela.
Encontrei uma faca exatamente como essa há pouco tempo — disse.
Encontrou? Encontrou como?
Alguém jogou uma em mim.
Tem certeza de que era do mesmo tipo?
Tive que cauterizar a ferida botando fogo em mim mesmo para deter o sangramento.
Tá bom — Kennedy admitiu. — É a mesma.
Nunca me ocorreu pesquisar sobre a faca em si — Tillman disse, soando animado, talvez de forma um tanto doentia. — Viu só? E por isso que é melhor ter duas mentes pensando no problema.
Kennedy riu, sem querer
Mas nós dois estamos desorientados — alegou.
Concordo. Mas conheço uma pessoa. Um engenheiro.
Um engenheiro? Tillman, a questão é que a origem da arma pode...
Ele sabe muito sobre armas. É um cara esquisitão. O nome dele é Partridge. Me deixe falar com ele e depois eu te ligo.
Tillman desligou, e Kennedy juntou suas coisas. Nesse momento, sentia um tipo de estranha afinidade com o misterioso Michael Brand. Se ele estava envolvido em controle de danos, tentando colocar uma situação difícil, bagunçada e intratável de volta nos eixos, ela também estava: compensando e corrigindo os erros de outras pessoas, além dos seus próprios; tentando encontrar a única rota segura em meio a um campo minado que ela ajudara a criar. Ainda assim, talvez não houvesse nem mesmo uma rota segura.
Mas ela sabia onde deveria começar.
— Eu não queria dificultar as coisas — Ros Barlow disse. — É só que tenho baixa tolerância a mentira. Seu colega ficou mentindo para mim. E ele não parou, nem quando eu pedi diretamente. Então o mandei embora.
Ela cortou o pão doce recheado em fatias e as separou no prato com o que Kennedy considerou ser um nível de cuidado obsessivo-compulsivo. O prato tinha o logotipo do restaurante onde elas haviam combinado de se encontrar, no centro da cidade, a uns 90 metros do edifício conhecido como Gherkin, ou "Pepino", onde Ros trabalhava: Caravaggio. Era uma escolha infeliz, de muitas formas: o preço era uma, o lembrete importuno do episódio com as facas era outra.
Não acho que o sargento Combes teria contado mentiras completas a você — Kennedy respondeu, escrupulosamente. — Mas talvez ele não tenha lhe dito toda a verdade.
Ros bufou.
Ele não me deu nem um esboço preliminar. Chegou se achando todo importante, tagarelando sobre como a investigação agora era muito mais ampla do que já tinha sido e dizendo que era fundamental repassar meu depoimento anterior para garantir que eu não tinha deixado de contar nada... qual foi a palavra que ele usou?... nada material. Mas, quando perguntei o que tinha acontecido para que as coisas mudassem assim, ele não quis dar uma resposta direta. Eu disse que achava que você estava conduzindo o caso e ele riu e disse que não. Simplesmente não. Mas foi como se ele pudesse dizer muito mais se quisesse. Perguntei o que esse "não" significava e ele tentou me censurar como se eu fosse uma garotinha de escola: disse que não era da minha conta, que estava lá para repassar meu depoimento, e que tinha pouco tempo disponível, e que — e esta foi a gota d'água —, se eu queria que apanhassem o assassino do meu irmão, eu deveria fazer como me mandassem e deixá-lo fazer o trabalho dele. Então me recusei a continuar.
Kennedy assentiu. Não era totalmente desagradável para ela imaginar aquela cena.
A parte sobre a investigação estar mais ampla é verdade — ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Contou a Ros sobre as outras mortes — a maior parte do assunto, pelo menos. Ela se pegou tentando evitar falar do que acontecera com Harper. Mas Ros lera sobre isso nos jornais e tinha uma noção do que Kennedy estava deixando de fora.
Você estava lá? — perguntou. — Quando o outro homem morreu? Aquele policial Harper?
Eu estava lá — Kennedy disse. — Sim. A Sarah Opie foi o último membro da equipe do projeto do seu irmão a ficar viva. Não sabíamos disso quando chegamos lá, mas fomos entendendo a verdade enquanto conversávamos. Decidimos colocá-la sob custódia e proteção, mas já era tarde demais. Eles a pegaram também.
Bem na sua frente — disse Ros, olhando para ela de modo perspicaz.
Bem na minha frente — Kennedy concordou. Ela sabia que a mulher estava oferecendo simpatia, não acusação, mas ainda era difícil manter a voz controlada e as emoções guardadas. Ros pareceu enxergar o esforço que isso requeria dela. Não disse mais nada sobre Harper.
Por que ir atrás da dra. Opie só então? — perguntou, em vez disso. — Depois de uma espera tão longa, quero dizer? Eu pensei que as outras mortes tivessem sido... — Ela hesitou, deixando uma lacuna para Kennedy inserir algum termo técnico.
Consecutivas? Sim, foram. E acho que a resposta é que ela morreu porque fomos falar com ela. Não pode ter sido coincidência os assassinos estarem lá ao mesmo tempo que nós. Eles estavam nos vigiando — ou para descobrir quanto nós já sabíamos ou para preencher os vazios naquilo que eles sabiam.
Ou ambos.
Sim. Ou ambos.
Com compostura admirável, Ros devorou metade do pão — três fatias, cada uma consumida de uma vez, da maneira como as pessoas comem ostras, numa bocada só. Ela encostou as pontas grudentas dos dedos umas nas outras.
Então, há mais de um deles — disse. — Assassinos, no plural, não um assassino.
Eu vi dois — Kennedy contou. — E há um terceiro homem em algum lugar, nos bastidores: o homem que seu irmão conheceu como Michael Brand. Ainda não sabemos qual é o papel dele, mas é difícil acreditar que seja inteiramente inocente.
E vocês não sabem por que eles fizeram isso? Por que mataram o Stu e toda essa gente?
Não, ainda não sabemos.
Você acha que eles vêm atrás de mim agora?
Disso eu também não sei — Kennedy admitiu, francamente. — Mas acho que não. Não vieram atrás de você depois da última vez que conversamos. Se estivermos certos, o projeto de pesquisa do seu irmão é o fator-chave, o verdadeiro elo entre as vítimas, então, a única forma de você estar em risco seria se eles pensassem que sabe de alguma coisa. E, até o momento, eles parecem ter decidido que você não sabe de nada. E claro que ainda não temos nenhuma idéia do que estão tentando obter, de qual é o motivo deles. Até que saibamos disso, não podemos quantificar o risco de nenhuma forma significativa.
Ros considerou o que ouvira por alguns segundos, em silêncio.
Tudo bem — disse, afinal. — Vou me arriscar. Quero que esses desgraçados sejam punidos. O que você quer saber?
Qualquer coisa que você possa me contar. Qualquer coisa sobre o trabalho do seu irmão.
O Stu não falava do trabalho dele. Mas você sabe que seu colega valentão levou o computador dele.
Sim — Kennedy disse. — Não tem nada lá.
Nada relevante, quer dizer? — Ros perguntou.
Não, o disco rígido foi completamente limpo.
As sobrancelhas de Ros se ergueram.
Então por que vocês ainda têm dúvidas quanto ao motivo? — questionou. — Estão tentando acabar com o livro. Tem que ser isso.
Essa ainda não é uma explicação, Ros. Não é, a não ser que saibamos por quê. Você mesma disse que não havia nada nesse livro que fosse importante, não havia nenhuma reputação em jogo. O Rum está por aí desde o século XV, né? E é só outra tradução de um evangelho que já existia em muitas versões diferentes.
O Stu disse que era justamente essa a questão — Ros retrucou.
O que quer dizer?
O Rum ser uma coisa tão conhecida e sem valor. Por que o Capitão De Veroese daria um barril inteiro de rum por algo que não fosse antigo, que não fosse incomum e não fosse raro?
Kennedy encolheu os ombros.
Então, qual é o segredo? — perguntou.
Eu não sei — Ros admitiu, carrancuda. — Só me lembro do Stu dizer isso a alguém com quem estava discutindo.
Quem? Quem era esse alguém?
Ele estava falando ao telefone. Não tenho idéia de com quem. Foi meses atrás. O mais provável é que tenha sido alguém da equipe.
Kennedy tentou digerir o enigma.
Pode ser algo a respeito do próprio documento — ela especulou.
Algo além do que estava escrito nele. O material do qual foi feito, ou a costura, ou uma mensagem oculta que não tenha sido percebida... — Ela ficou em silêncio, subitamente percebendo quão pouco sabia sobre esse documento que já causara a morte de cinco pessoas, até onde ela sabia, e possivelmente de uma sexta. Era um pensamento que a fazia se sentir vagamente envergonhada.
Ros, onde está o Rum? O original, quero dizer.
No Museu de Avranches — disse Ros prontamente. — Na Bretanha. Ou Normandia. Norte da França, de todo jeito. Mas a Biblioteca Britânica tem uma linda cópia fotográfica: cada página em altíssima resolução. Foi essa que o Stu usou, na maior parte do tempo. Ele só foi ver a original duas vezes.
Kennedy decidiu mencionar a outra coisa que tinha em mente.
Eu contei a você que o computador do seu irmão foi esvaziado - disse. — Já a Sarah Opie tinha feito cópias de segurança de todos os arquivos dela na rede da universidade, e todos foram recuperados intactos. Mas não encontramos nada relacionado ao projeto.
Alguém poderia ter adulterado esses arquivos também? — Ros perguntou.
Achamos que não. Remover cada vestígio de um conjunto inteiro de arquivos de um grande servidor, sem deixar nenhum sinal de que você passou por ali... é possível, mas exige um nível muito alto de conhecimento e habilidade. E, se eles pudessem fazer isso, a limpeza geral que fizeram no computador do seu irmão não faria nenhum sentido. Eles entraram e saíram com cuidado em ambas as vezes.
O que está me perguntando, sargento Kennedy?
Bom, eu estava pensando que seu irmão sabia que estava sendo seguido e talvez soubesse que isso tinha conexão com a pesquisa dele. É possível que ele tivesse outro esconderijo, ou no chalé ou em Londres, no Prince Regent's, onde ele poderia ter guardado cópias impressas ou CDs gravados relacionados ao projeto? Se ele possuía, por assim dizer, esse arquivo de segurança, talvez tenha dito aos outros para apagarem tudo o que tinham caso as máquinas deles ficassem comprometidas.
É um monte de talvezes — Ros observou.
Eu sei. Mas há um lugar assim?
Se houver, ele nunca me disse.
Kennedy sentiu seu ânimo decair um pouco. Ela estava apostando sua última ficha — ou melhor, suas duas últimas fichas.
Tá bom — ela disse, tentando soar neutra e desinteressada. — Eu gostaria de te mostrar duas coisas. Se elas te sugerirem alguma associação, eu gostaria de saber o que são.
Tudo bem — Ros concordou.
Kennedy tirou da bolsa a fotografia que encontrara debaixo do ladrilho no chão do escritório de Stuart Barlow. Ela a transferira para um saco transparente para evidências, anotando data, horário e lugar em uma etiqueta-padrão de identificação no canto inferior esquerdo: uma tentativa pouco entusiasmada de disfarçar a completa falta de legitimidade do achado. Colocou o saco sobre a mesa e empurrou-o em direção a Ros.
Ros olhou para a imagem por um longo tempo, mas finalmente balançou a cabeça.
Não — ela disse. — Lamento. Nunca vi essa foto antes. E não sei onde foi tirada.
Parece algum tipo de fábrica abandonada — Kennedy disse. — Ou um depósito. Você sabe se seu irmão tinha qualquer tipo de conexão com um lugar como esse ou se já visitou algum? — Quando Ros balançou a cabeça novamente, Kennedy virou a foto para mostrar a ela as séries de caracteres do outro lado. — E quanto a isto? Significa algo para você?
Não — Ros repetiu. — Lamento. E qual é a outra coisa?
A outra coisa é ainda mais tênue — Kennedy admitiu. — Quando a dra. Opie estava morrendo, ela disse algo que eu não entendi. Mencionou um pombo.
Ros ergueu os olhos da foto, a qual ainda segurava e continuava a analisar.
Um pombo?
Só ouvi umas poucas palavras. Ela disse: "um pombo, um pombal". O que quer que viesse depois, não consegui entend...
Ela se interrompeu. Ros estava olhando para ela atentamente: um olhar que parecia ou confuso ou suspeitoso.
Vou assumir que isso é sério — Ros disse —, e não alguma piada esquisita. Porque você não me parece o tipo de pessoa que prega peças esquisitas.
É sério — Kennedy garantiu-lhe. — Por quê? Você sabe o que é que ela estava tentando me dizer?
Ros balançou a cabeça positivamente, devagar.
Não foi "um pombal". Foi "o" Pombal. Ou talvez tenha sido "em Pombal".
Havia mais. Tinha que haver mais. Kennedy não perguntou. Apegas esperou e observou enquanto Ros Barlow bebia um gole de café.
Ela colocou a xícara sobre a mesa novamente, que tilintou contra o pires, como se a mão dela tivesse tremido.
Desculpe — disse Ros. — É que isso me trouxe muitas lembranças. Costumávamos ir muito lá quando éramos crianças. — Ela ficou em silêncio por um momento, balançou a cabeça e olhou diretamente para Kennedy. — Meus pais tinham duas propriedades — disse. — O chalé e a casa de campo. O nome é Fazenda do Pombal. Fica em Surrey, perto de Godalming. Logo saindo da A3100, na verdade, e não dá para não ver porque o papai mandou colocar uma placa horrorosa. Ele era um grande fã daquele dirigível da Goodyear, então a letra P de Pombal tem asas de pássaro saindo dela, igual ao capacete do deus Hermes. E uma coisa ridícula, mas ele achava maravilhosa.
Kennedy não disse nada por um instante. Não queria que a excitação fosse audível em sua voz.
Você comentou que o Stu andava meio paranoico nas semanas antes de morrer — disse, por fim.
Só que parece que não foi paranóico o suficiente — Ros comentou amargamente.
Kennedy aceitou a afirmação com um meneio severo de cabeça.
Então, é pelo menos possível que ele tenha organizado reuniões com os membros da equipe nessa casa de campo. Se ele achou que estava sendo vigiado na universidade e se a casa de vocês foi invadida...
Faria sentido — Ros concordou.
Você tem a chave dessa casa?
Eu tenho todas as chaves. São quatro. Estão todas no mesmo molho, na gaveta da cozinha da minha casa. Eu diria que ninguém chega perto delas há anos. Você quer ir pegar uma?
Kennedy pensou a respeito disso pelo que pareceu ser um longo tempo.
Na verdade — disse finalmente, com alguma relutância —, não, não quero. Eu realmente acredito que o Harper e eu fomos seguidos até Luton e nós não vimos as pessoas que estavam fazendo isso. Vamos encarar a pior hipótese. Se ainda estiverem me vigiando, eles sabem que nós estamos conversando agora mesmo. Parece insano falar assim, mas você mesma disse que a paranóia do seu irmão não foi suficiente para salvá-lo. Vamos garantir que o mesmo não aconteça com você.
Ros não aceitou isso exatamente na mesma hora, mas pareceu entender a lógica.
Tá bom — disse, em um tom quase desprovido de emoção. — O que você tem em mente, então? — Ela passou a foto por cima da mesa para Kennedy, que a colocou de volta na bolsa.
Você costuma enviar coisas usando um entregador, quando está no trabalho? — ela perguntou, ainda remexendo dentro da bolsa e, por isso, não cruzando o olhar com o de Ros.
O tempo todo.
Leve uma das cópias da chave para o trabalho com você amanhã. Coloque-a num envelope e mande-a para Isabella Haynes. É minha vizinha.
Qual é o endereço?
East Terrace, 22, apartamento 4, em Pimlico — Kennedy respondeu. — Dois mais dois são quatro. Você acha que consegue lembrar sem precisar anotar?
Trabalho em um banco de investimentos, sargento Kennedy — Ros respondeu secamente. — Tenho que lembrar taxas de câmbio com quatro casas decimais e elas mudam todo dia. East Terrace, 22, apartamento 4.
Em Pimlico.
Em Pimlico. Pode me dar o CEP também, se quiser. Não vou esquecer. Nem confundir com o número do apartamento.
Kennedy informou-o a ela, depois colocou o cartão de crédito sobre a mesa. Ros Barlow empurrou-o de volta para ela.
Pode ir — disse. — Te mando notícias amanhã. E eu fecho a conta aqui. Tudo isso com uma condição.
Vá em frente — disse Kennedy. Ela já estava de pé, vestindo a jaqueta.
Ros ergueu o olhar para ela.
Qualquer coisa que você encontrar, me conte. Quando puder. Ela viu o luto e a culpa irreconciliados que ainda existiam atrás dos olhos da outra mulher e imaginou se era isso que Ros via quando olhava para ela.
Vou fazer isso — ela disse. — Prometo.
De volta à sala comum, Kennedy escreveu sobre a reunião com Ros Barlow em modo paranóico total, mas omitiu quaisquer detalhes que pudessem insinuar que qualquer uma delas tivera acesso a informações relevantes sobre o caso.
Você está aprendendo, ela disse a si mesma com um tipo de satisfação fatalista. O que significava, na verdade, que estava descendo pelo buraco do coelho como Alice em direção ao País das Maravilhas: aceitando que agora ela operava num mundo onde conluios não identificados poderiam estar perseguindo seus informantes com a intenção de matá-los antes que pudessem lhe contar qualquer coisa útil.
Qualquer coisa útil a respeito do quê? A resposta — uma tradução medieval ruim de um evangelho cristão previamente disponível — ainda não fazia nenhum sentido. Mas no fundo do buraco do coelho, onde garrafas com rótulos nos quais se lia Beba-me podiam mudar sua vida para sempre, só restava seguir o fluxo.
O celular, que ela mantivera mudo durante a conversa com Ros, vibrou em seu bolso. Ela o retirou e o abriu.
Kennedy.
Dia cheio? — Tillman perguntou.
Cheio. Não necessariamente produtivo.
Talvez o melhor tenha ficado para o final. Eu falei com o Partridge... e ele encontrou nossa faca.
Kennedy identificou John Partridge imediatamente, pois ele era exatamente como Tillman o descrevera — e o oposto total do que sua voz culta e acanhada a havia levado a esperar. Era um homem com o peito largo como um barril e rosto corado, que parecia ter acabado de sair de um comercial de lingüiças de porco de alta qualidade. Mas usava uma blusa cinza de gola alta e calças cargo em lugar de um avental e carregava um celular em vez de um cutelo, porém a imagem de um açougueiro sorridente permaneceu com Kennedy enquanto ela abria caminho entre a profusão de crianças em uniforme escolar e turistas japoneses até Partridge, na escada diante do Museu Britânico, onde ele estava parado como um monge em frente a uma casa de massagem oriental.
Kennedy alcançou-o e estendeu a mão.
Sr. Partridge?
Sargento Kennedy? — ele volveu, dando-lhe o mais breve e cauteloso dos apertos de mão. — E bom conhecê-la. E bom conhecer qualquer amigo do Leo.
O senhor é que está me fazendo um favor — ela o lembrou. — Onde está a faca?
Partridge sorriu.
Está bem perto — respondeu. — Entre as antigüidades do Oriente Médio. Venha.
Ele mostrou o caminho, e enquanto Kennedy começava a andar ao lado dele, iniciou o que revelou ser uma longa lista de razões pelas quais ele não era a pessoa certa para fazer aquele tipo de pergunta.
Você deve entender — disse ele — que seu probleminha está muito fora da minha especialidade e não tem nada a ver com algo em em que eu seja nem mesmo remotamente competente. Na verdade, sou físico.
O Leo Tillman disse que o senhor era engenheiro.
Sou físico por treinamento. E engenheiro de facto, por profissão. Estudei no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no programa de ciências dos materiais. Então minha zona de conforto é, falando amplamente, o estudo das propriedades físicas dos objetos e substâncias. Nesse campo, que é muito maior do que parece, tenho .una especialidade mais estreita: balística. O último ano da minha vida — na verdade, mais de um ano — foi dedicado às supostamente obsoletas equações balísticas de Lagrange, que se relacionam com a pressão de gases expandidos na câmara de uma arma após a ignição do escorvador. Na verdade, sou tão inocente quanto uma criança quando o assunto são armas de corte.
E ainda assim resolveu meu problema num único dia — Kennedy disse, esperando que ele não desviasse o assunto para a questão das equações obsoletas. — É impressionante.
É ainda mais impressionante do que você imagina — Partridge disse alegremente. — Isso está fora da minha disciplina de tantas formas, sargento Kennedy. — Ele se virou para sorrir para ela e para ver sua reação. — Não é nem mesmo uma arma.
Kennedy franziu o cenho. A morte suja e lenta de Harper surgiu em sua mente, contrariando sua vontade.
Eu vi o que ela é capaz de fazer — disse de forma tão neutra quanto pôde.
Ah, sim, é perigosa — Partridge concordou, ainda sorrindo. — Mortal, até. Mas a significância desse objeto jaz no fato de que ele nunca deveria ter sido usado para ferir ou matar.
Explique — Kennedy pediu.
O sorriso se ampliou mais alguns centímetros.
Tudo a seu tempo — disse ele.
Partridge parou diante de uma porta aberta. A placa ao lado dizia Sala 57: Antigo Levante. Além da porta, Kennedy vislumbrou um armário cheio de potes de barro sem pintura. Era o que ela sempre havia associado ao Museu Britânico quando criança: e a razão pela qual preferia tanto o Museu de História Natural quanto o Museu de Ciência, e até mesmo o Victoria e Albert.
O Levante — Partridge disse com a precisão lenta de uma palestra — é a área que hoje inclui a Síria, o Líbano, a Jordânia, Israel e os Territórios Ocupados adjacentes a Israel.
E quanto tempo atrás essa área era o Levante? — Kennedy perguntou. Ela estava imaginando se essa era uma caçada inútil, afinal, e, se era assim, de quanto tempo precisaria para se desvencilhar desse homem bem-intencionado, porém um tanto irritante.
Não sou historiador — Partridge lembrou-a. — Mas acho que a maior parte das peças exibidas aqui data de um período entre 8 mil e 500 anos antes do nascimento de Cristo. Idealmente, eu teria gostado de lhe mostrar um exemplo mais novo da sua lâmina assimétrica, mas para fazer isso teria que levar você ao Museumsinsel, em Berlim. Não há nenhum aqui no Reino Unido do período apropriado.
Ele entrou na sala, e novamente Kennedy o seguiu. Passaram pelos potes e por lajes de pedra com esculturas em baixo-relevo gravadas neles antes de parar diante de um armário cheio de ferramentas de metal.
A segunda prateleira — Partridge disse.
Mas Kennedy já havia visto. Apesar de si mesma, e apesar de saber que Partridge não precisava de nenhuma confirmação, ela ergueu a mão e tocou o vidro, apontando.
Ali — disse ela. — Aquela ali.
Em termos de condição física, era completamente diferente da arma que havia talhado o ombro dela e acabado com a vida de Harper. A idade a havia carcomido. A superfície descorada estava esburacada de azinhavre a ponto de tornar impossível até mesmo saber qual havia sido o metal original, o cabo, gasto até virar um toco estreito. Mas a lâmina tinha o formato exato que permanecera tão nítido na memória dela: muito curta, quase tão larga quanto era longa e com a extensão assimétrica na ponta, arredondada no topo e curva na parte de baixo.
Agora que a via diante de si sem perigo, parecia um tanto ridícula. Qual era a finalidade de uma faquinha tão insignificante? E qual era a finalidade da saliência arredondada no final, onde se esperaria que ficasse estreita até fazer uma ponta? Mas alguma coisa se contraiu em seu peito enquanto olhava para o objeto, apertando sua respiração até chegar a um sopro curto. Não era medo: ela tivera medo quando o assassino de Park Square apontara uma arma para ela. Essa faca, embora tivesse matado Harper e cobrado um tributo dela, despertava-lhe apenas ódio.
O que é? — perguntou a Partridge. Ficou aliviada em descobrir que sua voz estava controlada, a emoção bem guardada dentro dela para descarte posterior.
É uma navalha — Partridge disse. — Um homem a usaria para se rapar e dar forma à barba. Aquela ali é de bronze, e, como você pode ver pelas anotações que a acompanham, foi encontrada numa tumba em Semna. Mas o design é geralmente mais associado com uma era posterior e uma parte diferente do Oriente Médio. — Ele se virou para encará-la, fechando as mãos atrás das costas. — Durante a ocupação romana de Israel e da Palestina — disse —, os judeus conquistados foram proibidos de carregar armas. Mas ninguém poderia ser preso por carregar um aparelho para barbear. Não no começo, de todo modo. Então, os combatentes da liberdade passaram a andar com navalhas como essa dentro das mangas das vestes. Quando passavam por um soldado ou oficial civil romano, a navalha podia ser colocada imediatamente em uso e escondida outra vez dentro de poucos segundos. A ferramenta de um assassino, e muito efetiva. O termo romano para uma faca de lâmina curta é sica, então os revolucionários que usavam essas armas passaram a ser chamados de Sicarii: homens com facas.
Mas isso foi dois mil anos atrás — Kennedy disse.
Mais ou menos — Partridge concordou. — E se você quiser saber mais alguma coisa sobre o contexto histórico da sua faca, eu receio não ser capaz de ajudar. Já exaurimos meu conhecimento do assunto. Mas não — com certeza não — meu conhecimento do objeto em si. Devo contar como fui capaz de reconhecer sua faca, no fim? Quero dizer, por que ela tem um perfil na teoria contemporânea das armas, apesar de sua grande antigüidade?
Por favor — Kennedy pediu.
Por causa das propriedades aerodinâmicas que tem. Ela pertence a uma classe de objetos com lâminas que podem ser atirados contra um alvo e acertá-lo sem girar no trajeto. A moderna faca de arremesso é o exemplo mais famoso. Foi projetada por um engenheiro espanhol, Paco Tovar, que queria evitar o hábito irritante que a maior parte das facas tem de ocasionalmente acertar o alvo com o cabo. A faca dele usa o giro longitudinal para conceder estabilidade, e o gesto de atirar é muito parecido com o de uma bola de críquete. A sica não gira longitudinalmente e não foi criada para ser atirada, então é um tanto misterioso que voe numa linha tão reta. Acaba dependendo da forma não ortodoxa da lâmina. Eu participei de um simpósio sobre o assunto quando a faca de arremesso foi exibida pela primeira vez, em Müncheberg, em 2002. Eu estava só acompanhando um colega e detestei o evento, já que meu conhecimento de facas é minúsculo e meu interesse nelas, ainda menor.
Bom, estou grata por essa informação ter ficado na sua mente, apesar disso — Kennedy disse sinceramente. — Sr. Partridge, está dizendo que essa propriedade — a de voar em linha reta — é razoavelmente rara?
Em armas com lâminas e gumes, sim — disse Partridge. — Normalmente há uma exigência de que essas coisas tenham um cabo grosso o suficiente para acomodar a mão confortavelmente e para permitir que sejam carregadas e usadas facilmente, enquanto a lâmina tipicamente precisa ser mais fina e mais leve. O desequilíbrio normalmente cria o giro.
Então, essa seria uma razão boa o suficiente para as pessoas ainda usarem facas como essas?
Partridge franziu os lábios enquanto considerava a sugestão.
Possivelmente — admitiu. — Mas eu presumiria que a faca de arremesso faz o mesmo serviço muito melhor, assim como a meia dúzia de variantes que apareceram desde então.
Mas são todas muito recentes?
O velho assentiu.
Surgiram nos últimos dez anos.
Obrigada, sr. Partridge. Isso foi muito útil.
Foi um prazer inestimável para mim — ele respondeu, inclinando a cabeça numa leve curvatura.
Kennedy deixou-o ainda olhando para as facas, a testa vincada de concentração.
Ela se reuniu a Tillman no Cemitério Municipal de Londres, onde o encontrou sentado com as costas apoiadas a uma tumba e com uma arma — a mesma coisa esquisita que ele usara em Park Square — no colo. Ele observava um funeral em andamento a distância, do outro lado do cemitério, mais perto dos portões. De onde estava sentado, numa pequena elevação, ele tinha uma vista panorâmica.
Você se importa de guardar essa coisa? — Kennedy perguntou.
Tillman lançou a ela um sorrisinho breve e levemente irritante.
Não é o que elas costumam pedir — disse ele.
Não fez nenhum gesto indicando que guardaria a arma, a qual, Kennedy percebia agora, ele estava limpando. Ela se apoiou à tumba e observou-o trabalhar.
Você está de bom humor — comentou, pertinaz.
Estou, sim. — Ele estava enfiando uma escova de limpeza no cano de uma arma com um cuidado obstinado. Uma pequena embalagem de solvente Hoppe's no 9 estava aberta ao lado dele na grama, e cheiro pungente de acetato de amila pesava no ar. — Estou gostando muito de tudo isso, sargento.
Das mortes, especificamente, ou só da desordem generalizada?
Tillman riu — uma risada rica, gutural, com um toque áspero, como se ele a estivesse forçando além de seu limite natural.
Estou gostando do que já conseguimos. Você tem que entender: eu tenho procurado o Michael Brand há um longo tempo. Há mais tempo do que você é detetive, talvez. E durante todo esse período nunca me senti mais perto de achá-lo do que me sinto agora. Nós nos encontramos na hora certa. O que você sabe e o que eu sei se encaixam com perfeição. Estamos num ótimo estágio. — Ele deslizou um trapo enchumaçado para dentro de cada uma das seis câmaras da arma, uma por vez, com atenção minuciosa. — Um ótimo estágio — murmurou novamente, mais para si mesmo do que para ela.
Fico feliz que pense assim — Kennedy disse.
Apesar do que ela pensava, o revólver peculiar — uma arma de seis tiros assimétrica — havia cativado seu interesse. Ela finalmente descobrira o que havia a respeito dele que parecia tão estranho, e estava se esforçando para não perguntar a respeito disso. Não queria demonstrar nenhum interesse naquela maldita coisa. Mas Tillman percebeu o olhar dela e lhe ofereceu a arma.
Não, de boa, valeu — ela disse. E então, novamente apesar do que pensava: — O cano está alinhado com o fundo do cilindro. Por que diabos é assim?
Isto é um Mateba Única Número 6 — Tillman respondeu. Ele abriu o cilindro para mostrar a ela, fazendo-o deslizar para cima e para a esquerda. — Sim, o cilindro está apoiado por cima do cano. Significa que o coice é muito pequeno e a maior parte dele empurra a arma de leve contra quem a usa, em vez de para cima e para trás. O cano não levanta nem um pouco.
Nunca vi nada assim.
É o único revólver automático sendo produzido atualmente. O Webley-Fosbery ficou aí por um tempo, mas esse tempo já passou. A Mateba ainda fabrica o Única porque tem gente suficiente querendo esta combinação: exatidão fantástica e disparo bem pesado.
Vou aceitar sua palavra a respeito disso.
Deveria mesmo. Sei do que estou falando. Sou só um atirador medianamente bom, mas, com esta coisa na mão, costumo acertar no que eu miro.
Ela se lembrou da faca que ele derrubara da mão do assassino com um tiro em Park Square. Difícil argumentar contra isso. Sentou-se ao lado dele.
Então — disse —, já ouviu a palestra sobre a faca?
O Partridge me atualizou. E bem interessante, não acha? Suas vítimas de assassinato estavam estudando um evangelho muito antigo mesmo e esses assassinos usaram uma faca muito antiga mesmo. Mesmo ponto de origem: Judeia e Samaria, século I d.C.
É interessante, sim. Mas não sei aonde exatamente isso nos leva.
Nem eu. Estou me apoiando nas suas habilidades afiadas de detetive para juntar todas as peças e dar sentido ao conjunto.
Não tem a menor graça, Tillman.
E eu não estou rindo. Este seria o lugar errado para fazer uma piada. Mas falei sério quando disse que estávamos perto de algo importante. — Ele ficou em silêncio por um momento, manipulando o mecanismo de ação da arma para garantir que o fluido de limpeza chegasse a cada pequena fissura. — A verdade é... — ele começou, pensativo. Outra pausa fez com que Kennedy olhasse ao redor e depois para o rosto dele. Estava vazio, meditativo. — Isso — tudo isso, seu caso — veio na hora certa para mim — prosseguiu. — Eu estava quase pronto para desistir. Não havia admitido isso para mim mesmo, mas estava perdendo as forças. Então recebi uma pista de um cara lá no outro canto da Europa e aí vim para cá, encontrei você...
Não existe esse negócio de destino, Tillman — Kennedy disse a ele, alarmada com seu tom de voz.
Ele ergueu o olhar para ela e balançou a cabeça.
Não. Eu sei disso. Não existe plano. Nem providência divina. "Não há destino senão o que nós fazemos." Ainda assim. Estou feliz por estarmos nisso. Estou feliz por estarmos nisso juntos.
Kennedy desviou o olhar. Não gostava de ser lembrada de quão fina era a linha em que seu parceiro informal estava caminhando. Fazia com que a situação dela parecesse um pouco mais desesperada.
Escute — ela disse —, eu tenho uma possível pista a respeito do projeto do Barlow. — Ela contou a Tillman sobre a sugestiva ausência de quaisquer arquivos relativos ao Rum no computador de Sarah Opie e a respeito da Fazenda do Pombal. Mas parou pouco antes de informar o nome do lugar.
Parece que vale a pena dar uma olhada — ele disse. — Quer fazer isso hoje à noite?
Não. A irmã do Barlow vai me mandar a chave amanhã de manhã. E eu quero que fique de fora até termos examinado o local como uma possível cena do crime. Se for lá primeiro, qualquer evidência vai ficar contaminada — e você pode acabar deixando para trás alguma evidência sua. Não quero que o resto da equipe do caso ponha os jlhos em você por acidente.
Tillman não pareceu convencido.
Que evidência? — perguntou. — Que cena do crime? Você está partindo da suposição de que aqueles zumbis branquelos nem mesmo sabem desse lugar, né?
Eu espero que não saibam.
Então, não há nada para contaminar.
Se eu estiver certa, isso é verdade. Mas não temos nenhuma idéia real do que podemos encontrar lá. E, já que esse é o caso, eu quero entrar primeiro. Sozinha.
Ele ficou de pé e a encarou com uma expressão séria.
O trato é nós dividirmos todas as informações que tivermos — ele a lembrou. — Só vai funcionar se continuarmos fazendo isso.
Eu juro por Deus — Kennedy disse —, que, independente do que a gente encontre, eu vou te contar tudo em seguida. Só quero trabalhar conforme a cartilha.
Que cartilha?
As regras. Trabalhar de acordo com as regras. Quero dizer que quero fazer tudo com cuidado e sem causar nenhuma reação. Pode até ser que eu não encontre nada de nada. Nesse caso, vou sair como se nunca tivesse estado lá. Porque o outro fator no meio disso tudo é a Ros Barlow. Se esses... quem quer que eles sejam tiverem a impressão de que ela sabe de alguma coisa, podem acabar com ela do mesmo jeito que eliminaram a Sarah Opie.
Coloque-a sob proteção policial, então. Assim como colocou aquele outro cara, Emil Sei-Lá-Das-Quantas.
Gassan. Emil Gassan. Eu faria isso, se pudesse. Mas não sou a capitã desse barco. Estou mais para a moça do cafezinho. Me mandaram ficar lá na Divisão desentortando clipes de papel.
Tillman lançou-lhe um olhar perspicaz.
Então você precisa de mim tanto quanto preciso de você — ele disse.
Se isso faz você se sentir bem, Tillman, então, sim. Preciso de você. E vou precisar mais ainda se obtivermos informação sólida na tal casa de campo. E é por isso que quero que fique fora disso e de prontidão até eu ter dado uma boa olhada no lugar.
Ele assentiu, aparentemente satisfeito.
Tá bom — disse. — Confio em você.
Confia? — Kennedy estava intrigada. -— Por quê?
Sou um bom juiz de caráter. Especialmente do caráter dos sargentos. Eu mesmo fui um por um bom tempo, e conheci dúzias deles. Os sacanas eram fáceis de distinguir dos decentes.
E quanto aos que estavam no meio-termo?
Não havia muitos desses. Outros postos têm gradações de cinza. Mas sargentos têm polos opostos. — Ele a estivera observando atentamente durante toda a conversa, mas agora olhava em direção aos portões do cemitério, onde o último dos pranteadores havia finalmente se arrastado para fora e os sacristãos haviam terminado o trabalho.
Se quiser prestar suas condolências — ele disse —, agora seria a hora certa.
Minhas condolências? — Ela seguiu o olhar dele. — Por quê? De quem era esse funeral?
Da Sarah Opie. Teria acontecido antes, eu acho, mas sua gente não liberou o corpo até ter feito a autópsia.
Ela experimentou uma sensação momentânea de desorientação — de ser arrancada de um lugar no tempo, como Ebenezer Scrooge em Um conto de Natal, visitando os pontos de parada de sua vida até ali, com Tillman como o espírito dos erros do passado.
O que você estava fazendo no funeral da Sarah Opie? — ela quis saber.
Eu não estava no funeral. Estava só vigiando tudo daqui. Só por precaução.
Precaução por quê?
— Caso nossos amigos nada bronzeados decidissem aparecer por aqui. Para procurar por mim, ou por você, ou por qualquer outra pessoa que ainda não tenham matado. Fiz um reconhecimento bem extenso antes e outro durante o funeral. Ninguém apareceu.
Kennedy não tinha uma resposta para isso. E não conseguiu pensar em nada que quisesse dizer diante do túmulo de Sarah Opie. Nesse assunto, pelo menos, ela pertencia ao grupo de pessoas que acreditam que ações falam mais alto que palavras.
A manhã seguinte pareceu longa. Kennedy passou a maior parte dela na sala comum, reexaminando as anotações do caso e encontrando muito pouco de novo ou significativo nelas.
A única área onde ela fez certo progresso foi no cruzamento de referências entre os depoimentos das testemunhas de Park Square, conforme tomados e registrados por Stanwick e McAliskey. Da primeira vez, perdera o relato que eles obtiveram de Phyllis Church, uma atendente da agência de aluguel de carros onde a van branca Bedford havia sido alugada pelos assassinos de Sarah Opie (mais uma pista promissora que não levara a lugar nenhum: os homens haviam usado identidades falsas extremamente boas, identificando-os como comerciantes de vinho português que vieram a Londres para um evento comercial).
A descrição de Church dos dois homens estava bem de acordo com a que fora feita por todas as outras pessoas. Ela se lembrava do cabelo deles, negro e crespo, e do semblante pálido. Perguntara-se se eram parentes, já que compartilhavam das mesmas feições notáveis. Mas ela também dissera que um deles deveria estar ferido, pois havia sangrado.
Kennedy leu o relato três vezes, grifando distraidamente palavras diversas enquanto o digeria.
Foi o mais jovem. Ele enxugou o olho. Daí, quando eu estava tirando uma cópia do passaporte dele para guardar no arquivo, olhei para ele e achei que estivesse chorando. Mas era sangue. Ele tinha sangue saindo do olho. Só um pouquinho. Como se estivesse chorando, como eu disse, mas sangue em vez de lágrimas. Foi meio sinistro mesmo. Então o rapaz viu que eu estava olhando para ele e se virou, para eu não poder ver mais. E o outro lhe disse alguma coisa em espanhol. Bom, pelo menos eu acho que era espanhol. Não falo essa língua. E o mais jovem foi esperar lá fora. Não o vi mais depois disso.
As palavras incitaram um eco, fizeram com que a memória de Kennedy dragasse uma imagem do homem que havia matado Harper. Era verdade: houvera lágrimas vermelhas escorrendo pelas bochechas dele. No caos e no horror do momento, ela se esquecera disso até agora. Poderia muito facilmente ter sido um truque causado pela luz. Mas não. Quando o outro homem se virara para encará-la, percebia-se que os olhos dele haviam estado raiados de sangue também. O rosto pálido e os globos avermelhados haviam dado a ele o ar de um santo dissoluto, bêbado com o vinho da comunhão.
Ela fez uma rápida pesquisa sobre condições congênitas e efeitos : laterais de drogas. Olhos injetados de sangue; dutos lacrimais sangrando; chorar sangue; lesões oculares. Essas combinações e muitas variações delas não mostraram nada além do óbvio. Quase qualquer coisa podia romper os minúsculos vasos sangüíneos dos olhos, desde uma tosse ou irspirro forte até pressão alta, diabetes ou contusão muscular. Mudanças na pressão do ar externo podiam causar isso também, mas qualquer esforço físico sozinho seria suficiente, mesmo em pessoas que estivessem em boa forma.
Já chorar sangue era outra coisa. Tinha um nome, hemolacria, mas este descrevia apenas o sintoma. O fenômeno em si parecia ser muito mais raro — e mais freqüentemente associado a estátuas de Cristo e da Virgem Maria do que a condições médicas. Um tumor canceroso no duto lacrimal poderia ocasioná-lo. Assim como certas formas raras de conjuntivite. Kennedy decidiu descartar, por enquanto, a possibilidade de que ambos os assassinos de Park Square estivessem simultaneamente sofrendo de alguma dessas condições.
Um longo artigo num website médico alternativo discutia a ocorrência espontânea de lágrimas enriquecidas com sangue nos adeptos de religiões de êxtase durante rituais em que os deuses eram chamados a descer sobre os fiéis. Revelou-se, contudo, que não havia nenhum exemplo legitimado disso. O artigo apoiava-se fortemente em fontes anedóticas do Caribe no século XIX: os bokors do vodu alegavam ter recebido o Baron Samedi ou o Maitre Carrefour no próprio corpo e ter produzido lágrimas sangrentas e suor sangrento por meio de uma discussão violenta. Mágica de palco, mais provavelmente. Outro beco sem saída.
Ela ligou para Ralph Prentice no necrotério da polícia, um velho conhecido, não exatamente um amigo, com quem ela não falava desde a morte de Marcus Dell e a subsequente perda de sua licença ARU. Ele não fez referência a nenhuma dessas coisas, embora certamente tivesse ouvido falar delas.
Eu estava querendo sua ajuda num assunto — Kennedy disse.
Vá em frente — Prentice convidou-a. — Você sabe que sou uma mina de ouro de informação inútil. E os três presuntos na minha mesa esta manhã são todos muito menos atraentes do que você.
Estou com sorte, hein? — Kennedy respondeu.
Ah, sim. A morta que chegou ontem era bonitona.
Deixando sua vida sexual fora da conversa, Prentice, você sabe de alguma coisa que poderia fazer as pessoas chorarem lágrimas com sangue?
Estro — Prentice disse prontamente.
Pareceu completamente irrelevante, mas pegou Kennedy de surpresa.
Quê?
Estro. Ovulação. Algumas mulheres fazem isso todo mês. Se está pensando em engravidar, esse é um período bastante confiável para isso.
"Algumas mulheres?"
É raro pra caramba. Talvez só duas ou três em um milhão.
Tá, e quanto aos homens?
Nem tanto. Imagino que um cara poderia ter uma infecção no duto lacrimal em si que poderia lacerar a superfície interna e causar um pouco de sangramento. Na verdade, tenho certeza de que conjuntivite pode causar isso — embora só os simples olhos injetados de sangue sejam o sintoma mais comum disso.
Dois homens ao mesmo tempo. Os dois que mataram o Chris Harper na semana passada.
Ah. — Houve um longo silêncio do outro lado da linha. — Bom — Prentice disse afinal —, deixando de lado a idéia de um deles ter uma infecção ocular e passá-la para o outro por ter ficado piscando perto dele sem o menor cuidado, duas possibilidades me vêm à mente.
Quais?
Drogas. Estresse. Possivelmente uma combinação de ambos.
Que drogas, exatamente?
Nenhuma droga de que eu já tenha ouvido falar — o patologista admitiu. — Mas isso não significa que não sejam drogas, Kennedy. Tenho um formulário aqui atrás de mim, na prateleira, que lista 23 mil delícias farmacêuticas, boa parte delas disponível on-line nos últimos doze meses.
Há uma lista de possíveis efeitos colaterais?
Sempre. Essa é uma das coisas para as quais o livro serve. Ele mostra aos médicos se há alguma contraindicação para um paciente em especial. Por exemplo, você não prescreveria venlafaxina a alguém que já tenha pressão arterial alta porque isso faria o coração da pessoa explodir.
Saquei. Bom, você poderia fazer uma pesquisa para mim, Prentice? Ver quais drogas listam hemolacria como...
São 23 mil compostos diferentes, Heather. Eu já te disse isso, lembra? Desculpe, mas o dia não tem horas suficientes, nem a semana em dias suficientes. E eu tenho meu próprio trabalho para fazer aqui.
Ela adotou um tom de penitência.
Entendido. Me desculpe, Ralph, não pensei direito. Mas deve haver formulários on-line, né? Lugares onde eu poderia achar isso usando um mecanismo de busca?
Provavelmente há — Prentice admitiu. — Mas você tem que entender que essas listas de efeitos colaterais às vezes ocupam três ou quatro páginas. Qualquer condição que tenha se manifestado nos teses, mesmo que tenha surgido só num paciente, tem que ser colocada lá. Então, você provavelmente vai descobrir que há uma centena de drogas para as quais a literatura cita sangue nas secreções corporais como um possível efeito. Eu honestamente nem me daria a esse trabalho se fosse você. A não ser que tenha alguma outra forma de restringir os resultados.
Kennedy agradeceu a ele e desligou. Ela se conectou à Internet mesmo assim, encontrou um banco de dados on-line sobre drogas, administrado por um fundo hospitalar no Estado de Nova York como um serviço aos hipocondríacos locais, e fez a pesquisa. Mas Prentice havia superestimado as possibilidades: havia apenas 17 drogas às quais hemolacria era atribuída como efeito colateral raro, porém conhecido. Todas derivadas da metanfetamina, aparentemente criadas para tratar transtorno do déficit de atenção ou obesidade exógena.
Mais ou menos na mesma hora, Stanwick entrou na sala comum, seguido, alguns segundos depois, por Combes. Kennedy não sentia nenhum entusiasmo pela companhia deles, e eles claramente sentiam o mesmo por ela, mas, enquanto esperava que Izzy chegasse com a chave da Fazenda do Pombal, ela não quis deixar a mesa. Salvou a lista de drogas e fechou o arquivo, devotando algum tempo à atualização do arquivo do caso com o que obtivera de John Partridge a respeito da faca.
Seu telefone tocou, e ela o atendeu.
Oi. — A voz de Tillman.
Oi — ela respondeu. — Podemos conversar depois?
Prefiro que a gente converse agora. Antes de você ir embora.
Sobre o quê?
Aquele clássico eterno do David Bowie, The Thin White Duke[9].
Ela hesitou, dividida.
Onde você está?
No Parque St. James. Do seu lado.
Te vejo lá.
Ela apanhou o casaco e saiu.
Andou por toda a extensão da Birdcage Walk sem ver Tillman; as únicas aves que viu foram pombos rondando os turistas. A prefeitura considerava as aves inimigas do Estado e contratava gaviões-asa-de-telha de aviários particulares para expulsá-las de Trafalgar Square, onde o excremento produzido por elas causava aproximadamente mais de 35 toneladas de danos a cada ano. Os pombos apenas se deslocavam um ou dois quilômetros e esperavam o calor do momento se dissipar.
Mas o calor vinha com toda a força naquele instante. A luz do sol acertava o chão, as árvores do parque e a parte de trás do pescoço de Kennedy como uma chuva de minúsculos martelos. O sol aberto sempre parecia uma coisa deslocada em Londres: algo que a prefeitura sem dúvida controlaria, se pudesse.
Quando chegou à esquina da Great George Street e à imensa fachada cinza do Museu Churchill, Kennedy parou. Havia muito mais pessoas ali, e lhe ocorreu que qualquer uma delas poderia ter sido designada para vigiá-la: um amigo ou aliado dos homens que haviam matado Chris Harper. Percebeu, então, que estivera inconscientemente esquadrinhando cada face que passava por ela, procurando por aquela combinação delatora de características — a pele pálida e o cabelo negro — que os assassinos de Park Square haviam compartilhado. Um casal jovem passou por ela, a cabeça inclinada uma para a outra, o homem murmurando algo ao ouvido da mulher, baixo demais para qualquer pessoa fora do espaço íntimo deles ouvir. Alvo localizado, talvez. Um homem de rosto aquilino de calça e camisa, que se deslocava determinadamente em direção a ela, acabou demonstrando estar apenas abrindo caminho para uma fila de crianças que se dirigiam ao museu.
Kennedy ficou na junção das duas ruas, toda cercada por altíssimas colunas neoclássicas como os lados fechados de um curral de ovelhas.
O sol em suas costas era como uma mão empurrando-a, arrebanhando-a. Ela pensou em Opie, cambaleando espasmodicamente enquanto o corpo absorvia a energia cinética de três balas; Harper sangrando axé a morte em seu colo; o momento de sua hesitação fatal quando a arma fora apontada para ela.
Isso não era jeito de viver. Não era jeito de pensar. Ela viu seu futuro pressagiado nos filamentos venenosos do medo e da incerteza que se reviravam em sua mente, na sombra sutil que agora pairava entre ela e o mundo: um futuro possível, de todo modo. Viu-se decaindo "uma inutilidade ainda mais profunda que a de seu pai, uma paralisia como a própria morte.
Ela se virou. Tillman estava apoiado contra um poste de luz a alguns metros dali, observando-a com uma paciência fria. Ela caminhou até ele.
Tá legal — ele disse, sem preâmbulo. — Duas noites atrás, eu me hospedei num pulgueiro tipo B&B em Queens Park. O lugar parecia bastante limpo, mas na noite passada voltei lá e já tinha uma infestação.
Espere. Quer dizer...
Dois jovens encantadores, medonhamente próximos de serem idênticos, esperando minha volta. Pele pálida, cabelo preto. A mesma dupla que encontrei na balsa, acho. Daquela vez eles quase me mataram, e na noite passada definitivamente teriam conseguido se eu tivesse entrado no campo de visão deles. E, quando tentei me aproximar passando por trás deles, os dois evaporaram feito neve no Saara.
Kennedy absorveu as notícias em silêncio, enquanto Tillman olhava para ela, esperando uma resposta.
A aparência idêntica — disse ela, por fim. — Acho que é um tipo de ilusão de ótica. Eles têm um jeito de se mover e uma expressão no olhar que é meio que uma assinatura. Faz com que a gente ignore diferenças óbvias de idade e porte físico.
Que se foda a semelhança de família — Tillman disse, sem irritação, mas com uma ênfase severa. — Sargento, eles estão por dentro dos meus contatos. Isso significa que estão por dentro dos seus, também. Se contou a alguém sobre essa casa de campo, ou a colocou no seu arquivo do caso, ou recebeu uma ligação da Ros Barlow na qual ela te contou que a chave estava a caminho, eu apostaria uma libra contra um soco na garganta que eles já sabem onde fica esse lugar e vão estar lá antes de você.
— Eu não contei a ninguém.
Mas escreveu em algum lugar? Não tem que fazer esse tipo de coisa quando há uma novidade no caso?
Sim, mas não escrevi. Ninguém sabe, exceto nós dois, Leo. E vai continuar sendo assim.
Eu quero ir com você.
Não. Já tivemos essa conversa. Da primeira vez vou só eu. Depois te dou o endereço.
Tá bom — ele disse com imensa relutância. — Você vai precisar do meu novo número. Mudei de celular, por precaução.
Ele informou o número e ela o escreveu na parte de dentro do pulso.
Você pode estar se afundando em algo grande demais, Kennedy — ele disse.
Ela foi embora sem responder. Estivera afundando em algo grande demais desde que Harper morrera e sabia que Tillman estava ainda mais, e por muito mais tempo. A questão, agora, era se algum deles conseguiria subir à superfície antes que seus pulmões ficassem sem ar.
Na sala comum, um pacote da FedEx jazia "bem no meio da mesa de Kennedy. Izzy chegara durante sua ausência e o entregara na recepção com um bilhete para ela. Dizia: Tem um pacote aqui pra você, querida. Um pacote bem, bem grandão. Você quer sentir"? Quer? Quer? — Muito amor, I. Kennedy corou violentamente — em parte pela idéia de que Combes ou outro daqueles babacas pudesse ter lido o bilhete, mas principalmente pelo pensamento de telefonar para o disque-sexo no qual Izzy trabalhava e falar sacanagens com ela.
Ela afastou a mente do que era mundano com esforço. Combes e Stanwick, ainda trabalhando em algo juntos no canto oposto da sala, não olharam na direção de Kennedy, nem pareceram notá-la. Mas, mesmo se tivessem dado uma boa olhada no pacote, eles não teriam encontrado nenhuma menção a Ros Barlow na etiqueta com o endereço. Ela o identificava como Berryman Sumpter, Consultores Financeiros.
Kennedy abriu o pacote e colocou a mão dentro dele. A ponta de seus dedos tocaram metal frio. Ela tirou a chave — uma velha e sólida peça da marca Chubb cujo brilho dourado e chamativo havia desbotado até virar um castanho médio e opaco. Então ela arrancou a etiqueta do endereço, só por garantia, e a guardou no bolso da jaqueta antes de logar o envelope no cesto de lixo.
Só precisava de mais uma coisa. Ela deixou a sala comum e desceu até o porão, onde ficavam os armários de evidências. O policial encarregado no momento era alguém que ela não conhecia: um sujeito de uniforme cuja etiqueta com o nome estava obscurecida pelos fones de ouvido pendurados no pescoço dele. Kennedy vira o cara colocar os fones naquela posição neutra às pressas enquanto ela descia as escadas. Ele era tão recém-saído da academia de treinamento que se sentou ereto quando ela se aproximou, como um garoto de escola. Um exemplar da revista Empire estava aberto diante dele, sobre a mesa.
Sarah Opie — Kennedy disse, escrevendo o nome no livro de registros do dia enquanto falava. — Caso número 1488870. Ela mostrou seu documento de identidade, e o policial abriu a porta do balcão para deixá-la passar, depois trouxe a caixa de metal com o número requisitado e a colocou sobre a grande mesa central para ela. Por algum tempo ele a observou peneirar o conteúdo dos bolsos de uma mulher morta.
Kennedy sacou seu bloco de anotações e escreveu alguma coisa. A atenção do policial encarregado deslocou-se gradual, mas inexoravelmente, de volta à resenha de um filme coreano de artes marciais.
O caso 1487860 era o de Marcus Dell. Kennedy podia ver a caixa dele numa prateleira mais baixa, na mesma altura dos joelhos dela. Puxou-a só um pouco e espiou dentro. Era ali que sua vida tinha começado a sair dos eixos. Como a caixa de Pandora, aquela ali continha todos os males do mundo de Kennedy. Ou, pelo menos, era a fonte deles.
Ela abriu a caixa mesmo assim. Fazer isso sem assinar o livro de registro era uma infração séria, que exigia uma advertência por escrito, mas o policial encarregado estava absorto em sua revista e parecia ter esquecido a existência dela. Ela se ajoelhou e encarou o que sobrara de Marcus Dell. Colocou a mão dentro da caixa e pegou o telefone arruinado que havia causado a morte dele. Etiquetado e empacotado, inviolável atrás do frio polietileno, a relação daquele objeto com o mundo havia acabado.
Kennedy chegou a uma decisão, um obséquio para consigo mesma.
Tá bom — ela disse, alguns momentos depois. O policial ergueu o olhar e descobriu que ela já havia colocado os vários envelopes e pacotes de volta na caixa. Em seguida se aproximou e os contou superficialmente, depois fez a mesma coisa um tanto mais cuidadosamente para ter certeza de que todos os números combinavam com aqueles do inventário. Tudo presente e correto. Ele assentiu, trancou a caixa e colocou-a de volta a seu lugar na prateleira.
Encontrou o que queria? — perguntou a ela.
Sim. — Kennedy balançou a cabeça positivamente. — Encontrei. Obrigada.
O policial conduziu Kennedy para fora novamente, que voltou à escada. Combes estava encostado à parede no meio do caminho para cima, esperando-a — na esquina, de forma que ela não soubesse que ele estava ali até quase tropeçar nele. Ele lhe lançou um olhar duro, nada amistoso, e não perdeu tempo com conversa fiada.
Diga o que está aprontando, sargento — exigiu ele com ênfase pesada e sarcástica. — Ou vou fazer com que você preferisse nunca ter nascido.
Kennedy manteve o rosto perfeitamente inexpressivo quando parou de uma só vez diante de Combes. No poço estreito da escada, ele constituía um bloqueio bastante efetivo. Ela decidiu deixá-lo falar primeiro. Talvez tagarelasse até dar com a língua nos dentes e contasse a ela o que já sabia. Então ela poderia decidir quanto mais precisava lhe dizer — se é que diria algo.
Combes pareceu mais do que feliz em se adiantar.
Você veio aqui embaixo para olhar alguma evidência já registrada — disse.
E daí?
E daí que, se tem a ver com as mortes do Rum, eu tenho o direito de perguntar o que é que você estava olhando e por quê.
As mortes do Rum? — ela repetiu. — E assim que estão sendo chamadas agora?
Estou falando sério. Você deveria estar trabalhando naquela faca e no lance do fórum on-line. Se tem novas informações ou uma nova opinião a respeito do que nós já temos, deveria ter colocado tudo no arquivo do caso e mandado uma cópia para a equipe.
Nada de novo — Kennedy disse. — Nada substancial, de todo jeito. Eu queria ver as coisas de Park Square.
Ah, é? — Combes nem se incomodou em esconder seu ceticismo agressivo. — Só porque te deu na telha? Nada a ver com aquele pacote que você acabou de receber?
Não faço nada só porque me deu na telha, Combes. Não tenho certeza de que pacote você está falando — nem porque você acha que é da sua conta.
Combes estivera segurando o envelope da FedEx atrás do corpo aquele tempo todo, ela percebia agora. Ele o mostrou e o brandiu diante do rosto dela.
Estou falando deste pacote — disse. — Lembrou agora?
O olhar de Kennedy ricocheteou do envelope rasgado da FedEx para o rosto ansioso de Combes.
Que comportamento curioso — ela disse. — Mexendo no meu lixo.
Combes ficou imperturbável.
Berryman Sumpter — ele disse. — A empresa de corretagem onde Ros Barlow trabalha. Eu tive que ir vê-la no escritório dela, Kennedy. Você achou que eu não lembraria mais, dois dias depois?
Eu achei que não era da sua conta — Kennedy respondeu. — E ainda acho.
Você não colocou isso no arquivo do caso.
O que deveria ser considerado uma indicação de que não é relevante para o caso.
Mas bem que você arrancou a etiqueta para que ninguém pudesse procurar no seu cesto de lixo e fazer a conexão.
Nisso ele a havia pego.
Tenho o direito de fazer o que eu quiser com correspondência particular — ela contemporizou.
E o que você fez foi vir correndo aqui embaixo pegar alguma das provas armazenadas. E uma baita coincidência.
Não, Combes. E uma coisa seguida da outra. E já que a segunda coisa tem a ver com meu trabalho, e aqui é onde eu...
[1] Air Traffic Control — Controle de Tráfego Aéreo. (N.T.)
[2] William e Caroline Herschel, irmão e irmã, foram astrônomos que moraram e trabalharam juntos; os irmãos Wordsworth eram William e Dorothy, poetas; Emily, Anne, Charlotte, escritoras, e Bramwell, pintor, eram os irmãos Bronté, extremamente próximos uns dos outros, dentre os quais Emily foi a mais proeminente. (N.T.)
[3] Trata-se de um episódio real. Em 15 de janeiro de 1919, um imenso tanque de armazenamento de melaço da fábrica Purity Distilling Company arrebentou e espalhou o produto pelas ruas de Boston. O incidente matou 21 pessoas e feriu 150. (N.T.)
[4] Podendo ser chamados também de assassinos em massa, spree killers são assassinos em série cujos crimes ocorrem num período muito curto e não têm um padrão distinto. (N.T.)
[5] Tipo de chute do caratê. (N.T.)
[6] Poder de parada é o nome dado à capacidade de uma munição de neutralizar um ataque ou incapacitar um oponente com um só tiro, sem necessariamente matá-lo. (N.T.)
[7] Os Bow Street Runners foram a primeira força policial profissional de Londres. Fundada em 1749 pelo escritor Henry Fielding, recebeu esse apelido da população porque funcionava no escritório do autor, então magistrado da cidade, na Bow Street. (N.T.)
[8] Independent Police Complaints Commission, ou Comissão Independente de Queixas Contra a Polícia. (N.T.)
[9] O título do álbum se traduz como "O Duque Magro e Branco". Aqui, faz uma referência sutil à brancura da pele dos assassinos de Park Square. (N.T.)
O melhor da literatura para todos os gostos e idades