



Biblio "SEBO"




Como todos os outros, ele nascera madeira. Um simples cabo de vassoura, que, exatamente por ser simples, sentia e ouvia, falava e não era ouvido senão por aqueles que lhe eram mais próximos e semelhantes. Pobre e sofrido cabo de vassoura, em “cavalo” transformado, carente de afeto na hora da despedida, da mudança, no receio de ser trocado por brinquedos mais modernos. Um cabo de vassoura um tanto humano... e quase sempre melhor que muita gente...
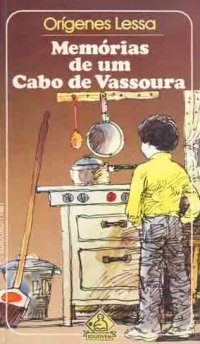
Eu já fui cabo de vassoura, confesso. Um cabo de vassoura como tantos outros. Seria longo contar tudo o que tenho passado nesta longa vida, desde que me arrancaram da árvore em que fui tronco e me levaram a uma oficina, onde fui cortado, torneado [= arredondado] e mil coisas sofri, até conhecer a nova função (= profissão] que me reservava o destino.
Meus irmãos de floresta, muitos cortados comigo na mesma ocasião, depois que deixaram de ser galho ou tronco de árvore para ser madeira, que é como nos chamam depois do serrote [= ferramenta para serrar] ou machado, estão espalhados pelo mundo de Deus. Muitos, hoje, são caixas e caixotes. Graças a isso, têm acabado conhecendo até países estrangeiros, levando laranjas ou latas de conserva. Outros acabaram mesas, cadeiras, armários, móveis de toda sorte. Tenho primos que são portas, janelas e se contentam olhando o movimento da rua. Alguns, tão orgulhosos [= vaidosos] no tempo das folhas, quando o vento passava e assobiava no árvoredo, são hoje, apenas, soalho. Fraco destino, para quem vivia na altura e sonhava, na pior das hipóteses, ser, pelo menos, teto ou armação de telhado, coisa que, para ser vista, obriga o bicho homem a levantar a cabeça. Ser pisado e repisado o dia inteiro, tábua humilde de assoalho, por pés desconhecidos, de sapato sujo, é triste para quem já foi árvore e enfrentou raios e ventanias.
Tenho visto e ouvido muita queixa pela vida a fora. Mas o triste, mesmo, a suprema humilhação para quem foi árvore, é acabar caixão de defunto.
Esse era o grande terror de meus irmãos de madeira, quando aguardávamos, cheios de inquietação [= medo], no depósito, o nosso aproveitamento industrial [= levar material para uma fábrica a fim de transformá-lo em um artigo de utilidade e vendê-lo ao público] como costumava dizer, em nossas conversas noturnas, o pesado portão de peroba, já industrializado e veterano.
Lembro-me muitas vezes do portão a nos gozar:
Vocês falam muito, mas vão acabar, embaixo da terra, agüentando cadáver...
Eu, que ainda era tronco, madeira sem muita categoria [= valor], pelo que notava na conversa dos homens, ficava gelado. Se pudesse, pelo menos, ser poste de iluminação, seria um consolo. Mas poste de madeira, com o tal progresso [= desenvolvimento] dos homens, vem perdendo o cartaz há muito tempo...
Destino de quem foi árvore ou galho é dureza...
Os homens que nos utilizam e nos utilizaram, desde o começo dos tempos, cortando, serrando, aplainando [= tornando liso], enfiando pregos, são de uma insensibilidade [= falta de sentimentos] impressionante. Pensam que madeira não tem alma. Classificam-nos entre as coisas “inanimadas” [= sem sentidos]. Os seres animados são eles. Eles e os bichos. E quando falo bichos, digo desde o leão, que é nobre e valente, o tigre, que é ligeiro e feroz, a águia, que domina os céus, até à cobra traiçoeira, covarde e venenosa, que se arrasta no chão, e mesmo a miseriazinhas insignificantes como a pulga, sugadora de sangue humano em casa onde não há limpeza e DDT, e ao cupim, que destrói a madeira, principalmente a de natureza mais frágil, como é o meu caso, que não sou carvalho [= espécie de madeira] nem jacarandá [= espécie de madeira], sou apenas pinho [= espécie de madeira].
Para o nosso grande inimigo (o homem, não o cupim), nós não passamos de “coisa”. Que pode ser aproveitada de mil modos, sempre para satisfazer exclusivamente ao seu egoísmo e aos seus interesses imediatos, com uma indiferença total pelo que possamos sentir.
Nunca passou pela cabeça desses monstros o que pode passar pela cabeça de uma árvore, ou pelo coração, quando um homem se aproxima de machado em punho.
E ninguém pode ter idéia do que é, para qualquer de nós, depois de corta aqui e corta ali e desce o machado ou passa a plaina, a visão de um simples prego. Como não temos o dom de ficar arrepiados, o sofrimento é puramente espiritual. O prego é trazido por mão impiedosa [= cruel], é posto contra nós, em posição vertical, o martelo se ergue, desce a pancada fatal. Pan! Pan! O prego entrando... A madeira rasgada... E a ironia de saber que o cabo do martelo ou do machado é de madeira também...
Vingança da gente é quando o sujeito erra o golpe e acerta, não no prego, mas no dedo... É cada palavrão que a gente escuta...
Pior, porém, do que machado, serrote e prego, destino trágico e sem conserto, é a madeira que o bicho homem utiliza apenas como lenha.
Destino de lenha [= madeira para ser queimada] é fogo!
Esquecido esse negócio de prego e maus-tratos que sofremos ao longo da vida, claro que há muita coisa bonita no destino da gente.
Ser barco, deslizando [= escorregando] à flor das águas...
Ser mastro de navio...
Ser pau de bandeira, o pessoal batendo continência...
Ser portal de palácio, ser porta de igreja, ser altar bem trabalhado (a preparação é dura, mas o resultado compensa), ser móvel de luxo, ser berço de criança, acabar escultura, são coisas que nos consolam [= aliviam] de qualquer sofrimento: serrote, sena mecânica, entalhe de pancadas cruéis...
Eu tive um colega (colega em madeira, não na profissão) que viajou muito. Esteve em Congonhas do Campo. Conheceu um santo, não de pedra sabão nem de mármore, de madeira. Vocês precisavam ver o orgulho com que ele dizia:
— Eu fui esculpido [esculpir = trabalhar em pedra, madeira ou mármore dando-lhe uma forma especial] pelo Aleijadinho [= Antônio Francisco Lisboa, notável escultor brasileiro] ... Vem gente me conhecer de todos os cantos da terra...
Claro que essa conversa só nós entendemos. Nossos temores e alegrias escapam aos homens, insensíveis, por natureza, ás nossas mais íntimas reações. Que são como as dos homens, as mais diversas. Como entre os homens, há madeira para tudo. Há madeira cujo sonho é ser cadeira, por exemplo. A mim, a coisa sempre repugnou-me [repugnou = desagradou muito]. Não gostada de ver gente sentada com aquela parte em cima de mim.. E a verdade é que há madeira que gosta de ser pisada, se alegra em ser chão... Há pau para toda obra. Há gosto para tudo. Mas há madeira que preferia até ser lenha a ser cano de espingarda, por exemplo. Em compensação há pau que gosta de abrir cabeça de homem, manobrado por outros homens, nessa horrível rivalidade que separa os seres humanos.
Uma coisa eu digo: tenho visto de tudo. Tenho visto homem brigando com homem, oprimindo [oprimido = pressionado] o homem, perseguindo o homem. Mas nunca vi madeira brigando com madeira, pau batendo em pau, a não ser quando manejado [= seguro com as mãos] por homens. Que estes, sim, raramente são flor que se cheire...
Não vou contar tudo o que vi e sofri no depósito, Nem na marcenaria [= onde se trabalha a madeira] para a qual fui transferido, depois que dois ou três sujeitos bigodudos estiveram discutindo preço e condições ao nosso lado. Fomos vendidos — às toneladas — como escravos, um carregamento gigantesco de pinho. Nosso aproveitamento industrial estava traçado e ainda não sabíamos o que seria de nós.
— Eu quero ser caixote — dizia um colega meu, um tronco robusto [= forte] que ia ser tábua, mas não sabia de quê. — Como caixote a gente tem chance [= oportunidade] de correr o mundo.
— Eu queria ser transformado em piano... Virar música...
— Piano de pinho? — perguntava com ironia um tronco de jacarandá. — E ainda mais pinho nacional? Vai esperando...
Pág 18
Descobri logo que os da nossa espécie tinham cotação [= valor] muito baixa no mercado. Móvel barato. Casa humilde. Utilização inferior. Eu me encolhi mentalmente [= em pensamento].
— Não quero nem pensar...
Hoje eu não quero nem lembrar o que foram aqueles dias de espera. Nem vou contar o que passei quando vi aqueles tornos mecânicos, as serras elétricas, todo aquele instrumental que nos iria estraçalhar. E quanto sofri quando um cara, que examinava lote por lote e tronco por tronco, separou o meu e disse,.. Não. Não conto mesmo. É melhor passar por cima. Meu velho tronco foi transformado em tronquinhos, em varinhas finas e redondas, que eu não podia atinar [= fazer idéia] para o que podiam servir. Sei que fui vendido, num grande lote de tronquinhos iguais, a um fabricante qualquer. Num caminhão nos meteram.
— Vamos ver um pouco do mundo — disse um companheiro ao ser transportado para o gigante de rodas.
Não vimos. O caminhão era fechado. O caminhão saiu, rodou, parou, rodou de novo, rodou e parou um infinito [= grande quantidade] de vezes. Ao fim de muito rodar, parada definitiva. Abriu-se a porta. Veio um operário e nos carregou para a fábrica. Éramos jogados no chão com a maior crueldade [=maldade]. Daí a pouco, torno outra vez. Fizeram-me, numa das pontas, uma espécie de pescoço. Veio alguém de lixa na mão e nos deu um vago [= leve] polimento. E quando dei por mim, tinha na outra ponta uma barba espetadiça, presa a mim por um troço de latão — e tome prego! — que eu custei a saber o que significava. Fiquei muito tempo sem entender. Fui amarrado, viajei de novo, acabei num armazém.
— O senhor tem vassoura? — perguntou uma freguesa entrando no armazém...
O vendedor apontou para o nosso lado. A mulher veio, examinou uma, examinou outra.
— Eu levo esta.
Eu desconfiava eu intimamente sabia, mas não queria acreditar. Agora não tinha mais dúvidas... Não passava de cabo de vassoura, um mísero [= sem valor] cabo de vassoura.
Só quem foi cabo de vassoura pode avaliar [= ter idéia] o que eu passei. A mulher me pegou muito sem jeito, várias compras numa sacola meio rasgada, e saiu para a rua. Eu queria apreciar o movimento, mas ia de cabeça pra baixo. O bigode de piaçava estava lá no alto (eu teria de agüentar aquele cara multo tempo agarrado a mim) e gozava a minha humilhação. Ele via e contava.
— Pena você, aí embaixo, não poder apreciar... Vem ali uma morena daquelas, de parar o trânsito... Dá pra ver?
Não respondi.
— Olha só que casa bonita... Alta pra chuchu... Estamos numa rua importante...
Eu só via o chão e em posição muito incômoda [= desagradável]. Papéis rasgados, muito pé de gente, indo e vindo, sujeiras de toda qualidade: casquinhas de sorvete, caixinhas de chiclete, latas enferrujadas, pedaços de vidro, cascas de frutas. Alguém, um pouco adiante, escorregou numa casca de banana e foi ao chão. Eu vi de perto o dono do escorregão, todo machucado.
Viu a cara dele? — perguntou rindo a barba de piaçava [= fibra usada para fazer vassoura] na outra ponta.
Vi. E daí?
— O que é que ele disse?
Em primeiro lugar, eu não repito essas coisas. Em segundo lugar, eu estava com pena, o infeliz se machucou muito. E a nossa dona traduziu o que eu pensava:
— É incrível [= espantoso] como há pessoas inconscientes [= sem juízo] neste mundo (naturalmente se referia ao mundo dos homens...) Então isto é coisa que se faça? Deixar casca de banana na calçada?
Mas o homem já estava de pé e o resto, ou o rosto, eu não podia ver. Sei que ele saiu resmungando e a parte propriamente vassoura do meu novo estado ria com uma inconsciência e uma crueldade que tinha qualquer coisa de desumano. Ou melhor: humaníssima...
Divertida ela estava lá em cima.
— Olha que vitrina mais linda!
Não dava pra ver. Mas fiquei sabendo que a vassoura estava de bom humor e contava tudo, só para me machucar.
— É pena você ser a parte de baixo, meu querido. O mundo é uma beleza! O bicho homem sabe fazer coisas! O homem é maravilhoso. As mulheres, ainda mais...
Ela estava divagando [= desconversando]. Eu queria era saber o que estava na vitrina. Mas não ia dar a confiança de perguntar. Felizmente ela estava na base do massacre e falou tudo.
— Que vitrina estupenda [= maravilhosa]! Só brinquedos de luxo!
Coisas finas! Coisas fabulosas! Bonecas! Aviões! Automóveis! Cavalos! (Era a primeira vez que eu ouvia a palavra.) Foguetes astronáuticos!
Eu ouvia tudo aquilo sem entender muito (ainda não estava habituado [= acostumado] com o mundo dos homens) e, no fundo, embora humilhado, admirava a capacidade rápida de conhecer as coisas humanas que a minha parte propriamente vassoura vinha demonstrando. Não contive a minha admiração:
— Como é que você sabe tudo isso?
Aí é que ela me humilhou de uma vez:
— Crânio [=inteligência], meu filho, crânio! Eu sou a parte de cima. Eu sou a cabeça!
E gargalhava com o maior desprezo.
Felizmente a minha humilhação não durou muito. Eu, aliás, tinha a intuição [= saber que algo vai acontecer] de que assim ia ser. Nossa dona entrou numa casa enorme. (Eu, naturalmente, ao contar estas coisas e ao dizer-lhes o nome, não quero dar a entender que já as conhecia, fui aprendendo com o tempo...) Subiu dois degraus de mármore (o nome eu soube depois) e parou diante de uma espécie de gabinete, de onde descia um barulho crescente e saía um ventinho que me consolava do calor da rua. Era um elevador que baixava.
— Eta vassourinha ordinária [= ruim]!
Não gostei da frase. Vinha da porta do elevador. Não foi ouvida pela nossa dona (os humanos são incapazes de penetrar a alma da madeira). Ela estava é se queixando do calor da rua e do preço das coisas.
— Está tudo pela hora da morte! Caríssimo!
Caríssimo! O dinheiro não compra mais nada!
Havia uma outra dona no elevador. A nossa continuava a falar.
— Feijão é um absurdo [=sem cabimento]! Sabão é o preço do presunto, antigamente! E você sabe quanto eu paguei por esta droga de vassoura [= vassoura sem valor] que você está vendo?
Meu complemento vassoura estremeceu, no mais íntimo dos seus espetinhos de piaçava, quando a outra dona o olhou, com o maior pouco caso:
— Eu sei... Eu comprei uma igual. E o pior é que não vale nada...
Fiquei à espera de uma reação. Não veio. Minha parte vassoura, que era o objeto de tamanho desprezo, fingiu não ouvir.
A mulher continuava.
— Você passa essa porcaria no chão, em vez de limpar, suja mais...
Eu estava começando a entender. A gorducha insistia:
Esfiapa-se toda... A gente tem que varrer a própria vassoura que se desfaz [= desmancha]... Uma vergonha! Uma vergonha...
— O que é que a nossa amizade está dizendo? — perguntei com malícia [= intenção maldosa] ... — Aqui embaixo eu não ouço nada direito...
Mas a barba pretensiosa [= convencida], lá em cima, não quis responder.
Tinha perdido completamente o rebolado [= jeito]...
Mas o bom — ou o pior... — viria depois. A dona saia do elevador, tocava uma campainha, uma porta (essa era preguiçosa e resignada [= corformada]) se abriu.
Entregou-nos à cozinheira, depois de colocar sobre uma mesa de fórmica (tenho um nojo de plásticos...) a sacola de compras.
Eu acabava de travar [= fazer] relações com meu primeiro inimigo: a cozinheira. Só me reconciliei com ela, tempos depois, quando a vi queixar-se à copeira das durezas de sua vida, um filhinho doente, o marido desempregado. Ser gente nem sempre é um céu aberto. Só não precisarmos comer, vestir, fingir importância, como acontece com os humanos, já é uma grande coisa. Muita madeira que se queixa da vida, se pensasse no que acontece com os nossos exploradores, grandes e pequenos, ou que se enche de inveja quando os vê refestelados [= bem acomodados] numa poltrona a tomar uísque ou bater papo, ficaria muito feliz dentro da sua passiva [= quieta] condição [= situação] de utilidade doméstica, tantas vezes humilhante. Fome, pelo menos, não conhecemos. Nem dor de barriga, que é uma das coisas mais feias que eu tenho visto nos humanos. Mas é preciso voltar à minha cozinheira. Ela me pegou pelo meio, olhou-me de cabo a rabo, ou melhor, de cabo à vassoura, e perguntou:
— Não encontrou coisa melhor, Dona Sara?
A dona tinha, mesmo, jeito de Sara. Pra rimar com taquara. Taquara rachada. Era uma voz desafinada [= de som ruim] e desagradável. E foi com essa voz que ela falou:
— Eram todas iguais. Tudo muito ordinário...
Tratava-se do meu inimigo n.º 2. Mas o meu inimigo n.º 1, a cozinheira, que eu acabei perdoando mais tarde, como disse, porque muito infeliz, atirou-me a um canto, junto à pia:
— Nunca vi coisa mais nojenta!
Ao lado havia uma lata de lixo, repleta de cascas de batatas, sementes de tomate, restos de comida, óleo a escorrer de uma lata de sardinha, com a língua pra cima, com ar de fome ou de sede, um saco vazio de açúcar, borra de café, barbante, poeira, papel amarrotado, jornal amassado, um par de sapatos velhos, de boca aberta e buraco na sola.
Dizer que eu — ou que nós... — éramos mais nojentos que aquilo, era muita vontade de ofender [= magoar].
Se era isso o que ela pretendia, conseguiu em cheio. Sorte dela foi que a patroa não entendeu o que eu pedia, do fundo das minhas entranhas [= interior] de cabo de vassoura:
— Me acerta nela, patroa! No meio da testa... Me bota pra quebrar...
Quando o destino é de cabeça baixa, o melhor é pensar noutra coisa. Ninguém me tinha dito nada. Eu sabia que era vassoura. Ou cabo da... Mastro de navio, não era. Pau de bandeira também não. Nem era bandeira... Não era espada. Não era automóvel Não era avião. Não morava em Niterói. Não tinha sido talhado [= cortado, trabalhado para tomar uma forma especial] pelo Aleijadinho ou por qualquer artista importante, para vir gente do mundo inteiro me conhecer. Não era colar em pescoço de madame. Não era aparelho de televisão. Não era taça de champanha Não era jóia. Era aquela coisa comprida e magrela. Apenas. Tinha aquela barba pobre lá embaixo... Ah! Sim! Agora a barba de piaçava estava lá embaixo e eu nem notara! Eu, de cabo, na quina [= canto] da parede, ela de focinho no chão, nós dois emendados para o resto da vida, a um canto da cozinha, cheirando a alho e cebola, só podia ser aquilo... O chão de azulejo barato estava cheio de restos de tudo. Havia até água e café derramado. Fechei os olhos da alma e procurei mudar meu pensamento. Voei para a floresta onde crescera livre e me fizera árvore. Recordei com saudade as carícias [= carinhos] do vento. Lembrei os banhos de chuva, que eram freqüentes no verão. Tinha a impressão de estar vendo todas as árvores agitando [= balançando] os galhos a pedir o socorro do céu, quando trovejava e os relâmpagos estalavam e se ouvia de longe uma colega atingida por um raio infeliz. Até isso eu lembrava com saudade. Até essa agonia...
Depois pensava em passarinho cantando e colegas floridas, uma quaresmeira [= nome de uma árvore] muito nossa amiga, um velho mulungu do norte, que era todo flor no meio do ano, um operoso [= trabalhador] joão-de-barro que fez casa quase ao meu lado, num galho robusto.
As palavras da cozinheira, que provocava a copeira, não me devolveram à terrível realidade. Voltei para a floresta. Revi aquele cara do machado, que nos derrubou. Pensei no velho portão de peroba, do depósito onde morei muito tempo. Voltei ao velho mulungu meu vizinho, tão orgulhoso de parecer toda uma flor gigantesca [= muito grande], visível [= que se vê bem] e admirada a grande distância pelos que passavam na estrada.
Nisso, a patroa entrou de novo na cozinha.
— Por favor, Maria! Isso também é demais, muita sujeira!
E cortando uma explicação qualquer que a mulher queria dar, com as muitas ocupações do momento:
— Eu quero que você me diga pra que foi que eu comprei vassoura? Comprei para enfeite? Me diga! Quero tudo isso muito limpo, tá bem? E já!
Sem palavra a Maria me agarrou pelo meio e começou a esfregar, com fúria [= raiva], minha barba no chão. Nas cascas, no café derramado, no lixo.
Eu era apenas o cabo. Foi um alívio. A minha parte propriamente vassoura é que passava o lixo na cara...
Devo confessar, muito envergonhado, que, quando senti a barbicha da piaçava misturada no lixo, esfregada com raiva nas sujeiras do chão — imundo — eu me lembrei do que ela fizera comigo, na vinda do armazém, e tive um sorriso de vingança.
A infeliz me gozara [= zombara] na rua, já contei. Julgava-se mais importante. Estava, no momento, por cima, e se gloriava disso. Não foi companheira. Falava, orgulhosa, no que estava encontrando, nas garotas e vitrinas que via, como se ela fosse um ser privilegiado [= melhor que os outros] e eu apenas uma coisa por baixo.
— É pena você ser a parte de baixo, meu querido! O mundo é uma beleza!
E ria, não propriamente na minha cara, mas na minha ponta.
Ela, agora, estava conhecendo a beleza do mundo.. o focinho no azulejo sujo...
A poeira a subir-lhe pela barba. Ela amassada contra o chão. Enfia aqui. Enfia ali. Arrasta imundície [= sujeira]. Sente o cheiro dessa meia lama...
Conheceu, papuda [= prosa]?
Mas acontece que, onde ela ia, eu ia também. Do lado de cima, mas ia. Era levada contra a sujeira, mas eu ia atrás. Maria a introduzia embaixo do fogão, que a patroa comandava a operação-limpeza, eu tinha que acompanhar sua triste visita.
E eu logo percebi que a sua humilhação era minha também. Talvez pior. Para todo mundo, ela era “a” vassoura, eu apenas o cabo. Sem ela eu seria apenas um pedaço de pau e eu ainda me lembro, no meu tempo de árvore, do destino que tinham os pedaços de pau: fogão de caipira [= da roça], lenha para o fogo...
Se ela estava errada antes, quando se imaginava por cima, eu erraria agora, tendo a mesma atitude. Na realidade e no fundo, nós não éramos santo de igreja, nem trono de rei, nem cadeira de balanço. Na sala pegada havia uma. De palhinha e madeira, naturalmente. Graciosa [= elegante], leve, meio dançando, meio cantando. Quem agüentava o pior dos humanos era a palhinha do assento. A parte de madeira balançava, ia e vinha, e a gente que nela repousava [= descansava] tinha um ar de bem-aventurança [= felicidade] de fazer inveja. Em cadeira de balanço os homens ficam bons, como em nenhum outro lugar. É paz no rosto, é coração aberto, é mão tranqüila. E a cadeira vai e a cadeira vem, macia e calma.
Que diferença, meu Deus!
O fato é que eu não nasci cheio de curvas acolhedoras, mas reto e rijo [= duro]. Pra cadeira de balanço não servia. Tinha o destino traçado, no tal aproveitamento industrial de que falava o portão. Fugir da vassoura eu não podia. Estávamos intimamente ligados. Fugir àquele emprego, também não. Eu não podia fintar [= enganar] a cozinheira, quando ela me pegasse. Era fazer o que ela quisesse: a cara no lixo! E só no lixo da cozinha, que nos outros cômodos da casa a família usava aspirador de pó, um aparelho de voz grossa e metido a bacana. Esse nem sequer nos dava confiança. Estava guardado num armário embutido na cozinha e, quando saía para o trabalho, nos outros cômodos da casa, tinha pra mim — ou pra nós — um ar de profundo desprezo. Até hoje não entendi por quê. Nós, pelo menos, não precisávamos engolir a sujeira...
Acabada aquela primeira operação-limpeza, que tanto me atormentou, mas na qual me identifiquei [= entrosei, senti] com a minha parte vassoura e passei a sentir por ela uma profunda simpatia, tive uma grande surpresa.
A operação fora dura.
Dona Sara de voz de taquara (rachada) tinha sido impiedosa.
— Olha aquele canto como está, Maria. É só pó... Passa a vassoura...
Maria obedeceu.
— Veja embaixo da pia. Está horrível!
Ela viu e varreu. Ou melhor, nós varremos.
— Esta cozinha está uma vergonha! Você é muito relaxada [= sem capricho], Maria! Olha só aquilo...
Maria olhou na direção do olhar de Dona Sara, o teto.
— Tem até teia de aranha!
Maria suspirou.
— Você vai limpar ou não vai?
— Vou ver se dá jeito.
O jeito que ela deu foi nos virar de cabeça pra baixo. Quer dizer, a parte vassoura pra cima, a parte eu no rumo [= direção] do chão, como no passeio pela rua. Ergueu-nos na ponta do braço, ergueu-se na ponta dos pés, com esforço (ela se queixava de dores nas costas) e tocou a piaçava nas teias de aranha.
— Olha a “mamãe” subindo — disse alegremente a minha parte vassoura, no primeiro momento. — Agora eu vou...
Me deu aquela raiva... Mas logo tive pena. A coitada não terminou a frase. Estava toda enrodilhada [= enroscada] naquela teia escura, que lhe entrava pelos fios, um trabalho danado, depois, para a Maria tirar... E logo em seguida eu estava na minha posição natural e impulsionava [= empurrava], sob o comando da cozinheira, o triste varrer das mil sujeiras, até que Dona Sara, de voz de taquara, se deu por satisfeita.
— Esta bem, Maria, está bem. Vê se conserva agora a casa limpa...
E já saindo:
— Põe mais água no arroz, criatura. Se não, ele acaba queimando. Você nunca aprende.
Ah! Taquara rachada! Sempre se queixando... Sempre reclamando...
Quando ela nos favoreceu com a sua ausência, Maria nos deixou outra vez no mesmo canto onde havíamos começado nossa triste missão.
Foi então que eu entendi bem minha parte vassoura e me identifiquei com ela. Estávamos no tal canto da cozinha, eu por cima, ela por baixo, toda ruim... Molhada do café e da água do chão. Empapada [= cheia] de poeira, teia e outras tristezas da vida moderna.
— Você viu que trabalho bonito a gente fez? Viu que limpeza perfeita? Eu sou a maior!
Ela cultivava [= mantinha] o otimismo [= bom humor], por sistema. Procurava ver o lado melhor de todas as coisas.
— Agora é que você vai ver, meu filho... Vamos botar esta cozinha nos eixos [= em ordem]! Acabar com essa pouca-vergonha!
Sorte é que a nossa inimiga n.º 1 não entendia língua de madeira. Aliás, não devia ser muito forte em linguagem humana, porque a todo momento eu ouvia a patroa gritar-lhe:
— Será que você não entende, criatura? Tudo o que eu mando, você faz ao contrário...
Mas foi injustiça minha chamá-la de inimiga n.º 1. Foi a primeira pessoa cuja inimizade [= falta de amizade] eu senti, é diferente. Começou logo xingando, mal eu entrei na cozinha. Mas não era má. Era uma sofredora. Acordava cedinho, antes de todo mundo na casa. Virava-se [= agia] o dia inteiro. Começava a trabalhar antes dos outros tomarem o café e ainda estava arrumando e ajeitando coisas depois que todo mundo estava dormindo, ou vendo novela na televisão. Lava, esfrega, corta, descasca bota no fogo, tira do fogo, ferve a água, passa o café, pica a cebola, mói a carne, limpa o camarão, vigia a panela, passa o bombril na frigideira, bate a omeleta, esconde o prato quebrado, que a patroa está chegando...
Quem a via resmungar [= reclamar em voz baixa] o dia inteiro tinha até medo. Parecia uma fera.
A colher caía no chão.
— Peste de colher!
A faca estava sem corte.
— Faca mais ordinária!
A patroa chamava.
— Se quiser, chame outra vez, que eu não estou ouvindo — dizia baixinho para a panela mais próxima.
Mas tudo aquilo era aparência [= por fora]. Com o tempo fui vendo, fui me convencendo [= entendendo]. E mesmo quando ela esfregava a minha cara no chão, isto é, a minha cara-vassoura é porque não havia outro jeito. É que a patroa exigia [= ordenava]. E só quando a patroa reclamava...
Eu achava ótimo. Ficava na moleza no meu canto, olhando a vida, ouvindo rádio. Nesse ponto, eu não tinha nada em comum com o meu complemento de piaçava: estava muito pouco interessado em botar a cozinha nos eixos.
Não custava nada usarem o aspirador de pó na cozinha também...
Mas a família não era somente a Maria, Dona Sara e a arrumadeira, que não trabalhava na cozinha. Tinha Seu Conrado, freguês habitual [= de sempre] da cadeira de balanço. Tinha o Renato. Tinha o Mariozinho. Quando eles estavam em casa, de volta da escola, sempre havia mais gente. Gente em começo. Criança. criança é começo de mulher ou de homem. É como árvore crescendo. Só que árvore, mesmo quando pequena, não chora, não faz barulheira não precisa estudar, não escorrega não grita, não xinga, não corre, não brinca, não pula, não desobedece.
Criança, principalmente desobedece... Basta dizerem “não”, ela faz. E às vezes se dá muito mal...
— Não brinque com fogo.
Ela brinca e se queima.
— Não atravesse a rua, sem olhar antes os automóveis...
Por não obedecer, um amigo do Mariozinho ficou três meses no hospital.
— Não fique na chuva
Renato teve uma semana de cama, com uma tal de pneumonia, que é uma doença cacete [= (gíria) desagradável].
Aliás, não gosto desse costume dos homens de nos usarem como termo de comparação para as coisas desagradáveis. Foi sem querer que eu falei “doença cacete”. Cacete é pau, é madeira, é da nossa família. Aprendi com os humanos a usar a palavra, mas não acho direito. Quando querem dizer que alguém, da confraria [= da amizade] deles, não tem assunto, ou fala demais, ou repete sempre a mesma coisa, dizem que é um sujeito “cacete”. Quando se ameaçam entre si, nas suas disputas, falam em “baixar o pau!” [= (gíria) bater] Só para nos envolver numa idéia desagradável, num sentimento desumano, mesmo porque hoje, nas suas pelejas [= lutas], eles usam coisas bem mais complicadas. O que mais me irrita, porém, é que, quando querem chamar alguém de cínico, de mentiroso, dizem que o infeliz é “cara-de-pau!” Cara-de-pau por quê? Alguém já viu pau mentir? Alguém já viu madeira fazer mal? Se o pau desce na cabeça de alguém, foi homem que o moveu. Por conta própria, por maldade própria, nunca. Se alguma vez galho de árvore desabou matando gente, foi raio, foi vento, foi velhice, foi imprudência [= falta de cuidado] de quem ficou embaixo...
É verdade que, vivendo no meio dos homens, às vezes a gente se deixa contaminar [= envolver] por certos maus sentimentos. Eu mesmo ainda há pouco, ao contar as minhas impressões na cozinha de Dona Sara, quando me vi insultado [= ofendido] pela Maria, pedi em pensamento à dona da casa: “Me acerta! Me acerta no meio da testa!”
Felizmente ela não me entendeu nem estava disposta a perder a empregada. Porque eu iria ficar envergonhado para o resto da vida...
A gente nunca deve seguir os maus exemplos que essa raça nos dá. Devemos assistir a tudo o que eles fazem de errado — quando erram, é claro — com a maior cara de pau. Mas no bom sentido...
Mas eu estava falando nos meninos. De casa, eram dois. Na casa, quando eles estavam, havia sempre muito mais. O Ivãzinho. O Ricardinho. O Fernando. A Cláudia. O Gil Vicente. Cada um mais levado que o outro.
— Ih, lá vêm os demoninhos!
Era sempre a exclamação [= fala] da Maria quando os via chegar. Mas aquilo, depois fiquei sabendo, era da boca pra fora [= sem maldade]. Ela adorava criança. Porque alegrava a casa. Porque era uma boa desculpa, quando alguma coisa saía errada. E porque atrapalhava completamente a vida da Marlene (a arrumadeira, não a cantora de rádio). Esta ficava quase doida com a desordem que eles faziam pela casa toda.
— Pelo amor de Deus, seu Ivãzinho! Eu acabei de encerar! Olha que eu conto à Dona Sara.
Maria, que às vezes ficava de olhos cheios d’água (devia estar pensando no filhinho doente), intervinha [= entrava no assunto]:
— Deixa. Criança é isso mesmo. Precisa brincar...
Eu, do meu canto, mais ouvia que via. A bagunça era nos outros cômodos da casa. Criança não vem brincar em cozinha. O trabalho dobrado não ia ser meu. Era da Marlene (sonhava acabar cantando no rádio), era do aspirador de pó, era da colega dele, a enceradeira. Muito espevitada [= assanhada], muito pra frente, também metida a bacana. Mas só o brilho que ela deixava nos meus colegas do assoalho já me comovia.
Até hoje eu não entendi por que é que não se encera cabo de vassoura. A gente ia trabalhar, pelo menos, com um pouco mais de satisfação. Certo?
Eu estou abrindo o coração. Comecei a falar, vou falando. Oxalá [= tomara] não me achem “cacete”.. Sou hoje um cavalo de pau. Observo as coisas, procuro entender. Muitas vezes não entendo é claro. Mas é que o mundo dos homens é mesmo confuso. É difícil de aceitar É um mundo terrível. Vive da exploração dos outros mundos. O animal, o vegetal o mineral, o cósmico [mundo cósmico = aquilo que está no universo, espalhado pelo espaço]. Às vezes o homem tem coisas simpáticas. Pega uma flor e cheira... Colhe a flor e a leva à namorada num gesto gentil. Isso eu acho bonito. Mas pegar uma goiaba inocente uma laranja inofensiva [= que não ofende], uma pobre banana que não faz mal a ninguém que estava sossegadinha no seu cacho, tomando sol... descascar a infeliz e... e comer a coitada... isso eu não posso aceitar! De maneira nenhuma!
E eu nem quero pensar de que jeito elas vão acabar... Mas o homem come tudo, o mais devorador dos animais. Come animados [= diz-se dos que têm vida própria, podem se movimentar], inanimados [= diz-se dos que não sã animados] e desanimados [= sem coragem]. Na minha vida de cabo de vassoura eu via tudo. Parece que a natureza toda é dominada pelo homem. Madeira que o diga... Felizmente madeira ele não come. Mas é raro o fruto de árvore que lhe escapa.
Às vezes ele derruba uma árvore só para comer o que ela tem dentro de si, como acontece com o palmito. Mete a mão embaixo da terra e arranca, do fundo do chão, batata, inhame, aipim. Às vezes, come a coisa crua. No geral, cozinha, frita, assa, põe no fogo (a Maria que o diga). Folhas, grãos, frutos. E até bichos. Triste, quem nasceu galinha! Infeliz, quem nasceu boi ou vaca! Desgraçado [= infeliz], quem cair na rede! Caiu na rede é peixe, o homem come!
Até o leite dos bezerrinhos ele toma!
Já fui árvore. Já fui cabo de vassoura. Hoje sou cavalo de pau. Tenho visto muita coisa. Tenho entendido muito pouco. Ou será que eu sou burro e não cavalo?
É a tal história... Eu começo a contar uma coisa e me distraio, vou na moleza do papo [= (gíria) conversa] e me distraio, esqueço o principal.
Eu estava falando no Mariozinho, no Renatinho, no Ivã, no Gil Vicente. Nos garotos de casa e nos garotos de fora. Eram todos mais ou menos iguais, Criança é como bezerrinho, é tudo muito parecido. Já botam nome neles é exatamente pra isso: o único meio de diferençar [= saber quem é].
— Teu nome é Mariozinho, tá? O teu é Ivã, tá bem? Quando eu chamar pelo nome vocês já sabem quem é.
A explicação é simples. Tem criança no mundo pra chuchu. (Chuchu eles comem também, vi a Maria descascar e pôr na panela.) Depois serviu com camarão, um bichinho meio avermelhado que eles pegam no mar. Nem o mar escapa! (Tiram até o sal da água do mar!) Mas, como ia dizendo, tem um dilúvio [= foi uma grande inundação em toda a Terra, com quarenta dias e quarenta noites de chuva, segundo o Antigo Testamento] de criança no mundo. Só formiga tem mais... Mas cada família tem duas, três, no máximo. E como é tudo mais ou menos parecido, pra evitar confusão e pra não ter que dar comida para as crianças dos outros (gente só pensa em comer...) eles botam os nomes pra fazer diferença. Combinam tudo. “O meu é Fernando, o teu é Gil Vicente, tá?” Mas é tudo muito complicado. As vezes tem mais de uma criança com o mesmo nome. (Eu acho que eles não têm muita imaginação. [= idéia]) Não sei como é que os pais se arranjam pra saber qual é o seu João (foi o que eu mais conheci) no meio de uma joãozinhada que não tem fim. E o negócio deve ser tão difícil que eles inventaram também um tal de sobrenome. Tem Joãozinho Simões. Tem Joãozinho Pereira. Tudo porque é tudo muito parecido. Só com a prática eu comecei a distinguir [= diferenciar].
Claro... No começo é fogo [= (gíria) difícil]. Olho... Todos têm dois. Cabeça. Todos tem uma. O Renato tem dois braços? O Ivãzinho também. A Manilha tem duas mãos? A Claudinha também. Eles e elas, salvo [= fora] pequenas diferenças, que nem dá para notar, parecem todos saldos da mesma oficina. Dedos, todos têm cinco em cada mão. Pernas cada um tem duas... Conheci um de uma perna só, mas foi desastre de automóvel. Aliás, desobediência. Dona Sara sempre dizia:
— Cuidado quando atravessarem a rua. Lembrem-se do que aconteceu com Zequinha...
É verdade que às vezes há uns mais claros, outros menos claros. Mas a diferença é só na cor. O resto é tudo igual. Mesmo número de cabeça, mesmo número de braços, mesmo número de pés, mesma capacidade de inteligência mesma capacidade de comer...
E o mesmo direito, é claro. E pra mim, que não tenho preconceito [= opinião contra] de cor — sou um cavalo de pau inteligente, superior a muita gente boa.. — a semelhança [= aspecto] continua a mesma.
No meu tempo de árvore, a gente ficava observando saúva [= espécie de formiga] passar. Eu dava um galho, dava todas as folhas, pra quem soubesse me dizer quem era esta, quem era aquela. Passava uma, passava outra, passava mais outra. Uma delas voltava. Era uma, era a outra, era aquela outra ou era uma nova saúva? Impossível saber. Assim com as baratas. Assim com os sanhaços [= espécie de pássaro]. Assim com os bem-te-vis. Assim, principalmente, com os urubus, que voavam muito alto, procurando bicho morto pra comer (devem ter aprendido com os homens). Assim com as cobras. Assim com os lagartos. Tinha que ser assim com as crianças..
Mas, como eu ia dizendo e mais uma vez me perdi, com a prática comecei a distinguir. E vou falar no Mariozinho, que foi o meu grande amigo no mundo da desobediência e da travessura.
Sou hoje um velho cavalo de pau. Vou contar coisas do tempo em que ainda não era. Nem velho, nem cavalo de pau. Ainda cabo de vassoura. Dessa fase [= tempo] já contei muita coisa. Mas ainda não tinha falado do meu primeiro encontro com o Mariozinho.
Já fazia muitos dias, isto é, muitas varreduras, muito pito [= zanga] de Dona Sara na Maria, muito lava, muito descasca, muito cozinha, muito serve mesa, muito anoitece e muito amanhece, muita implicância do aspirador engole-poeira, muita badalação da enceradeira (eu uma vez pedi para ela me encerar, ela confessou que tudo dependia da arrumadeira ou da Maria). Nós, os inanimados manuais ou elétricos, nunca trabalhamos sozinhos. Apenas pensamos...
Mas, antes de me perder em recordar [= lembrar] o que pensava, acho melhor contar o que acontecia.
Eu e a barbicha de piaçava já estávamos resignados à nossa missão [= tarefa]. E o que é curioso [= interessante]: até estranhávamos quando Maria passava muito tempo sem nos esfregar no chão (eu me sentia esfregado também...) Dava aquela vontade de gritar como Dona Sara:
— Olha que vergonha esse chão, criatura!
Às vezes, ela parecia entender. E chape, chape, chape, varria. De má vontade, mas varria.
— Olha aquela casca de laranja, Maria.
Estava embaixo da mesinha.
Ela não entendia (especialidade dela era não entender...) e muitas vezes nós voltávamos para o canto ou para o armário embutido (a porta era de madeira e me contava o que acontecia lá fora) com o desgosto [= aborrecimento] do serviço malfeito. Porque, com o tempo, eu me convenci de uma coisa: o que a gente faz tem de ser bem feito. Um cozinha, outro lava, um arruma, outro varre, um canta, outro estuda, mas o que faz deve ser feito da melhor maneira possível. E se eu continuava a me chatear com aquele negócio de meter a cara no lixo, mais chateado ficava quando a varreção era malfeita. Parecia incompetência [= incapacidade] nossa.
— Nem para varrer eles servem!
Mas sempre sonhava em ser coisa melhor, em fazer coisa melhor, em não viver para ser misturado com o lixo. Esse é o sonho de toda vassoura, pelo menos de todo cabo de vassoura. É por isso que, para variar, alguns cabos de vassoura de mau caráter gostam de ser usados na cabeça dos outros...
Foi num dia desses, de pensamento insatisfeito, que entrou, pela primeira vez, na cozinha, o Mariozinho.
Claro que eu sabia tudo da vida dele. Ouvia as referências [= considerações] de Maria, da arrumadeira, de Dona Sara, ouvia as gritarias e travessuras [= artes] que eles faziam na casa e principalmente o que as portas, janelas e outros meus irmãos de madeira me contavam.
Mais de uma vez ele esteve para entrar no cômodo onde vivíamos, mas, ou alguém o chamava, ou alguém gritava alto:
— Cozinha não é lugar de criança!
Nesse dia ele entrou. Maria já ia tocar o garoto, mas foi desarmada [= foi acalmada] com uma pergunta:
— Seu filhinho melhorou, D. Maria?
Ela se amoleceu [= comoveu] toda e contou uma porção de coisas sobre o filho, o Marcos.
Eu espiava o garoto rosado, a camisa saindo da calça, o olhar travesso.
— Quando ele ficar bom, a senhora traz ele pra brincar com a gente?
— E vão deixar, meu filho? — disse Maria com o olhar enternecido.
— Ué! Eu deixo!
Mas a conversa não continuou. Ele acabava de me descobrir. Veio chegando, me pegou pelo meio, como os outros costumavam fazer. Eu estava deslumbrado [= maravilhado] e constrangido [= envergonhado]. Com ele, eu tinha vergonha de voltar ao lixo. Ah, se eu pudesse virar gente, como o filha da empregada, e ser convidado pelo Mariozinho pra brincar, aumentar a sujeira da casa e não ter que varrer!
— Ih, lá vou eu de focinho no chão! No começo, eu não entendi bem. De fato, a minha parte vassoura estava pra baixo. Mariozinho passava uma perna por cima de mim, segurava-me à altura do pescoço que me haviam talhado na oficina.
E, de repente, comigo entre as pernas, saiu galopando [= correndo como cavalo] pela casa.
“Xi! Ele tem um sistema esquisito de varrer...” pensei eu, com a minha parte vassoura a se arrastar às cegas [= sem enxergar] por tapetes e coisas inteiramente novas para a nossa experiência.
De qualquer maneira, eu estava fascinado [= encantado]. Conhecia o resto da casa, muito superior [= melhor] a tudo o que havia até então no meu pequeno mundo. Vi pessoalmente a famosa cadeira de balanço, os outros móveis, a televisão, o rádio, os espelhos (vi-me no espelho e me achei o maior, galopando sem saber por quê!), e começava a ter, pela primeira vez, uma sensação de orgulho, ao derrubar com a vassoura coisas encontradas no caminho, animado por uma espécie de grito de guerra:
— Oa! Oa!
Parecia que ele tentava me comunicar alguma coisa, dando-me uma pancadinha amiga no flanco [= parte traseira], falando comigo. Aquele oa! oa! era francamente comigo. Pela primeira vez alguém me dirigia a palavra, embora curta.
Foi maravilhoso. Passamos pela televisão várias vezes. Estava ligada. Varri, varremos, mas num sentido de alegria e desordem, mil coisas encontradas, principalmente brinquedos. Alguns, uma beleza!
— Ao! Oa!
O material era mais leve, brinquedos de plástico (nunca fui com a cara dos plásticos!) Varríamos tudo (no bom sentido, no novo...)
Eu estava na maior felicidade, quando ouvi uma outra espécie de grito de guerra. Pensei que vinha da televisão. Era da arrumadeira.
— Menino impossível! Que diabo de menino!
Arrancaram-me de Mariozinho com fúria, reclamando contra a desordem já feita, levaram-me de cabeça pra baixo rumo à cozinha.
— Como é que você permite [= deixa] uma coisa dessas, Maria?
E jogou-me contra o velho canto.
— Que foi? perguntou Maria, assustada.
— Travessuras do Mariozinho! Transformou a vassoura em cavalo de pau, fez uma bagunça na casa!
— Deixa o menino brincar — disse Maria, agora a minha amiga particular [= pessoal] n.º 1.
— Pois se ele fizer isso outra vez, vai ter! Eu conto tudo a Dona Sara!
E saiu resmungando.
Só então avaliei [= dei valor] bem o que se passara. Era a minha primeira experiência cavalar. Hípica [= relativa a cavalos], se preferem. E tinha gostado.
Mas como sofri depois, devolvido à minha antiga condição de cabo de vassoura! Após haver conhecido o esplendor [= beleza] de cavalgar, imponente [= com pose] e fogoso — Oa! Oa! Oa!— aquele regresso [= volta] ao mundinho do lixo, um mundo imundo, foi um longo inverno amargurado.
Mariozinho não foi mais visto na cozinha. Aliás, andou até de castigo.
Minha amiga porta, no seu eterno ir e vir, prisioneira dos gonzos, me contou.
A arrumadeira tinha dado parte. Dona Sara voltava das compras, ouviu tudo de cara amarrada, pintou o sete [= (gíria) falou muito] com meu novo amigo. Que não se fazia uma coisa daquelas... Que não se desarrumava a casa daquele jeito... Que ele estava estragando a vassoura... Que ela não tinha dinheiro para comprar outra... (será que eu sou caro?)
Que ele já tinha brinquedo demais e não precisava inutilizar [= estragar] uma coisa tão útil (agora ela reconhecia...). E que ele estava proibido, aquele dia, de ver a televisão (garanto que não perdeu grande coisa...).
Confinado [= preso] na cozinha de novo (só quem tinha o privilégio de rever todos os dias o resto da casa era o papa-lixo do aspirador metido a granfa) eu me consolava com a idéia de que um dia Mariozinho me havia preferido a todos os brinquedos caros (passáramos por cima de muitos, com a maior altivez...) e me passeara pelo apartamento todo, num galope genial...
— Oa! Oa! Oa!
Mas agora eu era apenas cabo de vassoura e recordava com saudade aquela experiência gloriosa.
Ah, se ele aparecesse aqui outra vez! Que beleza sair pela casa num galope legal, vendo, pisando, revirando as coisas!
Mas não aparecia. Eu ficava todo murcho no meu canto, conversando com a parte de baixo (era outro material, piaçava, era outra vida, embora identificada comigo). E a minha parte vassoura participava da mesma sensação [= emoção]. Ela também tivera o gosto, não de varrer, mas apenas de revolver o lixo encontrado, bagunçando tudo, deixando mais trabalho para o vaidoso engole-poeira e para a enceradeira, cujo trabalho também era de focinho no chão. (Ah, se alguém me encerasse!)
Mariozinho estava rigorosamente [= expressamente] proibido de aparecer em nossos domínios [= nosso lugar]. Tínhamos notícia dele pela conversa das pessoas de carne e osso e dos meus confrades de madeira. Sabíamos de seus brinquedos, correrias e travessuras. Sabíamos de seus estudos, passeios e castigos.
Tomara que ele fique logo doutor como o pai!
Às vezes diziam que ele ia ser médico. Outras contavam que ele queria ser chofer de praça, depois mudava de projeto [= plano], queria ser aviador. Teve uma ocasião em que chegou a notícia de que ele queria crescer e virar astronauta. Uma vez — quem me contou foi a porta, onde um dia me encostaram — Mariozinho mudara de idéia: queria trabalhar com carrinho de vender sorvete, pra tomar sorvete sem pagar. E um dia eu fiquei todo derretido de ternura. Soube que ele não queria mais ser nem médico, nem motorista, nem astronauta [= que viaja pelo espaço], nem sorveteiro. Queria, quando crescesse, virar soldado de cavalaria...
Ah, é que ele gostou de montar no papai!
E aquilo me consolou do muito varrer e nos levou — a mim e à parte de baixo — a ter outra vez o gosto antigo de caprichar [= fazer bem feito] na limpeza. Porque a obrigação de cada um deve ser sempre cumprida da melhor maneira! Havia um cartãozinho na parede, posto por Dona Sara, e eu vi a patroa ler uma vez em voz alta o que ele dizia:
“Sê perfeito em tudo o que fizeres...”
Era uma direta para a Maria e uma indireta [= um dar a entender] para nós...
E pensando no Mariozinho e sabendo que a nossa cozinha era a cozinha da casa dele, só queríamos que a Maria trabalhasse bem.
“Varre aquela casca de banana, Maria...”
O tempo ia passando e Mariozinho nada... Só de longe. Só de gritaria no outro lado. Só de arrumadeira se queixando da muita bagunça e dos muitos Renatinhos, Gil Vicentes, Ivãzinhos, Marcos e Joões que ele trazia para aumentar a desordem...
Enquanto isso, íamos envelhecendo. Quer dizer, eu não... Eu me sentia cada vez mais rijo. Mas a parte de baixo estava se esfiapando, cada varredura de chão era desgaste [= estrago] nas pontas, era fio que escapava e se transformava em mais sujeira, levada para a lixeira do prédio.
— Esta vassoura já não vale nada!
Esta porcaria tem de ser trocada...
— Dona Sara é muito muquirana [= não gosta de gastar dinheiro], já devia ter comprado outra vassoura...
Minha parte de baixo, na sua inconsciência (a piaçava nunca brilhou pela inteligência), ficava contente ouvindo aquilo.
— Que bom! Assim eu me aposento, não trabalho mais!
É que a infeliz não sabia que o prédio tinha incinerador [= queimador] de lixo. Se ela não sabia, não era eu quem iria contar. Para que atormentar a coitada com aquela horrível perspectiva [= idéia]? Fogo foi sempre o grande espantalho [= que dá medo] da nossa raça.
— Destino de madeira é fogo! — dizia um pau de lenha meu amigo, ainda nos tempos da floresta.
Eu continuava curtindo a minha angústia [= tristeza] e a saudade daquela tarde inesquecível. Em silêncio. Em silêncio e com medo. Que inveja da porta com sua viagenzinha curta, de ir e vir, sempre no mesmo lugar, no seu eterno abrir e fechar! Mas, pelo menos, vendo as coisas, vendo a vida com tranqüilidade. Para ser devorada pelo fogo, teria que ser com o prédio inteiro. E isso era difícil ... Que inveja da mesa! Sempre parada. Sempre agüentando peso de pratos, panelas e compras. Mas garantidona... Mesa não se joga fora, não se põe no fogo. Se fica velha, vende-se ou dá-se...
A mesa continua sempre.
E o assoalho? Pata humana, casco de visitante no lombo o dia inteiro... Gente indo e vindo, pisando, pisando. Mas o assoalho firme, não varrendo, mas varrido... Mais ainda: de aspirador sugando-lhe [= chupando] os sujos. E o que é maravilhoso: sempre de cara luzidia [= brilhante], com a enceradeira renovando tudo...
— Estás ficando um cacareco [= velharia], hem, meu velho?
Era a mesinha que falava.
Aquilo me doeu.
— Eu, não. A vassoura.
— E daí? Cabo de vassoura, vassoura é...
Fiz como o aspirador de pó. Engoli o insulto. E lá comigo:
“É... O negócio vai mal... Se eu tenho de morrer na flor dos anos [= jovem], se Mariozinho desobedece em tanta coisa, por que é que ele não arranja uma desobediência comigo?”
Sim, eu não queria morrer antes de um galope final, ouvindo o Mariozinho no seu grito de guerra:
— Oa, oa, oa, meu cavalo de pau!
O dia tão temido [=perigoso] chegou.
Maria passou-nos pelo chão, a sujeira ficou. Passou outra vez. Com força. Nada...
— Hoje eu falo com Dona Sara. Ou ela me dá vassoura nova, ou não faço mais a limpeza. Esta não vale nada! Vou jogar esta porcaria na lixeira!
E abriu a porta que dava para o corredor de serviço.
“Adeus, minha gente!”, pensei eu.
Mas foi tal a tristeza de tudo o que era madeira na casa, tão grande o protesto [= revolta] mudo de todos (mudo para os humanos, ou melhor, para os desumanos), que provocou uma espécie de força no ar, que conteve [= parou] Maria.
Ela parou, já no corredor, pensou um pouco e voltou, deixando-nos outra vez no armário embutido.
— É melhor mostrar primeiro à Dona Sara. Se não, ela pensa que eu joguei fora uma vassoura de luxo, toda de fios de ouro... Ela que resolva.
— Patroa é patroa — disse eu à piaçava, que não tinha idéia do que poderia ter acontecido, mas concordou plenamente [= completamente].
Estávamos no armário fechado, aguardando a tragédia [= fato triste]. A porta me olhava com uma pena infinita.
— Que chato, hem?
— É da vida — murmurei — de alma na última lona [= (gíria) maior tristeza].
Até o aspirador de pó me olhava com simpatia. Afinal, a vassoura varria o pior lixo da casa. Ele não confessava, mas achava sua missão muito triste. Ficava às vezes de barriga estufada e era preciso uma operação-limpeza, que envergonhava qualquer um. E se não comprassem outra vassoura? E se resolvessem que ele, sozinho, devia cuidar da cozinha também?
Afinal, ouvi conversa fora.
Dona Sara voltava de visitar uma parenta.
A prosa [= conversa] só podia ser a nosso respeito. Era. A voz de taquara rachada reclamava contra a sujeira.
— A culpa não é minha — disse Maria.
— Você não tem tempo, não é? — disse a patroa, com ar de quem a chamava de preguiçosa.
— Tempo eu tenho. Não tenho vassoura...
— O quê?
A vassoura acabou.
— Você jogou fora?
— Ia jogar. Mas achei melhor a senhora ver primeiro...
E abriu a porta do armário.
Eu me sentia tão pequenino, tão pequenino, que pensei que ela não me visse. Mas qual! Foi logo me pegando — ou nos pegando — e falou à patroa:
— Olha só o jeito dela... Está no fim...
Passamos para a mão de Dona Sara. Realmente quem passava era eu. Sobrava apenas eu. A parte propriamente de vassoura estava completamente liquidada [= acabada].
Dona Sara me olhou, muito séria, e voltou-se para Maria:
— Também você escangalha [= estraga] com tudo! Nunca vi uma coisa igual? Você me quebra até prato de matéria plástica! Minha Nossa Senhora? Nunca vi! Se você tomasse um pouco mais de cuidado, a vassoura não acabava desse jeito...
Pela primeira vez eu dava inteira razão a Dona Sara. Mas só podia esperar aquela sentença [= condenação]:
— Está bem. Pode jogar fora. Eu compro outra. Não sei o que vai ser de mim com tanta despesa... Vassoura está custando os olhos da cara. Tudo está custando os olhos da cara [= muito caro]... Não sei onde vamos parar...
Eu, eu sei onde ia... No incinerador...
— Vou morrer sem meu galope final... Vou morrer sem ver Mariozinho...
Dona Sara voltou para a sala da cadeira de balanço. Maria me agarrou outra vez. O rádio cantava:
Quando eu morrer
Não quero choro nem vela,
Quero uma fita amarela
Gravada [= marcada] com o nome dela...
Com o nome dela eu não queria. Nem de Dona Sara. Mas do Mariozinho aceitava. Juro que aceitava e morria feliz...
Felizmente não morri. Mariozinho não podia falhar. Acabava de entrar.
— Maria!
Nós já íamos saindo, quando aquela voz iluminou a terra... Parecia um cantor...
Maria voltou-se:
— Que é que há, meu filho?
Os olhos de Mariozinho estavam em mim.
— Você vai jogar fora essa vassoura?
— Sua mãe que mandou, já não vale mais nada.
— Escuta, Maria, eu falei com mamãe. Ela deixou. Você pode me dar a vassoura.
Maria mostrou o maior espanto:
— O quê?! Pra quê? Pra que é que você quer uma porcaria destas?
Coitada... Não falava por mal. Ignorância... Eu estava tão feliz que me sentia capaz de perdoar qualquer coisa...
— Deixa comigo — disse Mariozinho.
Mas evidentemente Maria pensou que o garoto estava sacando. [= (gíria) mentindo]. E não lhe deu muita importância. Abriu a porta do corredor.
Você tem cada idéia, menino... Deixa de bobagem... Aumentar a bagunça da casa... Vai estudar, meu filho. Senão, você nunca chega a doutor. Você pensa que seu pai não estudou?
Eu continuava na mão dela e de cabeça para baixo, os fiapos lá no alto, confirmando tudo o que ela havia dito: uma porcaria de vassoura.
Ela se encaminhou para a lixeira. Minha angústia foi ao auge [= ponto máximo]. Gritar não podia. Gente não entende. Fugir não poderia. Não era vassoura automática [= que se movimenta sozinha].
— Lá vou eu pro fogo! Ciao [= tchau, adeus], Mariozinho, ciao! Obrigado pelo pensamento... Deus faça de você um bom médico.., ou um bom soldado de cavalaria, Você tem muito jeito...
E fechei os olhos da alma, pra não ver o resto...
Mas ninguém morre na véspera [= antes]. Enquanto não chega a hora da gente, todos os santos ajudam. Maria não conseguiu abrir a porta da lixeira. Estava emperrada [= agarrada]. Puxou, puxou, nada.
— Que droga de porta! Já enguiçou outra vez! Estou cansada de reclamar com o zelador. É todo dia a mesma coisa...
Tornou a puxar. Tornou a fazer força. A porta firme. Resmungou. Reclamou. Protestou. De repente, viu a janela e teve uma idéia. Ergueu-me no ar e já ia me atirar pela janela, quando Dona Sara, com uma voz divina [= maravilhosa], gritou:
— Não faça isso, Maria. Pode cair na cabeça de alguém!
Eu até não sei como é que Maria teve uma idéia daquelas. Já pensou? Me atirar pela janela! E se eu fosse cair na cabeça de um coitado que não fez mal a ninguém, uma criança que não tinha desobedecido à mãe, um zelador de edifício dando duro para sustentar a família? Ainda bem que Dona Sara, com aquela voz maravilhosa, pensava em tudo isso.
— Você está maluca?
Maluquice [maluca = louca] não, ignorância... Coitada da Maria, com o filhinho doente... E se eu tivesse caído na cabeça do filhinho dela? Ele não estava ali, mas podia estar. Como podia estar qualquer outra criança. Toda criança é boa. Estava ali, por exemplo, a criança mais fabulosa [= maravilhosa] do mundo, o Mariozinho...
Ele é que tinha ido chamar Dona Sara, para confirmar que ela dera licença. E Dona Sara, com sua voz tão rara, tão clara (há muita rima linda pra Sara, eu agora via...), confirmava:
— Eu dei licença, Maria. Pode dar a vassoura para o Mariozinho. Ele pediu...
E entregando-me ao meu novo senhor [= dono], futuro [= que será] capitão de cavalaria, ou marechal:
— Mas nada de montar aqui dentro. Não me faça desordem na casa. Vá brincar no jardim ou na calçada, entendido?
Dona Sara, de voz rara, de voz clara, me salvara...
Foi um ololô, um elelê [ololô, olelê = gritos de exclamação], um alalá!
— Oa, oa, oa!
Éramos donos do mundo!
Cavalgávamos, febris [= entusiasmados], pela calçada.
— Oa, Napoleão!
Me chamava de Napoleão! Napoleão tinha sido um grande imperador, eu ouvira essa conversa uma vez. E eu me sentia o próprio imperador dos cavalos de pau.
Pleque, pleque, pleque...
Plaque, plaque, plaque...
Ploque, ploque, ploque...
Que corrida maravilhosa! Como a vida era bela! Como era bom galopar!
Como passavam, buzinando, meus colegas de rodas!
Homens passavam a pé. Deus lhes desse um dia um bom cavalo de pau ou pelo menos um automóvel...
Estava um guarda na esquina. Coitado.. Infantaria [= que anda a pé]...
Uma criança olhava, triste, da janela... Não devia perder a esperança. Se não desobedecesse mais, não ficaria de castigo...
Passou uma carrocinha de sorvete, Mariozinho nem ligou. Ele e Napoleão galopavam felizes...
Passou, muito carregada de embrulhos, uma empregada do prédio, que à noite ia bater papo com a Maria, terminado o trabalho. Frutas, batatas, ovos, bacalhau... E apertada com o braço, contra o corpo, uma vassoura nova. Tive a impressão de que a reconhecia, dos meus tempos de armazém. Mal deu tempo de falar, eu galopava.
— Você por aqui? Para onde vai?
— Sei lá!
Fomos até a esquina. Voltamos. A empregada ia entrar na porta de serviço. Minha colega me olhava cheia de angústia. Mariozinho me freou para convidar um amiguinho. Cinema no domingo... Olhei melhor a colega.
— Você não é a 27 daquele lote [= grupo de objetos]?
— Exato [= certo], meu filho.
— Olha, vai ser fogo!
— Eu sei...
— Mas não desanime [= perca a coragem]! tá bem? Se na casa onde vai trabalhar houver criança, você ainda pode acabar Napoleão...
— O que é isso?
— Outra vez eu te explico.
Já não dava mais tempo. Galopávamos de novo.
Não há bem que sempre dure. Todo galope tem fim. Não atropelamos ninguém, ninguém reclamava contra nós (a humanidade não faz outra coisa senão reclamar, tudo é pretexto [= motivo]...), mas no melhor da festa apareceu Renatinho. Era o Irmão de meu amigo e senhor.
— Mamãe está chamando. Hora de lanche
— Diz que depois a gente sobe.
— Ela disse pra você subir sozinho.
— O quê?!
— Pra deixar o cabo de vassoura.
— Cabo de vassoura? — perguntou Mariozinho muito espantado. — Que cabo de vassoura?
— Ué! Esse aí!
Só então percebemos que era de mim que ele falava.
— Ah, isso não! Prefiro ficar sem lanche.
Como é que eu não havia de gostar de Mariozinho? Preferia morrer de fome a me perder! Coisa que só se encontra na floresta... Amizade de árvore velha, de madeira de lei!
— Ela disse que está passando da hora. Que você tem de subir...
— Sozinho eu não subo. Só com o Napoleão...
E indiferente [= sem ligar] aos conselhos de Renatinho, num trote [= andar do cavalo] mais modesto, entrou no playground [= pátio (inglês)] do edifício, foi até a entrada de serviço e chamou o elevador.
— Eta cavalinho bacana!
— Guarde o bicho na garagem — sugeriu Renatinho. — Assim mamãe não bronqueia [= zanga (gíria)].
Eu começava a achar Renatinho mais inteligente.
— É perigoso. Alguém pode roubar.
Renatinho riu.
— Roubar essa besteira?
Renatinho me pareceu o mais perfeito bobo-alegre do mundo.
— Besteira por quê?
Mariozinho era o maior!
— Eu estou brincando com você. Ele até que é um cavalo legal.
Renatinho parecia burro, mas não era. Estava na cara. Sabia dar valor a quem o tinha.
— Eu subo com ele, de qualquer jeito — disse Mariozinho.
Ele estava disposto a arriscar a vida por minha causa. Aquilo me comoveu.
— Acho bom não fazer isso, Mariozinho. Mamãe falou bem claro. Deixar aqui embaixo. A casa está cheia de cacareco...
Eu não podia entender como aquela voz tão linda de Dona Sara podia ter dito palavras tão duras contra o nobre imperador dos cavalos de pau...
Mariozinho continuava em dúvida [= indeciso]. Não podia desobedecer. Se desobedecesse, seria pior. Foi até à garagem escolher um lugar mais seguro. Eu estava de coração mais pequenino que uma pulga.
Nisso, Mariozinho teve uma idéia. Perguntou ao mano = [irmão]
— Seu lanche você já tomou?
— Já. Tomei um copo de vitaminas de todas as letras: A, B, C, D, E, F, G...
— Você é capaz de me fazer um favor?
— Qual?
— Você olha o Napoleão aqui embaixo até eu descer do lanche? É um minutinho só...
Depois de uma rápida hesitação [= incerteza], Renatinho perguntou:
— Posso dar uma voltinha com ele?
— Pode. Mas sem sair da calçada, tá? Não vá cair!
— Eu, hem?
Os dois entraram de acordo, Mariozinho subiu, Renatinho me acariciou com simpatia [= amizade], montou, deu-me um tapa no lombo:
— Vamos, Napoleão!
Saímos de novo, jardim adentro, calçada a fora, galopando.
Mas não era a mesma coisa...
Eu gostava de Mariozinho não só por ser bom cavaleiro. Era pela inteligência. Ele levava todo o mundo na conversa. Quando desceu, minutos depois, já voltava com permissão [= consentimento] para me guardar no armário dos brinquedos.
— Mamãe disse que eu só não podia montar dentro do apartamento. Só pode ser na calçada...
Eu até achei graça... Que interesse tinha eu em galopar num apartamento, que era mais apertamento que outra coisa, como dizia a arrumadeira? Eu queria era espaço, queria a rua! Quem nasceu na floresta, quem dominou as árvores, como pinheiro, precisa de amplidão [= espaço]! E o gostoso era estar ali fora, vendo os colegas de quatro rodas se perseguindo na rua, vendo os Pedestres [= que andam a pé] correrem, assistindo ao grande espetáculo do mundo!
Mariozinho participava [= era] da mesma opinião e ficou até feliz. Tinha pretexto para descer mais vezes, porque precisava passear a cavalo para fazer exercício...
Foi assim que eu passei a viver o melhor tempo da minha vida. Fora promovido [= subira de posto] a cavalo. De pau, mas cavalo. De brinquedo, mas cavalo. Tinha, afinal, um nome, como todas as crianças, como gente humana. E um nome de encher a boca. Todo mundo conhecia. Eu vi isso, quando os mais velhos e os mais novos, da raça de Mariozinho, ficavam sabendo que eu tinha sido batizado de Napoleão. Eles davam risadas, mas achavam o nome bonito. E falavam, com respeito, do primeiro Napoleão. Tinha sido imperador de um país chamado França. Deu surra numa porção de países. Ganhou da Alemanha, da Áustria, da Itália, países que eu não conhecia (eu sou cavalo de pau, não tenho obrigação de saber Geografia). Ganhou da Espanha, ganhou de Portugal. Deu de goleada na Inglaterra. Fazia todas as guerras montado num cavalo branco, meu colega. Se era branco, não tinha sido encerado, a coisa que eu mais desejei a vida toda... Quando ia atacar um país, mandava buscar o cavalo no pasto, montava e saia correndo na frente das tropas [= soldados]:
— Avante [= em frente], pessoal!
Ninguém agüentava a parada. Fugia todo mundo. Os reis caíam do cavalo, pedindo perdão, ele botava outros reis no lugar deles. Arranjou emprego de rei para toda a família. Os irmãos, os primos, os cunhados. (Eu ainda vou arranjar um lugar de cavalo para o cabo daquela vassoura que encontrei, a 27 do meu antigo lote no armazém...) Nem Pelé foi tão importante. (Era outro rei que o pessoal citava [= falava] muito na casa de Mariozinho.) De modo que eu tinha razão de gostar daquele nome e de me sentir um cavalo de pau realizado [= satisfeito] e feliz.
Só de uma coisa eu não gostava. Sempre que o pessoal falava em Napoleão, alguém lembrava que ele tinha acabado muito mal. No fim da vida, fizeram uma sujeira com ele. Ele estava com um exército pequeno e cansado. Veio um exército maior e descansado e estragou tudo. O coitado morreu prisioneiro numa ilha chamada Santa Helena.
Por sinal que Helena, além de nome de uma santa e de uma ilha, era também o de uma tia de Mariozinho. Às vezes aparecia na casa e nunca me olhava com bons olhos...
Todo Napoleão tem seu dia de Santa Helena. Eu tive muitos. Estava no armário, de volta do meu fogoso galopar na calçada, e pensava logo no meu grande colega, derrubador e fazedor de reis...
Depois de conhecer as alegrias do galope ou do trote, das freadas bruscas, para não atropelar uma criança ou uma velha senhora, que já não podia montar, ser fechado num armário sem luz (tinha lâmpada, mas estava queimada) era um castigo cruel.
Dizem que os meus colegas de quatro patas (não me refiro a Napoleão que só tinha duas, digo, dois pés, como em geral todo gênero humano), dizem que, depois do galope, esses colegas são recolhidos em casas especiais feitas para o seu justo descanso. Cocheiras [= onde se guardam carruagens], cavalariças [= onde ficam os cavalos], estrebarias [= onde ficam animais e arreios], sei lá...
Com gente para lavar-lhes o corpo, enxugar-lhes o suor, trazer comida. Eu não queria tanto. Felizmente não preciso comer. De empregados também não preciso. Aliás, dispenso com muito prazer. Minha vida, quando tinha contato com a Maria e particularmente a Marlene, era cheia de altos e baixos [= bons e maus momentos], mais baixos que altos, diga-se a verdade... Mas a escuridão daquele quartinho apertado era de morte...
Pior que a escuridão, a confusão...
Havia de tudo. Brinquedos velhos, sempre ameaçados pela arrumadeira de serem jogados no lixo. Os coitados sofriam...
— Será hoje o meu dia?
Ouvia sempre essa conversa lá dentro.
— Podiam, pelo menos, dar a gente para alguma criança mais pobre — havia sempre alguém dizendo.
Era um automovinho arrebentado, um ursinho de barriga rasgada, uma bola furada, uma locomotiva sem rodas, um avião que não funcionava, um revólver quebrado, uns cacarecos de matéria plástica. Todos eles tremiam de medo quando a Marlene abria a porta do armário e envenenava [= estragava] a alegria da luz que trazia com a eterna [= de sempre] queixa:
— Eu não sei que mania têm estes meninos de guardar tanto brinquedo velho... Só para dar trabalho...
Os pobrezinhos ficavam gelados.
Mas havia também brinquedos novos, embora não muito importantes. Seu Conrado, aliás Dr. Toledo, como as empregadas diziam, era um mão aberta. Dava sempre dinheiro pra brinquedo novo, que facilmente envelhecia.
— Você estraga essas crianças — dizia Dona Sara. — Não devia comprar tanta coisa. Eles não têm cuidado... Escangalham com tudo...
Bem que ela tinha razão...
— O Renatinho pisou em cima de mim no dia em que eu cheguei — dizia o automovinho arrebentado.
— E era preciso abrir a minha barriga com uma faca pra saber se eu tinha comido alguma criança? — perguntava o ursinho de pelúcia amarela, temeroso [= medroso] da lata do lixo, olhando com inveja um astronauta ainda inteiro, vindo do Japão.
Esse era o convencimento [= o metido] em pessoa. Só porque tinha mola. Quando alguém dava corda, ele ficava todo prosa, mexia a cabeça, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, dava uns passos ridículos [= horrorosos], agitando os bracinhos, com aquela roupa boba de astronauta. Tomava um ar importante, como se a tal de astronáutica fosse o melhor brinquedo inventado no mundo... Ninguém gostava dele de tão pedante [= metido] e convencido. Mas a raiva maior era quando ele começava a falar umas coisas que ninguém entendia. Pra mim, era japonês...
Minha vida em Santa Helena era de amargar. Ninguém queria me reconhecer como brinquedo. Nem como cavalo. Muito menos como Napoleão. Para aqueles cacarecos velhos eu não passava de um simples cabo de vassoura, indigno [= sem valor] da menor atenção.
As vezes ligava-se o rádio lá fora e uma voz meio triste chegava até nós. Parecia traduzir o que eu sentia naquele amargo isolamento [= solidão]:
Ninguém me ama,
Ninguém me quer,
Ninguém me chama
De meu amor...
Ninguém ali dentro, é claro. E é claro que por puro despeito. Inveja. Nunca nenhum deles era levado à calçada.
Nunca nenhum tomava o elevador com Mariozinho. Nem com Renato. Só o papai... Só eu... Só eu tinha nome. Já contei qual era. E, só quando me via, o rosto de Mariozinho se iluminava de satisfação. Eles ficavam tinindo [= tinindo] de raiva. Fingiam não me ver e ficavam contando vantagem. Até o urso de barriga rasgada:
— Sou de pelúcia [= tecido felpudo] importada [= que veio do exterior] — dizia ele ao trenzinho sem rodas. — Material finíssimo... E você?
— Bem, eu sou todo de fabricação nacional... Mas a indústria brasileira não fica devendo nada a qualquer indústria estrangeira — respondia o trenzinho, aproveitando a ocasião para olhar com desprezo o astronauta. — Meu azar foi que, outro dia, o Gil Vicente escorregou e caiu sentado em cima de mim, me acabou com as rodas...
— Dona Sara é que tem razão. Eles precisavam ser mais cuidadosos dizia o automovinho arrebentado.
— Mas sempre é melhor ter nascido brinquedo — dizia o avião de asa partida. — É outra coisa...
A indireta era comigo.
— É claro — dizia o ursinho de pelúcia. — Tem urso de verdade e tem urso de pelúcia. Tem avião de verdade e tem avião de faz de conta... Olha: tem até cavalinho de brinquedo... Você já viu algum?
— É evidente... — confirmava o avião todo caqueirado [=quebrado]. Eu conheci muitas na loja... Coisa muito bacana... Material de primeira. Com cara, com pescoço, com crina, com corpo igualzinho aos dos cavalos de verdade. Imitação perfeita... E com rabo e quatro patas, sacumé [= sabe como é]? Porque eu não sei se você sabe que cavalo não é qualquer pedaço de pau encontrado no lixo. É um bicho completo... Tem tudo. Cabeça, corpo, patas.
E não uma, não duas: quatro!
— Isso não é nada... — disse um tambor furado, em que ninguém punha reparo. — Na loja em que eu morei havia um cavalo de verdade — quer dizer, de brinquedo mesmo... — que, quando davam corda, até bufava e relinchava!
— Não diga!
— Palavra! Legal pra chuchu! Dava gosto ver! Era patrício [= do mesmo país] desse cara aí... Feito no Japão...
O astronauta não falava, mas, pelo jeito, entendia português. Ficou todo emproado [= orgulhoso]. Os outros perceberam e não gostaram. Mas, só para me machucar, o tambor continuou:
— Eu acho que tudo o que é brinquedo de verdade, mesmo não sendo brasileiro, merece respeito. Vocês não acham? Brinquedo é uma coisa séria.. Criança é que sabe...
— Claro...
— É evidente...
Um outro concluiu:
— O importante é ser brinquedo mesmo...
Eu, no meu canto, ouvia tudo aquilo no maior constrangimento. Estava ficando complexado [= com problemas]. Principalmente ao olhar a pose do astronauta, que não era só brinquedo mesmo — e do que havia de mais moderno — mas o único realmente perfeito no meio de tanto ferro velho...
Nisso, ouviram-se passos fora e todo o mundo se calou, O pavor [= medo] de serem jogados no lixo era comum e só o astronauta se sentia à vontade. A porta se abriu. A claridade entrou. Mariozinho chegava. Foi um alívio [= sossego] geral. Mariozinho era amigo.
Ele começou a afastar os brinquedos velhos acariciou o ursinho de barriga rasgada que se rasgou todo de felicidade, pegou no astronauta, que só faltava falar em português, de tão orgulhoso, deu-lhe corda, ficou a observar-lhe os movimentos. Eu via tudo aquilo, humilhado, já não mais Napoleão, apenas um velho cabo de vassoura. O astronauta erguido no ar, todo espevitado, mexia os bracinhos, a corda roncava, cumprimentava para todos os lados. Mas foi só. Acabada a corda, Mariozinho o colocou entre os outros brinquedos. E com surpresa de todos — e até minha — me pegou lá no meu canto, me puxou para fora e montou, ali mesmo na sala...
Minha vingança era completa! Eu não resisti à tentação... E voltando-me para o astronauta, antes de começar o galope, gritei-lhe:
— Conheceu, Nagasáqui [= cidade japonesa]? Tá me estranhando, arigatô [= obrigado (japonês)]?
Era tudo o que eu sabia de japonês. Mas ele, mesmo com a corda acabada, virou o rosto com desprezo.
Acho que a minha pronúncia [= modo de falar] estava errada.
Mas eu sempre voltava para o armário embutido como o primeiro de meu nome para Santa Helena. Com uma diferença a favor. O outro, que nascera também numa ilha, a Córsega, foi para Santa Helena e ticou lá até morrer. Estava muito bem guardado por soldados ingleses. Com soldado inglês não se brinca. Não é soldadinho de chumbo (o armário estava cheio deles), muito menos de matéria plástica. É osso duro de roer. Naturalmente ele sonhou fugir a vida inteira. Mas nunca houve um cara de fora que o ajudasse. Comigo não. Havia o Mariozinho. Havendo Mariozinho, a calçada era minha, o playground do prédio, a aventura [= vida] pelo mundo..
Santa Helena, para mim, era um compasso de espera [= pausa], mais nada. As vezes, um, dois, três dias. Mas eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, Mariozinho voltava. Com o tempo adquiri [= tive] esta certeza. Não me preocupava com o despeito [= inveja], as indiretas, as fofocas. Toda aquela cacarecada podia resmungar à vontade, alegar que tinha sido feita em fábrica de brinquedos e não de vassoura, dizer que tinha conhecido trenzinhos elétricos, com trilhos, túneis, estações e sinaleiras automáticas, lembrar que havia conhecido bonequinhas louras, que seriam verdadeiras estrelas de cinema. Não só de abrir e fechar os olhos, como a que Claudinha trazia algumas vezes, ou de chorar fanhoso como a da linda Alexandra, prima dela. Bonecas de andar, de sentar, de erguer os braços, até de falar e cantar.
Eu agora não dava a menor confiança.
— Deixa pra lá!
E como eles sentiam o meu pouco caso e reconheciam o meu cartaz junto a Mariozinho e Renato (de vez em quando ele vinha pedir uma carona) aos poucos o pessoal foi mudando.
Uma tarde em que voltava, muito excitado [= animado], das aventuras da rua, o da barriga furada, o tal ursinho de pelúcia importada, me falou:
— Tava boa a rua, cavalinho?
Confesso que a pergunta me surpreendeu. “Eles” não me ligavam... Estavam querendo se chegar. E eu achei bom. Mas respondi com a maior superioridade:
— Eu tenho nome.
Ele não ficou zangado por isso.
— Tinha muito movimento, Napoleão? Muita gente?
— Só Napoleão? Dobre a língua [= cuidado com o que fala]. Não fomos criados na mesma loja de brinquedos. Mais respeito.
— Pois não, Seu Napoleão...
O bichinho estava mesmo procurando assunto e queria agradar. Chegara a minha vez de fazer o durão.
— Você fala francês?
— Infelizmente não. Sou nacional. Só a parte de pelúcia é que foi importada. Mas da Itália...
— Pois é bom ir aprendendo. Meu avô, na França, era tratado de mon empereur... [= (francês) meu imperador Mas pode-me tratar de “meu imperador”, que dá na mesma...
— Tá bem — concordou ele. — De outra vez eu digo...
Fiz um ar de generosidade [= bondade] imperial e concedi em perguntar:
— O que é que você quer saber?
— Se a rua estava alegre...
— Se a rua estava clara — acrescentou [= ajuntou] o trenzinho...
— Se tinha muito movimento — perguntou, ansioso, o automovinho arrebentado.
— Fale um de cada vez...
— Se a rua estava alegre... — disse o ursinho.
— Parecia um carnaval, meu filho!
— Se a rua estava clara... — disse o trenzinho sem rodas.
— Parecia a voz de Dona Sara... (gratidão [= reconhecimento] eu tenho).
— Se tinha muito movimento... — disse o automovinho.
— Nunca vi tanto automóvel na minha vida!
— Palavra?
— E de verdade, tá bem?
— De verdade eu não gosto. São muito brutos...
Até que ele tinha razão. Mas a culpa não é dos automóveis, é de quem dirige. Automóvel bem guiado não faz mal a ninguém.
— A culpa é dos motoristas — disse eu, usando as minhas observações [= experiências] da calçada.
— No dia em que o bicho homem compreender que automóvel é meio de transporte e não de morte, tudo vai mudar...
Aquele pensamento causou profunda [= grande] impressão.
— O pensamento é seu? — perguntou, com a maior admiração, o tamborzinho furado.
— É nosso...
Eu tinha ouvido aquilo numa conversa do Dr. Toledo.
Meu cartaz foi aumentando. A tal ponto, que eu já nem sentia muito a minha prisão no armário embutido. Já não estava mais na Ilha de Santa Helena. Parecia mais uma Ilha de Paquetá, que é toda flores, a mais linda da Baía da Guanabara. (Prestar atenção na conversa dos outros ensina muita coisa...) E como eu trazia sempre a experiência [= vivência] do mundo exterior [= de fora] (às vezes o Mariozinho me esquecia na sala e só me guardava quando a voz tão doce de Dona Sara lhe dizia: “olha, você se esqueceu de recolher [= guardar] o Napoleão...”), como sempre eu trazia as novidades, fui acabando, mesmo, uma espécie de imperador do armário embutido.
— Conta as coisas! — diziam — mal eu vinha chegando.
— Você viu hoje a Claudinha?
— O Gil Vicente apareceu?
— Renatinho ainda está namorando a Alexandra?
— Não. Ele agora está apaixonado pela Maria João.
— Maria João?
Ué! Tem Maria José por que não há de ter Maria João?
Todos acharam graça, as perguntas continuavam.
— A Marlene ainda não foi despedida?
— De jeito nenhum! Dona Sara tem um coração de ouro, não é capaz de fazer mal a ninguém.
Eu não podia esquecer que, graças a Dona Sara, de voz rara, de voz clara, do incinerador eu escapara...
E o mais engraçado é que o pessoal começava a me pedir proteção [= ajuda], pedir favores.
— Será que você me arranja um passeio na calçada?
Eu não sou orgulhoso, deixava agora eles me chamarem de “você”. Afinal, eu era imperador apenas de brincadeirinha.
— Pede para o Mariozinho me tocar de vez em quando — suplicava [= pedia] o tamborzinho furado. — De um lado eu ainda funciono...
Eu não faço questão [= exigência] que eles brinquem comigo — dizia o ursinho da barriga rasgada. — Meu tempo já passou. Eu só queria, uma vez ou outra, dar uma olhada lá fora... Vê se consegue, tá?
Eu não queria desiludir [= tirar a esperança] os infelizes. Eu sei o que sofre brinquedo desprezado.
— Se der jeito, eu falo com ele...
— Serve mesmo o Renatinho — dizia o tambor.
Renatinho não tinha o mesmo cartaz do mano mais velho. Mas servia...
O problema deles era sair do armário, viver...
O urso, coitado, com toda aquela pelúcia importada (e rasgada), topava [= aceitava] qualquer negócio.
— Fala com os meninos, Napoleão. Diz pra eles me darem pro Gil Vicente. Outro dia ele me pediu, eles negaram. O Gil Vicente disse que tem uma tia capaz de me consertar a barriga... É uma operação simples, simples...
— Tá bem, tá bem... Vou ver se dá jeito...
Quando eu voltava das correrias imperiais todo mundo caía em cima de mim.
— Você pediu?
— Falou com Mariozinho?
— Você resolveu o caso da minha operação na barriga?
Eu tinha que me explicar.
— Hoje não deu jeito. Estive ocupado o tempo todo. Foi um tal de galopar...
— Mas vocês não pararam nem uma vez? Não é possível!
— A gente parava, sim. Mas quando Mariozinho encontrava algum colega.
— E então?
— É, mas, em primeiro lugar, eu não vou me meter na conversa dos outros. Educação é educação... E, depois, não posso comprometer [= deixar mal] o garoto...
Eles pensavam que era má vontade, mas não era. Não ficava bem contar, diante dos amigos, que, a não ser eu, todos os brinquedos dele estavam na última lona...
Todos, não. Havia o astronauta. Brinquedo caro. Saía sempre o retrato dos colegas dele no jornal. Tinha até alguns que trabalhavam na televisão.
Uma vez me esqueceram na sala da TV, parecia todo mundo interessado nuns troços [= coisas] que estavam acontecendo no mundo da Lua.
— Hoje o homem desce na Lua! — dizia Seu Conrado, aliás Doutor Toledo.
A família estava tão agitada que ninguém pensava em mim. Fiquei assistindo à palhaçada. Uma conversa muito confusa [= complicada] com o pessoal do apartamento vizinho, com as próprias crianças, falando em foguete, em módulo, uma porção de coisas complicadas. Não moro [= (gíria) não entendo] muito em matéria de ciência. Não é especialidade minha. Não passo de um cavalo de pau. Decente. Vivido. Estimado. Respeitado pelos meus colegas de brinquedo. Mas um simples cavalo de pau.
A televisão estava ligada e havia na tela uns sujeitos falando por todas as juntas [= sem parar], mostrando mapas, dando números e palpites, que provocavam a maior irritação entre os presentes. Doutor Toledo tinha às vezes verdadeiros acessos [= ataques] de fúria.
— Num dia como este, em que o homem realiza a maior façanha [= façanha] de todos os tempos, a maior conquista da ciência, ficam esses idiotas a dizer os maiores disparates [= bobagens]!
Os outros concordavam com ele.
— Quando a ciência humana leva o homem à Lua, através do espaço, depois de uma viagem de teretetê milhares de quilômetros... (o número eu não guardei e a conversa não se entendia direito, porque os homens da TV não paravam de falar), numa hora destas...
Eu confesso que estava meio atordoado com tudo aquilo. Mas dava para perceber que uns tais de americanos tinham saído da Terra, e, naquele momento, deviam estar desembarcando na Lua. Lua, pelo jeito, era um negócio que havia nos confins do céu. Um negócio que às vezes enchia, às vezes esvaziava. Já tinha ouvido falar naquela história. Nunca o homem tinha estado lá. Mas estava chegando...
— Olhem... Olhem... É agora!
Eu estava pensando que era a coisa mais importante do mundo. Mas depois eu vi que era um programa de televisão...
— Chegaram...
— Estão descendo...
Todo mundo olhou. Eu olhei também. Não era nada daquilo. Em vez de homens, eram uns astronautas, andando muito devagar, como quem nunca tinha trabalhado antes na TV, meio com medo de cair, os brações erguidos.
Eu estava querendo saber o que havia de tão importante naquele trabalho, quando alguém tropeçou em mim e me atirou no chão.
— Esqueceram Napoleão aqui na sala outra vez — disse Dona Sara.
Apanhou-me no chão, sem zanga, e atirou-me no armário embutido. Fui bater no astronauta que dormia.
Ele acordou assustado.
Havia tempo que ele andava me olhando com vontade de puxar prosa [= conversar]. Eu também estava. Aproveitei a ocasião [= oportunidade].
— Estive assistindo a uns colegas seus na TV. Não gostei. Acho você muito mais... muito melhor de movimento... bem mais desembaraçado [= natural]. Você trabalha muito melhor, tá me entendendo?
— Pouco, não? Eu não português muito...
— Você não manja [=(gíria) entende] português, meu chapa?
— Começando, não?
Aí, nós resolvemos trocar aulas. Eu ensinava português (que ele chamava de “basilelo”) ele me ensinava japonês. Um pouco eu já sabia. Nagasáqui era nome de uma cidade. Arigatô era obrigado. Eu ensinei Rio de Janeiro, ele me ensinou Tóquio. Eu fiz que ele dissesse saudade. O astronauta achou lindo, repetiu muitas vezes, e me ensinou saionara.
— Saionara é o mesmo que saudade?
— Saudade, não. Começo... Começo de saudade...
— Como assim?
— Saionara é... é antes da saudade... um pouquinho, não?
— Te explica, meu chapa.
Ele gaguejou um pouco:
— Saionara é... saionara é... a... adeus!
— Ah, já sei! Saionara é ciao!
Sim, porque eu tanto falo japonês como italiano.
Algum tempo depois as coisas pioraram mesmo... Muito... Pra todos... O Natal estava chegando.
Natal é alegria de criança, é tristeza de brinquedo velho. Vai tudo pro lixo...
O tamborzinho furado, veterano do armário, quando eu lhe contei, pensando ser muito bom, que os meninos estavam esperando o Natal, se encolheu todo.
— Ah! Meu caro, estamos perdidos!
— Por quê? — perguntaram os outros.
O tamborzinho explicou. Ele tinha chegado no Natal anterior. Uma festa maravilhosa na casa. Luzes, bolas, doces, crianças dos outros apartamentos, primos, tios, tias (com certeza aquela tia Helena, que nunca me viu com bons olhos), e uma árvore linda no meio da sala, com bolinhas coloridas e velas acesas e embrulhos de presentes embaixo, amarrados com fitas de cor. Do fundo de seus embrulhos os brinquedos sabiam tudo o que se passava na sala. A própria árvore contava.
— Este é o dia mais glorioso [= de glórias] do ano! O dia do amor universal [= de todo o mundo]. Todo mundo fica bom... Todo mundo dá presente. Vocês são presentes... E vão ver a alegria com que vão ser recebidos... É uma coisa estupenda [= incrível]! Se os homens fossem mesmo inteligentes, eles faziam Natal o ano todo...
Devia ser mesmo... Todos riam, todos batiam palmas, as muitas crianças pulavam, cantavam, dançavam.
Depois, chegou a hora. Seu Conrado saiu da sala, se vestiu de Papai Noel, um Papai Noel muito alinhado [= bem arrumado], não como aquele que trabalhava na porta da loja onde eu morei, e veio chegando muito solene, meio com passo de astronauta. “Viva Papai Noel!” “Vivôôôô!” Foi uma cena fabulosa! Ele pegava os embrulhos, lia o nome do ganhador de cada um, entregava o presente, o pacote se abria e a gente era recebida com gritos e palmas. Eu me lembro da alegria de Mariozinho quando me recebeu. Deu-me um beijo, pegou os pauzinhos e começou a me tocar — pan, pan, rataplan, pan, pan, rataplan! com tanto entusiasmo e com tanto barulho, que o pessoal ficou meio surdo. “Parece um tamborzinho do exército de Napoleão”, disse o pai do Gil Vicente. Foi a primeira vez que eu ouvi o seu nome...
— Meu nome é muito conhecido — disse eu. — O pai de Gil Vicente deve ser craque [= muito bom] em História Universal...
O tamborzinho continuava contando. Descrevia [=contava] a festa como um deslumbramento [= encantamento]!
— Mas então vale a pena esperar, meu querido disse o ursinho de barriga rasgada. — Nós vamos ver uma beleza. Ou, pelo menos, ouvir...
O tamborzinho ficou sério.
— É o que vocês pensam...
Houve uma pequena pausa [= intervalo]. E depois, com voz meio rouca:
— No dia seguinte nós todos — era uma multidão de brinquedos novos, todos lindos — soubemos que a nossa casa seria este armário embutido. A gente saía para brincar com os meninos. Acabada a brincadeira, armário...
— Até aí está certo — disse eu. — Casa precisa de ordem. Criança também. Hora de comer, comer. Hora de estudar, estudar. Hora de brincar, brincar. Hora de armário, armário...
— Eu sei — disse o velho tambor. — Eu sei... Mas, na primeira vez que viemos para o armário, o armário estava como agora: cheio de brinquedo velho...
— E daí? — perguntou, trêmulo [= tremendo], um pequenino canhão de matéria plástica.
— Daí? Para nos arranjar a moradia [= casa], a arrumadeira (ainda não era a Marlene) desocupou o armário...
— Como assim?
— Jogou toda aquela caqueirada na lixeira.
Um silêncio pesado baixou sobre nós. O Natal se aproximava, com uma nova geração [= remessa] de brinquedos..
O ursinho enxugou uma lágrima de faz-de-conta, O astronauta suspirou profundamente. O tamborzinho o tranqüilizou;
— Você é o único que pode estar sossegado... Está em plena forma... Você tem futuro... Tem mais: alguma coisa me diz que o futuro é você...
— Até Napoleão, que é o favorito [= preferido], é capaz de ser varrido na limpeza geral...
— Tia Helena vem sempre às festas de Natal? — perguntei.
— Pelo menos no ano passado ela estava.
Não sou de sentir frio na espinha. Dessa vez eu senti.
A aproximação do Natal mobilizara [= envolvera] a casa inteira. Não se falava noutro assunto. Mandavam-se cartões de Boas-Festas. Recebiam-se cartões de Boas-Festas. Faziam-se projetos. Os garotos levantavam os olhos sonhadores:
— Que será que eu vou ganhar?
Será que Papai Noel me arranja um automóvel de verdade?
— Que bobagem, Renato... Quem precisa de automóvel de verdade é papai. O fusca dele tá pedindo “arreglo” [= (gíria) descanso]. Já não dá mais nada...
— Eu digo de verdade, mas de brinquedo. De a gente poder entrar e rodar, a gente empurrando o pedal, o pedal tocando as quatro rodas...
— Ah! Isso sim... Fala com Papai Noel...
— Aquele da loja?
— Não. Papai Noel bom é o pai da gente. É ele que compra. O outro é só pra ver se os pais da gente entram na loja... Nesse negócio de Papai Noel eu moro...
— Quer dizer que...
— Papai Noel é faz-de-conta...
— Então como é que você pediu pra papai falar com Papai Noel encomendando a bicicleta?
Quando ele falou em bicicleta (eu estava embaixo da mesa) confesso que senti outra vez aquele frio na espinha... Mas continuei acompanhando a conversa. Mariozinho explicava:
— Pedir a Papai Noel é um jeito do pai da gente não poder recusar [= negar]. Se a gente pede direto, ele pode dizer que a situação está difícil e tal e coisa e tira o corpo... [= sai fora] Nós sabemos muito bem que o dinheiro anda pouco... E a gente tem de concordar. Mas se o problema é de Papai Noel — tás [= estás] me entendendo? — a coisa muda de figura. O “Velho” que se vire...
Mas não somente os meninos. O Doutor Toledo conversava com Dona Sara, as amigas falavam com ela. Era um tal de fazer projetos, de falar nas compras, de se queixar contra os preços, como eu nunca vi.
Quando eu ouvia Dona Sara se queixar dos preços, eu ainda ficava um pouco animado. Podia não haver dinheiro bastante para os brinquedos novos. Mas o tamborzinho, nessas coisas, tinha mais experiência.
— Pra Natal eles arranjam... Fazem qualquer sacrifício. E depois, hoje compra-se tudo a prestações [= parcelas de pagamento].
— Até bicicleta?
— Principalmente bicicleta, meu querido...
— Bicicleta na calçada é uma coisa tão perigosa... — disse eu, pensativo.
— Mas não para um cavaleiro como Mariozinho...
— Bom... lá isso é... Meu compadre é o maior...
O fato é que aquele Natal parecia o fim do mundo. Quando eu falo nos brinquedos do armário embutido, posso dar a impressão de que eles tinham vivido sempre abandonados. Não era bem assim. Uma vez ou outra eles funcionavam. Apenas eu tinha um pouco mais de sorte. Mas agora a crise [= época ruim] era total. Era abandono mesmo. A gente passava dias no escuro, só escutando as conversas na sala. Raramente Mariozinho dava as caras. [= (gíria) aparecia] E numa dessas últimas vezes, antes não tivesse dado... Porque ele veio, me pegou, já entrou no elevador montado no papai (eu tão emocionado...) mas, quando chegamos à calçada, o Ivãzinho estava lá, numa bicicleta nova, todo feliz. Mariozinho ficou deslumbrado e pediu para dar uma voltinha. O garoto deixou. Mariozinho me deixou no chão, deitado junto ao murinho do jardim, subiu na bicicleta e saiu pedalando.
Nunca passei humilhação [= vergonha] maior... Nem quando varri pela primeira vez, vendo a minha parte vassoura esfregada no lixo...
Mariozinho ia, voltava, pedalando com gosto. Depois, o Ivãzinho pediu a bicicleta, ele devolveu, agradecendo muito, ficou olhando o amigo bicicletar com uma inveja infinita e depois resolveu subir para o apartamento.
Vocês pensam que ele se lembrou de mim? Nem por sombras. Eu fiquei largado na calçada, a morte na alma...
Salvou-me Dona Sara. Ela voltava das compras, trazendo uma vassoura nova (era a terceira, desde que eu passara a cavalo de pau), me viu no chão, gritou pelo filho.
— Mariozinho?
Ele já ia pegar o elevador, ouviu o chamado, voltou.
— Você jogou fora o Napoleão?
— Esquecimento, mamãe! Coitado do Napoleão! Desculpe...
Voltamos os três para o elevador.
Dona Sara! Dona Sara!! Eu ainda hei de achar uma rima [= palavra com a mesma terminação] que traduza [= diga] toda a minha gratidão pelo muito que lhe devo...
Faltavam só dois dias. Está claro que ninguém se lembrou, naqueles dias, de abrir o armário embutido. Chegavam embrulhos e caixas. Era agitação pela casa.
— Que será?
— Que não será?
Nós, encostados à porta, acompanhávamos tudo. O próprio astronauta, um pouco assustado, queria saber o que se passava e nos contava o que ouvia.
Já estava falando bem o “basilelo...” (o professor, modéstia [= simplicidade] à parte, era bom...) E foi ele que transmitiu [= comunicou] a notícia que fez a alegria dos brinquedos velhos. Tinha ouvido a Maria a falar com Dona Sara. O filho dela, que morava em Parada de Lucas, já ficara bom e devia comparecer também à festa de Natal.
— O que é que vão fazer com os brinquedos velhos? — perguntou Maria.
— Acho que, salvo o astronauta, o resto já não vale nada...
— Vão jogar fora?
— Que é que a gente pode fazer?
Aí é que veio o pedido.
— Por que é que a senhora não dá para o Marcos? Ele pode aproveitar...
— Você acha?
— Ah! Eu garanto [= dou certeza], Dona Sara.
— Está bem. Pode ficar...
Ao ouvir a notícia, os outros sentiram alma nova [= alívio]. Estavam salvos. Eles, não eu. Eu não era de verdade. Era um simples cavalo de pau. Era o menor cavalo de pau deste mundo de Deus. Mas não achei muito justo...
— Sem querer ofender [= magoar] os colegas — disse eu — isso não é direito... Então o Marquinhos vai levar só brinquedo velho?
— Não — explicou o astronauta, no seu melhor “basilelo”. Tem presente novo para ele também... Até vários. Tem dois ou três comprados pela Maria. Tem o da Marlene... Tem o de Dona Sara... Tem até um que foi encomendado pelo Mariozinho...
— Ah, bem...
— Vocês vão com ele...
— Quer dizer que vamos todos pra Parada de Lucas?
— Pelo jeito...
— Antes assim... Dos males o menor...
Ficaram todos mais consolados, de pensamento no futuro.
— Casa de Parada de Lucas tem incinerador? — perguntou um cavalinho de matéria plástica.
A pergunta ficou no ar [= sem resposta], doendo no coração de muitos.
— Quem toma conta de Marquinhos em Parada de Lucas é uma tia, não é? — perguntou o ursinho de pelúcia importada. O astronauta confirmou.
— Deus permita [= permita] que ela seja costureira, com prática [= conhecimento] de medicina... Tou precisando urgentemente de uma operação na barriga...
Veio a festa, eu não quero nem lembrar. Tanta gente alegre lá fora, tanto brinquedo sofrendo aqui dentro. Os outros ainda tinham um consolo: iam pra Parada de Lucas. Mas eu? Agora é que eu compreendia a vantagem de nascer brinquedo. Agora eu dava razão aos cacarecos quando se gabavam de ter vindo da loja, não de um triste armazém onde se vende vassoura...
Durante horas, sofri, ouvindo as músicas, as palmas, os vivas.
Depois a festa acabou, apagaram-se as luzes, que vinham até nós, num pálido clarão, por debaixo da porta. Fez-se silêncio na casa. Tinham ido dormir. De manhã, viria a Marlene, abriria a porta, entregaria os cacarecos ao Marquinhos e... e... Os outros dormiam. As crianças, os brinquedos, o mundo. Eu não conseguia. Vinha à minha memória uma frase que tantas vezes ouvira no tempo do mato e da oficina.
— Destino de madeira é fogo!
Mas os ruídos [= barulhos] voltavam. O pessoal acordava. As crianças cantavam. Eu distinguia [= reconheço] as vozes de Mariozinho, de Renato, do filhinho de Dona Maria. E fiquei de coração parado quando ouvi Dona Sara dizer:
— Dentro de casa ninguém brinca com a bicicleta, está entendido, Mariozinho?
Papai Noel atendera o pedido...
Nisso, distingo outra voz. A de Marlene:
— É melhor esvaziar já o armário dos brinquedos... limpar aquilo...
Meus colegas se encolheram de medo.
Marlene continuava:
— Jogo tudo fora ou o Marquinhos aproveita?
— Claro que aproveita — disse Maria. — Deixa que eu tiro...
Abriu a porta. Vi Maria, Marlene, os meninos, a bicicleta. Maria foi retirando os brinquedos, um por um, o filho numa alegria infinita [= sem fim].
— O astronauta vai ou fica? — perguntou Maria.
— Esse pode ficar — disse Marlene.
Mariozinho estava preocupado com a bicicleta. Nem ouviu a pergunta...
Restávamos apenas eu e o astronauta, meu aluno de “basilelo”, ainda em plena forma, bem mais despachado [= desembaraçado] de movimentos que os seus colegas da televisão.
— E isto? — disse Marlene, pegando-me pelo meio. — Jogo no lixo?
Ia passando Dona Sara, que já tantas vezes me salvara.
— Veja se o Mariozinho ainda quer, Marlene.
— Você ainda quer este cabo de vassoura? perguntou Marlene.
Preocupado com a bicicleta, Mariozinho não respondeu.
Aí falou Dona Sara:
— Você não quer mais o Napoleão, meu filho?
Ele veio até mim, muito carinhoso, me pegou com muita simpatia, me acariciou.
— Foi um bom cavalo! Foi um bom cavalo... Mas agora...
E olhou para a bicicleta.
— E você, Marcos? Não quer levar Napoleão também?
Eu juro que não esperava uma felicidade tão grande. Os olhos de Marquinho; se iluminaram.
— Posso?
E tratou de me agarrar, antes que acontecesse alguma desgraça.
Ah! Dona Sara, Dona Sara, Deus proteja a senhara”...
Eu sei que é senhora que se diz, mas eu precisava rimar...
Pois é, meu povo! Lá vou eu, lá vamos nós pra Parada de Lucas...
Adeus, casa, onde tanto sofri e onde tive tantas horas de felicidade! Adeus, Renato! Adeus, criançada da vizinhança, Ricardo, Gil Vicente, vocês todos! Adeus, Maria! Adeus, Marlene! Adeus, Seu Conrado! Adeus, Seu Doutor! Adeus, Mariozinho do meu coração! Adeus, Dona Sara! Saionara, saionara, saionara, Dona Sara!
Vou-me embora pra Parada de Lucas... Vou ensinar japonês em Parada de Lucas!
Orígenes Lessa
Cachorro! Cachorro ordinário!
Seu cachorro!
Eu não conheço insulto maior.
Não aos homens, aos cães.
Porque os homens, nas suas rivalidades e lutas, em suas brigas constantes (raça muito dividida...), sempre escolhem os piores, entre eles, para chamar de cachorro...
É curioso. Por uma razão que eu desconheço, os homens sempre se comparam aos bichos. Às vezes, tomando o nome deles. Tenho conhecido pessoas sem conta que buscam, entre os animais, o sobrenome. São inúmeros os Pintos, os Leões, os Lobos, os Coelhos, os Gaios, os Gatos, os Carneiros, os Raposos. Nunca entendi muito essa mania, tão comum na humanidade. Que alguém se chame de Lobo ou Leão, eu ainda compreendo. É vontade de se fazer passar por valente ou temível. Mas que outros se chamem de Pintos ou Coelhos (e eu soube de uma família Pinto Coelho), não me entra na cuca.
Esbarrei uma vez com um menino lourinho. A família dele se chamava Formiga. Gente, com certeza, que pretendia ter a constância, a operosidade, a teimosia desse bichinho danado. Conheci um cara que se assinava Luís Bezerra. Por que Bezerra e não Bezerro, nunca percebi. Contradições do bicho-homem...
De qualquer maneira, sobrenome de bicho é sempre uma homenagem que o homem presta aos seus irmãos irracionais (é muita pretensão...), o reconhecimento da superioridade do mundo animal.
Nunca, porém, soube da existência de um Antônio Cão ou de um João Cachorro. Há sujeitos de sobrenome Gato, por exemplo, o único bicho que eu detesto, por ser egoísta e preguiçoso. Coelho, sobrenome tão freqüente, é um bicho que não faz orgulho a ninguém. Tudo isso ficará, para mim, um mistério inexplicável.
Se existe a família Carneiro (e eu conheci um sujeito de nome engraçado: Carneiro Leão) e existe uma família que não se ofende de chamar-se Barata (eu acho que todo animal merece respeito, não tenho preconceitos de raça) e há gente de sobrenome Pulga e, se facilitarem, Percevejo, não vejo razão pra ser usado apenas como insulto o nosso nome, logo o nosso, quando muitos proclamam ser o cão o melhor amigo do homem... Pode ser que haja algum caso, por mim desconhecido, de alguém de sobrenome Cão. A ele, o meu latido mais cordial. Há de ser caso raríssimo.
Cachorro e burro são dois animais injustiçados. Burro é ofensa também. (Aqui entre nós, eu justifico. Conheci alguns burros mais burros que certos homens da minha carreira.) Entre esses homens, sou comumente conhecido como vira-lata, ou melhor, cão sem dono. De vira-lata- me xingam. Mal sabem eles que, para um cachorro, chamar de "sem-dono" é o maior dos elogios. Para o homem seria também...
Vira-lata sou, com orgulho o digo. E adoro os meus irmãos, com ou sem dono. Tenho agüentado muita injustiça pessoal, sem reagir. E vou agüentar ainda, com certeza. Mas à minha raça, na minha frente, não tolero ofensa.
A Inconsciente Homenagem
Essa mania de chamar de cachorro ao que há de pior no mundo humano foi sempre, para mim, um osso no gogó.
Há cães que não ligam. Uns dão o maior desprezo. Ouvem com indiferença o baixo insulto. Outros, infelizmente "comprados" pelo íntimo convívio com os homens, preferem não reagir. Fazem-se desentendidos. Acham mais negócio manter boas relações com exemplares dessa raça que lhes asseguram restos de comida e outras concessões que nos aviltam. Por esses, tenho quase nojo. Mereciam ser xingados de "homens". Mas não vou tão longe. Eu compreendo as fraquezas caninas. A luta pelo osso não é sopa...
Comigo, porém, homem não brinca!
Que não se use o sobrenome de Cachorro ou de Cão, pouco me importa. O problema é do homem. Mas que nos usem o nome para qualificar o que há de pior entre os homens, isso eu já disse: não suporto.
Estou me lembrando agora de uma vez em que perdi a calma, eu, que sou um cachorro, em geral, de boa paz. Não faço questão de ser enxotado quando revolvo uma lata de lixo. Não saio mordendo se me perturbam no exercício de funções fisiológicas a que os homens não fogem.
Mas dessa vez eu mandei brasa!
Dois homens brigavam. Gosto de assistir briga entre humanos. É prova do subdesenvolvimento da espécie. Raramente, nessas ocasiões, eles partem para o murro na cara, para a briga leal. Ficam no terreno da provocação e do insulto, num linguajar que eu não vou reproduzir de jeito nenhum, sou um cão de respeito...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades


















