



Biblio VT

Series & Trilogias Literarias




Caçadores — membros da infantaria ligeira Eleven-Bravo segundo o sistema de especialidade ocupacional militar, o MOS, do Exército dos Estados Unidos — supostamente devem ser soldados “bonitos”, com uniformes alinhados e rostos barbeados, mas o primeiro-sargento Sam Driscoll já não era mais um desses, e isso fazia algum tempo. O conceito de camuflagem frequentemente envolvia mais do que fardas de batalha estampadas. Não, espere, não eram mais chamadas assim, não é? Agora eram “uniformes de combate do exército”. Mesma coisa, mesma coisa.
A barba de Driscoll tinha mais de 10 centímetros de comprimento, com tantas áreas brancas que seus homens o chamavam de Papai Noel — algo que incomodava bastante um homem que mal havia chegado aos 36 anos. Porém, quando a maioria de seus compatriotas tem em média dez anos a menos que você... Bem. Poderia ser pior. Poderia ser “papai” ou “vovô”.
Ele ficava ainda mais chateado por ter cabelo comprido. Era escuro, desgrenhado e oleoso, o que era útil por aqui, onde os pelos do rosto eram importantes para seu disfarce e o povo local raramente se importava em cortar o cabelo. Suas roupas eram características da região, assim como as de sua equipe. Eles eram 15. O comandante de sua companhia, um capitão, estava de baixa com a perna quebrada por conta de um passo em falso — e isso era o que bastava naquele terreno para mandar alguém para o banco de reservas —, sentado no alto de uma colina esperando o Chinook que o levaria, assim como um dos dois paramédicos da equipe que havia ficado na retaguarda para evitar que ele entrasse em estado de choque. Isso deixou Driscoll no comando da missão. Ele não se importava. Tinha mais tempo em campo do que o capitão Wilson, apesar de o capitão ser formado na universidade e Driscoll ainda não ter seu diploma. Uma coisa de cada vez. O sargento ainda tinha que sobreviver a esse deslocamento, e depois podia voltar para suas aulas na Universidade da Geórgia. Engraçado, pensou, ter levado quase três décadas para começar a gostar da escola. Bem, antes tarde do que nunca, ele supunha.
Estava cansado, o tipo de cansaço que deixava a mente tonta e os ossos moídos tão conhecido pelos Rangers. Ele sabia como dormir feito um cão em cima de um bloco de granito, com apenas o cabo de um rifle como travesseiro, sabia como ficar alerta quando seu cérebro e seu corpo gritavam para que se deitasse. O problema era que, agora que estava mais perto dos 40 que dos 30, sentia os ferimentos e as dores um pouco mais do que sentia quando tinha 20, e levava o dobro do tempo para alongar os músculos pela manhã. Mesmo assim, as dores eram contrabalançadas por sabedoria e experiência. No decorrer dos anos, Driscoll aprendera que, apesar do clichê, de fato era a mente sobre a matéria. Em grande medida, aprendera a bloquear a dor, uma habilidade conveniente quando se lida com homens muito mais jovens, cujas mochilas sem dúvida parecem mais leves em seus ombros do que a de Driscoll nos dele. Na vida, decidiu ele, tudo se resume a trocas.
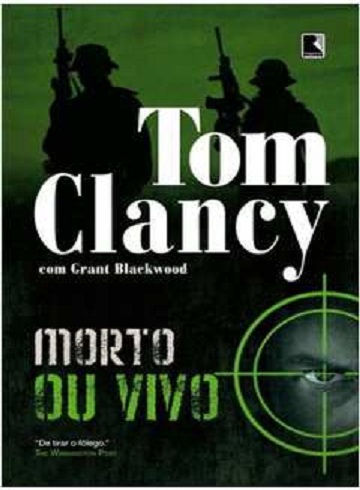
Eles estavam nas colinas havia dois dias, sempre em movimento, dormindo duas ou três horas por noite. Driscoll era parte da equipe de operações especiais do 75º Regimento de Rangers, permanentemente baseado em Fort Benning, na Geórgia, onde havia um ótimo clube para suboficiais com um bom chope. Ao fechar os olhos e se concentrar, imaginou que ainda podia sentir o gosto da cerveja gelada, mas o momento passou rapidamente. Ele devia focar no presente, em cada segundo que passava. Estavam 4.500 metros acima do nível do mar, nas montanhas do Hindu Kush, nessa zona cinzenta que era tanto Afeganistão quanto Paquistão, e nenhum dos dois — pelo menos para os locais. As linhas em mapas não faziam fronteiras verdadeiras, Driscoll sabia disso, especialmente nesse território indiano. Verificara seu equipamento de GPS para ter certeza de sua posição, mas latitude e longitude realmente não importavam na missão. O que importava era para onde eles iam, independente de onde isso estivesse no mapa.
A população local pouco sabia de fronteiras, e nem se importava com isso. Para eles, a realidade era a tribo dentro da qual estavam, de que família você fazia parte e que tipo de muçulmano você era. Ali, as lembranças duravam cem anos e as histórias, muito além disso. E os ressentimentos, ainda mais. Os locais até hoje se gabavam de seus ancestrais terem botado Alexandre, o Grande, para fora da região, e alguns ainda lembravam o nome dos guerreiros que derrotaram os lanceiros macedônios que até então tinham conquistado todos os lugares onde entraram. Entretanto, os locais falavam principalmente dos russos, de quantos deles haviam matado, a maioria em emboscadas, alguns com facas, cara a cara. Sorriam e gargalhavam com essas histórias, lendas transmitidas de pai para filho. Driscoll duvidava que os soldados russos que conseguiram sair do Afeganistão rissem da experiência. Não, senhor, essas pessoas não eram boazinhas, ele sabia. Eram inflexíveis, endurecidos pelo clima, pela guerra, pela fome e por apenas tentarem se manter vivos numa região que parecia se esforçar o tempo todo para matá-los. Driscoll compreendia que devia ter um pouco de simpatia por eles. Deus simplesmente lhes dera cartas ruins, e isso talvez não fosse culpa deles, mas também não era de Driscoll e tampouco lhe importava. Eram inimigos de seu país, o poder que podia apontar o bastão para eles e comandar “Vão”. E lá estavam eles. Essa era a verdade central daquele momento, a razão pela qual ele estava naquelas malditas montanhas.
Mais um cume era a outra verdade central, especialmente ali, ao que parecia. Percorreram 15 quilômetros em passo puxado, quase sempre em subida e sobre rochas afiadas e cascalho, desde quando saltaram do helicóptero CH-47 Chinook, variante Delta, o único à disposição deles que podia subir até aquela altitude.
Ali... o espinhaço. Cinquenta metros.
Driscoll diminuiu os passos. Estava caminhando na ponta, liderando a patrulha como o suboficial presente mais graduado, com seus homens se estendendo por 100 metros atrás dele, alertas, os olhos varrendo à direita e à esquerda, para cima e para baixo, carabinas M4 preparadas e apontadas para os respectivos setores. Eles esperavam encontrar algumas sentinelas no espinhaço. Os locais podiam ser ignorantes no sentido tradicional, mas de modo algum eram estúpidos, razão pela qual os Rangers faziam aquela operação noturna — zero-um-quarenta e quatro, ou à uma e quarenta e cinco da madrugada — segundo seu relógio digital. Noite sem lua e nuvens altas suficientemente espessas para bloquear qualquer luz que viesse das estrelas. Bom tempo para caçada, pensou.
Seu olhar estava mais atento ao chão que ao céu. Não queria fazer nenhum ruído, e os ruídos vinham dos pés. Uma maldita pedra solta, deslizando pela colina, podia trair a presença deles. Não podia deixar isso acontecer, não é? Não podia desperdiçar os três dias e 24 quilômetros que haviam gastado para chegar tão perto.
Vinte metros até o cume.
Seus olhos percorreram a linha procurando movimento. Nada próximo. Mais alguns passos, olhando à direita e à esquerda, a carabina com silenciador aninhada no peito e armada para rajadas curtas, o dedo repousando de leve no gatilho, só para saber que estava ali.
Era difícil explicar às pessoas o quanto aquilo era difícil, como era cansativo e debilitante — muito mais que uma caminhada de 25 quilômetros na floresta —, sabendo que podia haver alguém com um AK-47 nas mãos e o dedo no gatilho, o seletor ajustado para rajadas, pronto para partir seu rabo em dois. Seus homens liquidariam tal pessoa, mas isso não iria adiantar nada para ele mesmo, Driscoll sabia. Ainda assim, ele se consolou: se acontecesse, as chances eram de que sequer perceberia. Já despachara inimigos em quantidade suficiente para saber como funcionava: num instante, você dava um passo adiante, os olhos esquadrinhando a frente, ouvidos ligados e procurando ouvir o perigo... e depois nada. Morte.
Driscoll conhecia a regra ali, no terreno escarpado, no meio da noite: devagar é rápido, mova-se devagar, caminhe devagar, pise cuidadosamente. Regra que lhe fora útil nesses muitos anos.
Apenas seis meses antes ele havia ficado em terceiro lugar na Competição de Melhor Ranger, o Super Bowl das tropas de operações especiais. De fato, Driscoll e o capitão Wilson estavam inscritos como Equipe 21. O capitão devia estar puto com a perna quebrada. Ele era um Ranger muito bom, pensou Driscoll, mas uma tíbia quebrada era uma tíbia quebrada. Quando um osso quebra não há muito o que fazer. Um músculo torcido dói como o diabo, mas melhora rapidamente. Por outro lado, um osso quebrado tem que ser atado e se recuperar, o que significa ficar deitado de costas por algumas semanas em um hospital do Exército antes que os médicos lhe permitam se apoiar na perna novamente. Então, é preciso aprender a correr de novo, isso depois de reaprender a andar. Uma chateação... O sargento teve sorte em sua carreira, sem ter sofrido nada mais que um tornozelo torcido, um dedo mínimo quebrado e uma contusão na bacia, nada que o colocasse no banco de reservas por mais de uma semana. E nenhuma bala ou estilhaço de raspão. Os deuses dos Rangers certamente sorriram para ele.
Mais cinco passos...
Ok, aí está você... Sim. Como Driscoll esperara, lá estava a sentinela, bem onde deveria estar. Uns 25 metros à sua direita. Era simplesmente o lugar mais óbvio para uma sentinela, apesar de essa, em particular, estar fazendo uma droga de trabalho, ali sentada, na maior parte do tempo olhando para trás, provavelmente entediada, sonolenta e contando os minutos até a hora de sua substituta chegar. Bem, o tédio pode matar, e iria matar o cara em menos de um minuto, embora ele nunca fosse se dar conta disso. A menos que eu erre o tiro, lembrou Driscoll a si mesmo, sabendo que não erraria.
Ele se virou mais uma vez, percorrendo a área com seus óculos de visão noturna PVS-17. Ninguém mais por perto. Ele se acomodou, ajustou a carabina no ombro esquerdo e centrou a mira na orelha direita do sujeito, controlou a respiração...
À sua direita, abaixo na trilha estreita, veio o ruído de couro raspando na pedra.
Driscoll congelou.
Fez uma rápida recapitulação mental, localizando o restante da equipe em sua memória. Alguém ali embaixo? Não. A maior parte dos homens estava espalhada atrás dele e à sua direita. Movendo-se com lentidão exagerada, Driscoll voltou a cabeça para a direção do ruído. Nada na visão noturna. Abaixou a carabina, deitando-a diagonalmente em seu peito. Olhou à esquerda. A 3 metros de distância, Collins estava agachado atrás de uma rocha. Driscoll gesticulou: Ruído à esquerda; leve dois homens. Collins assentiu e rastejou para fora da visão. Driscoll fez o mesmo, e ficou deitado imóvel entre um par de arbustos mirrados.
Abaixo, na trilha, outro ruído: líquido respingando na pedra. Isso levou um sorriso aos lábios de Driscoll. O chamado da natureza. O ruído de urina diminuiu e depois parou. Passos começaram a descer a trilha. Sete metros de distância, estimou Driscoll, além da curva.
Momentos depois, uma figura apareceu na trilha. Passadas sem pressa, quase preguiçosas. Com a visão noturna, Driscoll pôde ver um AK-47 pendurado no ombro do sujeito, com o cano para baixo. O guarda continuou avançando. Driscoll não se mexeu. Cinco metros... três.
Uma figura se levantou das sombras ao lado da trilha e se esgueirou atrás do guarda. Uma mão apareceu sobre o ombro do homem, depois o brilho de uma faca veio por cima do outro ombro. Collins virou o sujeito para a direita e o levou para o chão, e as duas sombras se misturaram. Dez segundos transcorreram. Collins levantou, mergulhou para fora da trilha e arrastou o guarda para fora de vista.
Sentinela abatida conforme o manual, pensou Driscoll. Fora as aparições em filmes, o uso de facas era uma raridade em suas operações. Mesmo assim, Collins não tinha perdido o jeito.
Pouco depois, Collins reapareceu à direita de Driscoll.
O sargento voltou sua atenção à sentinela no espinhaço. Ainda estava lá. Não havia se mexido. Driscoll ajustou de novo sua M4, apontou o visor para a nuca do homem, e depois colocou o dedo no gatilho.
Calma, calma... aperte...
Pop. Quase nenhum ruído. Difícil de ouvir num raio de mais de 50 metros, mas a bala voou certeira e perfurou a cabeça do alvo, deixando um sopro de vapor verde atrás, e ele se foi para ver Alá ou seja lá que Deus reconhecesse; aos 20 e tantos anos, crescendo, comendo e aprendendo, e provavelmente lutando, chegou ao seu final abrupto e sem aviso prévio.
O alvo caiu de lado e saiu do campo de visão.
Azar o seu, babaca, pensou Driscoll. Mas esta noite estamos atrás de uma caça maior que você.
— Sentinelas abatidas — disse Driscoll em voz baixa no rádio. — O espinhaço está limpo. Avancem. Limpo e rápido. — Esse último trecho não era realmente necessário, não com esses caras.
Ele olhou para trás para ver seus homens se movimentando agora um pouco mais rapidamente. Estavam empolgados, mas sob controle, prontos para o serviço. Podia perceber na postura deles a economia de movimentos que separava os verdadeiros atiradores dos enganadores e daqueles que só esperavam o tempo passar para voltar à vida civil.
Seu verdadeiro alvo podia estar agora a menos de 100 metros de distância, e todos deram duro nos últimos três meses para empacotar esse filho da mãe. Escalar montanhas não era a ideia de diversão de nenhum deles, salvo para os loucos que ansiavam pelo Everest e pelo K2. Seja como for, fazia parte do trabalho e da missão atual, de modo que todos engoliram isso e continuaram se movimentando.
Os 15 homens se agruparam em três equipes de tiro com cinco Rangers cada uma. Uma permaneceria ali com as armas pesadas — haviam trazido duas metralhadores M249 SAW (Squad Automatic Weapon) para fogo de cobertura e vigilância. Não se sabia quantos inimigos poderiam estar ali, e a SAW era uma grande equalizadora. Os satélites proporcionavam muitas informações de inteligência, mas algumas variáveis tinham de ser enfrentadas conforme apareciam. Todos os seus homens esquadrinhavam os rochedos, procurando movimento. Qualquer movimento. Talvez fosse apenas um inimigo saindo para soltar um barro. Naquele canto da floresta, a chance era de noventa por cento de que qualquer um que encontrassem fosse um dos inimigos. Isso tornava o trabalho deles muito mais fácil, pensou Driscoll.
Movimentando-se ainda mais devagar, ele avançou furtivamente, os olhos na frente dos pés, observando cada pisada para evitar pedras soltas e gravetos. Então adiante, esquadrinhando, perscrutando... Esse era outro benefício da sabedoria, pensou, saber como sufocar a excitação por estar tão perto da linha de gol. Era ali que muitas vezes os recrutas e os mortos cometiam seus erros, acreditando que o mais difícil já havia passado e seu alvo estava bem perto. E aí, sabia Driscoll, é quando o velho Murphy, da famosa lei de Murphy, geralmente se coloca por trás de você, lhe dá um tapinha no ombro e lhe entrega uma surpresa desagradável. Antecipação e expectativa eram os dois lados letais da mesma moeda. Qualquer um dos dois na dose certa no momento errado faria você morrer.
Mas não desta vez. Não na minha maldita supervisão. E não com uma equipe tão boa quanto a dele.
Driscoll viu o espinhaço bem à frente, a menos de 3 metros, e se agachou, com cuidado para manter a cabeça abaixo da borda, para não apresentar uma tentadora silhueta para algum babaca alerta. Cobriu os últimos metros com passos agachados, depois se inclinou para a frente, a mão esquerda apoiando na pedra, e levantou a cabeça para espreitar.
E lá estava... a caverna.
2
— Combustível baixo — vup, vup —, combustível baixo — anunciou a voz gerada por computador.
— Já sei, já sei — resmungou o piloto em resposta.
Ele podia ver a informação necessária em seu mostrador CRT no painel de controle. A luz de alarme do computador de bordo piscava havia pelo menos 15 minutos. Eles cruzaram a costa canadense dez minutos antes, e à luz do dia poderiam olhar para baixo e ver um terreno verde com troncos raquíticos. A menos que tivesse errado completamente a navegação, logo veriam algumas luzes. De qualquer modo, já operavam sobre terreno seco, o que era um alívio.
Os ventos do Atlântico Norte foram muito mais severos que o previsto. A maioria do tráfego noturno dessa hora era em direção ao leste e aqueles aparelhos carregavam muito mais combustível que o Dassault Falcon 9000. Tinham o suficiente para mais vinte minutos. Dez a mais do que precisavam. A velocidade marcada estava acima dos 500 nós, altitude de 25 mil pés e descendo.
— Aproximação de Gander — disse ele ao microfone do rádio —, aqui é Hotel zero-nove-sete, Mike Foxtrot, chegando para abastecimento, câmbio.
— Mike Foxtrot — veio a resposta —, aqui é Gander. Os ventos estão calmos. Recomendo pista dois-nove para aproximação normal.
— Ventos calmos? — observou o copiloto. — Droga. — Eles enfrentaram uma corrente de ventos de mais de 100 nós bem no bico durante três horas de pequena turbulência. Nada muito pesado a 41 mil pés de altitude, mas ainda assim perceptível. — Esse pulo sobre a água foi longo demais para o meu gosto.
— Especialmente com ventos como esses — respondeu o piloto. — Espero que os motores funcionem só com vapor de combustível.
— Estamos certos com a alfândega?
— Devemos estar. Já temos o CANPASS e estamos liberados com o destino de Moose Jaw. Fazemos a imigração aqui?
— Sim, certo. — Mas os dois sabiam que nem tudo aquilo era verdade. O voo de Gander para seu destino final seria um tanto fora do normal. Mas estavam sendo pagos para isso. E o câmbio do euro para o dólar os favorecia. Especialmente com dólares canadenses.
— Já vi as luzes. Cinco minutos mais — declarou o copiloto.
— Entendido, pista à vista — respondeu o piloto. — Flapes.
— Flapes descendo para 10. — O copiloto operou os controles e eles escutaram o chiado dos motores elétricos estendendo os flapes. — Acordo os passageiros?
— Não. Para quê? — decidiu o piloto. Se fizessem tudo certo, eles não notariam nada até a aceleração na próxima decolagem. Depois de tirar o brevê e voar 20 mil horas com a Swissair, ele havia se aposentado e comprado seu próprio Dassault Falcon para fretar milionários e bilionários viajando pela Europa e ao redor do globo. Metade das pessoas que podiam pagar seus serviços acabavam indo para os mesmos lugares: Mônaco, Harbor Island nas Bahamas, Saint-Tropez, Aspen. O fato de seu atual passageiro não ir a nenhum desses lugares era uma curiosidade, mas, enquanto pagasse, ele não tinha nada a ver com isso.
Começaram a descer e passaram à marca dos 10 mil pés. As luzes da pista eram facilmente visíveis, uma raia reta na escuridão que uma vez já abrigara uma esquadrilha de caças F-84 da Força Aérea dos Estados Unidos.
Cinco mil pés e descendo.
— Flapes para 20.
— Entendido, flapes para 20 — respondeu o copiloto.
— Trem de pouso — comandou ele em seguida, e o copiloto pegou nas alavancas. O ruído de ar entrando chegou à cabine quando as portas do trem de pouso se abriram e a estrutura abaixou. Trezentos pés.
— Baixados e travados — respondeu o copiloto.
— Cem pés — informou a voz computadorizada.
O piloto tencionou os braços e depois os relaxou, fazendo a aeronave descer, suavemente, suavemente, escolhendo o ponto certo. Apenas seus sentidos bem-treinados conseguiram informá-lo quando a aeronave tocou o solo nos quadrados de concreto de 10 metros. Acionou o reversor de empuxo e o Dassault diminuiu. Um caminhão com luzes piscando indicou para onde ele deveria se dirigir e quem seguir até o ponto onde o caminhão-tanque esperava.
Permaneceram em solo por um total de vinte minutos. Um funcionário da imigração os interrogou pelo rádio e verificou que não havia mudanças nos dados do CANPASS. Lá fora, o caminhão-tanque desconectou a mangueira e fechou a válvula de combustível.
Ok, terminamos aqui, pensou o piloto. Agora era o segundo segmento do voo em três partes.
O Falcon taxiou de volta para a ponta norte da pista, verificando a lista de itens pré-decolagem, como sempre fazia, depois de esperar no final da pista. A aceleração foi suave; as rodas saíram do solo, depois os flapes foram recolhidos, seguidos pela aceleração de subida. Mais dez minutos e eles estavam a 37 mil pés, a altitude determinada pela Central de Toronto.
O avião entrou em velocidade de cruzeiro rumo a oeste a Mach 0,81 — cerca de 520 nós ou 960 quilômetros por hora —, com os passageiros dormindo na popa enquanto os motores engoliam combustível à razão de 1.500 quilos por hora. O transponder do avião transmitia sua velocidade e altitude para os radares de controle aéreo, e fora isso não havia necessidade de tráfego de rádio de nenhum tipo. Em uma tempestade, eles poderiam ter requisitado uma altitude diferente, provavelmente mais alta, para permitir um cruzeiro mais confortável. Porém a torre de Gander estava correta. Depois de ultrapassar a frente fria que haviam enfrentado em seu voo para a Terra Nova, parecia que nem se moviam, exceto pelo rugir amortecido dos jatos presos na cauda. Piloto e copiloto nem conversavam muito. Já voaram juntos o suficiente para saber as mesmas piadas, e, em um voo tão tranquilo quanto esse, não havia troca de informações. Tudo tinha sido planejado até os últimos detalhes. Ambos imaginavam como seria o Havaí. Aguardavam ansiosamente o par de suítes no Royal Hawaiian, e um longo sono para compensar o inevitável jet lag que com certeza acompanharia as dez horas do dia adicional que iriam experimentar. Bem, os dois gostavam de uma soneca numa praia ensolarada e a previsão do tempo no Havaí indicava o clima monotonamente perfeito de sempre. Planejaram uma parada de dois dias antes de empreender a viagem para o leste de volta ao seu aeroporto-base nos arredores de Genebra, sem previsão de passageiros nesse trecho.
— Moose Jaw em quarenta minutos — observou o copiloto.
— Hora de voltar ao trabalho, eu acho.
O plano era simples. O piloto pegou o rádio HF — uma relíquia remanescente da Segunda Guerra Mundial — e chamou Moose Jaw, anunciando sua aproximação e o início da descida, assim como a hora de chegada prevista. A torre de Moose Jaw recebia a informação dos sistemas de controle de área e inseria os códigos alfanuméricos do transponder nos seus radares.
O Dassault começou a diminuir a altitude em uma aproximação completamente normal, o que foi devidamente anotado pelo Centro de Toronto. A hora local era 0304, ou Zulu – 4 horas, tomando como base a Hora Média de Greenwich/Hora Universal, ou quatro horas ao leste.
— Lá está — anunciou o copiloto. As luzes de aproximação de Moose Jaw se destacavam na paisagem escura. — Altitude 12 mil, descendo a mil por minuto.
— Coloque o transponder em aguardo — ordenou o piloto.
— Entendido — respondeu o copiloto. O transponder era uma instalação customizada, feita pela própria tripulação.
— Seis mil pés. Flapes?
— Deixe como está — comandou o piloto.
— Entendido. Pista à vista.
O céu estava claro e as luzes estroboscópicas de aproximação de Moose Jaw piscavam no ar sem nuvens.
— Moose Jaw, aqui é Mike Foxtrot, câmbio.
— Mike Foxtrot, Moose Jaw, câmbio.
— Moose Jaw, nosso trem de pouso não quer descer. Por favor, aguardem. Câmbio. — A notificação fez as pessoas acordarem.
— Entendido. Você está declarando uma emergência, câmbio? — inquiriu o rádio de aproximação imediatamente.
— Negativo, Moose Jaw. Estamos verificando os sistemas elétricos. Aguardem.
— Entendido. Aguardando. — Apenas um toque de preocupação na voz.
— Ok — disse o piloto ao copiloto. — Saímos do radar deles a mil pés. — Já haviam treinado aquilo tudo, é claro. — Altitude 3 mil e descendo.
O piloto aliviou o leme à direita. Isso era para mostrar uma mudança de curso no radar de aproximação de Moose Jaw, nada sério, mas de qualquer modo uma mudança. Com a altitude caindo, isso poderia parecer interessante nas gravações do radar se alguém se importasse em olhar, o que era duvidoso. Outro blip perdido no espaço aéreo.
— Estamos a 2 mil — disse o copiloto. O avião sacudia um pouco na baixa altitude, mas não tanto quanto iria sacudir. — Agora, 1.500. Talvez queira ajustar o coeficiente de descida.
— Muito bem. — O piloto puxou o manche para trás para nivelar a aeronave a 900 pés acima do nível do mar. Isso era baixo o suficiente para obstruir feixes de radar e criar eco. Apesar do Dassault não ter nada de invisível, a maioria dos radares civis de controle de tráfego via em primeiro lugar os sinais do transponder, e não “pinturas de pele”. Na aviação comercial, um avião aparecia no radar como nada mais que um sinal no céu.
— Mike Foxtrot, Moose Jaw, informe altitude, câmbio.
Fariam isso por algum tempo. E a equipe local da torre estava incomumente alerta. Talvez tivessem entrado num exercício de treinamento, pensou o piloto. Azar, mas não um grande problema.
— Piloto automático desligado. Pilotagem manual.
— A aeronave é do piloto — respondeu o copiloto.
— Ok, entrando em curva para a direita. Desligar transponder — comandou o piloto.
O copiloto desligou a energia do transponder.
— Desligado. Estamos invisíveis. — Isso chamou a atenção de Moose Jaw.
— Mike Foxtrot, Moose Jaw. Informe altitude, câmbio — exigiu a voz mais categoricamente. Depois, uma segunda chamada.
O Falcon completou a curva pelo norte e estabilizou no rumo dois-dois-cinco. O terreno abaixo era plano e o piloto ficou tentado a reduzir a altitude para 500 pés, mas decidiu não o fazer. Não era preciso. Tal como planejado, o avião havia simplesmente evaporado do radar de Moose Jaw.
— Mike Foxtrot, Moose Jaw. Informe altitude, câmbio!
— Ele parece nervoso — observou o copiloto.
— Não o culpo.
O transponder que eles acabaram de desligar era de outro aparelho, provavelmente estacionado em um hangar em Söderhamn, na Suécia. Esse voo custava um adicional de 70 mil euros para quem o fretara, mas a tripulação de voo suíça compreendia bem o que era ganhar dinheiro, e não estava transportando drogas ou coisas assim. Dinheiro ou não, esse tipo de carga não valia a pena.
Moose Jaw já estava a 60 quilômetros atrás deles, desvanecendo-se a 10 quilômetros por minuto, segundo o radar Doppler do avião. O piloto ajustou o manche para compensar os ventos cruzados. O computador ao lado de seu joelho direito compensaria a deriva, e o computador sabia exatamente para onde se dirigiam.
Parte do caminho, pelo menos.
3
Parecia diferente das imagens — o que sempre acontecia —, mas eles estavam no lugar exato, isso com certeza. Ele sentiu seu cansaço se esvair, substituído por uma antecipação focada.
Dez semanas atrás, um satélite da CIA havia captado uma transmissão dali e outro tirou uma foto, que Driscoll tinha agora no bolso. Esse era o lugar, sem dúvida. Uma formação triangular de rochedos no topo identificava o ponto. Não era decoração, a despeito de aparentar ter sofrido interferência humana, mas, sim, algo deixado para trás pelo último conjunto de geleiras que tinha passado pelo vale, sabia Deus há quantos milhares de anos. Provavelmente, a mesma água derretida que havia esculpido o triângulo ajudou também a furar a caverna. Ou seja lá como se formavam as cavernas. Driscoll não sabia nem se importava especificamente com o assunto. Algumas eram bem profundas, com centenas de metros, buracos de segurança perfeitos para se esconder. Mas essa aqui tinha originado um sinal de rádio. E isso a tornava especial. Especial para cacete. Washington e Langley demoraram mais de uma semana para localizar o lugar, mas foram muito cuidadosos na sequência. Quase ninguém sabia sobre essa missão: menos de 30 no total, e a maioria estava em Fort Benning. Onde estava o clube para suboficiais. Para onde ele e sua equipe regressariam em menos de 48 horas. Se Deus quiser — inshallah, como diziam por ali. Não era sua religião, mas o sentimento fazia sentido. Driscoll era metodista, embora isso não o impedisse de tomar sua cervejinha de vez em quando. Ele era principalmente um soldado.
Ok, como vamos fazer isso?, perguntou-se. Com força e rapidez, é claro, mas como fazer isso com força e rapidez? Ele carregava meia dúzia de granadas. Três de verdade e três granadas de luz M84. Estas eram revestidas de plástico em vez de aço, pesadas, com explosivos barulhentos, fabricados com algum tipo de mistura de magnésio e amônia que os fazia parecer com a superfície do sol surgindo para uma visita inesperada, para ofuscar e cegar quem estivesse por perto. Ali, também, pouco lhe importava a química das coisas. O que importava era que funcionavam muitíssimo bem.
O negócio dos Rangers não era combater lealmente. Tratava-se de uma operação de combate, e não dos Jogos Olímpicos. Podiam prestar os primeiros socorros aos inimigos que sobrevivessem, e apenas porque sobreviventes tendem a ser mais falantes que os mortos. Driscoll espiou novamente a entrada da caverna. Alguém havia ficado bem ali, naquele ponto, para fazer sua ligação telefônica via satélite, e o RHYTHM, um satélite de espionagem eletrônica, a copiara, e um satélite KEYHOLE tinha marcado a localização, e a missão deles fora autorizada pelo próprio SOCOM, o Comando de Operações Especiais. Driscoll ficou imóvel, parado junto a um rochedo grande, perto o suficiente para que sua silhueta se fundisse à pedra. Não havia movimento evidente lá dentro. Nenhuma surpresa. Mesmo os terroristas tinham que dormir. E isso funcionava a seu favor. Muito bem, de fato. Dez metros. Ele se aproximou com movimentos que pareceriam cômicos para os não iniciados, movimentos exagerados de subir e levantar o pé e as canelas, cuidadosamente evitando pedras soltas. Então chegou lá. Apoiou-se em um joelho e olhou para dentro. Deu uma espiada por cima do ombro para se certificar de que o restante da equipe não estava amontoado. Nenhuma preocupação nesse sentido. Ainda assim, Driscoll sentiu as asinhas da preocupação adejarem na sua barriga. Ou seria medo? Medo de ferrar com tudo, medo de repetir a história. Medo de ter homens mortos.
Há alguns anos, no Iraque, o predecessor do capitão Wilson, um segundo-tenente novato, tinha planejado uma missão — uma caçada direta aos insurgentes pelas margens sul do lago Buhayrat Saddam, a norte de Mosel —, e Driscoll havia participado. O problema era que o jovem tenente estava mais interessado em fazer um belo relatório do que na segurança de seus Rangers. Indo de encontro ao conselho de Driscoll e com a noite caindo, ele dividiu a equipe para flanquear um complexo de casamatas, porém, como era a tendência de planos refeitos apressadamente, esse também não sobreviveu ao primeiro contato com o inimigo — nesse caso, o encontro de um grupo do tamanho de uma companhia formado por ex-soldados leais a Saddam, que cercaram e massacraram a esquadra de tiro do jovem tenente antes de voltar sua atenção para Driscoll e seus homens. O combate em retirada durou a maior parte da noite, até que, finalmente, Driscoll e três outros conseguiram abrir caminho cruzando o rio Tigre e se colocando ao alcance de fogo de uma base armada.
Driscoll soube que o plano do tenente era um desastre em andamento. Mas teria argumentado com firmeza suficiente contra ele? Se tivesse insistido... Bem. Essa era a questão que o assombrara durante todo o ano que passou. E, agora, novamente em território inimigo, mas dessa vez as decisões — boas, más, desastrosas — eram todas suas.
Olho na bola, obrigou-se Driscoll. Ponha a cabeça no jogo.
Avançou mais um passo. Ainda nada pela frente. Os pashtuns podiam ser durões — eram durões para caramba, como Driscoll já aprendera —, mas não tinham treinamento que fosse mais além de apontar o rifle e puxar o gatilho. Deveria haver alguém na entrada da caverna também de vigia. Ele viu umas bitucas de cigarro por perto. Talvez uma sentinela estivesse ali e seus cigarros tivessem acabado. Mau hábito, babaca, pensou Driscoll. Mau posicionamento de batalha. Vagarosa e cuidadosamente, ele deslizou para dentro. Seus óculos de visão noturna eram uma bênção. A caverna era reta por uns 15 metros, paredes ásperas, quase toda ovalada. Nada de iluminação. Nem mesmo uma vela, mas ele percebeu uma curva à direta logo adiante, assim manteve os olhos preparados para perceber luz. O chão da caverna não tinha pedras nem sujeira. Isso dizia muita coisa ao sargento: alguém vivia ali. A informação que lhes deram era sólida. Será que os milagres nunca acabam?, pensou Driscoll. Frequentemente, essas expedições de caça revelavam apenas um buraco de esconderijo vazio e um bando de Rangers emputecidos olhando para seus próprios cacetes.
Talvez a caverna certa? Nem sempre ele se permitia esse tipo de pensamentos. Isso não seria uma boa?, pensou por um breve instante. Esta aqui é um prêmio grande. Ele deixou de lado o pensamento. O tamanho do prêmio não mudava em nada o modo como faziam o trabalho.
O solado de suas botas era flexível. Confortável nos pés, porém, mais importante, silenciosos. Enfiou sua carabina M4 mais para perto do ombro. Havia deixado a mochila lá fora. Não precisava nem de peso nem de volume adicionais dentro da caverna. Driscoll não era muito grande. Um pouco menos que 1,80m, pesava 80 quilos, enxuto e musculoso, os olhos azuis pesquisando adiante. Tinha dois soldados alguns metros atrás dele, que escutavam sua respiração pelo rádio que todos usavam, mas o sargento não falou nem uma palavra. Apenas sinais de mão, que de qualquer maneira eram cheios de conteúdo.
Movimento. Alguém vinha daquela direção.
Driscoll se apoiou em um joelho.
Os passos se aproximavam. Driscoll levantou o punho esquerdo, dizendo aos que vinham atrás para que se abaixassem, ao mesmo tempo que preparava a carabina. Os passos eram descuidados. Passos alertas soariam diferentes para seus ouvidos treinados. O sujeito estava em casa, e se sentia confortável ali. Bem, azar o dele. Atrás do homem, algumas pedras correram e Driscoll sabia qual era a fonte, pois isso já acontecera com ele: uma bota escorregou. Permaneceu imóvel. Depois da curva, as passadas pararam. Dez segundos transcorreram, depois vinte. Por meio minuto, nada se mexeu. Então, os passos recomeçaram. Ainda despreocupados.
Driscoll apoiou a M4 no ombro e virou a esquina e lá estava o babaca. Um momento depois, ele estava com duas balas no peito e uma terceira na testa, e caiu sem um gemido. Era mais velho que o de fora, talvez com 25 anos, e tinha uma barba espessa. Azar o seu. Driscoll avançou, passando ao lado do corpo e dobrando à direita, depois esperando seus companheiros se aproximarem. Podia ver mais uns 6 metros adiante. Avance. Qual a profundidade dessa caverna? Impossível dizer naquele momento. Segurou firme a carabina com as mãos.
Havia mais luzes adiante, piscando. Velas, provavelmente. Talvez os babacas precisassem de luzes noturnas, como os filhinhos de Driscoll. O chão da caverna ainda estava limpo. Alguém limpara o lugar. Por quê?, perguntou-se Driscoll. Há quanto tempo?
E continuou avançando.
A curva seguinte era para a esquerda, um arco suave e limpo na rocha de calcário, e na curva seguinte, muitas luzes — relativamente falando. Sem o PVS-17 seria, no máximo, um brilho suave.
Foi quando ele escutou um ruído. Ronco. Não muito adiante. Driscoll não avançava rapidamente, mas então diminuiu ainda mais. Hora de ser cuidadoso. Aproximou-se da curva, arma apontada, virando, virando vagarosamente.
Pronto. Era o que procurava. Madeira sem acabamento. Simples e conhecidas vigas de madeira, dessas que não cresciam direto do chão. Alguém as levara desde a civilização até ali, e esse alguém usara um serrote para cortá-las e ajustar o tamanho.
Com certeza, alguém vivia ali, e não era um simples esconderijo de ocasião. Era algo muito elaborado para uma simples caverna.
Ele começou a ficar animado, sentia o formigamento na barriga. Isso não acontecia frequentemente com o primeiro-sargento (E-8) Sam Driscoll. Sua mão esquerda fez o gesto para que os companheiros se aproximassem. Todos ficaram em um intervalo de uns 3 metros e seguiram em frente.
Beliches duplos. Para isso é que a madeira tinha sido usada. Ele podia ver oito deles. Todos ocupados. Seis beliches, seis babacas. Um deles parecia até ter um colchão, desses de plástico inflável que se podia comprar na Gander Mountain. No chão, havia uma bomba acionada por pedal. Seja lá quem fosse, gostava de dormir confortavelmente.
Ok. E agora?, perguntou a si mesmo. Não era sempre que ele não sabia o que fazer, e quase sempre se aconselhava com o comandante da companhia, mas o capitão Wilson estava preso no alto de uma colina a 15 quilômetros de distância dali, o que colocava Driscoll no comando, e, de repente, comandar parecia ser algo muito solitário. O pior é que aquela não era a última sala. A caverna continuava para o fundo. Sem indicação de quanto mais. Ah, merda.
De volta ao trabalho.
Ele avançou. Suas ordens eram bem simples, e, para cumprir o objetivo, tinha um silenciador para sua pistola, que ele agora sacou do coldre. Colocou a Beretta próxima à cabeça do homem e disparou o primeiro tiro. O silenciador funcionou como previsto. O barulho da ação da pistola foi maior que o do próprio disparo. Ele chegou a escutar o ruído do cartucho de cobre chacoalhando no chão com aquele barulhinho que parecia feito por um brinquedo. Seja lá com o que o sujeito estivesse sonhando, tinha se tornado tão real quanto o inferno. Os homens dormindo nos beliches de baixo partiram do mesmo modo.
Driscoll pensou por um instante que, no mundo civil, isso seria considerado assassinato, mas essa não era sua preocupação. Esses sujeitos tinham se colocado do lado de pessoas que estavam travando guerra contra seu país, e era culpa deles não ter montado guarda suficiente no quartel. A preguiça gerava consequências, e a guerra tinha regras duras para quem as violava. Em três segundos todos os demais homens foram despachados. Talvez conseguissem sua cota de virgens. Isso Driscoll não sabia. Nem se importava. Nove vilões abatidos e mortos. Ele avançou. Atrás dele, seguiam mais dois Rangers, não perto demais, mas o suficiente, um com a pistola e o outro com a carabina M4 para vigilância, tal como dizia O Livro. A caverna dobrava para a direita logo adiante. Driscoll avançou, parando um instante apenas para respirar. Viu mais beliches. Dois.
Porém nenhum dos dois estava ocupado. A caverna continuava se aprofundando. Ele já estivera num monte de cavernas semelhantes. Algumas se estendiam até 300, 400 metros. Mas a maioria não. Algumas eram quase como closets, mas também não era o caso desta. Tinha ouvido falar que algumas, no Afeganistão, iam até a metade do infinito, compridas demais para que os russos as derrotassem, a despeito de medidas significativas para isso, até inundá-las com óleo diesel e jogar um fósforo dentro. Talvez usar gasolina fosse melhor ali, pensou Driscoll. Ou talvez explosivos. Os afegãos eram bem duros e a maioria não temia a morte. Driscoll jamais encontrara esse tipo de gente antes de vir para essa parte do mundo. Mas eles morriam, assim como todos os outros, e então os problemas que criavam desapareciam com eles.
Um passo de cada vez. Nove corpos atrás deles, todos homens, todos na casa dos 20 anos, jovens demais para ter informações úteis, provavelmente, e Guantánamo já tinha bastantes inúteis sentados atrás das grades. Trinta anos ou mais — então talvez valesse a pena poupar suas vidas para que algum sujeito da inteligência conversasse com eles. Mas todos eram jovens demais, e agora estavam todos mortos.
De volta ao trabalho.
Nada mais a ser visto aqui. No entanto ainda havia um brilho fraco adiante. Talvez outra vela. Seu olhar abaixava a cada poucos passos, procurando pedras que pudessem gerar algum ruído, e no momento o ruído era seu inimigo mais perigoso. Barulho acordava as pessoas, especialmente num lugar como esse. Ecos. Por isso as botas tinham solas flexíveis. A curva seguinte era para a esquerda, e parecia mais pronunciada. Hora de ir mais devagar novamente. Uma curva mais pronunciada significava lugar para sentinela. Vagarosamente, vagarosamente. Quatro metros. Mais ou menos 12 pés. Vagarosamente, gentilmente. Como se enfiar no quarto de dormir de um bebê para vê-lo deitado no berço. Mas ele se preocupava mesmo com algum adulto na esquina, segurando um rifle e com o sono entrecortado. Continuava com a pistola sacada, segura com as duas mãos, o silenciador com jeito de lata de refrigerante aparafusado na ponta. Onze tiros ainda no carregador. Parou e se voltou. Os dois Rangers permaneciam ali, olhares fixados nele. Não assustados, mas tensos e totalmente focados. Tait e Young, dois sargentos da Companhia Delta, Segundo Batalhão, 75º Regimento Ranger. Profissionais completamente sérios, tal como ele, ambos em busca de uma carreira no Exército.
Olho no trabalho. Era difícil, às vezes, manter o foco. Mais um par de passos até a esquina. Era uma esquina aguda. Driscoll se aproximou... e enfiou a cara para olhar do outro lado. Havia alguém por perto. Um afegão ou outro tipo qualquer de babaca, sentado em uma... cadeira? Não, parecia mais uma pedra. Esse era mais velho do que ele esperava. Talvez uns 30 anos. O sujeito não estava simplesmente sentado nem bem-adormecido, mas também não acordado. Como se entre os dois estados, e realmente sem prestar atenção. O homem tinha uma arma, um AK-47, pouco mais de 1 metro distante da mão, encostado na pedra. Perto, mas não o bastante para ser alcançada numa emergência de verdade, como a que o sujeito logo iria enfrentar.
Driscoll se aproximou em silêncio, movimentando as pernas de modo exagerado, aproximando-se, e...
Ele deu uma porrada no lado direito da cabeça do sujeito. Talvez o suficiente para matar, mas provavelmente não. Driscoll enfiou a mão em um dos bolsos do casaco de combate e tirou um par de algemas de plástico. Esse era provavelmente velho o bastante para os espiões interrogarem, e provavelmente iria parar em Guantánamo. Deixaria Tait e Young o empacotarem para transporte. Chamou a atenção de Tait, apontou para a forma inconsciente e fez um gesto de enrolar com o indicador. Embrulhe-o. Tait assentiu em retorno.
Outra volta mais adiante, uns 5 metros à frente, à direita, e o brilho piscava.
Seis passos a mais, depois à direita.
Driscoll não perdeu o foco. Passos vagarosos, cuidadosos, a arma bem segura.
A câmara seguinte, que media aproximadamente uns 10 metros por 10, resultou ser o fim da caverna. Estava, talvez, a uns 60 metros da entrada. Fundo o suficiente. Essa caverna provavelmente fora preparada para os importantes. Talvez para o importante? Ele saberia dentro de alguns minutos. Geralmente, não se permitia esse tipo de pensamento. Mas essa era a razão fundamental da missão. Talvez, talvez, talvez. Por isso Driscoll era um Ranger de operações especiais. Avançar, vagarosamente. Sua mão se levantou atrás dele.
Estava tão escuro que seus óculos de visão noturna PVS-17 mostravam agora tanto ruído de recepção quanto imagens, como pipoca em seu campo de visão, estourando e esvoaçando ao redor. Ele deslizou até a quina e olhou mais adiante, muito cuidadosamente. Alguém estava ali, deitado. Havia um AK-47 bem ao alcance, completo com um pente de plástico pré-carregado. O sujeito parecia estar adormecido, mas nisso eles eram bons soldados. Não adormeciam completamente como os civis, mas de modo leve e alerta. E Driscoll queria o cara vivo. Muito bem, sem problema, naquela noite ele já havia matado um punhado de gente só nos últimos dez minutos, mas esse aí ele queria vivo... se possível...
Muito bem. Driscoll passou a pistola para a mão direita e com a esquerda tirou a granada de luz das correias do peito do casaco. Tait e Young viram aquilo e se imobilizaram no lugar. A caverna logo iria se transformar. Driscoll levantou um dedo. Tait respondeu ao sargento superior com o polegar para cima. Hora de botar para quebrar. O babaca já iria ouvir o despertador. Tait olhou ao redor. Uma vela pequena que iluminava bem o aposento. Driscoll recuou um ou dois passos, desligou sua visão noturna e puxou o pino da granada. Soltou a trava, esperou um instante e depois a atirou, contando, 1.001, 1.002, 1.003...
Soou como o fim do mundo. Os dez gramas de pó de magnésio estouraram como o sol do meio-dia, mas ainda mais brilhante. E o barulho. O barulho soou e foi sentido como o fim do mundo, estourando um BUM que acabou com qualquer sonho que o babaca estivesse desfrutando. Então Driscoll entrou. Ele não ficara tonto com a explosão. Estava aguardando-a, e assim seus ouvidos se ajustaram ao ruído e ele fechara os olhos para atenuar a magnitude do flash. O babaca não desfrutara dessa proteção. Seus ouvidos tinham sido violentados e isso afetava seu equilíbrio. Ele nem tentou pegar a arma próxima, mas Driscoll havia saltado e a chutado para longe, e em seguida estava com a pistola bem diante do rosto do babaca. Ele não tinha a menor chance de resistir e essa era a intenção do sargento.
Foi então que percebeu que estava com o alvo errado. Ele era barbado, mas tinha 30 e poucos anos, ainda longe dos 40. Babaca errado foi seu pensamento imediato, seguido por Merda. O rosto era a personificação da confusão e do choque. Sacudia a cabeça, tentando iniciar seu cérebro, mas, apesar de ser jovem e durão, não reagiu com a rapidez que as necessidades do momento exigiam.
Driscoll viu movimento perto dos fundos da câmara, uma sombra agachada, deslizando pela parede rochosa. Não se movendo na direção deles, mas para outro ponto qualquer. Driscoll colocou a pistola de volta no coldre, voltou-se para Tait e apontou para o babaca no chão — Algeme —, e depois ligou sua visão noturna e enquadrou a mira da M4 na sombra em movimento. Outro babaca barbudo. Seu dedo apertou levemente o gatilho, mas ele se deteve, agora curioso. A 4 metros do sujeito, ainda encostado na parede, havia um AK-47. Ele evidentemente tinha escutado a granada e sabia que a merda estava a caminho, então estaria tentando escapar?, perguntou-se Driscoll. Ainda o seguindo com a mira da M4, Driscoll o acompanhou, procurando uma saída... Ali: uma abertura de 2 metros na parede rochosa. Focou de volta e viu que o babaca tinha uma granada na mão direita. Era uma versão 40 milímetros de uma RPG-7, que os locais adoravam converter a carga para versões de lançamento manual.
Não tão rápido, cara, pensou Driscoll, e fixou a mira da M4 na orelha do homem. Ao mesmo tempo, o sujeito estendeu o braço para trás, por baixo, para atirar a granada. A bala 5,56mm de Driscoll entrou logo acima do ouvido do sujeito, atrás do olho. A cabeça estalou para trás e ele desabou, mas não antes que a granada estivesse voando, quicando na direção deles.
— Granada! — gritou Driscoll, e se atirou no chão.
Brum!
O sargento olhou para o alto e ao redor.
— Contagem!
— Ok — respondeu Tait, seguido rapidamente por Young e os demais.
A granada havia quicado na parede e rolado antes de parar, deixando uma cratera do tamanho de uma bola de areia no chão.
Driscoll tirou seu PVS-17 e sacou uma lanterna. Essa, ele ligou e focou ao redor. Aquele era o segmento de comando da caverna. Havia muitas prateleiras de livros e até mesmo um tapete no chão. A maioria dos afegãos que eles encontravam eram semianalfabetos, mas havia livros e revistas em evidência, alguns em inglês. Uma prateleira com alguns livros belamente encadernados em couro. Um em particular... couro verde, incrustações em ouro. Driscoll o folheou. Uma iluminura estampada — não por máquina e sim pela mão de algum escriba há muito morto com tinta multicolorida. Esse livro era antigo, realmente antigo. Em árabe, pelo menos era o que parecia, escrito à mão e iluminado com folhas de ouro. Devia ser uma cópia do Sagrado Corão, e não havia como saber sua idade ou valor relativo. Mas era valioso. Driscoll o guardou. Algum espião iria querer dar uma olhada. Em Cabul eles tinham um par de sauditas, oficiais militares superiores que davam apoio ao pessoal das Operações Especiais e aos espiões do Exército.
— Ok, Peterson, tudo limpo. Mande para o ar o código de chamada — disse Driscoll via rádio para seu especialista em comunicações. — Alvo sob controle. Nove alvos abatidos para a contagem, dois prisioneiros vivos. Nenhuma baixa amiga.
— Mas nada debaixo da árvore de Natal, Papai Noel — comentou o sargento Young em voz baixa. — Droga, tinha um bom pressentimento em relação a isso quando entrávamos. Tinha a sensação certa, acho. — Mais um buraco vazio para as tropas de Operações Especiais. Eles andavam furando muitos buracos desse tipo, mas isso fazia parte da natureza das Operações Especiais.
— Eu também. Qual o seu nome, babaca? — perguntou Driscoll ao prisioneiro de Tait. A granada de luz realmente havia derrubado o giroscópio do filho da mãe. Ele ainda nem compreendia que podia ter sido pior. Uma merda muito pior. Mas, também, quando os interrogadores começassem a cuidar dele...
— Muito bem, pessoal, vamos fazer uma limpeza nesse buraco. Procurem por um computador e qualquer coisa eletrônica. Virem o lugar de cabeça para baixo e de dentro para fora. Qualquer coisa interessante, empacotem. Mandem alguém vir aqui pegar nosso amigo.
Havia um helicóptero Chinook em alerta rápido para a missão, e talvez ele estivesse a bordo dentro de uma hora. Droga, queria passar pelo clube para suboficiais de Fort Benning e beber um copo de Sam Adams, mas isso ainda ia levar pelo menos uns dois dias.
Enquanto o restante de sua equipe estabelecia um perímetro de vigilância do lado de fora da entrada da caverna, Young e Tait faziam buscas no túnel de entrada. Descobriram algum material, mapas e coisas do tipo, mas não toparam com nenhum tesouro evidente. Era assim que essas coisas funcionavam. CDFs ou não, o pessoal da inteligência conseguia fazer uma refeição completa a partir de uma noz. Um pedacinho de papel, um Corão manuscrito, algum desenho feito com lápis de cera vermelho — eles às vezes faziam milagres com essas coisas, e por essa razão Driscoll não iria desperdiçar nenhuma chance. O alvo deles não estava lá, e isso era uma maldita vergonha, mas talvez a merda que os babacas tivessem deixado poderia dar a pista para alguma outra coisa, que por sua vez resultasse em algo bom. Era assim que funcionava, apesar de Driscoll não se ocupar muito com essas coisas. Estava acima do seu salário e da sua MOS. Que dessem a ele e aos Rangers a missão, e que alguém mais se preocupasse com os comos, os o quês e os porquês.
Driscoll caminhou para o fundo da caverna, apontando a lanterna ao redor, até chegar ao aposento que o babaca havia se empenhado tanto em destruir. Era mais ou menos do tamanho de um closet, como ele percebia agora, talvez um pouco maior, com um teto baixo. Ele se acocorou e entrou bamboleando alguns metros dentro do aposento.
— O que você achou? — perguntou Tait, entrando atrás dele.
— Um caixão de areia e um engradado de madeira com munição.
Uma placa de compensado de 2 centímetros de espessura, quadrada, com mais ou menos 2 metros de largura, coberta com modelos colados em areia e papel machê de montanhas e espinhaços, com edifícios quadrados espalhados aqui e ali. Parecia uma coisa dessas que se viam nos velhos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial ou num diorama desses de colégio. Trabalho bem-feito também, nada dessas coisas improvisadas que às vezes se encontra com esses sujeitos. Na maioria das vezes, os babacas dali rabiscavam um mapa no chão, rezavam alguma coisa e saíam para a ação.
O terreno não era familiar a Driscoll. Podia ser qualquer lugar, mas com certeza parecia ser uma área acidentada o suficiente para estar por ali mesmo, o que não estreitava muito as possibilidades. Também nada de pontos de referência. Nada de edifícios ou estradas. Driscoll levantou a ponta do caixão. Era bastante pesada, talvez uns 40 quilos, o que resolvia um de seus problemas: não havia como levar aquilo montanha abaixo. Era uma maldita de uma descida tortuosa; naquela altitude o vento era impiedoso e eles ou perderiam a coisa numa rajada ou ela começaria a adejar e poderia derrubá-los. E separá-la em pedaços poderia arruinar algo valioso.
— Ok, tire as medidas e pegue algumas amostras, depois veja se Smith já terminou de tirar as fotos do rosto dos babacas e fotografa esse troço em detalhe — comandou Driscoll. — Quantos cartões SD nós trouxemos?
— Seis. Cada um com 6 giga. É o bastante.
— Ótimo. Diversas fotos de tudo, na maior resolução possível. Traga alguma iluminação extra para cá e deixe alguma coisa do lado para mostrar a escala.
— Reno tem uma trena.
— Ótimo. Use. Muitos ângulos e closes, quanto mais, melhor. — Essa era a beleza das câmaras digitais. Tire quantas fotos quiser e apague as que ficarem ruins. Neste caso, deixariam a tarefa de apagar para o pessoal da inteligência. — E verifique cada centímetro para ver se há marcas.
Nunca se sabia o que era importante. Muito dependeria da escala do modelo, suspeitou. Se estivesse em escala, poderiam colocar as medidas num computador, fazer alguma álgebra, algoritmos ou seja lá o que for e sair com uma equivalência em algum lugar. Quem sabe, talvez aquele troço em papel machê resultasse ser algo especial ou alguma coisa feita apenas num beco qualquer em Kandahar. Merdas ainda mais estranhas já aconteceram, e ele não daria nenhum motivo para o pessoal de cima encher o seu saco. Já estariam bastante chateados pelo inimigo não estar ali, mas isso não era culpa de Driscoll. Inteligência pré-missão, boa ou ruim ou vice-versa estava além do controle de um soldado. Ainda assim, valia o velho ditado militar: “A merda escorre para baixo.” Era mais verdadeiro do que nunca, e nesse negócio sempre havia alguém morro acima pronto para dar um empurrão no balde de merda.
— Pode deixar comigo, chefe — disse Tait.
— Solte uma granada de fragmentação quando terminar. Melhor terminar o serviço que eles deveriam ter feito.
Tait saiu trotando.
Driscoll voltou a atenção para o engradado de munição, pegando-o e levando para a entrada do túnel. Lá dentro havia um maço de papéis de quase 10 centímetros de altura — algumas folhas de bloco pautadas, cobertas com escritos em árabe, alguns números ao acaso e rabiscos —, e um grande mapa duplo dobrado. Um lado estava intitulado: “Carta de folha de navegação operacional, G-6, Agência de Mapeamento de Defesa, 1982”, e exibia a região da fronteira afegã-paquistanesa, enquanto a outra, colada com fita adesiva, era um mapa de Peshawar rasgado de um guia de viagem Baedeker.
4
— Cavalheiros, bem-vindos ao espaço aéreo americano — anunciou o copiloto.
Estavam perto de sobrevoar Montana, lar dos alces, céu aberto e um monte de bases de ICBM desativadas e silos vazios.
Estavam queimando combustível muito rapidamente voando baixo, mas o computador controlava tudo, e tinham uma reserva muito melhor do que a que tiveram voando sobre o Atlântico no sentido oeste algumas horas atrás — com muitos campos que podiam ser usados para aterrissar lá embaixo. O piloto ligou a tela superior, que usava câmeras de pouca luz para transformar a escuridão numa TV verde e branca monocolor. Agora, ela mostrava montanhas a oeste da sua rota. A aeronave automaticamente ganharia altitude para compensar, pois estava programada para manter uma altitude de mil pés acima do solo, e fazer isso em ângulos suaves, para manter seus ricos passageiros felizes e, esperava, transformados em fregueses habituais.
A aeronave deslizou até a altitude de 6.100 pés enquanto passavam sobre o espinhaço em forma de lagarta da Cordilheira Teton. Em algum lugar lá embaixo estava o Parque Nacional do Yellowstone. À luz do dia seria possível vê-lo, mas era uma noite sem nuvens e sem lua.
Os sistemas de sensores do radar mostravam que estavam “livres de conflito”. Não havia outra aeronave perto de sua posição ou altitude. A Base Aérea de Mountain Home estava a algumas centenas de quilômetros atrás deles, juntamente com seu complemento de pilotos de caça impetuosos.
— Pena não podermos movimentar o sensor do nariz. Poderíamos até ver os búfalos com os sensores infravermelhos — observou o piloto. — Li em algum lugar que estão voltando com força ao velho oeste.
— Juntamente com os lobos — respondeu o copiloto. A natureza restaurava seu equilíbrio, pelo menos é o que o Discovery Channel dizia. Sem bisões suficientes, os lobos morrem. Sem lobos em quantidade, os bisões entram em superprodução.
O território de Utah começava montanhoso, mas gradualmente se transformava em planícies ondulantes. Novamente manobraram para o leste a fim de evitar Salt Lake City, que tinha um aeroporto internacional e, provavelmente, um radar suficientemente poderoso para detectá-los sem transponder.
Todo aquele exercício teria sido impossível trinta anos antes. Eles teriam que cruzar a Pinetree Line, uma das predecessoras do DEW — Distant Early Warning, o sistema de detecção avançada dos Estados Unidos —, e assim alertar o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte em Cheyenne Mountain. Bem, diante das atuais tensões entre os Estados Unidos e a Rússia, talvez o DEW e a Pinetree fossem reativados.
O voo estava mais suave do que ele pensara. Voar à luz do dia, no verão, sobre o deserto, realmente poderia causar muita turbulência, devido à subida irregular de correntes térmicas. Salvo alguns faróis de automóveis, a terra abaixo poderia até ser confundida com o oceano, tão vazia e escura que era.
Trinta minutos para a chegada. Já estavam com apenas com 4 mil quilos de combustível. Os motores consumiam muito mais rápido naquela altitude, um pouco mais de 2.200 quilos em vez dos cerca de 1.500 quilos por hora, que era o padrão.
— Acordo os passageiros? — perguntou o copiloto.
— Boa ideia. — O piloto levantou o microfone. — Atenção. Aterrissagem prevista em trinta minutos. Nos avisem se tiverem alguma necessidade especial. Obrigado — acrescentou. Realmente muito obrigado pelo dinheiro e pelo interessante perfil de voo ele não acrescentou.
O piloto e o copiloto especulavam sobre quem eram os passageiros, mas não fizeram perguntas. Preservar suas identidades fazia parte do negócio, e, embora o que estavam fazendo fosse tecnicamente ilegal pelas leis americanas, eles não eram cidadãos americanos. Não estavam carregando armas, drogas ou qualquer outra coisa ilegal. De qualquer modo, nunca haviam visto o passageiro antes, e seu rosto estava envolvido em bandagens.
— Faltam 185 quilômetros, segundo o computador. Espero que a pista seja realmente comprida.
— O mapa diz que sim. Parece ter 2.600 metros. Logo saberemos.
De fato, a pista de pouso fora construída em 1943, e desde então era raramente usada, construída por um batalhão de engenharia que foi levado de caminhão para Nevada para construir uma base aérea — na verdade, um treinamento. Todas as pistas pareciam iguais, construídas a partir do mesmo manual, como um triângulo com um segmento maior que os outros dois. Eles estavam manobrando para a pista dois-sete, indicando uma aproximação no sentido oeste contra os ventos prevalecentes. Tinha até luzes de sinalização instaladas, mas o cabeamento já havia se degradado há muito, tal como o gerador a diesel do aeroporto. A região sofria muito pouco com neve e gelo para que houvesse danos ao concreto das pistas, que estava tão bom quanto no dia em que fora curado, 30 centímetros de concreto reforçado.
— Ali.
— Estou vendo.
Eram, de fato, luzes químicas de neon sendo quebradas, sacudidas e jogadas no perímetro da pista, e fulguravam com brilho no display. Em seguida, mais ainda quando luzes de caminhões foram ligadas. Um desses pares de faróis se dirigiu para o limite norte da pista, como se a delineasse para a aeronave que se aproximava. Nem o piloto nem o copiloto sabiam, mas supunham que um dos passageiros tivesse ligado antes pelo celular para despertar alguém.
— Ok, vamos fazer a aproximação — disse o piloto em comando. Puxou suavemente os manches para trás e abaixou os flapes para diminuir a velocidade do ar. Mais uma vez, o sensor de altitude anunciou sua altura acima do solo, mais baixa... mais baixa... mais baixa... então as rodas beijaram o solo. No lado oeste da pista, um caminhão piscou suas luzes, de baixa para alta e vice-versa, várias vezes, e o piloto levou a aeronave para lá.
— Chegamos ao nosso destino — disse o piloto pelo intercomunicador quando a aeronave diminuiu e parou suavemente. Tirou os fones de ouvido e se levantou para ir para a popa. Abriu a porta da esquerda e abaixou as escadas, depois se voltou para olhar os passageiros do voo fretado, a maioria dos quais já havia se levantado e caminhava nessa direção.
— Bem-vindos ao solo americano — disse.
— Foi um voo longo, mesmo assim muito bom — declarou o líder do grupo. — Obrigado. Seu pagamento já está depositado.
O piloto acenou agradecendo.
— Se precisarem novamente de nós, é só avisar.
— Sim, faremos isso. Talvez dentro de duas ou três semanas.
Nem a voz nem o rosto revelavam muito, o rosto um tanto obscurecido por bandagens. Talvez tivesse ido para lá descansar durante um período de recuperação de qualquer que tenha sido a cirurgia que fez. Acidente de carro era o palpite do piloto. Pelo menos era um clima saudável.
— Acredito que tenham notado o caminhão de abastecimento. Isso irá assegurar a vocês que o tanque seja completamente cheio. Quando partem para o Havaí?
— Assim que formos abastecidos — respondeu o piloto. Quatro, cinco horas. Piloto automático na maior parte do tempo, depois de deixarem para trás a costa da Califórnia.
Outro passageiro avançou, e depois se voltou para a popa.
— Um momento — disse, entrando no lavatório e fechando a porta atrás de si. Havia outra porta no fundo do recinto. Dava para o compartimento de bagagem. Ali, ele deixou uma bolsa de lona. Abriu o zíper para ver o interior. Dentro, ativou um timer eletrônico. Considerou que duas horas e meia seriam mais que o suficiente, depois fechou novamente o zíper e foi para a frente. — Me desculpe — disse ele, avançando e saindo pela porta à esquerda, descendo a escada. — E muito obrigado.
— O prazer foi meu, senhor — falou o piloto. — Desfrutem a estada.
O copiloto já havia descido e estava supervisionando a operação de reabastecimento. O último passageiro seguiu seu chefe até a limusine que esperava no concreto, entrou, e o carro foi embora. O reabastecimento levou cinco minutos. O piloto se perguntou como é que eles conseguiam o que parecia ser um caminhão de abastecimento oficial, mas este saiu logo depois, e a tripulação voltou para a cabine e começou os procedimentos de decolagem.
Depois de um total de 33 minutos no solo, o Falcon taxiou até o extremo leste da pista. A tripulação avançou os manches até a posição de decolagem e disparou para subir aos céus pela terceira vez no que já era um longo dia, seguindo para oeste. Cinquenta minutos mais tarde, e 1.800 quilos de combustível mais leves, eles ultrapassaram a costa da Califórnia um pouco acima de Ventura e passaram a estar “de pés molhados” sobre o oceano Pacífico, cruzando à velocidade Mach 0,83 e em uma altitude de 41 mil pés. O transponder primário foi ligado, o que transmitia a informação sobre o registro “oficial” da aeronave. O fato de ter simplesmente aparecido na tela do radar principal do Centro de Controle Aéreo de São Francisco não foi motivo de preocupação para ninguém, afinal os planos de voo não eram nem computadorizados nem realmente organizados de forma sistemática. Enquanto a aeronave não fizesse nada contrário às regras, não atraía atenção. Seguia em direção a Honolulu, a 3.700 quilômetros de distância, com um tempo de voo estimado em quatro horas e 54 minutos. A caminho de casa.
Piloto e copiloto relaxaram, a aeronave em piloto automático e todos os indicadores dentro das normas. O piloto acendeu mais um cigarro enquanto deixava a costa dos Estados Unidos a uma velocidade de 820 quilômetros por hora sobre o solo.
Ele não sabia que no compartimento de bagagem da popa havia uma bomba feita com 4 quilos de explosivos plásticos PETN e RDX — vulgarmente referido como Semtex — armados com um timer eletrônico. Eles permitiram que os passageiros e seu comitê de recepção cuidassem da bagagem como quisessem. Assim que a aeronave passou o ponto dos mil quilômetros da costa da Califórnia, o timer zerou.
A explosão foi imediata e catastrófica. Destruiu a cauda e os dois motores da aeronave. Os principais dutos de combustível, que corriam logo abaixo da fuselagem, ficaram expostos ao vento e criaram uma cauda de fogo parecida com a de um meteoro. Poderiam ter sido vistas por qualquer aeronave que estivesse voando atrás do Falcon, mas não havia nenhuma naquela hora da madrugada, e as gotas gêmeas de chama amarela piscaram e apagaram em poucos segundos.
Na proa, piloto e copiloto não poderiam saber o que havia acontecido, apenas um ruído súbito, um painel aceso com todas as luzes de emergência e alarmes, e uma aeronave que não respondia aos controles. Aviadores são treinados para lidar com emergências. E levou apenas quatro ou cinco segundos para perceberem que estavam condenados. Sem o estabilizador de cauda, o Dassault não podia ser controlado; a física era inexorável. A nave começou a entrar em espiral em direção ao oceano negro. Os dois aviadores tentaram manejar os controles, com esperança apesar do desespero. Toda uma vida de treinamento e horas infindáveis em simuladores de voo computadorizados tinham incrustado neles o que fazer quando uma aeronave não respondia aos comandos. Tentaram tudo que sabiam, mas o nariz não subia. Não tiveram tempo de notar que as tentativas de ajustar a força dos motores não adiantavam nada. Presos em seus assentos pelos cintos de segurança de quatro pontos, não podiam olhar para trás, para a cabine de passageiros, e logo ambos estavam anóxicos com a perda de pressão na cabine que escancarara a porta da popa. As mentes não tiveram a chance de perceber o que acontecia.
No final, tudo durou menos de um minuto. O nariz subiu e desceu. Girou à esquerda e à direita, por conta própria e à mercê das correntes de ar até que se esmigalhou no mar à velocidade de 240 nós, instantaneamente fatal. A essa hora, seus passageiros chegavam ao destino final, e sequer pensavam neles.
5
Como se fosse um sinal de Alá, indicando que seu caminho era o justo e verdadeiro, Dirar al-Kariim escutou o Adhan, a chamada para a prece, ecoando sobre os telhados de Trípoli e descendo até onde ele estava sentado no café, tomando chá. O momento não foi coincidência, ele sabia. Estivera tão focado passando e repassando mentalmente a operação que se esqueceu de ver o sol mergulhando no horizonte. Não importava. Certamente Alá perdoaria a distração — especialmente se tivesse sucesso em sua tarefa —, que também era sua para o bem ou para o mal, não era? O fato de seus superiores terem falhado em perceber o valor da missão era um desperdício infeliz, mas Dirar não estava preocupado. Iniciativa, pelo menos enquanto estivesse seguindo a vontade de Alá e as leis do islã, era uma bênção, e certamente seus superiores reconheceriam isso quando ele completasse a missão. Se estaria ou não vivo para receber os elogios, era uma questão para Alá decidir, mas sua recompensa estava assegurada, nesta vida ou na próxima. Dirar se confortou com o pensamento e o usou para acalmar a agitação no estômago.
Até bem recentemente, seu papel no jihad fora principalmente como apoio, proporcionando transporte e informação, oferecendo seu lar para seus camaradas soldados, e ocasionalmente ajudando no reconhecimento e recolhimento de inteligência. Havia manipulado armas, é claro, mas, para sua grande vergonha, jamais empunhara uma contra o inimigo. Isso logo mudaria — antes do próximo amanhecer, na verdade. Ainda assim, como lhe ensinaram no campo de treinamento em Fuqha, a proficiência em armas e no uso delas era apenas uma pequena parte da operação. Ao menos nisso os militares americanos estavam certos. A maioria dos combates é vencida ou perdida antes mesmo de os soldados chegarem ao campo de batalha. Planeje, replaneje, depois verifique seus planos pela terceira vez. Os erros nascem da má preparação.
O alvo de sua escolha havia se provado inexequível, não apenas pelo limitado número de soldados que tinha sob comando, como também pela localização. O hotel era um dos mais novos de Trípoli, com tantas saídas, andares e pontos de entrada desconhecidos que seriam necessárias pelo menos duas dúzias de homens apenas para ocupá-lo, e isso sem nem mesmo levar em conta a força de segurança local, todos ex-soldados e policiais armados com equipamentos avançados e respaldados por um sistema de vigilância ímpar. Com tempo e recursos suficientes, Dirar tinha confiança de que poderia obter êxito numa missão dessas, mas nenhum dos dois estava à sua disposição. Ainda não, pelo menos. Da próxima vez, talvez.
Em vez do alvo principal, escolheu um secundário, um que já havia sido proposto por outra célula — o grupo de Benghazi, suspeitava Dirar —, mas que tinha sido subsequentemente rejeitado pela liderança. Nenhuma razão fora dada, nem uma alternativa sugerida, e, como muitos de seus compatriotas, Dirar estava cansado de esperar enquanto o Ocidente continuava impávido em sua cruzada. Não foi surpresa encontrar outros membros da célula que compartilhavam desse sentimento, apesar de o recrutamento ter sido feito meio ao acaso, com Dirar nunca sabendo se seus planos tinham chegado a ouvidos hostis, tanto dentro quanto fora da organização. No decorrer do ano anterior, a Haiat amn al Jamahiriyyah de Kadafi conseguira infiltrar com sucesso certo número de células, uma das quais era dirigida por um amigo de infância de Dirar. Aqueles nove homens, bons soldados e fiéis verdadeiros, haviam desaparecido no quartel de Bab al-Azizia e dali jamais saíram — pelo menos, não vivos.
O alvo secundário certamente era coadjuvante, e apenas perifericamente responsável pelo ato pelo qual logo seria punido, porém, se obtivesse sucesso, Dirar confiava que a mensagem seria clara: os soldados de Alá tinham a memória longa e facas ainda mais. Mate um dos nossos e mataremos cem de vocês. Ele duvidava que chegasse a matar cem ali, mas isso não importava.
Juntamente com vários dos fregueses do café, Dirar levantou e foi até uma prateleira na parede do estabelecimento e de lá retirou uma sajada enrolada. Como era requisito, o tapete de oração estava limpo e sem detritos. Voltou à mesa e o desenrolou no pátio de tijolos, cuidando para que a ponta estivesse na direção da Qibla, Meca, depois ficou de pé, ereto, mãos nos lados do corpo, e começou a salah, iniciando com uma iqama sussurrada, o chamado particular para a oração. Imediatamente, sentiu uma onda de paz lavar sua mente enquanto prosseguia pelos sete passos da salah, terminando com a salawah.
Ó Alá, bendito seja Maomé
e seu povo;
Certamente sois o Glorioso.
Ó Alá, derramai a graça divina sobre Maomé
e sobre o povo de Maomé;
Tal como fostes misericordioso com Abraão
e o povo de Abraão.
Pois certamente sois o Eterno, o Glorioso...
Dirar terminou com um olhar de relance sobre cada ombro — reconhecendo a presença dos anjos que registravam as boas ações de cada fiel, assim como seus malfeitos —, e depois colocou as mãos unidas sobre o peito e em seguida limpou o rosto com as palmas.
Abriu os olhos e respirou fundo. Em Sua sabedoria, Alá considerou necessário que os fiéis cumprissem a salah pelo menos cinco vezes ao dia, antes da alvorada, ao meio-dia, no meio da tarde, ao pôr do sol e à noite. Tal como a maioria dos muçulmanos, Dirar considerava que os frequentes rituais eram tanto um momento de se recentralizar quanto um tributo ao poder e à graça de Alá. Jamais falava desses sentimentos com os outros, com receio de que fosse uma blasfêmia, mas no fundo do coração duvidava que Alá o condenasse por isso.
Verificou o relógio. Hora de ir.
A única questão que restava agora era se estaria vivo para cumprir a última salah do dia. Isso agora estava nas mãos de Alá.
Apesar de Driscoll não considerar montanhismo sua caminhada pelo Hindu Kush por si só, era o suficiente para que ele se lembrasse de um velho ditado do Everest: alcance o cume e você só terá subido até a metade da montanha. Tradução: muitas vezes, descer em segurança é a parte realmente difícil. E, para ele e sua equipe, aquilo era especialmente verdadeiro: montanhistas geralmente seguem a mesma rota na subida e na descida. Ele e seus Rangers não podiam fazer isso, a menos que se arriscassem a uma emboscada. Para complicar as coisas, estavam carregando consigo dois prisioneiros, que até então estavam sendo cooperativos, mas isso podia mudar rapidamente.
Driscoll alcançou um ponto plano na trilha entre um par de matacões e parou, levantando o punho ao mesmo tempo. Atrás dele, o resto da equipe parou quase em uníssono e se acocorou. Estavam a uns 150 metros acima do fundo do vale. Mais uns quarenta minutos, segundo a estimativa de Driscoll, e depois mais 2 quilômetros pelo fundo do vale e chegariam à zona de aterrissagem. Verificou o relógio: a caminhada seguia em um bom ritmo.
Tait deslizou pelo lado da coluna e ofereceu a Driscoll um pedaço de carne-seca defumada.
— Os prisioneiros estão começando a arrastar um pouco a bunda.
— A vida é uma merda.
— E aí você morre — respondeu Tait.
Lidar com prisioneiros sempre era arriscado, ainda mais em um terreno como este. Se algum deles torcesse o tornozelo ou simplesmente decidisse sentar e se recusar a caminhar, você tinha três escolhas: deixá-lo para trás, arrastá-lo ou dar um tiro no sujeito. O truque era convencer os prisioneiros de que apenas um destino — o último — os esperava. O que provavelmente era verdade de qualquer maneira, pensou Driscoll. De jeito nenhum ele colocaria dois babacas de volta em circulação.
Driscoll disse:
— Cinco minutos e voltamos a nos mover. Avise aos demais.
O terreno coalhado de matacões lentamente se nivelava e dava lugar a rochas do tamanho de barris e cascalho. A 100 metros do fundo do vale, Driscoll decidiu parar novamente e verificou o caminho à frente com os óculos de visão noturna. Seguiu o caminho ziguezagueante da trilha até o fundo, pausando em cada esconderijo em potencial até ter certeza de que nada se movia. O vale tinha 200 metros de largura e era bordejado por paredes de pura rocha. Lugar perfeito para uma emboscada, pensou Driscoll, porém, considerando tudo, a geografia do Hindu Kush fazia disso mais a regra do que a exceção, uma lição retransmitida há milênios, começando por Alexandre, o Grande, depois pelos soviéticos e, neste momento, pelos militares americanos. Driscoll e seu capitão, agora com a perna quebrada, planejaram essa missão de frente para trás e de trás para a frente, mas não acharam alternativas, pelo menos não numa área de 10 quilômetros, uma volta que colocaria a retirada deles sob a luz do dia.
Driscoll se voltou e contou rapidamente as cabeças: os 15 e mais dois. Sair com o mesmo número com que entrou já era uma vitória em si. Assinalou para Tait — em movimento —, que passou a mensagem para trás da fila. Driscoll se levantou e começou a descer a trilha. Dez minutos depois estavam a um passo do fundo do vale. Parou para verificar se alguém estava se amontoando, depois começou novamente a andar e parou.
Havia alguma coisa errada...
Driscoll só levou um instante para descobrir a fonte: um de seus prisioneiros, o que estava na posição número quatro com Peterson, já não parecia tão cansado. Sua postura era rígida, a cabeça balançando de um lado para o outro. Um sujeito preocupado. Por quê? Driscoll realizou outra parada, fez a coluna se acocorar. Pouco depois, Tait estava ao seu lado.
— O que houve?
— O babaca que está com o Peterson está nervoso com alguma coisa.
Driscoll inspecionou o terreno adiante com a visão noturna, mas não notou nada. O fundo do vale, plano e sem detritos, salvo o matacão ocasional, parecia vazio. Nada se movimentava e não havia ruído algum, salvo o leve assovio do vento. Ainda assim, sua intuição dizia alguma coisa.
Tait perguntou:
— Viu algo?
— Nada, mas alguma coisa deixou o cara de bosta animado. — Então, prosseguiu: — Pegue Collins, Smith e Gomez, recue uns 30 metros e tome outro caminho pela colina. Diga ao Peterson e ao Flaherty para colocarem seus prisioneiros de cara no chão e cuidarem para que fiquem em silêncio.
— Entendido.
Tait desapareceu na trilha, parando para dar instruções a cada homem. Através da visão noturna, Driscoll observou seu progresso enquanto ele e os outros três deslizavam como cobras de volta pelo declive, depois saíam da trilha, movimentando-se de matacão em matacão paralelamente ao vale.
Zimmer havia se movimentado pela fila até a posição de Driscoll.
— A vozinha falou com você, Papai Noel? — perguntou.
— Sim.
Passaram-se 15 minutos. Sob o brilho fosco dos óculos, Driscoll viu Tait parar subitamente. Pelo rádio:
— Chefe, temos um espaço aberto adiante: um chanfro na rocha. Posso ver a ponta de uma tenda.
O que explica o nervosismo do babaca, pensou Driscoll. Ele sabe que o acampamento está ali.
— Sinais de vida?
— Vozes abafadas. Cinco, talvez seis.
— Entendido, mantenha a pos...
À direita, 50 metros acima do vale, apareceu um par de faróis. Driscoll se voltou para ver um jipe UAZ-469 derrapar pela quina e vir na direção deles. Restos da invasão soviética ao Afeganistão, os UAZ eram favoritos entre os inimigos curtidos do local. Aquele ali não tinha capota e era equipado com outra peça do equipamento do Exército soviético, uma metralhadora pesada NSV calibre 12,7 milímetros. Treze disparos por segundo, alcance de 1.500 metros, pensou Driscoll. No instante em que reconhecia a coisa, sua boca começou a disparar. Balas penetravam nas rochas e no solo, lançando cacos e nuvens de poeira. Mais abaixo no vale, por cima do penhasco oposto a Tait e aos demais, outras bocas começaram a atirar. O prisioneiro de Peterson começou a gritar em árabe, coisa que Driscoll não entendia patavina, mas cujo sentido era indisfarçável: encorajamento a seus compatriotas. Peterson bateu com o cabo da M4 atrás da orelha do sujeito, que ficou imóvel.
A equipe de Tait abriu fogo, suas M4 estourando e ecoando pelo vale. O restante dos homens de Driscoll achou uma cobertura e iluminou o UAZ, que derrapou e parou a uns 20 metros de distância, os faróis apontados para os Rangers.
— Tait, jogue umas granadas nessas tendas! — ordenou Driscoll, e depois mergulhou para a esquerda e disparou duas rajadas curtas no UAZ.
— É para já! — respondeu Tait.
Mais acima na trilha, Barnes achou um nicho entre algumas rochas e colocou sua M249 SAW no tripé. A boca começou a cuspir fogo. Com o para-brisas despedaçado, o UAZ começou a recuar, a 12,7 milímetros ainda despejando balas na direção da colina. Vindo de onde Tait estava posicionado, Driscoll escutou o estampido de uma granada, depois outra, ainda mais duas em rápida sucessão. Agora se ouviam mais vozes em árabe. Gritos. Driscoll levou meio segundo para perceber que os gritos vinham de trás. Virou-se, a M4 no ombro. A 15 metros de distância, na trilha, o prisioneiro de Gomez estava de pé, de frente para o UAZ e gritando. Driscoll entendeu uns pedaços — Atire em mim... atire em mim... — e então a cabeça do sujeito explodiu e ele caiu para trás.
— Barnes, faça essa coisa parar! — gritou Driscoll.
Em resposta, os tracejadores da SAW baixaram da cabine e capota do UAZ para a grade do radiador, que começou a soltar faíscas. As balas batiam no bloco do motor, seguidas pouco depois por um gêiser de vapor. A porta do motorista se abriu e uma figura tropeçou para fora. A SAW o cortou ao meio. Na plataforma do jipe, a NSV silenciou, e Driscoll percebeu uma figura descendo. Recarregando, o sargento se voltou e assinalou a Peterson e Deacons — granadas —, mas os dois já estavam de pé, armas engatilhadas. A primeira granada foi longe demais e explodiu sem provocar danos atrás do UAZ, mas a segunda caiu bem ao lado do pneu traseiro do jipe. A explosão levantou a traseira do veículo alguns centímetros do chão. O artilheiro na plataforma caiu para o lado e ficou imóvel.
Driscoll se virou, esquadrinhou o penhasco mais distante com o PVS-17. Contou seis babacas, todos deitados e cuspindo fogo na posição de Tait.
— Fogo nesses merdas! — ordenou, e 11 armas começaram a regar o penhasco. Trinta segundos foram o suficiente. — Cessar fogo, cessar fogo! — ordenou Driscoll. O tiroteio parou. Ele falou pelo rádio: — Tait, conte as cabeças.
— Ainda tenho todas as quatro. Pegamos algumas lascas de rochas, mas estamos bem.
— Verifique as tendas. Limpe tudo.
— Entendido.
Driscoll começou a subir pela trilha, verificando cada homem por vez e só descobrindo alguns arranhões e cortes feitos por rochas fragmentadas.
— Barnes, você e Deacons verifiquem o...
— Papai Noel, você está...
— O quê?
— Seu ombro. Sente, Sam, sente! Médico aqui!
Agora Driscoll sentia o entorpecimento, como se seu braço direito tivesse adormecido do ombro para baixo. Deixou que Barnes o fizesse sentar na trilha. Collins, o segundo médico da equipe, veio correndo. Ajoelhou-se, e ele e Barnes tiraram a mochila, primeiro do ombro direito, depois do esquerdo. Collins acendeu a lanterna do capacete e examinou o ombro de Driscoll.
— Você tem um estilhaço de pedra aí, Papai Noel. Assim do tamanho do meu polegar.
— Que merda. Barnes, você e Deacons vão verificar aquele jipe.
— Saquei, chefe.
Os dois saíram trotando pela trilha até o veículo.
— Dois mortos — avisou Deacons.
— Reviste, veja se acha documentos — disse Driscoll apertando os dentes. O entorpecimento dava lugar a uma dor incandescente.
— Você está sangrando muito — falou Collins. Tirou uma bandagem de campo da mochila e a pressionou contra o ferimento.
— Enrole isso o melhor que puder.
Tait, no rádio:
— Papai Noel, temos quatro mortos em combate e dois feridos, estou mandando para aí.
— Entendido. Verificação e busca de inteligência. Depois volte para cá.
Collins disse:
— Vou pedir uma evacu...
— Porra nenhuma. Dentro de 15 minutos vamos estar nos afogando em babacas. Vamos sair daqui. Me levante.
6
Clark sabia que seria um dia triste. Suas malas já estavam arrumadas — Sandy cuidava disso, eficiente como sempre. Seria a mesma coisa na casa de Ding — Patsy aprendera isso com a mãe. Rainbow 6 estava sendo entregue à segunda geração, boa parte da equipe original já havia partido, removida de volta para os Estados Unidos no caso dos americanos, principalmente para o Fort Bragg e a Delta School ou para Coronado, na Califórnia, onde a Marinha treinava os candidatos ao SEAL. Lá contavam as histórias permitidas pelas normas com cerveja em volta para alguns poucos instrutores de confiança. Quantas vezes foram até Hereford, em Gales, para beber pints de John Courage no confortável bar Green Dragon e trocar histórias de guerra, de modo mais livre, com seus colegas graduados dos Homens de Preto. Os locais sabiam quem eles eram, mas eram tão conscientes da segurança quanto os agentes do Serviço de Segurança — chamados de homens do “Cinco”, em homenagem ao antigo MI5 britânico —, que também apareciam por lá.
Nada era permanente no serviço, independentemente do país. Isso era saudável para as organizações, sempre trazendo novas pessoas, algumas delas com novas ideias, e também provocava reuniões calorosas nos lugares mais improváveis — muitas em terminais de aeroportos por todo esse mundo assustador —, e muitas cervejas bebidas e apertos de mão trocados antes de serem chamados para os voos de partida. Mas a instabilidade e a incerteza se tornavam desgastantes com o tempo. Você começa a se perguntar quando um amigo próximo e colega seria enviado para longe, para desaparecer em algum outro compartimento do mundo “preto”, sempre rememorado, mas raramente visto novamente. Clark já vira muitos amigos morrerem em “missões de treinamento” — o que geralmente significava levar um tiro em uma área proibida. Mas isso tudo era o preço por pertencer a essa fraternidade exclusiva, e não havia como mudar isso. Como os SEAL gostavam de dizer: “Não é preciso gostar da coisa, só tem que fazê-la.”
Eddie Price, por exemplo, tinha se aposentado como sargento-mor regimental do 22º Regimento do Serviço Aéreo Especial, o SAS, e agora era Yeoman Gaoler no Palácio Real de Sua Majestade, a Torre de Londres. John e Ding se perguntaram se a chefe de Estado do Reino Unido compreendia o quão mais seguro seu Palácio e fortaleza estava agora, e se o machado cerimonial de Price (o Yeoman Gaoler é o carrasco oficial) estava adequadamente amolado. Afinal, podiam ter a certeza de que ele ainda fazia sua corrida matinal e seus exercícios de educação física, e infeliz aquele membro da força de segurança do Exército regular que não estivesse com as botas brilhando, perfeitamente uniformizado e com o rifle mais limpo do que quando saiu da fábrica.
É uma puta vergonha ter que envelhecer, John Clark disse a si mesmo, já o suficientemente perto dos 60 para ver a sombra disso tudo, e a pior parte de envelhecer é se lembrar de como era ser jovem, mesmo das coisas que seria melhor esquecer no seu caso. As lembranças eram uma faca de dois gumes.
— Olá, Sr. C. — disse uma voz familiar na porta da frente. — Uma merda o dia de ir embora, não é?
— Ding, já conversamos sobre isso — disse John sem se voltar.
— Desculpe... John.
John Clark levou anos para fazer com que Chavez, colega e genro, o chamasse pelo primeiro nome, e até agora Ding tinha problemas com isso.
— Pronto para caso alguém tente sequestrar o avião?
— O Sr. Beretta está no lugar de sempre — respondeu Ding. Eles estavam entre o punhado de pessoas na Inglaterra que podia portar armas de fogo, e tal privilégio não era deixado de lado à toa.
— E como estão Johnny e Patsy?
— O garotinho está empolgado por voltar para casa. Temos algum plano para quando chegarmos lá?
— Na verdade, não. Amanhã de manhã fazemos uma visita de cortesia a Langley. Talvez eu vá visitar Jack dentro de um ou dois dias.
— Para ver se ele anda deixando pegadas no teto? — perguntou Ding com um muxoxo.
— O mais provável é que sejam marcas de garras, se bem conheço Jack.
— A aposentadoria não é divertida, acho. — Chavez não avançou mais no assunto. Era um tema melindroso para seu sogro. O tempo passa, não importa o quanto você deseje que isso não aconteça.
— Como Price está levando a coisa?
— Eddie? Ele aguenta o tranco com disposição, não é assim que vocês marinheiros dizem?
— Chegou perto para um milico.
— Ei, cara, eu disse “marinheiro”, não “grumete”.
— Devidamente anotado, Domingo. Desculpe, coronel.
Chavez desfrutou da risada.
— Sim, vou sentir falta disso — comentou.
— Como está Patsy?
— Melhor que na gravidez passada. Está ótima. Se sente bem... pelo menos é o que diz. Patsy não vive se queixando. É uma ótima garota, John... Mas, o que posso dizer que você já não saiba, não é?
— Nada, mas é sempre bom ouvir isso.
— Bem, não tenho queixas. — E, se tivesse, teria que abordar o assunto com muita diplomacia. Mas não tinha. — O helicóptero está esperando, chefe.
— Droga. — Um sussurro entristecido.
O sargento Ivor Rogers já estava com a bagagem no caminhão verde do Exército britânico que os levaria até o heliporto, e esperava ali fora pelo seu brigadeiro pessoal, que era o posto virtual de John. Os ingleses eram muito conscientes sobre questões de posto e cerimônias, e viu que teria mais disso lá fora. Esperava partir discretamente, mas os locais não pensavam assim. Enquanto dirigiam até o heliporto, lá estava toda a força Rainbow, os atiradores, o apoio de inteligência, até mesmo a equipe de armeiros — a Rainbow tinha os melhores armeiros de toda a Inglaterra —, em formação — o termo local era “em parada” — com seja lá qual fosse o uniforme que tiveram autorização para usar. Existia até um esquadrão do SAS. Rostos impávidos, coletivamente fizeram a apresentação de armas, no elegante movimento em três fases que o Exército britânico adotava havia vários séculos. A tradição podia ser algo bonito.
— Droga — murmurou Clark, descendo do caminhão. Havia avançado muito para um velho suboficial de serviço da Marinha, mas também dera uma série de passos incomuns pelo caminho. Sem saber exatamente o que fazer, percebeu que tinha que passar as tropas em revista, e apertar as mãos de todos enquanto caminhava até o helicóptero MH-60K.
Levou mais tempo do que esperava. Quase todas as pessoas presentes receberam algumas palavras especiais junto com o aperto de mão. E todos mereciam. Sua mente voltou aos seus tempos de terceiro-sargento da guarda, uma vida anterior inteira. Estes eram tão bons quanto aqueles, mesmo que fosse difícil acreditar nisso. Ele também fora jovem, orgulhoso, e também se achara imortal. E o mais notável era não ter morrido por se considerar assim como acontecera com tantos bons homens. Por quê? Sorte, talvez. Não havia outra explicação razoável. Ele aprendeu a ser cuidadoso, principalmente no Vietnã. Aprendeu vendo morrer homens que não tiveram tanta sorte e que simplesmente cometeram algum erro idiota, às vezes simplesmente por não prestar atenção. Alguns riscos você tem que correr, mas tenta repassá-los mentalmente para aceitar apenas os riscos necessários. E esses já eram suficientemente ruins.
Tanto Alice Foorgate quanto Helen Montgomery o abraçaram. Tinham sido secretárias fantásticas, o que era difícil de achar. Clark até ficou meio tentado a achar emprego para as duas nos Estados Unidos, mas os ingleses as valorizavam tanto quanto ele e isso teria provocado uma briga.
E finalmente Alistair Stanley, o chefe que começava, estava de pé no final da fila.
— Vou tomar conta deles, John — prometeu. Os dois apertaram as mãos. Não havia muito mais a dizer. — Nenhuma novidade ainda sobre seu próximo posto?
— Espero que me digam antes da chegada do próximo pagamento. — O governo funcionava bem para fazer esse tipo de papelada andar. Não fazia muito mais que isso, claro, mas, quanto à papelada, sim.
Com nada mais a ser dito, Clark caminhou até o helicóptero. Ding, Patsy e J. C. já estavam com os cintos presos, juntamente com Sandy. J. C. especialmente adorava voar, e iria se empanturrar disso nas próximas dez horas. Levantaram voo e seguiram para sudoeste em direção ao terminal quatro de Heathrow. Aterrissando no heliporto próprio, uma van já os esperava para levar direto ao avião, de modo que não tiveram que passar pela fiscalização eletrônica. Era um 777 da British Airways. O mesmo tipo de avião no qual voaram quatro anos antes, com os terroristas bascos a bordo. Estes estavam na Espanha, mas eles jamais perguntaram em que prisão e em que condições. Provavelmente nada parecido com o hotel Waldorf Astoria.
— Estamos desempregados, John? — perguntou Ding enquanto a aeronave taxiava pela pista de Heathrow.
— Provavelmente, não. Mesmo que estejamos, eles não chamam disso. Podem fazer de você um oficial de treinamento na Fazenda. Eu...? Bem, podem me manter na folha de pagamentos por mais um ou dois anos, e talvez eu pilote uma mesa no centro de operações até que eles peçam de volta meu tíquete de estacionamento. Somos experientes demais para sermos despedidos. Não vale a papelada. E eles podem ter medo que falemos com o repórter errado.
— É, você ainda deve um almoço ao Bob Holtzman, não é?
John quase derramou o champanhe de antes da decolagem com essa lembrança.
— Bem, dei minha palavra a ele, não foi?
Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, depois Ding disse:
— Então, faremos uma visita de cortesia ao Jack?
— Acho que temos que fazer isso, Domingo.
— Concordo. Diabo, Jack Jr. já saiu do colégio, não é?
— É. Não sei o que ele anda fazendo.
— Aposto que algum emprego de filhinho de papai. Ações, títulos, alguma merda envolvendo dinheiro, aposto.
— Bem, o que você fazia na idade dele?
— Aprendia com você como deixar mensagens clandestinas, na Fazenda, e estudava à noite na Universidade George Mason. Dormindo acordado, quase sempre.
— Mas fez mestrado, se bem me lembro. Muito mais do que eu consegui.
— É. Tenho um pedaço de papel que diz que eu sou esperto. E você deixou cadáveres espalhados pelo mundo todo. — Felizmente, era virtualmente impossível grampear uma cabine de avião.
— Chamo de trabalho de laboratório em política externa — sugeriu Clark, dando uma olhada no menu da primeira classe. Pelo menos a British Airways fingia servir uma comida decente, embora simplesmente não compreendesse por que as companhias aéreas não faziam estoques de Big Macs e batatas fritas. Ou talvez pizzas da Domino’s. Toda a grana que economizariam, apesar de o McDonald’s na Inglaterra não usar o tipo certo de carne. Na Itália era ainda pior. Mas o prato nacional deles era vitela à milanesa, e isso era melhor que um Big Mac. — Você está preocupado?
— Sobre o emprego? Não mesmo. Posso sempre ganhar bastante dinheiro fazendo consultoria. Sabe, nós dois podemos organizar uma companhia, segurança para executivos ou coisa assim, e realmente fazer a limpa. Eu realizaria o planejamento, e você, a proteção. Sabe, simplesmente ficar lá olhando para os caras daquele jeito especial de “não foda comigo” que você sabe fazer.
— Estou velho demais para isso, Domingo.
— Ninguém é bobo de chutar o rabo de um leão velho, John. De qualquer maneira, sou baixo demais para assustar bandidos.
— Porra nenhuma. Eu não encheria seu saco nem brincando.
Chavez raramente recebia esse tipo de elogio. Era muito sensível sobre sua pequena estatura — sua esposa era 3 centímetros mais alta —, mas isso tinha um valor tático. No decorrer dos anos, muitas pessoas o subestimaram e ficaram ao seu alcance. Não os profissionais. Esses podiam ler nos seus olhos e perceber o perigo que havia atrás deles. Isso quando ele se importava em acender as luzes de aviso. Raramente as coisas chegavam a esse ponto, apesar de um valentão de rua da zona leste de Londres uma vez ter sido mal-educado na frente de um pub. Acordou mais tarde com um pint de cerveja na cara e uma carta de baralho enfiada no bolso. Era a rainha de paus, mas a parte de trás dela era de um negro brilhante. Esses acontecimentos eram raros. A Inglaterra continuava sendo um país civilizado na maior parte do tempo, e Chavez nunca saía atrás de confusão. O baralho negro era uma lembrança não autorizada dos Homens de Preto. Os jornais falaram daquilo, e Clark passara um sabão nos homens que usavam as cartas. Mas não tão ensaboado assim. Havia demonstração de segurança, e havia vontade de aparecer. Os rapazes que ele deixara em Gales tinham ambas as coisas, e isso, na verdade, estava ok, contanto que as tropas soubessem onde estava a linha que as separava.
— Qual você acha que foi nosso melhor trabalho?
— Acho que foi o do parque de diversões. Malloy fez um belo trabalho ao conseguir colocar você e sua equipe dentro do castelo, e a manobra que você executou foi quase perfeita, principalmente considerando que não pudemos treinar.
— Puxa, aqueles eram bons soldados — concordou Domingo com um sorriso. — Meus antigos Ninjas nem chegavam perto, e eu pensava que eram os melhores soldados que havia.
— E eram, mas a experiência conta muito. — Cada membro da equipe Rainbow era pelo menos um primeiro-sargento ou equivalente, o que demanda alguns anos de uniforme para ser alcançado. — Muitas capacidades nascem com o tempo de serviço, e isso não se consegue olhando o manual. Depois, os treinamos que nem uns demônios.
— Nem me diga. Se eu precisar correr mais, vou ter que usar pernas novas.
Clark resmungou:
— Você ainda é um filhote. Mas ouça o que digo: nunca vi uma turma como essa antes, e já vi muitas equipes. Jesus, parece até que eles já nasceram com uma pistola na mão. Que tal essa, Ding, qual o seu campeão pessoal?
— Teria que medir com osciloscópio e paquímetro. Escolheria Eddie Price pelo cérebro. Weber ou Johnston no rifle, droga, não há como escolher entre os dois. Para armas curtas, aquele francesinho, Loiselle... Ele expulsaria Doc Holliday de Tombstone. Mas você sabe, só é preciso realmente pôr uma bala no centro do alvo. Morto é morto. E todos nós podemos fazer isso, de perto ou de longe, de dia ou de noite, acordado ou dormindo, bêbado ou sóbrio.
— Por isso que nos pagam tanto.
— É uma vergonha que estejam puxando o freio.
— Uma puta vergonha.
— Droga, por quê? Simplesmente não entendo.
— Porque os terroristas europeus estão liquidados. Nós os derrubamos, Ding, e fazendo isso cortamos nosso trabalho em tempo integral. Mas pelo menos não puxaram totalmente a tomada. Dada a natureza da política, podemos dizer que foi um sucesso e cavalgamos rumo ao pôr do sol.
— Com uma palmadinha nas costas e um “é isso aí, garoto”.
— E você espera que governos democráticos demonstrem gratidão? — perguntou John com uma leve cara. — Seu pobre garoto ingênuo.
Os burocratas da União Europeia foram a principal razão. Nenhum país europeu tolerava mais a pena capital — o que as pessoas comuns poderiam desejar não era considerado, claro —, e um dos tais representantes do povo disse em alto e bom som que a equipe Rainbow fora demasiadamente implacável. Nunca lhe perguntaram se desejava que um cão raivoso fosse capturado de forma humana e tivesse tratamento médico. O povo jamais desaprovou alguma ação da equipe em nenhum país, mas seus burocratas benevolentes e gentis ficavam com a cabeça quente, e essas pessoas sem rosto é que tinham o verdadeiro poder político. Como em qualquer lugar do mundo civilizado.
— Sabe, na Suécia é ilegal criar novilhos do modo mais eficiente. É preciso dar a eles contato social com outras criaturas. Logo não vão poder mais cortar seus colhões até que deem pelo menos uma trepada — resmungou Chavez.
— Isso me parece razoável. Assim eles vão saber o que estão perdendo. — Clark fez um muxoxo. — Uma coisa a menos para os vaqueiros fazerem. Não deve ser brincadeira um homem fazer isso com outro animal.
— Jesus disse que os fracos herdarão a terra, e por mim tudo bem, mesmo assim ainda quero ter os policiais por perto.
— E você já me viu discordando? Recline o assento da poltrona, tome uma taça de vinho e durma um pouco, Domingo.
E, se alguém tentar sequestrar esse avião, nós cuidamos dele, Clark não acrescentou.
Mas a esperança nunca morre. Quem sabe mais um pouco de ação antes de ser colocado para pastar.
7
— Então, qual é a boa de hoje? — perguntou Brian Caruso ao primo.
— O mesmo guisado de sempre, só muda o dia, suponho — respondeu Jack Ryan Jr.
— “Guisado?” — retrucou Dominic, o outro Caruso. — Você não está querendo dizer “merda”?
— Tento ser otimista.
Os três, armados com as primeiras xícaras de café do dia, caminharam pelo corredor até o escritório de Jack. Eram oito e dez, já na hora de começar mais um dia no Campus.
— Alguma notícia de nosso amigo, o Emir? — perguntou Brian, bebendo um gole de café.
— Nada em primeira mão. Ele não é estúpido. Fez até com que seus e-mails fossem enviados por uma série de intermediários, alguns através de contas em servidores abertos e fechados em questão de horas, e mesmo assim os dados financeiros das contas acabam sendo becos sem saída. Atualmente, o interior do Paquistão é a aposta mais provável. Talvez na casa ao lado. Talvez onde quer que ele possa comprar um lugar seguro. Droga, a essa altura fico tentado a olhar até no nosso guarda-roupa.
Era frustrante. Sua primeira aventura como agente de campo tinha sido um sucesso. Ou talvez sorte de principiante. Ou destino. Ele tinha ido a Roma como apoio de inteligência para Dominic e Brian, nada mais que isso, e por puro acaso localizou MoHa no hotel. Daí para a frente, as coisas correram rapidamente, rápido demais, e então foi ele e MoHa no banheiro...
Da próxima vez, não ficaria tão assustado, disse Jack a si mesmo com enorme — e falsa — confiança. Ele se lembrava de matar MoHa tão claramente quanto da primeira vez que dera uma trepada. O mais vívido foi o olhar no rosto do homem quando a sucinilcolina começou a atuar. Jack poderia ter se arrependido do assassinato, salvo pela onda de adrenalina do momento e pelo que Mohammed era culpado de ter feito. Ele não tinha nenhum arrependimento na alma por essa ação. MoHa era um assassino, alguém que tinha tomado para si levar a morte a civis inocentes, e Jack não perdeu um pestanejar de sono por causa disso.
Havia ajudado muito estar acompanhado de familiares. Ele, Dominic e Brian compartilhavam um avô, Jack Muller, pai de sua mãe. O avô materno deles, agora com 83 anos, era um italiano de primeira geração, que emigrou da Itália para Seattle, onde nos últimos sessenta anos trabalhara no restaurante administrado e de propriedade da família.
Vovô Muller, antigo veterano do Exército e vice-presidente da Merrill Lynch, tinha um relacionamento desgastado com o Jack Ryan mais velho, depois de declarar que o abandono de Wall Street por seu genro em troca do serviço público era pura idiotice — idiotice que havia levado sua filha e sua neta, a pequena Sally, a quase perderem as vidas num desastre de automóvel. Se não fosse a decisão errada do genro de voltar para a CIA, isso não teria acontecido. É claro que ninguém, salvo o vovô Muller, acreditava nisso, incluindo mamãe e Sally.
Também ajudou, considerou Jack Jr., o fato de Brian e Dominic serem também relativamente novos nisso. Não novos diante do perigo — Brian era um marine e Dominic, agente do FBI —, mas nessa “Selva de Espelhos”, como James Jesus Angleton a chamara. Eles se adaptaram bem e rapidamente, tendo despachado três soldados do CRO em curto prazo — quatro no tiroteio no shopping em Charlottesville e três na Europa com a “Caneta Mágica”. Entretanto, Hendley não os contratara por serem bons de gatilhos. “Atiradores espertos” foi a frase que Mike Brennan, quando era diretor do Serviço Secreto, usara muitas vezes, e realmente caía como uma luva em seus primos.
— Me dê seu melhor palpite — pediu Brian em seguida.
— Paquistão, mas perto o suficiente para o pessoal dele poder pular a fronteira. Algum lugar cheio de rotas de evacuação. Está num lugar com eletricidade, mas geradores portáteis são fáceis de obter, então isso não quer dizer muito. Talvez também uma linha telefônica. Eles se livraram dos telefones via satélite. Aprenderam isso do modo mais difícil.
— É... quando leram sobre isso no Times — resmungou Brian.
Os jornalistas acham que podem imprimir o que quiserem. É difícil ver as consequências disso quando se está sentado na frente de um teclado.
— Porém no fim das contas não sabemos onde Sua Alteza anda agora. Mesmo minha melhor avaliação é apenas um palpite, mas a verdade que tem que ser dita é que inteligência muitas vezes não passa disso, um palpite baseado nas informações disponíveis. Algumas vezes é sólida como uma rocha, e em outras, parece leviana como o ar. A boa notícia é que temos lido muitos e-mails.
— Quantos? — perguntou Dominic.
— Talvez 15 ou vinte por cento do total. — Ainda assim, o volume era esmagador, mas com o volume vinham as oportunidades. Meio como Ryan Howard, pensou Jack. Balança num monte de lançamentos, perde um bocado, mas consegue pontuar bastante. Felizmente.
— Então vamos balançar a árvore e ver o que cai. — Sempre marine, Brian estava a fim de atacar uma cabeça de praia. — Agarramos alguém e o fazemos suar um pouco.
— Não quero estragar nossa mão — disse Jack. — Deixe algo assim para uma operação em que valha a pena botar para quebrar.
Uma coisa que ambos sabiam não falar sobre era como a comunidade de inteligência tratava com cautela os dados que recebia. Uma boa parte ficava em casa, sem ser passada adiante nem para os próprios diretores, que tendiam a ser políticos nomeados, leais para quem os nomeava e nem sempre fiéis ao juramento que prestavam ao assumir os cargos. O presidente — conhecido na comunidade como NCA, a autoridade nacional em comando — tinha uma equipe na qual confiava, ainda que essa confiança significasse vazar o que ele queria, e apenas o que ele queria que vazasse, e apenas para jornalistas que aceitassem tratar a notícia vazada como ele queria. A comunidade de espiões não revelava tudo ao presidente, o que poderia gerar demissão caso alguém fosse descoberto. Também controlavam o que era passado para os agentes de campo, algo que tinha uma história por trás e que também explicava por que o pessoal de operações especiais raramente confiava na comunidade de inteligência. Era tudo uma questão de necessidade de saber. Você podia ter a autorização de segurança mais alta, mas, se não fosse necessário que soubesse, ficava fora da jogada. A mesma coisa valia para o Campus, que oficialmente estava fora de todas as jogadas, o que era em parte uma questão de princípio. Ainda assim, eles conseguiam muito sucesso se esgueirando para dentro da jogada. O hacker-chefe deles, uma espécie de supergeek chamado Gavin Biery, que dirigia a seção de TI, ainda não tinha encontrado um sistema de criptografia no qual não conseguisse enfiar o dedo.
Antigo empregado da IBM, ele perdera dois irmãos no Vietnã, e depois disso passou a trabalhar para o governo federal, onde foi localizado e cuidadosamente selecionado para ir ao quartel-general da Agência de Segurança Nacional, a NSA, em Fort Meade, o principal centro de comunicações e segurança eletrônica do governo. Desde então seu salário alcançara o máximo como sênior do serviço executivo, e ele ainda recebia uma generosa aposentadoria do governo. Mas adorava ação e tinha pulado para agarrar a oferta do Campus, segundos depois que esta lhe fora oferecida. Era, profissionalmente, um matemático com doutorado em Harvard, onde estudou com o próprio Benoit Mandelbrot, e de vez em quando fazia conferências no MIT e na Caltech sobre sua especialidade.
Biery era um geek de cabo a rabo, até os óculos de aros negros grossos e uma aparência pastosa, mas mantinha os equipamentos eletrônicos do Campus lubrificados e as máquinas ronronando o tempo todo.
— Compartimentalização? — disse Brian. — Não me venha com essa merda de sigilo.
Jack levantou as mãos e deu de ombros.
— Sinto muito. — Tal como seu pai, Jack Ryan não era de quebrar as regras. Primo ou não, Brian não tinha necessidade de saber. Ponto final.
— Alguma vez você já pensou sobre o nome? — perguntou Dominic. — O CRO? Você sabe bem como esse pessoal adora duplos sentidos.
Ideia interessante, pensou Jack.
O Conselho Revolucionário Omíada foi invenção do próprio Emir, eles achavam. Seria o que parecia — simplesmente outra referência oblíqua a um símbolo indiscutível do jihad, ou seja, Saladino —, ou seria algo mais?
Nascido como Salah Ad-din Yusuf Ibn Ayyub, por volta de 1138 em Tikrit — hoje Iraque —, Saladino rapidamente cresceu até o status de figura representativa nas cruzadas, primeiro como defensor de Baalbek, depois como sultão do Egito e da Síria. O fato de o desempenho de Saladino nos campos de batalha ser, segundo alguns relatos, irregular no melhor dos casos, tinha pouca consequência para a história muçulmana. O que importava, como foi o caso de muitas figuras tanto do Oriente quanto do Ocidente, era o que Saladino passou a representar. Para os muçulmanos, ele era a espada vingadora de Alá, resistindo à inundação dos cruzados infiéis.
Se havia algum pano de fundo simbólico no nome do CRO, provavelmente estava no último nome, Omíada, o nome da mesquita de Damasco que abrigava a última morada de Saladino, um mausoléu que continha tanto um sarcófago de mármore doado pelo imperador Guilherme II da Alemanha quanto um simples caixão de madeira, no qual ainda estavam os restos de Saladino. O fato de o Emir ter escolhido Omíada como nome operacional de sua organização sugeria a Jack que ele via o jihad como um ponto de inflexão, tal como a morte de Saladino fora a transição de uma vida de lutas e sofrimentos para o paraíso eterno.
— Vou pensar um pouco nisso — disse Jack. — Não é um mau palpite, eu acho.
— Aqui dentro não há apenas areia, primo — declarou Brian, sorrindo, enquanto batia na testa com o dedo indicador. — Então, o que seu pai anda fazendo com todo o tempo livre?
— Não sei. — Jack não passava muito tempo em casa. Isso significaria conversar com seus pais, e, quanto mais falasse sobre seu “emprego”, mais provável era que seu pai ficasse curioso, e, se descobrisse o que ele fazia ali, mais provável ainda que ficasse muito irritado. E nem pensar em como sua mãe reagiria. Esses pensamentos irritavam Jack. Ele não era nenhum filhinho da mamãe, com certeza, mas será que alguém verdadeiramente deixa de tentar impressionar os pais e buscar aprovação? Como era mesmo aquele ditado? Alguém só se tornava verdadeiramente um homem quando matasse seu pai — metaforicamente, é claro. Ele era um adulto, seguindo seu caminho, fazendo um monte de coisa séria no Campus. Já é hora de sair da sombra do papai, lembrou-se Jack pela enésima vez. Só que era uma maldita sombra grande demais.
Brian disse:
— Aposto que ele está de saco cheio e...
— Quer escapar?
— Você não gostaria?
— Já morei na Casa Branca, lembra? Já tive minha dose. Com prazer arrumo meu cubículo aqui e fico caçando bandidos.
Por enquanto, quase sempre no computador, pensou Jack, mas talvez, se jogasse direito, mais no campo. Ele já ensaiava o discurso que faria para o chefe do Campus, Gerry Hendley. O caso do MoHa tinha que valer alguma coisa, não é? Seus primos eram atiradores espertos. O termo cabia a ele?, considerou Jack. Poderia se aplicar a ele? Em comparação, sua vida tinha sido muito protegida, o filho bem-protegido do presidente John Patrick Ryan, mas isso também trouxe seus benefícios, não é verdade? Aprendeu a atirar com agentes do Serviço Secreto, havia jogado xadrez com o secretário de Estado, vivera e respirara, ainda que obliquamente, no mundo interior das comunidades militar e de inteligência. Teria ele, por osmose, adquirido alguns dos traços pelos quais Brian e Dominic treinaram tanto? Talvez. Ou talvez fosse apenas vontade. De qualquer maneira, primeiro ele tinha que passar por Hendley.
— Mas você não é o seu pai — lembrou-lhe Dominic.
— Isso é verdade. — Jack girou a cadeira e ligou seu PC para a dosagem matinal de notícias, públicas e confidenciais. Muitas vezes, as últimas estavam apenas três dias adiante das primeiras. O primeiro lugar que Jack acessava era o Sumário Executivo de Transcrição de Interceptações da NSA. Chamado de EITS ou XITS — e que pela infeliz semelhança com a palavra “zits”, tinha o apelido de “pústulas” —, era enviado apenas aos dirigentes de alto nível da NSA e da CIA, e para o Conselho de Segurança Nacional, o NSC, na Casa Branca.
Falando no demônio... Ali estava o próprio Emir, mais uma vez no XITS. Uma interceptação. A mensagem era estritamente administrativa. Emir queria saber o que alguém — simplesmente um codinome sem rosto — estava fazendo, se tinha feito contato com algum estrangeiro desconhecido, com algum propósito desconhecido. Isso era o padrão com a maioria das interceptações — um bocado de desconhecidos, do tipo preencha os espaços em branco, que era, na verdade, o trabalho de análise de informações. O maior e mais complexo quebra-cabeça do mundo. Essa peça em particular tinha provocado uma reunião de brainstorming na CIA.
A agenda proposta era o tópico de todo um relatório apresentado em espaçamento simples (quase tudo especulação), feito por algum analista de nível médio que provavelmente desejava conquistar um escritório mais bem-situado, e que gostava de encher papel com suas especulações na esperança de que algum dia alguma coisa colasse e ele pudesse ser alçado aos níveis salariais superiores. E talvez algum dia isso acontecesse, mas isso não o tornaria mais competente, exceto talvez aos olhos de algum superior que tivesse conseguido subir do mesmo modo e gostasse de puxa-sacos.
Alguma coisa estava azucrinando a mente de Jack, algo sobre essa pesquisa em particular... Ele deslizou a seta do mouse sobre a pasta do XITS no disco rígido do seu computador, clicou duas vezes e abriu o documento que estava arquivado. E lá estava, o mesmo número de referência da interceptação, desta vez vinculado a um trio de e-mails de mais de uma semana atrás, o primeiro de um membro da equipe do NSC para a NSA. Aparentemente, alguém na Casa Branca queria saber como exatamente haviam conseguido aquela informação. A pesquisa tinha sido encaminhada para o Arquivo de Segurança Nacional Digital, o DNSA, posição ocupada por um profissional de inteligência militar três estrelas, neste momento, um oficial do Exército chamado tenente-general Sam Ferren, que respondeu sucintamente: BACKPACK. NÃO RESPONDA. ASSUNTO A SER TRATADO ADMINISTRATIVAMENTE.
Jack teve que sorrir diante daquilo. Na verdade, “Backpack” era o nome de código rotativo interno da NSA para Escalão, o programa da agência destinado à monitoração eletrônica, que tudo sabia e tudo via. A resposta de Ferren era compreensível. O membro da equipe do NSC estava perguntando pelas “fontes e métodos”, ou seja, os mecanismos através dos quais a NSA operava sua mágica. Tais segredos simplesmente não eram compartilhados com os consumidores de informações de inteligência como a Casa Branca, e a pergunta do funcionário do NSC, consequentemente, era idiota.
Previsivelmente, o sumário XITS subsequente para o NSC simplesmente listava a interceptação como “cooperação estrangeira de ELINT”, ou inteligência eletrônica, comunicando em resumo à Casa Branca que a NSA conseguira a informação através de uma agência de inteligência amiga. Ou seja, ele mentiu.
Só podia haver uma razão para isso: Ferren suspeitava que a Casa Branca estava mostrando o XITS por aí. Jesus, pensou Jack, deve ser uma tensão enorme para um três estrelas ter que cuidar do que dizia para o presidente em exercício. Mas, se o mundo dos espiões não confiava no presidente, quem, então, cuidava do país? E, se o sistema quebrar, Jack continuou pensando, a quem recorrer? Essa era uma questão para um filósofo, ou para um sacerdote.
Pensamentos profundos para um começo de manhã, disse Jack a si mesmo, mas, se ele lia os XITS — supostamente o sanctum sanctorum dos documentos governamentais —, o que não estava lendo? O que não estava sendo disseminado? E quem diabos tinha essas informações? Haveria um canal de ligação insulado e exclusivo para nível de diretor?
Muito bem, então o Emir estava falando novamente. A NSA não possuía a chave de seu sistema pessoal de criptografia, mas o Campus sim — algo que o próprio Jack tinha conseguido, emprestando os dados do computador pessoal de MoHa e entregando tudo para Biery e seus geeks, que transferiram os dados para um disco rígido com porta FireWire. Em menos de um dia haviam desmontado todos os segredos — incluindo senhas, que arrombaram todos os modos de comunicação criptografada, algumas das quais foram lidas pelo Campus por cinco meses antes de serem rotineiramente modificadas. Os adversários haviam sido bem cuidadosos com tudo aquilo, e/ou foram adequadamente treinados por alguém que trabalhava numa agência real de espionagens. Mas não tão cuidadosamente assim. As senhas não eram modificadas diariamente, ou mesmo semanalmente. O Emir e seu pessoal tinham bastante confiança em suas medidas de segurança, e esse tipo de falha destruíra Estados-nação inteiros. Criptoespiões estavam sempre disponíveis para aluguel no mercado aberto, e a maioria deles falava russo e eram pobres o suficiente para achar boas quaisquer ofertas. A CIA havia até balançado algumas ofertas para os inimigos que davam consultoria ao Emir. E pelo menos um deles foi achado debaixo de um monte de lixo em Islamabad com a garganta cortada de orelha a orelha. Era um jogo pesado o que rolava ali fora, mesmo para profissionais. Jack esperava que Langley tivesse pelo menos cuidado da família que o sujeito deixou para trás. Isso nem sempre acontecia com os agentes. Os agentes de campo da CIA tinham seguro e benefícios para o caso de morte, e suas famílias jamais eram negligenciadas por Langley, mas com os agentes freelancers a coisa era bem diferente. Estes eram geralmente desprezados, e muito rapidamente esquecidos, quando alguém mais valioso aparecia.
Aparentemente, o Emir ainda se perguntava o que teria acontecido com as pessoas que ele perdeu nas ruas da Europa — todas nas mãos de Brian e Dominic Caruso e de Jack, ainda que ele não soubesse disso. Três ataques cardíacos, o Emir especulava, parecia ser um número extraordinário para pessoas jovens e saudáveis. Fez com que seus agentes pesquisassem cuidadosamente os registros médicos, mas esses haviam sido eliminados, legal ou ilegalmente — os primeiros por advogados representando herdeiros do falecido, e os demais através do suborno de pequenos burocratas para recolher os documentos originais e verificar se havia documentos adicionais arquivados em algum outro lugar. O Emir escrevia a um operador, evidentemente vivendo em Viena, para que investigasse um caso estranho, o de um homem que aparentemente caiu debaixo de um bonde, porque, dizia o Emir, ele era um rapaz muito capaz de lidar com os cavalos — não um tipo sujeito a cair embaixo de um veículo. Mas a resposta do agente do Emir foi que, com certeza, nove pessoas viram o acidente, e em todos os relatos ficava claro que ele escorregou bem em frente do bonde, algo que podia acontecer com qualquer um, não importa que tivesse os pés bem firmes aos 11 anos. Os médicos austríacos tinham sido bem detalhistas e a necropsia oficial foi clara: Fa’ad Rahmin Yasin fora retalhado de modo grosseiro em meia dúzia de pedaços por um bonde. O sangue havia sido testado para verificar a presença de álcool, mas nada foi descoberto, salvo alguns traços residuais da noite anterior — assim supôs o patologista —, mas certamente nada que pudesse ter afetado seu julgamento. Também não havia traços de narcóticos de qualquer tipo no sangue recuperado no corpo despedaçado. Conclusão: ele escorregou, caiu e morreu devido ao forte trauma e exsanguinação — um modo elegante de dizer que ele sangrou até a morte.
Coisa que não aconteceria a um sujeito mais simpático, decidiu Jack.
8
A lgo que Driscoll e seus Rangers haviam aprendido muito tempo atrás era que as distâncias no mapa do Hindu Kush tinham pouca semelhança com a realidade no solo. Para ser justo, nem mesmo os cartógrafos da era digital tinham como calcular o impacto espacial de todas as subidas, descidas e curvas do terreno. Ao planejar a missão, ele e o capitão Wilson multiplicaram por dois todas suas estimativas, uma variável que geralmente funcionava, e, apesar de esse ajuste nunca estar longe da mente de Driscoll, compreender que sua trilha até a zona de aterrissagem de fato não seria de 3 quilômetros e sim de aproximadamente uns 6 era quase o suficiente para provocar uma fileira de xingamentos em seus lábios. Mas ele abafou o impulso. Não traria nada de útil para eles. Podia até provocar algum dano, mostrando uma debilidade diante da equipe. Mesmo que o olhar deles não estivesse o tempo todo fixado em Driscoll, cada um dos seus Rangers dependia das dicas que vinham dele. Tanto merda quanto atitude partiam dele para baixo.
Caminhando na ponta, Tait parou e levantou o punho fechado, fazendo a coluna escalonada parar. Driscoll caiu de cócoras, tal como o restante da equipe, quase em uníssono. Por toda a linha as M4 se apresentaram, cada homem assumindo um setor, olhares observando e ouvidos atentos. Estavam em um cânion estreito — tão estreito que Driscoll duvidava que a ravina de 3 metros de largura realmente se qualificasse como cânion —, mas tinham pouca escolha. Era ou seguir por esse atalho de 300 metros ou partir para mais 2 quilômetros adicionais de caminho e arriscar uma retirada à luz do dia. Não haviam visto nem ouvido nada desde a emboscada, mas isso não significava muita coisa. O CRO conhecia seu terreno melhor que ninguém, e sabia por experiência o quanto demorava para que soldados carregados o percorressem. Pior ainda, sabiam que havia um número delimitado de áreas de pouso a partir de onde o inimigo podia ser retirado. A partir daí, montar outra emboscada era questão apenas de fazer as contas e se movimentar mais rapidamente que seu inimigo.
Sem se virar, Tait passou a Driscoll o sinal de mão de venha cá. Driscoll assim o fez.
— O que houve? — sussurrou.
— Chegando ao final. Mais uns 30 metros.
Driscoll se virou, apontou para Barnes, levantou dois dedos e depois fez o sinal de venham cá. Barnes, Young e Gomes chegaram em dez segundos.
— Final da ravina — explicou Driscoll. — Vejam o que há para ver ali.
— Certo, chefe.
Os dois se movimentaram. Por trás de Driscoll chegou a voz de Collins:
— Como está o ombro?
— Ótimo. — Os seis comprimidos de ibuprofeno que Collins lhe dera embotavam a dor, mas cada movimento do cotovelo mandava ondas de dor aos seus ombros, costas e pescoço.
— Tire a mochila. — Collins não esperou que Driscoll respondesse e foi logo deslizando a correia pelo ombro dele. — O sangramento diminuiu. Está sentindo seus dedos?
— Sim.
— Movimente eles.
Driscoll lhe mandou o dedo do meio e riu.
— Que tal assim?
— Toque em cada dedo com o polegar.
— Jesus, Collins...
— Faça isso. — Driscoll obedeceu, mas cada um dos dedos se movia debilmente, como se estivesse enferrujado na junta. — Tire a mochila. Vou redistribuir sua carga. — Driscoll abriu a boca para protestar, mas o médico o cortou: — Olha, se ficar com essa mochila, pode praticamente contar com ter que amputar o braço depois. Há uma chance grande de você já ter danificado algum nervo e esses 30 quilos não ajudam em nada.
— Ok, ok...
Barnes, Young e Gomez voltaram. Collins entregou a mochila a Barnes, que voltou pela fila redistribuindo o conteúdo. Young fez o relatório a Driscoll.
— Não vi nada, mas tem alguma coisa se mexendo por ali. Escutei um motor de caminhão mais ou menos a meio quilômetro a oeste.
— Ok, pode voltar para a fila. Collins, você também.
Driscoll desdobrou o mapa e ligou sua lanterna-caneta com protetor vermelho. Não era exatamente equipamento padrão, mas assim como o visor noturno era ótimo para a maioria das coisas, era uma merda para ler mapas. Alguns hábitos da velha escola são difíceis de abandonar; alguns jamais são abandonados.
Tait se aproximou. Driscoll passou o dedo pela ravina onde estavam. No final dela havia outro cânion margeado dos dois lados por platôs. O terreno, pensou Driscoll, não era muito diferente do bairro de uma cidade: os cânions eram as ruas principais; os platôs, as casas; as ravinas, os becos dos fundos. O que eles faziam essencialmente era cruzar rapidamente as ruas, usando os becos entre as casas para chegar ao aeroporto. Ou, nesse caso, ao heliporto. Mais dois cânions, mais uma ravina, pensou, depois subir para um platô ao lado para a zona de aterrissagem.
— Etapa final — observou Tait.
Que é onde a maioria dos cavalos de corrida desaba, pensou Driscoll, sem dizer nada.
Ficaram sentados na boca da ravina por 15 minutos, Tait e Driscoll observando o comprimento do cânion com os óculos de visão noturna, até ter certeza de que não havia outros olhos sobre ele. A equipe cruzou o cânion em duplas, até a ravina seguinte, enquanto os demais davam cobertura, e Tait e Driscoll bancavam policiais de trânsito. Young e seu prisioneiro passaram por último, e mal tinham escorregado na ravina mais distante quando um par de faróis apareceu no leste. Outro UAZ, Driscoll percebeu imediatamente, mas esse se movia sem pressa.
— Parem — ordenou Driscoll. — Jipe se aproximando do leste.
Como o que encontraram antes, esse UAZ portava uma metralhadora NSV 12,7 milímetros na plataforma, mas Driscoll contou apenas um homem manobrando-a. A mesma coisa na cabine: um motorista e ninguém mais. Eles dividiram suas forças na esperança de interceptar o inimigo. As táticas de pequenas unidades frequentemente eram questão de instinto tanto quanto de regras, mas seja lá quem tivesse despachado aquele jipe cometera um erro. O UAZ continuou avançando, os pneus esmagando o pedregulho, os faróis balançando pelo cânion.
Driscoll captou a atenção de Tait e expressou com a boca, mas em silêncio, motorista, e recebeu um aceno em resposta. Driscoll sussurrou no rádio: “Segurem fogo”, e recebeu um clique duplo como resposta.
O UAZ estava agora a 20 metros, perto o suficiente para Driscoll ver claramente o rosto do artilheiro no brilho esverdeado do visor noturno. Apenas um garoto, talvez 18 ou 19 anos, com uma barba esparsa. O cano da NSV apontava diretamente para o fundo do cânion, não transversalmente, como deveria ser. O preguiçoso só faz morrer, pensou.
O UAZ emparelhou com a boca da ravina e parou. Na cabine, o motorista se inclinou para um lado, procurando algo, e levantou com uma lanterna. Apontou para fora da janela do passageiro. Driscoll enquadrou as retículas da mira logo acima da orelha esquerda do artilheiro. Apertou o gatilho, suave, suave, e a M4 deu um coice. Nos óculos de visão noturna apareceu um halo de vapor em volta da cabeça do artilheiro. Ele caiu direto embaixo da plataforma do caminhão. O motorista foi abatido uma fração de segundo depois, sua lanterna dançando loucamente antes de cair no assento.
Driscoll e Tait se movimentaram, cruzando até o caminhão e levando vinte segundos para apagar a lanterna e se certificar de que nenhum dos dois estava vivo antes de seguir para a ravina. Um motor acelerou a oeste. Os faróis os alcançaram. Driscoll não parou para ver, mas gritou “Mexam-se, mexam-se!” e continuou avançando com Tait um passo à frente. Outra NSV começou a tossir rápido, salpicando o chão e as rochas ao redor, mas Driscoll e Tait já estavam na ravina. Na ponta, Gomez penetrava no fundo da ravina. Driscoll assinalou para que Tait continuasse e acenou chamando Barnes. “SAW”, ordenou, e Barnes caiu de bruços ao lado de um matacão, esticou as pernas da SAW, e firmou o cabo no ombro. Eles podiam ver as luzes se aproximando na boca do barranco. Driscoll puxou uma granada do cinturão e retirou o pino. Lá no cânion se ouviu o barulho de pneus derrapando, e a poeira cobriu a boca da ravina. Driscoll deixou o pino cair, contou um um, mil, dois um, mil, deixando a granada esquentar e depois a jogou pelo alto na direção do cânion. O UAZ girou e parou. A granada explodiu 3 metros acima da cabine. Barnes abriu fogo com a SAW, regando as portas e as laterais. Na plataforma, o cano da NSV cuspiu fogo, mas silenciou um instante depois quando a fuzilada da SAW derrubou o artilheiro. As engrenagens do UAZ emperraram e logo eles estavam se movimentando novamente para fora da visão.
— Vai — ordenou Driscoll, esperou Barnes pegar uma dianteira, e virou-se para segui-lo.
Quando os dois alcançaram a coluna, Gomez já havia dividido a equipe, metade cruzando o cânion, por trás da cobertura e fazendo vigilância, e outra metade esperando na boca da ravina. Driscoll abriu caminho pela fila até Gomes.
— Atividade?
— Motores, sem movimento.
Do outro lado do cânion, 30 metros a oeste da linha de vigilância, havia uma rampa natural que subia pelo lado do platô. Com certeza era obra humana, pensou Driscoll, mas o tempo e a erosão fizeram coisas estranhas com o terreno. E ninguém ia ficar reclamando dessa estranheza, que simplesmente tornava mais fácil a corrida final para a área de aterrissagem.
— Peterson, ponha o Lâmina na linha e diga que estamos prontos. E que a coisa vai esquentar.
O Chinook deles estava orbitando, esperando o sinal. Como a maioria das coisas em combate e certamente a maioria das coisas no Afeganistão, a zona de aterrissagem estava abaixo do desejável, em parte devido ao terreno e em parte devido às compensações no projeto do Chinook: um teto operacional alto, mas uma área de pouso grande. O 47 podia chegar até as tropas na altitude, mas precisava de uma boa área para embarcá-las. No caso deles, a zona de aterrissagem estava embainhada a oeste e ao sul por ravinas e espinhaços tão próximos que disparos de armas leves podiam alcançá-lo.
— Lâmina, aqui é a Foice, câmbio.
— Adiante, Foice.
— Prontos para a retirada. Ventos de três a seis horas do norte para o sul. Zulu alfa quente; composição e direção desconhecidas.
— Entendido, Zulu alfa quente copiado. Em três minutos no local. — Dois minutos depois: — Foice, Lâmina entrando, sinalize a localização.
— Entendido, aguarde — disse Driscoll, e depois comunicou a Barnes pelo rádio: — Iluminação química, Barnes.
— Entendido, chefe. Já tenho azul, amarelo, vermelho.
A iluminação química começou a brilhar pelo cânion, depois disparou pelo ar e caiu sobre o platô. Driscoll teria preferido luzes infravermelhas estroboscópicas, mas o depósito estava com falta delas quando saíram.
Driscoll chamou:
— Lâmina, Foice, soltei azul, amarelo e vermelho.
— Entendido, estou vendo.
Eles já escutavam o barulho dos rotores do Chinook. Então:
— Foice, aqui é Lâmina. Percebo aproximação de veículos 300 metros a oeste de vocês e se aproximando. Conto dois UAZ, câmbio.
Merda.
— Caiam fora, caiam fora. Marquem a zona de aterrissagem e se mantenham em órbita.
A única outra opção seria fazer com que os artilheiros do Chinook iluminassem os UAZ, mas fazer isso em altitude seria como um sinal luminoso de “aqui estamos nós” para outras unidades inimigas na área. O piloto do Chinook devia ter suas próprias RDE, ou regras de engajamento, mas, enquanto ele e seus Rangers estivessem em cena e na merda, Driscoll é quem tinha que dar a ordem. O fato de os UAZ não estarem correndo na direção deles era sinal de que sua unidade ainda não fora localizada. Até então tinham tido sorte com essas coisas e não adiantava forçar a situação.
— Entendido, caindo fora — respondeu o piloto do Chinook.
Para Barnes:
— Temos companhia a oeste. Abafe essa iluminação. Todo mundo abrigado. — Atrás dele, a coluna toda se agachou.
Ele recebeu um clique duplo em resposta e alguns instantes depois viu um par de figuras agachadas subindo no platô. As luzes químicas se apagaram.
No cânion abaixo, as luzes dos UAZ haviam estacionado. Bem de longe, Driscoll escutou os motores sem silenciadores. Uns bons trinta segundos se passaram, e então os motores aceleraram e os jipes começaram a se mover, separando-se numa linha escalonada enquanto se dirigiam para o cânion. Mau sinal, pensou Driscoll. Quando se movimentavam, os UAZ tendiam a fazê-lo em formação de fila única. Só quando esperavam encontrar problemas é que escalonavam.
— Cobertura — avisou Driscoll a equipe pelo rádio. — Os babacas estão caçando. — Depois para o Chinook: — Lâmina, Foice, fiquem por perto. Podemos precisar de vocês.
— Entendido.
Precedidos pelos faróis que balançavam no terreno irregular, o barulho dos pneus dos UAZ esmagando o terreno continuava pelo cânion, até que o primeiro jipe emparelhou com a ravina onde Driscoll e sua coluna se escondiam. Os freios chiaram. O UAZ parou; o segundo, se arrastando a uns 10 metros atrás dele, também parou. Um holofote apareceu na janela do passageiro e percorreu as paredes, pausando quando chegou na ravina. Mexa-se, babaca, pensou Driscoll. Aqui não tem nada para ver. O holofote girou, passando pela janela do motorista e pesquisando a ravina oposta. Depois de sessenta segundos, o holofote apagou. A transmissão do UAZ líder engatou e gemeu, depois começou a avançar para além da linha de visão de Driscoll.
— Quem tem visão? — perguntou pelo rádio.
— Achei o cara — respondeu Barnes. — A uns 50 metros de distância, continuando para o leste. — Depois: — Agora são 100 metros... Estão parando.
Driscoll se ergueu e foi caminhando agachado para fora da ravina, tomando cuidado para ficar próximo à parede rochosa até que pudesse ver os UAZ estacionados. Deitou de bruços e olhou pelo visor noturno. Cada caminhão havia se posicionado nos lados sul e norte do cânion. Os faróis e os motores desligados. Posição de emboscada.
— Todo mundo quieto e em silêncio — ordenou Driscoll, depois chamou o Chinook na linha: — Lâmina, Foice.
— Prossiga.
— Nossos UAZ tomaram posição no lado leste do cânion.
— Entendemos, estamos vendo. Tome nota, Foice, estamos a oito minutos da hora H.
Oito minutos até o Chinook estar no ponto de ou vai, ou racha para regressar. Um atraso para além dessa hora significaria falta de combustível para regressar à base. Para os Rangers, trabalhar com margens estreitas era rotina, mas existem algumas coisas que não se pode foder impunemente, e uma dessas é a carona de volta para casa.
— Compreendido. Engajem os UAZ. Tudo que estiver sobre rodas é de vocês.
— Entendido, engajando.
O Chinook apareceu por cima do platô, as luzes de navegação piscando enquanto baixou o trem de aterrissagem e começou a deriva para o leste baixando pelo cânion. Driscoll pôde ver o artilheiro da porta girando o minicanhão. O sargento mandou pelo rádio:
— Gomez, ponha seus homens subindo pela rampa.
— Entendido, chefe.
— Focando o alvo — anunciou o piloto do Chinook. — Engajando...
O Dillon M134 abriu fogo, banhando o lado do Chinook de alaranjado. A barragem durou menos de dois segundos, depois outra, e mais uma, e depois o piloto voltou.
— Alvos destruídos.
Com uma taxa de 3 mil disparos por minuto, nesses cinco segundos mais ou menos o minicanhão havia derramado 250 balas calibre 7,62 milímetros nos UAZ que se aproximavam. O Chinook reapareceu, deslizou de lado para a zona de aterrissagem e tocou o solo. A rampa desceu.
Gomez anunciou:
— Cobertura de cima, Papai Noel.
— Entendido, movendo para você.
Driscoll deu a ordem e mais uma vez, em pares, o restante da equipe cruzou o fundo do cânion, pulando de cobertura a cobertura até que Driscoll e Tait tivessem atravessado e caminhassem para a rampa.
— Alvo! — Driscoll ouviu por cima do capacete. Não era dos seus homens, percebeu, e sim de alguém a bordo do Chinook. — Na cauda, sete horas! — Do oeste do platô veio o matraquear de armas automáticas: — AK-47, rapidamente seguidas pelos disparos das M4.
Driscoll e Tait alcançaram o topo da rampa, deitaram de bruços e rastejaram pelos últimos metros. Uns 50 metros adiante, de dentro de uma ravina e por cima da crista, canos de armas relampejavam. Driscoll contou pelo menos três dúzias. Abaixo, no cânion, mais quatro pares de faróis apareceram. Mais UAZ.
A voz de Peterson:
— RPG, RPG...
À direita deles passou algo brilhando. O chão ao lado do Chinook explodiu.
— Afastem-se, afastem-se — comunicou o piloto, e depois fez algo que Driscoll jamais vira. Totalmente à vontade, o piloto levantou, ficou estacionário a 2 metros de altura, depois girou o leme, deixando a porta do artilheiro em posição. — Abaixem a cabeça, abaixem a cabeça! — O Dillon abriu fogo, fazendo um arco de chama pela ravina e pela crista.
— Corredor! — Driscoll escutou como se viesse de longe. — Sentido oeste!
Iluminado pelos tracejadores do Dillon, o prisioneiro deles, ainda algemado, corria na direção da descida. Tait murmurou:
— Estou com ele na mira, Papai Noel.
— Abata.
O M4 de Tait disparou e o prisioneiro foi abatido. O fogo de AK-47 decresceu e depois parou. Driscoll chamou:
— Lâmina, temos UAZ no cânion. Duzentos metros e se aproximando. Três horas sua.
— Entendido — respondeu o piloto, e fez o Chinook girar. Mais uma vez, o minicanhão disparou. Só precisou de dez segundos. A poeira começou a se espalhar, revelando quatro UAZ demolidos.
— Contagem de cabeças — ordenou Driscoll. Sem resposta. — Contagem de cabeças! — repetiu.
Collins respondeu:
— Dois mortos em combate, Papai Noel, e dois feridos.
— Filhos da puta.
O piloto chamou; calmamente, pensou Driscoll:
— Foice, o que acha do pessoal subir a bordo e nós irmos para casa antes que nossa sorte acabe?
9
Durante todos os anos em que vivera em São Petersburgo, Yuriy Beketov caminhou por suas ruas sombrias centenas de vezes. Desta vez, porém, era diferente, e não foi preciso muita contemplação para saber a razão. A riqueza — ou pelo menos a riqueza em potencial — tinha um jeito de mudar as perspectivas de alguém. E esse tipo de riqueza era diferente. Ele não se orgulhava do dinheiro em si e por si, mas sim do modo como pretendia aplicá-lo. O que ele tinha menos certeza era se isso seria realmente uma distinção ou simplesmente uma racionalização. Se você dança com o diabo por uma razão muito boa, ainda assim você não dançou com o diabo?
Entre todas as cidades de sua pátria, São Petersburgo certamente era a favorita de Yuriy. A própria história da cidade era um reflexo quase perfeito da história da Rússia. Em 1703, Pedro, o Grande, fundou a cidade durante a Grande Guerra do Norte contra a Suécia; durante a Primeira Guerra Mundial, o nome de São Petersburgo, considerado demasiado teutônico pelos poderes vigentes, mudou para Petrogrado; em 1924, sete anos depois da Revolução Bolchevique e poucos dias após a morte de Vladimir Lênin, passou a ser chamada de Leningrado; e, finalmente, em 1991, com o colapso da União Soviética, mais uma vez foi renomeada — revertida — para São Petersburgo.
São Petersburgo, uma cápsula do tempo da história russa. Não era um título ruim para um livro, pensou. Pena que ele não tivesse qualquer aspiração literária. Os tsares, os bolcheviques, a queda do império e finalmente a democracia — ainda que democracia manchada com um tanto de totalitarismo.
Aquela noite estava especialmente fria, com um vento forte soprando sobre o rio Neva e assoviando pelos galhos das árvores. Invisíveis na escuridão, pedaços de sujeira deslizavam pelo concreto e pelo calçamento das ruas. Do fundo de um beco próximo veio o ruído de uma garrafa se estilhaçando no tijolo, depois um praguejar resmungado. Outro bic havia ficado sem vodca ou derramado sua última gota da garrafa. Apesar de todo seu amor por São Petersburgo, Yuriy sabia que a cidade tinha caído para bem abaixo de seu auge. O que era verdade para o país inteiro.
O colapso da União Soviética fora difícil para todos, mas foi especialmente tumultuado para seu antigo empregador, a KGB, agora conhecida localmente como Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti, ou Serviço Federal de Segurança (SFS), e Sluzhba Vneshney Razvedki, ou Serviço Exterior de Inteligência (SEI). Esses eram apenas os últimos de uma fileira de acrônimos sob os quais os serviços de inteligência russos operaram, começando com a temida Cheka. Provavelmente, entretanto, a KGB — Comitê de Segurança do Estado — havia sido a mais eficiente e temida de todos os componentes dos antecessores e sucessores dessa sopa de letrinhas.
Antes de se aposentar com uma pensão reduzida em 1993, Yuriy trabalhou para a elite da turma da KGB, a Diretoria S — Ilegais — da Primeira Diretoria-Chefe. Os espiões de verdade. Sem cobertura diplomática, sem embaixadas para onde correr, sem deportação se fossem pegos, mas sim prisão ou morte. Obtivera alguns sucessos, mas nada que o lançasse na estratosfera dos escalões superiores da KGB, e, assim, se viu desempregado nas ruas de Moscou aos 45 anos com um conjunto de habilidades que lhe oferecia poucas oportunidades para uma carreira: espionagem e segurança sob contrato, ou crime. Escolheu o primeiro, abrindo uma consultoria que servia às hordas de investidores ocidentais que nos primeiros dias pós-soviéticos inundaram a Rússia. Yuriy devia, pelo menos de modo oblíquo, muitos de seus primeiros sucessos à Krasnaya Mafiya, a Máfia Vermelha, e suas maiores gangues: a Solntsevskaya Bratva, a Dolgoprudnenskaya e a Izmailovskaya; todas as quais haviam perdido menos tempo que os investidores estrangeiros para pilhar a caótica economia russa. É claro que a Krasnaya Mafiya não se preocupava com as sutilezas dos negócios, e os investidores europeus e americanos logo ficaram bem cientes disso, uma circunstância que Yuriy ficou muito feliz em explorar. Essa era a palavra operacional de então — explorar —, e a única diferença entre ele mesmo, a máfia e o ladrão de rua era o método que cada um empregava para obter os resultados desejados. Para Yuriy o método era simples: proteção. Manter vivos os homens de negócio visitantes e fora das mãos de sequestradores. Algumas das gangues menores, pequenas demais para manter seus próprios esquemas sofisticados de proteção e extorsão, tinham aderido ao sequestro de europeus e americanos bem-vestidos, hospedados nos hotéis mais finos, enviando depois uma nota de resgate junto com uma orelha, dedo ou artelho cortados — ou coisa pior. A milícia local, malremunerada e sobrecarregada, era de pouca ajuda, e era mais comum que a vítima fosse assassinada, com o resgate pago ou não. Não havia honra entre os sequestradores. Apenas um pragmatismo brutal.
Yuriy contratou ex-colegas da KGB e paramilitares — a maioria antigos comandos Spetsnaz que também haviam ficado sem cobertura — para escoltar clientes na ida e na volta de suas reuniões e assegurar que deixassem o país vivos e ainda em posse de todas as suas partes. O dinheiro era bom, mas, ao mesmo tempo que a economia de Moscou (tanto a oficial quanto a subterrânea) prosperava, o custo de vida também disparava, e, enquanto muitos empreendedores como Yuriy ganhavam mais dinheiro do que jamais pensaram que existisse, também o viam se exaurir no mercado volátil e com o custo de vida insanamente alto. Era uma triste ironia ganhar tanto dinheiro ao mesmo tempo que o custo do pão subia juntamente com sua renda.
No final dos anos 1990, Yuriy havia economizado dinheiro suficiente para sustentar seus três netos na universidade, até ficarem adultos e com capacidade de se sustentar, mas sem dinheiro suficiente para se aposentar na longínqua e idílica cabana no mar Negro com a qual sonhara durante vinte anos.
As oportunidades vieram, a princípio vagarosamente e depois com mais regularidade, um pouco antes, e em seguida depois dos eventos do 11 de Setembro. Naquela manhã, os Estados Unidos despertaram para um fato que a KGB e muitos serviços de inteligência não ocidentais já sabiam havia muito tempo: fundamentalistas islâmicos declararam guerra aos Estados Unidos e seus aliados. Infelizmente para o país americano, esses fundamentalistas haviam evoluído, na última meia década, de loucos, irracionais e desorganizados, como frequentemente eram descritos nos jornais ocidentais, para soldados organizados e treinados, com um objetivo claro. Pior ainda, haviam aprendido o valor de redes de inteligência, recrutamento de agentes e protocolos de comunicação, coisas que tradicionalmente eram vantagens disponíveis apenas para agências nacionais de inteligência.
Com todas as suas conquistas e bênçãos, os Estados Unidos eram o gigante arquetípico, ignorando despreocupadamente flechas e pedras em função da noção dos canhões no horizonte, os mini 11 de Setembro que eram poucos e distantes entre si, e impossíveis até de chegar rapidamente às páginas internas do New York Times ou a rotação de notícias a cada 15 minutos na MSNBC ou na CNN. Os historiadores discutirão para sempre se a inteligência americana poderia ou deveria ter ouvido o ruído dos cascos a galope preparando o 11 de Setembro, mas sua intensificação certamente poderia ter sido detectada, considerando que remontava até bem antes, à primeira bomba no World Trade Center em 1993, passando pela bomba em 1998 da embaixada dos Estados Unidos no Quênia e pelo ataque ao USS Cole em 2000. Apenas para a CIA esses eram incidentes isolados; para as células terroristas afiliadas que os executaram, foram batalhas dentro da guerra. Apenas quando a guerra foi ruidosamente declarada aos Estados Unidos — por palavras e atos —, a comunidade de inteligência do país começou a compreender que aquelas flechas e pedras não poderiam ter sido ignoradas.
Pior ainda, o governo dos Estados Unidos e a CIA, apenas nos últimos anos, se afastaram do que Yuriy tinha apelidado de “mentalidade de Golem” — o foco obsessivo na cabeça gigante do inimigo enquanto ignorava seus dedos e artelhos. É claro que isso jamais mudaria totalmente, especialmente no que dizia respeito ao inimigo público número um, o Emir, que se transformara, em parte por sua própria determinação e em parte pela falta de outro candidato, como acreditava Yuriy, no golem americano. As nações precisavam de inimigos identificáveis, alguém para quem se pudesse apontar e gritar: “Perigo!”
Claro que Yuriy tinha pouco a se queixar disso. Como muitos de seus conterrâneos, ele se beneficiou dessa nova guerra — apesar de apenas recentemente, com muita relutância e não sem poucos arrependimentos. Começando em meados dos anos 1990, fundamentalistas islâmicos inchados com dinheiro começaram a bater nas portas dos russos, procurando contratar especialistas em inteligência errantes, cientistas nucleares e soldados de forças especiais. Como muitos de seus conterrâneos, Yuriy atendeu a porta, mas já estava velho e cansado, e precisava apenas de um pouco mais de dinheiro para aquela cabana no mar Negro. Com sorte, o encontro daquela noite resolveria o assunto.
Yuriy se sacudiu para se livrar do devaneio, afastou-se do parapeito e continuou a cruzar a ponte, depois atravessou mais dois quarteirões até um restaurante que exibia o nome Chiaka, tanto no alfabeto árabe como no cirílico. Atravessou a rua e achou um banco no parque, no ponto cego entre duas luminárias da rua, onde sentou e ficou observando. Levantou o colarinho para se proteger do vento e enfiou as mãos bem no fundo dos bolsos do sobretudo.
Chiaka era um restaurante checheno, de propriedade e operado por uma família muçulmana que prosperava sob os auspícios da Obshina, a máfia chechena. Do mesmo modo, o homem com quem iria se encontrar — que ele conhecia apenas como Nima — havia se introduzido na Rússia pelas graças da Obshina. Não importa, disse Yuriy a si mesmo. Ele já lidara com o sujeito duas vezes antes, uma para a realocação do que ele havia chamado de “associado”, e mais recentemente como intermediário em um recrutamento. Esse foi um caso interessante. Ele não tinha a menor ideia do que os sujeitos queriam com uma mulher daquele calibre em particular, e não se importava. Aprendeu há muito tempo a abafar esse tipo de curiosidade.
Observou por mais vinte minutos antes de ficar convencido de que não havia nada fora do comum. Ninguém por perto vigiando, fosse polícia ou não. Levantou-se, cruzou a rua e entrou no restaurante, que estava brilhantemente iluminado e mobiliado de modo espartano, com pisos de vinil preto e branco, mesas redondas de fórmica e cadeiras de madeira com encosto duro. Era a hora do movimento final do jantar, e quase todas as mesas estavam ocupadas. Alto-falantes no teto emitiam o som suave da música chechena tocada por pondur, com som similar à balalaica russa.
Yuriy esquadrinhou o restaurante. Alguns fregueses olharam quando ele entrou, mas quase imediatamente voltaram às suas refeições e conversas. Apesar de os russos não serem vistos frequentemente nos restaurantes chechenos, também não eram raros. A despeito da reputação deles, Yuriy nunca teve muitos problemas com os chechenos. A maioria só queria viver suas vidas, mas coitado daquele que decidissem matar. Poucas organizações eram tão brutais quanto a Obshina. Gostavam de suas facas, esses chechenos, e eram hábeis no uso delas.
Nos fundos, em um pequeno saguão, viu Nima sentado no último reservado, ao lado da porta da cozinha e do banheiro. Yuriy caminhou para lá, mas levantou um dedo de “espere um momento” para Nima quando passou e entrou no banheiro para lavar as mãos. Suas mãos estavam perfeitamente limpas, é claro. Seu interesse residia principalmente em confirmar que o banheiro estava vazio e que não havia entradas alternativas. Cuidado e atenção que uma pessoa normal acharia excessivo era o que o mantivera vivo como ilegal por muitos anos, e ele não via razão para agora mudar de hábitos. Secou as mãos e depois verificou se a pistola Makarov de 9 milímetros estava seguramente firme no coldre preso atrás do seu cinto. Saiu novamente e se sentou na cabine, de frente para o restaurante. A porta vaivém da cozinha estava à sua esquerda. Enquanto Yuriy estava no banheiro, Nima havia tirado seu paletó esporte. Deixou-o pendurado por sobre o reservado. A mensagem era clara: estou desarmado.
Então, o árabe abriu os braços e sorriu para Yuriy.
— Sei que é um homem cuidadoso, meu amigo.
Yuriy abriu seu paletó de volta.
— Tal como você.
Um garçom apareceu, anotou os pedidos de bebidas e desapareceu novamente.
— Obrigado por ter vindo — disse Nima.
O russo dele era bom, apenas com um leve sotaque árabe, e a pele suficientemente clara para que pudesse passar por um local, com algum sangue tártaro. Yuriy distraidamente se perguntou se o homem frequentara escolas no Ocidente.
— Claro, o prazer é meu.
— Não tinha certeza se você estava disponível.
— Para você, meu amigo, sempre. Me diga, seu colega chegou em segurança ao destino?
— De fato, conseguiu. E a mulher também. Pelo que já soube, ela corresponde exatamente ao que você nos disse que era. Meus superiores estão muito satisfeitos com a ajuda que você nos deu. Acredito que a compensação tenha sido satisfatória. Sem problemas?
— Sem problemas. — Realmente, o dinheiro estava depositado seguramente numa conta em Liechtenstein, rendendo poucos juros, mas a salvo dos olhares digitais inquiridores das agências de inteligência e da polícia. Ele ainda não havia decidido como movimentar seus fundos quando precisasse deles, mas sempre havia modos, especialmente se fosse cuidadoso e pagasse bem pelos serviços. — Por favor, transmita meus agradecimentos a seus superiores.
Nima balançou o queixo.
— Com certeza.
As bebidas chegaram: vodca para Yuriy e água com gás para Nima. Este bebeu um gole e depois disse:
— Temos outra proposta, Yuriy, algo que consideramos que você é especialmente preparado para fazer.
— Estou à sua disposição.
— Tanto quanto nossos dois arranjos anteriores, é um assunto delicado e não sem algum risco para você.
Yuriy abriu os braços e sorriu.
— Tudo que vale a pena na vida geralmente é.
— Essa é uma verdade. É claro, como você sabe...
Um grito veio da frente do restaurante, depois o ruído de copos quebrando. Yuriy levantou os olhos a tempo de ver um homem, evidentemente bêbado, empurrando a cadeira, um prato de comida não identificada na mão levantada. Os outros clientes o olhavam. O homem despejou uma enxurrada do que Yuriy supôs serem xingamentos em checheno que o sujeito acreditava adequados para descrever melhor a comida vagabunda da sua refeição, e depois saiu tropeçando na direção de um garçom com avental branco.
Yuriy deu uma risadinha.
— Um cliente insatisfeito, ao que parece... — Suas palavras foram sumindo quando percebeu que Nima não havia se virado na cadeira para observar a comoção e, em vez disso, olhava fixamente nos olhos de Yuriy com algo parecido pena. Os sinais de alarme começaram a tocar na cabeça do ex-agente da KGB. Distração, Yuriy, uma distração arranjada.
O tempo pareceu diminuir de velocidade.
Yuriy se inclinou para a frente, a mão procurando a Makarov nas suas costas. Seus dedos mal alcançaram o punho quando percebeu que a porta vaivém da cozinha estava totalmente aberta, um vulto parado na soleira.
— Sinto muito, meu amigo — ele ouviu Nima dizer em algum lugar distante de sua mente. — É melhor assim...
Por trás do ombro do árabe, Yuriy viu outro garçom se aproximando na direção deles, segurando uma tolha de mesa aberta, ostensivamente se preparando para dobrá-la. Uma cortina para esconder a ação... Yuriy viu movimento no canto de seu olho. Girou a cabeça a tempo de ver a figura na soleira da porta — outro garçom com avental branco —, erguendo alguma coisa escura e tubular nas mãos.
Em alguma parte ainda calma de seu cérebro, Yuriy pensou, Silenciador improvisado... Sabia que não iria escutar nenhum ruído nem ver clarão algum. Nem sentir dor.
Estava certo. A bala de ponta côncava da Parabellum 9 milímetros o atingiu logo acima da sobrancelha esquerda antes de se expandir na forma de um cogumelo de chumbo que transformou em geleia um pedaço de seu cérebro do tamanho de uma bola de softball.
10
— Filho da mãe! — resmungou o ex-presidente dos Estados Unidos, John Patrick Ryan, durante o café da manhã.
— O que é isso agora, Jack? — perguntou Cathy, apesar de saber perfeitamente o que era “isso”. Ela amava profundamente o marido, mas, quando um assunto atraía sua atenção, ele ficava como o proverbial cachorro com um osso, um traço que fez dele um bom espião e melhor presidente, mas nem sempre a melhor das almas com quem se estar junto.
— Esse idiota do Kealty não sabe o que faz. E o que é pior, não se importa. Matou 12 marines ontem em Bagdá. E sabe por quê? — Cathy Ryan não respondeu, pois sabia que a pergunta era retórica. — Porque alguém da equipe dele decidiu que, se os marines estivessem com os rifles carregados, isso poderia enviar uma mensagem equivocada. Droga, não se mandam mensagens para pessoas que apontam armas para você. E olhe só isso: o comandante da companhia foi atrás dos inimigos e liquidou cerca de seis deles antes que lhe ordenassem recuar.
— Quem?
— O comandante do batalhão, que provavelmente recebeu instruções da brigada, que recebeu a sua de algum advogado que os capangas de Kealty meteram no meio da linha de comando. O pior de tudo é que ele não se importa. Afinal, o orçamento está em discussão, e também tem aquela agitação sobre a porra daquelas árvores no Oregon que captam totalmente a atenção dele.
— Bem, para o bem ou para o mal, muitas pessoas ficam ouriçadas com a questão do meio ambiente, Jack — disse a professora Ryan ao marido.
Kealty, Jack ficou fervendo de raiva. Ele havia planejado tudo. Robby teria sido um grande presidente, mas ele não levou em conta a mente distorcida daquele velho filho da mãe da Ku Klux Klan que ainda estava esperando a hora de morrer no corredor da morte do Mississippi. Jack ficou no Salão Oval naquele dia — qual tinha sido mesmo? Seis dias antes da eleição, com Robby confortavelmente na frente das pesquisas. Não houve tempo para colocar as coisas de volta aos trilhos, a eleição foi um caos, Kealty como o único dos candidatos de peso que continuava concorrendo, e todos os votos dados a Robby anulados pelas circunstâncias. E tantos eleitores que simplesmente ficaram em casa confusos. Kealty, presidente por omissão, uma eleição confiscada.
O período de transição foi ainda pior, se é que fosse possível. O funeral, na igreja batista do pai de Jackson no Mississippi, era uma das piores lembranças de Jack. A mídia zombara da exibição de sua dor. Afinal, supunha-se que os presidentes deveriam ser robôs, mas Ryan nunca fora um desses.
E com uma puta razão, pensou.
Bem ali, bem naquela sala, Robby salvara a sua vida, a de sua mulher, a de suas filhas e a do seu filho ainda não nascido. Jack raramente experimentava raiva na vida, mas esse era um assunto que o fazia entrar em erupção como o Vesúvio num dia especialmente ruim. Até mesmo o pai de Robby fizera um sermão pregando o perdão, prova positiva de que o reverendo Hosiah Jackson era um homem melhor do que ele jamais seria. E qual seria o destino mais adequado para o assassino de Robby? Um tiro de pistola no fígado, talvez... poderia levar cinco ou dez minutos para o filho da mãe sangrar até morrer, gritando por todo o caminho até o inferno...
Pior ainda, corria o rumor de que o atual presidente contemplava a possibilidade de uma comutação generalizada de todas as sentenças de morte nos Estados Unidos. Seus aliados políticos já pressionavam na imprensa, planejando uma demonstração pública de clemência no Washington Mall. Clemência para as vítimas dos assassinos e sequestradores era algo sobre o qual jamais pensavam, é claro, mas, como para todos eles isso representava um princípio profundamente prezado, Ryan na verdade os respeitava.
O ex-presidente respirou fundo para se acalmar. Tinha trabalho a fazer. Havia dois anos trabalhava em suas memórias e estava na etapa final. O trabalho avançou mais rapidamente do que ele pensava, tanto que escreveu um anexo confidencial à sua biografia, que não veria a luz do dia até vinte anos depois de sua morte.
— Em que parte você está? — perguntou Cathy, pensando em seus compromissos do dia. Tinha quatro procedimentos a laser agendados. A equipe do Serviço Secreto que a protegia já verificara todos os pacientes, com receio de que um deles aparecesse na sala de cirurgia com uma pistola ou faca, um acontecimento tão improvável de acontecer que ela parara de se preocupar com isso. Ou talvez tivesse parado de pensar no assunto porque sabia que sua equipe sempre se preocupava com isso.
— Hein?
— No livro — esclareceu a esposa.
— Nos últimos meses. — Sua política fiscal e financeira, que na verdade funcionou até Kealty disparar um lança-chamas contra ela.
E agora os Estados Unidos da América andavam desnorteados sob a presidência — ou reinado — de Edward Jonathan Kealty, um membro da aristocracia alimentado com colherzinha de prata. Com o passar do tempo isso seria consertado, de uma maneira ou de outra, o povo providenciaria isso. Mas a diferença entre a ralé e a horda era que a ralé tinha um líder. O povo realmente não precisava disso. O povo podia passar sem um líder, porque um líder acabava aparecendo de um jeito ou de outro. Mas quem escolhia o líder? Era o povo. Mas o povo escolhia um líder a partir de uma lista de candidatos, e esses tinham que se autosselecionar.
O telefone tocou. Jack atendeu.
— Alô?
— Olá, Jack. — A voz era bem familiar. O olhar de Ryan se acendeu.
— Olá, Arnie. Como anda a vida na academia?
— Como é de se esperar. Viu as notícias de hoje?
— Sobre os marines?
— O que você acha? — perguntou Arnie van Damm.
— Não parece coisa boa.
— Acho que é ainda pior do que parece. Os repórteres não estão contando toda a história.
— E alguma vez fizeram isso? — refletiu Jack azedo.
— Não, não quando não gostam, mas alguns deles são íntegros. Bob Holtzman do Post está tendo um ataque de consciência. Ligou para mim. Quer conversar com você sobre suas opiniões, por fora, é claro.
Robert Holtzman do The Washington Post era um dos poucos repórteres em quem Ryan quase confiava, em parte porque sempre fora correto com ele e em parte porque era um ex-oficial da Marinha — um 1630, o código que a Marinha usava para designar um oficial da inteligência. Apesar de ter diferenças com Ryan sobre a maioria dos assuntos políticos, também era um homem íntegro. Holtzman conhecia coisas sobre Ryan que nunca publicara, apesar de serem histórias deliciosas, talvez até histórias que fizessem sua carreira. Mas, quem sabe, talvez apenas as tivesse guardando para um livro. Holtzman já havia escrito vários, um deles best seller, e ele ganhara um bom dinheiro por esse empreendimento.
— O que você disse a ele? — perguntou Jack a Arnie.
— Disse que perguntaria, mas que você, provavelmente, não apenas se negaria, como seria categórico em dizer não.
— Arnie, eu gosto do sujeito, mas um ex-presidente não pode ficar falando mal de seu sucessor...
— Mesmo se ele for um merda inútil?
— Mesmo assim — confirmou Jack, amargurado. — Talvez especialmente por isso. Mas espere aí. Eu pensei que você gostava dele. O que aconteceu?
— Talvez eu conviva demais com você. Agora ando com essa ideia maluca de que o caráter vale alguma coisa. Que nem tudo é manobra política.
— E ele é muito bom nisso, Arnie. Até eu reconheço. Arnie, quer vir aqui para conversarmos um pouco? — perguntou Ryan. Para que mais ele telefonaria numa sexta-feira de manhã?
— Está bem, ok, não sou lá muito sutil.
— Voe até aqui. Você é sempre bem-vindo em minha casa, sabe disso.
Cathy perguntou em voz baixa:
— Que tal jantar na terça-feira?
— Que tal vir jantar na terça-feira? — perguntou Jack a Arnie. — Pode passar a noite aqui. Vou avisar Andrea para esperar você.
— Faça isso. Sempre fico um pouco preocupado que essa mulher vá me dar um tiro, e, boa como ela é, duvido que será só uma feridinha. Então vejo você pelas dez da manhã.
— Ótimo, Arnie, até logo. — Jack desligou o telefone e se levantou para acompanhar Cathy até a garagem. Agora ela dirigia um Mercedes de dois lugares, apesar de recentemente admitir que sentia falta do helicóptero para voar até o John Hopkins. O bom da história é que agora ela brincava de motorista de corrida com seu agente do Serviço Secreto, o ex-capitão do 82º Aerotransportado, que se segurava morrendo de medo no assento de passageiro. Um sujeito sério. Estava de pé ao lado do carro, paletó desabotoado, o coldre de presilha visível.
— Bom dia, Dra. Ryan — cumprimentou.
— Olá, Roy. Como estão as crianças?
— Vão bem, obrigado, senhora. — Abriu a porta do carro.
— Tenha um bom dia de trabalho, Jack. — E o beijo matinal habitual.
Cathy se ajeitou, prendeu o cinto de segurança e ligou a besta de 12 cilindros que morava sob o capô. Acenou e disparou. Jack a observou desaparecer pela entrada para carros, na direção onde os veículos de ponta e de proteção esperavam, e depois voltou pela porta da cozinha.
— Bom dia, Sra. O’Day — saudou.
— Para o senhor também, presidente — disse a agente especial Andrea Price-O’Day, a agente principal de Jack. Ela também tinha um garotinho de pouco mais de 2 anos, chamado Conor, que era uma coisinha levada, Jack sabia. O pai de Conor era Patrick O’Day, inspetor de casos especiais do diretor Dan Murray do FBI, outra das nomeações de Jack com a qual Kealty não podia se meter, afinal não se permitia que o FBI virasse bola de futebol política — pelo menos, supunha-se que isso não podia acontecer.
— Como vai o pequeno?
— Muito bem. Mas ainda não sabe usar bem o pinico. Chora quando o vê.
Jack riu.
— Jack era assim também — disse ele. — Arnie vem aqui na terça-feira, por volta das dez da manhã. Jantar, e vai passar a noite aqui.
— Bem, não temos que investigar com muita profundidade — respondeu Andrea. Mas ainda verificariam sua posição no computador da Informação Criminal Nacional, só para ter certeza. O Serviço Secreto confiava em poucos, mesmo das suas próprias fileiras, desde que Aref Raman se revelara um inimigo. Aquilo tinha provocado a maior dor de cabeça no Serviço. Porém seu próprio marido havia ajudado a prender aquele sujeito, e Raman permaneceria na prisão federal de Florence, no Colorado, por muito, muito tempo. A mais rígida de todas as penitenciárias federais, Florence era tão segurança máxima quanto a mais máxima das seguranças poderia ser, enfiada na rocha e totalmente no subsolo. Os hóspedes de Florence só viam o sol na televisão preto e branco.
Ryan entrou na cozinha. Ele poderia ter perguntado mais. O Serviço mantinha um monte de segredos. Poderia conseguir uma resposta porque ele, também, fora presidente em exercício, mas isso era algo que simplesmente não queria fazer.
E ainda havia trabalho a ser feito. Assim, serviu-se de mais uma xícara de café e se dirigiu à sua biblioteca para trabalhar no capítulo 48, versão 2. George Winston e o sistema de impostos. Tinha funcionado bem, até Kealty decidir que algumas pessoas não estavam pagando “sua parcela justa”. Kealty, é claro, era o árbitro único e final do que era “justo”.
11
OXITS daquela manhã continha uma interceptação criptografada para a qual o Campus tinha a chave. O conteúdo dificilmente poderia ser mais inócuo, tanto que a criptografia era supérflua. A prima de alguém havia parido uma menininha. Tinha que ser puro código em texto. “A cadeira está encostada na parede” foi uma frase desse tipo usada na Segunda Guerra Mundial para alertar a resistência francesa a fazer alguma coisa com o exército de ocupação alemão. “Jean tem bigodes compridos” alertara que a invasão do Dia D era iminente, tal como “Machuca meu coração com um langor monótono”.
Então, o que isso significa?, perguntou-se Jack. Talvez alguém tivesse tido um bebê, uma menina, o que não era um acontecimento de grande importância no mundo árabe. Ou talvez tivesse acontecido alguma grande (ou pequena) transferência de dinheiro, que era como eles tentavam rastrear as atividades da oposição. O Campus eliminara quem fazia essas transferências de dinheiro. Um deles era Uda Bin Sali, que morrera em Londres pela mesma caneta que Jack usou em Roma para abater MoHa, o qual, ele soube depois, era um rapaz bastante levado.
Algo atraiu a atenção do olhar de Jack. Hein? A distribuição do e-mail continha uma quantidade incomum de endereços franceses. Alguma coisa está sendo cozinhada ali?, perguntou-se.
— Você está de novo dando chifradas na parede? — perguntou Rick Bell a Jack vinte minutos mais tarde. Como Jack, o chefe de análise do Campus tinha a sensação de que o anúncio de nascimento era amorfo demais para gerar excitação.
— O que mais se faz num curral? — perguntou Jack. — Além do bebê, há algumas transferências bancárias, mas o pessoal do andar de baixo já está trabalhando nisso.
— Grande?
Ryan meneou a cabeça.
— Não, o pacote todo não chega a meio milhão de euros. Dinheiro de manutenção de casas. Também não há bilhetes aéreos para rastrear. De qualquer modo, o FBI já está trabalhando nisso, tanto quanto é capaz sem nossa coleção de chaves de cifras.
— E isso não vai durar — opinou Bell. — Não deve demorar muito para que eles mudem o sistema de criptografia, e vamos ter que começar do zero novamente. O melhor que podemos esperar é que não façam isso antes de nós quebrarmos alguma coisa importante. Nada mais?
— Só perguntas, como onde o grande pássaro se esconde? E nem sinal disso.
— A NSA vigia todos os sistemas de telefone do mundo. Já está até forçando os computadores deles. Querem comprar mais dois novos mainframes da Sun Microsystems. A verba está sendo liberada esta semana. Os nerds já estão começando a montar as caixas lá na Califórnia.
— A NSA alguma vez ficou fora do ar ou com poucos recursos?
— Não, desde que eu me conheço por gente — retrucou Bill. — Basta eles preencherem corretamente os formulários e se humilharem adequadamente diante dos comitês parlamentares.
A NSA sempre conseguia o que queria, isso Jack sabia. Mas a CIA não. A Agência de Segurança era mais confiável e discreta. Salvo o Trailblazer, que não era. Não muito depois do 11 de Setembro, a NSA percebeu que sua tecnologia de intercepção, SIGINT, era lamentavelmente inapropriada para lidar com o volume de tráfego que eles tentavam não apenas digerir como disseminar e, assim, uma companhia de San Diego, a SAIC (Corporação Internacional de Aplicações Científicas), foi contratada para aperfeiçoar os sistemas de Fort Meade. O projeto chamado Trailblazer durou 26 meses, consumiu 280 milhões de dólares e não deu em nada. Então a SAIC ganhou mais 380 milhões de dólares em um contrato para o sucessor do Trailblazer. O desperdício de dinheiro e tempo fez cabeças rolarem na NSA e prejudicou sua imagem até então impecável no Congresso. O projeto Execute Locus, embora ainda estivesse em desenvolvimento, não havia passado da fase beta, de modo que a NSA suplementava seus computadores de interceptação com os mainframes Sun, que, apesar de efetivamente poderosos, eram equivalentes a sacos de areia colocados para conter um tsunami. Pior ainda, quando o Execute Locus ficasse pronto e on-line, já estaria descendo a ladeira da obsolescência, graças principalmente ao übercomputador Sequoia da IBM.
Para alguém que se considerava um entendido em tecnologia, como Jack, a capacidade do Sequoia era estonteante. Mais rápido que os quinhentos mais rápidos supercomputadores do mundo, o Sequoia podia executar 20 quatrilhões de processos matemáticos por segundo, estatística que só podia ser compreendida por redução comparativa: se cada um dos 6,7 bilhões de habitantes da Terra fosse armado com uma calculadora e trabalhassem juntos num cálculo 24 horas por dia, todos os dias do ano, demoraria mais de três séculos para fazer o que o Sequoia fazia em uma hora. Por outro lado, o Sequoia ainda não estava realmente disponível para uso. Segundo os últimos relatórios, estava abrigado em 96 racks do tamanho de refrigeradores, ocupando uma área de mais de 300 metros quadrados.
Grande como uma boa casa de dois andares, pensou Jack. E depois: Será que estão fazendo tours?
Agora era Bill quem perguntava:
— Então, por que você acha que isso é importante?
— Qual a razão de criptografar um anúncio de nascimento? — replicou Ryan. — E nós quebramos isso com a chave deles. Ok, talvez os inimigos tenham famílias com crianças, mas não há nome da mãe, do pai ou da garota. É clínico demais.
— Verdade — comentou Bell.
— Mais uma coisa. Há um recipiente novo na lista de distribuição, que usa um servidor diferente. Talvez valha a pena dar uma olhada. Talvez ele não seja tão cuidadoso com seus apoiadores e finanças como os outros.
Até então, todos os e-mails da “Conexão Francesa” chegavam através de fornecedores de acesso à internet, os ISP, ocultos e usando contas de e-mail do tipo “mande e esqueça” com nada mais que fantasmas na outra ponta, pois todos se originavam de provedores estrangeiros. O Campus possuía poucas maneiras de olhar por baixo do assoalho. Se os franceses estivessem cooperando, simplesmente entrariam no ISP e tirariam as informações da conta. Pelo menos conseguiriam o número do cartão de crédito, e dali podiam conseguir o endereço para onde a conta era enviada mensalmente, a menos que fosse um cartão falsificado, mesmo assim seria possível deslanchar uma operação de rastreamento e tentar reunir as outras peças. Era a teoria do quebra-cabeça: muitas peças pequenas terminam por deixar claro um quadro maior. Com sorte.
— Talvez seja preciso hackear um pouco, mas é possível que consigamos o suficiente para jogar um anzol para esse sujeito.
— Vale a pena tentar — concordou Bill. — Vá em frente.
Por sua parte, o anúncio do nascimento chegou como uma surpresa feliz para Ibrahim. Escondida dentro da transmissão aparentemente inócua havia três mensagens: sua parte no Lótus passava para a fase seguinte, os protocolos de comunicação estavam sendo mudados e um estafeta estava a caminho.
Já era final da tarde em Paris e a cidade se agitava com a hora do rush. O tempo estava agradável. Os turistas estavam voltando — dos Estados Unidos, para satisfação comercial e descontentamento filosófico dos parisienses, para provar da comida e do vinho, e visitar os pontos turísticos. Agora muitos vinham de trem desde Londres, mas se podia adivinhar de onde eram pelas roupas. Os motoristas de táxi tiravam seus honorários circulando, dando aulas informais de pronúncia e resmungando sobre o tamanho das gorjetas — ao menos os americanos entendiam sobre dar gorjetas, ao contrário da maioria dos europeus.
Ibrahim Salih al-Adel estava completamente aclimatado. Seu francês era tão bom que os parisienses tinham dúvidas sobre a origem de seu sotaque, e ele circulava como qualquer outro local, sem ficar embasbacado feito um macaco no zoológico. Estranhamente, eram as mulheres que mais o ofendiam. Saltitavam orgulhosas com suas roupas na moda, muitas vezes com adoráveis e caras bolsas de couro penduradas nas mãos, mas geralmente calçando sapatos confortáveis, porque ali as pessoas caminhavam mais que dirigiam. Melhor para exibir o orgulho deles, pensou.
Ele teve um dia rotineiro no trabalho, a maior parte vendendo filmes em vídeos e DVDs, principalmente filmes americanos dublados em francês ou com legendas — o que permitia que seus clientes aperfeiçoassem suas habilidades no inglês aprendido nas escolas. (Apesar de os franceses desdenharem muito dos americanos, um filme era um filme, e os franceses adoravam cinema mais que a maioria das nacionalidades.)
Então amanhã ele começaria a reunir a equipe para iniciar de verdade o planejamento da missão, algo mais facilmente discutido em uma mesa de jantar do que realmente realizado. Mas ele já levara isso em consideração, ainda que no recolhimento de seu apartamento e não realmente no campo. Algumas coisas podiam ser feitas dali, pela internet, mas apenas em termos gerais. As particularidades do alvo só podiam ser acessadas quando estivessem no terreno, mas fazer o dever de casa lhes pouparia um tempo precioso. Algumas das peças logísticas já estavam no lugar, e até então seu informante no estabelecimento havia se revelado estável e confiável.
O que ele precisava para a missão? Algumas pessoas. Fiéis, todos eles. Quatro. Não mais que isso. Um deles precisava ser especialista em explosivos. Automóveis não detectáveis — sem problemas nesse ponto, é claro. Bom domínio de idiomas. Deviam aprender o papel, o que não seria difícil, dada a localização do alvo; poucas pessoas podiam detectar as sutilezas da cor da pele, e ele falava inglês sem muito sotaque, então isso também não seria problema.
Mais importante, no entanto, é que cada um dos membros da equipe tinha que ser um autêntico fiel. Disposto a morrer. Disposto a matar. Era fácil para alguém de fora pensar que o primeiro era mais importante que o último, mas, embora houvesse muitos desejando jogar fora suas vidas, era muito mais útil apenas descartar a vida se isso fosse servir para avançar a causa. Eles se viam como guerreiros sagrados e queriam suas 72 virgens, porém de fato eram jovens com poucas perspectivas, para os quais a religião era o caminho para a grandeza que de outro modo jamais teriam. Era notável como eram tão estúpidos para sequer enxergar isso. Mas por isso ele era o líder, e os demais, seus seguidores.
12
Mesmo se ela não tivesse ido antes no motel, teria poucas dificuldades para encontrá-lo, bem ao lado do que a cidade de Beatty otimistamente chamava de rua principal, que na verdade não era mais que um pedaço de 800 metros de estrada, com velocidade reduzida a 50 quilômetros por hora entre as rodovias 95 e 374.
O próprio hotel — o Motel 6 do Vale da Morte — tinha, apesar da aparência exterior, quartos relativamente limpos que cheiravam a sabão desinfetante. Não apenas ela já havia visto piores, como também já exercera suas... habilidades especiais, em lugares piores. E com homens piores, e por muito menos dinheiro. Se havia alguma coisa que a chateava era o próprio nome do motel.
Uma tártara keräsen de nascimento, Allison — seu nome real era Aysilu, que em turco significava bela como a lua — herdou da mãe, do pai e de seus ancestrais um saudável respeito por presságios, tanto os sutis quanto os abertos, e o nome Motel 6 do Vale da Morte certamente se qualificava como um desses últimos.
Não importa. Presságios eram voláteis e o significado sempre estava aberto para interpretações. Nesse caso, o nome do motel dificilmente se aplicava a ela. Seu alvo estava muito embevecido com ela para ser alguma ameaça, direta ou indiretamente. E o que ela tinha vindo fazer aqui exigia pouco pensar de sua parte, tão bem fora treinada. E ajudava o fato de os homens serem simples, criaturas previsíveis, motivados pelas necessidades mais básicas.
— Homens são argila — dissera-lhe uma vez sua primeira instrutora, uma mulher chamada Olga, e mesmo na tenra idade de 11 anos ela sabia que isso era verdade, tendo visto os olhares prolongados dos rapazes de sua aldeia, e mesmo os olhares sempre observadores de alguns homens.
Mesmo antes de ela começar a passar pelas mudanças e seu corpo principiar a florescer, instintivamente sabia qual era o sexo mais belo, que era também o mais forte. Os homens eram fisicamente fortes, e isso tinha seus benefícios e prazeres, mas Allison moldava uma força diferente, que havia lhe servido muito bem, mantendo-a viva em situações perigosas, e confortável nos tempos difíceis. E agora, com 22 anos, sua aldeia deixada para trás, sua força a tornava rica. Melhor ainda, ao contrário de muitos de seus empregadores anteriores, o atual nem exigira uma demonstração da parte dela. Se isso era em função de seus ideais religiosos estritos ou simplesmente profissionalismo, ela não sabia, mas eles a tinham aceitado de boa-fé pelo valor de face, juntamente com as recomendações — ainda que ela não soubesse de quem. Certamente de alguém influente. O programa de treinamento pelo qual havia passado, agora descontinuado, existia sob um manto de segredo bem-guardado.
Ela dirigiu, passando pelo estacionamento do motel, depois deu uma volta pelo quarteirão e voltou na outra direção, procurando por qualquer coisa fora do lugar, alguma coisa que mexesse com sua intuição. Viu o veículo dele, uma picape Dodge azul 1990, juntamente com meia dúzia de outras, todas com placas do estado, menos uma da Califórnia e uma do Arizona. Satisfeita de ver tudo em ordem, entrou em um posto de gasolina, manobrou e voltou ao motel, estacionando a duas vagas da picape Dodge. Levou um tempo retocando a maquiagem no espelho retrovisor e tirou um par de camisinhas do porta-luvas. Jogou-as dentro da bolsa, que fechou com um sorriso. Ele começara a se queixar das camisinhas, dizendo que não queria ter nada entre eles, mas ela objetou, dizendo que preferia esperar que se conhecessem melhor, talvez fazer um teste para doenças sexualmente transmissíveis, antes de levar o relacionamento a um patamar mais elevado. A verdade era que familiaridade e cuidado não tinham nada a ver com sua hesitação. Seu empregador havia sido bastante detalhista, fornecendo-lhe um dossiê minucioso sobre o homem, desde sua rotina diária até seus hábitos de alimentação e a história de seus relacionamentos. Ele tivera duas amantes antes dela, uma namorada no colégio que o dispensou entre o penúltimo e o último ano na escola, e outra pouco depois de se formar na universidade. Esse, também, foi um relacionamento breve. A probabilidade de ele possuir alguma doença era quase inexistente. Não, o uso de camisinhas não era mais que outra ferramenta do seu arsenal. A proximidade pela qual ele ansiava era uma necessidade, e necessidades eram simplesmente pontos de alavancagem. Quando ela finalmente “cedesse” e deixasse que ele a possuísse sem proteção, isso serviria apenas para reforçar o domínio dela sobre ele.
Argila, pensou.
Ela não poderia mais postergar o assunto por muito tempo, pois seu empregador lhe perguntava informações que ela ainda não havia extraído. A razão da impaciência ou o que pretendiam fazer com a informação que ela lhes transmitia era assunto deles, mas evidentemente os segredos desse homem eram de importância crítica. Esse tipo de coisas, porém, não podia ser apressada. Não se você quisesse bons resultados.
Ela saiu, trancou a porta do carro e caminhou para o quarto. Como de hábito, ele havia deixado uma rosa pendurada entre a maçaneta e o batente da porta — o código “deles” para que ela soubesse onde ele estava. Era um homem doce, diga-se a verdade, mas tão fraco e carente que ela achava quase impossível sentir por ele qualquer outra coisa que não desdém.
Ela bateu à porta. Escutou passos caminhando rapidamente em direção a ela, depois a corrente chacoalhando enquanto era destrancada. A porta se abriu e lá estava ele em sua calça de veludo cotelê e uma da meia dúzia de camisetas andrajosas que usava, todas com referência a algum filme de ficção científica ou programa de televisão.
— Olá — arrulhou ela, balançando as cadeiras como uma modelo na passarela. Anos de treinamento a haviam deixado sem nenhum traço de sotaque. — Feliz por me ver?
O vestidinho de alça — da cor de pêssego que ele gostava tanto — se ajustava nos lugares certos e ondulava nos outros, o balanço perfeito entre castidade e provocação. A maioria dos homens, mesmo se não percebessem isso, gostava que suas mulheres fossem damas no cotidiano e putas na cama.
Seu olhar faminto terminou de percorrer suas pernas e seus seios, e depois repousaram em seu rosto.
— Hã, sim... Puxa, sim — murmurou. — Vamos, entre logo.
Fizeram amor duas vezes nas duas horas seguintes, a primeira vez durando apenas alguns minutos, e a segunda, dez, e apenas tanto porque ela o controlou. Músculo de diferentes tipos, pensou. Mas não menos poderosos. Quando terminaram, ele ficou deitado de costas, arquejando, o peito e o rosto pegajosos de suor. Ela rolou e se aconchegou no ombro dele, exalando pesadamente.
— Puxa — murmurou ela. — Essa foi... Puxa...
— É, foi sim — respondeu ele.
Steve não era um sujeito feio, com cabelos ruivos ondulados e olhos azul-claros, mas era magro demais para seu gosto, e sua barba coçava em seu rosto e em suas coxas. Mas era limpo e não fumava, e seus dentes eram bons, de modo que, pelo que ela sabia, podia ser pior.
Quanto às suas habilidades como amante... eram quase inexistentes. Era um amante ultra-atencioso e gentil demais, sempre preocupado se estava fazendo alguma coisa errada ou se deveria estar fazendo algo diferente. Ela fazia o melhor possível para lhe dar segurança, dizendo todas as coisas certas e fazendo os ruídos certos em todos os momentos certos, mas suspeitava que lá no fundo da mente dele estava a preocupação de perdê-la — não que a “tivesse” realmente.
Era a quintessência da síndrome de a bela e a fera. Ele não a perderia, é claro, pelo menos até ela conseguir as respostas que seus empregadores queriam. Allison sentiu um momentâneo sentimento de culpa, imaginando como ele reagiria quando ela desaparecesse. Tinha bastante certeza de que ele havia se apaixonado por ela, o que, afinal, era o ponto central, mas ele era tão... inofensivo que era difícil não sentir de vez em quando pena por ele. Difícil, mas não impossível. Ela expulsou o pensamento da cabeça.
— E como vai o trabalho? — perguntou Steve.
— Tudo bem, sempre a mesma coisa: dando minhas voltas, vendendo meu peixe, dando meu número de telefone e mostrando um pouco meu decote para os médicos...
— Ei!
— Relaxe, estou brincando. Muitos médicos estão preocupados é com o recall.
— Na TV, os analgésicos?
— Esses aí. Mas estamos recebendo muita pressão pelo fabricante para continuar empurrando.
Pelo que ele sabia, ela era representante de laboratórios farmacêuticos de Reno. Eles “se conheceram” numa Barnes & Noble, onde, na Starbucks da loja, Allison se viu sem um centavo para pagar seu Caffé Mocha. Atrás dela na fila, Steve nervosamente se ofereceu para pagar a conta dela. Armada com seu dossiê — ou com a pequena parte que ela achou que devia ler —, e consciente de seus hábitos, o encontro foi facilmente combinado e mais fácil ainda quando ela mostrou interesse pelo livro que ele lia, algo sobre engenharia mecânica sobre o qual na verdade ela não sabia nada. Steve nem havia percebido, tão feliz em ter uma garota bonita prestando atenção nele.
— Então, sobre toda essa coisa de engenharia... — disse ela. — Não sei como você faz isso. Tentei ler um dos livros que me emprestou, mas não entendi nada.
— Bem, você é muito esperta, com certeza, mas é um assunto muito árido. Não se esqueça de que passei quatro anos na universidade por conta disso, e mesmo assim não aprendi realmente nada de prático até conseguir esse emprego. O MIT me ensinou muito, mas nada comparado com o que aprendi desde então.
— Assim como?
— Ah, você sabe, coisas.
— Coisas como?
Ele não respondeu.
— Está bem, está bem. Já saquei, Sr. Sujeito Secreto Muito Importante.
— Não é isso, Ali — respondeu, num tom levemente lamuriento. — É que eles fazem você assinar todos aqueles papéis... Acordo de confidencialidade e tudo mais.
— Puxa, você deve ser importante.
Ele fez que não com a cabeça.
— Nada... Você sabe como é o governo... completamente paranoico. Diabo, fico até surpreso por eles não nos passarem pelo polígrafo, mas quem sabe?
— Então o que é? Armas e bombas e coisas assim? Espere um instante... Você é cientista de foguetes?
Ele deu uma risadinha.
— Não, nada de cientista de foguetes. Engenheiro mecânico, engenheiro comum e corrente.
— Um espião? — Ela se apoiou no cotovelo, deixando o lençol cair e revelar um seio pálido. — É isso aí, não é? Você é um espião.
— Não, também nada de espião. Quer dizer, olhe só para mim. Sou um nerd.
— O disfarce perfeito.
— Cara, você tem mesmo muita imaginação, pode crer.
— Mas você se esquiva das perguntas. E isso é conhecido, típica manobra de espião.
— Nada disso. Sinto muito desapontar você.
— Então o quê? Me diga...
— Trabalho no DOE, o Departamento de Energia.
— Como energia nuclear e essas coisas.
— Certo.
A verdade é que ela sabia exatamente o que ele fazia para ganhar a vida, onde trabalhava e o que acontecia por lá. O que ela procurava — o que eles procuravam — era muito mais específico. Acreditavam que ele conhecia a informação, talvez já na sua cabeça, e, se não, certamente possuía acesso a ela. Allison pensou distraída por que eles a escolheram para fazer o serviço em vez de extrair a informação à força. Suspeitava que a resposta tinha muito a ver tanto com onde ele trabalhava quanto com a não confiabilidade da tortura. Se Steve desaparecesse ou morresse em circunstância mesmo que remotamente suspeita, haveria uma investigação não apenas pela polícia local, como também pelo FBI, o tipo de escrutínio que seu empregador provavelmente estava muito ansioso para evitar. Ainda assim, o fato de eles não terem escolhido o método mais direto lhe dizia algo: a informação que precisavam era tão crítica quanto extraordinária. Steve era provavelmente sua única fonte viável para obtê-la, o que significava que esta ou era altamente protegida em outro lugar ou que o conhecimento que ele tinha sobre isso era bastante particular.
Não que isso importasse. Ela faria o trabalho, pegaria o dinheiro e depois... bem, quem sabe?
Sua remuneração era considerável, talvez o suficiente para lhe dar um ponto de partida para começar uma nova vida em outro lugar, fazendo outra coisa para se manter. Algo comum, como ser bibliotecária ou contadora. Sorriu com o pensamento. Ser comum podia ser muito bom. Ela teria que ser bem cuidadosa, entretanto, com essas pessoas. Seja lá como eles estivessem planejando usar a informação, era mortalmente importante, o suficiente para assassinar alguém.
De volta ao trabalho...
Preguiçosamente, ela passou o dedo pelo peito dele.
— Mas você, tipo, não corre perigo ou coisa parecida, não é? Quero dizer, de pegar um câncer ou coisa assim.
— Bem, não — disse ele. — Na verdade, não. Acho que há um pouco de risco, mas temos protocolos, regras e regulamentos, de modo que só se você ferrasse com tudo para se machucar.
— Então isso nunca aconteceu, com ninguém?
— Claro que sim, mas geralmente é por estupidez, como algum sujeito que teve o pé esmagado por uma empilhadeira ou se engasga com nachos na cafeteria. Já tivemos alguns casos graves em... em outros lugares, mas isso só acontece quando alguém tenta cortar caminho, e, mesmo quando isso acontece, existem sistemas de backup e procedimentos. Acredite em mim, benzinho, eu estou bem seguro.
— Que bom, fico feliz. Odeio pensar que você pode se machucar ou adoecer.
— Isso não vai acontecer, Ali. Sou muito cuidadoso.
Veremos, pensou ela.
13
Jack Jr. se apertou contra a parede e deslizou por ela, sentindo as farpas das tábuas grosseiras agarrarem na sua camisa. Chegou no canto e parou, pistola na postura Weaver, com as duas mãos, cano apontado para baixo. Não como nos filmes de Hollywood ou nos programas policiais da TV, pensou, nos quais sempre carregam a arma com o cano apontado para cima e bem do lado do rosto. Claro, parecia muito legal — nada enquadrava melhor o queixo firme e os olhos azuis do herói do que uma volumosa Glock —, mas ali não se tratava de parecer legal, mas sim sobre continuar vivo e abater os inimigos. Ter crescido na Casa Branca, cercado pelos profissionais do Serviço Secreto que conheciam suas armas melhor que seus próprios filhos certamente tinha suas vantagens, não é mesmo?
O problema com o modo hollywoodiano de manuseio de armas era duplo: visão do local e emboscada. O combate com armas de mão no mundo real se tratava de atirar direto e sob pressão, e isso, por sua vez, se referia sempre ao estado mental e à visão do local. O primeiro dizia respeito ao condicionamento; o segundo, à mecânica. Era muito mais fácil e muito mais eficaz ter a arma levantada, ter uma boa visão do local e do alvo e dar um tiro do que fazer isso tudo ao revés. O outro fator — emboscada — era sobre o que acontece quando você dobra um canto para se ver face a face com o bandido. Você vai querer a arma levantada, perto do seu rosto, ou mais baixa, onde poderia, só poderia, ter a oportunidade de disparar um tiro na perna do sujeito antes que este o agarrasse e a situação evoluísse para uma luta livre sem regras? Isso não acontecia com muita frequência, é claro, mas, no que dizia respeito a Jack e a todos os verdadeiros atiradores, era muito melhor lutar com um inimigo que estivesse com uma bala 9 milímetros na perna do que o contrário.
Teoria, Jack, lembrou-se ele, voltando para o aqui e agora. Teorias são para salas de aula, e não para o mundo real.
E onde diabos estava Dominic? Eles haviam se separado na porta da frente, Dominic saindo pela direita para checar os aposentos do fundo da casa — os aposentos potencialmente mais “pesados” —, e Jack, pela esquerda, na direção da cozinha e sala de estar, mais abertos. Não se preocupe com Dominic. Se preocupe com você. Seu primo era do FBI — pelo menos oficialmente —, e não precisava de nenhuma lição sobre essas coisas.
Jack passou a arma para a mão esquerda, secou a palma na perna das calças e depois trocou novamente de mãos. Respirou fundo, deu um pequeno passo atrás e espreitou pela esquina. Cozinha. Refrigerador à direita, balcão cor de abacate, pia de aço inox e micro-ondas de balcão à esquerda; mesa de jantar e cadeiras mais adiante, depois do fim do balcão, ao lado da porta dos fundos.
Jack observou o lugar em busca de movimento e não viu nada. Então avançou, com a arma levantada perto da altura do ombro, olhos em movimento, cano da pistola seguindo o olhar, então rastejou para a cozinha. Adiante e à direita uma passagem em arco levando à sala de estar, ele supôs, projetando mentalmente a planta. Dominic deveria vir pela sala da direita para se juntar a ele...
— Jack, janela dos fundos! — gritou Dominic de algum lugar no fundo da casa. — Alguém correndo! Localizei pela janela lateral! Branco, casaco vermelho, armado... Estou nele!
Jack resistiu ao impulso de avançar de vez e, ao contrário, continuou se movendo devagar e continuamente, verificando o restante da cozinha, depois espreitando pelo canto que levava à sala de estar. Limpo. Parou ao lado da porta do pátio, corpo alinhado à esquerda da maçaneta e na esperança de que os batentes de vigas 4x6 por baixo da alvenaria insossa deteriam, ou pelo menos amorteceriam, balas atiradas contra ele, depois se abaixou para espreitar o beco atrás da casa pela portinhola. Viu à sua direita uma figura se movendo no fundo do beco: colete azul, letras amarelas. O colete do FBI de Dominic. Jack abriu a porta, olhou novamente, depois abriu a porta de tela. Diante dele havia uma porta escura na parede de tijolos; à sua esquerda, uma lixeira verde. Caminhou naquela direção. Arma em punho, procurando alvos. Viu uma sombra se movendo na porta e deu a volta a tempo de enxergar uma silhueta de homem na soleira.
— Parado! Não se mova, não se mova! — gritou, mas a figura continuou se movendo, braço esquerdo aparecendo à luz, a mão segurando um revólver. — Jogue isso fora! — gritou Jack mais uma vez, e, na batida seguinte do coração, disparou duas vezes, os dois tiros alcançando o centro da massa. A figura caiu de costas na soleira. Jack se virou novamente, de volta para a lixeira, movendo-se até poder ver atrás da esquina, procurando por...
Então alguma coisa bateu nas suas costas, entre os ombros, e ele tropeçou para a frente. Sentiu o sangue subir à cabeça e pensou, Ah, merda, puta que pariu... Bateu na lixeira, o ombro esquerdo sofrendo o maior impacto, e tentou girar no calcanhar na direção da fonte do disparo... Sentiu outra bala bater no seu lado, logo abaixo da axila, e soube que era tarde demais.
— Parem! — gritou uma voz pelo megafone, seguida de três assovios rápidos que ecoaram pelo beco. — Interromper exercício, interromper exercício!
— Puxa, cara... — murmurou Jack, depois se inclinou na lixeira e expirou profundamente.
O homem que acabara de atirar nele — o agente especial Walt Brandeis — saiu da soleira e sacudiu tristemente a cabeça.
— Deus do céu. Morrer assim, filho, com tinta verde no meio das costas... — Jack podia ver o meio sorriso aparecer nos lábios de Brandeis enquanto lhe olhava de cima abaixo, e depois fez um muxoxo. — É simplesmente uma vergonha, isso é o que é.
Dominic apareceu na esquina do beco, correndo e parou de repente, e depois disse:
— De novo?
— Eis o problema, Jack: você estava...
— Apressado, eu sei.
— Não, não desta vez. É mais que isso. A pressa não foi seu problema principal, foi parte dele, mas não foi por isso que você foi morto. Quer dar um palpite?
Jack Jr. pensou um instante.
— Eu supus.
— A porra que você fez foi mesmo supor. Você supôs que o alvo que viu naquela porta era o único presente. Você supôs que, depois de liquidá-lo, podia deixar de se preocupar com isso. É o que eu chamo de Síndrome do Alívio de Emboscada. Não vai achar isso nos manuais, mas acontece assim: você sobrevive a uma emboscada, escapando por pouco, e se sente como se fosse de ouro. Subconscientemente, rotula na sua mente aquela porta e a sala de “não checada” para “limpa”. Ora, se isso fosse uma situação de verdade e houvesse dois deles ali dentro, o criminoso médio idiota provavelmente teria aparecido para você no mesmo momento que seu colega fez isso, mas sempre existem as exceções por aí, como essa criatura rara, o bandido esperto, e as exceções matam você.
— Você está certo — murmurou Jack, bebendo um gole de Coca Light. — Droga.
Juntamente com Brian, que não participara do último exercício, ele e Dominic se reuniram na sala de descanso depois do interrogatório de relatório feito por Brandeis, que não diminuiu em nada a força da reprimenda, filho de ex-presidente ou não. Ele disse a Jack basicamente o mesmo que Dominic, só que de modo mais divertido. Brandeis, nascido no Mississippi, tinha um jeito caipira de falar que tirava um pouco da acidez da crítica. Um pouco, mas não tudo. O que é que você pensava, Jack, que viria para cá e já bancaria o especialista?
Como a maior parte das dependências do centro de treinamento urbano do FBI, em Quantico, afetuosamente chamado de Hogan’s Alley, a sala de descanso era espartana, com paredes e assoalho de madeira, e mesas de fórmica que pareciam ter sido marteladas. Mas o cenário do curso não tinha nada de desmazelado, com seu banco, agência de correios, barbearia e salão de bilhar. E entradas escuras, pensou Jack. Tudo aquilo parecia bem real, assim como a bala de paintball que atingira suas costas. Ainda coçava, e ele suspeitava que veria um belo vergão quando fosse ao chuveiro mais tarde. Mas, bala de paintball ou não, ele estava morto. Suspeitou que usavam paintball por conta dele. Dependendo do cenário do treinamento e os agentes que nele estivessem, o Hogan’s Alley podia ser muito mais barulhento e assustador. Jack já havia até ouvido boatos de que a HRT — Equipe de Resgate de Reféns — às vezes usava munição verdadeira. Mas, a bem dizer, esses caras eram os melhores dos melhores.
— E você aí? Não vai falar nada? — perguntou Jack a Brian, que estava escarrapachado na cadeira, balançando nas duas pernas de trás. — Eu posso aguentar logo toda a advertência.
Brian meneou a cabeça e sorriu, acenando para seu irmão.
— Aqui é o pedaço dele, primo, não o meu. Quando você for até as Vinte e Nove Palmeiras, nós conversamos. — Os marines tinham seu próprio e assustador campo de treinamento de combate urbano, chamado MOUT (Operações Militares em Terreno Urbano). — Até lá, eu fico calado, muito obrigado.
Dominic bateu com os nós dos dedos na mesa em frente a Jack.
— Primo, porra, você pediu que nós te trouxéssemos para cá, não foi?
A frieza de aço na voz de Dominic era inequívoca, e Jack ficou momentaneamente sem jeito. O que está acontecendo, perguntou-se ele.
— Certo.
— Você queria sentir como era de verdade, não é?
— Sim.
— Bem, então pare de se comportar como um garotinho pego colando. Isso aqui não é sobre conferências. Não importa merda nenhuma quem você é ou se cometeu um erro de principiante pela terceira vez. Droga, levei tiro nas primeiras dez vezes que fiz esse curso. Aquela porta que você não viu? Quase apelidaram aquela porra com meu nome por conta da quantidade de tiros que levei ali.
Jack acreditava nele. O Hogan’s Alley era o campo de treinamento dos agentes do FBI havia mais de vinte anos, e os únicos que passavam perfeitamente por ali eram os que passaram tantas vezes que sonhavam com aquilo. E era assim com tudo, Jack sabia. A perfeição vem da prática, e isso não era um clichê, mas de fato um axioma, especialmente na área da defesa da lei e nas operações militares. A prática produz novas trilhas na sua fiação mental enquanto seu corpo desenvolve memória muscular — repetir a mesma ação inúmeras vezes até que os músculos e as sinapses trabalhem em uníssono e o pensamento se apague da equação. Quanto tempo isso demora para acontecer?, perguntou-se.
— Ora, vamos... — disse Jack.
— Não. Pergunte a Brandeis. Ele vai ficar feliz em contar. Levei uma porrada de tiros dele. Merda, nas duas primeiras vezes passei direto por aquela porta e morri por causa disso. Olha, não fico muito contente em dizer isso, mas a verdade é que você foi muito bom para uma primeira vez. Terrivelmente bom. Droga, quem imaginaria isso... Meu priminho sabe-tudo um au-tên-ti-co pistoleiro.
— Agora você está gozando com a minha cara.
— Não, não estou não. É verdade, cara. Fala aí, Brian. Diga a ele.
— Ele está certo, Jack. Você ainda está muito tosco. Diabo, você enquadrou o Dom na mira duas vezes lá na lavanderia...
— Enquadrei?
— Quando você se preparou do lado de fora de um aposento, lembra, logo antes de entrar, e depois se separou lá dentro, um grupo avançando para o lado pesado e outro para o lado leve...
— Sim, estou lembrado.
— Na lavanderia, você deu um passo para a lateral e apontou sua arma para fora de sua zona. O cano da sua arma me enquadrou... bem na nuca, de fato. Algo que não se pode fazer mesmo.
— Ok, lição número um: não aponte sua arma para seus amigos.
Brian riu.
— É um jeito de colocar a coisa, sim. Como eu dizia... você ainda está tosco, mas tem um grande instinto. Puxa, será que você andou escondendo coisas de nós? Fez algum treinamento com o Serviço Secreto quando era moleque? Talvez algumas férias com Clark e Chavez?
Jack sacudiu a cabeça.
— Não, nada disso. Quer dizer, sim, andei disparando algumas armas, mas nada como isso. Não sei... Parecia que passava na minha cabeça antes mesmo de acontecer... — Jack deu de ombros e sorriu. — Talvez tenha um pouco do DNA de marine do meu pai. Quem sabe, talvez eu simplesmente tenha visto muitas vezes Duro de matar.
— Não acho que seja isso — retrucou Brian. — Bem, seja lá o que for, eu não me importaria de ter você na minha retaguarda.
— Apoio isso.
Todos levantaram as latas de Coca Light e brindaram juntos.
— Falando nisso, caras... — disse Jack, hesitantemente. — Vocês se lembram daquele caso, ano passado... na Itália?
Brian e Dominic trocaram olhares.
— Lembramos — disse Dom. — Negócio quente, aquele.
— É, bem, eu estava pensando que não me importaria de fazer um pouco mais daquele tipo de coisa... Não exatamente o mesmo, talvez, mas algo assim.
Brian falou:
— Meu Deus, primo, você está falando em se desligar do seu teclado e cair no mundo real? Enquanto falamos, posso até ver o diabo amarrando seus patins de gelo.
— Engraçadinho. Não, eu gosto do que faço, sei que faz diferença, mas é uma coisa tão intangível. O que vocês fazem... o que nós fizemos na Itália... isso é o real. Mão na massa, sabe? Dá para ver os resultados na hora.
— Como mencionou o assunto — disse Dominic —, sempre quis perguntar a você: alguma coisa te preocupou depois. Não que tivesse que acontecer isso, mas vamos encarar os fatos: você caiu de bunda numa situação de merda, se é que me permite a expressão.
Jack considerou o assunto.
— O que você quer que eu diga? Que fiquei preocupado? Bem, não fiquei. Não mesmo. Claro, eu estava nervoso e houve uma fração de segundo antes de acontecer que pensei: que diabos estou fazendo? Mas isso sumiu, e éramos apenas eu e ele, e eu simplesmente fiz o que tinha que fazer. Para responder a pergunta que acho que você quer perguntar, não, não perdi um minuto de sono por causa daquilo. Você acha que eu devia?
— Merda, não. — Brian olhou ao redor para ter certeza de que estavam sós, depois se inclinou para perto, antebraços na mesa. — Não há “devia” nisso, Jack. Ou você perde ou não perde. Você não perdeu, ótimo. O cuzão merecia. Da primeira vez que despachei um cara, Jack, ele estava apontando a arma para mim. Era matar ou ser morto. Eu o abati, e sabia que era a coisa certa. Mas ainda tive pesadelos. Certo ou errado, mereça o cara ou não, matar um homem não é algo agradável. Qualquer um que pense o contrário é um pouco maluco. O entusiasmo todo não é, na verdade, sobre matar: é sobre cumprir o dever e fazer o trabalho para o qual você se arrebentou treinando, observando os caras à sua direita e à sua esquerda, e saindo inteiro do outro lado.
— Além disso, Jack — acrescentou Dominic —, aquele sujeito na Itália não iria simplesmente se aposentar um dia. Um bando de pessoas iria perder a vida antes que alguém o despachasse. Para mim, esse é o negócio. Um inimigo que recebe o merecido, muito bem, mas o que nós fazemos, o fundo da questão de tudo isso aqui, não é vingança, pelo menos não pela simples vingança. Pensar assim é como trancar a porta da cocheira depois que os cavalos fugiram. Eu prefiro mil vezes parar antes o sujeito que planeja abrir a porta da cocheira.
Brian olhou fixo seu irmão gêmeo por alguns instantes e depois balançou a cabeça e sorriu.
— Puta merda! Mamãe dizia que você era o filósofo da família. Nunca acreditei nela, até agora.
— É, é... — murmurou Dominic. — Só que não é tanto filosofia, é mais matemática. Mate um, salve centenas ou milhares. Se estivéssemos falando de pessoas decentes e respeitadoras da lei, a equação era mais complicada, mas eles não são assim.
— Concordo com ele, Jack — disse Brian. — Aqui nós temos a oportunidade de fazer coisas realmente boas. Mas, se você estiver pensando em fazer esse tipo de coisa porque acha que vingança é a resposta ou que tudo é essa merda de James Bond...
— Não foi isso o que...
— Ótimo, porque não é mesmo, nem de longe. É uma merda feia e ponto. E a vingança é um motivador vagabundo. Faz você ficar desleixado, e desleixo é a morte.
— Sei disso.
— E o que você vai fazer a respeito?
— Acho que vou falar com Gerry e ver o que ele diz.
— É melhor você preparar bem seu discurso — disse Dominic. — Porra, Gerry já assumiu um risco enorme contratando você. Seu pai iria ter um ataque...
— Deixa que eu me preocupe com meu pai, Dom.
— Ótimo, mas, se você acha que Gerry vai simplesmente lhe dar uma arma e dizer “Vai em frente, faça o mundo mais seguro para a democracia”, vai ver outra coisa cair em cima de você. Se você fosse comprar uma fazenda, ele mesmo telefonaria para o corretor.
— Sei disso.
— Ótimo.
— Então — disse Jack —, se eu falar com ele, vocês dois me apoiam?
— Por algo que vale a pena, sim — respondeu Brian. — Mas isso aqui não é uma democracia, Jack. Supondo que ele não liquide a ideia no ato, provavelmente vai ter que conversar com Sam. — Sam Granger era o chefe de operações do Campus. — E duvido que ele pergunte a nós.
Jack assentiu.
— Provavelmente você está certo. Bem, como você disse, é melhor eu me preparar para vender muito bem o meu peixe.
14
O outono estava ali. Podia-se perceber isso pelo vento e pelos blocos de gelo, que começavam a se separar da costa para revelar as águas negras do Oceano Ártico. Não poderia ser mais frio sem congelar, e ainda havia muito gelo à vista, simplesmente para lembrar que o verão ali era, na melhor das hipóteses, fugaz. A Mãe Natureza continuava implacável e cruel como sempre, mesmo sob um cristalino céu azul e com poucas nuvens parecendo bolas de algodão.
O lugar não era muito diferente do seu primeiro posto naval em Polyyarniy, 12 anos antes, bem na época em que a Marinha soviética começava a ser desmantelada. Ah, claro, ainda tinham alguns navios, a maioria deles ancorada nos portos do fiorde Kola, tripulados por homens que permaneceram na Marinha ou porque foram obrigados ou porque não tinham casa para onde voltar. Havia tripulações completas compostas quase inteiramente por oficiais que na verdade recebiam pagamento algumas vezes ao ano. Vitaliy fora um dos últimos convocados para a antiga Marinha soviética e, para seu próprio espanto, viu-se gostando do trabalho.
Depois do estúpido treinamento básico, ele foi promovido a starshina, ou suboficial e contramestre. Era um trabalho difícil, extenuante, mas satisfatório, e acabou por lhe render uma habilidade útil. Ele se aproveitou pessoalmente do sucateamento da Marinha soviética ao comprar a preço de banana um velho, mas bem-conservado, barco de desembarque T-4 que convertera oficialmente em barco de passageiros. Na maioria das vezes, ele levava expedições científicas que exploravam a região por razões obscuras e que não lhe interessavam, enquanto outros eram caçadores que buscavam transformar um urso polar num caríssimo tapete.
Seu afretamento daquela semana o esperava abaixo no litoral, numa pequena aldeia de pescadores. Dois dias antes ele havia carregado o equipamento deles: um caminhão GAZ com tração nas quatro rodas, pneus novos e recém-pintados, equipados com uma armação pesada em forma de A, que ele recebera de um motorista que, como ele, provavelmente tinha sido pago em euro. Como qualquer bom capitão faria, Vitaliy inspecionou a carga e ficou surpreso ao descobrir que todos os códigos de identificação, inclusive o do bloco do motor, haviam sido retirados do caminhão. Apesar de o serviço não ser particularmente complicado nem exigir um mecânico para ser executado, algo disse a Vitaliy que os próprios afretadores não tinham feito aquilo. Então, deviam ter chegado ali, comprado o GAZ em boas condições, pagando uma bela soma a alguém para tirar todas as marcas, e depois contratado o afretamento. Muito dinheiro para espalhar e uma preocupação evidente com anonimato. O que isso queria dizer?
Mas não havia vantagem em ser muito curioso. Os gatos espertos sabiam dos perigos da curiosidade, e ele gostava de pensar que era suficientemente esperto. Os euros também cuidariam de sua memória, algo em que o grupo parecia confiar bastante. O líder do grupo, evidentemente de ascendência mediterrânea, disse a Vitaliy que o chamasse de Fred. Não era tanto um artifício e mais um apelido de conveniência, quase uma piada particular entre eles, e o sorrisinho furtivo durante o primeiro encontro dos dois confirmava isso.
Ele observou o grupo embarcar e lhe acenar, e, quando isso terminou, assinalou a Vanya, seu maquinista e marinheiro, para soltar as amarras. Vitaliy ligou os motores a diesel e se afastou da doca.
Logo se viu no canal e a caminho do mar. A água escura não era exatamente atraente, mas ele e o barco pertenciam àquele lugar, e lhe provocava bem-estar voltar a navegar. Para a manhã ficar perfeita, ele só precisava de um tranquilizante, e isso Vitaliy conseguiu acendendo um Marlboro Lights 100 americano. Então a manhã ficou perfeita. A frota pesqueira local já havia saído do porto — trabalhavam em horas terríveis —, e as águas estavam abertas para uma navegação fácil, com apenas uma pequena agitação de ondas batendo nas boias de sinalização.
Assim que passou o quebra-mar, ele rumou para estibordo e navegou para leste.
Seguindo suas instruções, Adnan manteve a equipe reduzida, apenas ele e mais três em quem confiava, número suficiente para o carregamento pesado, mas não para criar problemas quando chegasse à inevitável conclusão de sua missão. Na verdade, ele não se importava com essa parte. Afinal, sofreria o mesmo destino que seus compatriotas. Uma triste necessidade, pensou. Não, sua maior preocupação era com a possibilidade de fracasso. Fracassar ali sem dúvida teria um efeito ressonante na operação maior, seja lá qual fosse, e Adnan faria qualquer coisa em seu poder para ter certeza de que isso não aconteceria.
Sua vida. Adnan sorriu diante dessa ideia. Os infiéis viam aquilo tudo — árvores, água e posses materiais — como vida. A vida tampouco era definida pelo que você comia, bebia ou conspurcava com suas necessidades corporais. O tempo passado na terra não era mais que a preparação para o que viria depois, e, se você fosse devoto e obediente ao verdadeiro Deus, sua recompensa seria gloriosa para além da imaginação. O que era menos certo, percebia Adnan, era qual seria seu destino se tivesse êxito na missão. Será que receberia missões ainda maiores ou seu silêncio seria mais valioso para o jihad? Ele preferia a primeira hipótese, ainda que apenas para continuar servindo Alá, porém, caso o silêncio fosse seu destino, que fosse. Ele aceitaria qualquer resultado com a mesma equanimidade, confiante de ter vivido sua vida terrena da melhor maneira possível.
Mas o que viria, pensou, estava ainda no futuro, e não iria deixar que isso o preocupasse. Aqui e agora ele tinha um trabalho a fazer. E um trabalho importante, apesar de ele não saber exatamente como se enquadrava no cenário completo. Isso era para mentes mais sábias.
Eles tinham chegado à aldeia de pescadores no dia anterior, depois de se separar do motorista que entregaria o caminhão nas docas, nas mãos do capitão do barco fretado. A aldeia estava semiabandonada, a maioria dos moradores havia se mudado depois que as águas ficaram sem peixe após anos de superprodução. Os poucos que permaneciam cuidavam de suas próprias vidas, virando-se da melhor maneira possível à medida que o outono se transformava em inverno. Adnan e seus homens, empacotados em parcas e com os rostos cobertos com echarpes para se proteger do frio, despertaram pouca atenção, e o gerente do hotel, que ficou surpreso e feliz por ter tantos hóspedes pagantes, não fez nenhuma pergunta — nem sobre de onde vinham nem quais eram seus planos de viagem futuros. Ainda que o gerente tivesse perguntado, Adnan não poderia ter respondido nem se quisesse. O futuro pertencia a Alá, soubesse o resto do mundo disso ou não.
Estava escuro em Paris e havia uma friagem no ar que afetava mais os dois árabes que os parisienses. Mas essa era uma desculpa para mais vinho, sempre bem-vindo. E as mesas na calçada já tinham menos fregueses, de modo que podiam falar mais livremente. Se alguém os estivesse observando, estaria sendo muito cuidadoso ao fazê-lo. E não se podia ficar o tempo inteiro com receio, mesmo nesse negócio.
— Você espera outra comunicação? — perguntou Fa’ad.
Ibrahim assentiu.
— Supostamente está a caminho. Um bom estafeta. Muito confiável.
— O que espera?
— Aprendi a não especular — disse Ibrahim. — Tomo o rumo conforme chegam as instruções. O Emir sabe o que fazer, não é?
— Até agora ele tem sido eficaz, mas às vezes acho que parece uma mulher velha — resmungou Fa’ad. — Se você planejar a operação de modo inteligente, ela funcionará. Nós somos os olhos e as mãos do Emir no campo. Ele nos escolheu. Devia confiar mais em nós.
— Sim, mas ele vê coisas que nós não vemos. Nunca se esqueça disso — lembrou Ibrahim a seu convidado. — É assim que ele decide sobre todas as operações.
— Sim, ele é muito sábio — admitiu Fa’ad, sem realmente ser sincero, mas precisando falar de qualquer modo. Ele jurara lealdade ao Emir e isso, realmente, era tudo, mesmo tendo jurado há cinco anos, ainda em sua adolescência entusiasmada. Nessa idade as pessoas acreditam muito, e facilmente juram lealdade. E leva anos para esse tipo de juramento se desgastar. Se é que se desgasta.
Mas isso não acalmou inteiramente suas dúvidas. Ele encontrara o Emir apenas uma vez, enquanto Fa’ad podia alegar conhecer o homem. Essa era a natureza do trabalho deles. Nem Ibrahim nem Fa’ad sabiam onde seu líder vivia. Conheciam apenas uma ponta de um longo rastro eletrônico. Essa era uma precaução de segurança importante: a polícia americana era possivelmente tão eficiente quanto a europeia, e a polícia europeia tinha homens a ser temidos. Mesmo assim, havia muito de mulher velha no Emir. Ele nem mesmo confiava naqueles que juraram morrer em seu lugar. Em quem, então, ele confiava? Por que nesses e não... nele?, perguntou-se Fa’ad. Fundamentalmente, Fa’ad era brilhante demais para aceitar coisas na base do “porque eu digo que é assim”, como qualquer mãe no mundo diz para seu filho de 5 anos. Ainda mais frustrante é que não podia nem fazer certas perguntas, porque isso implicaria deslealdade para com os demais. E deslealdade na organização era sinônimo de pedir a autoimolação. Mas Fa’ad sabia que, em última instância, isso realmente fazia sentido, tanto do ponto de vista do Emir quanto da organização como um todo.
Não era fácil realizar a obra de Alá, mas isso Fa’ad já sabia. Ou, pelo menos, era o que dizia a si mesmo. Bem, pelo menos em Paris ele podia admirar as mulheres que passavam, a maioria vestida como prostitutas, exibindo os corpos como se fizessem propaganda do seu comércio. Era ótimo, pensou Fa’ad, que Ibrahim tivesse optado por viver nessa área. Pelo menos o cenário era bonito.
— Aquela ali é bonitinha — disse Ibrahim concordando com a observação muda. — É mulher de um médico, e infelizmente não comete adultério, segundo minha experiência.
— Leitura de mente. — Fa’ad riu. — As mulheres francesas aceitam avanços?
— Algumas sim. A parte mais difícil é ler a mente delas. Poucos homens têm essa habilidade, mesmo aqui. — E deu uma boa risada. — Nesse sentido, as francesas não são diferentes das nossas mulheres. Algumas coisas são universais.
Fa’ad bebeu um gole de café e se inclinou para se aproximar de Ibrahim.
— Vai funcionar? — perguntou, querendo mencionar a operação planejada.
— Não vejo razão para não funcionar, e os efeitos serão dignos de atenção. O único inconveniente é que ganharemos novos inimigos, mas como notaríamos essa diferença? Não temos amigos entre os infiéis. Para nós, agora, é simplesmente o caso de colocar as ferramentas no lugar, prontas para o ataque.
— Inshallah — respondeu Fa’ad.
E ambos brindaram, tal como os franceses depois de fecharem um acordo.
Nada como ter a vantagem de mando do campo, pensou o ex-presidente Ryan. Ele havia feito doutorado em história na Universidade de Georgetown, de modo que conhecia o campus quase tão bem quanto sua própria casa. Além do mais, descobriu que o circuito de palestras era surpreendentemente agradável. Era um trabalho fácil, recebendo uma quantidade de dinheiro embaraçosa para falar sobre um assunto que conhecia bem: sua época na Casa Branca. Até então, só tinha visto uma pequena quantidade de loucos de auditório, oitenta por cento dos quais eram adeptos de teorias conspiratórias que eram rapidamente abafadas pelo restante da audiência. Os outros vinte por cento eram esquerdistas que tinham a opinião de que Edward Kealty fizera o país sair da beira do abismo que Ryan criara. Era bobagem, com certeza, mas não era possível duvidar da sinceridade deles, algo que Ryan levava a sério: havia a realidade e havia a percepção, e raramente as duas coisas coincidiam. Era uma lição que Arnie van Damm tentou — na maior parte das vezes, em vão — martelar na cabeça de Ryan durante sua presidência, e uma lição que a teimosia orgulhosa de Ryan não o deixava engolir facilmente. Algumas coisas eram simplesmente verdade. E que a percepção fosse ao diabo. O fato de a maioria do eleitorado americano parecer ignorar esse fato ao eleger Keating ainda perturbava a cabeça de Ryan, mas, de novo, ele não era um observador objetivo. Robby é quem deveria estar no Salão Oval. O truque era não deixar esse desapontamento perturbar seu discurso. Por mais que gostasse de fazê-lo, criticar o presidente em exercício — mesmo que fosse um babaca — não pegava bem.
A porta para o salão verde — nesse caso, uma pequena sala de espera ao lado do McNeir Auditorium — abriu e Andrea Price-O’Day, sua principal agente do Serviço Secreto, passou pelos agentes na porta.
— Cinco minutos, senhor.
— Como está a multidão? — disse Ryan.
— Casa cheia. Mas sem tochas nem ancinhos.
Ryan riu disso.
— Sempre um bom sinal. Como está minha gravata?
Há muito aprendera que Andrea era muito mais hábil com um nó de gravata Windsor que ele — quase tão boa quanto Cathy, mas a boa doutora saíra cedo para o hospital naquela manhã, então ele mesmo dera o laço. Um erro.
Andrea virou a cabeça e avaliou.
— Não está mau, senhor. — Ela ajustou levemente a gravata e acenou brevemente, aprovando. — Sinto meu trabalho como segurança indo embora.
— Isso não vai acontecer, Andrea. — Price-O’Day estava há tanto tempo com a família Ryan que, de fato, a maioria deles raramente lembrava que ela andava armada e pronta para matar ou morrer pela segurança deles.
Houve uma batida na porta, e um dos agentes enfiou a cabeça pela abertura.
— SHORTSTOP — anunciou, e abriu a porta, deixando Jack Jr. entrar.
— Jack! — disse o Ryan mais velho, avançando em sua direção.
— Olá, Andrea — cumprimentou Jack Jr.
— Sr. Ryan.
— Bela surpresa — declarou o ex-presidente.
— Sim, bem, meu encontro me deu um bolo, então...
Ryan riu.
— É, um homem deve ter suas prioridades.
— Droga, não era isso que eu queria dizer...
— Esqueça. Fico contente por você ter vindo. Já tem um lugar?
Jack Jr. assentiu.
— Na primeira fila.
— Ótimo. Se eu tiver problemas, você me passa a deixa.
Jack deixou seu pai, caminhou pelo saguão, pegou as escadas para descer um andar e seguiu rumo ao auditório. Adiante, o saguão estava quase na penumbra, com metade das lâmpadas fluorescentes do teto desligadas. Como a maior parte das instituições educacionais, Georgetown tentava ser mais “verde”. Enquanto passava por uma sala de conferências, Jack escutou um arranhar metálico vindo do cômodo. Parou, recuou e olhou pela persiana. Lá dentro, um faxineiro de macacão azul estava ajoelhado ao lado de uma enceradeira virada, mexendo no polidor com uma chave de fenda. Num impulso, Jack abriu a porta e enfiou a cabeça. O faxineiro levantou a cabeça.
— Olá — disse Jack.
— Alô. — O homem parecia ser hispânico e falou com sotaque carregado. — Mudando o polidor — disse.
— Desculpe interromper — disse Jack, e fechou a porta atrás de si. Tirou o celular e discou o número de Andrea. Ela atendeu no primeiro toque. Jack disse: — Ei, estava a caminho do auditório... Há um faxineiro aqui embaixo...
— Sala de conferências dois-b?
— Essa.
— Já o revistamos e vamos passar o detector novamente. De qualquer modo, vamos pela rota do porão.
— Ok, só estava checando.
— Procurando outro emprego? — perguntou Price-O’Day.
Jack deu uma risadinha.
— Que tal o salário?
— Menos do que você ganha. E o horário é um inferno. Logo mais vejo você.
Andrea desligou. Jack caminhou para o auditório.
— Hora do espetáculo, senhor — disse ela ao ex-presidente Ryan, que levantou e ajustou os punhos. O gesto era singularmente do Jack Ryan mais velho, mas Price-O’Day já havia visto um pouco do filho no pai, e a chamada de SHORTSTOP sobre o faxineiro lhe dissera algo mais. Intelectualmente, o filho não fora esculpido em uma matéria diferente da do pai. Será que havia algo como genes de espião?, considerou Andrea. Se assim fosse, Jack Jr. provavelmente os herdara. Como o pai, era intensamente curioso e aceitava poucas coisas pela aparência. É claro que tinham revistado o edifício e é claro que Jack sabia disso. Mesmo assim, ele notara o faxineiro e imediatamente pensara: Anomalia. Foi um alarme falso, mas a questão fora válida, algo que os agentes do Serviço Secreto aprendiam a questionar através de treinamento e experiência.
Andrea verificou seu relógio e repassou mentalmente a rota, vendo o mapa na cabeça, cronometrando as voltas e as distâncias. Satisfeita, bateu duas vezes na porta, assinalando para o agente que estava ali que SWORDSMAN estava pronto para se movimentar. Esperou um instante para o cordão de proteção se formar, abriu a porta, verificou o saguão e saiu, assinalando a Ryan para segui-la.
Sentado no auditório, Jack Jr. folheava distraído o programa da noite, seu olhar percebendo as palavras, mas o cérebro sem registrar nada delas. Algo inconscientemente o incomodava, aquela sensação nebulosa de alguma coisa deixada sem acabar... Alguma coisa que ele pretendia fazer antes de deixar o Campus, talvez?
O reitor da Georgetown apareceu no palco e caminhou em direção ao pódio, acompanhado de aplausos polidos.
— Boa noite, senhoras e senhores. Como temos apenas um ponto no programa desta noite, serei breve em minha introdução. O ex-presidente John Patrick Ryan tem uma longa história de serviço público...
Faxineiro. A palavra pulou, solta, na mente de Jack. Ele foi revistado, Andrea dissera. Mesmo assim... Pegou o celular, e se deteve. O que iria dizer? Que tinha um pressentimento? Ele podia ver o lado esquerdo do palco a partir da poltrona onde estava. Dois agentes do Serviço Secreto de terno negro apareceram. Atrás deles, Andrea e seu pai.
Antes de perceber o que fazia, Jack levantou e se direcionou para a saída lateral. Trotou subindo as escadas, caminhou pelo saguão, contando as salas de conferência enquanto passava.
Chave de fenda, pensou, e de repente a coceira inconsciente que ele sentira minutos antes entrou em foco. O faxineiro usava uma chave de fenda para remover o polidor que estava preso no centro da enceradeira por uma porca de atolamento.
Com o peito agora disparando, Jack chegou à sala de conferência correta e parou a alguns passos de distância. Viu luzes saindo pela persiana, mas não ouviu nada vindo de dentro. Fez uma pausa, caminhou até a porta e tentou abrir a maçaneta. Trancada. Espiou pela janela. A enceradeira ainda estava lá. O faxineiro havia desaparecido. A chave de fenda estava no chão.
Jack virou e começou a correr de volta ao auditório. Parou na porta, recompôs-se e depois abriu gentilmente a porta e entrou, fechando-a suavemente. Algumas pessoas olharam quando ele entrou, tal como um dos agentes de Andrea parado no corredor central. Este acenou reconhecendo Jack, e depois voltou a esquadrinhar o auditório.
Jack começou a esquadrinhar, procurando primeiro por algum sinal de macacão azul, mas rapidamente deixou isso de lado: o faxineiro não entraria no auditório. As coxias também deviam estar vazias, trancadas pela equipe de Andrea. Quem mais?, pensou, pescando no mar de rostos. Membros da audiência, agentes, segurança do campus...
Parado ao lado da parede leste, o rosto parcialmente na sombra e as mãos apertadas diante de si, estava um guarda de segurança. Como os agentes, ele também esquadrinhava a audiência. Como os agentes... Jack continuou perscrutando, contando os guardas de segurança do campus. Cinco no total. E nenhum deles esquadrinhando a multidão. Sem treinamento em proteção pessoal, a atenção deles não estava focada no público — a mais provável área de ameaça —, mas sim no palco. Menos o guarda na parede leste. O homem virou a cabeça e seu rosto passou rapidamente pela luz.
Jack tirou o celular e mandou uma mensagem para Andrea: GUARDA, PAREDE LESTE = FAXINEIRO.
No palco, Andrea estava de pé, 3 metros atrás e à esquerda do pódio. Jack a viu tirar o celular, verificar a tela e devolver o aparelho ao bolso. A reação foi imediata. O microfone no punho subiu à sua boca e depois desceu. O agente no corredor central caminhou casualmente para o fundo e depois virou à direita na interseção acarpetada, indo em direção à parede leste. Jack então viu Andrea dar um passo para trás de seu pai, movimentando-se no que assumiu ser um ângulo de intercepção entre ele e o guarda.
O agente do corredor central chegou ao corredor da parede leste. Dez metros adiante, o guarda virou a cabeça em sua direção, pausando um instante breve no agente, e depois se voltou novamente para o palco, onde Andrea havia se colocado em posição de bloqueio. Seu pai, notando a movimentação, olhou rapidamente na direção dela, mas continuou falando. Ele percebia o que Andrea estava fazendo, é claro, raciocinou Jack, mas não sabia se existia alguma ameaça específica.
Na parede leste, o guarda também notou o movimento de Andrea. De modo casual, desceu dois passos no corredor e se inclinou para sussurrar algo no ouvido de um membro da audiência. A mulher olhou para o guarda, surpresa no rosto, depois se levantou. Sorrindo agora, o guarda a pegou pelo cotovelo e, passando para seu lado direito, a guiou pela saída na direção do palco.
Quando passavam pela quarta fileira, Andrea deu mais um passo adiante, mantendo a posição de bloqueio.
Ela desabotoou o paletó.
O guarda subitamente passou a mão do cotovelo para o pescoço da mulher, depois caminhou de lado, movimentando-se lateralmente para passar pela primeira fileira. A mulher soltou um grito. Cabeças se voltaram. A mão direita do guarda deslizou para a cintura, na frente de sua calça. Ele sacudiu a mulher, usando-a como escudo. A pistola de Andrea apareceu e apontou.
— Parado, Serviço Secreto!
Atrás dela, outros agentes já se movimentavam, encobrindo o ex-presidente, fazendo-o se abaixar e o levando para o outro lado do palco.
A mão do guarda saiu da cintura portando uma semiautomática 9 milímetros. Vendo o alvo se mover para longe de seu alcance, o guarda cometeu o erro que Andrea esperava. Com a arma na altura do palco, ele deu um passo adiante. E com isso ficou uns 20 centímetros longe de seu escudo humano.
Andrea disparou uma vez. A 5 metros de distância, a bala côncava de baixa velocidade atingiu o alvo, penetrando na cabeça do guarda entre o olho esquerdo e a orelha. Projetada para situações em lugares fechados, com multidão presente, a bala fez o que prometia, abrindo em cogumelo dentro da cabeça do guarda, expandindo toda sua energia em 1 milésimo de segundo e parando, como a necropsia mostraria mais tarde, a 5 centímetros do lado oposto do crânio.
O guarda desabou, morto antes de alcançar o carpete.
— Andrea me falou que você salvou o dia — disse o ex-presidente Ryan vinte minutos depois, na limusine.
— Só soltei o sinalizador — respondeu Jack.
A coisa toda fora uma experiência surreal, pensou Jack, mas, de alguma forma, menos surreal do que o desenrolar dela. Ainda que a série de acontecimentos tivesse sido breve — cinco segundos do momento em que o guarda pegou a mulher de sua poltrona até o disparo de Andrea o derrubar —, a repetição mental na cabeça de Jack transcorria, previsivelmente, em câmera lenta. A audiência ficou tão chocada com o tiro que só houve alguns gritos, todos emitidos antes que o assassino caísse morto.
Por sua parte, Jack sabia muito bem que não devia se movimentar, de modo que ficou parado ao lado da parede oeste enquanto a segurança do campus e os agentes de Andrea esvaziavam o auditório. Seu pai, abrigado no meio do monte do Serviço Secreto, já estava fora do palco antes que Andrea tivesse feito o disparo mortal.
— Mesmo assim — disse Ryan. — Obrigado.
Era um momento desconfortável que terminou em um silêncio ainda mais desagradável. Foi Jack Jr. quem o quebrou.
— Assustadora essa merda, hein?
O ex-presidente Ryan assentiu.
— O que fez você voltar lá... quero dizer, voltar para verificar o faxineiro?
— Quando o vi, ele tentava tirar o polidor da enceradeira com uma chave de fenda. Ele precisava de uma chave de boca.
— Impressionante, Jack.
— Por causa da chave de fenda...
— Em parte por isso. E em parte porque você não entrou em pânico. E deixou os profissionais fazerem o trabalho. Oito em cada dez pessoas não teriam notado a coisa com a enceradeira. E a maioria teria entrado em pânico, paralisando. Outros teriam tentado avançar em cima do sujeito. Você fez a coisa certa, de cabo a rabo.
— Obrigado.
O Ryan mais velho sorriu.
— Agora vamos ver como contamos isso tudo para sua mãe...
15
Não foram muito longe antes de o avião regressar ao terminal, as rodas dianteiras sem sequer começar a girar no concreto da pista. Não se explicou nada, apenas o sorriso fixo e um seco “Podem vir comigo, por favor?” para ele e Chavez, seguido pelo sorriso fixo e firme que apenas uma aeromoça profissional pode exibir — sorriso que dizia a Clark que o pedido não estava aberto a discussões.
— Esqueceu de pagar o tíquete do estacionamento, Ding? — perguntou Clark ao genro.
— Eu não, mano. Deixo tudo acertado.
Cada um deles beijou rapidamente a respectiva esposa com um “Não se preocupe” e seguiram a aeromoça pelo corredor até a porta já aberta. Esperando por eles na ponte de embarque estava um oficial da Polícia Metropolitana de Londres. O padrão de xadrez preto e branco do quepe do oficial informou a Clark que não era um patrulheiro comum, e a divisa no suéter informou que ele pertencia ao SCD11 — inteligência —, parte da Diretoria Especializada em Crimes.
— Sinto interromper seu passeio de volta para casa, cavalheiros — disse o policial —, mas a presença de vocês foi requisitada. Por favor, me sigam.
Maneiras britânicas — assim como dirigir do lado errado da rua e chamar batatas fritas de “chips” — eram uma das coisas com que Clark jamais se acostumara — especialmente nos altos escalões do Exército. A polidez sempre é melhor que a grosseria, é claro, mas havia algo enervante quando se está conversando, oh, tão educadamente com um sujeito que provavelmente já matou mais bandidos do que a maioria das pessoas jamais veria durante toda a vida. Clark conhecera alguns sujeitos ali que podiam explicar em detalhes como planejavam matar você com um garfo, beber seu sangue, depois esfolá-lo, o tempo todo mantendo o tom de um convite para o chá da tarde.
Chavez e Clark seguiram o policial pela ponte de embarque, passando depois por vários postos de checagem e finalmente por uma porta controlada por cartão até o centro de segurança de Heathrow. Foram levados a uma pequena sala de conferência onde encontraram Alistair Stanley, ainda oficialmente o segundo em comando da Rainbow 6, de pé diante de uma mesa em formato de diamante sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes. Stanley era do SAS, a principal unidade de guerra da Inglaterra.
Apesar de Clark relutar em admitir isso quando em companhia mista, ele considerava o SAS, no que lhe dizia respeito, sem par em matéria de eficácia e longevidade. Certamente havia unidades militares por aí que eram tão boas quanto o SAS — sua alma mater, os SEAL da Marinha americana, lhe vieram à mente —, mas os britânicos havia muito tinham estabelecido o padrão-ouro para tropas de operações especiais da era moderna, desde 1941, quando um oficial da Guarda Escocesa chamado Stirling — famoso depois por dar seu nome à metralhadora Stirling — e seu Destacamento L, de 65 homens, atormentaram a Wehrmacht alemã por todo o norte da África. Desde as primeiras missões de sabotagem atrás das linhas no norte da África até a caça de Scuds no deserto iraquiano, o SAS já havia feito de tudo, visto tudo, e ao mesmo tempo escrito todos os manuais sobre operações especiais. E como todos os seus camaradas antes dele, Alistair Stanley era um soldado excepcional. De fato, Clark raramente pensava em Alistair como seu segundo em comando e sim como cocomandante, tão grande o seu respeito pelo homem.
Juntamente com a direção do trânsito e as batatas fritas, a organização do SAS foi outra adaptação que Clark tivera de fazer. De modo caracteristicamente britânico, a organização do SAS era excepcional, dividida em regimentos — o 21º, o 22º e o 23º — e esquadrões — ordenados de A até G, com algumas falhas nesse alfabeto para despistar. Mesmo assim, Clark também tinha que admitir, os britânicos faziam tudo com classe.
— Alistair — saudou Clark, com um aceno solene. O rosto de Stanley o informou que algo sério acontecera ou estava acontecendo.
— Já está sentindo nossa falta, Stan? — disse Ding, apertando a mão dele.
— Gostaria que fosse isso, meu amigo. Me sinto horrivelmente incomodado por interromper a viagem de vocês e tudo mais. Porém acho que gostariam de fazer algo mais antes de cair na moleza. Algo interessante está acontecendo.
— Onde? — perguntou Clark.
— Com os suecos, por assim dizer. Parece que acabaram de perder seu consulado em Trípoli. Muito embaraçoso para eles.
Chavez disse:
— Por “perder”, suponho que você não queira dizer colocar em outro lugar?
— Certo, desculpe. Típico eufemismo britânico. Encantador, mas nem sempre prático. A inteligência ainda está filtrando a coisa, mas dada a localização, não é preciso um salto muito grande para adivinhar a identidade do culpado, de um modo geral.
Clark e Chavez puxaram cadeiras e sentaram à mesa. Stanley fez o mesmo. Abriu uma pasta de couro com um bloco de anotações coberto de notas manuscritas.
— Vamos ouvir — disse Clark, engrenando mentalmente na nova situação.
Dez minutos atrás ele estava no modo civil — ou pelo menos no tanto de modo civil que se permitia —, sentado com a família e se preparando para voltar para casa, mas isso foi antes, e agora a situação era outra. Agora ele era novamente o comandante da Rainbow 6. E achava isso bom, tinha que admitir.
— Tanto quanto sabemos, são oito homens ao todo — disse Stanley. — Passaram pela polícia local sem nenhuma baixa rapidamente, como se nada estivesse na frente deles. As imagens de satélite mostram quatro suecos, provavelmente Fallskarmsjagares, abatidos e expostos dentro do terreno do complexo.
Os Fallskarmsjagares eram basicamente a versão sueca dos rangers aerotransportados, escolhidos entre os melhores do Exército. Provavelmente membros do Särskilda Skyddsgruppen — Grupo de Proteção Especial —, que reforçava o SÄPO, o Serviço de Segurança Sueco, no trabalho da embaixada.
— São uns caras durões — disse Chavez. — Alguém fez bem o dever de casa e deu uns tiros com boa pontaria. Alguma coisa dentro do consulado?
Stanley balançou a cabeça.
— Silêncio de rádio.
O que fazia sentido, concluiu Clark. Quem fosse bom o suficiente para penetrar tão rapidamente no terreno e abater quatro Fallskarmsjagares seria também esperto o suficiente para ir direto para a sala de comunicações.
— Ninguém se responsabilizou pelo ataque? — perguntou Chavez.
— Até agora não, mas não vai demorar muito, suspeito. Até agora os líbios bloquearam a imprensa, mas é só questão de tempo, receio.
A confusa mistura de grupos terroristas no Oriente Médio tendia a encavalar o crédito por qualquer ato significativo de violência, e não se tratava sempre de prestígio, tampouco, mas sim de uma tentativa deliberada de turvar as águas da inteligência. Era muito parecido com o que uma unidade de homicídio da polícia enfrentava em casos de assassinato. Confissões rápidas e malucos suspeitos apareciam às dúzias, e cada um deles tinha que ser considerado com seriedade, sob pena de se arriscar a perder o verdadeiro. O mesmo raciocínio se aplicava ao terrorismo.
— E sem exigências, suponho — acrescentou Clark.
— Certo.
Muitas vezes não havia demandas. No Oriente Médio, a maioria dos que faziam reféns queria uma audiência internacional crescente antes de começar a executar pessoas, só explicando com atraso os porquês e os para quês. Não que isso fizesse alguma diferença para Clark e sua equipe, mas até que algum funcionário governamental dissesse “Avançar”, a Rainbow estava, como qualquer agrupamento de operações especiais, à mercê da política. Apenas quando os políticos concluíssem que soltar os cães de guerra era a opção certa que a Rainbow começava a fazer o que fazia tão bem.
— Bem, agora vem a parte complicada — disse Stanley.
— Política — palpitou Clark.
— Certíssimo. Como pode imaginar, nosso amigo coronel quer mandar sua Jamahiriyyah, e já a tem posicionada, de fato, mas o cônsul-geral sueco não é muito fã da ideia, sabendo como são as regras de engajamento da Jamahiriyyah.
A Guarda Jamahiriyyah era essencialmente a unidade pessoal de forças especiais do coronel Muammar Kadafi, composta por 2 mil e tantos homens recrutados em seu próprio quintal, na região Surt, na Líbia. A Jamahiriyyah era eficiente, Clark sabia disso, e tinha um bom apoio de suas unidades domésticas de logística e inteligência, mas ela também não se destacava pela discrição e muito menos por grandes preocupações com danos colaterais, vivos ou inanimados. Com a Jamahiriyyah encarregada do assalto, os suecos tinham certeza de perder uma boa quantidade de pessoal.
Um filho da mãe interessante, esse Kadafi, pensou Clark. Como muitos da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, Clark tinha suas dúvidas sobre a recente transformação do caráter do coronel, de bandido do norte da África a humanitário condenador do terrorismo. A velha frase “o leopardo não muda as pintas” pode ser um clichê que parece falso para muitas pessoas, mas, no que dizia respeito a Clark, o coronel Muammar Abu Minyar al-Kadafi, “Fraterno Líder e Guia da Revolução” era um leopardo com pintas e tudo, e assim seria até o dia em que morresse de causas naturais ou nem tanto.
Em 2003, sob ordem de Kadafi, o governo líbio informou oficialmente às Nações Unidas que estava pronto para aceitar a responsabilidade pela derrubada do voo 103 da Pan American World Airways sobre Lockerbie, uns 15 anos antes, e também para compensar as famílias das vítimas com uma soma próxima dos 3 bilhões de dólares. O gesto foi imediatamente recompensado não apenas com elogios do Ocidente, mas também com o levantamento das sanções econômicas e manifestações de “É isso aí, garoto!” diplomaticamente emitidas por muitos países europeus. E o leopardo não parou aí, primeiro abrindo seus programas de armas para inspeção internacional e depois denunciando os ataques do 11 de Setembro.
Clark tinha um palpite sobre as mudanças de Kadafi, e achava que isso não estava relacionado ao amadurecimento da velhice, mas sim à economia, pura e simplesmente. Em outras palavras, o preço do petróleo havia desabado no decorrer dos anos 1990, deixando a Líbia mais pobre do que fora desde que os camelos, e não o ouro negro, reinavam na nação desértica, e a tornando menos capaz de financiar os projetinhos terroristas domésticos do coronel. É claro, Clark se lembrou também que a invasão do Iraque pelos Estados Unidos ajudara Kadafi a montar seu roteiro de bancar o bonzinho, pois ele percebera aquilo como uma amostra do que poderia acontecer com seu pequeno feudo. Mas a verdade, reconheceu Clark, é que era melhor ter um leopardo que apenas fingia mudar as pintas, desde que suas garras de fato estivessem embotadas. A questão era se agora, com o preço do petróleo subindo mais uma vez, o coronel não estaria ficando animado novamente. Será que usaria o incidente para rugir?
— Claro, o Comando Supremo em Estocolmo deseja mandar seu próprio pessoal, mas Kadafi não quer nem ouvir falar disso — continuou Stanley. — Segundo minhas últimas informações, o pessoal da rua Rosenbad estava conversando com a Downing. De qualquer maneira, fomos colocados de prontidão. Herefordshire está enviando mensagens para o restante da equipe. Temos dois de licença, um por saúde, outro de férias, mas o grosso já deve estar reunido e equipado dentro de uma hora e a caminho daqui logo em seguida. — Stanley verificou o relógio.
— Você disse “de prontidão” — comentou Chavez. — De prontidão onde? — O tempo era fator crítico, e mesmo com o transporte mais rápido, o pulo de Londres até Trípoli era comprido, talvez mais comprido do que o tempo que os reféns dentro daquele consulado viveriam.
— Taranto. A Marina Militare gentilmente se ofereceu para nos hospedar até os políticos decidirem. Se formos convocados, é só um pulinho pela água até Trípoli.
16
O tenente operativnik (detetive) Pavel Rosikhina ergueu o lençol — na verdade uma toalha de cozinha — que uma boa alma havia colocado sobre o cadáver e encarou o rosto de olhar arregalado do que ele supunha ser outra execução da máfia. Talvez não. A despeito da palidez do homem, estava claro que não era checheno ou algum russo étnico, o que o surpreendeu, dada a localização. Um russo caucasiano. Interessante.
A bala única entrara pelo crânio do homem logo acima e a 2 centímetros da orelha esquerda e saiu... Rosikhina se inclinou sobre a mesa, com cuidado para não tocar em nada além da toalha, e olhou o lado direito da cabeça do homem, que descansava sobre a borda almofadada de cima do reservado. Ali. Um orifício de saída do tamanho de um ovo atrás da orelha direita do homem. O sangue e os miolos que respingaram na parede atrás correspondiam à trajetória da bala, o que significava que o assassino estava de pé... aqui. Bem diante da porta da cozinha. O quão próximos seria algo para o legista determinar, mas olhando o orifício de entrada, Rosikhina sabia que não havia sido à queima-roupa. Não havia marcas de queimadura de pólvora na pele ao lado do ferimento nem zona de tatuagem falsa. O ferimento em si era perfeitamente redondo, o que reforçava a eliminação de um tiro de contato, que geralmente deixava uma marca característica em forma de estrela na pele. Rosikhina cobriu o nariz para se proteger do odor fecal. Como muitas vítimas de morte súbita, os intestinos e a bexiga do homem haviam se soltado. Cuidadosamente, levantou a aba do paletó esportivo do morto, primeiro do lado esquerdo, depois do direito, apalpando os bolsos à procura de uma carteira. Não havia nada além de uma lapiseira de prata, um lenço branco e um botão extra para o paletó.
— Quão perto estava, na sua opinião? — Ele escutou e se virou.
Seu parceiro eventual, Gennady Oleksei, estava a pouco mais de 1 metro de distância, cigarro pendurado nos lábios com um semissorriso e mãos enfiadas nos bolsos do casaco de couro.
Para além do ombro de Oleksei, Rosikhina pôde ver que os policiais uniformizados da milícia haviam terminado de reunir os clientes do restaurante perto da porta, onde esperavam para ser interrogados. O pessoal do restaurante — quatro garçons, um caixa e três cozinheiros — sentava-se às mesas agora vazias, informando seus nomes para outro policial.
Oleksei e Rosikhina trabalhavam no Escritório Central de Repressão aos Crimes Financeiros de São Petersburgo, uma subdivisão do Departamento de Investigações Criminais. Ao contrário da maior parte das agências policiais ocidentais, os operativniks russos não possuíam parceiros permanentes. A razão disso jamais fora explicada a Rosikhina, mas ele supunha que tinha algo a ver com recursos. Tudo tinha a ver com recursos, desde conseguir usar seus carros todas as semanas até trabalhar sozinhos ou com parceiros.
— Você foi designado? — perguntou Rosikhina.
— Me ligaram em casa. A que distância? — repetiu Oleksei.
— Entre meio metro e 2 metros. Tiro fácil. — E notou algo no assento atrás das nádegas da vítima. Inclinou-se para olhar mais de perto. — Estava armado — disse a Oleksei. — Uma semiautomática. Parece uma Makarov. Pelo menos tentou. Se fosse alguns segundos mais rápido em sacar, talvez...
— Ora, tenho uma pergunta para fazer — disse Oleksei. — Você preferiria ir assim como nosso amigo aqui, sabendo o que estava acontecendo, ou preferiria simplesmente... puf. Sumir. Nada.
— Pelo amor de Deus, Gennady...
— Vamos, coopere.
Rosikhina suspirou.
— Acho que prefiro ir durante o sono, com 100 anos e deitado ao lado da Natalia.
— Pavel, Pavel... Você não tem senso de humor.
— Desculpe. Não estou gostando disso aqui. Tem algo estranho. Tem cara e jeito de uma execução padrão da máfia, mas esse não é o tipo de vítima-padrão, pelo menos não sentado num lugar como este.
— Ou ele era muito corajoso ou muito estúpido — disse Oleksei.
— Ou desesperado. — Para ir a um lugar como aquele, a vítima russa caucasiana tinha que estar à busca de algo mais que um bom prato de djepelgesh e querer ouvir um pouco daquela horrorosa música de pondur, que, para os ouvidos de Pavel, parecia o ruído de gatas no cio.
— Ou realmente faminto — acrescentou Aleksei. — Outro chefão, talvez? Ele não me parece familiar, mas poderia estar lá nos álbuns.
— Duvido. Eles nunca viajam sem seu exército pessoal. Mesmo se alguém o atraísse para cá e metesse uma bala assim de perto, os guarda-costas teriam começado um tiroteio violento. O lugar estaria cheio de buracos e com muito mais cadáveres. Não, temos uma bala e um morto. Muito deliberado. Uma emboscada, profissionalmente executada. A pergunta é: quem é ele e por que é importante o suficiente para ser assassinado?
— Bem, não vamos conseguir respostas desse bando.
Rosikhina sabia que seu parceiro tinha razão. Fosse por medo ou por lealdade, a Obshina conseguia silenciar até uma alma de boa vontade. Os relatos das testemunhas invariavelmente cairiam em uma das três categorias gerais: não vi nada; um mascarado entrou, atirou, e saiu, tudo aconteceu rápido demais; e a favorita de Rosikhina: Ya ne govo’ryu po russki. Não falo russo.
E, de todos esses relatos, a única declaração verdadeira que conseguiriam provavelmente seria a penúltima: tudo aconteceu rápido demais. Não que ele os culpasse. A Krasnaya Mafiya, ou Bratva (irmandade), ou Obshina — seja lá qual fosse o nome ou denominação — não tinha comparação em sua falta de piedade. Testemunhas e suas famílias inteiras muitas vezes eram assinaladas para morrer simplesmente porque algum chefão em algum porão sombrio em algum lugar decidira que a pessoa poderia ter informações que talvez revelasse às autoridades. E não era simplesmente questão de morrer, Rosikhina fez questão de se lembrar. A máfia muitas vezes era engenhosa e sem pressa em seus métodos de execução. O que, ele se perguntou, faria em circunstâncias similares? Apesar de a máfia geralmente evitar matar policiais da milícia — isso era ruim para os negócios —, já acontecera antes. Armados e treinados como eram, os policiais podiam se proteger, mas o cidadão médio, o professor ou o operário de fábrica, ou o contador, que chances tinham? Nenhuma, na verdade. A milícia não tinha nem recursos nem pessoal para proteger todas as testemunhas, e o cidadão médio sabia disso, de modo que ficavam de boca fechada e cabeça baixa. Ali mesmo, vários dos frequentadores do restaurante estavam apavorados e temendo por suas vidas, simplesmente por estarem no lugar errado na hora errada. Era incrível como lugares como esse conseguiam permanecer abertos.
Era esse tipo de medo, pensou Rosikhina, que fazia as pessoas desejarem voltar aos velhos tempos, ao regresso do controle stalinista do país, e Putin, de muitas maneiras, fazia exatamente isso com seus “programas de reforma”. Não havia meio-termo, entretanto. Enquanto houvesse liberdade política, direitos pessoais e um mercado aberto na Rússia, haveria também crime, tanto grande quanto pequeno — e havia também na época de Stálin, só que não tanto. Mas esse argumento era um espantalho, não era? Algo que os velhos comunistas linha-dura e os ultranacionalistas usavam para desacreditar a democracia e o capitalismo, enquanto esqueciam que o controle a punho de ferro da Rússia soviética custara realmente muito caro. Como era mesmo aquele ditado? “As dificuldades apagam as lembranças?” O pai de Rosikhina, um pescador iacuto de nascimento, tinha sua própria versão do conceito: “Quando se está casado com uma megera, até a mais feia das ex-namoradas parece atraente.” E isso, ele sabia, é o que a Rússia soviética realmente era, uma ex-namorada feia. Certamente tinha seus traços positivos, mas nada que ele realmente desejasse ter de novo. Infelizmente, essa não era a opinião que muitos de seus compatriotas — pelo menos de uns quarenta por cento deles, segundo as últimas pesquisas de opinião, suspeitas como pudessem ser — compartilhavam. Ou talvez fosse aquilo que Oleksei uma vez o acusou de ser, um otimista zarolho. Ou será que era “otimista cego”?
Agora ele estava ali, olhando a janela da frente do restaurante, observando os clientes sombrios reunidos em grupinhos, a respiração virando vapor na noite fria, e se perguntava se seu otimismo não seria de fato desmerecido. Um restaurante onde vinte minutos antes mais de trinta pessoas testemunharam um homem ter a cabeça estourada e provavelmente ninguém levantaria um dedo para ajudá-lo a pegar o assassino.
— É verdade, mas nunca se sabe — respondeu Rosikhina. — É melhor perguntar e ser surpreendido que ficar aqui conversando, não acha?
Oleksei deu de ombros e sorriu como apenas um russo fatalista sabe. O que se pode fazer? Nada excitava muito Oleksei; sua compostura era tão permanente quanto o cigarro que parecia estar sempre fumando.
Mas então, em algumas raras ocasiões, alguns detalhes úteis eram inadvertidamente fornecidos pelas testemunhas e lhes davam algo para trabalhar em cima. O mais frequente, entretanto, era que os depoimentos fossem vagos e contraditórios, ou ambas as coisas, deixando os investigadores com nada além do que pudessem garimpar do corpo ou corpos deixados para trás.
— Além do mais — disse Rosikhina —, sem os depoimentos de todas essas testemunhas inúteis não teríamos quatro gloriosas horas de papelada burocrática e café ruim diante de nós.
— Quatro horas? Se tivermos sorte.
— Droga, cadê o legista?
Até que a vítima fosse oficialmente declarada morta, o corpo permanecia onde estava, morto e com os olhos vidrados encarando o teto.
— Está a caminho — disse Oleksei. — Verifiquei antes de vir para cá. Parece que a noite está movimentada.
Rosikhina se abaixou e conseguiu agarrar a guarda do gatilho da pistola com o indicador e a tirou do banco.
— Calibre 9 milímetros. — Ejetou o pente e puxou o ferrolho. Uma bala saltou da câmara e ressoou no chão.
— Bem, ele estava pronto para algo. Falta alguma?
Rosikhina meneou a cabeça e cheirou o cano.
— Acho que aconteceu rápido demais. Recentemente limpa. Bem, puta merda... Olhe só, Gennady, o número de série foi raspado.
— Será que os milagres nunca terminam?
Os bandidos frequentemente apagavam os números de série de armas usadas em assassinatos com ácido, mas raramente os reinscreviam. Se esse fosse o caso ali, o número da Makarov poderia levá-los a algum lugar. Otimismo zarolho.
E provavelmente inútil, Rosikhina lembrou a si mesmo.
Como frequentemente acontecia nos casos de homicídio, fosse no Ocidente ou em Moscou, o tenente Rosikhina e Oleksei pouco conseguiriam saber dos que estavam presentes no restaurante no momento do assassinato ou das buscas na vizinhança. A comunidade chechena era muito fechada, desconfiava da polícia e tinha um medo profundo da Obshina. E com toda razão. A brutalidade do grupo conhecia poucas barreiras. Uma testemunha pagaria não apenas com a própria vida, mas também com a de sua família, um espetáculo ao qual provavelmente seria forçada a assistir antes que também fosse assassinada. A perspectiva de ver seu próprio filho retalhado por uma serra tendia a fechar os lábios. Mesmo assim, Rosikhina tinha pouca escolha senão passar pela rotina de colher depoimentos, mesmo improdutivos, e rastrear pistas, mesmos que pouco substanciais.
Trabalhariam diligentemente no assassinato, mas, no final, as poucas pistas que tivessem se evaporariam e eles seriam forçados a deixar de lado o caso. Com esse pensamento, Rosikhina olhou tristemente para a vítima.
— Desculpe, amigo.
17
Era engraçado, pensou Jack Ryan Jr., não haver respostas congratulatórias ao anúncio do nascimento. Nenhuma. Ele havia indexado a coisa toda em seu computador, e tudo dentro dos terabytes de RAM no monstruoso servidor do Campus, e abrira os documentos mais recentes, fazendo uma anotação escrita do iniciador e do receptor, mas esses não eram nada mais que uma referência alfanumérica que podia ou não ter relação com os nomes verdadeiros. Jack ampliou a busca de e-mails até seis meses antes e montou rapidamente uma planilha. Com certeza, o trânsito havia sido uniforme, raramente variando mais que cinco por cento mês a mês. E agora, no período de poucos dias a partir do anúncio do nascimento, uma queda íngreme. De fato, além de algumas mensagens de rotina que provavelmente foram enviadas antes do anúncio e sido retidas no ciberespaço, não havia mais e-mails. O Emir e seu CRO — o Conselho Revolucionário Omíada — tinham entrado no que essencialmente era silêncio de rádio, e esse pensamento provocou um calafrio em Jack. Havia três opções: ou tinham mudado os protocolos de comunicação como uma medida geral de segurança, ou de algum modo perceberam que alguém estava lendo seus e-mails, ou isso era uma segurança de operação, um fechamento dos lábios eletrônicos prévio a uma operação de alto nível. As duas primeiras opções eram possíveis, mas improváveis. O CRO pouco mudara seus procedimentos nos últimos nove meses, e o Campus tinha sido bastante cuidadoso em não mostrar a cara. Então, opção três. Havia precedentes, claro. Logo antes do 11 de Setembro, o nível das conversas eletrônicas da al Qaeda caiu feito uma pedra; o mesmo aconteceu com os japoneses antes de Pearl Harbor. Uma parte de Jack queria que sua hipótese fosse comprovada; outra, tinha esperança de que estivesse errado.
Como, então, o Emir enviaria suas mensagens? Estafetas eram o método mais seguro, ainda que não o mais rápido. Escreva a mensagem, queime um disco e faça alguém levá-la até um ponto de encontro. Com o transporte aéreo moderno, uma pessoa podia ir de Chicago a Calcutá em menos de um dia, desde que não se importasse com comida de avião. Droga, o transporte aéreo internacional era planejado com isso em mente, não era? Poderia ter sido planejado tendo a comunidade “negra” em mente, e não simplesmente a equipe de vendas da Frederick’s de Hollywood ou a Dow Chemical.
Chicago a Calcutá. E se o Emir estivesse em Chicago, ou Nova York, ou Miami? O que o impediria de viver ali? Porra nenhuma. A CIA e todo mundo supunha que ele estivesse em algum desses países cujo nome termina em “istão” — por quê? Porque fora o último lugar onde havia sido visto. Não por causa de alguma evidência que o colocasse em algum lugar. E uma boa parte das forças especiais do governo dos Estados Unidos estava no Paquistão e no Afeganistão patrulhando tudo e olhando em todos os buracos nas pedras, fazendo inúmeras perguntas, gastando dinheiro à vontade, procurando o homem — ou a mulher — que pudesse conhecer seu rosto e saber onde ele estaria. E, ainda assim, nada. Quais eram as probabilidades disso?, perguntou-se Jack.
Um homem como o Emir jamais poderia se sentir suficientemente seguro, não com todas as agências de segurança do mundo atrás dele — até mesmo agentes de inteligência patriotas e dedicados podiam pensar na recompensa pública que os Estados Unidos ofereciam por sua cabeça e imaginar uma bela casa na Riviera e uma confortável aposentadoria, só por um telefonema e um tantinho de informação...
O Emir sabia disso tudo. Limitaria o número de pessoas que soubesse sua localização àquelas em que poderia confiar de modo absoluto, e tomaria muito cuidado com elas. O maior dos cuidados. Dinheiro, conforto, os luxos que as circunstâncias permitissem. Reforçaria o desejo delas de ganhar sua confiança. Reforçaria a fé delas em Alá e nele mesmo e seria extremamente solícito com elas. Mas também manteria sua aura de comando, porque a fonte de toda essa autoridade tinha sempre base no contato pessoal, tal como todas as coisas importantes na vida, uma coisa mental.
Então, o que seria necessário para o Emir se realocar além do Paquistão e do Afeganistão? Como é que alguém se muda, sendo o homem mais procurado na face da terra?
O arquivo principal da CIA sobre o Emir tinha fotografias medíocres, algumas originais e outras digitalmente aperfeiçoadas, todas distribuídas para virtualmente cada uma das agências policiais e de inteligência do mundo. O mesmo com o público em geral. Se Brad Pitt e Angelina Jolie não conseguem sair para almoçar no domingo sem serem importunados por uma multidão, o Emir certamente teria dificuldades para viajar para fora de seu terreno familiar.
O Emir não podia mudar sua estatura, embora isso fosse tecnicamente possível, mas envolveria uma grande e dolorosa cirurgia, seguida por um longo período de recuperação, que exigiria que ele permanecesse imóvel por várias semanas — muito risco para alguém em fuga permanente. Podia mudar seu rosto, a cor da sua pele, seu cabelo. Podia usar lentes de contato coloridas para mudar a cor dos olhos e talvez até melhorar sua visão, a qual, segundo o arquivo, era média. Ele caminhava ereto, não encurvado, e a conversa de que sofreria da síndrome de Marfan fora liquidada por um médico do John Hopkins, especialista na doença, para grande surpresa de Langley, pois na comunidade da inteligência aquilo havia se tornado verdade talhada na pedra. Assim, ele não precisava estar sempre perto de uma máquina de diálise.
Espere um segundo, Jack. A comunidade de inteligência andava presumindo coisas demais sobre o Emir. Tiveram, o quê?, uma opinião sobre essa história do Marfan. Era o suficiente para discutir a teoria? Pelo que Jack sabia, ninguém jamais pusera as mãos em alguém suficientemente próximo ao Emir para saber de alguma forma. Algo para pensar.
— Ei, Jack — disse uma voz familiar. Voltou-se e viu Dominic e Brian parados na porta.
— Olá, caras, entrem. O que há?
Cada irmão pegou uma cadeira. Dominic disse:
— Ficar lendo no computador a manhã inteira me deu dor de cabeça, então vim aqui encher seu saco. O que você anda lendo? Um formulário de emprego do Departamento do Tesouro?
Jack levou um instante para sacar a coisa. O Serviço Secreto era uma repartição do Tesouro. Esse tipo de piada andava aparecendo desde o caso de Georgetown. Apesar de a imprensa estar cobrindo de perto o assunto, seu nome até então não havia aparecido, o que era muito bom para ele. Hendley sabia da história toda, é claro, o que não chateava Jack nem um pouco. Era mais munição para quando chegasse a hora de convencer o chefe.
— Babaca — respondeu Jack.
— Já descobriram alguma coisa sobre o cara? — perguntou Brian.
— Não que eu saiba. A imprensa anda dizendo que ele não tinha cúmplices, mas num caso desses eles só sabem o que o Serviço Secreto deixa vazar. — Numa cidade onde os vazamentos eram mais a regra que a exceção, o Serviço Secreto era conhecido por ser impenetrável. Jack mudou de assunto. — Vocês já ouviram falar da teoria sobre o Marfan, certo? Sobre o Emir?
— Bem, acho que sim — respondeu Dominic. — Não teve muito sucesso, certo?
Jack deu de ombros.
— Estou tentando ver a coisa por outro ângulo. A localização dele, por exemplo. Tenho um palpite de que não está no Afeganistão, mas nunca pensamos em outra coisa senão ali ou Paquistão. E se tivéssemos pensado? Ele dispõe de bastante dinheiro, e dinheiro compra muita flexibilidade.
Brian encolheu os ombros.
— Mesmo assim, acho difícil imaginar um cara como ele saindo até mesmo uns 100 quilômetros de distância da toca sem ser notado.
— Suposições e análise de inteligência são péssimos companheiros — observou Jack.
— Verdade. Se esse merda se movimentou, aposto que está morrendo de rir vendo todo mundo trepando aquelas montanhas atrás dele. Mas como ele faria isso, hein? Com certeza não pode ir até o aeroporto de Islamabad e comprar uma passagem.
Dominic disse:
— Dinheiro também pode comprar muito conhecimento.
— O que você quer dizer? — perguntou Jack
— Há um especialista para cada problema, Jack. O truque é saber onde encontrar.
O dia transcorreu rapidamente. Às cinco da tarde, Jack enfiou a cabeça no escritório de Dominic. Brian estava sentado do outro lado da mesa do irmão.
— Olá, caras — chamou Jack.
— Olá — respondeu Brian. — Como anda o perito dos computadores?
— Dando no pé.
— Onde vai jantar? — perguntou Dominic.
— Aceito sugestões.
— A vida sentimental dele deve ser como a minha — resmungou Brian.
— Descobri um lugar novo em Baltimore. Querem experimentar?
— Claro. — Ora, bolas, pensou Jack. Comer sozinho não tinha a menor graça.
O comboio dos três carros se dirigiu para o norte na US 29, depois virou ao leste na US 40 para a viagem até a Little Italy de Baltimore — a maioria das cidades americanas têm uma —, perto da Eastern Avenue. A viagem era quase idêntica à que Jack normalmente fazia para ir para casa, a alguns quarteirões do estádio de beisebol de Camden Yards. Mas a temporada já terminara, mais uma vez sem chegar às finais.
A Little Italy de Baltimore era um emaranhado de ruas estreitas e poucos estacionamentos, e, para Jack, estacionar seu Hummer não era muito diferente de aportar um transatlântico. Mas enfim conseguiu uma vaga em um pequeno estacionamento e depois caminhou dois quarteirões até o restaurante na High Street, especializado em comida do norte da Itália. Ao entrar, viu que seus primos estavam acampados em uma mesa de canto, sem ninguém por perto.
— Que tal a comida daqui? — perguntou, pegando uma cadeira.
— O cozinheiro-chefe é tão bom quanto nosso avô, e isso é um elogio e tanto, Jack. A vitela é realmente de primeira classe. Dizem que ele mesmo a compra diariamente no Lexington Market.
— Deve ser dura, sendo de vaca — observou Jack, escrutinando o menu.
— Nunca perguntei — assinalou Brian. — E também nunca escutei queixas.
— Fale com minha irmã. Ela está virando vegan, salvo os sapatos — disse Jack com um muxoxo. — Que tal a carta de vinhos?
— Já pedi — respondeu o marine. — Lachrima Christi del Vesuvio. Descobri em Nápoles num cruzeiro pelo Mediterrâneo. As Lágrimas de Cristo do Vesúvio. Fiz uma viagem a Pompeia, e o guia disse que há mais de 2 mil anos cultivam uvas vinícolas ali, e achei que já deviam entender do negócio muito bem. Se você não gostar, pode deixar que eu bebo tudo.
— Brian conhece vinhos, Jack — disse Dominic.
— E você diz isso como se estivesse surpreso — disparou de volta Brian. — Não sou um marine qualquer, você sabe.
— Aceito a correção.
A garrafa chegou um minuto depois. O garçom a abriu com um floreio.
— Onde você come em Nápoles?
— Rapaz, você tem que se esforçar muito para achar um restaurante ruim na Itália — disse Dominic. — O que você compra pelas ruas é tão bom quanto na maioria dos restaurantes com cadeiras. Mas este lugar aqui é muito bom. Ele é paisano.
Brian sintonizou:
— Em Nápoles, há um lugar no cais chamado La Bersagliera, mais ou menos a um quilômetro e meio da fortaleza grande. Olha, eu arrisco até uma briga e digo que é o melhor restaurante do mundo.
— Não. O Alfonso Ricci, de Roma, a uns 800 metros do Vaticano — decretou Dominic.
— Bom, aceito sua palavra quanto a isso.
A comida chegou, juntamente com mais vinho, e a conversa passou a girar em torno de mulheres. Todos os três namoravam, mas sem compromisso. Os Caruso brincaram dizendo que esperavam a italiana perfeita; Jack, por sua vez, procurava uma garota que “pudesse apresentar para mamãe”.
— O que você está dizendo, primo? — perguntou Brian. — Você não gosta delas um pouquinho safadas?
— Na cama, claro que sim — respondeu Jack. — Mas em público... Não sou lá muito fã de frente única e tatuagens enormes no traseiro.
Dominic deu uma risadinha. Falou:
— Brian, como é mesmo o nome daquela garota... você sabe, a stripper com a tatuagem?
— Puta merda...
Dominic ainda ria. Voltou-se para Jack e disse, em tom meio conspiratório:
— Ela tinha essa tatuagem logo abaixo do umbigo: uma seta apontada para baixo com as palavras Escorregadia quando molhada. O problema é que ela escreveu escorregadia só com um r.
Jack caiu na risada.
— Como é mesmo o nome dela?
Brian sacudiu a cabeça.
— De jeito nenhum.
— Diga logo — falou Dominic.
— Vamos — provocou Jack.
— Candy.
Mais risos.
— Escrito com y ou com ie? — perguntou Jack.
— Nenhum dos dois. Dois e. Está bem, ela não era muito esperta. Mas não estávamos exatamente a caminho do casamento. E quanto a você, Jack? Qual o seu tipo? Jessica Alba, talvez? Scarlett Johansson?
— Charlize Theron.
— Boa escolha — observou Dominic.
Uma opinião saiu de uma cabine perto do bar:
— Eu preferia Holly Madison. Que peitos.
Os três se voltaram e viram uma mulher sorrindo para eles. Ruiva, alta, olhos verdes e sorriso aberto.
— Palpite grátis — acrescentou ela.
— A dama tem certa razão — observou Dominic. — Mas, realmente, se falamos de intelecto...
— Intelecto? — respondeu a mulher. — Pensei que estávamos falando de sexo. Se vocês querem meter capacidade cerebral na história, então tenho que dizer... Paris Hilton.
Houve um momento de silêncio antes que a expressão séria da mulher mostrasse a ponta de um sorriso. Jack, Dominic e Brian caíram na risada. O marine disse:
— Acho que chegou a hora de perguntar se você quer se sentar conosco.
— Adoraria.
Ela pegou a taça de vinho recém-completada e se mudou para a mesa deles, sentando-se ao lado de Dominic.
— Sou Wendy — disse. — Com um y no final — acrescentou. — Desculpem, mas não pude deixar de escutar — falou para Dominic. — Então já sabemos que Jack gosta de Charlize Theron e Brian prefere strippers disléxicas...
— Essa doeu — disse Brian.
— ... Mas e quanto a você?
— Quer a resposta verdadeira?
— Claro que sim.
— Vai parecer uma cantada.
— Manda ver.
— Eu prefiro as ruivas.
Jack gemeu.
— Que discreto.
Wendy examinou o rosto de Dominic por um instante.
— Mas acho que ele está falando a verdade — concedeu ela.
— Está mesmo — confirmou Brian. — Ainda tem um pôster da Lucille Ball no quarto dele.
Risadas gerais.
— Merda nenhuma. — Então, para Wendy: — Você veio encontrar alguém?
— Vinha. Uma namorada. Ela me mandou um torpedo dizendo que não vem mais.
Os quatro jantaram, pediram mais vinho e conversaram até perto das onze horas, quando Jack anunciou que ia para casa. Brian, que percebeu os mesmos sinais que o primo, também se levantou e fez uma mesura, e logo Dominic e Wendy ficaram a sós. Bateram papo por mais alguns minutos antes de ela dizer:
— Então...
Ali estava a deixa, e Dominic foi fundo.
— Quer sair?
Wendy sorriu.
— Meu apartamento fica a uns dois quarteirões daqui.
Os dois já estavam se beijando antes de a porta do elevador fechar, separaram-se brevemente quando ele chegou ao andar e caminharam juntos até a porta, e depois dentro, quando as roupas começaram a cair. Quando chegaram no quarto, Wendy se livrou do restante do vestido, mostrando um sutiã de rendas e calcinha combinando. Sentou-se na cama diante de Dominic, agarrou seu cinto e o abriu, depois se deitou na cama.
— Sua vez. — Um cacho que cabelos ruivos tinha desabado sob os olhos de Wendy.
— Nossa — suspirou Dominic.
— Aceito isso como um cumprimento — respondeu ela com uma risadinha.
Dominic tirou a calça e subiu na cama. Os dois se beijaram por trinta segundos até Wendy se afastar. Ela rolou pela cama e abriu a gaveta do criado-mudo.
— Só uma coisinha para criar um clima — disse, olhando para ele, e depois girando com um espelhinho retangular e um vidrinho do tamanho do polegar.
— O que é isso? — perguntou Dominic.
— Para esquentar o clima — disse Wendy.
Que merda, pensou Dominic. Ela viu sua mudança de expressão e perguntou:
— O quê?
— Não vai rolar.
— Por que, qual o problema? É só um pouquinho de coca.
Dominic se levantou, pegou a calça e se vestiu.
— Você vai embora? — perguntou Wendy, sentando-se.
— Sim.
— Você está me gozando? Só por causa da...
— Sim.
— Puxa, qual é o seu problema?
Dominic nem respondeu. Pegou a camisa do chão e a vestiu. Saiu a caminho da porta.
— Você é um babaca — disse Wendy.
Dominic parou e se voltou para ela. Tirou a carteira do bolso e abriu, mostrando seu escudo do FBI.
— Oh, merda — sussurrou Wendy. — Eu não queria... Você vai me...
— Não. Hoje é seu dia de sorte.
E foi embora.
Tariq Himsi contemplava o poder do dinheiro. E os acasos da escolha. Descobrir uma companhia para o Emir, mesmo para um encontro casual, era assunto delicado. Os gostos dele eram específicos; sua segurança estava acima de tudo. Felizmente, as putas ali eram abundantes, fáceis de achar na rua e, como ele descobriu, acostumadas a pedidos incomuns, tal como serem levadas a um local desconhecido em um veículo com janelas escurecidas. Seu trabalho prévio de reconhecimento mostrou que, mesmo moralmente corruptas, essas mulheres estavam longe de ser estúpidas: patrulhavam suas esquinas em grupos de duas ou três, e sempre que uma de suas cúmplices entrava em um carro, uma das outras anotava a placa. Uma ida rápida a um dos estacionamentos remotos de um dos aeroportos resolveu esse problema. Placas eram fáceis de instalar e ainda mais fáceis de jogar fora. Quase tão fácil quanto disfarçar sua aparência com grossos óculos escuros e um boné de beisebol.
No começo, Tariq chegou a pensar em contratar um serviço de garotas de programa, mas isso trazia complicações próprias — não insuperáveis, certamente, mas de qualquer modo complicadas. Através de sua rede, ele obteve o nome de um serviço conhecido pelo zelo na proteção do anonimato dos clientes, tanto que era usado por celebridades e políticos, incluindo vários senadores. A ironia de usar esse serviço era tentadora, Tariq teve que admitir.
Mas, por enquanto, ele se contentaria em contratar os serviços de uma das putas de rua que observara na última semana. Apesar de ela se vestir como as outras de um modo geral — roupas ofensivamente reveladoras —, seu gosto parecia ser ligeiramente menos horroroso, seus modos ligeiramente menos desavergonhados. Em curto prazo, ela serviria como receptáculo.
Ele esperou até bem depois de o sol se pôr, então ficou no final do quarteirão, aguardando uma diminuição do trânsito antes de ligar o carro e dirigir até onde a mulher e duas companheiras estavam paradas. Parou no meio-fio e abaixou a janela do passageiro. Uma das mulheres, uma ruiva com seios incrivelmente grandes, deslizou até a janela.
— Você não — disse Tariq. — Aquela outra. A loura alta.
— Como quiser, cara. Ei, Trixie, ele quer você.
Trixie deslizou até lá.
— Olá — disse. — Procurando uma namorada?
— Para um amigo.
— E onde esse amigo está?
— No condomínio dele.
— Não faço programas em casas.
— Dois mil dólares — respondeu Tariq, e imediatamente viu os olhos de Trixie mudarem. — Suas amigas podem anotar a placa, se quiserem. Meu amigo é... muito conhecido. Ele simplesmente quer uma companhia anônima.
— Sexo normal?
— Desculpe?
— Não topo brutalidade, nem essa de brincar com xixi, nada desse tipo de coisa.
— Claro.
— Ok, espere um instante, querido. — Trixie caminhou até suas amigas, trocou com elas algumas palavras e depois voltou até Tariq, que disse:
— Pode ir no banco de trás. — E soltou a tranca da porta.
— Puxa, que chique — disse Trixie, e entrou.
— Por favor, sente-se — disse o Emir a ela trinta minutos mais tarde, quando Tariq a levou até a sala de estar e fez as apresentações. — Gostaria de um pouco de vinho?
— Hã, claro, acho — disse Trixie. — Gosto desse tal de zinfandel. É assim que dizem, certo?
— Sim. — O Emir fez um sinal para Tariq, que desapareceu e voltou um minuto depois com duas taças de vinho. Trixie pegou a sua, olhou ansiosa ao redor, depois remexeu a bolsa e tirou um lenço de papel, onde cuspiu o chiclete que estava mascando. Tomou um gole de vinho.
— Troço bom.
— É mesmo. Trixie é seu nome verdadeiro?
— Sim, de verdade. E o seu, qual é?
— Acredite ou não, meu nome é John.
Trixie caiu na risada.
— Se você diz... Então, e aí, você é árabe ou algo assim?
Parado na soleira da porta atrás de Trixie, Tariq franziu a testa. O Emir levantou o indicador do braço da cadeira. Tariq assentiu e recuou alguns passos.
— Sou da Itália — disse o Emir. — Sicília.
— Ei, como O poderoso chefão, certo?
— Desculpe?
— Você sabe, o filme. Foi de lá que vieram os Corleone: Sicília.
— Acho que sim.
— Seu sotaque é meio engraçado. Você mora aqui ou só está de férias?
— Férias.
— É uma casa bem bacana. Você tem muita grana, hein?
— A casa é de um amigo.
Trixie sorriu.
— Um amigo, hein? Talvez seu amigo também queira companhia.
— Com certeza perguntarei a ele — falou o Emir, secamente.
— Só para você saber: só faço sexo normal, ok? Nada tarado.
— Claro, Trixie.
— E nada de beijo na boca. Seu cara aí falou em 2 mil?
— Você quer ser reembolsada agora?
Trixie tomou outro gole de vinho.
— Eu o quê?
— Seu dinheiro.
— Claro. E aí podemos começar. — Ao sinal do Emir, Tariq avançou e entregou a Trixie um maço de notas de 100 dólares. — Sem ofensa — disse, e depois contou as notas. — Quer fazer aqui mesmo?
Uma hora mais tarde o Emir saiu do quarto. Atrás dele, Trixie vestia a calcinha e cantarolava consigo mesma. Na mesa de jantar, Tariq se levantou para receber seu chefe. O Emir simplesmente disse:
— Perguntas demais.
Alguns minutos mais tarde na garagem, Tariq deu a volta no carro para abrir a porta de trás para ela.
— Foi divertido — disse ela. — Se o cara quiser fazer de novo, você sabe onde me encontrar.
— Informarei a ele.
Quando Trixie se abaixou para entrar no carro, Tariq deu um leve chute na parte de trás do joelho dela, fazendo-a cair.
— Ei, mas que...? — foram as únicas palavras que ela conseguiu dizer antes que o garrote de Tariq, uma peça de corda de náilon de meio metro de comprimento desse a volta em seu pescoço e apertasse sua traqueia.
Como ele planejara, os laços duplos da corda, espaçados a 15 centímetros do meio dela, imediatamente comprimiram as artérias carótidas dos dois lados da traqueia. Trixie começou a dar pinotes, agarrando a corda, seu torso se curvando até que Tariq pôde ver seus olhos — primeiro arregalados e saltados, e então, vagarosamente, à medida que o sangue que chegava a seu cérebro diminuía, trêmulos e girando para trás na órbita. Depois de mais uns dez segundos, Trixie amoleceu. Tariq manteve a pressão na corda por mais três minutos, de pé e perfeitamente imóvel enquanto a vida vagarosamente escoava do corpo dela. A estrangulação não era assim tão rápida como parecia nos filmes de Hollywood.
Ele deu dois passos para trás, arrastando-a consigo e vagarosamente deitando seu corpo no chão de concreto da garagem. Cuidadosamente, tirou a corda do seu pescoço e examinou a pele. Havia um machucado, mas nada de sangue. Mesmo assim, a corda seria depois queimada em um balde de aço. Ele procurou o pulso no pescoço e não encontrou nada. Ela estava morta, disso tinha certeza, mas, dadas as circunstâncias, um cuidado extra era necessário.
Colocando uma das mãos embaixo do seu ombro e a outra por baixo das nádegas, Tariq virou Trixie de barriga para baixo, depois se escarranchou em sua cintura. Colocou a mão esquerda abaixo do queixo dela, puxou a cabeça em sua direção, depois colocou a palma da mão direita do lado da cabeça e alavancou as mãos em direções opostas. O pescoço quebrou. Trocou a posição das mãos e girou a cabeça na outra direção, provocando outro barulho abafado de osso quebrando. Os impulsos nervosos residuais do corpo fizeram as pernas dela se mexerem uma vez. Ele gentilmente abaixou a cabeça até o chão e se levantou.
Agora só faltava decidir até que distância deserto adentro ele a levaria.
18
A recepção que tiveram depois de pousar em Trípoli devia ter informado Clark e Chavez tudo que precisavam saber sobre o humor do coronel Muammar Kadafi e seus generais, assim como sobre o nível de apoio que podiam esperar. O tenente da Milícia Popular que os esperava no final da escada do avião era polido, mas tão verde quanto o sol líbio era quente, e o tique nervoso no seu olho esquerdo informou a Clark que ele sabia o suficiente sobre sua responsabilidade para ficar nervoso. Pode se preparar, rapaz. Evidentemente, Kadafi não estava nada feliz por ter soldados do Ocidente em seu solo, muito menos soldados de forças especiais. Clark não sabia nem se importava se esse desprazer era fruto do orgulho ou de algum motivo político mais profundo. Enquanto ficassem fora do caminho da Rainbow e não fizessem com que alguém dentro da embaixada fosse morto, Muammar podia ficar tão puto quanto quisesse.
O tenente fez continência a Clark, disse “Masudi”, que Clark supôs que fosse seu nome, depois ficou de lado e fez um gesto na direção de um caminhão do Exército com jeito dos anos 1950, com toldo de lona, estacionado a uns 30 metros dali. Clark fez um sinal para Stanley, que comandou os homens para que reunissem o equipamento e fossem até o caminhão.
O sol estava tão quente que fazia a pele de Clark arder, e mandar o ar superaquecido aos seus pulmões quase os queimava. Uma ligeira brisa tremulava as bandeiras no teto do hangar, mas estava longe de refrescar qualquer coisa.
— Bem, pelo menos mandaram alguém, hein? — murmurou Chavez a Clark enquanto caminhavam.
— Sempre vendo o lado bom das coisas, hein, Ding?
— Pois é, mano.
Menos de uma hora depois de serem retirados do avião em Heathrow e ouvir o relato de Alistair Stanley, Clark, Chavez e os demais atiradores da Rainbow 6 de prontidão estavam a bordo de um jato da British Airways em direção à Itália.
Como todas as equipes militares, a Rainbow tinha sua cota de mudança de pessoal, afinal os homens voltavam para seus países de origem, a maioria promovida por merecimento depois do trabalho no grupo. Dos oito que Stanley havia escolhido para a operação, quatro eram originais: primeiro-sargento Miguel Chin, Navy SEAL; Homer Johnston; Louis Loiselle e Dieter Weber. Dois americanos, um francês e um alemão. Johnston e Loiselle eram atiradores de elite, ambos terrivelmente precisos, suas balas raramente deixando de acertar bem no X do alvo.
De fato, todos eles eram bons atiradores. Ele não tinha a menor preocupação quanto a isso, porque não se chegava a fazer parte da Rainbow sem que, em primeiro lugar, tivesse muito tempo de serviço, e, em segundo lugar, fosse o melhor entre os melhores. E certamente ninguém permanecia na Rainbow sem estar à altura do exigido por Alistair Stanley, que era, apesar de educadíssimo, um durão de verdade. Melhor suar no treinamento que sangrar em uma operação, Clark lembrava a si mesmo. Era um antigo adágio do SEAL, e ao qual qualquer serviço de forças especiais que valesse o nome aderia como se fosse palavra divina.
Depois de uma breve escala em Roma, foram levados a um Piaggio P180 Avanti, um bimotor turboélice gentilmente fornecido pelo 28º Esquadrão “Tucano” da Aviação do Exército para o trecho final até Taranto, onde ficaram sentados bebendo Chinotto, o equivalente italiano do Sprite, enquanto recebiam uma lição da história de Taranto, a Marina Militare, e sua predecessora a Regia Marina. Depois de quatro horas disso, o telefone via satélite de Stanley recebeu uma ligação. Os políticos haviam se entendido. Como convenceram Kadafi a não enviar sua tropa de choque era algo que Clark não sabia, nem se importava. A Rainbow tinha sinal verde.
Uma hora depois, embarcaram no Avanti para o salto de 800 quilômetros pelo Mediterrâneo até Trípoli.
Clark seguiu Chavez até o caminhão e subiu a bordo. Sentado no banco de madeira diante dele havia um homem em roupas civis.
— Tad Richards — disse o homem, apertando a mão de Clark. — Embaixada dos EUA.
Clark nem se preocupou em perguntar qual era a posição do sujeito. A resposta provavelmente envolveria uma combinação das palavras adido, cultural, júnior e departamento de Estado, mas de fato ele era parte da estação da CIA na Líbia, que trabalhava fora da embaixada, no Corinthia Bab Africa Hotel. Tal como o tenente da Milícia Popular que os recebera, Richards parecia verde demais. Provavelmente era seu primeiro posto no exterior, considerou Clark. Na verdade, não importava. Pelo menos enquanto o sujeito tivesse a inteligência de que precisavam.
Com um ranger de engrenagens e a fumaça de diesel saindo pelo cano, o caminhão deu um salto para a frente e começou a se movimentar.
— Desculpem o atraso — disse Richards.
Clark deu de ombros, notando que o sujeito não perguntou pelo nome de ninguém. Talvez mais esperto do que eu pensava.
— Percebo que o coronel não está nem um pouco entusiasmado por nos hospedar.
— Percebe corretamente. Não tenho certeza dos comos nem dos porquês, mas os telefones tocaram que nem doidos nas últimas oito horas. O Exército postou segurança extra ao redor do hotel.
Fazia sentido. Fosse ou não uma ameaça verdadeira, a “proteção” reforçada da embaixada americana pelo governo líbio certamente era um sinal. O povo da Líbia estava tão infeliz com a presença de soldados ocidentais em seu solo que era possível haver ataques a alvos americanos. Era tudo bobagem, é claro, mas Muammar tinha que se equilibrar entre ser o mais recente aliado dos EUA no norte da África e governar um país cujas simpatias eram amplamente favoráveis à causa palestina, e consequentemente desfavoráveis a seus opressores, os Estados Unidos e Israel.
— As alegrias da política internacional — observou Clark.
— Amém.
— Você fala árabe?
— Sim, passável. E estou melhorando. Já trabalho no nível três do curso da Pedra da Rosetta.
— Ótimo. Vou precisar de você por perto, traduzindo para nós.
— Pode deixar.
— Tem informação da inteligência para nós?
Richards assentiu, enxugando a testa com um lenço.
— Montaram um posto de comando no último andar de um edifício de apartamentos a um quarteirão da embaixada. Eu mostro a você o que temos quando chegarmos lá.
— Está bem — respondeu Clark. — Algum contato de dentro do complexo?
— Nada.
— Quantos reféns?
— Segundo o Ministério do Exterior sueco, 16.
— O que fizeram até agora. Os locais, quero dizer?
— Pelo que eu saiba, nada além de estabelecer um perímetro e manter civis e repórteres longe dali.
— A notícia se espalhou? — perguntou Chavez.
Richards assentiu.
— Há duas horas, enquanto vocês voavam. Desculpem, me esqueci de contar.
Clark perguntou:
— Serviços públicos?
— Água e eletricidade ainda abastecem o complexo.
Cortar esse fornecimento era praticamente o primeiro item da lista do que fazer em uma situação com reféns. Isso era importante por duas razões: primeiro, por mais durões que fossem, a falta desses elementos começava a desgastar os bandidos; e em segundo lugar, a volta da água e da eletricidade podia ser usada durante as negociações: nos devolva cinco reféns e deixamos que o ar-condicionado volte a funcionar.
Mas esse era mais uma vez o caso em que o governo líbio, tendo recebido o recado de “se mandar dali”, lavava as mãos diante da situação. No entanto, isso poderia ser revertido a seu favor. A menos que os bandidos dentro da embaixada fossem uns completos idiotas, já teriam notado que água e luz continuavam e tentavam adivinhar o que acontecia lá fora, supondo que as forças de segurança ou estavam despreparadas ou esperando para cortar a energia como preparação para um ataque.
Talvez... se, pensou Clark. Não é fácil entrar na mente de qualquer pessoa, muito menos na de algum escroto que acha legal tomar como refém um bando de civis inocentes. Podia ser também que os bandidos não tivessem nenhum pensamento estratégico nem considerassem o significado do assunto do fornecimento de energia e água. Ainda assim, haviam sido bons o suficiente para despachar um grupo de Särskilda Skyddsgrupens, o que no mínimo sugeria que a Rainbow lidava com pessoas com algum treinamento. Não havia nada melhor que a Rainbow, disso Clark tinha certeza. Seja qual fosse a situação lá dentro, a coisa iria se resolver — muito provavelmente em detrimento dos bandidos.
O trajeto durou vinte minutos. Clark passou a maior parte do tempo imaginando cenários e observando as estradas empoeiradas cor de cobre de Trípoli passar pela abertura dos fundos do caminhão. Finalmente, o veículo resmungou e parou em um beco cujas entradas dos dois lados eram sombreadas por tamareiras. O tenente Masudi apareceu e abaixou a porta traseira. Richards desceu e conduziu Stanley e Clark pelo beco, enquanto Chavez e os demais recolhiam o equipamento para depois os seguir. Richards os guiou subindo dois andares de degraus de pedra montados num muro externo, então atravessando a porta de um apartamento semiacabado. Pilhas de placas de reboco estavam arrumadas contra a parede, juntamente com latas de gesso de acabamento. Apenas duas das quatro paredes estavam terminadas, pintadas num tom verde-musgo que parecia tirado de um episódio de Miami Vice. A sala cheirava a tinta fresca. Uma grande janela panorâmica enquadrada por tamareiras dava vista, a uma distância de uns 200 metros, para o que Clark supôs ser a embaixada sueca, um edifício no estilo de villa espanhola, de dois andares, cercado por um muro de estuque branco de aproximadamente 2,5 metros de altura, com espigões de ferro batido no topo. O andar térreo do edifício tinha muitas janelas, todas barradas e fechadas.
Mais de 500 metros quadrados, pensou Clark azedamente. Muito território. E talvez mais um porão.
Ele meio que esperava encontrar ali um ou dois coronéis ou generais da Milícia Popular esperando por eles, mas não havia nenhum. Evidentemente, Masudi seria o único contato deles com o governo líbio, o que para Clark estava de bom tamanho, desde que o sujeito tivesse as condições necessárias de providenciar o que pedissem.
A rua abaixo parecia uma parada militar. Nas duas vias adjacentes à embaixada que eram visíveis, Clark contou pelo menos seis veículos do Exército, dois jipes e quatro caminhões, cada um cercado por um grupo de soldados, fumando e passeando pelo lugar, rifles descuidadamente pendurados nos ombros. Se ele não soubesse de antemão, o posicionamento das armas dos soldados informariam Clark de tudo que precisava saber sobre a atitude de Kadafi diante da crise. Tendo sido colocado fora da jogada dentro do próprio país, o coronel retirou suas tropas de elite do perímetro e as substituiu pelo grupo de recrutas mais mal-ajambrados que conseguiu reunir.
Como um garotinho mimado que pega suas bolas de gude e vai para casa.
Enquanto Chavez e os demais começavam a desempacotar e separar o equipamento na inacabada sala de refeições, Clark e Stanley inspecionaram o complexo da embaixada com binóculos. Richards e o tenente Masudi ficaram de lado. Após dois minutos de silêncio, Stanley disse sem abaixar o binóculo:
— Bem difícil.
— Sim — respondeu Clark. — Viu algum movimento?
— Não. E aquelas são janelas de fazenda. Boas e sólidas.
— Câmeras de vigilância fixas em cada canto, logo abaixo do beiral, e duas na fachada frontal.
— Melhor supor o mesmo para os fundos — respondeu Stanley. — A questão é saber se o pessoal da segurança teve tempo de apertar o botão.
A maioria das embaixadas tinha uma lista de procedimentos de emergência que qualquer destacamento profissional de segurança saberia de cor. E, no topo da lista, sob a rubrica “Em caso de invasão armada e tomada da embaixada” ou algo semelhante, haveria instruções para desarmar definitivamente o sistema externo de vigilância do edifício. Bandidos cegos são mais facilmente dominados. Mas não havia como saber se os suecos tinham ou não feito isso, de modo que a Rainbow agiria supondo que as câmeras não apenas funcionavam como estavam sendo monitoradas. A boa notícia era que elas eram fixas, o que tornava mais fácil estabelecer os pontos cegos e as falhas na cobertura.
Clark disse:
— Richards, a que horas é o pôr do sol?
— Mais ou menos em três horas. A meteorologia diz que haverá céu claro.
Merda, pensou Clark. Operar em um clima de deserto podia ser um pé no saco. Trípoli tinha pouca poluição, mas nada como a das metrópoles ocidentais, de forma que a luz ambiente da lua e das estrelas dificultaria a movimentação. Muito iria depender de quantos bandidos havia lá dentro e de como se posicionavam. Se tivessem gente o suficiente, quase certamente teriam vigilância estabelecida, mas nada disso seria difícil para Johnston e Loiselle. Ainda assim, qualquer aproximação ao complexo devia ser cuidadosamente planejada.
— Johnston — chamou Clark.
— Sim, chefe.
— Dê uma volta. Ache seus poleiros e depois volte aqui para esboçarmos o esquema de cobertura e campos de fogo. Richards, diga ao nosso acompanhante para avisar: deixem nossos homens trabalhar e não fiquem no caminho deles.
— Está bem. — Richards pegou Masudi pelo ombro, levou-o um pouco para longe e depois começou a falar. Depois de meio minuto, Masudi assentiu e saiu.
— Temos as plantas? — perguntou Stanley a Richards.
O sujeito da embaixada checou as horas.
— Devem estar aqui dentro de uma hora.
— Vindas de Estocolmo?
Richards balançou a cabeça negativamente.
— Daqui. Ministério do Interior.
— Deus do céu.
Também não havia sentido transmiti-las aos poucos em arquivos JPEG. Nenhuma garantia de que fossem melhores que o que já tinham — a menos que os líbios se dispusessem a levar as fotos até um serviço de impressão profissional para emendá-las. Clark não pensava em segurar o fôlego esperando por isso.
— Ei, Ding?
— Aqui, chefe.
Clark lhe entregou os binóculos.
— Dê uma olhada. — Juntamente com Dieter Weber, Chavez seria o líder de um dos dois grupos de assalto.
Chavez escrutinou o edifício por um minuto, depois devolveu os binóculos.
— Porão?
— Ainda não sabemos.
— Os bandidos geralmente gostam de se preparar, portanto eu diria que estão concentrados no primeiro andar ou no porão, se houver um, ainda que isso seja duvidoso... a menos que sejam realmente idiotas.
Não há saída no subsolo, pensou Clark.
— Se conseguirmos determinar mais ou menos onde estão os reféns e se estão reunidos ou separados... Mas, se eu tivesse que tomar uma decisão de pronto, diria que o melhor seria entrarmos pelo segundo andar, pelas paredes do sul e do leste, limpar esse andar e depois descer. Na verdade, tática padrão de pequenas unidades. Tome o ponto mais elevado do mapa e os bandidos automaticamente ficam em desvantagem.
— Prossiga — disse Clark.
— As janelas do primeiro andar estão descartadas. Podemos cuidar das grades, mas não rapidamente, e isso faria muito barulho. Mas esses balcões... Os parapeitos parecem bastante sólidos. Deve ser fácil subir até lá. Muito vai depender da planta. Se for mais aberta, não tão compartimentada, eu diria para começarmos por cima. Caso contrário, podemos sacudir as gaiolas com granadas de luz e som, arrombamos as paredes em alguns lugares com Gatecrashers e depois voamos para dentro.
Clark olhou para Stanley, que assentiu, aprovando.
— O garoto está aprendendo — disse com um sorriso.
— Vai se foder — respondeu Chavez com seu próprio sorriso.
Clark checou mais uma vez seu relógio. Tempo.
O bandidos não tinham feito contato, e isso o preocupava. Havia apenas um par de razões para explicar o silêncio: ou esperavam para ter certeza de que tinham a atenção do mundo inteiro antes de anunciar suas exigências ou esperavam ter certeza da atenção do mundo inteiro antes de começar a jogar cadáveres pela porta da frente.
19
Sem surpreender ninguém, as plantas não chegaram dentro da uma hora prometida e sim perto de duas horas depois, de modo que não faltavam nem noventa minutos para o pôr do sol quando Clark, Stanley e Chavez desenrolaram as plantas do complexo e deram sua primeira olhada no que os esperava mais adiante.
— Puta merda — resmungou Stanley.
As plantas não eram o conjunto original dos arquitetos e sim uma fotocópia emendada de outra fotocópia. Muitas das anotações estavam tão borradas que não eram decifráveis.
— Ah, Jesus... — disse Richards, olhando por cima do ombro deles. — Sinto muito, eles disseram...
— Não é culpa sua — respondeu Clark calmamente. — Mais jogadas. Vamos nos virar com isso. — Era outra coisa que a Rainbow fazia muito bem: adaptar e improvisar. Plantas ruins eram apenas outra forma de inteligência deficiente, e a Rainbow tinha lidado bastante com isso. Pior ainda, os serviços de inteligência do bom coronel se recusaram a dar aos suecos plantas de seu próprio edifício, de modo que estavam com azar ali também.
A boa notícia era que a embaixada não tinha porão, e a planta do andar era relativamente aberta. Nada de corredores improvisados e espaços reservados, o que tornava a ocupação do andar tediosa e exigia muito tempo. E havia um balcão no segundo andar com vista para um largo espaço aberto, ao lado de uma parede de pequenas salas no lado oeste.
— Doze por quinze metros — observou Chavez. — O que acha? Área principal de trabalho?
Clark assentiu.
— E essas salas do lado oeste devem ser os escritórios executivos.
Do lado oposto, logo abaixo de um pequeno saguão que virava à direita no pé da escada, havia o que parecia ser uma área de cozinha/refeitório, um banheiro e mais quatro salas sem identificação na planta. Talvez depósitos, considerou Clark, a julgar pelo tamanho. Uma delas provavelmente era o escritório da segurança. No final do corredor havia uma porta que se abria para o exterior.
— As plantas não marcam os pontos de eletricidade e água — disse Chavez.
— Se você está atrás do esgoto para entrar, pode esquecer — respondeu Richards. — Esse é um dos bairros mais antigos de Trípoli. O sistema de esgotos é uma merda...
— Engraçadinho.
— Os canos não deixam passar nem uma bola de vôlei, e se rompem com apenas um olhar. Só nesta semana tive que fazer dois desvios quando voltava do trabalho para evitar buracos de esgotos.
— Muito bem — disse Clark, voltando ao assunto principal. — Richards, você fala com Masudi para ter certeza de que eles cortarão a eletricidade quando fizermos o sinal. — Eles decidiram deixar água e luz ligadas por enquanto para não agitar os bandidos tão perto do momento em que Chavez e suas equipes invadiriam.
— Certo.
— Ding, checagem de armas.
— Feita e refeita.
Como sempre, as equipes de assalto estariam armadas com uma Heckler & Koch MP5SD3, com silenciador, carregadas com balas de 9 milímetros e capacidade de setecentos tiros por minuto.
Juntamente com o carregamento padrão de granadas de fragmentação e de luz e som, cada homem estaria também armado com uma pistola Colt automática MK23, de 45 milímetros. Ela possui um silenciador KAC e um módulo de pontaria a laser — LAM — com quatro modos de seleção: apenas laser visível, laser visível/lanterna, apenas laser infravermelho e laser infravermelho/iluminador. Preferida das equipes de comandos da Marinha e do SBS — Serviço de Navegação Especial dos ingleses —, a MK23 era uma maravilha de durabilidade, tendo sido exaustivamente testada tanto pelos SEAL quanto pelo SBS em temperaturas extremas, submersão em água salgada, impacto de disparo a seco e contra o mais mortal dos inimigos das armas: a sujeira. Como um bom relógio Timex, a MK23 podia levar uma pancada e continuar tiquetaqueando — neste caso, disparando.
Johnston e Loiselle também possuíam brinquedinhos novos à sua disposição, tendo em vista que a Rainbow recentemente havia trocado o rifle de precisão M24 pelo Knights Armament M110 Sniper System, equipado com uma luneta Leopold para condições diurnas e o testado e aprovado visor noturno AN/PVS-14. Ao contrário do M24, um rifle de culatra móvel, o M110 era semiautomático. Para equipes de assalto, ou seja, Johnston e Loiselle, os tiros de cobertura podiam disparar mais balas na metade do tempo.
Seguindo instruções de Clark, cada um dos dois franco-atiradores havia percorrido a área, circunavegando os quarteirões ao redor do complexo da embaixada, escolhendo possíveis poleiros e esboçando seus campos de tiro. A partir dos pontos que Chavez e Weber escolhessem como pontos de penetração, Johnston e Loiselle seriam capazes de oferecer cobertura total — até as equipes entrarem propriamente no edifício, pelo menos. Uma vez lá dentro, as equipes de assalto estariam por conta própria.
Cinquenta minutos depois do pôr do sol, a equipe se acocorou no seu posto de comando improvisado, luzes apagadas, esperando. Clark podia observar, com os binóculos, um fraco brilho de luz escapando pelas janelas. As luzes externas também tinham acendido, quatro postes de 6 metros de altura, um em cada canto do complexo e cada um com uma lâmpada de vapor de sódio apontada na direção do edifício.
Uma hora antes, os chamados do muezim para o salah ecoaram por toda Trípoli, mas agora as ruas estavam desertas e calmas, salvo pelos latidos distante de cães, a buzinada ocasional e as vozes abafadas dos guardas da Milícia Popular no perímetro estabelecido ao redor da embaixada. A temperatura havia descido apenas um pouco, mantendo-se acima dos 30 graus. Entre aquela hora e o nascer do sol, quando o calor se dissipasse no ar sem nuvens do deserto, a temperatura cairia pela metade ou mais, porém Clark tinha certeza de que até então a embaixada estaria segura e a Rainbow estaria empacotando suas coisas. Tinha esperança de que não houvesse baixas entre os seus e que sobrassem alguns bandidos vivos para entregar para... seja lá quem fosse. Quem iria supervisionar a limpeza pós-missão e a subsequente investigação provavelmente ainda estaria sendo discutido.
Em algum lugar na escuridão um celular tocou suavemente, e momentos depois Richards apareceu ao lado do ombro de Clark e sussurrou:
— Os suecos já pousaram no aeroporto.
O Serviço de Segurança Sueco, a Säkerhetspolisen, ocupava-se da divisão antiterrorista do país, enquanto a Rikskriminalpolisen, ou Departamento de Investigações Criminais, era sua versão do FBI. Uma vez que a Rainbow capturasse a embaixada, o local seria entregue a eles.
— Ótimo, obrigado. Acho que isso responde à questão. Diga a eles para ficarem lá a postos. Logo que terminarmos aqui eles podem vir. Mas nada sobre nosso cronograma. Não quero que isso se espalhe.
— Você acha que os suecos...
— Não, não intencionalmente, mas sabe lá com quem estão falando. — Apesar de Clark achar isso improvável, não podia descartar a possibilidade de os líbios jogarem uma chave para engatar o mecanismo: os americanos vieram para cá, falharam na missão e agora temos pessoas mortas. Um golpe de publicidade para o coronel.
Já haviam se passado quase 24 horas desde que a embaixada fora invadida, e ainda não havia sinal de vida vindo lá de dentro. Clark tinha escolhido as duas e quinze da madrugada como hora do ataque, raciocinando que os terroristas supunham que qualquer assalto viria ao cair do sol. Clark esperava que o atraso os fizesse relaxar, mesmo que só um pouco. Mais ainda, entre as duas e as quatro da madrugada era o momento em que a mente humana perdia sua agudez — especialmente mentes humanas assoberbadas com os dois demônios do estresse e da incerteza pelas últimas 28 horas.
À uma e meia Clark disse a Johnston e Loiselle que se preparassem, e depois acenou para Richards, que por sua vez acionou o tenente Masudi. Cinco minutos e uma comprida discussão por walkie-talkies mais tarde, o líbio se apresentou de volta: os guardas do perímetro estavam prontos. Clark não queria nenhum recruta nervoso tentando atingir seus franco-atiradores quando estes fossem para suas posições. Da mesma maneira, colocou Stanley e Chavez a postos com os binóculos, observando atentamente. Apesar de improvável, sempre existia a possibilidade de que alguém — um simpatizante ou simplesmente algum babaca que odiasse os americanos — tentasse sinalizar para os terroristas que o jogo já ia começar. Se isso acontecesse, não havia muito que Clark pudesse fazer, salvo chamar Johnston e Loiselle de volta e tentar mais tarde.
Com os franco-atiradores equipados, os M110 nos ombros, Clark esperou cinco minutos e depois sussurrou para Stanley e Chavez:
— Como está a situação?
— Sem mudanças — relatou Ding. — Um pouco de ação nos walkie-talkies, mas isso provavelmente é o aviso sendo repassado.
À uma e quarenta, Clark se voltou para Johnston e Loiselle e acenou. Os dois atiradores deslizaram pela porta e desapareceram na escuridão. Clark colocou o fone de ouvido.
Passaram-se cinco minutos. Dez minutos.
A voz de Loiselle chegou pelo rádio:
— Ômega Um, em posição.
Seguido dez segundos depois por Johnston.
— Ômega Dois, em posição.
— Entendido — respondeu Clark, verificando o relógio. — Aguardem. Equipes de assalto se movimentando em dez minutos.
Escutou as respostas: um par de cliques duplos significando “entendido”.
— Alistair... Ding?
— Nenhum movimento. Tudo quieto.
— Por aqui também, chefe.
— Ok, preparem-se.
Chavez entregou seus binóculos a Clark e se reuniu com sua equipe na porta. Weber e sua equipe, encarregados da invasão do canto ocidental da frente do prédio, tinham mais terreno para cobrir para chegar na sua posição, de modo que sairiam na frente, seguidos quatro minutos depois por Chavez e seus atiradores.
Clark examinou mais uma vez o complexo da embaixada, procurando movimento, mudanças — qualquer coisa que não passasse por sua verificação cinestésica. Quando se faz esse tipo de coisa há muito tempo, aprendeu Clark, você desenvolve algo parecido com um sexto sentido. Você acha que tudo está certo? Nenhuma voz chamando do fundo da sua mente? Alguma coisa não verificada ou detalhes esquecidos? Clark já vira muitos operadores bastante bons esquecerem a verificação cinestésica, geralmente para prejuízo próprio.
Clark abaixou os binóculos e se voltou para suas equipes, preparadas perto da porta.
— Vão — sussurrou.
20
Chavez esperou os quatro minutos necessários, depois conduziu sua equipe pelos degraus até a saída do beco. Como Clark havia requisitado, os líbios desligaram as luzes da rua no quarteirão ao redor da embaixada, algo que todos esperavam que os bandidos não notassem, pois as luzes do complexo ainda estavam acesas e dirigidas para o interior. Também a pedido, o trio de caminhões do Exército tinha sido estacionado em fila no meio da rua entre o apartamento do posto de comando e o lado leste do complexo.
Através de sinais de mão, mandou cada homem pela calçada, fazendo uso das sombras e dos caminhões como cobertura até alcançarem o beco seguinte, onde uma linha de sebes passava em frente ao edifício seguinte, uma clínica médica particular, segundo disseram a Ding, de onde os civis foram evacuados mais cedo naquele dia.
Quando a equipe estava abrigada atrás das sebes, ele os seguiu caminhando, meio agachado, a MP5 engatilhada, os olhos esquadrinhando a frente, a direita e o alto do muro do complexo da embaixada. Nenhum movimento. Ótimo, nada de olhar para cá, cara.
Chavez alcançou a sebe e se acocorou. Pelo fone de ouvido escutou a voz de Weber.
— Comando, Vermelho Vivo, câmbio.
— Adiante, Vermelho Vivo.
— Posicionado. Preparando Gatecrasher.
Chavez meio que desejou estar no lugar de Weber. Apesar de já ter usado o novo brinquedinho da Rainbow nos treinamentos, ainda não havia observado em ação real.
Desenvolvido pela Alford Technologies na Inglaterra, o Gatecrasher — que Loiselle apelidara de “fazedor mágico de portas” — lembrava a Ding um desses escudos retangulares arredondados que os espartanos usavam no filme 300, porém uma analogia mais precisa seria a de um bote de borracha com um quarto do tamanho. Em vez de ar no anel externo dos tubos, havia água, e do lado oposto, no lado vazio do Gatecrasher, uma fita embutida dentro da qual estavam acomodados cordões detonadores de PETN. Os cordões detonadores, protegidos pela camada de água, criavam o que se chamava de efeito socador, basicamente transformando o cordão detonador numa carga explosiva moldada — um anel explosivo que podia cortar uma parede de 35 centímetros de tijolos sólidos.
O Gatecrasher resolvia um número de problemas que havia muito incomodava as forças especiais e os grupos de resgate. Número um: armadilhas em pontos de entrada; e número dois: o “funil fatal”. Os terroristas, sabendo que os mocinhos tinham que entrar pelas portas ou pelas janelas, montavam explosivos nelas — como fizeram no massacre da escola em Breslan, na Rússia —, e/ou concentravam seu poder de fogo e sua atenção nos prováveis pontos de entrada.
Com o Gatecrasher, Weber e sua equipe entrariam pela parede frontal ocidental do edifício cerca de três segundos depois da detonação.
— Entendido — respondeu Clark a Weber. — Azul Vivo?
— Três minutos até o muro — relatou Chavez.
Ele esquadrinhou o complexo mais uma vez com sua visão noturna, não viu nada e avançou.
Para passar por cima do muro, escolheram um método de baixa tecnologia: uma escada de 1 metro de altura, com quatro degraus e uma jaqueta Kevlar à prova de balas. Entre os muitos axiomas que informavam a vida das forças especiais, KISS era uma das mais importantes: keep it simple, stupid, ou torne as coisas simples, estúpido, ou, como Clark sempre dizia: “Não se usa uma escopeta para matar uma barata.” Nesse caso, a escada os colocaria na altura do topo do muro; a jaqueta à prova de balas, jogada por cima dos cacos de vidro que saíam do alto do muro, evitaria que Chavez e sua equipe perdessem fluidos ao passarem por ele.
Chavez deslizou para fora da sebe, deu uma corrida até o muro e se agachou. Apertou o botão do fone de ouvido:
— Comando, Azul Vivo. No muro.
— Entendido. — A voz de Stanley.
Alguns segundos depois, um ponto de laser apareceu no muro, a cerca de 1 metro de onde Chavez estava. Tendo mapeado os pontos cegos das câmaras de vigilância, Alistair usava a LAM da sua MK23 para mostrar o caminho para Ding.
Chavez deslizou de lado até que o ponto do laser pousasse em seu peito. O ponto desapareceu. Rápida e silenciosamente ele abriu a escada, e em seguida fez o sinal para sua equipe avançar.
Showalter passou primeiro. Chavez lhe entregou a jaqueta à prova de balas e ele subiu pela escada. Dez segundos depois já havia pulado o muro e estava fora de vista. Um a um o restante da equipe foi seguindo até chegar a vez de Ding.
Uma vez do outro lado, ele se viu parado em um gramado bem-cuidado bordejado por moitas de hibiscos. A conta mensal de água dos suecos deve ser absurda, pensou distraído. À sua direita estava a fachada do edifício, e bem em frente, a 6 metros de distância, a parede leste. Showalter e Bianco haviam tomado posição vigiando cada canto do edifício. Ybarra estava agachado sob o balcão. Ding seguiu em sua direção.
— Espere. — A voz de Loiselle. — Movimento, lado sul.
Ding parou imediatamente.
Dez segundos depois.
— Limpo. Só um gato.
Chavez atravessou até Ybarra, pendurou sua MP5 e depois subiu pelas costas do corpulento espanhol. O parapeito inferior do balcão estava logo acima do alcance de seus dedos. Chavez se esticou. Ybarra se equilibrou e ficou mais ereto. Chavez pegou o parapeito, primeiro com a mão direita, depois com a esquerda, e então subiu. Cinco segundos depois estava agachado no balcão. Soltou uma seção da corda com nós do seu talabarte, prendeu o mosquetão dela no parapeito e jogou a ponta para baixo.
Virou-se para a porta. Tal como a janela, estava com as persianas abaixadas e, é claro, trancada. Ouviu atrás de si um estalo leve quando Ybarra passou pelo parapeito, e em seguida sentiu o tapinha de “estou aqui” no ombro.
Chavez apertou o botão do fone de ouvido.
— Comando, Azul Vivo, na porta.
— Entendido.
Ding tirou uma flexicâmera do bolso da coxa direita de sua calça cargo, ligou-a em seu visor noturno depois deslizou as lentes por baixo da porta, gentilmente, prosseguindo tanto pelo tato quanto pela visão. Como tudo que fazia, cada membro da Rainbow tinha treinado e retreinado, e depois treinado mais um pouco, com cada ferramenta de seu arsenal, incluída ali a flexicâmera. Se houvesse uma armadilha na porta, Chavez provavelmente tanto a veria quanto sentiria.
Primeiro, ele escrutinou a soleira de baixo e depois, não descobrindo nada, moveu para as dobradiças antes de terminar com a maçaneta e a placa da chave. Limpo. Não havia nada. Recolheu a câmera. Atrás dele, Showalter e Bianco já haviam subido pelo parapeito. Ding apontou para Bianco, e depois para a maçaneta. O italiano assentiu e foi trabalhar com sua gazua. Trinta segundos depois a fechadura estalou, aberta.
Usando gestos de mão, Ding passou as instruções finais: ele e Bianco iriam na frente e inspecionariam as salas à direita; Showalter e Ybarra, as da esquerda.
Ding girou suavemente a maçaneta, abriu uma fresta na porta. Esperou dez segundos, depois abriu a porta mais uns 30 centímetros e enfiou a cabeça. O corredor estava vazio. Três portas, duas à direita, uma à esquerda. Ouviu à distância o murmúrio de vozes, depois silêncio. Um espirro. Recuou a cabeça e abriu a porta toda, deixando que Showalter a segurasse e a prendesse depois.
Com a MP5 engatilhada e apontada para baixo, Ding passou para o corredor. Bianco seguia dois passos atrás deles e à sua esquerda, pelo meio do corredor. Na parede sul, Showalter chegou à porta da direita e parou. Ela estava parcialmente fechada.
— Na porta sul do corredor — transmitiu Showalter.
— Observando — respondeu Loiselle. — Sem movimentos.
Showalter se enquadrou na porta, abriu-a subitamente e entrou. Vinte segundos depois saiu e apontou o polegar para cima. Chavez se arrastou pela parede norte.
A voz de Johnston:
— Pare.
Ding ergueu um punho fechado e os outros três pararam, imediatamente se agachando.
— Movimento — disse Johnston. — Parede norte, segunda janela a partir do canto leste.
A próxima sala, pensou Ding. Transcorreram vinte segundos. Tentado como estava a pressionar Johnston por uma atualização, resistiu. O atirador responderia quando tivesse algo.
— A janela é coberta por minipersianas — transmitiu Johnston. Meio aberta. Vejo um corpo se movendo.
— Armado?
— Não sei dizer. Esperem. Avançando para a porta. Três segundos.
Chavez pendurou sua MP5, sacou sua MK23 com silenciador, levantou-se e deslizou pelo corredor até quase poder pegar na maçaneta da porta.
— Na porta — avisou Johnston.
A porta se abriu e uma figura saiu de lá. Chavez examinou por meio segundo, viu o AK-47 pendurado no peito do sujeito e enfiou uma bala pouco acima de seu ouvido direito. Ding girou nos calcanhares, levantou o braço esquerdo e agarrou o sujeito pelo torso enquanto ele caía. Bianco já avançava, passando pela porta, procurando mais alvos. Chavez deitou o cadáver suavemente no chão.
— Limpo — transmitiu Bianco cinco segundos mais tarde, e depois saiu e ajudou Chavez a arrastar o cadáver até a sala. Fecharam a porta, entraram de novo em formação e se agacharam para esperar. Se o tiro tivesse atraído a atenção de alguém, saberiam num instante. Nada se moveu.
— Na segunda porta, parede norte.
— Não vejo mais movimento — respondeu Johnston.
Ding e Bianco revistaram a sala e voltaram.
— Comando, Azul Vivo. Andar de cima limpo — transmitiu Ding. — Seguindo para o andar principal.
— Entendido — respondeu Stanley.
A 6 metros, no fundo do corredor, estava um arco e uma curva abrupta à direita para o que Chavez sabia ser a escadaria para o primeiro andar. As escadas eram abertas, com 6 metros de largura, margeadas de um lado por uma parede, e abertas à esquerda, dando vista para o que tinham decidido que provavelmente era a principal área de trabalho da embaixada — e lugar mais provável para os terroristas agruparem os reféns.
Isso proporcionava vantagens e desvantagens, sabia Ding. Se os reféns estivessem agrupados e juntos, havia uma boa chance de que a maioria dos bandidos também estivesse lá. Isso tornava mais fácil o trabalho da Rainbow, pelo fato de os alvos estarem assim concentrados, mas também significava que os reféns, sentados lado a lado, estariam completamente desprotegidos caso os terroristas abrissem fogo.
Então simplesmente não vamos deixar que façam isso, mano.
Avançou cuidadosamente, movimentando-se sem tirar os pés do chão até chegar ao arco. Uma olhadela rápida pela esquina revelou o andar térreo. Abaixo das escadas e à direita estava a parede da frente, com as janelas ainda fechadas. No fundo da escada devia estar o pequeno corredor e quatro salas desconhecidas.
Chavez moveu o olhar até o canto noroeste da sala, e mentalmente mediu 1 metro a partir da parede. Era mais ou menos ali, com uma margem de uns 30 centímetros, que Weber entraria. Mas à esquerda, visível por cima do corrimão, ele pôde ver duas figuras paradas juntas. Cada um portava uma submetralhadora compacta, mas que não estavam armadas e preparadas. Penduradas do lado. Para mim, ótimo, pensou. Em uma mesa perto dali, um abajur com cúpula verde jogava um facho de luz na parede.
Chavez recuou e voltou até onde esperava o restante da equipe. Gesticulou: Planta confirmada; movimentem-se como planejado. Ele e Bianco, juntamente com Weber e sua equipe quando esses atravessassem a parede, se ocupariam do lado mais pesado da sala principal. Showalter e Ybarra pegariam à direita no fundo da escada, tomando o corredor. Recebeu acenos de cada um dos homens.
— Comando, Azul Vivo, câmbio.
— Prossiga, Azul.
— Posicionados.
— Entendido.
De Weber:
— Vermelho Vivo, entendido.
— Movimentação em noventa segundos — disse Chavez.
— Na espera — respondeu Weber.
— Comece a contagem — transmitiu Ding.
— Cinco e contando. — A voz de Weber. Cinco segundos para o Gatecrasher.
Cada um dos homens de Chavez tinha uma granada de luz e som nas mãos, o pino retirado.
Quatro... três... dois...
Em uníssono, Ding e Bianco jogaram as granadas por cima do corrimão e começaram a descer, MP5 engatilhada e tentando achar os alvos. Ding escutou o primeiro projétil deslizar assoalho abaixo, seguido um quarto de segundo mais tarde pelo disparo do Gatecrasher. Uma onda de fumaça e detritos voou pela sala. Chavez e Bianco continuaram avançando, Ybarra e Showalter passando por eles seguindo rapidamente para o corredor à direita que dava para o lado leste do edifício.
A segunda granada de luz e ruído explodiu. A luz brilhante resplandeceu no teto e nas paredes. Ding ignorou isso.
Alvo.
Olhando por cima do corrimão, viu uma figura correndo na direção deles. Ding apontou a mira da MP5 no peito do homem e disparou duas vezes. Ele caiu, e Ding continuou avançando. Percebeu outra figura à sua esquerda, mas sabia que Bianco cobria por ali, e, como se fosse uma deixa, escutou o pop-pop. À sua direita, Chavez viu o primeiro membro da equipe de Weber passar pelo buraco de 1 metro criado pelo Gatecrasher, seguido por um segundo, um terceiro e um quarto.
Ding virou à esquerda, dirigindo-se para o centro da sala. Soaram gritos. Uma massa de corpos amontoados no chão. Alvo. Atirou duas vezes e continuou avançando, a MP5 apontando. Atrás dele ouviu Showalter dizer:
— Alvo, esquerda. — Foi seguido por uma série de pops coincidentes.
Weber e sua equipe já haviam se reunido com Chavez e Bianco e estavam se espalhando em leque, cada homem cobrindo um setor.
— Abaixem, abaixem, abaixem! Todos se abaixem! — gritou Ding.
À direita: pop, pop, pop.
Chavez continuou avançando, passando pelo centro da sala, Bianco à sua direita fazendo o mesmo, procurando movimento...
— Limpo — escutou Weber dizer, seguido por mais dois.
— Limpo à esquerda! — respondeu Bianco.
— Corredor limpo! — Era Showalter. — Verificando as salas.
— A caminho — anunciou Ybarra.
Do corredor de Showalter veio um grito de mulher. Chavez se virou. Ybarra, que tinha chegado à entrada do corredor, pulou para o lado e se colou na parede esquerda.
— Alvo.
Chavez correu até o corredor e tomou posição do lado oposto de Ybarra. Uma figura emergiu saindo da última sala arrastando uma mulher consigo. O homem tinha uma pistola pressionando o pescoço dela. Ding espreitou. O homem o percebeu e virou um pouco a mulher, usando-a como escudo. Gritou algo num árabe com tom de pânico. Ding recuou.
— Showalter, qual é sua posição? — sussurrou.
— Segunda sala.
— O alvo está bem ao lado da terceira porta. Três, três metros e meio. Tem uma refém.
— Escutei. Qual o meu ângulo?
— Meia cabeça aberta para o tiro.
— Entendido, diga quando.
Chavez espiou novamente. O homem se movimentou ligeiramente, emparelhando com ele. Showalter, sua MP5 já no ombro, saiu na soleira de sua porta e disparou. A bala entrou pelo olho direito do homem. Ele desabou, e a mulher começou a gritar. Showalter saiu e foi em sua direção.
Chavez soltou o fôlego, depois pendurou sua MP5 e se virou para inspecionar o salão principal. Feito e feito. Vinte segundos, não mais. Nada mal. Apertou o botão do rádio.
— Comando, aqui Azul Vivo, câmbio.
— Prossiga.
— Situação segura.
Depois que Chavez percorreu tudo novamente e considerou a embaixada totalmente dominada, transmitiu um firme “tudo limpo” para Clark e Stanley. A partir daí os acontecimentos se precipitaram à medida que o relatório saiu de Tad Richards para seu contato com a Milícia do Povo, o tenente Masudi, e subiu pela linha de comando líbio até um major que insistiu que Chavez e sua equipe saíssem pela porta da frente, escoltando os reféns até o portão principal. No comando temporário da Rainbow, Clark e Stanley, não compreenderam a exigência e se recusaram a atendê-la até que Masudi explicou, em mal inglês, que não haveria câmeras de televisão. O povo líbio simplesmente queria expressar sua gratidão. Clark considerou a questão e aprovou com uma sacudida de ombros.
— Boa vontade internacional — resmungou para Alistair Stanley.
Dez minutos depois, Chavez, sua equipe e os reféns emergiram da porta principal da embaixada sob a luz de refletores e aplausos. Foram recebidos no portão por um contingente do Serviço de Segurança Sueco (Säkerhetspolisen) e do Departamento de Investigação Criminal (Rikskriminalpolisen), que assumiram a guarda dos reféns. Depois de uns bons dois minutos de apertos de mãos e abraços, Chavez e sua equipe avançaram até a rua, onde um monte de soldados e oficiais da Milícia do Povo lhes deram mais abraços e tapinhas nas costas.
Richards apareceu ao lado de Chavez enquanto avançavam pelo meio da multidão em direção ao centro de comando.
— Que diabos acontece aqui? — gritou Chavez.
— Difícil captar as palavras — respondeu Richards —, mas estão simplesmente impressionados. Não, maravilhados é uma expressão melhor.
Atrás de Chavez, Showalter gritou:
— Com o quê, pelo amor de Deus? Que porra eles esperavam?
— Baixas! Montes de mortos! Achavam que nenhum dos reféns conseguiria sair de lá, muito menos todos eles. Estão comemorando!
— Está de sacanagem — declarou Bianco. — Achavam que fôssemos amadores?
Richards respondeu por cima do ombro.
— Bem, eles não têm um bom desempenho no resgate de reféns.
Chavez sorriu com isso.
— Ora, bom, nós somos a Rainbow.
21
Se estivesse em um estado mental objetivo, Nigel Embling reconheceria seu humor atual como nada menos que uma merda autoindulgente, mas no momento sua avaliação refletida era a de que o mundo ia rápido e diretamente para o inferno. Mais tarde, provavelmente reavaliaria essa decisão, mas, neste momento, sentado à mesa da sua cozinha diante de uma xícara de chá e lendo o Daily Mashriq matinal, um entre a meia dúzia de jornais de Peshawar, no Paquistão, nada que ele via melhorava seu humor.
— Malditos idiotas — resmungou.
Mahmood, seu criado, apareceu magicamente na porta da cozinha.
— Alguma coisa, Sr. Nigel? — Mahmood, 11 anos, estava alegre e ansioso demais, especialmente nessa hora do dia. Embling sabia que, sem ele, sua casa viraria um caos.
— Não, não Mahmood, só falava comigo mesmo.
— Oh, isso não é bom, senhor, não é nada bom. Perturbado, isso é o que as pessoas podem pensar. Por favor, se fizer isso, deixe sua fala para quando estiver em casa, sim?
— Sim, está bem. Volte para seus estudos.
— Sim, Sr. Nigel.
Mahmood era órfão, sua mãe, seu pai e suas duas irmãs morreram na violência que irrompeu entre sunitas e xiitas por todo o Paquistão, depois do assassinato de Benazir Buttho. Embling praticamente adotara o garoto, dando-lhe comida, abrigo e um pequeno estipêndio e, sem que Mahmood soubesse, estabelecera um fundo que crescia regularmente e que ele herdaria quando completasse 18 anos.
Outra mesquita queimada, outro líder de facção assassinado, outro rumor de eleições fraudadas, outro funcionário do ISI, o serviço de inteligência, preso por roubar segredos de Estado. Outro chamado à calma em Peshawar. Tudo isso era uma tremenda vergonha. Não que o Paquistão jamais tivesse sido um modelo de paz, note bem, mas houvera períodos mais calmos, ainda que mesmo isso fosse uma fraude, um leve filme encobrindo o caldeirão de violência fervendo logo abaixo da superfície. Ainda assim, Embling sabia que não havia outro lugar na terra para ele, apesar de jamais saber a razão disso. Talvez fosse reencarnação, mas fosse lá o que fosse, o Paquistão tinha se infiltrado em sua vida e agora, com 68 anos, ele estava firme e irrevogavelmente enraizado no seu lar adotivo.
Embling sabia que a maioria dos homens em sua posição estaria, e talvez com motivo, temerosa — um cristão anglo-saxão da Inglaterra, lugar de nascimento do Raj britânico, ou o “controle” britânico sobre os hindus. Na maior parte dos noventa anos transcorridos desde meados de 1850 até logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha mantivera o controle sobre o então chamado “Subcontinente indiano” que, em vários momentos de sua história, incluía Índia, Paquistão, Bangladesh, Somália, Cingapura e Birmânia, hoje conhecida como Mianmar, apesar de Embling ainda e sempre chamá-la de Birmânia e que se dane o politicamente correto. Apesar de as lembranças do Raj já terem se esvanecido com o tempo, seu impacto nunca desaparecera completamente, e Embling podia ver e sentir isso cada vez que saía, no olhar dos velhos frequentadores do mercado e nas conversas sussurradas entre policiais que ouviram histórias de seus pais e avós. Embling não fazia nada para esconder sua herança, e, ainda que quisesse fazê-lo, não conseguiria, mesmo com seu domínio perfeito, embora com um leve sotaque, do urdu e do pashtun. Sem mencionar sua pele branca e seu 1,95m de altura. Não eram muitos os nativos com essas características.
Ainda assim, ele era na maior parte das vezes respeitado, e isso não tinha nada a ver com algum resto de deferência ao Raj, mas sim com sua própria história. Afinal, Embling estava no Paquistão há mais tempo que a maioria das pessoas que podia encontrar no mercado do Bazar Khyber em qualquer dia. Quantos anos, exatamente?, pensou. Descontando férias e algumas breves missões nos vizinhos do Paquistão... Digamos, quarenta e tantos anos. Tempo suficiente para que seus antigos (e às vezes também os atuais) compatriotas dissessem que ele “virou nativo”. Não que se importasse. Com todos os defeitos e todas as quase tragédias e perigos que vivera, não havia outro lugar para ele que não o Paquistão e, no fundo do seu coração, considerava um motivo de orgulho que o considerassem tão integrado que o vissem como “mais paquistanês do que britânico”.
Embling, na imatura e ingênua idade de 22 anos, fora um dos muitos recrutados do pós-guerra pelo MI6 em Oxford, tendo sido abordado pelo pai de um colega que ele pensava exercer um cargo burocrático no Ministério da Defesa, mas que de fato era do MI6 — um dos poucos, na verdade, que avisara os superiores que o infame traidor Kim Philby era um recrutamento nada estelar e que, com o tempo, ou se avacalharia completamente e colocaria vidas em perigo ou seria tentado a passar para o outro lado, o que ele fez, agindo como infiltrado para os soviéticos por muitos anos, antes de ser exposto.
Depois de sobreviver ao rigor do treinamento do MI6 em Fort Monckton na costa de Hampshire, Embling foi designado para a fronteira noroeste do Paquistão, ou NWFP (ou Pakhtunkhwa ou Sarhad, dependendo de com quem se estivesse falando), no limite do Afeganistão, na época se transformando em um parque de diversões da KGB russa. Embling passara a maior parte de seis anos vivendo nas montanhas perto da fronteira, avançando às vezes com os senhores da guerra pashtuns, governantes da área cinza que recobria a região entre o Paquistão e o Afeganistão. Se os soviéticos tentassem se infiltrar na direção do Paquistão, muito provavelmente viriam pelas montanhas e através das terras dos pashtuns.
Fora viagens ocasionais para casa na Inglaterra, Embling passara sua carreira nos “istão” da Ásia Central — Turquistão, Casaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão —, todos os quais caíram, em vários momentos e graus, sob domínio ou pelo menos influência da União Soviética. Enquanto a CIA americana e seus compatriotas no MI6 — oficialmente conhecido como Serviço Secreto de Inteligência, ou SIS — combatiam a Guerra Fria nas ruas cheias de neblina de Berlim, Budapeste ou Praga, Embling vagava pelas montanhas com os pashtuns, comendo quabili pulaw dampukht (arroz com cenouras e passas) e chá preto amargo. Em 1977, sem o conhecimento de seus superiores em Londres, Embling chegara a se casar em uma tribo pashtun, tomando como esposa a filha mais nova de um senhor da guerra de menor importância, a qual perdeu dois anos depois em um ataque aéreo indiano, quando os soviéticos invadiram o Afeganistão. O corpo dela jamais fora recuperado. Muitas vezes ele se perguntava se essa era a razão pela qual ficou tanto tempo no Paquistão depois de se aposentar. Será que algum pedaço entristecido de seu coração ainda esperava descobrir Farishta ainda viva em algum lugar? Seu nome, afinal, significava “Anjo”.
Esperança ilusória, pensava agora Embling.
Esperança ilusória, tal como a ideia de um Paquistão estável.
A 11 mil quilômetros dali em Silver Spring, Maryland, Mary Pat Foley tinha um pensamento semelhante, bebendo algo semelhante — a xícara de café meio descafeinado requentado e salgado que ela se permitia tomar à noite —, mas sobre um tópico completamente diferente — o Emir — e duas questões que haviam afligido os serviços de inteligência dos Estados Unidos na maior parte da década: onde ele estava e como pegar o filho da mãe. Com poucas e breves exceções, e a despeito de ser o Inimigo Público Número Um para a Casa Branca, uma posição com a qual Mary Pat não concordava muito, certamente o cara precisava ser agarrado ou, melhor ainda, liquidado de uma vez e ter suas cinzas espalhadas pelos ventos. Matar o Emir, contudo, não resolveria os problemas dos Estados Unidos com o terrorismo. Havia até alguma discussão sobre o quanto, se é que havia algo, de inteligência operacional era do conhecimento do Emir. Mary Pat e seu marido, Ed, agora aposentado, tendiam a ficar do lado que achava que “nada de muito consistente” sairia disso. O Emir sabia que era caçado e, ainda que fosse um filho da puta de primeiríssima linha e assassino em massa, certamente não era estúpido para se colocar na armadilha de uma posição operacional onde “precisava saber o que acontecia”, especialmente naqueles dias, quando os terroristas tinham percebido a beleza da compartimentalização. Se o Emir fosse um chefe de Estado de verdade, provavelmente receberia informes regulares, mas não era — pelo menos ninguém pensava assim. Estava, na melhor suposição que a CIA tinha, oculto em algum lugar do território selvagem das montanhas do Paquistão, perto da fronteira do Afeganistão. Mas esse cenário era a proverbial agulha no palheiro, não era? Ainda assim, nunca se sabe. Algum dia alguém teria sorte e o descobriria, disso ela estava certa. A questão era se o pegariam vivo ou não. Ela realmente não se importava com isso, mas a ideia de estar frente a frente com o filho da mãe e olhar na cara dele certamente tinha algum apelo.
— Olá, amor, cheguei... — anunciou Ed Foley alegremente, descendo as escadas e entrando na cozinha vestindo moletom e camiseta.
Desde que se aposentara, a movimentação de Ed Foley consistia apenas nos 10 metros e meia dúzia de degraus até seu estúdio, onde trabalhava numa obra de não ficção, a história da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, desde a Revolução Americana até o Afeganistão. O capítulo em que trabalhava, terrivelmente bom, se ela expressasse isso a si mesma, tratava de John Honeyman, um tecelão nascido na Irlanda e talvez o espião mais obscuro de sua época. Tendo recebido do próprio George Washington a missão de se infiltrar nas fileiras dos terríveis mercenários hessianos aquartelados nas proximidades de Trenton, Honeyman, fingindo-se de negociante de gado, passava pelas linhas, levantava a ordem de batalha dos hessianos e suas posições, depois furava de volta, proporcionando a Washington a vantagem de que precisavam para ter uma vitória esmagadora. Para Ed, esse era um capítulo de sonho, sobre um pedacinho desconhecido da história. Escrever sobre Wild Bill Donovan, a Baía dos Porcos e a Cortina de Ferro era muito bom, mas havia pouco o que acrescentar no que já era história velha no gênero da espionagem não ficcional.
Ed certamente merecera várias vezes sua aposentadoria, tal como Mary Pat, mas apenas um punhado de privilegiados em Langley — incluindo Jack Ryan Senior — saberia em que grau os Foley haviam servido e o que sacrificaram por seu país. Ed, irlandês por nascimento, graduara-se na Fordham e começou sua carreira como jornalista, trabalhando como um repórter sólido, mas sem destaque, no New York Times antes de escorregar para o mundo de bandidos e espiões. Quanto a Mary Pat, se alguma vez uma mulher nasceu para trabalhar em serviços de inteligência, essa era ela, a neta do tutor de equitação do tsar Nicolau II e filha do coronel Vanya Borissovich Kaminsky que, em 1917, percebeu o que estava escrito nos muros e escapuliu com sua família da Rússia pouco antes da revolução que derrubaria a dinastia Romanov e custaria as vidas de Nicolau e sua família.
— Dia duro no escritório, querido? — perguntou Mary Pat ao marido.
— Exaustivo, absolutamente exaustivo. Tantas palavras difíceis, e um dicionário muito pequeno. — Ele se inclinou para dar um beijinho no rosto dela. — E você, como está?
— Bem, bem.
— Meditando de novo, não é? Sobre quem estou achando que é?
Mary Pat assentiu.
— Tenho que voltar para lá hoje à noite, de fato. Talvez algo quente esteja chegando. Vou acreditar quando puder ver.
Ed franziu a testa, mas Mary Pat não soube dizer se era por sentir falta da ação ou porque estava tão cético quanto ela. Os grupos terroristas ficavam cada vez mais capacitados em inteligência, especialmente depois do 11 de Setembro.
Mary Pat e Ed Foley haviam adquirido o direito de serem levemente cínicos se isso lhes conviesse, tendo testemunhado em primeira mão o funcionamento interno da CIA e sua história tortuosa por quase trinta anos, servindo na Estação de Moscou como agentes de campo como marido e mulher, na época em que a Rússia ainda comandava a União Soviética e a KGB e seus satélites eram o único bicho-papão da CIA.
Ambos subiram na hierarquia da diretoria de operações de Langley, Ed terminando sua carreira como DCI, ou diretor central de Inteligência, enquanto Mary Pat, vice-diretora de operações, havia requerido uma transferência lateral para o NCTC — Centro Nacional de Contraterrorismo —, onde atuava também como vice-diretora. Como esperado, a central de boatos entrou em funcionamento, especulando que Mary Pat de fato havia sido rebaixada de sua posição no DDO, e que sua posição no NCTC era uma simples parada a caminho da aposentadoria. Nada podia estar mais longe da verdade, claro. O NCTC era a ponta da lança, e Mary Pat queria estar lá.
Claro que para sua decisão tinha contribuído o fato de seu antigo lar, o DO, não ser mais o que fora. Seu novo nome, Serviço Clandestino, ao mesmo tempo que irritava os dois (apesar de nenhum deles ter a ilusão de que o termo diretoria de operações enganava alguém, mas Serviço Clandestino parecia ser um tanto exibicionista para o gosto deles), eles também sabiam que se tratava apenas de mais um apelido. Infelizmente, a mudança veio mais ou menos na mesma época em que começaram a sentir que a diretoria passara a tratar menos de operações clandestinas e colheita de inteligência e mais de política. E apesar de Mary Pat e Ed terem cada um suas próprias — e muitas vezes contrárias — posições políticas, no que ambos concordavam era que política e inteligência formavam uma mistura ruim. Gente demais nos escalões superiores da CIA era simplesmente funcionário público procurando marcar pontos em seu caminho para coisas mais elevadas e melhores, algo que os Foley jamais compreenderam. Tanto quanto lhes dizia respeito, não havia serviço mais significativo do que a defesa do país, seja uniformizado no campo de batalha, seja atrás da cortina, que o chefe-espião da CIA durante a Guerra Fria, James Jesus Angleton, apelidara de “Floresta de Espelhos”. Não importa que Angleton acabasse como um paranoico delirante cuja caçada a infiltrados soviéticos tivesse devorado Langley de dentro para fora como se fosse um câncer. No que dizia respeito a Mary Pat Foley, o apelido que Angleton dera ao mundo da espionagem era perfeito.
Por mais que ela adorasse o mundo em que trabalhava, a “Floresta” cobrava seu preço. Nos últimos meses, ela e Ed começaram a conversar sobre sua eventual aposentadoria, e, ao mesmo tempo que seu marido fora fundamentalmente discreto (e até sutil), era claro o que ele queria que ela fizesse, chegando até a deixar exemplares da National Geographic abertas sobre a mesa da cozinha, mostrando fotos do Fiji, ou uma reportagem sobre a Nova Zelândia, dois lugares que os dois tinham posto na lista de “algum dia”.
Nos raros momentos em que se permitiam introspecções sobre algo além do trabalho, Mary Pat se via dançando ao redor da pergunta crítica — Qual a razão de permanecer? — sem realmente encarar o assunto. Eles tinham dinheiro suficiente para uma boa aposentadoria, e nenhum dos dois deixaria de ter com que se ocupar. Então, se o dinheiro não era a questão, qual seria? Na verdade, era simples: o trabalho de inteligência era sua vocação, e ela sabia disso — sabia desde seu primeiro dia na CIA. Havia feito um bom trabalho no seu tempo, mas não tinha como negar que a CIA já não era mais a mesma. As pessoas eram diferentes, e suas motivações, obscurecidas pela ambição. Ninguém parecia seguir a máxima de “não pergunte o que seu país pode fazer por você”. Pior ainda, os tentáculos da política da capital abriram caminho no fundo da comunidade da inteligência, e Mary Pat temia que essa fosse uma situação sem volta.
— Quanto tempo você vai demorar? — perguntou Ed.
— Difícil saber. Meia-noite, talvez. Se passar muito, eu ligo. Não me espere acordado.
— Ouviu alguma coisa interessante sobre aquele caso de Georgetown?
— Nada muito além do que os jornais disseram. Pistoleiro solitário, levou um único tiro na cabeça.
— Escutei o telefone tocando antes...
— Duas vezes. Ed Junior ligou para dar um alô e disse que ligaria amanhã para você. E Jack Ryan. Queria saber como ia o livro. Pediu para você ligar quando tivesse uma oportunidade. Talvez você possa espremer alguns detalhes dele.
— Isso eu duvido muito.
Os dois homens escreviam espécies de recordações. Ed, uma história, e o ex-presidente Ryan, suas memórias. Os dois se compadeciam e trocavam referências pelo menos uma vez por semana.
A carreira de Jack Ryan, desde seus tempos de calouro na CIA até ele ser enfiado na presidência por uma tragédia, se entrecruzava com as de Mary Pat e Ed. Alguns momentos maravilhosos e outros simplesmente uma merda.
Ela suspeitava que os telefonemas semanais de Jack e Ed eram noventa por cento sobre histórias de guerra e apenas dez por cento relacionados aos livros. Ela não reclamava. Ambos ganharam direito de sobra para isso. Ela conhecia de cor a carreira de Ed, mas tinha certeza de que havia porções da carreira de Jack Ryan que apenas ele e um par de outras pessoas conheciam, o que era dizer muita coisa diante do acesso que Mary tinha. Ora, bolas, consolou-se ela. O que é a vida sem alguns mistérios?
Mary Pat viu as horas, bebeu o restante do café, franziu o cenho com o gosto e se levantou para beijar Ed no rosto.
— Tenho que correr. Dê comida para o gato, sim?
— Pode deixar, querida. Dirija com calma.
22
Mary Pat apagou os faróis e parou ao lado da cabine da guarda e abaixou o vidro. Um sujeito de cara fechada com um anoraque azul saiu de lá. Apesar de ele ser o único guarda visível, ela sabia que havia mais meia dúzia de outros olhos fixados nela, assim como outras tantas câmaras de segurança. Tal como o restante da força de proteção do edifício, os guardas do portão eram parte da divisão interna de segurança da CIA. A simples pistola Glock 9 milímetros no cinto do sujeito tampouco iludia Mary Pat. Escondido sob o anoraque dele, a alcance fácil de suas mãos treinadas, havia um coldre lombar especialmente desenhado, contendo uma submetralhadora compacta.
O Centro Nacional de Contraterrorismo, que até 2004 era conhecido como Centro de Integração de Ameaças Terroristas e agora seus empregados o conheciam como Encruzilhada da Liberdade, estava aninhado nos subúrbios tranquilos de McLean, na parte norte de Fairfax County, na Virgínia. Construído com um monte de vidro e concreto, estava mais para o estilo James Bond que para a banalidade da CIA, algo que Mary Pat levara algum tempo para se acostumar. Mas as paredes eram resistentes a explosões, e as janelas, à prova de balas, calibradas para deter balas calibre .50. É claro que, se os bandidos chegassem tão perto dali a ponto de disparar no edifício com uma calibre .50, eles estariam com problemas muito mais sérios com que se preocupar. Contudo, apesar de a fachada do NCTC ser um tanto conspícua para seu gosto, tinha que admitir que era um lugar magnífico para onde vir todos os dias trabalhar. O restaurante do lugar também era de primeira linha, o que levava Ed até a Encruzilhada da Liberdade todas as quartas-feiras para o habitual almoço juntos.
Ela mostrou sua identificação para exame do guarda, que a estudou cuidadosamente, conferindo tanto seu rosto quanto a lista de permissão de acessos na prancheta. A noite havia descido completamente, e ela conseguia escutar o coaxar das rãs nos arbustos.
Depois de longos dez segundos, o guarda acenou para ela, desligou a lanterna e permitiu que Mary Pat passasse. Ela esperou a barreira levantar e então acelerou saindo do posto de controle em direção ao estacionamento. O procedimento de segurança pelo qual tinha passado era o mesmo para todos os empregados do NCTC, a todas as horas, todos os dias, desde o analista de nível mais baixo até o diretor. O fato de ela ser a número dois da Encruzilhada da Liberdade não fazia a menor diferença para os guardas, que pareciam desenvolver uma espécie de amnésia para rostos, veículos e nomes segundos depois que estes atravessavam o posto de controle. Não era uma boa ideia tentar ser amistosa com eles. Eram pagos para suspeitar de todos, e levavam isso a sério. Tampouco eram conhecidos por seu senso de humor. A coisa toda lembrava um pouco a Mary Pat de um episódio de Seinfeld, o do “Soup Nazi”: um passo adiante, faça o pedido, avance à direita, pague, pegue sua sopa, saia. Nesse caso, era pare, mostra sua identidade, fale somente se for perguntado, espere o assentimento, avance. Desvie desse padrão e corra os riscos.
Às vezes aquilo era um incômodo, especialmente naqueles dias quando ela acordava tarde e não conseguia dar sua paradinha habitual em uma Starbucks, mas Mary Pat não estava a fim de se queixar. O que eles faziam era importante, e ai do idiota que achasse o contrário. De fato, alguns cretinos tinham cometido o erro de levar na brincadeira o trabalho dos guardas — geralmente algum babaca tentando passar direto, exibir o distintivo —, e ganharam uma parada estilo policial, com armas apontadas como se fossem bandidos. Alguns chegaram até a se queixar depois do tratamento. Muitos desses não continuavam empregados na Encruzilhada da Liberdade.
Ela estacionou em sua vaga reservada, separada das demais apenas por uma insígnia de serviço no meio-fio. Mais segurança: nomes constituíam detalhes pessoais, e detalhes pessoais eram ferramentas potenciais para os bandidos. Mais uma vez, uma situação improvável, mas ali não se tratava de chances, mas sim de abrangência. Controle o que for possível, porque existe uma porrada de coisas que não se pode controlar.
Ela passou pelo saguão e se dirigiu até o coração do NCTC e seu “escritório”, o centro de operações. Enquanto o restante do Centro era cheio de móveis de madeira envernizada e carpetes de agradáveis tons de terra, o centro de operações parecia ter saído direto da série 24 horas — assunto objeto de várias piadas por ali.
Os quase mil metros quadrados do centro de operações eram dominados por um punhado de telas do tamanho de uma parede, nas quais eram projetadas as ameaças quentes, incidentes ou dados brutos dos últimos minutos ou horas — e, devido ao fato de a missão no NCTC ser uma espécie de câmara de compensação de dados de inteligência, era mais frequente a primeira que a segunda alternativa.
Dúzias de estações de trabalho com computadores com teclados ergonômicos e múltiplos monitores de LCD tela plana ao redor, usados por analistas da CIA, do FBI e da NSA preenchiam o espaço central, e em cada extremidade estava, em posição mais elevada, um centro de observação envidraçado: um para a Divisão de Contraterrorismo do FBI e outro para o Centro de Contraterrorismo da CIA. Em qualquer dia do ano, o NCTC recebia mais de 10 mil despachos através de sua recepção eletrônica, qualquer um dos quais podia ser uma peça de um quebra-cabeça que, se fosse deixado desmontado, poderia custar vidas americanas. A maioria das peças resultava ser trivial, mas todas eram analisadas com o mesmo cuidado.
Parte do problema era tradutor, ou a falta de. Uma boa parte dos dados que recebiam diretamente chegava em estado bruto, em árabe, farsi, pashtun ou qualquer um da meia dúzia de outros dialetos que era suficientemente diferente da língua materna para exigir um tradutor especializado, espécie difícil de encontrar por si só, muito menos alguém que passasse pelo tipo de verificação necessária para trabalhar no NCTC. Acrescente a isso o brutal volume de tráfego que o centro de operações recebia e aí estava a receita para uma sobrecarga de dados. Eles tinham desenvolvido um programa que colocava as interceptações em escaninhos categorizados, de modo que coisas de alta prioridade eram revisadas na frente, mas isso era mais arte que ciência e muitas vezes descobriam pepitas importantes apenas depois que o sistema já as havia filtrado, perdendo relevância e contexto no meio do caminho.
O problema da tradução era apenas um lado da mesma moeda, acreditava Mary Pat. Por ter vindo da área de coleta da CIA, ela sabia que possuir recursos humanos era o que realmente fazia o mundo da inteligência girar, e desenvolver esses recursos em países árabes tinha se revelado um osso duro de roer. A triste verdade era que na década que antecedeu o Onze de Setembro, a CIA havia deixado o recrutamento de agentes cair de sua lista de prioridades. A coleta técnica — satélites, intercepções de rádio e mineração de dados — era fácil e sexy, e podia, dentro de certos parâmetros, produzir bons resultados, mas os veteranos como Mary Pat há muito aprenderam que a maioria das batalhas na área da inteligência era vencida e perdida dependendo da força da inteligência humana, ou seja, dos agentes e dos supervisores responsáveis por casos que as controlavam.
A safra de supervisores em Langley tinha crescido em relativos saltos nos últimos sete anos, mas havia ainda um longo caminho a percorrer, especialmente em países como o Afeganistão e o Paquistão, nos quais religião, antigas rivalidades e política cruel transformavam o recrutamento de agentes confiáveis numa tarefa dificílima.
Ainda que fosse visualmente impressionante como era — até mesmo para uma veterana como Mary Pat —, ela sabia que o verdadeiro triunfo do lugar era um bem intangível que se perderia para o observador casual: cooperação. Durante décadas, o peso que atrapalhava a comunidade de inteligência dos Estados Unidos era que, na melhor das hipóteses, havia uma débil polinização cruzada dos dados e, na pior, uma guerra interna aberta, principalmente entre as duas agências que tinham a missão de manter o país a salvo de ataques terroristas. Mas, como os comentaristas da televisão e os políticos da capital já haviam assinalado ad nauseam, os acontecimentos do 11 de Setembro mudaram tudo, incluindo o modo como a comunidade de inteligência dos Estados Unidos tratava a tarefa de manter o país a salvo. Para Mary Pat e muitos dos profissionais da inteligência, o 11 de Setembro não tinha sido tanto uma surpresa, e sim uma triste confirmação do que havia muito suspeitavam: o governo dos Estados Unidos não levava devidamente a sério a ameaça do terrorismo, e não apenas nos poucos anos anteriores ao 11 de Setembro, mas talvez desde que os soviéticos invadiram o Afeganistão, em 1979, quando o Talibã e os mujahedin — então aliados convenientes, mas ideologicamente incompatíveis — mostraram o que combatentes determinados, mas deploravelmente inferiores em número e armamento, podiam conseguir contra uma das duas únicas superpotências do planeta. Para muitos — inclusive para os Foley e para Jack Ryan —, a guerra no Afeganistão tinha sido uma espécie de trailer de um filme que temiam que fosse exibido contra o Ocidente quando os mujahedin liquidassem os soviéticos. Embora a aliança entre a CIA e os mujahedin tivesse sido efetiva, o relacionamento era tênue, na melhor das hipóteses, sempre obscurecido pela fissura entre a cultura ocidental e a lei da sharia, pelo fundamentalismo islâmico radical e o cristianismo. A questão, nascida com o provérbio árabe “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”, se transformou em “quando a amizade vai terminar?”. Para Mary Pat, a resposta fora simples: no momento em que o último soldado soviético deixasse o solo afegão. E, dependendo de quem escrevesse a história, ela havia sido terrivelmente precisa em seu palpite, ou quase. De qualquer maneira, por volta de meados dos anos 1980, o Talibã, os mujahedin e até mesmo o CRO do Emir viraram seu olhar desdenhoso, e agora testado em combate, para o Ocidente.
O que passou, passou, pensou Mary Pat, olhando do parapeito do balcão no centro de operações. Fosse qual fosse a tragédia que os levara até ali, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos estava mais no jogo do que jamais esteve desde o começo da Guerra Fria, e o NCTC tinha a maior parte do crédito por isso. Nele trabalhavam analistas provenientes de virtualmente todos os ramos do mundo da inteligência, que sentavam lado a lado sete dias por semana, 24 horas por dia, e a cooperação agora era a regra, não mais a exceção.
Ela desceu as escadas e seguiu pelas fileiras de estações de trabalho, acenando para colegas enquanto passava, até chegar ao Centro de Contraterrorismo da CIA. Esperando por ela lá dentro estavam dois homens e uma mulher: seu chefe e diretor do NCTC, Ben Margolin, a chefe de operações, Janet Cummings, e John Turnbull, cabeça da Estação Acre, a força-tarefa conjunta dedicada a descobrir, capturar ou eliminar o Emir e a liderança do CRO. O rosto franzido de Turnbull informou a Mary Pat que as coisas não estavam exatamente um mar de rosas na Estação Acre.
— Estou atrasada? — perguntou Mary Pat, e se sentou. Do outro lado da parede de vidro, a equipe do centro de operações prosseguia silenciosamente com suas tarefas. Como teoricamente todas as salas de conferência da Encruzilhada da Liberdade, o Centro de Contraterrorismo era um tanque eletromagnético, isolado de praticamente todas as emissões eletromagnéticas, tanto as que entravam quanto as que saíam, salvo correntes de dados criptografados.
— Não, nós é que estamos adiantados — disse Margolin. — O pacote está descendo.
— E?
— Nós o perdemos — resmungou Turnbull.
— E ele esteve por lá mesmo?
— Difícil dizer — comentou a chefe de operações Janet Cummings. — Temos produtos capturados no assalto, mas o quão bom ainda não sabemos. Alguém esteve lá, provavelmente importante, mas além disso...
— Nove mortos — disse Turnbull.
— Prisioneiros?
— Começaram com dois, mas durante a saída a equipe foi emboscada e perderam um; perderam o segundo quando sua área de embarque foi atingida por um RPG. Perdemos também alguns Rangers.
— Que merda.
Que merda, mesmo, pensou Mary Pat. Os Rangers, é claro, estariam de luto pela perda de um deles, mas esses sujeitos eram os melhores dos melhores, de modo que assumiam o risco simplesmente como parte do trabalho. Eram profissionais completos, mas, enquanto trabalhadores civis poderiam saber como desentupir um cano, fazer a instalação elétrica de uma casa ou construir um arranha-céu, os Rangers se especializavam em algo completamente diferente: matar inimigos.
— O líder da equipe — Cummings parou para olhar sua pasta —, o sargento Driscoll, foi ferido, mas sobreviveu. Segundo o relatório pós-ação de Driscoll, o prisioneiro se levantou durante um tiroteio. De propósito.
— Jesus — murmurou Mary Pat. Eles haviam visto isso antes com soldados da CRO, que preferiam morrer a ser capturados. Se isso vinha do orgulho ou do desejo de não falar durante o interrogatório, era um ponto de discussões acaloradas nas comunidades de inteligência e dos militares.
— O segundo tentou escapar quando o helicóptero desceu. Eles o abateram.
— Bem, não foi exatamente um poço seco — disse Turnbull —, mas não é o resultado que esperávamos.
O problema não havia sido a transmissão de rádio, disso Mary Pat tinha certeza. Ela lera tanto os dados brutos quanto as análises. Alguém andara realizando transmissões daquela caverna usando pacotes de código de palavras abertas da CRO. Uma das palavras — Lótus — era algo que tinham visto antes, tanto nos interrogatórios de agentes feitos por supervisores quanto nas interceptações do Driftnet da NSA, mas o que significava ninguém, até então, havia conseguido determinar.
Há muito eles suspeitavam que o CRO tinha adotado medidas da velha guarda para suas comunicações criptografadas, empregando tabelas de permutação, que são essencialmente um protocolo ponto a ponto no qual apenas o remetente e o receptor têm a tabela exigida para decifrar a mensagem. O sistema é antigo, datando da época do Império Romano, mas é confiável e, desde que as tabelas sejam completamente randomizadas, é quase impossível de ser quebrado, a menos que se consiga colocar as mãos em uma delas. Numa terça-feira, digamos, o Inimigo A envia uma série de palavras-chaves — cão, repolho, cadeira — para o Inimigo B, o qual, usando sua própria tabela, converteria as palavras em seus valores alfanuméricos, de modo que cão se traduziria nos números 4, 15 e 7, que por sua vez se traduziriam em outras tantas palavras. Equipes de forças especiais no Afeganistão capturaram certo número de tabelas em assaltos, mas nenhuma era de uso atual, e até então nem a CIA nem a NSA tinham sido capazes de inferir um padrão do qual pudessem deduzir uma chave.
Mas o sistema tinha seus problemas. Primeiro, era incômodo. Para funcionar corretamente, transmissores e receptores precisavam usar as mesmas tabelas físicas, trocando para uma nova nos mesmos intervalos, quanto mais frequentemente melhor, o que por sua vez exigia que correios se movimentassem entre o Inimigo A e o Inimigo B. Enquanto a CIA tinha a Estação Acre dedicada à caçada do Emir, o FBI tinha um grupo de trabalho chamado Peixe-palhaço, dedicado à interceptação dos correios do CRO.
A grande questão, sabia Mary Pat, era: o que havia provocado seja lá quem estivesse vivendo naquela caverna a dar no pé pouco antes de a equipe descer por lá? Pura coincidência ou algo mais? Ela duvidava de que se tratasse de erro humano; os Rangers eram bons demais para isso. De fato, ela lera mais cedo o relatório pós-ação, e além da perna quebrada do chefe da equipe, a operação tinha saído cara: dois mortos e dois feridos. E tudo isso por um poço vazio.
Esquecendo as coincidências, o culpado mais provável era o boca a boca. Raro era o dia em que um helicóptero levantasse voo de uma das bases no Paquistão ou no Afeganistão sem que um soldado ou simpatizante do CRO não anotasse e desse um telefonema, um problema que fora parcialmente solucionado pelas equipes de forças especiais fazendo voos curtos e aleatórios pelo interior nas horas e dias que antecediam uma operação, assim como usar pontos desviados do caminho do alvo, as duas medidas ajudando a evitar a previsão correta dos observadores. Mas o terreno acidentado e implacável, assim como o tempo, fazia com que certas rotas se tornassem intransponíveis. Tal como havia aprendido o exército de Alexandre, o Grande, e os soviéticos mais tarde, a geografia da Ásia Central era um inimigo por si só. E um inimigo inconquistável, pensou Mary Pat. Você ou aprendia a sobreviver ou se virar por ali, ou perecia. Ora, tanto Napoleão quanto Hitler aprenderam essa lição — não obstante, tardiamente —, cada um durante uma atrevida e mal-aconselhada invasão à Rússia durante o inverno. Claro, os dois estavam certos de uma rápida vitória, alcançada bem antes de a neve começar a cair. E, caramba, na Rússia o terreno era fácil e plano. Mas acrescentem montanhas na mistura... Bem, aí está a Ásia Central.
Um mensageiro apareceu na porta de vidro, digitou o código de acesso e entrou. Sem dizer nada, deixou uma pilha com quatro pastas com faixas vermelhas e uma pasta-acordeão diante de Margolin e depois saiu. Margolin distribuiu as pastas e nos 15 minutos seguintes o grupo leu em silêncio.
Finalmente Mary Pat disse:
— Um caixão de areia? Que diabos.
— Seria ótimo se o tivessem trazido com eles — disse Turnbull.
— Olhe o tamanho — disse Cummings. — Não havia como tirar isso de lá a pé. Não sem prejudicar a equipe. Fizeram a coisa certa, acho.
— Sim, suponho que sim — murmurou o chefe da Estação Acre, sem muito convencimento.
Turnbull estava sob uma pressão inacreditável. Enquanto a versão oficial era de que o Emir não estava no topo da lista dos Mais Procurados dos Estados Unidos, ele de fato estava. Mesmo sendo improvável que sua captura virasse a maré da guerra contra o terrorismo, tê-lo solto lá fora era no mínimo embaraçoso. Na pior das hipóteses, perigoso. John Turnbull caçava o Emir desde 2003, primeiro como vice da Estação Acre, depois como chefe.
Mesmo sendo bom em seu trabalho, Turnbull, como muitos oficiais que seguiam carreira na CIA, sofria do que Mary Pat e Ed chamavam de “desconexão operacional”. Ele simplesmente não tinha ideia de como era, de como se desenvolvia uma operação no terreno, e essa desconexão gerava um monte de problemas, que geralmente caía em uma única categoria: expectativas irreais. Ao planejar uma operação, espera-se demais, seja das pessoas que a conduzem, seja do alcance da missão. A maior parte das operações não leva a gols, são trocas de passe que, devagar e firmemente, avançam pelo campo até chegar ao objetivo. Como o agente literário de Ed uma vez lhe dissera: “Levam-se dez anos para ser um sucesso da noite para o dia.” A mesma coisa era o que geralmente acontecia com operações secretas. Algumas vezes o trabalho de inteligência, preparação e boa sorte se combinam do jeito certo na hora certa, mas na maioria das vezes as coisas acontecem fora de sincronia, o suficiente para fazer a bola sair do campo. E às vezes, ela lembrou a si mesma enquanto continuava examinando o relatório, não se sabe que se fez um gol até bem depois de ele acontecer.
— Estão vendo essa história do Corão que acharam por lá? — perguntou Cummings ao grupo. — Não há como aquilo pertencer a alguém que estava naquela caverna.
Ninguém respondeu; não havia necessidade. Ela estava certa, é claro, mas a não ser que houvesse alguma inscrição e um “endereço de devolução” na capa, um Corão antigo não ia ser de grande serventia para eles.
— Percebo que tiraram muitas fotografias — disse Mary Pat. Os Rangers tinham meticulosamente fotografado todos os rostos dos membros do CRO na caverna. Se algum deles tivesse sido capturado ou identificado no passado, os computadores cuspiriam os detalhes. — E amostras do caixão. Esse Driscoll é um sujeito esperto. Onde estão as amostras, Ben?
— Parece que perderam a viagem do helicóptero no Centcom Cabul. Chegarão amanhã de manhã.
Mary Pat se perguntou o que essas amostras revelariam, se é que haveria algo. Os sábios do laboratório de Ciência e Tecnologia de Langley faziam milagres, assim como os laboratórios do FBI em Quantico, mas não havia como saber quanto tempo aquelas coisas estiveram na caverna nem nenhuma garantia de que a mostra revelaria traços particulares. Um jogo de dados.
— As fotos já temos aqui — disse Margolin.
Ele pegou um controle remoto da mesa e apontou para uma tela plana de 42 polegadas na parede. Um momento depois, uma grade de oito por dez imagens em miniaturas aparecia no monitor. Cada uma tinha a anotação da data e a marca da hora. Margolin apertou um botão no controle remoto e ampliou a primeira foto, que mostrava o caixão de areia de uma distância aproximada de 1 metro.
Mary Pat logo percebeu que seja lá quem tivesse tirado as fotos havia feito um bom serviço, fotografando o caixão de areia do macro ao micro, usando um pedaço de fita métrica para dar a escala de cada foto. Apesar de estarem numa caverna, tinham prestado atenção na iluminação também, o que fazia uma grande diferença. Das 215 fotos que Driscoll e sua equipe tiraram, 190 eram variações de um tema — a mesma visão, mas em detalhe ou de um ângulo diferente —, e Mary Pat se perguntou se aquilo era suficiente para que Langley criasse uma versão em 3-D da coisa. Algo a ser tentado. Se animar aquela droga faria diferença ou não, ela não tinha a menor ideia, mas é melhor tentar e fracassar que lamentar não ter tentado. Alguém do CRO havia se dado o grande trabalho de fazer essa coisa, e seria ótimo descobrir a razão. Não se faz a droga de um caixão de areia só por ter vontade.
Segundo o relatório, as 25 fotos restantes eram repetição de três pontos separados no caixão de areia, todas exibindo algum tipo de marca. Mary Pat pediu a Margolin que as transferisse para o monitor, o que ele fez, mostrando-as como slideshow. Quando terminou, Mary Pat disse:
— As duas da frente parecem marcas do fabricante. Driscoll disse que a base era de compensado. Pode ser que, usando as marcas, consigamos levantar mais alguma coisa. A outra marca, atrás... Me corrijam se estiver errada, mas parece escrita à mão.
— Concordo — falou Margolin. — Vamos soltar os tradutores em cima disso.
— E que tal a pergunta de 1 milhão de dólares? — disse Cummings. — Por que fazer esse caixão de areia, e o que supostamente ele representa?
— O lugar de férias do Emir, espero — respondeu Turnbull.
Todos riram.
— Se querer fosse poder... — ruminou Margolin. — Mary Pat, posso ver as engrenagens da sua cabeça se mexendo. Alguma ideia?
— Talvez. Se aparecer algo, conto a você.
— E os documentos na caixa de munição? — perguntou Turnbull.
— A estimativa dos tradutores é de amanhã à tarde — disse Margolin. Ele abriu a pasta-acordeão, tirou um mapa da caverna e o estendeu sobre a mesa. Todos se levantaram e se inclinaram sobre o mapa.
Cummings leu a legenda:
— Agência de Mapeamento de Defesa... 1982?
— Presente deixado pelos conselheiros da CIA — disse Mary Pat. — Eles queriam que os mujahedin tivessem mapas, mas não os melhores.
Margolin virou o mapa, exibindo o lado de Peshawar do Baedeker.
— Há algumas marcas aqui — disse Mary Pat, batendo no mapa e se inclinando mais. — Pontos. Marcas de esferográficas.
Todos escarafuncharam o mapa e logo descobriram nove marcas, cada uma formada por um agrupamento de três ou quatro pontos.
— Quem tem uma faca? — perguntou Mary Pat. Turnbull entregou a ela um canivete, e ela abriu a fita protetora nos quatro lados, depois virou o Baedeker novamente. — Aí está... — murmurou.
Inscrita no canto superior direito, com não mais que meio centímetro de comprimento, havia uma seta apontando para cima seguida de três pontos, e uma seta apontando para baixo, seguida de quatro pontos.
— A legenda — sussurrou Margolin.
23
Começou no Departamento de Justiça. Encaminhado pelo Pentágono, era o relatório escrito pelo primeiro-sargento Driscoll sobre o assalto à caverna no Hindu Kush. O relatório — de apenas três páginas, escrito com simplicidade — detalhava o que Driscoll e seus homens fizeram. O que chamou a atenção do advogado que revisou o relatório foi o número de mortos. Driscoll relatava ter matado nove ou mais combatentes afegãos, quatro deles com pistola com silenciador à queima-roupa. Tiros diretos na cabeça, foi o que o advogado leu, o que fez seu sangue esfriar um pouco. Era a coisa mais próxima de uma confissão de assassinato a sangue-frio que já lera. Ele havia lido uma boa quantidade de confissões desse tipo, mas jamais escritas de forma tão direta. Esse tal de Driscoll tinha violado algumas leis de guerra ou coisa assim, pensou o advogado. Não era uma ação no campo de batalha, nem mesmo o relato de um atirador de elite eliminando pessoas a 100 metros de distância quando essas colocavam a cabeça para fora como patinhos no estande de parque de diversão. Ele liquidara os “bandidos” (assim os chamava) enquanto dormiam. Dormiam. Totalmente inofensivos, pensou o advogado, e ele os matara sem nem um momento de hesitação e relatava a coisa de modo direto, como se estivesse contando que tinha aparado o gramado de sua casa.
Era chocante. Ele os havia pegado “de calças arriadas”, como se diz vulgarmente. Não tinham como resistir. Nem mesmo sabiam que suas vidas corriam perigo, mas o tal de Driscoll pegara sua pistola e os despachara como se esmagasse insetos. Porém não se tratava de insetos. Eram seres humanos, que, sob o direito internacional, deviam ser capturados e feito prisioneiros de guerra protegidos pela Convenção de Genebra. Mas o primeiro-sargento os matara, sem qualquer piedade. Pior ainda, o casca-grossa aparentemente nem pensara que os homens que matara podiam ser fonte de informações. Decidiu, aparentemente de modo arbitrário, que esses nove homens não valiam nada, nem como seres humanos nem como fontes.
O advogado era jovem, ainda não havia chegado aos 30 anos. Tinha se formado em Yale em primeiro lugar de sua turma antes de aceitar uma oferta para trabalhar em Washington. Quase fora assistente de um juiz da Suprema Corte, mas perdeu o lugar para um caipira da Universidade de Michigan. De qualquer maneira, não teria gostado daquilo. A nova Suprema Corte, que não mudaria nos próximos cinco anos ou mais, estava cheia de “construcionistas estritos”, conservadores que adoravam a letra da lei como se fosse o Zeus da Antiguidade. Como os batistas sulistas que pregavam nos púlpitos do interior nas manhãs de domingo, e que ele via apenas de passagem enquanto zapeava através dos canais de programas matinais de entrevistas.
Droga.
Releu o relatório e mais uma vez ficou chocado pelos fatos crus descritos numa linguagem de aluno do ensino fundamental. Um soldado do Exército dos Estados Unidos tinha assassinado sem piedade e sem respeito ao direito internacional. E depois escreveu um relatório sobre o acontecido, delineando o processo em termos fortes.
O relatório chegou à sua mesa proveniente de um amigo e colega de classe que trabalhava no escritório do secretário de Defesa, com uma anotação dizendo que ninguém no Pentágono tinha dado muita atenção, mas que ele, o outro advogado, o havia considerado chocante. O novo secretário de Defesa tinha sido capturado pela burocracia inchada do outro lado do rio. Ainda que ele mesmo fosse um advogado, passava muito tempo com o pessoal de uniforme. Não ficara alarmado com o relatório sangrento, e isso apesar de o atual presidente ter publicado diretivas sobre o uso da força, mesmo no campo de batalha.
Bem, ele cuidaria disso. Escreveu seu próprio resumo do caso, com uma nota furiosa que iria para seu chefe de seção, um graduado por Harvard com acesso ao presidente — bem, poderia ter acesso, pois seu pai era um de seus mais importantes partidários políticos.
O primeiro-sargento Driscoll era um assassino, pensou o advogado. Ah, no tribunal o júri poderia se apiedar dele, pontuando se tratar de um soldado no que era um campo de batalha, ou algo parecido com isso. Não era uma guerra de verdade, como sabia o advogado, tendo em vista que o Congresso não a declarara, mas era comumente assim considerada, e o advogado de Driscoll certamente assinalaria a questão, e o júri do Tribunal Federal Distrital — que seria selecionado pela defesa por sua equanimidade para com os soldados — teria piedade do assassino por causa disso. Era uma tática padrão de defesa, mas mesmo assim o assassino seria duramente criticado. Mesmo se inocentado (o que era provável, diante da composição do júri na qual o advogado de defesa dedicaria muito esforço, o que não era uma tarefa difícil na Carolina do Norte), ele aprenderia uma lição, e essa lição seria aprendida por mais um grupo de soldados que certamente prefeririam disparar armas numa colina a ficar sentados em um tribunal.
Que diabos, isso mandaria uma mensagem, e era uma mensagem que precisava ser enviada. Dentre as muitas coisas que distinguia os Estados Unidos de uma república de bananas estava a firme obediência dos militares aos seus líderes civis. Sem isso, os Estados Unidos não eram melhores que Cuba ou que a droga da Uganda sob Idi Amin. O alcance do crime de Driscoll, que ele admitia ser pequeno, não vinha ao caso. Essas pessoas tinham que saber a quem obedeciam.
O advogado rascunhou seu parecer sobre o documento e o mandou por e-mail para seu chefe de seção com um mecanismo de recibo permitido pela rede interna de computadores. Esse tal de Driscoll tinha que ser reprimido, e ele era o homem que faria isso. O jovem advogado estava certo disso. Muito bem, ótimo, eles estavam atrás do Emir, mas não o tinham agarrado, e havia um preço para o fracasso no mundo real.
Depois de uma viagem de cinco horas de carro, ele embarcou em um voo em Caracas para Dallas e conexões. A mala de mão de Shasif Hadi tinha um laptop cuja veracidade fora devidamente verificada no portão de embarque. Também foram inspecionados os nove CD-ROM da bagagem para que ele jogasse enquanto voavam sobre o oceano. Menos um. Mesmo que esse fosse examinado, o que apareceria era bobagem, dados robustamente criptografados na linguagem C++ que não fariam nenhum sentido. Mesmo que a vigilância aeroportuária tivesse programadores ou hackers nas equipes dos pontos de vigilância, não haveria como distinguir aquilo de um jogo normal para computadores. Não lhe disseram nada sobre o conteúdo e ele simplesmente recebeu o lugar de encontro em Los Angeles, onde o entregaria a alguém que identificaria apenas pela troca de frases de reconhecimento cuidadosamente codificadas.
Uma vez feito isso, ele passaria alguns dias na Califórnia para manter as aparências, depois voaria para Toronto e dali de volta para sua base semipermanente para esperar outra tarefa. Era o correio perfeito. Não sabia realmente nada de valor e, portanto, não poderia trair nada de importante.
Shasif queria desesperadamente se envolver mais diretamente com a causa, e comunicara esse desejo a seu contato em Paris. Ele tinha sido leal, era capaz e estava disposto a entregar a vida se necessário. Reconhecidamente, só tinha um treinamento militar rudimentar, mas havia mais coisas nessa guerra além de puxar um gatilho, não é? Sentiu uma pontada de culpa. Se Alá, em toda sua sabedoria, achasse conveniente pedir mais dele, obedeceria com alegria. Do mesmo modo, se seu destino fosse desempenhar apenas esse pequeno papel, também deveria aceitar isso. Independentemente do desejo de Alá, ele obedeceria.
Passou pela inspeção sem problemas além da revista suplementar que a maioria dos homens com aparência árabe sofria nesses dias, e seguiu para o portão de embarque. Vinte minutos mais tarde estava a bordo do avião, com o cinto afivelado.
Seu tempo total de viagem seria de apenas 12 horas, e isso incluía a viagem de automóvel até seu aeroporto de origem. Assim, Shasif se sentou no último assento da primeira classe do lado direito do Airbus, distraidamente jogando no computador e pensando no filme que iria passar na minitela a que tinha direito por conta do preço da passagem. Mas ele já estava alcançando o seu recorde pessoal no jogo e por enquanto dispensou o filme. Sabia que uma taça de vinho ajudava a conseguir mais pontos. Devia relaxar o suficiente para acalmar as mãos sobre o touchpad do laptop...
24
O chefe de gabinete Wesley McMullen se apressou pelo saguão, recebeu um aceno da secretária e empurrou a porta para entrar no Salão Oval. Estava atrasado, não mais que um minuto, mas o presidente insistia na pontualidade. O grupo já estava reunido, com Kealty na cadeira de honra na cabeceira da mesa de café e Ann Reynolds e Scott Kilborn sentados nas poltronas de cada lado. McMullen se sentou na cadeira em frente ao presidente.
— O carro não pegou hoje de manhã, Wes? — brincou Kealty. O sorriso parecia autêntico, mas McMullen conhecia seu chefe o suficiente para perceber o aviso.
— Minhas desculpas, senhor presidente. — Tal como todos os dias, salvo os domingos, McMullen estava no escritório desde as cinco da manhã. Nos domingos ele trabalhava meio expediente, das nove às três da tarde. Assim era a vida na administração Kealty e na atmosfera rarefeita do poder executivo.
Era terça-feira, dia do encontro bissemanal de Kealty com o diretor central de Inteligência, Scott Kilborn. Ao contrário de seu antecessor, Kealty não tinha a mão na massa no que diz respeito à inteligência, confiando em Kilborn para mantê-lo informado.
Kilborn, que apoiava Kealty desde os dias do atual presidente no Senado, havia deixado seu posto de chefe do departamento de ciência política de Harvard para trabalhar como assessor internacional de Kealty antes de ser nomeado para a vaga em Langley. Kilborn era suficientemente competente, McMullen sabia, mas o DCI estava ultracompensando a plataforma de política externa da administração anterior, que tanto ele quanto Kealty declararam ser mal-encaminhada e contraproducente. McMullen concordava, pelo menos marginalmente, mas Kilborn tinha girado muito o pêndulo na direção oposta, recuando de algumas iniciativas operacionais da CIA no exterior que finalmente começavam a gerar frutos, algo que McMullen sabia ter enfurecido o Serviço Clandestino. Supervisores de casos que viviam no exterior, longe de suas famílias, às vezes por seis a oito meses, e que arriscavam as vidas em lugares onde um rosto branco era o equivalente a ser o centro do alvo recentemente receberam o recado: “Obrigado por seu trabalho duro, mas decidimos seguir em outra direção.” O rumor era de que nos próximos meses Langley veria um êxodo dos supervisores em idade de aposentadoria ou próximo disso, que apresentariam seus pedidos de afastamento. Se assim fosse, o Serviço Clandestino retrocederia em uma década.
Pior ainda, com a aprovação tácita de Kealty, Kilborn frequentemente interferia na área do Departamento de Estado e pegava para si questões que estariam na área supostamente cinzenta entre a diplomacia e a inteligência.
Por sua vez, Ann Reynolds, assessora de Segurança Nacional de Kealty, era esperta também, mas dolorosamente inexperiente. Pinçada por Kealty na Câmara de Deputados durante seu primeiro mandato, Reynolds tinha pouca experiência em assuntos de segurança, salvo como membro novato do Comitê de Inteligência da Câmara. Ela era, como Kealty falara a McMullen na época da decisão, “uma necessidade demográfica”. Ele maldissera muito sua adversária na indicação dos Democratas, a governadora de Vermont, Claire Raines, ganhando o partido, mas perdendo uma boa parte de sua base feminina no processo. Se quisesse ter alguma esperança de conseguir o segundo mandato, precisava conquistar essa área de volta.
Reynolds falava bem e tinha uma mente acadêmica aguçada, disso não havia dúvidas, mas, depois de quase um ano no cargo, ela ainda estava longe, muito longe, e no lado errado da curva de aprendizagem e da compreensão, suspeitava McMullen, de que o mundo real e o mundo dos livros acadêmicos tinham pouco em comum.
E quanto a você, Wes, meu velho?, pensou. Negro, menos de 30 anos, advogado formado em Yale com uma meia dúzia de anos de trabalho em uma usina de ideias semigovernamental no currículo. Ele não tinha dúvidas de que os especialistas na mídia e os fofoqueiros diziam a mesma coisa a seu respeito: que era uma escolha em função da ação afirmativa em um lugar fundo demais para ele, o que era parcialmente verdade, pelo menos na última parte. Ainda não dava pé, mas ele estava aprendendo rapidamente a nadar. O problema era que, quanto melhor era sua braçada, mais suja a piscina parecia ficar. Kealty era um sujeito decente, mas estava preocupado demais com o cenário completo — com sua “visão” do país e seu lugar no mundo — e menos focado em “como” fazer isso acontecer. Pior ainda, estava tão preocupado em reverter a direção estabelecida por seu predecessor que ele, também, tal como Kilborn, fazia o pêndulo pender exageradamente para a outra direção, leniente demais em sua posição contra os inimigos e indulgente com os aliados que deixavam de cumprir seus compromissos. Entretanto, a economia se aquecia novamente, e assim cresciam também os índices de aprovação do presidente. Kealty achava que isso era um sinal de que Deus estava no paraíso e estava tudo bem com o mundo aqui embaixo.
E por que você fica, perguntou-se pela enésima vez, agora que já viu como são as novas roupas do imperador? Ele não tinha resposta para essa pergunta, e isso o preocupava.
— Muito bem, Scott, o que está acontecendo hoje no mundo? — disse Kealty, começando a reunião.
— Iraque — começou Kilborn. — O Centcom apresentou o plano final de retirada de nossas forças. Trinta por cento nos primeiros 120 dias, depois dez por cento a cada período de sessenta dias seguintes até chegarmos à posição de presença apenas nominal.
Kealty assentiu pensativamente. Perguntou:
— E as Forças de Segurança do Iraque? — O treinamento e o equipamento do novo Exército iraquiano progredira aos arrancos nos últimos oito meses, provocando um debate no Congresso sobre quando, ou mesmo se em algum momento, as FSI estariam prontas para assumir completamente. O problema não era de habilidade, e mais de coesão e unidade. A maioria dos soldados das FSI absorvia bem o treinamento, mas, como a maioria das nações árabes, o Iraque era pouco mais que um agrupamento de seitas e famílias extensas, tanto seculares como religiosas. O conceito de nacionalismo vinha num longínquo segundo lugar depois das lealdades tribais ou da afiliação sunita ou xiita. Por algum tempo, o Centcom tinha brincado com a ideia de organizar unidades e comandos baseados em tais afinidades familiares e religiosas, no entanto o plano fora rapidamente abandonado quando os analistas perceberam que os Estados Unidos estariam criando nada menos que gangues bem-armadas que já estavam predispostas à guerra civil. A questão era: seria possível que membros de clãs ou seitas rivais convivessem lado a lado e lutassem pelo bem maior do seu país?
O tempo, considerou McMullen, seria o juiz da questão.
O fato de ser Kilborn a dar o plano de retirada a Kealty, em vez do chefe do Estado-Maior Conjunto, o almirante Stephen Netters, informou a McMullen que o presidente já havia decidido sobre a retirada do Iraque. Na reunião da última quinta-feira, Netters argumentou contra o ritmo ambicioso da retirada, citando os relatórios universalmente desalentadores sobre a preparação das FSI vindos dos comandantes de brigadas do Exército. As FSI certamente ainda não estavam prontas, e certamente não o estariam dentro de três meses, quando as primeiras forças americanas se programavam para a retirada.
Por sua vez, Kealty precisava fazer isso, e McMullen sabia, pois o presidente tinha centrado muito de sua campanha na redução de tropas. Se Netters estava certo ou errado era algo irrelevante para Kealty, que já ordenara a retirada das tropas a seu chefe do Estado-Maior e que colocasse a coisa para funcionar.
— Existe discussão entre os comandantes da brigada e da divisão sobre os dados da preparação, mas os dados aparentemente sustentam nosso plano. Quatro meses não é um tempo longo, mas a retirada inicial será escalada durante três meses, de modo que serão sete meses até que as FSI comecem a sentir realmente pressão.
Besteira, pensou McMullen.
— Ótimo, ótimo — disse Kealty. — Ann, pegue essa minuta de Scott e passe pelo Conselho de Segurança Nacional. Se eles não acharem problemas, avançamos. O próximo, Scott.
— Brasil. Há indicações de que o plano deles de expansão da infraestrutura de refinarias é mais ambicioso que o que projetamos.
— O que significa? — perguntou Kealty.
Reynolds respondeu:
— O campo de Tupi é mais rico do que eles pensavam ou do que anunciaram.
Pelo menos na aparência, o potencial crescente da bacia de Santos tinha sido uma surpresa tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Não se ouviu um pio sobre o assunto até o comunicado de imprensa da Petrobras, e esse não era o tipo da notícia que se podia manter em segredo por muito tempo.
— Filhos da puta — resmungou Kealty. Logo depois de vencer as eleições e até mesmo antes de tomar posse, Kealty tinha mandado seu futuro secretário de Estado procurar o governo brasileiro. Juntamente com a retirada dos Estados Unidos do Iraque, a redução do preço da gasolina havia sido um dos pilares da campanha de Kealty. O acordo de importação de petróleo do Brasil, que entraria em vigor no final do mês, contribuiria muito para cumprir a promessa. O problema era que o governo brasileiro, até então amistoso, tinha agora em mãos uma alavanca de considerável força. A questão que ninguém parecia ser capaz de responder era se Brasília continuaria benevolente ou se partiria para o caminho da Arábia Saudita: uma das mãos estendida em amizade e outra segurando uma adaga.
— Não sabemos para que lado as coisas caminham por lá, senhor presidente — disse McMullen, tentando conduzir Kealty para longe do problema. — Quando mudarão seus planos de expansão e em que grau o farão ainda é um ponto de interrogação — disse McMullen olhando fixamente para Kilborn, esperando que ele pegasse a deixa, o que aconteceu.
O DCI falou:
— Isso é verdade, senhor presidente.
— Wes, quando terminarmos aqui, quero falar com o embaixador Dewitt.
— Sim, senhor.
— O que mais?
— Irã. Ainda estamos analisando algumas fontes, mas existem indícios de que Teerã está novamente impulsionando seu programa nuclear.
Que merda, pensou McMullen. Dentre as muitas promessas de campanha de Kealty estava a de recomeçar a diplomacia direta com o Teerã. Trazer o Irã de volta à comunidade das nações e trabalhar em áreas de interesse mútuo, havia proclamado Kealty, era a melhor maneira de convencer Teerã a abandonar suas ambições nucleares. Até então, parecia estar funcionando.
— Defina “impulsionando”.
— Centrífugas, usinas de refino, e um vaivém com Moscou.
— Filhos da puta. Em nome de Deus, o que eles querem? — Essa pergunta ele dirigiu para sua assessora de Segurança Nacional.
— Difícil dizer, senhor presidente — respondeu Reynolds.
McMullen pensou Tradução: não tenho merda de ideia nenhuma.
— Então facilite as coisas — retrucou Kealty. — Pegue o maldito telefone e fale com o Departamento de Estado e me consiga algumas respostas. — Kealty levantou, terminando a reunião. — Isso é tudo. Wes, Scott, fiquem mais um pouco.
Após Reynolds se retirar, Kealty caminhou até sua mesa e sentou com um suspiro.
— O que sabemos sobre esse troço com o Ryan?
— O Serviço Secreto ainda está investigando o caso — respondeu o DCI Kilborn. — Mas parece que era apenas um atirador. Ainda não o identificamos, mas o trabalho na arcada dentária indica que seja jordaniano. A arma veio de um carregamento de armas pessoais egípcias roubado. É idêntica a duas encontradas depois das bombas em Marselha, no mês passado.
— Refresque minha memória.
— Ataque a um ônibus. Quatorze mortos, inclusive os atiradores.
— Suspeita-se que seja do CRO?
— Sim, senhor.
McMullen conhecia suficientemente bem seu chefe para interpretar sua expressão: ao escolher Jack Ryan como alvo, o CRO tinha dirigido o foco da mídia para o ex-presidente. Metade das redes de TV a cabo estavam reapresentando trechos da biografia de Ryan, que até então estava minimizando o incidente, divulgando um breve comunicado à imprensa e recusando pedidos de entrevistas. Por sua vez, Kealty havia lidado com o incidente com uma resposta pré-combinada durante uma entrevista coletiva: satisfeito pelo ex-presidente Ryan não ter sido ferido etc. As palavras saíram num tom convincentemente sincero, admitia McMullen, mas ele não tinha dúvidas de que queimaram a garganta de seu chefe enquanto passavam.
Kealty avançou.
— Wes, esse assunto com Netters...
Epa, pensou McMullen.
— Sim, senhor presidente.
— Acho que estamos chegando ao momento de fazer uma mudança.
— Percebo.
— Você não concorda?
McMullen escolheu cuidadosamente as palavras.
— Gostaria de sugerir, senhor presidente, que um pouco de discordância pode ser saudável. O almirante Netters é bem franco, talvez até demais, mas é muito respeitado, não apenas nas Forças Armadas, mas também no Congresso.
— Jesus, Wes, não vou mantê-lo a bordo simplesmente porque ele é popular.
— Não é esse meu ponto...
— Então, qual é?
— Ele é respeitado porque conhece seu ofício. Meu pai costumava dizer: “Não se pergunta o caminho a alguém que nunca esteve aonde você quer ir.” O almirante Netters esteve aonde queremos ir.
Kealty pareceu se zangar, mas depois sorriu.
— Essa é boa, realmente muito boa. Você se importa se eu usar? Muito bem, vamos ver até onde isso vai. Mas eu vou fazer isso acontecer mesmo, Wes. Estamos saindo daquele maldito país, de um jeito ou de outro. Compreendeu?
— Sim, senhor.
— Você está com a cara de quem acabou de ver seu cachorro morrer, Scott. Solte logo isso.
Kilborn colocou uma pasta sobre a mesa de Kealty, e depois falou:
— Semana passada, um ataque numa caverna nas montanhas do Hindu Kush, uma equipe de Rangers procurando o Emir.
— Ah, Jesus, esse sujeito? — disse Kealty, folheando a pasta. — Ainda estamos desperdiçando recursos atrás dele?
— Sim, senhor presidente. De qualquer maneira, o oficial comandante da equipe foi ferido, de modo que seu primeiro-sargento assumiu. Driscoll, Sam Driscoll. Chegou na caverna, abateu um par de guardas, mas quando entraram não havia nada.
— Nenhuma surpresa nisso.
— Não, senhor, mas se olhar na página quatro...
Kealty assim o fez, seus olhos se estreitando enquanto lia.
Kilborn continuou:
— Pelo que sabemos, nenhum deles estava armado, mas certamente estavam dormindo.
— E ele simplesmente atirou na cabeça deles — resmungou Kealty, jogando a pasta de lado. — É asqueroso.
McMullen falou:
— Senhor presidente, evidentemente estou um pouco por fora aqui. De que estamos falando?
— Assassinato, Wes, pura e simplesmente assassinato. Esse sargento, esse Driscoll, assassinou nove homens desarmados. Ponto.
— Senhor, não acho...
— Escute, meu antecessor deixou os militares correrem soltos. Ele deixou todos animados a ponto de escaparem das coleiras. Já é hora de colocarmos a coleira de volta. Não podemos ter soldados dos Estados Unidos saindo por aí atirando na cabeça de homens adormecidos. Scott, podemos fazer isso?
— Há precedentes dos dois lados, mas acho que podemos construir um caso aqui. A bola tem que começar a ser jogada no Pentágono, depois passada para a Justiça, e então trazemos uma equipe de investigação do Exército.
Kealty assentiu.
— Faça isso. Já está na hora dos recos saberem quem é que manda.
Um belo dia para pescar, decidiu Arlie Fry, mas na verdade praticamente todos os dias eram bons para pescar — pelo menos por ali, isto é. Não era como no Alasca, onde haviam feito aquele programa de TV, Pesca mortal. Pescar lá era o inferno na terra.
O nevoeiro estava espesso, afinal era uma manhã do norte da Califórnia, de modo que um pouco de neblina era de se esperar. Arlie sabia que o sol abriria em um par de horas.
Seu barco, um Atlas Acadia 20E com 7 metros de comprimento, motor de popa Ray Eletric, só tinha três meses de uso, um presente de aposentadoria de sua esposa, Eunice, que escolhera um modelo de lancha próprio para o mar costeiro, na esperança de mantê-lo perto da terra firme. E a culpa, mais uma vez, era da televisão, especialmente daquele filme com George Clooney, Mar em fúria. Na juventude, ele sonhara em cruzar o Atlântico velejando, mas sabia que a preocupação simplesmente mataria Eunice, então se satisfez com a pescaria duas vezes por semana perto da costa, na maioria das vezes sozinho, mas dessa vez convenceu o filho a acompanhá-lo. Chet, agora com 15 anos, estava mais interessado nas garotas, no seu iPod e em quando poderia ter sua carteira de motorista do que em pescar anchovas e lorcas — apesar de ter se animado quando Arlie mencionou ter visto um tubarão da última vez que saiu. A história era verdadeira, no entanto o tubarão mal tinha meio metro de comprimento.
Naquele instante, Chet estava sentado na proa, fones nos ouvidos, enquanto se inclinava por cima da amurada e arrastava a mão pela água.
O mar estava basicamente calmo, com um pequeno balanço, e, bem no alto, Arlie podia ver o sol, um círculo esmaecido e pálido, tentando queimar o caminho através das nuvens. Vai brilhar e esquentar dentro de uma hora, pensou. Eunice havia empacotado muitas latas de refrigerante, meia dúzia de sanduíches bem grossos e uma bolsa de plástico cheia de biscoitinhos recheados de doce de figo.
De repente, alguma coisa bateu no casco do Acadia. Chet puxou a mão para fora da água e se levantou, fazendo o barco balançar.
— Epa!
— O que foi?
— Alguma coisa bateu no lado... ali, está vendo?
Arlie olhou para onde Chet apontava, bem na popa, e vislumbrou alguma coisa alaranjada que logo foi escondida pelo nevoeiro.
— Conseguiu ver o que era? — perguntou Arlie.
— Na verdade, não. Me assustei pra cacete, digo, pra caramba. Parecia com algo como um salva-vidas ou um flutuador.
Arnie pensou em ir em frente, mas o objeto, seja lá o que fosse, não era simplesmente alaranjado, mas era de um laranja padrão internacional, geralmente reservado para socorros e emergências. E boias salva-vidas.
— Senta, filho, vamos até lá. — Arnie girou o leme e colocou o Acadia em ré, diminuindo a velocidade enquanto fazia isso. — Fique de olho.
— Sim, pai. Estou de olho. Putz.
Trinta segundos depois, Chet apontou a bombordo da proa. Visível através do nevoeiro havia uma bolha de borracha mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol.
— Já vi — disse Arlie, e manobrou para lá, parando ao lado do objeto. Chet se inclinou e o tirou da água.
Não era uma boia salva-vidas, percebeu Arlie, e sim um flutuador de borracha em forma de diamante. Preso a ele havia um cabo de meio metro, e ligada a esse, uma caixa de metal negro, de aproximadamente 10 centímetros de largura por 20 de comprimento, e da grossura aproximada de uma brochura.
— O que é isso? — perguntou Chet.
Arlie não tinha certeza, mas já tinha visto muitos filmes e programas de televisão para ter um palpite.
— Caixa-preta — murmurou.
— Hein?
— Gravador de dados de voo.
— Uau... quer dizer, tipo, coisa de avião?
— Sim.
— Maneiro.
A segurança da instalação era bem decente, Cassiano sabia, mas havia coisas que trabalhavam a seu favor. Uma, ele trabalhava para a Petrobras havia 11 anos, muito antes da descoberta de Tupi. Dois, a indústria tinha características únicas e distintas de todas as demais, de modo que o pessoal de segurança contratado não podia verificar competentemente muito do funcionamento interno da instalação. O restante tinha que ser feito por trabalhadores que sabiam o que buscavam e como as coisas funcionavam, de modo que esse trabalho duplo, além de proporcionar um bom salário e assegurar o funcionamento perfeito da instalação, também dava a Cassiano acesso irrestrito a áreas de alta segurança. E, três, a própria demografia do Brasil.
Dos 170 milhões de pessoas que constituíam a população estimada do país, menos de um por cento era de muçulmanos, e desse número apenas um por cento era constituído de brasileiros nativos convertidos à religião muçulmana. A onda crescente de radicais islâmicos tão temida nos outros países do hemisfério ocidental era virtualmente uma questão inexistente no Brasil. Ninguém se importava sobre que mesquita você frequentava ou se era ou não contra a guerra no Iraque. Esses assuntos raramente vinham à baila e certamente não afetavam em nada suas condições de trabalho, fosse em um restaurante ou na Petrobras.
Cassiano guardava seus pensamentos para si mesmo, orava em particular, jamais chegava tarde no trabalho e raramente adoecia. Muçulmano ou não, era um trabalhador ideal, tanto para a Petrobras como para seu novo empregador, que certamente pagava muito melhor.
Os detalhes que estes pediram que ele proporcionasse deixavam suas intenções bastante transparentes, e mesmo que não gostasse particularmente da ideia de virar espião industrial, Cassiano se conformava com as garantias que haviam lhe dado de que os únicos danos que suas ações e informações provocariam seriam monetários. Além do mais, ele disse a si mesmo, com a extensão das descobertas na bacia de Santos crescendo aos saltos, o governo brasileiro, que era o principal acionista da Petrobras, teria dinheiro para queimar por muitas décadas.
E não havia razão pela qual ele não pudesse desfrutar disso, não é verdade?
25
— Carpinteiro entrando — piou o rádio ao lado de onde Andrea se sentava.
— Quer que vá buscá-lo, chefe?
— Não, eu mesmo vou. — Ryan levantou do computador e caminhou até a porta da frente. — Ele fica para jantar, aliás.
— Claro, chefe.
Arnie van Damm nunca fora de fazer cerimônias. Tinha alugado um carro no Aeroporto de Baltimore-Washington que ele mesmo dirigiu até ali. Ainda usava as camisas L.L.Bean e calças cáqui também, percebeu Jack, quando ele saiu do Chevy da Hertz.
— Olá, Jack — saudou o ex-chefe de gabinete.
— Arnie, há quanto tempo. Como foi o voo?
— Dormi quase o tempo todo. — Os dois entraram. — Como está avançando o livro?
— É meio complicado para o ego escrever sobre si mesmo, mas tento dizer a verdade.
— Puxa, cara, isso vai confundir os críticos do Times.
— Bem, eles jamais gostaram muito de mim mesmo. Não espero que mudem agora.
— Droga, Jack, você acabou de sair de um atentado contra sua vida...
— Bobagem, Arnie.
— Percepção, meu amigo. O público escuta falar desse tipo de coisas, e tudo que absorve é que alguém tentou matar você e pagou o preço.
— E daí, onipotência por procuração?
— Você sacou.
A essa altura haviam chegado na cozinha, e Jack servia café. Ainda tardaria uma hora até Cathy chegar em casa, e Jack ainda tinha tempo para um pouco de cafeína não autorizada.
— Então me conte as fofocas. Ouvi dizer que a Suprema Corte está provocando ataques em Kealty.
— Você diz isso porque ele não consegue nomear ninguém? Sim, ele está ficando silenciosamente maluco com isso. Na campanha, prometeu nomear o professor Mayflower, da faculdade de direito de Harvard.
— Esse sujeito? Jesus, ele quer reescrever o evangelho de são Mateus.
— Deus não frequentou Harvard. Caso contrário, Ele estaria mais bem-informado — comentou Van Damm.
Ryan deu uma risadinha.
— Então, qual a razão da visita?
— Acho que você sabe, Jack. Além do mais, acho que você também andou pensando nisso. Me corrija se estiver errado.
— Está errado.
— Outra coisa que sempre gostei em você, Jack. Nunca conseguiu mentir bem.
Ryan resmungou.
— Ser mau mentiroso não é tão ruim assim — disse Arnie. — Kealty já começou a descarrilar, Jack. É só minha opinião, mas...
— Ele é um salafrário. Todo mundo sabe disso, mas os jornais não dizem nada.
— É um salafrário, mas é o salafrário deles. Eles pensam que podem controlá-lo. Eles o compreendem e sabem como ele pensa.
— E quem diz que ele pensa alguma coisa? Ele não pensa. Tem visões sobre o modo como quer que o mundo seja. E quer fazer qualquer coisa para moldar o mundo a essa ideia, se é que se pode chamar isso de ideia.
— E as suas ideias, Jack?
— Eu as chamo de princípios, e há uma diferença. Você defende seus princípios da melhor maneira e espera que o público compreenda. Qualquer coisa diferente disso e você é apenas um vendedor de carros usados.
— Um político famoso já disse que a política é a arte do possível.
— Mas se você se limita ao que é possível, ao que já foi feito, como diabos se espera que haja progresso? Kealty quer trazer de volta os anos 1930, com Roosevelt e todo o resto.
— Andou pensando muito sobre isso, Jack? — disse Arnie com uma ponta de sorriso.
— Você sabe que sim. Os Pais Fundadores iriam revirar em seus túmulos com o que esse cabeça-dura anda fazendo.
— Então o substitua.
— E passar por tudo isso novamente... para quê?
— Edmund Burke, lembra? “Para o triunfo do mal só é preciso que homens bons não façam nada.”
— Devia ter previsto que você ia falar isso — respondeu Jack. — Já prestei meus serviços. Lutei em duas guerras. Preparei minha própria linha de sucessão. Fiz tudo o que se espera que alguém faça.
— E fez tudo muito bem — admitiu o ex-chefe de gabinete. — Jack, no final das contas a coisa é simples: o país precisa de você.
— Não, Arnie, o país não precisa de mim. Ainda temos um bom Congresso.
— Sim, eles são bons, mas ainda não geraram um líder de verdade. Owens, do Oklahoma, tem possibilidades, mas ainda tem muito caminho pela frente. Ainda não amadureceu o bastante, é provinciano e idealista demais. Ainda não está pronto para o time principal.
— Você poderia ter dito o mesmo sobre mim — assinalou Ryan.
— É verdade, mas você escuta, e, principalmente, você sabe o que não sabe.
— Arnie, eu gosto da vida que tenho agora. Tenho um trabalho que me mantém ocupado, mas não tenho que me arrebentar. Não tenho que prestar atenção em cada palavra que digo com medo de ofender pessoas que nem gostam de mim. Posso andar pela casa sem sapatos, e sem gravata.
— Você está é entediado.
— Conquistei o direito de me entediar. — Ryan fez uma pausa, bebeu um gole de café, e depois tentou mudar de assunto. — O que Pat Martin anda fazendo?
— Não quer ser ministro da Justiça de novo — respondeu van Damm. — Ensina direito em Notre Dame. E também conduz seminários para juízes recém-nomeados.
— Por que não foi para Harvard ou para Yale? — perguntou Ryan.
— Harvard não o aceitaria. Eles gostariam da ideia de ter um ex-ministro da Justiça lá, é claro, mas não o seu. E, de qualquer maneira, Pat não iria para lá. Ele é torcedor fanático de futebol americano, e Harvard tem seu time, mas não como o de Notre Dame.
— Eu lembro — reconheceu Jack. — Eles não queriam nem jogar conosco, católicos metidos do Boston College. — E os BC Eagles de vez em quando derrotavam até o Notre Dame, quando as Moiras permitiam.
— Quer pensar no assunto? — perguntou Arnie.
— Os Estados Unidos da América escolhem seu próprio presidente, Arnie.
— É verdade, mas é como um restaurante com menu reduzido. Só se pode escolher entre o que o cozinheiro faz, e não se pode sair e ir para uma lanchonete se não estiver contente com a seleção.
— Quem mandou você aqui?
— As pessoas conversam comigo. Principalmente as que têm afinidade política com você...
Jack o interrompeu levantando a mão.
— Não sou afiliado a nada, lembra?
— Isso deve deixar o Partido Socialista dos Trabalhadores muito feliz. Então concorra como Independente. Funde seu próprio partido. Teddy Roosevelt fez isso.
— E perdeu.
— É melhor tentar e fracassar do que...
— Sei, sei.
— O país precisa de você. Kealty já está se cagando. Mandou o pessoal dele que pesquisa a oposição cavar coisas sobre você. Não soube disso?
— Besteira.
— Já faz mais de um mês que fazem isso. O caso de Georgetown os deixou preocupados. Estou lhe dizendo, Jack, precisamos agarrar isso enquanto é possível. — Ryan começou a balançar a cabeça. — Escute, você não planejou isso. As pessoas estão em cima da história porque seus números ainda são altos.
— Malditos votos de simpatia...
— Não vai ser assim, acredite em mim, mas no que diz respeito a entradas espetaculares em cena, essa foi de ouro. Então: há alguma roupa suja espalhada por aí?
— Nada que você não conheça. — Mas Jack conseguiu soltar essa mentira. Apenas Pat Martin sabia sobre a herança particular que Ryan havia deixado para trás. Ele nunca contara sequer para Robby. — Sou chato demais para virar político. Talvez seja por isso que a mídia jamais gostou de mim.
— Esse pessoal de pesquisa da oposição vai ter acesso a tudo, Jack, até aos documentos da CIA. Você deve ter deixado algumas coisas desagradáveis para trás — insistiu Van Damm. — Todo mundo deixa.
— Depende da interpretação, suponho. Mas revelar qualquer uma delas seria crime federal. Quantos políticos, por mais desprezíveis que sejam, arriscariam isso?
— Você ainda é um bebezinho perdido, Jack. Fora ser filmado estuprando uma garota ou batendo uma punhetinha num menino, não há muito que um político não arrisque pela presidência.
— Isso provoca uma pergunta que eu não consigo deixar de pensar: será que Kealty gosta de ser presidente?
— Ele provavelmente nem se reconhece. Está fazendo um bom trabalho? Não, realmente não. Mas nem sabe disso. Acha que está indo tão bem quanto qualquer um poderia, e melhor que a maioria. Ele gosta de jogar esse jogo. Gosta de atender ao telefone. Gosta de ter pessoas vindo até ele quando estão com um problema. Gosta de ser o sujeito que responde as perguntas, mesmo quando não tem a menor ideia do que responder. Lembra o que Mel Brooks disse uma vez? “É bom ser rei”, mesmo que o rei seja uma merda total. Ele quer estar lá, e que ninguém mais esteja, porque foi político a vida inteira. É o monte Everest, e ele o escalou porque está ali, e de que adianta chegar ao topo e não ter nada para fazer lá? Estar lá, estar no cume, e ninguém mais estar. Será que ele mataria pelo cargo? Provavelmente, se tivesse colhões para isso. Mas não tem. Vai mandar um de seus soldados fazer isso, de modo que possa negar, sem nada registrado por escrito. Sempre se consegue achar pessoas para fazer esse tipo de coisa, e que se foda se for pego.
— Eu nunca...
— Esse tal de John Clark. Ele matou pessoas, e as razões para isso nem sempre passariam pelo teste do escrutínio público. Você tem que fazer esse tipo de coisa quando comanda um país, e bem, talvez não seja tecnicamente legal, mas você mantém em segredo porque não ficaria bem se aparecesse na primeira página dos jornais. Se você deixou algo desse tipo para trás, Kealty vai divulgar através de intermediários e de vazamentos cuidadosamente estruturados.
— Se chegar a isso, sei como lidar com o assunto — disse Ryan friamente. Ele nunca reagira bem a ameaças e raramente as fazia, não sem ter munição suficiente. Mas Kealty jamais deixaria isso acontecer. Como tantos “grandes” homens, e como muitos políticos, na verdade, ele era um covarde. Covardes eram os primeiros a optar por uma demonstração de força. É o tipo de poder que alguns homens acham embriagante. Ryan sempre achara isso assustador, mas sob nenhuma condição tivera que liberar essa munição sem ter uma razão muito importante. — Arnie, não tenho medo de nada que esse filho da mãe possa jogar em cima de mim, se isso chegar a acontecer. Mas por que deveria chegar a esse ponto?
— Porque o país precisa de você, Jack.
— Tentei consertar a coisa. Tive mais de cinco anos, e falhei.
— O sistema é corrupto demais, não?
— Tive um Congresso decente. A maioria era decente, os que voltaram para casa por causa de promessas de campanha. Droga, esses eram os honestos, não é? O Congresso melhorou muito, mas é o presidente que dá o tom da nação, e não consegui mudar isso. Você sabe como tentei.
— Callie Weston escreveu para você alguns discursos muito bons. Você poderia ter sido um bom padre. — Arnie se inclinou para beber o restante do café. — Você fez um grande esforço, Jack. Mas não foi o suficiente.
— E aí você quer que eu tente de novo. Quando você bate com a cabeça num muro de pedra, aquele barulho de esguicho fica um tanto deprimente depois de algum tempo.
— Os amigos de Cathy já descobriram a cura para o câncer?
— Não.
— E pararam de tentar?
— Não — teve que reconhecer Jack.
— Porque vale a pena tentar, mesmo que seja impossível.
— Brincar com as leis da ciência é mais fácil que mudar a natureza humana.
— Está bem, você sempre pode ficar aí sentado vendo a CNN, lendo os jornais e se enfezando.
E faço muito isso, Jack não precisava nem reconhecer. A questão de Arnie era que ele sabia como manipular Ryan do mesmo modo como uma garotinha de 4 anos manipula o pai. Sem esforço e inocentemente. Tão inocente quanto Bonnie e Clyde dentro de um banco, evidentemente, mas Arnie sabia como fazer a coisa.
— Vou dizer mais uma vez, Jack. Seu país...
— E eu pergunto mais uma vez: quem mandou você aqui?
— Por que você acha que alguém me mandou aqui?
— Arnie.
— Ninguém, Jack. Verdade. Também estou aposentado, lembra?
— Você sente falta da ação?
— Não sei, mas digo uma coisa: eu pensava que a política era a forma mais elevada da atividade humana, porém você me curou disso. Você tem que tomar posição. Kealty não faz isso. Ele simplesmente quer ser o presidente dos Estados Unidos porque acha que estava na linha de sucessão, e era a vez dele. Pelo menos é como ele vê a coisa.
— Então você entraria no barco comigo? — perguntou Ryan.
— Estarei lá para ajudar, e aconselhar você, e talvez dessa vez você escute mais a voz da razão.
— Essa coisa de terrorismo é trabalho demais para quatro anos.
— Concordo. Você pode restabelecer seu programa de reconstrução da CIA. Reforçar o recrutamento, colocar as operações de volta nos trilhos. Kealty aleijou o programa, mas não o destruiu completamente.
— Levaria uma década. Talvez mais.
— Então você põe as coisas nos trilhos, fica de lado e deixa outro completar o serviço.
— A maioria dos membros do gabinete não voltaria.
— E daí? Descubra outros — observou Arnie friamente. — O país é cheio de pessoas talentosas. Descubra algumas honestas e aplique a mágica Jack Ryan em cima delas.
Ryan Senior bufou.
— Vai ser uma campanha comprida.
— Sua primeira campanha de verdade. Quatro anos atrás você estava concorrendo à coroação, e isso funcionou. Foi asquerosamente fácil, voando por aí e discursando sempre para plateias amistosas, a maioria das pessoas só queria conhecer o cara em quem iam votar. Com Kealty vai ser diferente. Você vai ter até que debater com ele, e não o subestime. Ele é um operador político consumado, e sabe dar um golpe baixo — avisou Arnie. — Você não está acostumado com isso.
Ryan suspirou.
— Você é um filho da puta, sabia? Se quer que eu me comprometa com isso, vai se desapontar. Tenho que pensar no assunto. E tenha uma esposa e quatro filhos.
— Cathy vai concordar. Ela é muito mais durona e esperta do que as pessoas pensam — notou Van Damm. — Sabe o que Kealty disse semana passada?
— O quê?
— Sobre o plano de saúde nacional. Uma equipe da televisão local em Baltimore a entrevistou. Ela deve ter tido um momento de fraqueza e falou que não achava que planos de saúde governamentais fossem uma boa ideia. A reação de Kealty foi: “Que diabos uma médica sabe sobre assuntos de saúde?”
— E como isso não chegou aos jornais? — Afinal, é suculento e delicioso.
— Anne Quinlan é a chefe de imprensa de Ed. Ela conseguiu convencer o Times a não publicar. Anne não é nenhuma boba. O editor executivo em Nova York é amigo dela.
— E como é que sempre me esculhambavam quando eu falava? — perguntou Ryan.
— Jack, Ed é um deles. Você, por outro lado, não é. Você nunca dá uma folga para seus amigos? Eles também. Também são seres humanos. — A postura de Arnie estava mais relaxada. Ele vencera a batalha principal. Era a hora da magnanimidade.
Ter que pensar em jornalistas como seres humanos já era trabalhoso demais para Ryan, no momento.
26
Quase um quarto do estoque mundial de guindastes pesados, pensou Badr, olhando na direção do porto Rachid. Cerca de 30 mil do total mundial de 125 mil guindastes, todos reunidos em um só lugar e com um único objetivo: transformar Dubai na joia do planeta e paraíso para os mais ricos de seus habitantes.
De onde estava, podia ver ao largo as ilhas Palmeira e Mundo — enormes arquipélagos artificiais, um na forma da própria árvore, e o outro, da terra —, assim como o hotel Burj Al Arab, um arranha-céu de mais de 300 metros com a forma de uma gigantesca vela.
Para o interior, a cidade era um mar de arranha-céus e rodovias se entrecruzando e equipamentos de construção. E em mais cinco anos, atrações continuariam pipocando na paisagem: o Dubai Waterfront, um crescente que se estendia por 80 quilômetros no oceano; o Hydropolis, um hotel submarino; a Cidade dos Esportes e o complexo de esqui; o Mundo da Ciência Espacial. Em menos de uma década, Dubai havia deixado de ser o que muitos consideravam apenas um desolado e atrasado ponto no mapa para se transformar em um dos principais destinos mundiais de resorts, um parque de diversão para os super-ricos. Muito em breve, pensou Badr, as atrações e amenidades de Dubai irão superar até mesmo as de Las Vegas. Ou talvez não, lembrou-se. A crise econômica mundial também tinha atingido os Emirados Árabes Unidos. Muitos dos guindastes que se assomavam pela cidade estavam na verdade imóveis, pois os projetos de construção haviam sido interrompidos. Badr suspeitava que nisso tudo estava a mão de Alá. Era impensável tal decadência em um país árabe.
— Magnífico, não é? — escutou atrás de si Badr e se voltou.
— Minhas desculpas por estar atrasado — disse o corretor de imóveis. — Como provavelmente já notou, às vezes as construções podem ser uma confusão. Sr. Almasi, não?
Badr assentiu. Não era seu nome, claro, e o corretor provavelmente suspeitava disso, mas outro dos muito admirados traços de Dubai era um respeito universal pela discrição e pelo anonimato entre seu exército de banqueiros, corretores e agentes. Negócios são negócios e dinheiro é dinheiro, e os dois eram muito mais estimados do que códigos de conduta arbitrários e totalmente subjetivos.
— Sim — respondeu Badr. — Obrigado por vir se encontrar comigo.
— Por nada. Por aqui, por favor.
O corretor caminhou até um carro de golfe elétrico. Badr entrou e os dois dirigiram pelo cais.
— Provavelmente já notou que a doca não é de concreto — disse o corretor.
— Sim. — De fato, a superfície tinha um leve tom de terracota.
— É um material composto, algo parecido com material sintético para docas, me disseram, porém muito mais forte e durável, e a cor vai se manter enquanto ela existir. Os designers consideraram isso mais atraente que o padrão cinza de concreto.
Pararam diante de um armazém no final do cais e saíram.
— O senhor mencionou a necessidade de privacidade — disse o agente. — Será que isso o satisfaz?
— Sim, acho que sim.
— Como pode ver, é uma unidade de esquina, com pontos de acesso à água pela frente e pelo lado, suficientes para acomodar dois navios de 90 metros de extensão. É claro, paus de carga móveis estão disponíveis para alugar, se precisar.
A verdade era que Badr pouco sabia sobre as necessidades de seu cliente além do tamanho e do formato do armazém e do período de tempo que seria usado. Acesso e privacidade, lhe disseram, eram de maior importância.
— Posso ver por dentro? — perguntou.
— Claro.
O corretor tirou um cartão magnético que deslizou pelo leitor ao lado da porta. Um bipe suave soou. O corretor apertou o polegar numa almofada ao lado do leitor. Pouco depois a fechadura fez um clique e se abriu.
— Os cartões-chave e o leitor biométrico são totalmente programáveis pelo inquilino. Você, e apenas você, controla quem tem acesso ao local.
— Como isso é feito?
— Através de nosso site seguro. Uma vez criada sua conta, você simplesmente se registra, programa os cartões e escaneia os registros de digitais. Todos os dados são criptografados com o que é conhecido como NST, ou Nível de Segurança de Transmissão, e com certificados digitais.
— Muito bem. E a polícia?
— Nos últimos dez anos posso contar em apenas uma das mãos quantas vezes a polícia solicitou mandados de busca para nossas instalações. Desses, todos menos um foram negados pelos tribunais. Nós nos orgulhamos de proporcionar segurança e anonimato, ambos dentro dos limites legais dos Emirados, é claro.
Os dois entraram. O espaço, que media quase 200 metros quadrados, estava vazio. O chão e as paredes eram feitas do mesmo material da doca, mas de cor creme. Sem janelas, também, o que era um item que estava na lista do cliente. Não uma necessidade absoluta, mas certamente uma vantagem. O ar estava frio, por volta dos 23 graus, avaliou.
— Confortável, não? — perguntou o corretor.
Badr assentiu.
— Sistemas de controle de incêndio e roubo?
— Ambos. Monitorados por nosso centro de controle a um quilômetro e meio daqui. Em caso de incêndio, um sistema de supressão a halometano é ativado. No caso de entrada não autorizada, o inquilino é contatado para dar instruções.
— A polícia não é contatada?
— Apenas com aprovação do inquilino.
— E a sua companhia? Certamente tem acesso ao...
— Não. Se o aluguel do inquilino está sete dias em atraso, fazemos todo o possível para entrar em contato. No 14° dia, se o contato ainda não estiver estabelecido, o leitor de cartões e o escâner biométrico são removidos e o sistema de trancas é desmantelado, um processo caro e que leva tempo e que seria, é claro, debitado na conta do inquilino, tal como a reinstalação desses sistemas. No mesmo caso, todo o conteúdo do armazém é embargado.
— Não terão problemas conosco, pode ter certeza — afirmou Badr.
— Não tenho dúvida. Fazemos o contrato pelo período mínimo de um ano, com incrementos semestrais depois disso.
— Um ano deverá ser o suficiente. — Na verdade, bastaria um mês, segundo lhe disseram. O armazém ficaria vazio depois disso. Seu propósito, seja lá qual fosse, já teria sido alcançado. De fato, dias depois da partida de seu cliente, os artifícios financeiros estabelecidos para pagar o aluguel seriam a única coisa deixada para as autoridades descobrirem, e mesmo esses levariam apenas a mais contas fechadas e companhias de fachada. A “trilha de dinheiro”, que a comunidade de inteligência americana era tão boa em seguir, já estaria completamente gelada.
— Podemos proporcionar assistência para facilitar os procedimentos alfandegários, caso tenham que descarregar carga — disse o corretor. — Mas licenças de exportação, entretanto, seriam de sua responsabilidade.
— Compreendo — respondeu Badr com um sorriso maldisfarçado. Algo lhe dizia que a última preocupação de seus clientes seria com licenças de exportação. Deu uma olhada final e depois se voltou para o corretor. — Em quanto tempo pode ter o contrato de aluguel pronto?
Apesar de Adnan jamais vir a saber, seus contrapartes estavam não apenas mais adiantados em sua missão como também navegavam no conforto relativo de um barco fretado — ainda que fosse um barco de desembarque russo convertido.
Durante dias, Adnan e seus homens viajaram subindo a estrada da costa nas bordas do mar de Kara, passando por aldeias de pescadores e povoados abandonados e pela paisagem branca e desolada, vendo apenas um veículo ocasional na estrada, nenhum seguindo na mesma direção — fato que Adnan fazia o melhor possível para não tomar como presságio. Não conseguia imaginar alguém vivendo ali por vontade própria. Pelo menos no deserto se pode tirar alegria da luz do sol. Ali, céus nublados e cinzentos pareciam ser mais a regra que a exceção.
Como esperava, encontrar abrigo para suas paradas noturnas não era difícil, mas achar algum que fosse um pouco mais que uma choça era algo completamente diferente. Na primeira noite tiveram bastante sorte e acharam uma tenda abandonada com um aquecedor à lenha que funcionava, e, apesar de a lona estar furada e ter perdido seu revestimento à prova d’água, os polos de sustentação permaneciam bem-enterrados no solo e os arames de suporte ainda estavam esticados, de modo que passaram a noite em relativo conforto enquanto lá fora o vento quase de tempestade chicoteava a neve e o gelo contra a lona como estilhaços de metralha, e as ondas rugiam contra os rochedos. Na segunda noite foram menos afortunados, tendo que se amontoar em seus sacos de dormir na traseira do caminhão cuja lona parecia uma peneira e batia com o vento. Depois de tentar dormir por várias horas, desistiram e passaram o restante da noite bebendo chá preparado no fogão de acampamento portátil e esperando os primeiros sinais da alvorada.
E agora, depois de três dias de viagem, encontravam-se a no máximo um dia e meio de seu destino — pelo menos segundo o mapa, que Adnan consultava com atenção, verificando duas vezes as marcas e medidas com as de seu GPS portátil. Destino não era exatamente a palavra, não é? Ponto de partida, talvez. Contanto que o capitão do barco fretado fosse tão bom quanto dizia e quisesse ganhar o restante do pagamento, eles estariam um passo mais perto de seu objetivo, uma ideia que provocava um bocado de agitação em Adnan. Pelo pouco que lera sobre o lugar, ali onde estavam no momento, desolado como era, logo mostraria ser comparativamente luxuoso. E também havia a doença. Tinha pílulas para isso, mas o médico que lhes dera não tinha certeza sobre sua eficácia. Elas ajudariam, disseram a Adnan, mas não havia garantia disso. A melhor proteção seria rapidez e cuidado. Quanto mais tempo passassem ali, maior o risco. O pior é que nenhum deles saberia se estava a salvo até que transcorressem muitos anos, jamais sabendo, até ser tarde demais, que a morte invisível os devorava por dentro. Não importa, disse a si mesmo. Morte era morte, simplesmente uma passagem para o paraíso, e seus homens sabiam disso tanto quanto ele. Duvidar era um insulto a Alá.
A despeito do frio brutal e das rações escassas, nenhum deles tinha manifestado uma única queixa. Eram bons homens, fiéis tanto a Alá quanto à causa — que eram, é claro, uma única e mesma coisa. E, apesar de ele ter uma confiança razoável de que todos permaneceriam decididos quando ele finalmente revelasse o propósito da jornada, sabia que não podia abaixar a guarda. O Emir o escolhera pessoalmente para a missão, e o trabalho deles era importante demais para que o temor os fizesse recuar.
Mas e quanto à própria missão?, perguntou-se Adnan. Suas instruções eram detalhadas e claras, e facilmente acessíveis na sua mochila — várias dúzias de páginas laminadas —, mas e se houvesse complicações? Se suas ferramentas fossem inadequadas para o serviço? E se cortassem no lugar errado e o guincho não suportasse a carga? E se, Deus não permita, as medidas de segurança tivessem mudado desde que receberam a informação?
Pare, ordenou a si mesmo. Como o medo, a dúvida era um truque da mente, uma fraqueza a ser superada através da fé em Alá e no Emir. Ele era um sábio, um grande homem, e havia assegurado a Adnan que seu prêmio estaria esperando por eles. Eles podiam descobri-lo, fazer o que fosse necessário para capturá-lo, e depois voltar.
Mais três dias, então mais cinco de retorno.
27
Jack Jr. desligou o computador e deixou seu cubículo, dirigindo-se ao estacionamento e a seu Hummer H2 amarelo, um dos poucos guilty pleasures de sua vida. Ainda assim, com o preço da gasolina e a situação geral da economia, sentia uma pontada de culpa sempre que ligava a chave de ignição daquela maldita coisa. Ele não era nenhum abraçador de árvores, com certeza, mas talvez fosse o momento de pensar em recuar. Droga, a chata da sua irmã ecomilitante o aporrinhava. Ele tinha ouvido dizer que a Cadillac estava fazendo um Escalade híbrido bem decente. Talvez valesse a pena fazer uma visita à concessionária.
Tinha um dos raros jantares com sua mãe e seu pai programado para aquela noite. Sally também estaria lá, provavelmente cheia de ideias da sua faculdade de medicina. Ela precisava escolher sua especialidade e por conta disso ocupava muito a orelha da mãe. E Katie estaria encantadora como sempre, paparicando o irmão mais velho, o que podia ser uma chatice, mas SANDBOX não era tão ruim no papel de irmã mais nova. Noite familiar, bifes e salada de espinafre, batata assada e milho na espiga, pois esse era o menu preferido do pai para os jantares familiares. Talvez uma taça de vinho, agora que ele estava mais velho.
A vida de um filho de ex-presidente tinha seus problemas, como Jack aprendera havia muito tempo. A segurança não o acompanhava mais, ainda bem, apesar de ele nunca ter certeza absoluta de não ter alguma cobertura disfarçada. Perguntou a Andrea sobre isso e lhe foi dito que não havia mais tropas cuidando dele, mas quem saberia dizer se ela estava sendo totalmente sincera sobre isso?
Estacionou na rua em frente a seu apartamento e subiu para trocar de roupa, descendo com uma calça esporte e camisa de flanela. Em pouco tempo, estava na I-97 para a viagem até Annapolis e, de lá, até Peregrine Cliff.
Seus pais construíram uma casa bem grande antes de entrar no serviço público. A notícia ruim era que todo mundo sabia onde ela estava. Carros dirigiam pela estrada municipal estreita e paravam para observá-la, sem saber que cada placa era registrada e verificada pelo computador do Serviço Secreto, através de um emaranhado de câmeras de TV escondidas. Eles podiam adivinhar que a estrutura protegida a uns 60 metros da casa principal abrigava um mínimo de seis agentes armados para o caso de alguém tentar passar pelo portão e dirigir estrada acima. Ele sabia que seu pai achava aquilo opressivo. Era necessária toda uma produção até para ir à padaria comprar pão e leite.
O prisioneiro na gaiola dourada, pensou Jack.
— SHORTSTOP, entrando — informou na portaria, e uma câmera se certificou de que se tratava dele mesmo antes de abrir o portão. O Serviço Secreto não gostava do seu carro. O amarelo brilhante do Hummer era conspícuo, com certeza.
Ele estacionou, saiu e foi até a porta, ao lado da qual encontrou Andrea.
— Não tive oportunidade de falar com você depois daquilo — disse-lhe ela. — Foi algo fantástico o que você fez, Jack. Se você não tivesse sacado a coisa...
— Então você teria que dar um tiro mais de longe, só isso.
— Talvez. Mesmo assim, obrigada.
— De nada. Já sabemos alguma coisa sobre o sujeito? Escutei um boato de que ele poderia ser do CRO.
Andrea considerou sua resposta por um instante.
— Não posso confirmar nem negar — disse com um sorriso e uma ênfase clara no confirmar.
Então o Emir tentou liquidar meu pai, pensou Jack. Que merda inacreditável. Controlou o impulso de voltar para seu computador no Campus. O Emir estava lá fora, e mais cedo ou mais tarde não teria para onde correr. Infelizmente, talvez, pensou Jack, ele não estaria lá quando isso acontecesse.
— Motivo?
— Choque de valores, é o que achamos. Seu pai pode ser um “ex”, mas ainda é muito popular. Além disso, a logística é menos complicada: é mais fácil matar um presidente aposentado do que um no exercício do cargo.
— Talvez seja menos complicada, mas não é fácil droga nenhuma. Você provou isso.
— Nós provamos isso — disse Andrea sorrindo. — Quer um formulário para se candidatar ao emprego?
Jack sorriu.
— Eu lhe conto como anda o negócio de ações. Obrigado, Andrea. — Ele empurrou a porta. — Ei, já cheguei! — gritou.
— Olá, Jack — disse sua mãe, saindo da cozinha para lhe dar um abraço e um beijo. — Você está ótimo.
— Você também, senhora professora de cirurgia. Onde anda o meu pai?
Ela apontou para a direita.
— Biblioteca. Tem companhia. Arnie.
Jack caminhou para lá, subindo os poucos degraus e dobrando à esquerda até o lugar de trabalho do pai, que estava sentado numa poltrona giratória, com Arnie van Damm esparramado numa cadeira ao lado.
— Sobre o que vocês dois estão conspirando? — perguntou quando entrou na sala.
— Conspirações não funcionam — disse o pai, cansado. Houvera muitos rumores durante sua presidência, e o pai detestava tudo aquilo, apesar de uma vez ter feito uma piada sobre pintar o helicóptero presidencial de preto só para irritar os idiotas que acreditavam que nada acontecia no planeta sem alguma obscura conspiração por detrás. Não ajudava o fato de John Patrick Ryan Senior ser, ao mesmo tempo, rico e ex-empregado da CIA, é claro; uma combinação que certamente criava um rumor de conspirações, reais ou imaginárias.
— E isso não é uma pena, pai? — brincou Jack, avançando para o abraço. — O que Sally está fazendo?
— Foi até a loja comprar coisas para a salada. Levou o carro da mãe. Quais as novidades?
— Aprendendo arbitragem de câmbio. É tipo meio misterioso.
— Já está ganhando algum dinheiro?
— Bem, ainda não, não muito, de qualquer maneira, mas aconselho pessoas.
— Contas teóricas?
— Sim, semana passada ganhei meio milhão de dólares virtuais.
— Você não pode gastar dólares virtuais, Jack.
— Eu sei, mas é preciso começar de algum lugar, certo? Então, Arnie, tentando fazer o meu pai concorrer de novo?
— Por que você diz isso? — perguntou Van Damm.
Talvez fosse o ambiente, pensou Jack. Suas sobrancelhas subiram um pouco, mas ele não forçou o assunto. E então todos na sala sabiam de algo que os demais não sabiam. Arnie não sabia nada sobre o Campus e o papel de seu pai em estabelecê-lo, não sabia nada sobre o perdão abrangente, não sabia o que seu pai autorizara. O pai não sabia que seu filho trabalhava lá. E Arnie conhecia mais segredos políticos que qualquer pessoa desde a administração Kennedy, a maior parte dos quais jamais saíra de seus lábios, nem mesmo para os ouvidos do presidente em exercício.
— Washington está uma confusão — comentou Jack, imaginando o que poderia sair dali.
Van Damm não engoliu a isca:
— Geralmente é.
— Faz imaginar o que as pessoas pensavam em 1914, como o país estava se afundando na época, mas ninguém se lembra disso agora. Isso porque alguém consertou o estrago, ou porque a coisa realmente não era importante?
— O primeiro mandato de Wilson — respondeu Arnie. — A guerra começando na Europa, mas ninguém percebeu como aquilo ainda se tornaria ruim. Levou mais de um ano para as pessoas perceberem, e então era tarde demais para achar uma saída. Henry Ford tentou, mas riram da cara dele.
— Mas isso porque o problema era grande demais ou as pessoas que eram muito mesquinhas e idiotas? — divagou Jack.
— Não perceberam o problema chegando — disse o Ryan mais velho. — Estavam ocupadas demais lidando com o dia a dia para parar e perceber as grandes tendências históricas.
— Como todos os políticos?
— Os políticos profissionais tendem a focar nos temas pequenos, não nos grandes — concordou Arnie. — Tentam manter a continuidade porque é mais fácil manter o trem nos mesmos trilhos. O problema é: o que fazer quando os trilhos estão soltos na curva seguinte? Por isso é que é um trabalho difícil, mesmo para pessoas espertas.
— E ninguém viu o terrorismo chegando também.
— Não, Jack, não vimos, pelo menos não completamente — admitiu o ex-presidente. — Alguns perceberam. Droga, com um serviço de inteligência melhor talvez tivéssemos percebido, mas o estrago foi feito há trinta anos, e ninguém jamais tentou realmente consertar isso.
— O que funciona? — perguntou Jack. — O que teria feito diferença? — Era uma pergunta suficientemente ampla que poderia gerar uma resposta honesta.
— Inteligência eletrônica é importante, e provavelmente nós ainda somos os melhores nisso, mas não há substituto para a inteligência humana; os verdadeiros espiões de campo, falando com pessoas reais e descobrindo o que elas realmente pensam.
— E matando alguns? — perguntou Jack, só para ver no que ia dar.
— Não há muito disso — respondeu seu pai. — Pelo menos, não fora de Hollywood.
— Não é o que os jornais dizem.
— Eles também continuam noticiando aparições de Elvis — respondeu Arnie.
— Caramba, talvez fosse ótimo se James Bond existisse, mas não existe — observou o ex-presidente. Podia ter sido o desmonte feito na administração Kennedy, que começara a acreditar na ficção do 007, exceto por um idiota chamado Oswald. Será que a maioria das grandes viradas na história acontecem por conta de acidentes, assassinatos e azar? Talvez na época fosse possível ter uma conspiração decente, mas agora não mais. Advogados demais, repórteres demais, blogueiros demais e câmeras e filmadoras digitais demais.
— E como consertamos isso?
Isso fez a cabeça do Ryan mais velho se voltar para cima, um tanto tristemente, seu filho pensou.
— Já tentei uma vez, se lembra? — falou o pai.
— Então por que Arnie está aqui?
— Desde quando você ficou tão curioso?
— Meu trabalho é olhar as coisas e tirar sentido delas.
— A maldição da família — observou Van Damm.
Sally entrou nesse instante na sala.
— Bem, olha só quem apareceu.
— Já terminou de dissecar seu cadáver? — perguntou Junior.
— O difícil é colocar tudo de volta no lugar e fazer com que ele saia pela porta dos fundos — disparou de volta Olivia Barbara Ryan. — É melhor do que lidar com dinheiro. Coisa suja, o dinheiro, cheia de germes.
— Não quando você faz isso pelo computador. Assim é limpo e bonitinho.
— Como está minha garota número um? — perguntou o ex-presidente.
— Bem, trouxe alface. Orgânico. Só pode ser assim. Mamãe mandou dizer que já é hora de você colocar os bifes para grelhar.
Sally não aprovava bifes, mas era a única coisa que seu pai sabia fazer, assim como hambúrgueres. Como não era verão, devia fazer isso na grelha da cozinha em vez de usar a churrasqueira externa de carvão. Foi o suficiente para fazer o pai se levantar e ir para a cozinha, deixando Junior e Arnie juntos.
— Então, Sr. Van Damm, ele vai topar?
— Acho que tem que fazer isso, aceite ou não a ideia agora. O país precisa que ele o faça. E agora me chame de Arnie, Jack.
Jack suspirou.
— Esse é um negócio de família pelo qual não tenho o menor interesse. Não paga o suficiente pelas angústias que acompanham.
— Talvez, mas como você diz não para seu país?
— Jamais me perguntaram — respondeu Jack, mentindo em pequeno grau.
— A questão é sempre interior. E seu pai está escutando isso agora. O que ele vai fazer? Droga, você é filho dele. Você o conhece melhor do que jamais conhecerei.
— A coisa mais difícil para o meu pai diz respeito a nós, mamãe e as garotas. Acho que a primeira lealdade dele é para conosco.
— E é assim que deve ser. Me conte: alguma garota simpática na sua vida? — perguntou Van Damm.
— Ainda não.
Não era completamente verdade. Ele e Brenda estavam saindo havia mais de um mês, e ela era especial, mas Jack não tinha certeza se era o especial certo. Do tipo de levar para casa e apresentar aos pais.
— Ela ainda está por aí, esperando ser achada. A boa notícia é que ela também está procurando você neste mesmo instante.
— Aceito sua palavra. A pergunta é: será que vou estar velho e grisalho quando isso acontecer?
— Está com pressa?
— Não especialmente.
Sally apareceu na porta.
— Jantar, para os que querem devorar a carne de uma criatura pacífica e inofensiva, provavelmente assassinada em Omaha.
— Bem, ela teve uma vida gratificante — observou Jack.
Arnie entrou na conversa:
— Ah, sim, levavam a comida direto para ela, teve muitos amigos, todos de sua idade, nunca precisou andar muito nem se preocupar com os lobos, teve boa assistência médica para cuidar de qualquer doença que a preocupasse...
— Só tem uma coisa — disparou de volta Sally, conduzindo-os pelas escadas. — Fizeram com que ela subisse por uma rampa inclinada até uma jaula apertada e destroçaram seu cérebro com um martelo hidráulico.
— Já lhe ocorreu, minha jovem, que um pé de alface pode gritar quando é cortado?
— Mas é difícil de ouvir — intrometeu-se Jack. — As cordas vocais são pequenas. Nós somos carnívoros, Sally. Por isso é que temos pouco esmalte nos dentes.
— Nesse caso, somos mal-adaptados. O colesterol nos mata logo depois de chegarmos à idade reprodutiva.
— Jesus, Sally, você quer andar pelo mundo pelada com uma faca de pedra para sobreviver? E que tal seu Ford Explorer? — perguntou Jack. — E o boizinho que nos proporcionou o jantar também forneceu o couro para seus sapatos estilosos. Você pode empurrar a ecochatice longe demais, lembra?
— A coisa vira religião, Jack — avisou Arnie. — E você não pode discutir religião com as pessoas.
— Tem muito disso por aí. E nem tudo se expressa em palavras.
— Verdade — concedeu Arnie. — Mas não precisamos aumentar a confusão.
— Está certo, ótimo. Sally, conte para nós sobre o buraco na camada de ozônio — convidou Jack. Ele havia vencido aquela. Sally gostava demais de se bronzear.
28
Como Vitaliy havia previsto, seus passageiros não bebiam vodca. Ele comprara quatro litros para o estoque de seu próprio armário, mas, apesar de todos eles fumarem, não bebiam. Isso apenas confirmava o que suspeitava. Não que isso importasse. O dinheiro deles seria gasto da mesma maneira que o de outros.
Ele aportou seu barco de desembarque na margem em uma leve inclinação coberta de pedregulhos, que era o que passava por praia por ali. Manteve a rampa de desembarque levantada, afinal um urso podia vagar e entrar a bordo. Eles estavam seguindo na direção dos melhores pontos de caça, apesar de a temporada já ter terminado. Seus passageiros tinham armas de fogo, mas não eram do tipo que ia atrás de caça. Ele pensou em caçar alguma coisa para seus próprios propósitos. Daria uma boa decoração na cabine de pilotagem, algo que faria os clientes se lembrarem dele. Mas não achou tempo para isso.
Os passageiros que fretaram o barco estavam acampados na área de carga. Vitaliy instalara colchões de plástico e cadeiras dobráveis. Eles ficavam sentados lá, fumando e conversando em voz baixa entre si, não o importunando para quase nada. Tinham até levado a própria comida. Não era uma ideia ruim. Vanya não era um cozinheiro gourmet por nenhum padrão, e se alimentava principalmente com rações do Exército russo, que comprava à vista de um sargento intendente em Arcangel.
A região era fantasmagoricamente silenciosa. Os aviões voavam alto demais, e até mesmo observar suas luzes anticolisão era difícil e muito raro, tão afastada da civilização era essa parte da Rússia, terra para aventureiros ou naturalistas ocasionais, assim como dos pescadores locais que tentavam arrancar sua reduzida sobrevivência do mar. Chamar essa parte da Rússia de “economicamente estagnada” era até um elogio. Salvo a moribunda Marinha russa, não havia nada ali para os homens fazerem, e metade disso era limpar os restos da confusão ou do desastre que tivesse matado muitos marinheiros, os pobres coitados.
Mas foi isso, lembrou-se ele, que o levara até ali, e por alguma razão gostava do lugar. O ar era sempre fresco, e os invernos muito mais que rígidos, algo que um verdadeiro russo tinha no sangue, o que o fazia diferente dessas raças europeias menores.
Verificou seu relógio. O sol levantaria bem cedo. Ele acordaria seus passageiros dentro de mais ou menos cinco horas, deixando que bebessem chá e comessem pão com manteiga como desjejum. Tinha bacon para completar, mas não ovos.
Pela manhã, ele sairia para o mar e observaria o trânsito dos navios mercantes. Havia uma quantidade surpreendente deles. Faziam mais sentido econômico que caminhões e trens para viajar até os novos campos petrolíferos e o complexo de mineração de ouro do lago Yessey. E estavam construindo um oleoduto para transportar petróleo para a Rússia europeia, financiado principalmente por empresas petroleiras americanas. Os locais chamavam isso de “invasão americana”.
Vamos encerrar o dia, pensou. Tomou um último gole de vodca e se ajeitou no colchão que colocara na cabine de pilotagem, antecipando cinco ou seis horas de sono.
Salvo o escrutínio extra na alfândega de Dallas, que disseram a Shasif ser provável por causa do seu nome e rosto, a conexão de voos ocorrera tranquilamente. Tal como fora instruído, ele comprara uma passagem de ida e volta e levava bagagem suficiente para uma semana nos Estados Unidos. Da mesma maneira, havia reservado um carro de aluguel, feito a reserva de hotel e estava bem abastecido com folhetos das atrações locais, assim como e-mails de amigos da área. Shasif supunha que fossem pessoas reais; de qualquer maneira, era altamente improvável que as autoridades verificassem isso.
Todos os pontos que podiam levantar bandeiras vermelhas estavam cobertos. Ainda assim, a inspeção fora estressante, mas, no final das contas, não causara problemas. Com um aceno o deixaram passar pelo controle e sair pelo portão.
Sete horas depois de sair de Toronto, ele aterrissou no Aeroporto Internacional de Los Angeles às dez e quarenta e cinco, pouco mais de duas horas de diferença em seu relógio, pois viajara no sentido contrário do fuso horário enquanto atravessava o país.
Depois de passar pela alfândega, dessa vez sob o olhar ainda menos amistoso dos agentes da Administração de Segurança de Transporte em Los Angeles, Shasif foi até o balcão da Alamo e pacientemente esperou 15 minutos. Dez minutos depois já estava em seu Dodge Intrepid rumo a leste do Century Boulevard. O carro estava equipado com um desses computadores de navegação, de modo que ele parou num posto de gasolina, digitou o endereço no computador, voltou para o fluxo de trânsito e começou a seguir as setas indicadas na tela.
Quando ele finalmente entrou na 405 seguindo pela direção norte já era quase hora do almoço, de modo que o trânsito estava mais intenso. Quando alcançou a rodovia 10, a Santa Monica Freeway, os carros se movimentavam na velocidade letárgica de 50 quilômetros por hora. Shasif não conseguia imaginar como as pessoas podiam viver num lugar assim. Certamente era bonito, mas todo esse barulho e confusão... Como alguém podia esperar ouvir a voz tranquila de Deus? Não era à toa que a América estava em tal estado de confusão moral.
A Santa Monica Freeway permitiu uma velocidade maior, e assim chegou ao acesso da Pacific Coast Highway em mais dez minutos. Quinze quilômetros depois ele chegou ao seu destino, Topanga Beach. Entrou no estacionamento, que estava com uns três quartos de lotação, e achou uma vaga perto do acesso à praia, onde estacionou.
Desceu do carro. Havia um vento forte vindo do oceano, e ele podia escutar o grasnado dos pássaros à distância. Para além das dunas, viu os surfistas, cinco ou seis deles, remando pela arrebentação. Shasif atravessou o estacionamento e caminhou até uma ladeira ladeada por arbustos perto da estrada de serviço. Uns 15 metros abaixo, pela extensão de terra, estava uma figura solitária, olhando para o oceano. O homem era de ascendência árabe. Shasif verificou o relógio. Bem na hora. E caminhou até o homem.
— Desculpe — disse Shasif. — Estou procurando o Reel Inn. Acho que passei sem ver.
O homem se virou. Seus olhos estavam cobertos pelos óculos de sol.
— Passou sim — respondeu. — Há uns 300 metros. Se estiver procurando um cozido de peixe, entretanto, eu experimentaria o Gladstone. É mais caro, mas a comida é melhor.
— Obrigado.
Isso feito, Shasif não sabia mais o que dizer. Simplesmente entregar o pacote e ir embora? O sujeito tomou a decisão por ele, estendendo a mão. Shasif tirou a caixa com o CD-ROM do bolso do paletó e a entregou ao homem, e quando fez isso notou as cicatrizes nas mãos do contato.
Fogo, pensou Shasif.
— Vai ficar um pouco por aqui? — perguntou o homem.
— Sim. Três dias.
— Que hotel?
— O Doubletree. Distrito comercial.
— Fique perto do telefone. Pode ser que tenhamos algo para você. Você fez um bom trabalho. Se estiver interessado, pode ser que peçamos para você realizar um papel maior.
— Claro. Qualquer coisa que esteja a meu alcance.
— Entraremos em contato.
Então o homem foi embora, descendo pela estrada.
29
O telefone particular de Jack Ryan Senior tocou, e ele atendeu, esperando alguma distração da escrita.
— Jack Ryan.
— Senhor presidente?
— Bem, sim, já fui — disse Ryan, inclinando-se na cadeira. — Quem fala?
— Senhor, aqui é Marion Diggs. Eles me promoveram a FORCECOM. Estou no Fort McPherson, na Geórgia... na verdade, em Atlanta.
— Já é um quatro estrelas? — Ryan lembrou que Diggs havia ficado famoso há alguns anos na Arábia Saudita. Um bom comandante de campo como Buford-Six.
— Sim, senhor, correto.
— E como anda a vida em Atlanta?
— Nada mau. O comando tem suas vantagens. Senhor... — A voz dele parecia um pouco inquieta. — Senhor, preciso falar com o senhor.
— Sobre o quê?
— Prefiro dizer isso pessoalmente, senhor, não pelo telefone.
— Muito bem. Pode vir até aqui?
— Sim, senhor. Tenho um bimotor à minha disposição. Posso chegar no Aeroporto de Baltimore em, digamos, duas horas e meia, mais ou menos. Depois posso dirigir até sua casa.
— Muito bem. Me informe a hora aproximada de chegada e mando o Serviço Secreto pegar você. Está bem assim?
— Sim, senhor. Isso seria ótimo. Posso sair daqui em 15 minutos.
— Muito bem. Isso coloca você em Baltimore por volta de, vejamos, mais ou menos uma e meia da tarde?
— Sim, senhor.
— Faça isso, general. Irão encontrar você no aeroporto.
— Obrigado, senhor. O vejo dentro de algumas horas.
Ryan desligou e chamou Andrea Price-O’Day pelo intercomunicador.
— Sim, senhor presidente?
— Tenho uma companhia chegando, o general Marion Diggs. É o FORCECOM de Atlanta. Chegará no Aeroporto de Baltimore. Pode cuidar para que ele seja recebido e trazido até aqui?
— Certamente, senhor. A que horas ele chega?
— Por volta de uma e meia, no terminal de aviação geral.
— Vou mandar alguém para lá.
O U-21 bimotor do general pousou e taxiou normalmente, parando diante do Ford Crown Victoria. O general era facilmente reconhecível com sua camisa verde com quatro estrelas de prata nas dragonas. A própria Andrea fora recebê-lo, e os dois não conversaram muito na viagem até Peregrine Cliff.
Ryan havia preparado ele mesmo o almoço, incluindo 700 gramas de corned beef do Attman’s de Lombard Street, em Baltimore. A viagem e a chegada do general tinham sido bem rápidas. Menos de quarenta minutos depois do pouso, Diggs estava à porta. O próprio Ryan foi abrir.
Ryan encontrara Diggs apenas uma ou duas vezes antes. Era um homem de altura média, negro como um pedaço de carvão, e tudo nele dizia “soldado”, inclusive, Jack percebeu, certa inquietação.
— Olá, general, bem-vindo — disse Ryan, apertando a mão dele. — O que posso fazer pelo senhor?
— Senhor... estou... bem, um tanto inquieto sobre isso, mas tenho um problema e acho que o senhor deveria saber disso.
— Muito bem, entre e prepare seu sanduíche. Bebe Coca-Cola?
— Sim, obrigado, senhor.
Ryan o conduziu até a cozinha. Depois de os dois terem montado seus sanduíches, Ryan sentou. Andrea passeava pelos arredores. General ou não, ele não era exatamente um frequentador regular da casa, e o trabalho de Andrea era manter Ryan vivo em todas as eventualidades.
— Então, qual é o problema? — perguntou o ex-presidente.
— Senhor, o presidente Kealty quer processar e julgar um sargento do Exército dos EUA sob a alegação de assassinato no Afeganistão.
— Assassinato?
— É assim que o Departamento de Justiça está qualificando o caso. Mandaram um procurador-geral assistente até o meu comando ontem, que me interrogou pessoalmente. Como comandante em chefe do Comando das Forças, eu sou legalmente responsável por todas as forças operacionais do Exército dos Estados Unidos; de outras forças também, mas esse caso é realmente um assunto do Exército. O soldado em questão é um primeiro-sargento de companhia (E-8) chamado Sam Driscoll. É um soldado de operações especiais, parte do 75º Regimento Ranger em Fort Benning. Puxei seu arquivo pessoal. É um soldado muito sério, a ficha de combate excelente, um soldado para cartaz de recrutamento e um excelente Ranger.
— Muito bem. — Ryan considerou a observação final. Ele estivera em Fort Benning e fizera o tour VIP da base. Os Rangers, nos trinques para aquele dia, o impressionaram muito como rapazes extraordinariamente bem-preparados, para os quais matar era uma exigência especial da sua linha de trabalho. Era o pessoal das operações especiais, o equivalente americano do regimento SAS britânico. — Qual o problema?
— Senhor, há algum tempo tivemos um sinal da inteligência de que o Emir poderia estar numa determinada caverna, e assim montamos uma operação especial para ir até lá agarrá-lo. Por fim ele não estava lá. O problema, senhor, é que Driscoll matou nove dos bandidos, e algumas pessoas ficaram preocupadas pelo modo como ele fez isso.
Ryan tinha dado duas mordidas em seu sanduíche.
— E?
— E chegou a chamar a atenção do presidente, que instruiu o Departamento de Justiça a processá-lo, isto é, investigar o incidente como uma possível investigação de assassinato, pois ele poderia ou não ter violado uma ordem executiva sobre conduta no campo de batalha. Driscoll liquidou nove pessoas, algumas delas dormindo.
— Assassinato? Acordados ou dormindo eram combatentes inimigos, certo?
— Sim, senhor. Driscoll enfrentou uma situação tática adversa, e, usando seu julgamento como suboficial superior no local, teve que eliminá-los antes de continuar a missão. E fez isso. Mas os caras na Justiça, todos nomeações políticas, se é que isso importa, parecem pensar que ele deveria tê-los aprisionado em vez de matá-los.
— E onde é que Kealty entra nisso? — perguntou Jack, bebericando sua Coca-Cola.
— Ele leu o relatório e ficou preocupado. Então chamou a atenção do procurador-geral, que mandou uma pessoa dele até mim para começar a investigação. — Diggs deixou seu sanduíche de lado. — Senhor, isso é difícil para mim. Jurei defender a Constituição, e o presidente é meu comandante em chefe, mas, Deus do céu, se trata de um dos meus soldados, um bom soldado, fazendo um trabalho difícil. Tenho o dever de ser leal ao presidente, mas...
— Mas também tem a responsabilidade de ser leal para com seus sargentos — Ryan terminou a frase.
— Sim, senhor. Driscoll pode não representar muito no grande esquema das coisas, mas é um ótimo soldado.
Ryan pensou no caso. Para Kealty, Driscoll era apenas um soldado, uma forma inferior de vida. Se fosse um motorista sindicalizado a coisa podia ser diferente, mas o Exército dos Estados Unidos ainda não tinha sindicatos. Para Diggs, era uma questão de justiça, e uma questão de moral, que seria abalada em todas as Forças Armadas se esse soldado fosse preso, ou fosse a uma corte marcial por causa do incidente.
— O que diz a lei sobre isso? — perguntou Jack.
— Senhor, a coisa é um tanto turva. O presidente emitiu ordens, mas essas não eram absolutamente claras, e, de qualquer maneira, tais ordens geralmente não se aplicam a operações especiais. A missão dele era localizar e capturar o Emir caso o localizasse, ou matá-lo se precisasse. Soldados não são policiais. Não são treinados para isso, e são medíocres quando tentam. Do meu ponto de vista, Driscoll não fez nada de errado. Pelas regras da guerra, você não tem que avisar a um inimigo antes de matá-lo. É problema dele cuidar de sua segurança, e, se ele ferra com as coisas, bem, azar o dele. Atirar num sujeito pelas costas é perfeitamente aceitável no campo de batalha. É assim que os soldados são treinados. Nesse caso, quatro bandidos dormiam nos beliches, e o sargento Driscoll providenciou para que não acordassem. Fim da história.
— E essa coisa vai adiante?
— O procurador-geral assistente parecia bastante animadinho com o caso. Tentei explicar a ele como são as coisas da vida, mas ele simplesmente tentou me explicar como eram essas coisas da vida do modo como pensava. Senhor, sou soldado há 34 anos. Nunca ouvi falar de uma coisa dessas. — Fez uma pausa. — O presidente nos mandou para lá. Tal como para o Iraque, mas está comandando essa coisa como... como já aconteceu no Vietnã, suponho. Perdemos um bocado de pessoas por lá, boas pessoas, por conta desse microgerenciamento deles, mas esse caso... Jesus, senhor, simplesmente não sei o que fazer.
— E não há muito que eu possa fazer, general. Não sou mais o presidente.
— Sim, senhor, mas eu tinha que procurar alguém. Geralmente eu me reporto diretamente ao secretário de Defesa, mas nesse caso seria uma perda de tempo.
— E você falou com o presidente Kealty?
— Perda de tempo, senhor. Ele não está muito interessado em falar com pessoas uniformizadas.
— E eu estou?
— Sim, senhor. O senhor sempre foi alguém com quem podíamos falar.
— E o que quer que eu faça?
— Senhor, o sargento Driscoll merece um tratamento justo. Nós o mandamos para as montanhas com uma missão. A missão não foi um sucesso, mas não foi culpa dele. Já furamos um monte de poços secos por lá. Esse foi mais um, mas droga, senhor, se mandarmos mais tropas para essas colinas, e se massacrarmos esse sujeito por ter feito seu trabalho, todos os poços que furarmos estarão secos.
— Muito bem, general, já apresentou seu ponto de vista. Temos que apoiar nosso pessoal. O sujeito poderia ter feito alguma coisa diferente?
— Não, senhor. É um soldado caxias. Tudo que fez é consistente com seu treinamento e com sua experiência. O Regimento Ranger... bem, eles são pagos para matar, talvez, mas às vezes é útil ter esse tipo de serviço à mão. O que se quer na guerra é matar. Não mandamos recados. Não tentamos educar nossos inimigos. Quando vamos a campo, nosso trabalho é matar. Algumas pessoas não gostam disso, mas é para isso que somos pagos.
— Muito bem, vou olhar o material e talvez levantar alguma poeira. O que me trouxe?
— Trouxe uma cópia do relatório do sargento Driscoll para que leia, juntamente com o nome do advogado que tentou enfiar isso pelo meu rabo. Droga, senhor, se trata de um bom soldado.
— Está certo, general. Algo mais?
— Não, senhor. Obrigado pelo almoço.
Ryan percebeu que ele mal dera uma mordida no sanduíche. Diggs voltou para o carro.
30
O voo transcorreu sem problemas. O taxiamento terminou, e eles já estavam no avião havia oito horas e meia quando o ônibus de transferência parou ao lado da escada que saía da porta dianteira esquerda do 777. Clark não sentou. Fizera isso por tempo demais, o suficiente para deixar suas pernas duras. O mesmo aconteceu com seu neto, que olhava animado para sua terra natal — na verdade, ele nascera na Inglaterra, mas já tinha uma bola de beisebol e sua primeira luva. Dentro de seis meses jogaria T-ball e começaria a comer cachorro-quente de verdade, como um garoto americano devia fazer. Dentro de um pãozinho, com mostarda, e talvez algumas cebolas e molho picante.
— Feliz por estar de volta em casa, querida? — perguntou Ding a Patsy.
— Gostava de lá, e vou sentir falta dos amigos, mas nossa terra é nosso lar.
A despeito do pedido para que continuassem a viagem, feito tanto por Chavez quanto por Clark, suas esposas saíram do avião em Heathrow, e não houve argumento que as fizesse mudar de ideia.
— Voltaremos para casa juntos — declarou Sandy, encerrando com firmeza e discussão.
A operação em Trípoli transcorreu sem maiores tropeços. Oito bandidos mortos em ação e apenas ferimentos leves entre os reféns. Cinco minutos depois da autorização que Clark dera a Masudi, ambulâncias locais chegaram à embaixada para cuidar dos reféns, a maioria dos quais sofria apenas de desidratação. Minutos depois, a Säkerhetspolisen e a Rikskriminalpolisen suecas chegaram e tomaram conta da embaixada. Duas horas mais tarde, a Rainbow estava a bordo do mesmo Piaggio P180 Avanti que os trouxera, rumo norte para Taranto, e depois para Londres.
A avaliação oficial da operação com Stanley, Weber e os demais viria mais tarde, provavelmente através de uma conferência segura via webcam, quando Clark e Chavez já estivessem instalados nos Estados Unidos. Incluí-los na avaliação era tanto uma cortesia quanto uma necessidade, provavelmente um pouco mais a primeira. Ele e Ding estavam oficialmente separados da Rainbow, e Stanley estava lá em Trípoli, de modo que, além do capítulo das “lições aprendidas” que sempre faziam depois de cada operação, Clark tinha pouco a contribuir com o relatório oficial.
— Como você se sente? — perguntou John Clark à esposa.
— Depois de dormir ficarei bem. — O jet lag em direção a oeste era sempre mais fácil de lidar. O que acontecia quando se viajava para leste era terrível. Ela espreguiçou. Mesmo as poltronas de primeira classe da British Airways tinham suas limitações. As viagens aéreas, apesar de convenientes, raramente faziam bem para as pessoas. — Pegou os passaportes e as outras coisas?
— Bem aqui comigo — assegurou-lhe Ding, dando um tapinha no bolso do paletó. J.C. deve ter sido um dos americanos mais jovens a obter um passaporte diplomático negro. Mas Ding também tinha sua Beretta automática .45, e o escudo de ouro e o cartão de identidade que o qualificava como delegado federal dos Estados Unidos, o que realmente era muito útil para alguém armado em um aeroporto internacional. Possuía ainda uma licença para porte de armas britânica, tão raro que a própria rainha praticamente tinha que assiná-lo. Isso permitiu que passassem rapidamente pela alfândega e pela imigração.
Depois da alfândega, perceberam no saguão de recepção público um sujeito bem comum segurando uma placa de papelão com CLARK escrito, e os cinco foram até ele.
— Como foi o voo? — A pergunta usual.
— Ótimo. — A resposta padrão.
— Estou estacionado aí fora. Um Plymouth Voyager azul com placa da Virgínia. Vocês vão ficar no Key Bridge Marriott, as duas suítes do último andar. — Que já foi cuidadosamente vasculhada, ele não precisou acrescentar. A cadeia Marriott fazia muitos negócios com o governo, especialmente essa unidade na Key Bridge, com vista para Washington.
— E amanhã? — perguntou John.
— Vocês estão programados para as oito e quinze da manhã.
— Quem vamos encontrar? — perguntou Clark.
O sujeito deu de ombros.
— Vai ser no sétimo andar.
Clark e Chavez trocaram um olhar de oh, que merda, mas na verdade isso não era surpreendente, e ambos estavam prontos para uma longa noite de sono que provavelmente terminaria por volta das cinco e meia no máximo, mas desta vez sem a corrida de 5 quilômetros e as dúzias diárias de exercícios físicos.
— Como foi na Inglaterra? — perguntou o recepcionista/motorista enquanto saíam.
— Civilizada. Algumas vezes bem agitada — disse Chavez, mas depois percebeu que o recepcionista oficial era apenas um oficial de campo novato que não tinha a menor pista do que eles andaram fazendo na velha terra. Mas isso não importava. Ele não tinha aparência de ex-militar, apesar de isso nem sempre ser evidente.
— Foram assistir a jogos de rúgbi quando estavam por lá? — perguntou o acompanhante.
— Alguns. É preciso ser maluco para jogar aquilo sem os equipamentos de proteção — comentou Clark. — Mas por lá eles são mesmo um pouco excêntricos.
— Ou talvez mais durões do que nós.
A viagem até Washington transcorreu sem problemas, ajudada pelo fato de estarem fazendo isso antes do engarrafamento da hora do rush e não entrando muito na cidade. Os efeitos do jet lag atingem até mesmo passageiros experimentados, e, quando chegaram ao hotel, ficaram bastante satisfeitos com a presença de carregadores. Em cinco minutos, estavam no último andar, acomodados em suítes vizinhas, e J. C. já estava observando a cama king-size que o acomodaria. Patsy deu o mesmo tipo de olhada para a banheira — era menor que os monstros construídos pelos britânicos, mas havia espaço para se sentar e um suprimento ilimitado de água quente do outro lado da torneira. Ding escolheu uma cadeira e pegou o controle remoto para se refamiliarizar com a televisão americana.
Na porta ao lado, Clark deixou Sandy desfazer as bagagens e foi até o frigobar pegar uma miniatura de Jack Daniel’s Old nº 7. Os britânicos não entendiam de Bourbon nem do seu primo do Tennessee, e o primeiro gole puro, mesmo sem gelo, foi de enorme prazer.
— E amanhã? — perguntou Sandy.
— Temos uma reunião no sétimo andar.
— Com quem?
— Ele não disse. Provavelmente um vice-diretor assistente de operações. Não acompanhei a dança das cadeiras em Langley. Seja lá quem for, vai me falar sobre o grande pacote de aposentadoria que arrumaram para mim. Sandy, acho que já está na hora de pendurar o paletó.
Ele não podia acrescentar que realmente nunca havia considerado a possibilidade de viver tanto tempo. Então, sua sorte ainda não tinha terminado? Notável. Devia comprar um laptop e encarar seriamente uma autobiografia. Mas, por enquanto: levante-se, espreguice, pegue seu paletó e pendure no armário antes que Sandy brigue novamente por ser desleixado. Na lapela estava a faixa azul-celeste e as cinco estrelas brancas que representavam a Medalha de Honra que Jack Ryan arranjara para ele, depois de olhar sua folha de serviços na Marinha e um longo documento escrito pelo vice-almirante Dutch Maxwell, que Deus o tenha. Ele estava fora quando Maxwell descansou, aos 83 anos — estava no Irã, entre todos os lugares. Tentando ver se uma rede de agentes fora completamente liquidada pela segurança iraniana. O processo havia começado, mas John conseguira tirar do país cinco deles, vivos e com suas famílias, através dos Emirados Árabes Unidos. Sonny Maxwell ainda voava, capitão sênior para a Delta, pai de quatro. A medalha viera por ter tirado Sonny do Vietnã do Norte. Agora parecia que isso tudo acontecera durante a última era glacial. Mas ele possuía essa pequena faixa para comprovar, e isso era melhor que um chute nos colhões. Guardado em algum lugar, estava o uniforme social e os sapatos pretos de sargento-mor, juntamente com o escudo dourado de Navy SEAL. Na maioria dos clubes de suboficiais não lhe permitiriam pagar sua própria cerveja, mas, Jesus, hoje os sargentos pareciam ser cada vez mais jovens. Houve época em que todos pareciam o próprio Noé.
A boa notícia era que ele ainda não estava morto. E podia ter a perspectiva de uma aposentadoria honrosa, e talvez escrever a tal autobiografia, se é que Langley alguma vez permitiria que fosse publicada. Bastante improvável. Ele sabia de um monte de coisas que não podiam ser reveladas, e fizera uma ou duas coisas que provavelmente não deveriam ter sido feitas, mas, durante a vida, havia encarado esse problema. Coisas como essas nem sempre faziam sentido para as pessoas que ocupavam escrivaninhas no Old Headquarters Building, mas, para eles, o ponto alto do dia era encontrar um bom lugar para estacionar e descobrir se haveria ou não seu bolo preferido no mostruário de sobremesas da cafeteria.
Ele podia ver Washington, D.C., pela janela. O edifício do Capitólio, o Lincoln Memorial e o obelisco de mármore de George Washington, além dos terrivelmente feios edifícios que abrigavam os vários departamentos do governo.
Para John Terrence Clark, essa era simplesmente uma cidade inteira cheia de babacas burocratas, para os quais a realidade era uma pasta na qual os papéis deviam ser adequadamente arquivados, e, se alguém tinha que derramar sangue para que as coisas fossem assim, bem, isso era apenas objeto de um interesse distante. Centenas de milhares deles. A maioria tinha esposas — ou maridos —, e filhos, mas, mesmo assim, era difícil não observá-los com desgosto — e ocasionalmente com puro ódio. Mas eles tinham seu mundo, e ele, o dele. Podiam até se sobrepor, mas realmente jamais se encontravam.
— Feliz por estar de volta, John? — perguntou Sandy.
— Sim, algo assim. — A mudança era difícil, mas inevitável. Quanto à direção que sua vida tomaria a partir dali... o tempo diria.
Na manhã seguinte, Clark pegou a saída à direita pela George Washington Parkway, contornando pela esquerda e passando pela portaria, cuja guarda armada tinha seu número de identificação anotado como “estranho permitido” para entrar. Deixaram que John estacionasse na área de visitantes, bem diante e à esquerda do grande toldo na entrada.
— Então, quanto tempo antes de eles nos dizerem que temos que procurar um novo emprego, John? — perguntou Domingo.
— Calculo que por volta de uns quarenta minutos. Serão bem-educados, tenho certeza.
Com essa avaliação, os dois desceram do Chevy alugado e caminharam até a porta principal, onde foram recebidos por um OPS, ou oficial de segurança e proteção, que nenhum dos dois conhecia.
— Sr. Clark, Sr. Chavez. Sou Pete Simmons. Bem-vindos ao lar.
— É bom estar de volta — respondeu John. — E você é...
— Sou um OPS, esperando uma designação de campo. Saí da Fazenda há dois meses.
— Quem foi seu instrutor de treinamento?
— Max DuPont.
— Max ainda não se aposentou? Bom sujeito.
— Bom professor. Ele nos contou algumas histórias sobre vocês dois, e vimos o filme de treinamento que fizeram lá em 2002.
— Me lembro disso — disse Chavez. — Sacudido, não mexido. — E deu uma risadinha breve.
— Não bebo martínis, Domingo, lembra?
— Também não é boa-pinta como o Sean Connery. O que você aprendeu naquele filme, Simmons?
— Mantenha suas opções abertas e não ande pelo meio da rua. — Que eram, de fato, boas lições para um agente de campo.
— Então, quem vamos encontrar?
— O vice-diretor assistente Charles Sumner Alden.
— Indicação política?
— Correto. Kennedy School, Harvard, sim. É bastante amistoso, mas às vezes eu me pergunto se ele realmente aprova o que fazemos por aqui.
— E o que Ed e Mary Pat andam fazendo agora?
— Ed está aposentado — contou Simmons. — Escrevendo um livro, pelo que ouvi dizer. Mary Pat está por aqui, no NCTC. É uma fera.
— Ela tem os melhores instintos de agente de campo que jamais encontrei — disse Clark. — Se ela afirma uma coisa, você pode botar a mão no fogo.
— O que me leva a perguntar por que o presidente Kealty não manteve na folha de pagamento ela e Ed — observou Chavez.
Sujeira, sujeira, pensou Clark.
— E o moral, como anda? — perguntou a caminho dos leitores de cartões de segurança. Simmons tratou disso, com um aceno para o guarda no final da fila de entrada.
— Poderia estar melhor. Temos um monte de gente andando em círculos por aqui. Estão aumentando a diretoria de inteligência, mas a minha foi a última turma a passar pela Fazenda por enquanto, e nenhum de nós recebeu designações para o campo ainda.
— De onde você veio?
— Polícia de Boston. Fui contratado pelo Plano Azul. Sou formado pela Universidade de Boston, não por Harvard. Línguas.
— Quais?
— Sérvio, um pouco de árabe e um pouco de pashtun. Supostamente eu deveria ter ido a Monterrey para dar uma caprichada nisso, mas me engavetaram.
— Você vai precisar das duas últimas — aconselhou John. — E dê um trato no seu jogging. Afeganistão, já passei algum tempo por lá nos meados dos anos 1980, e por lá até um cabrito-montês se cansa.
— É tão ruim assim?
— O pessoal dali guerreia por diversão, e não há nenhum bonzinho. Eu me vi sentindo pena dos russos. Os afegãos são um povo duro. Acho que é culpa da geografia, mas o islamismo é apenas um verniz por cima de uma cultura que já tem mais de 3 mil anos.
— Obrigado pela dica. Vou tirar o lugar da minha lista de preferências — disse Simmons quando o elevador chegou ao sétimo andar.
Ele deixou os dois à mesa da secretária. O carpete fofo informou que se tratava de um escritório importante — parecia bem novo. Clark pegou uma revista e folheou um pouco enquanto Domingo olhava placidamente a parede. Sua antiga vida de soldado o tornara bastante tolerante à chateação.
31
Depois de quarenta minutos, Charles Alden chegou na antessala, sorrindo do mesmo modo que um vendedor de carros usados. Alto e magro como um corredor, velho o suficiente para parecer importante para si mesmo, fosse lá o que tivesse feito para merecer esse posto. Clark estava preparado para lhe dar o benefício da dúvida, mas as dúvidas se empilhavam rapidamente.
— Então você é o famoso Sr. Clark — disse Allen, cumprimentando-o; e sem se desculpar pelo atraso, percebeu Clark.
— Não tão famoso — respondeu Clark.
— Bem, pelo menos nesta comunidade. — Allen conduziu seu convidado para seu escritório, sem convidar Chavez para se reunir a eles.
— Acabei de ler seu arquivo.
Em 15 minutos?, pensou Clark. Talvez com leitura dinâmica.
— Espero que tenha sido esclarecedor.
— Peculiar. Tirar a família Gerasimov da Rússia foi um grande trabalho. E a missão em Tóquio, com um disfarce russo... impressionante. Ex-SEAL... E vi que o presidente Ryan lhe deu a Medalha de Honra. Está há 29 anos com a Agência. É um recorde — disse Alden, acenando para que Clark sentasse. Era uma cadeira menor que a do próprio Alden e desenhada para ser desconfortável. Jogo de poder, pensou Clark.
— Simplesmente cumpri as missões que me deram, da melhor maneira que pude, e consegui sobreviver a todas elas.
— Suas missões tendiam a ser um tanto físicas.
Clark encolheu os ombros.
— Agora tentamos evitar isso — observou Alden.
— Tentei evitar isso na época. Com melhor planejamento.
— Sabe, Jim Greer deixou um longo documento sobre como você atraiu a atenção da Agência.
— O almirante Greer era um cavalheiro particularmente honrado e agradável — observou John, subitamente de guarda em relação ao que esse documento podia dizer. James Greer gostava de seus registros escritos. Até ele tinha suas fraquezas. Bem, todo mundo tem as suas.
— Ele também descobriu Jack Ryan, correto?
— E muitos outros.
— Disso eu já soube.
— Desculpe, senhor, estamos aqui para fazer pesquisa?
— Na verdade, não, mas gosto de saber com quem estou conversando. Você também fez alguns recrutamentos. Chavez, por exemplo.
— É um bom oficial. Mesmo se descontar as coisas que fizemos na Inglaterra, Ding sempre esteve onde seu país precisava dele. Também obteve educação formal.
— Oh, sim, ele conseguiu o grau de mestre na George Mason, não foi?
— Certo.
— Um tanto físico também, como você. Não é um agente de campo de verdade, tal como a maioria das pessoas entende o termo.
— Nem todos podemos ser um Ed Foley ou uma Mary Pat.
— Eles também possuem arquivos peculiares, mas estamos tentando nos afastar disso enquanto o mundo evolui.
— É mesmo?
— Bem, hoje é assim. O mundo mudou. Aquele caso da Romênia com que você e Chavez lidaram... deve ter sido interessante.
— É um modo de perceber a coisa. Não é sempre que alguém se vê em um país estrangeiro no meio de uma revolução, mas fizemos o trabalho antes de deixá-lo.
— Você matou seu alvo — disse Alden com uma careta de desgosto.
— Ele precisava ser morto — respondeu Clark, olhos fixos no rosto de Alden.
— Era contra a lei.
— Não sou advogado, senhor. — E uma ordem executiva, mesmo presidencial, não era exatamente lei ou de acordo com a constituição. John logo compreendeu que o sujeito ali era a quintessência do piloto de escrivaninha. Se não estivesse escrito, não era verdadeiro, e se não tivesse autorização escrita então estava errado. — Quando alguém aponta uma arma carregada para você, já é um pouco tarde demais para negociações formais.
— Você tentou evitar essa contingência?
— Sim. — É melhor liquidar o filho da mãe pelas costas e desarmado, mas nem sempre isso é possível, pensou Clark. Quando se trata de vida ou morte, o conceito de luta justa pula pela janela. — Minha missão era capturar aquele indivíduo e, se possível, entregá-lo às autoridades adequadas. Não foi possível.
— O seu relacionamento com a aplicação da lei nem sempre foi amistoso — disse Alden, folheando as páginas do arquivo confidencial.
— Me desculpe, senhor, mas esse arquivo tem minha ficha como motorista?
— Sua amizade com pessoas de cima foi muito útil para sua carreira.
— Suponho que sim, mas isso acontece com muita gente. De modo geral, eu cumpri as missões que me deram, e foi por isso que fiquei tanto tempo por aqui. Sr. Alden, qual é o objetivo desta entrevista?
— Bem, como vice-diretor de operações, tenho que me familiarizar com as pessoas do Serviço Clandestino, e lendo isso aqui, percebi que você teve uma das carreiras mais peculiares. Você teve sorte de durar tanto tempo, e agora poder contemplar uma carreira tão singular.
— E sobre meu próximo posto?
— Não há novo posto. Ah, você pode voltar para a Fazenda como um dos treinadores, mas realmente meu conselho é que aceite sua aposentadoria. É bem-merecida. Seus papéis de aposentadoria estão prontos para serem processados. Você os mereceu, John — disse ele, sem conseguir esconder uma ponta fria de sorriso.
— Mas, se eu fosse vinte anos mais novo, você não teria um lugar para mim?
— Talvez um posto em uma embaixada — disse Alden. — Mas nenhum de nós é vinte anos mais novo. A Agência mudou, Sr. Clark. Estamos saindo desse negócio de ações paramilitares, salvo quando tivermos pessoas diretamente enviadas para nós pela Força Delta, por exemplo, mas estamos tentando nos afastar dessa atitude de mão na massa na qual você e Chavez se especializaram. O mundo é um lugar mais suave e gentil.
— Contou isso para os nova-iorquinos? — perguntou Clark calmamente.
— Há outros modos de lidar com coisas assim. O truque é descobrir tudo antes e encorajar as pessoas a tomar um rumo diferente se quiserem ganhar nossa atenção.
— Como, exatamente, alguém faz isso... teoricamente, claro?
— É um assunto que enfrentamos aqui no sétimo andar, estudando caso a caso.
— Quando se está no campo, casos como esse nem sempre caem no seu colo de modo que possa ser submetido ao quartel-general. É preciso confiar no seu pessoal para que tome iniciativa, e apoiá-lo quando faz isso de modo inteligente. Já estive lá. A situação pode se tornar terrivelmente solitária no campo se você não confia nas pessoas que estão atrás de você, especialmente quando estão a 8 mil quilômetros de distância.
— A iniciativa funciona bem nos filmes, mas não no mundo real.
Quando foi a última vez que você esteve em campo no mundo real?, queria perguntar Clark, mas não fez isso. Não estava ali para argumentar ou discutir. Estava ali simplesmente para ouvir a voz de Deus, transmitida por esse babaca acadêmico. Acontecera antes na Agência, mas lá atrás, nos anos 1970, quando tinha evitado uma aposentadoria involuntária pela primeira vez, com ajuda de James Greer, e havia construído um nome trabalhando na União Soviética em missões “especiais”. Fora ótimo, durante algum tempo, ter um inimigo em que todos acreditavam.
— Então estou fora?
— Você vai se aposentar honrosamente, com os agradecimentos da nação, a qual você serviu bem e sob risco de morte. Sabe, lendo isso aqui, pensei como foi possível você não ter uma estrela na parede do átrio. — Ele se referia ao saguão de mármore branco com estrelas douradas que lembravam o nome dos agentes de campo mortos a serviço da CIA.
O livro que listava esses nomes — estava numa caixa de cobre e vidro — tinha muitos espaços em branco mostrando apenas datas, porque os próprios nomes eram sigilosos, mesmo cinquenta anos depois do fato. Muito provavelmente, Alden usava o elevador executivo desde o estacionamento de segurança no subsolo, de modo que não era rotineiramente obrigado a olhar a parede — droga, nem sequer a passar por ela.
— E quanto a Chavez?
— Como lhe disse, ele já terá tempo para aposentadoria dentro de apenas mais dez semanas, contando seu tempo no Exército. Vai se aposentar como GS-12, com todos os benefícios, é claro. Ou, se insistir, podemos colocá-lo como instrutor de treinamento na Fazenda por um ou dois anos, antes de enviá-lo para a África, provavelmente.
— Por que a África?
— Há coisas acontecendo por lá, o suficiente para nos manter interessados.
Claro. Mandem Chavez para Angola, onde vão confundir seu sotaque espanhol com português e ajudá-lo a ser liquidado por algum resto de guerrilha, certo? Não que você se importe com isso, Alden. Essas pessoas gentis e amorosas realmente nunca se importavam muito com os indivíduos. Interessavam-se apenas pelos grandes assuntos do dia, tentando enfiar peças quadradas de realidade nos buracos redondos teóricos de como o mundo supostamente deveria parecer e agir. Era uma deficiência comum entre os politicamente astutos.
Clark disse:
— Bem, isso é com ele, suponho, e depois de 29 anos, acho que minha aposentadoria está no limite, não?
— Muito bem — concordou Alden, com um sorriso tão autêntico como o de um sujeito que está pronto para fechar a venda de um Ford Pinto 1971.
Clark levantou. Não estendeu a mão, mas Alden o fez, e Clark teve de apertá-la simplesmente para manter os bons modos, e boas maneiras sempre desarmavam os babacas do mundo.
— Ah, quase esqueci. Tem alguém que quer ver você. Conhece James Hardesty?
— Já trabalhei com ele uma vez, sim — respondeu Clark. — Também não está aposentado ainda?
— Não, ainda não. Trabalha com os arquivos operacionais, parte de um projeto no qual a diretoria de operações vem trabalhando há uns 14 meses, uma espécie de projeto de história sigiloso. De qualquer modo, o escritório dele é no quarto andar, passando pelo quiosque de vendas perto dos elevadores. — Alden entregou um número de escritório escrito numa folha de papel em branco.
Clark pegou, dobrou e guardou no bolso. Jimmy Hardesty ainda estava por ali? Como diabos ele conseguira escapar da atenção de sacanas como esse Alden?
— Muito bem, obrigado. Passo por ele a caminho da saída.
— Precisam de mim lá? — perguntou Ding a Clark quando ele saiu.
— Não, desta vez ele só me queria. — Clark ajustou a gravata fazendo um sinal previamente combinado, diante do qual Chavez não reagiu. E com isso os dois tomaram o elevador para descer ao quarto andar. Passaram pelo quiosque com uma equipe de trabalhadores cegos que vendiam coisas como barras de chocolate e Coca-Cola, o que sempre surpreendia os visitantes como algo horripilante e sinistro, mas que para a CIA era uma atitude louvável de proporcionar emprego para os deficientes. Se é que eram realmente cegos. Ninguém nunca podia ter certeza de qualquer coisa nesse edifício, mas isso era apenas parte da sua atmosfera mística.
Acharam o escritório de Hardesty e bateram à porta trancada com código. Ela se abriu em segundos.
— Grande John — disse Hardesty como saudação.
— Olá, Jimmy. O que você anda fazendo aqui neste ninho de ratos?
— Escrevendo uma história de operações que ninguém jamais lerá, pelo menos não enquanto nós estivermos vivos. Você é Chavez? — perguntou a Ding.
— Sim, senhor.
— Vamos, entrem. — Hardesty acenou para que entrassem na sala, que tinha duas cadeiras extras e espaço quase suficiente para as pernas extras, mais uma mesa de trabalho que servia como escrivaninha improvisada.
— Em que ano você está? — perguntou John.
— Você acredita que em 1953? Passei toda a semana passada no caso Hans Tofte e no do cargueiro norueguês. Esse trabalho realmente teve baixas, e nem todos eram bandidos. Era o custo da profissão naquela época, acho, e os marinheiros daquele navio deviam ter pensado duas vezes antes de se alistar.
— Antes da nossa época, Jimmy. Você conversou com o juiz Moore sobre isso? Acho que ele teve uma participação nessa operação.
Hardesty assentiu.
— Esteve aqui na sexta-feira passada. O juiz deve ter aprontado quando jovem, antes de sentar na poltrona por trás da banca. Tanto ele quanto Ritter.
— O que Ritter anda fazendo agora?
— Você não ouviu falar? Merda. Morreu há três meses lá no Texas; câncer no fígado.
— Que idade tinha? — perguntou Chavez.
— Tinha 75 anos. Estava no MD Anderson Cancer Center, no Texas, de modo que teve o melhor tratamento possível, mas não adiantou.
— Todo mundo morre de alguma coisa — observou Clark. — Mais cedo ou mais tarde. Ninguém nos contou sobre Ritter lá na Inglaterra. Eu me pergunto por quê.
— A atual administração não gostava muito dele.
Isso fazia sentido, pensou John. Ele fora um guerreiro dos piores daqueles velhos tempos, que trabalhara na terra dos vermelhos contra o principal inimigo da época, e os guerreiros frios eram duros de morrer.
— Beberei à sua memória. A gente se estranhava de vez em quando, mas ele nunca me atacou pelas costas. Tenho minhas dúvidas é com esse tal de Alden.
— Não é nosso tipo de gente, John. Supostamente devo fazer um relatório completo sobre as pessoas que liquidamos pelo caminho, quais leis podem ter sido violadas, esse tipo de coisa.
— Então, o que posso fazer por você? — perguntou Clark.
— Alden lhe vendeu a aposentadoria?
— Foram 29 anos. E ainda estou vivo. Meio milagroso, quando você pensa no assunto — observou John em um momento de reflexão.
— Bem, se você precisar de algo para fazer, tenho um número para o qual pode ligar. Seus conhecimentos são um ativo, você pode ganhar dinheiro com isso. Talvez comprar um carro novo para Sandy.
— Que tipo de trabalho?
— Algo que você vai achar interessante. Não sei se realmente vai fazer seu tipo, mas diabos, na pior das possibilidades, você ganha um almoço.
— Quem está nisso?
Hardesty não respondeu à pergunta. Em vez disso lhe entregou outro pedaço de papel com um número.
— Dê uma ligada para eles, John. A menos que você queira escrever suas memórias e tentar fazer com que passem pelo pessoal do sétimo andar.
Clark deu uma risada.
— De jeito nenhum.
Hardesty se levantou e estendeu a mão.
— Desculpe ter que parar por aqui, mas tenho uma tonelada de trabalho. Dê uma ligada para eles; ou não, se achar que não tem interesse. É com você. Talvez a aposentadoria lhe faça bem.
Clark se levantou.
— Está certo. Obrigado.
Feito isso, bastava mais uma viagem de elevador e a porta de saída estava à frente. John e Ding pararam para olhar o muro. Para algumas pessoas da CIA, aquelas estrelas representavam os Mortos de Honra, nada menos que o cemitério de Arlington, apesar de se permitir aos turistas vê-las.
— Qual é o número, John?
— Algum lugar de Maryland, a julgar pelo código de área. — Ele viu as horas e tirou seu celular novo do bolso. — Vamos ver onde...
A checagem do tráfego eletrônico que Jack fazia diariamente tomou noventa minutos de seu tempo e não proporcionou nada de substancial. Sendo assim, ele pegou sua terceira xícara de café, escolheu algumas roscas e voltou para seu escritório, começando o que ele chamava de sua “ronda matinal” na miríade de papéis interceptados que o Campus recebia da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Quarenta minutos depois do que parecia ser um exercício crescente de frustração, uma interceptação do Departamento de Segurança Interna, o DHS, atraiu seu olhar. Epa, essa é interessante, pensou, e pegou o telefone.
Cinco minutos depois estava no escritório de Jerry Rounds.
— O que você pescou? — perguntou Rounds.
— Uma interceptação do DHS/FBI/ATF. Estão procurando um avião desaparecido.
Isso atraiu a atenção de Rounds. O Departamento de Segurança Interna tinha uma espécie de sistema de patamar de eventos em funcionamento que geralmente fazia um bom trabalho tirando inquéritos triviais de seu menu de inteligência. O fato de esse inquérito ter subido tanto na cadeia alimentar sugeria que outra agência fizera o trabalho rotineiro de pesquisa e confirmara que o avião em questão não havia sido simplesmente tratado como fora do lugar por alguma companhia de voos charter em algum tipo de confusão administrativa.
— ATF, hein? — murmurou Rounds.
Álcool, Tabaco e Armas de Fogo também se especializava em investigações relacionadas a explosivos. Combine isso com um avião desaparecido... pensou Jack.
— De que tipo? — perguntou Rounds.
— Não informa. Tem que ser pequeno, não comercial, se não a notícia teria vazado. — Qualquer avião 757 perdido gera notícia.
— Há quanto tempo?
— Três dias.
— Sabemos a fonte?
— O roteamento parecia ser interno. De modo que talvez tenha vindo da FAA ou do NTSB. Verifiquei ontem e hoje, e nem um pio de ninguém. — O que significava que alguém havia colocado um tampão sobre o assunto. — Talvez haja outro meio de avançar nisso.
— Me diga.
— Siga o dinheiro — disse Jack.
Rounds sorriu.
— Seguro.
32
O telefone tocou às dez e quarenta e sete da manhã e Tom Davis havia recém-concluído uma negociação bem grande em ações, uma que renderia ao Campus um lucro de 1,35 milhão de dólares, o que não era nada mal para três dias de trabalho. Ele agarrou o telefone no segundo toque.
— Tom Davis.
— Sr. Davis, meu nome é John Clark. Me disseram para ligar para o senhor. Talvez para almoçarmos.
— Quem disse?
— Jimmy Hardesty — respondeu Clark. — Vou levar um amigo comigo. O nome dele é Domingo Chavez.
Davis pensou um instante, imediatamente cauteloso, mas isso era mais uma reação instintiva que uma necessidade. Hardesty não fazia apresentações à toa.
— Claro, vamos conversar — respondeu Davis. Deu o endereço a Clark e disse: — Espero vocês por volta do meio-dia.
— Olá, Gerry — disse Davis entrando no escritório da cobertura. — Acabei de receber um telefonema.
— Alguém que conhecemos? — perguntou o chefe.
— Hardesty mandou de Langley dois sujeitos para nos ver. Os dois estão sendo aposentados pela CIA. John Clark e Domingo Chavez.
O olhos de Hendley se arregalaram um pouco.
— O John Clark?
— É o que parece. Chega aqui por volta das onze.
— E nós o queremos? — perguntou o ex-senador, já meio que prevendo a resposta.
— Certamente vale a pena conversar com ele, chefe. Quando nada, pode ser um magnífico instrutor para o nosso pessoal de campo. Só o conheço pela reputação. Ed e Mary Pat Foley adoram o sujeito, e essa é uma recomendação que não se pode ignorar. Ele não se importa de pôr a mão na massa, pensa por conta própria. Bons instintos, muito esperto. Chavez segue a mesma linha. Fazia parte da Rainbow junto com Clark.
— Confiável?
— Temos que conversar com eles, mas provavelmente sim.
— Muito bem. Traga os dois para cá se achar que vale a pena.
— Farei isso — disse Davis, saindo.
Meu Jesus Cristo, pensou Hendley. John Clark.
— À esquerda aqui — disse Domingo quando chegaram a uns 100 metros do farol.
— Sim. Deve ser aquele edifício ali à direita. Está vendo a plantação de antenas?
— Estou — observou Chavez enquanto faziam a curva. — Pegam uma porrada de FM com isso.
Clark deu uma risadinha.
— Não estou vendo nenhuma segurança. Bom sinal. — Os profissionais sabem quando podem bancar os inofensivos.
Ele estacionou o carro alugado no que parecia ser uma vaga para visitantes, desceram do veículo e caminharam até a porta da frente.
— Bom dia, senhor — saudou um guarda de segurança uniformizado, e o nome no crachá dizia CHAMBERS. — Em que posso ajudá-lo?
— Estou aqui para encontrar o Sr. Davis. John Clark e Domingo Chavez.
Chambers levantou o fone e apertou algumas teclas.
— Sr. Davis? Chambers aqui da portaria. Dois cavalheiros estão aqui para vê-lo. Sim, senhor, obrigado. — O fone voltou para o lugar. — Ele está descendo para recebê-los, cavalheiros.
Davis apareceu em menos de um minuto. Era negro, de estatura média, com cerca de 50 anos, estimou Clark. Bem-vestido, mangas arregaçadas, gravata desapertada. O corretor ocupado.
— Obrigado, Ernie — disse ao guarda de segurança, e depois: — Você deve ser John Clark.
— Culpado — admitiu John. — E este é Domingo Chavez.
Apertos de mão foram trocados.
— Vamos subir. — Davis os levou até o elevador.
— Já vi seu rosto antes. Do outro lado do rio — esclareceu Chavez.
— Ah, é? — reagiu Davis, desconfiado.
— Na sala de operações. Oficial de turno?
— Bem, antes fui um oficial de informações nacionais. Aqui sou um mero corretor de ações. Principalmente de corporações, mas de alguns assuntos governamentais.
Os dois seguiram Davis até o último andar e dali até seu escritório. O escritório era ao lado do de Rick Bell e alguém se dirigia para lá.
— Olá. — Clark ouviu e se virou para ver Jack Ryan Jr. vindo pelo corredor.
Clark apertou a mão dele e dessa vez seu rosto mostrou surpresa.
— Jack... você trabalha aqui, é?
— Bem, sim.
— Fazendo o quê?
— Arbitragem de câmbio, principalmente. Movimentando dinheiro de um lado para o outro, coisas assim.
— Pensei que os negócios da família se concentravam em ações e títulos — observou Clark.
— Não estou nisso... ainda — respondeu Jack. — Bem, tenho que me mandar. Vejo você depois, talvez?
— Claro — disse Clark. Seu cérebro não estava realmente girando de surpresa, mas ele ainda não conseguia processar bem todas as descobertas do dia.
— Entrem — disse Davis em seguida, abrindo a porta para eles.
O escritório era confortável e não estava cheio de móveis feitos nas prisões federais, tais como os que havia na sede da CIA. Davis apontou cadeiras para eles.
— Então, há quanto tempo conhecem Jimmy Hardesty?
— Há uns dez ou 15 anos — respondeu Clark. — Bom sujeito.
— É mesmo. Então, você quer se aposentar?
— Na verdade nunca pensei sobre isso.
— E quanto a você, Sr. Chavez?
— Eu também não estou pronto para virar aposentado, e acho que tenho algumas habilidades que valem no mercado. Tenho esposa e filho, com outro a caminho, mas o que vocês fazem aqui parece estar a quilômetros do que nós sabemos fazer.
— Bem, aqui todo mundo tem pelo menos que conhecer a gíria — falou Davis. — Mas, além disso... — Davis sacudiu o ombro. — Qual é o nível de autorização de segurança de vocês?
— Altamente secreto/informações especiais de inteligência/poli... — respondeu Clark. — Pelo menos até que Langley despache nossos papéis. Qual a razão?
— Porque o que fazemos aqui não é para disseminação pública. Terão que assinar alguns compromissos de não difusão bem estritos — disse ele. — Algum problema com isso?
— Nenhum — disse John imediatamente. Sua curiosidade tinha sido bem espicaçada e azeitada de um modo como não sentia havia anos. Percebeu que não tinham pedido que eles fizessem um juramento. De qualquer maneira isso era ultrapassado, e os tribunais o tinham invalidado havia muito tempo, se você falasse para os jornais.
As assinaturas levaram menos de dois minutos. Os formulários não tinham nada que eles não tivessem visto antes, apesar de o ambiente ser totalmente novidade.
Davis verificou os formulários e depois os enfiou numa gaveta.
— Muito bem, aqui vai a versão curta da coisa. Recebemos muitas informações confidenciais através de canais irregulares. A NSA mantém o comércio internacional sob vigilância por razões de segurança. Se lembram de quando o Japão armou contra nós? Conseguiram paralisar Wall Street, e isso fez os federais pensarem que deviam ficar de olho nessas coisas. A guerra econômica é real, e você realmente pode prejudicar muito um país se paralisar suas instituições financeiras. Isso funciona para nós, especialmente no mercado de câmbio. É ali que ganhamos a maior parte do nosso dinheiro.
— E por que isso é importante? — perguntou Chavez.
— Porque nos autofinanciamos. Estamos fora do orçamento federal, Sr. Chavez, e portanto fora do radar. Nenhum dinheiro dos contribuintes entra aqui. Ganhamos o que gastamos, e o que não gastamos, guardamos.
Cada vez mais curioso, pensou Clark.
Pode-se manter uma coisa em segredo se o Congresso não a financia, e sem que o Escritório de Administração e Orçamento tenha que fazer auditorias. Se o governo não financia, para Washington você só existe como pagador de impostos, e uma boa firma de contabilidade pode assegurar que a Hendley Associates — a cobertura oficial do Campus — mantenha-se discreta. Simplesmente pague tudo e no prazo. E, se alguém sabia como esconder dinheiro, seriam esses caras. Gerry Hendley certamente tinha contatos suficientes em Washington para não chamar atenção para seus negócios. E isso se faz principalmente sendo honesto. Havia muitos escroques caros nos Estados Unidos para manter a Receita Federal e a Comissão de Negócios Mobiliários ocupados e, como todas as agências governamentais, eles não precisavam tomar a iniciativa de procurar outros trambiqueiros se não tivessem uma pista sólida. Enquanto você mantivesse a reputação de ser bom no que faz, ou navegasse bem a favor do vento, não havia por que aparecer nos radares.
— Quantos clientes verdadeiros vocês têm? — perguntou Chavez.
— Essencialmente, as únicas contas particulares que administramos pertencem aos nossos empregadores, e elas têm um ótimo desempenho. Nos últimos três anos tivemos um retorno médio de 23 por cento, descontando as despesas, inclusive os salários. Também oferecemos bons benefícios, especialmente na área educacional para nossos empregados que têm filhos.
— Impressionante. Mas exatamente o que é preciso fazer? — perguntou Ding. — Matar pessoas? — Ele pensou que fazia uma piadinha inconsequente.
— Ocasionalmente — comentou Davis. — Meio que depende do dia.
Por um instante, o silêncio reinou na sala.
— Você não está brincando — declarou Clark.
— Não — disse Davis.
— Quem autoriza isso?
— Nós. — Davis fez uma pausa para deixá-lo absorver a informação. — Empregamos algumas pessoas muito habilidosas, pessoas que pensam primeiro e agem cuidadosamente. Mas, sim, fazemos isso quando as circunstâncias exigem. Fizemos isso nos últimos dois meses, na Europa, todos com afiliação terrorista. Nenhum tiro pela culatra até agora.
— Quem faz isso?
Davis conseguiu sorrir.
— Você acabou de se encontrar com um deles.
— Você só pode estar de sacanagem com nós dois — disse Chavez. — Jack Jr.? SHORTSTOP?
— Sim, ele empacotou um em Roma há seis semanas. Uma falha operacional. Ele meio que caiu de cabeça em cima disso, mas fez um trabalho decente. O nome do alvo era Mohammed Hassan Al-din, um dos operativos qualificados do grupo terrorista que anda nos dando dores de cabeça. Lembra daqueles tiroteios no shopping?
— Claro.
— Trabalho dele. Conseguimos pescá-lo e liquidá-lo.
— Não chegou aos jornais — objetou Clark.
— Ele morreu de um ataque cardíaco, como declarou o patologista criminal da polícia da cidade de Roma — concluiu Davis.
— E o pai de Jack não sabe disso?
— Absolutamente nada. Como disse, o papel dele foi planejado de modo diferente, mas merdas acontecem, e ele lidou com o caso. Se soubéssemos, provavelmente faríamos alguma outra coisa, mas não aconteceu assim.
— Nem vou perguntar como Jack provocou um ataque cardíaco no sujeito — disse Clark.
— Ótimo, porque eu não iria contar; pelo menos por enquanto.
— Qual é a sua cobertura? — perguntou Clark.
— Enquanto você estiver nos Estados Unidos, estará completamente coberto. Já no exterior a coisa é diferente. Claro que tomaremos conta de sua família, mas, se você for preso no exterior, bem, contratamos o melhor advogado que conseguirmos. Porém, fora isso, você é simplesmente um cidadão particular que foi pego fazendo algo ruim.
— Já estou acostumado com isso — disse Clark. — Desde que minha esposa e meus filhos fiquem protegidos. Então, no exterior sou apenas um cidadão particular, certo?
— Correto — confirmou Davis.
— Fazendo o quê?
— Fazendo os bandidos desaparecerem. Pode aguentar isso?
— Há muito tempo que faço isso, e nem sempre sou pago pelo Tio Sam. Às vezes tinha problemas em Langley por causa dessa questão, mas sempre foi taticamente necessário, então eu... na verdade, nós, sempre livramos a barra. Mas, se alguma coisa acontece aqui, sabe, como conspiração para cometer assassinato...
— Há um perdão presidencial à sua espera.
— Diga de novo? — pediu John.
— Foi Jack Ryan quem persuadiu Gerry Hendley a montar isso aqui. E esse foi o preço de Gerry. Assim que o presidente Ryan assinou cem perdões em branco.
— E isso é legal? — perguntou Chavez.
— Pat Martin disse que sim. Ele é um dos que sabem que este lugar existe. Outro é Dan Murray. E também Gus Werner. E vocês conhecem Jimmy Hardesty. Mas não os Foley, entretanto. Pensamos em envolvê-los, mas Jack decidiu contra. Mesmo os que eu nomeei apenas sabem como recrutar pessoas com credenciais especiais. Sabem que existe um lugar especial, mas não o que fazemos aqui. Nem mesmo o presidente Ryan tem informações operacionais. Tudo permanece dentro deste edifício.
— É preciso muito para um sujeito do governo confiar tanto em alguém — observou Clark.
— É preciso escolher as pessoas com bastante cuidado — concordou Davis. — Jimmy acha que vocês são confiáveis. Conheço a história dos dois e acredito que ele esteja certo.
— Sr. Davis, isto aqui é uma grande ideia — disse Clark, inclinando-se na cadeira.
Por mais de vinte anos ele tinha devaneado sobre como seria ótimo ter um lugar como esse. Uma vez, havia sido enviado por Langley para localizar Abu Nidal e determinar se era possível mandá-lo ver Deus de uma vez. Isso fora tão perigoso quanto a própria missão em si, e o puro insulto de tal designação de missão fez seu sangue ferver na época, mas ele a cumpriu, e voltou para casa com a fotografia para mostrar que, sim, era possível liquidar o filho da mãe, mas cabeças mais frias ou intestinos mais frouxos em Washington abortaram a missão, o que fez seu risco não servir para nada. Assim, mais tarde, o Exército israelense matou o sujeito com um míssil Hellfire disparado de um helicóptero de ataque Apache, que fez muito mais sujeira que um rifle a 180 metros de distância faria e também causou um considerável dano colateral, o que realmente não abalou muito os israelenses.
— Muito bem — disse Chavez. — Se e quando saímos em uma missão, supostamente liquidamos alguém que merece ser liquidado. Se formos pegos, azar o nosso. Do ponto de vista prático, as chances são de cinquenta por cento de sermos mortos na hora, e essa é a aposta; isso eu saquei. Mas até que é bacana ter o cobertor azul do governo nos envolvendo quando fazemos esse tipo de coisa.
— Há mais de uma maneira de servir seu país.
— Talvez sim — reconheceu Ding.
Clark disse:
— Há um sujeito lá em Langley que está verificando meu passado, um sujeito chamado Alden, no DO. Evidentemente, Jim Greer deixou por lá um dossiê sobre mim e as coisas que fiz antes de entrar. Não sei exatamente o que está nele, mas pode ser problemático.
— Como assim?
— Eu liquidei alguns traficantes de drogas. Nem queira saber por quê, mas liquidei toda uma quadrilha de traficantes. O pai de Jack Ryan Senior era detetive da polícia, e queria me prender, mas eu o convenci a não fazer isso e forjei minha própria morte. Ryan conhece a história, ou pelo menos parte dela. De qualquer modo, a Agência pode ter alguma coisa por escrito sobre isso. Você precisa saber.
— Bem, se surgir algum problema a partir disso, temos esse perdão presidencial para cuidar de você. Acha que esse tal de Alden pode querer usar essa história contra você?
— Ele é um animal político.
— E você quer algum tempo para pensar a respeito?
— Com certeza — respondeu Chavez pelos dois.
— Durmam com isso na mente, e voltem amanhã. Se quiserem ir além, conhecerão o chefe. Só uma lembrança: o que conversamos...
— Sr. Davis, há muito tempo que guardo segredos. Nós dois. Se acha que precisamos ser lembrados disso, nos avaliou mal.
— Anotado. — Davis se levantou, encerrando a reunião. — Vejo vocês amanhã.
Não trocaram palavras até saírem, caminhando para o carro.
— Cara, puxa, cara, Jack Jr. liquidou alguém? — perguntou Chavez aos céus.
— É o que parece — respondeu Clark, pensando que já era hora de parar de chamá-lo de Junior. — No fim das contas, parece que ele está no negócio da família.
— Seu pai não iria gostar disso.
— Provavelmente — concordou John. E isso não é nada comparado com a reação que a mãe teria.
Alguns minutos depois, no carro, Chavez disse:
— Tenho uma confissão a fazer, John.
— Fale comigo, meu filho.
— Fodi com a coisa, e de verdade. — Chavez se inclinou no banco, retirou um objeto do bolso de trás, e o colocou no console central do carro.
— O que é isso?
— Um drive USB. Sabe, para computadores...
— Sei o que é, Ding. Por que está me mostrando isso?
— Tirei de um dos babacas lá na embaixada de Trípoli. Fizemos uma revista rápida, apalpamos todos eles, coisa assim. Descobri isso com o chefe, o cara que liquidei perto do laptop.
A despeito de estar com uma bala 9 milímetros da MP5 de Chavez enfiada no flanco, um dos terroristas conseguiu tropeçar até o laptop e apertar a combinação de teclas que fritou o disco rígido e o cartão wireless, ambos os quais estavam agora nas mãos dos suecos, para o que pudessem fazer com isso.
O consenso era de que os bandidos usavam o laptop para se comunicar com alguém de fora. Era a maldição da era digital, sabia Clark. O estado da tecnologia wireless da internet era tal que esses sinais não apenas tinham maior alcance como também um padrão criptográfico mais robusto. Mesmo que os líbios estivessem colaborando ativamente, as chances de que a Rainbow pudesse monitorar ou arrebentar com todos os pontos wireless em volta da embaixada eram praticamente inexistentes, de modo que, a menos que os suecos pudessem recuperar o disco ou o cartão, jamais saberiam com quem falavam os terroristas na embaixada.
Ou talvez não, pensou Clark.
— Jesus, Ding, essa foi uma puta distração.
— Coloquei no bolso e nem pensei mais no assunto até voltar e arrumar a bagagem. Desculpe. Então, o que quer fazer com isso? — perguntou Ding, sorrindo maleficamente. — Entregar para o Alden?
— Me deixa pensar um pouco.
Já era bem no meio da tarde quando Jack descobriu o que queria. Embora, por lei, as seguradoras de aviação tivessem que tornar públicos os pedidos de indenização, não havia regulamentos que obrigassem a facilitar o acesso. Consequentemente, a maioria das seguradoras fazia com que as buscas digitais de pedidos de indenização fossem terrivelmente complicadas.
— XLIS-XL Seguradora Suíça — contou Jack a Rounds. — Faz muitos negócios com aviação por lá. Há três semanas, um pedido de indenização foi feito por um Dassault Falcon 9000. É um pequeno jato executivo. Construído pela mesma fábrica dos caças Mirage. O pedido foi feito por uma mulher chamada Marguerite Hlasek, coproprietária da Hlasek Air com seu marido, Lars, que também é piloto. Está baseada em Zurique. Mas o caso é que cruzei as referências com nossas interceptações, misturei e combinei algumas palavras-chave e consegui um resultado: dois dias atrás, o FBI fez contato com seus adidos em Estocolmo e Zurique. Alguém buscava informações sobre a Hlasek Air.
— Por que Estocolmo?
— É apenas um palpite, mas acho que queriam olhar a base da Hlasek, e talvez o último aeroporto visitado pelo Falcon.
— E o que mais sabemos sobre essa Hlasek?
— São escorregadios. Descobri quatro queixas separadas apresentadas ou para a Administração Sueca de Aviação Civil ou para a Autoridade Sueca de Aviação Civil...
— Qual a diferença?
— Uma controla os aeroportos de propriedade do Estado e o controle do tráfego aéreo; a outra lida com aviação comercial e segurança de voo. Quatro queixas nos últimos dois anos: três sobre irregularidades na papelada da alfândega e uma sobre plano de voo irregular.
— Voe pelos amigáveis céus terroristas — murmurou Rounds.
— Pode ser. E, se for, é o tipo de serviço que não sai barato.
— Valos falar com Gerry.
Hendley estava com Granger. O chefe mandou que entrassem.
— Jack pode ter algo — disse Rounds, e Jack explicou tudo.
— Pouco provável — observou Granger.
— Aeronave perdida, envolvimento da ATF, o FBI fazendo perguntas pela Suécia, e uma companhia de fretes aéreos meio duvidosa — contrapôs Rounds. — Já vimos isso antes, certo? Hlasek Air transportando pessoas que ou não querem voar comercialmente ou não podem voar comercialmente. Provavelmente isso não vai nos levar aonde queremos chegar, mas talvez seja uma meada que valha a pena puxar. Ou um gatilho sobre um grupo misto de sacanas.
Hendley considerou a questão, depois olhou Granger, que sacudiu os ombros e assentiu. Hendley disse:
— Jack?
— Não custa nada sair e sacudir os galhos de vez em quando, chefe.
— Isso é verdade. Onde estão os rapazes Caruso?
33
Lidar com um intermediário não era comum, mas não tão incomum que chegasse a preocupar Melinda. Geralmente significava que o cliente era casado e/ou um indivíduo notável em posição proeminente, o que por sua vez resultava em mais dinheiro, como era o caso. O intermediário — um sujeito da região do Mediterrâneo chamado Paolo, com cicatrizes de queimaduras nas mãos — havia lhe dado metade dos 3 mil dólares adiantado, juntamente com o endereço de uma esquina no qual ela deveria aguardar ser recolhida — mais uma vez, um modus operandi incomum, mas dinheiro era dinheiro, e esse era muito maior que sua tarifa habitual.
O maior perigo possível era o cliente querer algum tipo de sexo bizarro que ela não topasse. E então o problema se transformava em como desviar desse assunto sem perder a viagem. A maioria dos homens era facilmente controlável nesses casos, mas de vez em quando se topava com algum com ideia fixa em algo perverso. Nesses casos — já acontecera duas vezes com ela —, a discrição, ela descobriu, era a melhor saída. Dizer obrigada, mas não, obrigada e dar no pé.
Estatisticamente não havia muitos assassinos em série por aí, mas a metade deles matava putas — desde Jack, o Estripador, no bairro de Whitechapel, em Londres. As senhoras da noite, na elegante frase da Londres vitoriana, levavam seus clientes para lugares escondidos para uma “tremida de joelho”, onde o assassinato era mais fácil que no meio de uma rua movimentada, de modo que ela e algumas de suas colegas tinham evoluído e adotaram um sistema simples de segurança mútua, compartilhando entre si os detalhes dos respectivos programas.
Nesse caso, era um Lincoln Town Car com janelas escurecidas. Parou no meio-fio e Melinda escutou a porta traseira destravar. A janela não abaixou. Depois de um momento de indecisão, ela entrou.
— Por que as janelas escurecidas? — perguntou ao motorista, tentando parecer despreocupada.
— Proteção contra o sol — respondeu.
Razoável, pensou Melinda, mantendo a mão perto da bolsa, onde tinha uma Colt calibre .25, muito velha, modelo automático de bolso, bem leve, com 350 gramas. Raramente atirava com ela, mas estava totalmente carregada com sete balas, com a segurança travada. Não era exatamente um Magnum .44, mas também não era um beijinho no rosto.
Verificou o relógio. Já estavam fora da cidade havia trinta minutos, percebeu. Boa e má notícia. Um lugar realmente privado era um bom lugar para matar uma puta e fazer o cadáver desaparecer. Mas ela não iria se preocupar com nada, e sua bolsa estava só a 1 centímetro da mão direita, e a pequena Sra. Colt bem ali.
O carro deu uma girada brusca à esquerda, entrando num beco, e depois mais uma à esquerda, entrando na garagem de um condomínio. Uma garagem particular em vez de uma coletiva, o que significava entrada privativa. Pelo menos não era em um parque de trailers. As pessoas que vivem neles a assustavam, apesar de não constituir sua clientela habitual. Melinda cobrava entre mil e 2 mil por uma trepada, e 4.500 dólares para passar toda a noite. O notável era ver quantos se dispunham a pagar, o que era uma bela complementação para seu salário regular como recepcionista do sistema de escolas públicas de Las Vegas. O homem saiu do carro, abriu a porta e lhe ofereceu a mão para ajudá-la a sair.
— Bem-vinda — disse uma voz adulta. Ela caminhou na direção e viu um homem mais alto na sala de estar. Ele sorriu agradavelmente. Ela estava acostumada com isso. — Como você se chama? — perguntou. Tinha uma bela voz. Melódica.
— Melinda — respondeu, caminhando em sua direção, com uma rebolada extra nos quadris.
— Gostaria de uma taça de vinho, Melinda?
— Obrigada — respondeu ela e lhe foi oferecida uma bela taça de cristal.
Paolo havia desaparecido — para onde, ela não fazia a menor ideia —, mas o ambiente a fez desligar seu sistema de alarmes. Seja lá quem fosse o sujeito, era rico, e tinha ampla experiência com esses. Agora podia relaxar um pouco. Melinda era excelente em sacar qual era a dos homens — o que mais ela fazia para viver? —, e esse sujeito não era nada ameaçador. Só queria dar uma trepada, e esse era seu negócio. Cobrava caro porque era boa nisso, e os homens não se importavam em pagar porque ela valia o que fazia. Era um sistema econômico perfeitamente laissez-faire, bem conhecido no pedaço, apesar de Melinda jamais na vida ter votado nos republicanos.
— Esse vinho é muito bom — observou, depois de tomar um gole.
— Obrigado. Tento ser um bom anfitrião. — Ele acenou com um gesto cortês para um sofá de couro, e Melinda sentou, colocando a bolsa do lado esquerdo, mas deixando o zíper aberto.
— Prefere receber sua remuneração agora?
— Sim, se você não se importar.
— De modo algum. — Ele enfiou a mão no bolso de trás e puxou um envelope, que entregou a ela. Dentro, estavam vinte notas de 100 dólares, o que dava conta do programa pelo resto da noite. Talvez até mais, se ele ficasse particularmente satisfeito com o desenrolar das coisas.
— Posso perguntar seu nome? — disse ela.
— Você vai rir, mas meu nome é mesmo John. Isso acontece, sabe?
— Isso é ótimo, John — respondeu com um sorriso que derreteria o para-choque de um Chevy 1957. Ela colocou a taça na mesa. — Então... — E seu trabalho começou.
Três horas mais tarde Melinda havia tomado sua ducha e escovado os cabelos. Era parte da sua rotina pós-sexo, fazer o cliente sentir como se tivesse tocado sua alma. Mas isso era impensável para a maioria dos homens, e muito mais ainda para o cliente daquela noite. Também tirou o cheiro que ele espalhou sobre ela. O odor era vagamente familiar, embora ela não conseguisse se lembrar de onde. Algo levemente medicinal, considerou, deixando o pensamento de lado. Provavelmente pé de atleta ou coisa assim. Ereto e alto, ele não era feio de se ver. Italiano, talvez. Do Mediterrâneo ou do Oriente Médio, com certeza. Havia muitos desses por ali, e seus modos certamente indicavam que ele não batalhava duro por seu dinheiro.
Ela terminou de se vestir e saiu do banheiro sorrindo como uma coquete.
— John — disse com sua voz mais sincera —, foi maravilhoso. Espero que possamos repetir isso mais vezes.
— Você é muito doce, Melinda — respondeu John, e depois a beijou. Na verdade ele beijava muito bem. E mais ainda depois de lhe entregar outro envelope com mais vinte notas de 100 dólares. Por elas, ganhou um abraço.
Isso pode virar alguma coisa, pensou. Talvez, só talvez, se ela tivesse feito o serviço direito, fosse novamente convidada. Clientes ricos e exclusivos eram o melhor tipo.
— Ela foi adequada? — perguntou Tariq depois de ter deixado Melinda.
— Bastante — disse o Emir, reclinando-se no sofá. Na verdade, mais do que adequada, pensou. — Uma grande melhoria em relação à primeira.
— Minhas desculpas por aquele erro.
— Não precisa se desculpar, meu amigo. A nossa situação é única. Você estava sendo cuidadoso, como espero que sempre seja.
A outra mulher, Trixie, fora mal-educada e expedita demais na cama, mas esses eram traços que o Emir podia perdoar. Se não tivesse feito tantas perguntas, sido tão curiosa, teria voltado tranquilamente para sua esquina, onde continuaria a levar sua vida patética — sua única punição seria deixar de ser chamada de volta. Infelizmente, mas necessário, pensou o Emir. E uma lição necessária. Trazer Trixie diretamente para a casa fora um equívoco, que ele fizera Tariq corrigir alugando o apartamento, que serviria de escudo caso fosse necessário liquidar outra vagabunda.
— Algo mais antes de eu dormir? — perguntou. Eles passariam a noite ali antes de voltar para a casa. Carros indo e vindo durante a noite tendiam a atrair a atenção de vizinhos fofoqueiros.
— Sim, quatro pontos — respondeu Tariq, sentando na cadeira em frente. — Um: Hadi já está de volta a Paris. Ele e Ibrahim se encontrarão amanhã.
— Você revisou o pacote de Hadi?
— Sim. Quatro instalações parecem promissoras. Nosso agente trabalhou em cada uma delas nos últimos dois anos, e parece que a segurança mudou dramaticamente em apenas uma delas.
— Paulínia?
— Correto.
Isso fazia sentido, pensou o Emir. A instalação da Petrobras tinha sido designada para receber o novo influxo, o que por sua vez exigia novas construções — e isso, ele sabia, era onde residia a vulnerabilidade. Já tinham visto isso acontecer em Riad nos anos 1970 e 1980, um déficit de pessoal de segurança competente e treinado que acompanhasse o ritmo da expansão. Era o preço da cobiça.
— Vai demorar um ano até a segurança deles ficar perfeita.
— Você provavelmente está certo, mas não vamos esperar para verificar isso. Recrutamento?
— Ibrahim está quase pronto — concluiu Tariq. — Seu relatório diz que terá tudo pronto em duas semanas. Propôs que Hadi fosse recrutado para a equipe.
O Emir considerou o assunto.
— O que você acha?
— Hadi é confiável, isso nós sabemos, e não há dúvidas sobre sua lealdade. Tem um pouco de treinamento de campo, mas pouca experiência além do que fez no Brasil, o que foi sólido. Se Ibrahim acha que ele está pronto, tendo a concordar.
— Muito bem. Transmita minha bênção a Ibrahim. O que mais?
— Uma atualização da mulher. O relacionamento está bem-estabelecido e ela faz progressos, mas não acha que ele esteja pronto para a fisgada.
— Ela previu algum prazo?
— Três a quatro semanas.
O Emir projetou mentalmente a informação em um calendário. A informação dela era crucial. Sem isso, ele teria que considerar o adiamento por mais um ano. Mais um ano para que os americanos aperfeiçoassem suas redes e para que línguas se soltassem. E para que alguém em algum lugar tivesse sorte e topasse com o fio que desenrolasse toda a meada.
Não, decidiu, tinha que ser naquele ano.
— Diga a ela que esperamos no máximo três semanas. O que mais?
— A mensagem de Nayoan em São Francisco. Seus homens estão no lugar esperando ordens.
Da miríade de partes e peças do Lótus, a de Nayoan se confirmara como sendo a mais fácil, pelo menos nas fases de infiltração e preparação. Era relativamente fácil conseguir vistos de estudante, e mais fácil ainda conseguir alguém na posição de Nayoan. Além do mais, ignorantes como eram os americanos sobre o mundo fora de suas fronteiras, os indonésios eram vistos simplesmente como asiáticos ou “orientais”, e não como membros da maior concentração de muçulmanos do planeta. Intolerância e estreiteza mental, pensou o Emir, eram armas que o CRO ficava muito feliz em usar.
— Ótimo — disse o Emir. — Amanhã revisaremos novamente os alvos. Se for preciso fazer mudanças, melhor fazer logo. O que mais?
— Último ponto. O senhor viu as notícias sobre a embaixada em Trípoli?
O Emir assentiu.
— Negócio idiota. Um desperdício.
— Quem planejou foi um dos nossos.
O Emir sentou, seus olhos endurecidos.
— Como é?
Oito meses antes havia sido passada a mensagem a todos os membros do CRO em nível de célula que todas as missões estavam proibidas até aviso posterior. A operação atual era muito delicada, muito intrincada. Operações menores — a maioria fracassos com pequenas baixas — tinham seu lugar na criação da ilusão de desorganização e de que as coisas continuavam como antes, mas uma coisa dessas...
— Qual o nome dele?
— Dirar al-Kariim.
— Não me lembro.
— Jordaniano. Recrutado na mesquita de Hussein, em Amã, há três anos. Um soldado, nada mais. A mesma missão tinha sido proposta ano passado pelo nosso pessoal em Benghazi, e nós declinamos.
— Quantos mortos?
— Seis a oito dos nossos. Nenhum do outro lado.
— Graças a Deus por isso. — Sem reféns mortos, a imprensa ocidental logo esqueceria, e frequentemente as agências de inteligência seguiam na direção apontada pela imprensa. Era o preço de se empenhar na sua “guerra global contra o terror”. Pareciam o proverbial holandesinho com o dedo enfiado no dique.
— Sabemos quem ele recrutou?
— Estamos investigando. Também não sabemos se alguém sobreviveu ao ataque, salvo o próprio al-Kariim — acrescentou Tariq. — De fato, ele sequer participou.
— Imbecil! Então esse... esse nada planeja uma missão sem nossa aprovação, estraga tudo e não tem o bom senso ou a honra de morrer na tentativa... Sabemos onde ele está?
— Não, mas não deve ser difícil saber. Especialmente se estendermos a mão. Deve estar fugindo, procurando abrigo.
O Emir assentiu pensativamente.
— Ótimo. Faça isso. Ofereça a ele o ramo de oliveira, mas à distância. Mande Almasi cuidar da situação.
— E quando o tivermos em mão?
— Faça dele um exemplo para os demais.
34
No arrondissement de Montparnasse em Paris, Shasif Hadi estava sentado bebericando seu café e fazendo o melhor possível para não parecer nervoso.
Como prometido, sua conexão em Topanga Beach entrara em contato no dia seguinte ao encontro dos dois e lhe dera instruções sobre onde recolher os pacotes de volta, cada um dos quais encontrou em caixas postais alugadas na área de Los Angeles. Não ficou surpreso ao constatar que cada pacote continha apenas um CD-ROM sem rótulo, mas se surpreendeu ao achar uma nota escrita à máquina presa em um deles — “Indiana Café, Montparnasse, Av. Maine, 77” — juntamente com data e hora. Hadi não sabia se a nota indicava que deveria fazer novamente o simples papel de mensageiro ou algo mais.
Argelino de nascimento, Hadi emigrou para a França no começo da adolescência, quando seu pai se mudou à procura de emprego. Hadi falava bom francês, com o sotaque de pied-noir, os “pés-negros”, nome dado duzentos anos antes aos cidadãos da então colônia francesa no norte da África, que deixou de existir no começo dos anos 1960, depois de uma sangrenta e demorada guerra colonial e civil que a República Francesa mais abandonou do que foi derrotada. Mas a Argélia não exatamente floresceu, de modo que os árabes exportaram milhões de seus cidadãos para a Europa, onde foram recebidos a contragosto, principalmente na última década do século XX, quando descobriram sua identidade islâmica em um país que ainda mantinha a ideia da miscigenação. Fale a língua (pronuncie corretamente as palavras), adote os costumes e você vira francês, e a raça francesa não se importava tanto com a cor da sua pele. Ainda que nominalmente fosse um país católico, os franceses não se importavam com que igreja você frequentasse, pois não eram uma nação de igrejeiros, tampouco. Mas o islamismo mudou isso. Talvez lembrando a vitória de Charles Martel na Batalha de Tours no ano de 732, eles sabiam que haviam guerreado contra os muçulmanos, mas reclamavam principalmente do fato destes imigrantes rejeitarem sua cultura, adotando modos de vestir e costumes que não caíam bem para os bons-vivants bebedores de vinho, e, assim, escapavam da integração. E por que algum homem ou alguma mulher não iria querer virar francês?, perguntavam-se. Desse modo, a miríade de agências policiais francesas ficava de olho nessas pessoas. Hadi sabia disso e, portanto, se esforçava para se integrar, na esperança de que Alá compreendesse e o perdoasse com sua infinita misericórdia. Além disso, ele dificilmente era o único muçulmano que bebia álcool. A polícia francesa reparara nisso e, por consequência, o ignorava. Ele tinha emprego, como balconista de uma loja de vídeos, se dava bem com seus colegas de trabalho, vivia em um apartamento modesto, mas confortável, na rue Dolomieu, no 5º arrondissement (“distrito”, em Paris), dirigia um sedan Citroën, e não criava problemas com ninguém. Ninguém notava que ele levava uma vida um tanto acima dos seus ganhos. Os policiais franceses eram bons, mas não perfeitos.
Também não notaram que ele viajava um pouco, principalmente dentro da Europa, e em algumas ocasiões se encontrava com pessoas de fora do país, geralmente em um bistrô confortável. Hadi gostava em particular de um tinto leve do vale do Loire, sem saber que o vinhateiro era um judeu que apoiava com vigor Israel. Infelizmente, o antissemitismo estava mais uma vez vivo na França, agradando os 5 milhões de muçulmanos que viviam lá.
— Você se importa que eu me sente aqui? — disse uma voz perto do ombro de Hadi.
Hadi se virou.
— Fique à vontade.
Ibrahim se sentou.
— Como foi a viagem?
— Sem problemas.
— Então, o que você trouxe para mim?
Hadi tirou do bolso do paletó os CD-ROM, que entregou ao outro sem nenhuma tentativa de disfarçar a transferência. Tentar parecer inconspícuo era muitas vezes conspícuo por si só. Além disso, se o estranho casual ou mesmo um experimentado agente alfandegário, diga-se de passagem, vissem o conteúdo de cada CD, só descobririam uma apresentação digital de slides das férias de verão de alguém.
— Você olhou isso? — perguntou Ibrahim.
— Claro que não.
— Algum problema com a alfândega?
— Não. Na verdade fiquei surpreso com isso — disse Hadi.
— Somos 5 milhões aqui. Não podem vigiar todos nós, e mantenho um perfil discreto. Eles acham que um muçulmano que bebe álcool não é perigo para eles.
Manter um perfil discreto significava jamais frequentar uma mesquita e não ir a lugares usados por fundamentalistas islâmicos, chamados de “integristas” pelos franceses, porque o termo “fundamentalista” era localmente usado para designar os fanáticos cristãos, que provavelmente andavam bêbados demais para constituir ameaça para alguém, pensou Hadi. Infiéis.
— Mencionaram a possibilidade de uma mudança na minha atuação — adiantou Hadi.
Os dois estavam em uma mesa de calçada. Havia pessoas em um raio de 3 metros, mas também havia o barulho de trânsito e o alvoroço comum das grandes cidades. Os dois sabiam que não podiam se inclinar sobre a mesa em atitude conspiradora. Isso tinha sumido com os filmes da década de 1930. Era muito melhor beber vinho anonimamente, fumar e virar a cabeça para olhar as mulheres passando com seus vestidos chiques e pernas despidas. Os franceses entendiam isso muito bem.
— Se você estiver interessado — respondeu Ibrahim.
— Estou sim.
— Vai ser diferente do que você se acostumou. Há um pouco de risco.
— Se for da vontade de Deus.
Ibrahim olhou fixamente para ele por alguns segundos, depois assentiu.
— Sua viagem ao Brasil... Quantas vezes você esteve lá?
— Sete, nos últimos quatro meses.
— Gostou de lá?
— Acho que foi suficientemente bom.
— Bom o suficiente para voltar se lhe pedirem?
— Certamente.
— Temos alguém lá. Gostaria que você se encontrasse com ele e arranjasse acomodações.
Hadi assentiu.
— Quando viajo?
— Consegui — disse Jack, entregando as páginas.
Bell pegou e se inclinou na poltrona.
— França? — perguntou. — O anúncio de nascimento?
Explorando suas suspeitas sobre a súbita mudança no protocolo de comunicações da CRO, Jack revisou e cruzou as referências até conseguir identificar uma das chaves alfanuméricas, revelando um novo nome na lista de distribuição de e-mails.
— Sim. Seu nome é Shasif Hadi. Parece que mora em Roma, não sei exatamente onde, mas é muçulmano, provavelmente de origem argelina, e provavelmente fazendo o melhor possível para ficar abaixo do radar. Andou passando muito tempo em Paris.
Bell deu uma risadinha.
— Os italianos nem devem ter ideia de que ele exista.
— E eles são bons? — perguntou Jack.
— Os italianos? Os serviços de inteligência deles são de primeira linha, e historicamente não se importam de fazer trabalho pesado. A polícia deles também é bastante eficiente. Os caras não têm tantas restrições quanto os nossos rapazes. São melhores na localização de pessoas e na investigação do pano de fundo do que permitimos ao nosso pessoal. Podem instalar os grampos de forma administrativa, sem ordem judicial, diferente da gente. Eu evitaria chamar a atenção deles se estivesse contra a lei. É o velho estilo europeu; eles gostam de saber o máximo possível sobre as pessoas e o que elas andam fazendo. Se seu nariz estiver limpo, eles o deixam em paz. Se não, podem tornar sua vida bem difícil. O sistema legal deles não é como o nosso, mas no todo é bem justo.
“Eles ficam de olho na população muçulmana porque andaram escutando alguns murmúrios, mas não muito mais que isso. Mas você está certo: se esse sujeito está na jogada, deve saber como manter a cabeça baixa, beber seu vinho, comer seu pão e ver TV como todo mundo. Eles já tiveram problemas com terrorismo, mas não muito sério. Se você recuar até a OES nos anos 1960, sim, esse foi um problema sério, e muito assustador, mas lidaram com muita eficiência com o assunto. E também sem piedade. Os italianos sabem como fazer as coisas que têm que ser feitas. Então esse Hadi... está estático?”
— Não, andou viajando muito nos últimos seis meses. Olhe: Europa ocidental, América do Sul...
— Especificamente onde?
— Caracas, Paris, Dubai...
— Além disso e do e-mail, o que faz você pensar que ele seja quente? — perguntou Bell. — Você sabe, uma vez recebi uma ligação da Comcast. Aparentemente eu andava acidentalmente pegando carona no wi-fi da internet do meu vizinho. E não tinha a menor ideia disso.
— Não é o caso aqui — contrapôs Jack. — Chequei e rechequei isso; é a conta de Hadi. Ela se origina em um ISP alemão baseado em Monte Sacro, um subúrbio de Roma, mas isso não quer dizer nada. Pode ser acessado de qualquer lugar da Europa. A questão é: por que mandar isso criptografado pela internet quando poderia fazê-lo pelo telefone ou encontrando o sujeito em um restaurante? Obviamente o remetente acha que é um assunto sensível. Talvez não conheça Hadi de vista, ou não queira fazer ligações telefônicas ou uma entrega disfarçada, ou talvez não saiba fazer isso. Esses sujeitos se amarram na internet. É uma fraqueza operacional que tentam transformar em virtude. Têm uma organização pequena e que não é profissionalmente treinada. Se esses sujeitos fossem da KGB dos velhos tempos, nós estaríamos na merda, mas eles estão usando a tecnologia para compensar suas debilidades estruturais. São poucos, e isso os ajuda a se esconder, mas precisam usar a tecnologia eletrônica ocidental para se comunicar e coordenar suas atividades, e isso é ótimo, mas sabemos que eles também estão fora da Europa. Cruzar fronteiras tecnológicas pode ser escorregadio. Razões a mais para usar mensageiros para transmitir as instruções mais sérias.
“Se fossem um Estado-nação, teriam melhores recursos, mas então seríamos capazes de localizá-los e conhecer sua cadeia de comando com mais eficiência. Boas notícias e más notícias. Você pode usar uma escopeta contra um vampiro, mas não contra um mosquito. O mosquito não pode nos machucar de verdade, mas pode tornar nossas vidas miseráveis. Nossa vulnerabilidade é valorizarmos a vida humana muito mais que eles. Se não fosse assim, eles não poderiam nos atingir, mas somos assim e isso não vai mudar. Eles tentam usar nossas fraquezas e nossos princípios fundamentais contra nós mesmos, e é difícil usarmos o que dispomos contra eles. A menos que consigamos identificar esses pássaros, eles vão continuar nos picando, esperando nos deixar loucos. Enquanto isso, vão tentar alavancar suas habilidades, e nossa tecnologia, contra nós.
— Então: recomendações?
— Vamos esquadrinhar a conta ISP do sujeito se pudermos, e ver o que aparece nas finanças dele. Seguir o dinheiro. Em um mundo ideal poderíamos pedir a cooperação do BND alemão, mas não podemos fazer nada disso. Droga, não podemos nem mesmo pedir à Agência que faça isso para nós, não é?
E com essa pergunta, Jack havia identificado o verdadeiro problema do Campus. Como não existia, não poderia irradiar suas descobertas para a comunidade oficial de inteligência e daí seguir as coisas através dos canais convencionais. Mesmo se descobrissem petróleo no Kansas e enriquecessem pessoas, algum burocrata ou outro revisaria a notícia só para descobrir quem a enviou, e desse modo estouraria a cobertura do Campus. Ser supersecreto é tanto uma desvantagem quanto uma vantagem. Ou mesmo mais. Poderiam transmitir um pedido de pesquisa para Fort Meade como se fosse uma pergunta da Agência, mas até mesmo isso era perigoso, e precisava ser aprovado pelo próprio Gerry Hendley. Bom, tinha-se que engolir o doce junto com o amargo. Em um mundo onde duas ou mais cabeças eram, de fato, melhores do que apenas uma para solucionar um problema, o Campus estava sozinho.
— Receio que não, Jack — respondeu Bell. — Bem, a menos que esse Hadi esteja na lista de alguém por acidente ou o próprio e-mail seja inócuo, eu diria que estamos sacando um mensageiro.
Apesar de não ser o meio mais rápido de comunicação, mensageiros eram os mais seguros. Dados criptografados e mensagens, facilmente escondidos em um documento ou em um CD-ROM, eram coisas que o pessoal da segurança dos aeroportos não estava preparado para descobrir. A menos que se saiba a identidade do mensageiro — o que talvez tivessem agora —, os bandidos podiam estar planejando o fim do mundo e os mocinhos jamais tomariam conhecimento disso.
— Concordo — disse Jack. — A menos que ele esteja trabalhando para a National Geographic, tem alguma coisa aí. Ele é operacional ou está dando suporte.
O garoto pensava operacionalmente e isso, também, não era uma característica ruim, pensou consigo mesmo Rick Bell.
— Muito bem — disse Bell a Jack. — Coloque isso no topo da sua lista e me informe imediatamente.
— Certo — falou Jack e se levantou. Caminhou na direção da porta, e depois voltou.
— Alguma coisa na sua mente? — perguntou Bell.
— Sim. Quero sentar e ter uma conversa com o chefe.
— Sobre o quê?
Jack lhe disse. Bell tentou manter a surpresa longe do rosto. Cruzou os dedos e olhou Jack.
— De onde veio isso? O caso do MoHa? Porque aquilo não é a vida real, Jack. Trabalho no campo é...
— Eu sei, eu sei. Só quero sentir que estou fazendo alguma coisa.
— Mas você está.
— Você sabe o que quero dizer, Rick. Fazer alguma coisa. Ando pensando muito nisso. Pelo menos me ponha na mesa diante de Gerry.
Bell considerou o assunto, depois sacudiu os ombros.
— Muito bem. Vou cuidar disso.
Quinze mil quilômetros e nem a porra de uma cerveja, pensou Sam Driscoll, mas só por um instante, pois se lembrou mais uma vez que podia estar fazendo a viagem de volta para casa dentro de um saco plástico. Alguns centímetros para um lado ou para o outro, disseram os médicos, e o estilhaço teria rasgado ou a veia braquial, ou a cefálica ou a veia basílica, e ele poderia ter perdido todo o sangue antes mesmo de chegar ao Chinook. Mas perdi dois pelo caminho. Barnes e Gomez tinham levado o grosso do RPG. Young e Peterson levaram alguns estilhaços nas pernas, mas conseguiram subir a bordo do Chinook por conta própria. Dali foi um pulo até a base avançada em Kala Gush, onde ele se separou da equipe, menos do capitão Wilson e sua perna quebrada, que o acompanhou primeiro até a Base Aérea de Ramstein, e depois para o Brooke Army Medical Center, em Fort Sam Houston. O resultado foi que os dois precisavam do tipo de cirurgia ortopédica na qual Brooke era especializado. E Demerol. As enfermeiras dali eram realmente boas com os remédios para dor, que ajudava muito a esquecer que cinco dias antes ele tinha um pedaço do granito do Hindu Kush enfiado no ombro.
A missão fora um fracasso, pelo menos em termos do objetivo principal, e os Rangers não estavam acostumados a fracassar, seja por culpa deles ou não. Se considerasse que a informação estava correta e o alvo deles estivesse em algum momento naquela caverna, tinha escapulido de lá provavelmente um dia antes da chegada deles. Ainda assim, Driscoll se lembrou, em função da tempestade de merda que caíra sobre eles no caminho de volta para a zona de pouso, de que podia ter sido pior. Havia perdido dois homens, mas voltou com 13. Barnes e Gomez. Puta merda.
A porta abriu e o capitão Wilson rolou para dentro em sua cadeira de roda.
— Tem um tempinho para um visitante?
— Pode apostar que sim. Como está a perna?
— Ainda quebrada.
Driscoll deu uma risadinha.
— Vai ficar assim por algum tempo, senhor.
— Sem pinos ou placas, entretanto, de modo que a coisa vai indo para mim. E quanto a você?
— Não sei. Os médicos estão ariscos. A cirurgia foi bem, sem danos vasculares, o que seria uma droga de azar. Juntas e ossos são mais fáceis de emendar, acho. Teve notícias dos rapazes?
— Sim, estão bem. Desfrutando de uma merecida folga.
— Young e Peterson?
— Ambos muito bem. Serviço leve por algumas semanas. Escute, Sam, tem alguma coisa acontecendo.
— Sua cara me diz que não é uma visita de Carrie Underwood.
— Receio que não. Investigação criminal. Dois agentes lá no Batalhão.
— Nós dois?
Wilson assentiu.
— Requisitaram nossos relatórios pós-ação. Há algo que eu deva saber, Sam?
— Não, senhor. Levei uma multa de estacionamento no ginásio mês passado, mas fora isso tenho sido um bom rapaz.
— E tudo kosher lá na caverna?
— Merda padrão, major. Como escrevi.
— Bem, de qualquer modo eles virão hoje à tarde. Jogue às claras. Deve funcionar.
Driscoll não demorou mais que um minuto para sacar que a corja da investigação queria: sua cabeça. Quem, ou por que, ele não sabia, mas alguém tinha apontado o dedo para ele por conta do que acontecera na caverna.
— E quantas sentinelas vocês encontraram?
— Duas.
— Ambas abatidas?
— Sim.
— Muito bem, então vocês entraram na caverna propriamente dita. Quantos dos ocupantes estavam armados? — perguntou um dos investigadores.
— Depois que policiamos tudo, contamos...
— Não, queremos saber quando vocês entraram na caverna. Quantos deles estavam armados?
— Defina “armado”.
— Não banque o espertinho, sargento. Quantos homens armados vocês encontraram quando entraram na caverna?
— Está no meu relatório.
— Três, correto?
— Parece que sim — respondeu Driscoll.
— E os demais estavam dormindo.
— Com o AK embaixo do travesseiro. Vocês não estão entendendo nada. Estão falando sobre prisioneiros, certo? Não funciona assim, não no mundo real. Se você se envolve em um tiroteio dentro de uma caverna com apenas um bandido, você termina com Rangers mortos.
— Você não tentou incapacitar os homens adormecidos?
Driscoll sorriu com o comentário.
— Diria que eles ficaram completamente incapacitados.
— Você atirou neles enquanto dormiam.
Driscoll suspirou.
— Rapazes, por que não dizem logo o que vieram dizer?
— Como queira, sargento. Há evidências suficientes no seu relatório pós-ação para acusá-lo do assassinato de combatentes desarmados. Adicionalmente, teremos as declarações do restante da sua equipe...
— Que vocês ainda não tomaram oficialmente, certo?
— Não, ainda não.
— Porque sabem que isso é um monte de merda, e preferem colocar minha cabeça no cepo gentil e calmamente em vez de armar confusão. E por que estão fazendo isso? Eu estava fazendo meu trabalho. Façam seu dever de casa. O que nós fizemos foi procedimento padrão. Ninguém dá aos babacas a oportunidade de apontar as armas para nós.
— E aparentemente você não deu a eles a oportunidade para que se rendessem, não foi?
— Deus Todo-Poderoso... Cavalheiros, esses idiotas não se rendem. Em matéria de fanatismo, eles fazem os pilotos camicases parecerem um bando de frouxos. O que vocês estão falando aí só faria com que vários dos meus homens morressem, e isso eu não admito.
— Sargento, está admitindo agora que executou preventivamente os homens dentro daquela caverna?
— O que estou dizendo é que acabamos com essa conversa até que eu fale com meu advogado do Serviço de Defesa.
35
— Perda de tempo — disse Brian Caruso, olhando a paisagem pela janela do banco de passageiros. — Mas há lugares piores para isso, acho. — A Suécia era muito bonita, com muito verde e, pelo menos pelo que observaram desde que saíram de Estocolmo, rodovias de primeira qualidade. Nada de lixo à vista. Estavam a 150 quilômetros ao norte da capital sueca; a 20 quilômetros ao nordeste, as águas do golfo de Bótnia brilhavam sob um céu parcialmente nublado. — Onde você acha que eles guardam a turma de biquíni?
Dominic riu.
— São todas geradas por computadores, cara. Ninguém jamais as viu pessoalmente.
— Bobagem, são de verdade. A que distância ainda estamos do tal lugar? Como é mesmo o nome? Söderhamn?
— Isso. Mais uns 250 quilômetros.
Jack e Sam Granger deram as instruções para os dois, e, apesar de os irmãos Caruso concordarem com a avaliação do chefe de operações de que o trabalho era “um tiro no escuro”, eles também gostavam da ideia de vasculhar coisas. Mais ainda, era um bom jeito de aprimorar suas habilidades. Até então a maior parte do trabalho que fizeram para o Campus tinha sido na Europa. Quanto mais treinamento tivessem em um ambiente operacional verdadeiro, melhor. Os dois se sentiam mais que um pouco despidos sem armas, mas isso, também, era uma realidade operacional: era sempre mais provável que, quando estivessem no exterior, andassem desarmados.
Nenhum dos dois sabia exatamente como Jack descobrira a conexão da Hlasek Air com o pequeno aeroporto de Söderhamn, mas seja lá onde o Dassault Falcon tivesse se perdido, seu último pouso conhecido fora ali. Era, explicou Dominic, muito parecido com localizar uma pessoa perdida. Onde ela foi vista pela última vez, e por quem? Como exatamente eles conseguiriam responder a essa pergunta quando chegassem a Söderhamn era outra questão. A sugestão de Jack, oferecida com um sorriso encabulado, provavelmente se revelaria presciente: improvisem. Com esse objetivo, o pessoal de documentação do Campus, que trabalhava em algum cubículo nas profundezas do edifício, havia providenciado para os dois um conjunto completo de papéis timbrados, cartões de visita e credenciais da divisão de investigação de indenizações da Lloyd’s of London, companhia controladora da XL Insurance Switzerland.
Já era começo da tarde quando alcançaram os arredores do Söderhamn, com 12 mil habitantes, e Dominic saiu da E4, seguindo as indicações pictográficas para o aeroporto por 8 quilômetros antes de parar no pátio de estacionamento quase vazio do local. Contaram três carros. Pelo muro de arame de 2,5 metros de altura, viram um conjunto de quatro hangares com teto branco. Um único caminhão-tanque de combustível estava ao lado do concreto trincado da pista.
— Acho que foi uma boa ideia vir no fim de semana — observou Brian. A teoria era de que haveria poucos responsáveis no aeroporto em uma tarde de sábado, o que significava, esperavam, menos oportunidades de encontrar alguém com autoridade de verdade. Se tivessem ainda mais sorte, achariam o escritório ocupado por um trabalhador de meio expediente e salário baixo que só queria passar a tarde com o mínimo de trabalho. — Marque outro ponto para o priminho.
Os dois saíram, foram até o escritório e entraram. Um rapaz louro de pouco mais de 20 anos estava atrás do balcão, os pés apoiados num arquivo. Atrás dele, uma caixa de som explodia com a última versão do tecno-pop sueco. O rapaz levantou e abaixou o volume.
— God middag — disse.
Dominic colocou suas credenciais no balcão.
— God middag.
Gastaram apenas cinco minutos bajulando e fazendo ameaças oblíquas para ter acesso ao registro diário dos voos do aeroporto, que mostravam apenas dois pousos do Dassault Falcon nas últimas oito semanas, uma vindo de Moscou há um mês e meio e outra de Zurique, onde ficava baseada a Hlasek Air, três semanas atrás.
— Precisamos ver o manifesto, o plano de voo e os registros de manutenção para esse avião — disse Dominic, dando um tapinha sobre o fichário.
— Não tenho isso aqui. Deve estar no hangar principal.
— Então vamos lá.
O garoto pegou o telefone.
O mecânico de voo de plantão, Harold, era apenas um pouco mais velho que o sujeito do escritório e ainda mais perturbado com a presença deles. Investigador de seguros, aeronave perdida e registro de manutenção era um trio de expressões que nenhum mecânico de voo queria ouvir, especialmente quando combinado com Lloyd’s of London, que, com quase trezentos anos de existência, exibia uma reputação como poucas companhias no mundo.
Harold os levou até o escritório da manutenção, e, logo depois, Dominic e Brian estavam diante dos registros que pediram e de duas xícaras de café. Harold se demorou, parado na porta, até que o olhar especial de suma daqui de um marine que Brian lhe dirigiu surtiu efeito imediato.
O plano de voo da Hlasek Air listava Madri, na Espanha, como destino do Falcon, mas planos de voo eram somente isso: planos. Uma vez fora do espaço aéreo de Söderhamn, o Falcon podia ter ido a qualquer lugar. Havia complicações nisso, é claro, mas nada insuperável. Os registros de manutenção pareciam também ser rotineiros até que eles passaram do sumário e leram os detalhes. Além de completar os tanques do Falcon, o mecânico de voo havia executado um diagnóstico do transponder do avião.
Dominic se levantou, bateu na janela de vidro do escritório e acenou para que Harold entrasse. Mostrou ao mecânico o relatório de manutenção.
— Esse mecânico, Anton Rolf, gostaríamos de falar com ele.
— Hã, ele não está aqui hoje.
— Já imaginávamos. Onde podemos achá-lo?
— Não sei.
— O que isso quer dizer? — perguntou Brian.
— Faz uma semana que Anton não aparece no trabalho. Ninguém o viu nem soube dele.
A polícia de Söderhamn, explicou Harold em seguida, fora ao aeroporto na quarta-feira anterior, investigando uma queixa de pessoa desaparecida feita pela tia de Rolf, com quem Anton vivia. O sobrinho não voltara para casa depois do trabalho na sexta-feira da semana anterior.
Supondo que a polícia já havia feito o trabalho de rotina, Brian e Dominic dirigiram até Söderhamn, hospedaram-se no Hotel Linblomman e dormiram até as seis da noite, depois acharam um restaurante por perto, onde comeram e fizeram hora até ir a pé para um pub chamado Dålig Radisa — Rabanete Ruim —, o qual, segundo Harold, era o lugar preferido de Anton Rolf.
Depois de darem uma volta de reconhecimento pelo quarteirão, entraram pela porta da frente do bar e foram atingidos por uma onda de fumaça de cigarro e heavy metal, e envolvidos por um mar de corpos com cabelos louros que ou disputavam uma posição no bar ou dançavam em qualquer espaço livre que houvesse.
— Pelo menos não é aquela merda tecno — gritou Brian por cima da cacofonia.
Dominic agarrou uma garçonete que passava e usou seu precário sueco para pedir duas cervejas. Ela desapareceu e voltou cinco minutos depois.
— Você fala inglês? — perguntou a ela.
— Sim, inglês. Você é inglês?
— Americano.
— Olá, americano. Que legal, hein?
— Estamos procurando Anton. Tem visto ele?
— Qual Anton? Vêm muitos por aqui.
— Rolf — respondeu Brian. — Mecânico. Trabalha no aeroporto.
— Sim, ok, Anton. Acho que faz mais de uma semana que não aparece.
— Sabe onde podemos achá-lo?
O sorriso da garçonete esmaeceu um pouco.
— E por que vocês estão procurando ele?
— Nós o conhecemos pelo Facebook no ano passado. E dissemos que o procuraríamos da próxima vez que passássemos por aqui.
— Ah, tá, Facebook. Legal. Os amigos dele estão ali. Pode ser que saibam. Bem ali, no canto. — Ela apontou uma mesa com uma meia dúzia de jovens de 20 e poucos anos, com camisas de clubes.
— Obrigado — disse Brian, e a garçonete se virou para ir embora. Dominic a deteve.
— Ei, só por curiosidade: por que você perguntou a razão de estarmos procurando por Anton?
— Houve outros. Não simpáticos como vocês.
— Quando?
— Na última terça-feira? Não, desculpe, segunda-feira.
— A polícia, talvez?
— Não, não era a polícia. Conheço todos os policiais. Quatro homens, não eram brancos, mas não eram negros também. Talvez do Oriente Médio.
Quando ela se foi, Dominic gritou no ouvido de Brian:
— Segunda. Três dias depois que a tia de Rolf disse que ele não voltou para casa.
— Talvez ele não queira ser encontrado — respondeu Brian. — Merda, cara, eles tinham que ser torcedores de futebol.
— E daí?
— Você nunca assistiu à Copa do Mundo, cara? Esses caras gostam de brigar mais do que de beber.
— Então não deve ser difícil conseguir alguma reação deles.
— Dom, não é como se fosse pugilismo. Estou falando de briga de rua tipo arranco sua orelha e piso nos seus colhões. Acrescente a isso todo um grupo e o que você tem?
— O quê?
— Um monte de dentes — respondeu Brian com um sorriso malévolo.
— Ei, pessoal, estamos procurando Anton — disse Dominic. — A garçonete disse que vocês são amigos deles.
— Não falo inglês — disse um deles. Tinha uma treliça de cicatrizes viscosas na testa.
— Ora, vai se foder, Frankenstein — disse Brian.
O homem empurrou a cadeira para trás e se levantou, assumindo uma postura de ataque. O restante o imitou imediatamente.
— Agora você fala inglês, não? — gritou Brian.
— Apenas digam a Anton que estamos procurando por ele — falou Dominic, levantando as mãos na altura do ombro. — Se não, vamos fazer uma visita à tia dele.
Brian e Dominic deram a volta pelo grupo e foram para a saída que dava para o beco.
— Quanto tempo você acha? — perguntou Brian.
— Trinta segundos, não mais — respondeu Dominic.
Lá no beco, Brian agarrou uma lata de lixo de aço, e Dominic, um pedaço de vergalhão enferrujado do tamanho do seu antebraço, e se viraram a tempo de ver a porta girar e se abrir. Brian, parado atrás da porta, deixou três dos torcedores saírem e correrem para cima de Dominic, depois chutou a porta na cara do quarto e avançou, balançando a lata de lixo como uma foice. Dominic deu um chute na canela do líder, desviou a cabeça de um soco dado pelo segundo e desceu o vergalhão no antebraço dele, quebrando-o. Brian se virou quando a porta abriu de novo, enfiou o fundo arredondado da lata de lixo bem na testa do quarto sujeito, esperou que ele desabasse e jogou a lata nos joelhos dos dois que avançavam pela soleira. O primeiro caiu aos pés de Brian, tentou se levantar apoiado nas mãos e nos joelhos, mas Brian lhe deu um chute na cabeça, derrubando-o de vez. O último torcedor, punhos fechados e agitando os braços, atacava Dominic, que recuou, mantendo-se fora do seu alcance, antes de desviar para o lado e tascar o vergalhão no lado da cabeça do sujeito. Ele caiu por cima da parede do beco e depois desabou.
— Tudo bem? — perguntou Dominic ao irmão.
— Tudo, e você?
— Alguém acordado?
— Sim, esse aqui. — Brian se ajoelhou ao lado do primeiro torcedor que saíra pela porta. Ele gemia e rolava de um lado para o outro, segurando o joelho fraturado. — Ei, Frankenstein, diga a Anton que estamos procurando por ele.
Eles deixaram os torcedores de futebol no beco e andaram da rua do bar até um parque, onde Dominic ficou sentado em um banco. Brian foi correndo para o hotel, pegou o carro de aluguel, voltou e estacionou do outro lado do parque.
— Nada de polícia? — perguntou Brian, aproximando-se do banco onde estava Dominic pelo meio das árvores.
— Nada. Eles não me pareceram ser do tipo que gosta muito da polícia.
— Nem para mim. — Esperaram cinco minutos, depois a porta da frente se abriu e dois dos torcedores saíram e se enfiaram em um carro estacionado mais abaixo no quarteirão. — Bons amigos.
— Ingênuos, mas bons amigos.
36
Eles seguiram o carro dos torcedores de futebol, um Citroën azul-escuro, passando pelo centro de Söderhamn até os subúrbios do leste da cidade, e depois pelo campo. Após 6 quilômetros entraram em outra cidade, com mais ou menos um quarto do tamanho de Söderhamn. “Forsbacka”, Brian leu no mapa. O Citroën saiu da rua principal, fez uma série de curvas à direita e à esquerda antes de estacionar na entrada de um chalé verde-hortelã. Dominic passou pela casa, entrou à direita na esquina seguinte e estacionou no meio-fio sob uma árvore. Pela janela traseira, os dois podiam ver a porta da frente do chalé. Os torcedores já estavam no alpendre. Um deles bateu. Passados trinta segundos, a luz do alpendre acendeu e a porta abriu.
— O que você acha? Entramos ou esperamos? — perguntou Dominic.
— Esperamos. Se for Rolf, acho que foi bem esperto desaparecendo por uma semana. Não vai sair disparado antes de pensar um pouco.
Após vinte minutos, a porta da frente abriu novamente e os torcedores emergiram. Voltaram para o Citroën, ligaram o carro e seguiram pelo quarteirão. Brian e Dominic esperaram até as lanternas traseiras sumirem na esquina, depois saíram, cruzaram a rua e caminharam até o chalé. Uma sebe de lilases bem-crescidos separava a casa da do vizinho. Seguiram a cerca, passando por duas janelas escuras, até chegarem a uma garagem externa, onde deram a volta até ver os fundos da casa: uma porta traseira flanqueada por duas janelas. Todas escuras menos uma. Enquanto observavam, uma figura masculina passou pela janela e parou diante de um armário de cozinha, que abriu e posteriormente fechou. Dez segundos depois, o homem saiu carregando uma maleta. Brian e Dominic se abaixaram. A porta do lado da garagem abriu, seguida por uma porta de carro abrindo e fechando. A porta da garagem fechou novamente, e então a porta dos fundos da casa bateu, trancando.
— Está pegando a estrada. Melhor assumir que Anton é torcedor de futebol como seus amigos.
— Estava pensando a mesma coisa. Duvido que tenha uma arma, as leis suecas são rígidas demais quanto a isso. Mas é melhor prevenir do que remediar. Vamos cair em cima dele e derrubá-lo de uma vez.
— Certo.
Tomaram posição nos dois lados da porta traseira e esperaram. Cinco minutos se passaram. Podiam escutar o homem se movimentando lá dentro. Brian abriu a tela traseira e experimentou a maçaneta da porta. Destrancada. Olhou para Dominic e acenou levemente para ele, depois girou a maçaneta, abriu a porta, parou. Esperou. Nada. Brian entrou e segurou a porta para Dominic, que o seguiu.
Estavam em uma cozinha estreita. À esquerda, depois do refrigerador, havia uma sala de jantar. À direita, um corredor curto que seguia para a frente da casa até o que parecia ser uma sala de estar. Uma televisão estava ligada em algum lugar. Brian deu um passo para o lado e olhou pela esquina. Recuou e assinalou para Dominic: Olhos em um homem. Vou entrar. Dominic assentiu.
Brian deu um passo, parou, depois outro, e já estava na metade do corredor.
O assoalho gemeu sob seus pés.
Na sala de estar, Anton Rolf, de pé diante da televisão, olhou e viu Brian, e disparou para a porta da frente. Brian avançou, inclinou-se colocando as mãos na mesa de café de madeira comprida e a empurrou, espremendo Rolf contra a porta parcialmente aberta. Rolf perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Brian já se movimentava, pulando na mesa de café e avançando. Agarrou a cabeça de Rolf pelos cabelos e bateu sua testa contra a maçaneta uma, duas e três vezes. Rolf desabou.
Acharam um rolo de corda de pendurar roupa numa gaveta da cozinha e amarraram Rolf. Enquanto Brian o vigiava, Dominic revistou a casa, mas não achou nada fora do comum, salvo a maleta que Rolf estava arrumando.
— Arrumou rapidamente as coisas — disse Brian, revistando as roupas e os artigos de toalete que foram enfiados na maleta. Parecia claro que a decisão de Rolf de ir embora havia sido precipitada pela visita de seus amigos.
Ouviram o ruído de pneus freando lá fora. Brian foi até a janela, olhou e sacudiu a cabeça. Dominic foi até a cozinha. Chegou à janela da pia bem a tempo de ver uma mulher dobrando a esquina e caminhando para a porta traseira, que abriu um instante depois, bem na hora em que Dominic se colocou por trás dela. A mulher entrou, Dominic empurrou e fechou a porta, apertou a mão direita sobre a boca da mulher e girou-lhe a cabeça para imobilizá-la contra seu ombro.
— Silêncio — sussurrou em sueco. — Você fala inglês?
Ela assentiu. A maioria dos suecos falava, eles já haviam percebido, o que parecia ser o caso na maioria dos países europeus. Os americanos eram singulares a esse respeito, pois na sua maioria permaneciam alfabetizados apenas em inglês — e, às vezes, precariamente.
— Vou tirar minha mão. Não vamos machucá-la, mas, se você gritar, eu a amordaço. Compreendeu?
Ela assentiu.
Dominic removeu a mão e gentilmente a empurrou para uma das cadeiras da sala de jantar. Brian entrou.
— Qual é o seu nome? — perguntou Dominic.
— Maria.
— Anton é seu namorado?
— Sim.
— Tem pessoas procurando por vocês, sabia?
— Vocês estão atrás dele.
— Além de nós — respondeu Brian. — A garçonete do Rabanete nos disse que alguns sujeitos do Oriente Médio estavam atrás dele. — Maria não respondeu. — Ele não contou isso para você, não é?
— Não.
— Provavelmente não queria que ficasse preocupada.
Maria rolou os olhos, e Brian deu uma risadinha.
— Às vezes nós somos meio estúpidos.
Isso fez Maria sorrir.
— Sim, sei disso.
— Anton disse por que estava se escondendo? — perguntou Dominic.
— Algo a ver com a polícia.
Brian e Dominic trocaram olhares. Teria Anton suposto que a polícia estava atrás dele por alguma outra razão? Algo além da queixa de desaparecimento feita por sua tia?
— Aonde vocês dois iam?
— Estocolmo. Ele tem amigos lá.
— Muito bem, escute: se quiséssemos machucar vocês, já teríamos feito isso. Compreende?
Ela assentiu.
— Quem são vocês?
— Não importa. Queremos que você faça Anton compreender isso. Se ele responder nossas perguntas, veremos o que podemos fazer para ajudar vocês. Ok? Se não, as coisas vão ficar complicadas.
— Ok.
Brian pegou uma jarra de água fria na cozinha e jogou na cabeça de Anton. Depois, ele e Dominic recuaram para o outro lado da sala de estar enquanto Maria se ajoelhava em frente à cadeira em que Anton estava preso e começava a sussurrar para ele. Após cinco minutos, ela se virou e assentiu para os dois.
— Minha tia fez uma queixa — disse Anton alguns minutos depois.
Dominic assentiu.
— Ela não te viu. Acho que estava preocupada. Você achou que era sobre alguma outra coisa? Algo a ver com aquele avião?
— Como vocês sabem disso?
— Um palpite — respondeu Brian. — Até agora. Você fez alguma coisa com o transponder?
Anton assentiu.
— O quê?
— Dupliquei os códigos.
— Para outro avião, um Gulfstream?
— Certo.
— Quem contratou você?
— O cara... o proprietário.
— Da Hlasek Air. Lars?
— Sim.
— Não foi a primeira vez que você fez isso para ele, certo? — perguntou Brian.
— Não.
— Como ele paga?
— Dinheiro... à vista.
— Você estava lá na noite em que o Dassault chegou e partiu?
— Sim.
— Nos conte sobre isso — disse Dominic.
— Quatro passageiros, do Oriente Médio, chegaram numa limusine. Embarcaram e o avião decolou. Isso é tudo.
— Você pode descrever algum deles?
Rolf fez que não com a cabeça.
— Estava muito escuro. Você disse alguma coisa sobre o Rabanete. Alguém anda atrás de mim?
— Segundo a garçonete. Quatro homens do Oriente Médio. Alguma ideia da razão pela qual procuram você? — perguntou Brian.
Rolf olhou fixo para ele. Perguntou:
— Está querendo bancar o engraçadinho?
— Não, desculpe.
Dominic e Brian deixaram Anton com Maria e foram ao corredor.
— Você acha que ele está falando a verdade?
— Sim, acho. Está se cagando de medo, e feliz da vida por serem caras brancos que entraram aqui.
— Isso não muda muito, entretanto. Não tem nada que possamos usar. Nenhum nome, nem um rosto, nem rastros de papel, só gente do Oriente Médio viajando incógnita não se sabe para onde. Se o DHS ou o FBI tivessem a pista da Hlasek ou do piloto, não iriam pedir a Zurique e Estocolmo para vasculhar por aqui.
— Provavelmente é verdade — respondeu Dominic.
— E o que fazemos com esses dois?
— O melhor que podemos fazer é levá-los até Estocolmo. Se Anton for esperto, vai se entregar na Rikskriminalpolisen e rezar para que acreditem na história dele.
Dominic vigiou enquanto Anton e Maria apanhavam suas coisas. Brian saiu pelos fundos para trazer o carro. Voltou três minutos depois, ofegante.
— Problema. Os pneus do carro alugado estão rasgados.
Dominic se voltou para Anton.
— Seus amigos?
— Não. Disse a eles que não voltassem.
O barulho de uma freada veio de fora. Dominic apagou a lâmpada da mesa. Brian trancou a porta da frente e olhou pelo olho mágico.
— Quatro homens — sussurrou. — Armados. Dois vindo pela frente e dois dando a volta para trás.
— Você foi seguida — disse Dominic a Maria.
— Não vi ninguém...
— Bem, esse é o ponto.
— Você tem uma arma? — perguntou Brian a Anton.
— Não.
Dominic e Brian se entreolharam. Cada um sabia o que o outro pensava: tarde demais para chamar a polícia. E, mesmo que não fosse, o envolvimento deles traria mais problemas que soluções.
— Vão para a cozinha — ordenou Dominic a Anton e Maria. — Tranquem a porta, depois deitem no chão. Fiquem em silêncio. — Dominic e Brian os seguiram até lá.
— Facas? — sussurrou Brian para Anton, que apontou para uma gaveta. Agachado na altura da janela, Brian foi até lá, abriu a gaveta e encontrou um par de facas inoxidáveis para carne com 12 centímetros de comprimento. Entregou uma delas para Dominic, depois apontou para si e em seguida para a sala de estar, e depois foi naquele caminho. Dominic o seguiu e, juntos, encostaram o sofá, a mesa de café e uma cadeira contra a porta. Isso não deteria quem quer que estivesse vindo, mas os retardaria e, esperavam, equilibraria as chances. Apesar de inevitável, Brian e Dominic haviam, de fato, levado facas para um tiroteio. Dominic fez um gesto de boa sorte para o irmão e depois voltou para a cozinha. Brian se posicionou na ponta do corredor, os olhos fixados na porta da frente.
Do chão, Maria sussurrou:
— O que...
Dominic levantou a palma da mão e balançou a cabeça.
Do lado de fora da janela da cozinha se ouviu um par de vozes abafadas. Dez segundos transcorreram. A maçaneta na porta dos fundos girou, primeiro para um lado, depois para o outro. Dominic se moveu agachado dando a volta por Anton e Maria, e depois se colocou contra a parede ao lado da maçaneta.
Silêncio.
Mais vozes abafadas.
Do lado da casa veio o barulho de vidro quebrado. Dominic escutou o ruído de uma pedra batendo no chão. Uma distração, decidiu, sabendo que Brian tinha concluído a mesma coisa. A porta de tela gemeu quando foi aberta.
Algo volumoso se jogou contra a porta. Depois mais uma vez. O batente de madeira do lado da cabeça de Dominic rachou. Na terceira batida, a porta voou para dentro. Um punho e uma mão segurando um revólver apareceram primeiro, seguidos um segundo depois por um rosto. Dominic esperou que seu alvo — o pedaço suave logo abaixo da orelha — aparecesse, então esticou o braço com a faca, enterrando-a até o cabo no pescoço do homem, usando-a depois como alavanca para fazer o corpo avançar mais pela porta. O homem deixou cair a arma e Dominic a chutou para dentro, onde Brian a recolheu. Dominic retirou a faca, avançou e agarrou a porta, empurrando-a para que se fechasse, jogando o sujeito que entrava de volta para fora.
Ouviu dois disparos vindo da frente. A janela estilhaçou, Brian se agachou e apontou o revólver para a porta de entrada. Dominic se aproximou de Maria e Rolf, agachado, então deu uma espiadela pela janela da cozinha. Do lado de fora, dois homens se ajoelharam ao lado de seu parceiro. Um deles levantou a cabeça, viu Dominic e disparou dois tiros pela janela.
Apoiado agora nas mãos e nos joelhos, Dominic perguntou a Maria:
— Óleo de cozinha? — Ela apontou para o armário baixo em frente. Dominic mandou que os dois fossem para a sala de estar com Brian, em seguida pegou o óleo e jogou o conteúdo da garrafa no linóleo por uns 2 metros além da porta, e depois se dirigiu para a sala de estar. Quando foi para o lado de Brian, a porta traseira se abriu novamente. Um vulto entrou correndo, seguido por um outro. O primeiro atingiu o chão oleado e caiu, arrastando o parceiro consigo. Revólver à frente, Brian passou pelo corredor, o ombro esquerdo encostado à parede, e abriu fogo. Acertou duas balas no primeiro e três no segundo homem, depois agarrou as armas deles e jogou uma para Dominic, que já vinha pelo corredor, empurrando Rolf e Maria à sua frente.
Com cuidado para evitar o óleo, Dominic passou por cima dos corpos, olhou pela porta dos fundos e recuou.
— Limpo...
Ouviram a porta da frente se quebrando na sala de estar, seguida pelo arrastar de mobília pelo chão de assoalho.
— Vão para o carro — disse Dominic a Brian. — Ligue o motor, façam barulho.
— Saquei.
Enquanto Brian empurrava Rolf e Maria pela porta dos fundos, Dominic olhou pelo corredor e viu um vulto avançando e passando por cima da mobília. Dominic se enfiou pela porta dos fundos e correu pelo gramado, dando a volta pela esquina da garagem; lá dentro, Brian havia ligado o motor e acelerava. Dominic se ajoelhou e ficou espiando pelo canto; o muro atrás dele era escuro e coberto de relva. Seu perfil ficava praticamente invisível.
O último homem apareceu na porta. Após ver seus camaradas mortos na cozinha, este estava mais cuidadoso, olhando de um lado para outro antes de sair. Parou um instante, depois deslizou pela parede e verificou a entrada antes de começar a atravessar o gramado. Dominic esperou até a mão estar quase tocando a maçaneta da porta da garagem, e depois soltou:
— Ei!
Deixou que o homem girasse ligeiramente, apenas o suficiente para se oferecer como uma massa sólida de alvo, e atirou duas vezes. Ambos os disparos atingiram o homem no esterno. Ele tropeçou para trás, caiu de joelhos e depois desabou de vez.
37
Hora de arrumar um novo emprego, disse Clark a si mesmo depois do desjejum. Havia ligado e acertado a chegada para as dez e meia, depois despertou Chavez e os dois se encontraram no carro às nove e meia.
— Bem, vamos ver quanto pagam — observou Ding. — Estou pronto para ficar impressionado.
— Não fique lá muito animado — avisou Clark enquanto ligava o carro. — Droga, nunca esperei ganhar 100 mil por ano quando comecei em Langley. Meu salário inicial foi 95 mil.
— Bem, o sujeito disse que os benefícios adicionais funcionam muito bem, e vi todos aqueles carrões no estacionamento. Deixo você levar a conversa — sugeriu Chavez.
— É, você só fica lá sentadinho com cara de mau. — John se permitiu uma risada.
— Você acha que eles realmente querem que eliminemos pessoas?
— Acho que vamos ter que descobrir isso.
O trânsito na American Legion Bridge não estava muito ruim, com a hora do rush chegando ao fim, e logo se dirigiram para o norte pela US 29.
— Você já decidiu o que fazer a respeito da minha cagada?
— Sim, acho que sei. Vamos nos enfiar de vez nisso, Ding... bem mais fundo do que fomos antes. Então, vamos logo até o final. Entregamos a coisa para eles e veremos o que conseguem tirar de lá.
— Muito bem. E esse tal de Hendley... o que sabemos sobre ele?
— Senador pela Carolina do Sul, democrata, atuava no Comitê de Inteligência. Lá em Langley gostavam dele; esperto, direto. Ryan também gostava do sujeito. Hendley perdeu a família num acidente de carro. Esposa e dois rapazes, acho. É muito rico. Assim como Ryan, fez uma pilha de dinheiro com negociação de ações. É bom em enxergar o que os outros não conseguem.
Os dois estavam adequadamente vestidos, com ternos decentes que compraram em Londres enquanto estavam na Rainbow, gravatas Turnbull & Asser, e belos sapatos engraxados. Na verdade, engraxar os sapatos era algo que Chavez ainda fazia todos os dias, lembrança de seus tempos no Exército, enquanto Clark precisava ser lembrado disso de vez em quando.
Estacionaram no espaço para visitantes e entraram. Ernie Chambers ainda cuidava da portaria.
— Olá, estamos aqui de novo para ver o Sr. Davis.
— Sim, senhor. Por favor, sentem enquanto ligo lá para cima.
Clark e Chavez sentaram, e John pegou um número atual da revista Time. Tinha que se acostumar a ler as notícias com quatro dias de atraso. Davis apareceu no saguão.
— Obrigado por voltarem. Queiram me acompanhar.
Dois minutos depois, os três estavam no escritório de Tom Davis, com vista para a zona rural de Maryland.
— Então, estão interessados? — perguntou Davis.
— Sim. — respondeu Clark pelos dois.
— Muito bem, ótimo. Regras: primeiro, o que acontece aqui fica aqui. Este lugar não existe, e muito menos qualquer atividade que possa ou não acontecer aqui.
— Sr. Davis, nós dois sabemos o que é guardar segredos. Nenhum de nós fala muito, e não contamos historinhas por aí.
— Terão que assinar mais um conjunto de acordos de confidencialidade. Não podemos obrigá-los a nada legalmente, mas podemos tirar todo o dinheiro de vocês.
— Devemos mostrar esses papéis para nossos advogados particulares revisarem?
— Se quiserem, podem. Não há nada comprometedor nos contratos, mas depois podem rasgar tudo. Não podemos permitir advogados especulando sobre o que fazemos aqui. Nem tudo, falando estritamente, é legal.
— Quanta viagem? — perguntou John em seguida.
— Menos do que estão habituados, acho. Ainda estamos revisando isso. Por enquanto passarão a maior parte do tempo aqui, examinando dados e planejando operações.
— Fontes dos dados?
— Principalmente Langley e Fort Meade, mas garimpamos um pouco do FBI, da Imigração e Alfândega, do DHS... Esses tipos de lugares. Temos uma equipe técnica muito boa. Vocês provavelmente notaram aquele ouriço no nosso teto.
— Sim.
— Somos o único edifício em uma linha direta da CIA com a NSA. Eles trocam dados por micro-ondas, e nós baixamos todas as transmissões interagências. É assim também que fazemos as transações financeiras. A NSA fica de olho nos bancos nacionais e estrangeiros. E também podem entrar nos sistemas de computadores dos bancos e em suas comunicações internas.
— O que você disse outro dia sobre nosso trabalho...
— Até agora fizemos uma única operação, as quatro pessoas que mencionei ontem. A verdade é que estávamos um tanto curiosos sobre o que poderia acontecer. De fato, não aconteceu muita coisa. Talvez tenhamos coberto nossos rastros muito bem. Todas as mortes pareceram ser resultados de ataques cardíacos, as vítimas foram publicadas e todos os relatórios de autópsia declararam “causas naturais”. Achamos que a oposição comprou a história e seguiu em frente. O quarto, MoHa, nos deixou um laptop com chaves de criptografia, então estamos lendo agora alguns de seus e-mails internos; ou estávamos, até recentemente. Parece que trocaram seus protocolos de comunicação semana passada.
— Assim do nada? — perguntou Clark.
— Sim. Interceptamos um anúncio de nascimento. Grande lista de distribuição. Dentro de horas, tudo silenciou.
— Trocando de canais — disse Chavez.
— Sim. Estamos trabalhando numa pista que pode nos levar de volta.
— Quem mais estará operando como nós?
— Vocês os conhecerão no devido tempo — prometeu Davis.
— E o pagamento?
— Podemos começar com vocês a 250 mil por ano. Vocês podem participar do plano de investimentos do escritório com quanto quiserem de seu salário. Já lhes contei sobre nossa taxa de retorno. Também pagamos por gastos educacionais razoáveis para as crianças. Até um Ph.D. ou graduação profissional. Esse é o limite.
— E se minha mulher quiser voltar para a faculdade de medicina para algum estudo adicional? Ela é clínica geral, mas pensa em se aperfeiçoar em obstetrícia/ginecologia.
— Isso nós cobrimos.
— E se ela perguntar o que faço aqui, o que respondo?
— Consultoria de segurança para uma grande corretora de valores. Sempre funciona — assegurou Davis. — Ela deve saber que você trabalhava para a Agência.
— É filha dele. — Chavez apontou para Clark.
— Então ela compreenderá, não é? E sua esposa, Sr. Clark?
— Pode me chamar de John. Sim, Sandy conhece a receita. Talvez agora ela possa dizer qual é o meu trabalho verdadeiro — acrescentou com um sorrisinho.
— Então, que tal conhecerem o chefe?
— Por nós, tudo bem — disse Clark pelos dois.
— Os perdões são verdadeiros — assegurou-lhes Hendley alguns minutos depois. — Quando Ryan me vendeu a ideia de montar este lugar, disse que seria necessário proteger o pessoal de campo quando os mandássemos para a rua, de modo que assinou cem. Nunca tivemos que usar nenhum, mas são uma apólice de seguro caso se tornem necessários. Alguma coisa sobre a qual tenham curiosidade e que Tom não tenha explicado?
— Como os alvos são selecionados? — perguntou Clark.
— Vocês farão parte do processo na maioria dos casos. Temos que ser cuidadosos na escolha das pessoas que queremos despachar.
— Também escolhemos os métodos? — perguntou Clark delicadamente.
— Você já lhes contou sobre as canetas? — Hendley dirigiu-se a Davis.
— Esse é um dos métodos que usamos. — Davis levantou uma caneta de ouro. — Injeta aproximadamente 7 miligramas de sucinilcolina. É um sedativo usado em procedimentos cirúrgicos. Interrompe a respiração e os movimentos musculares voluntários. Mas não o coração. Você não pode se mexer, não pode falar e não pode respirar. O coração continua batendo por mais ou menos um minuto, mas é privado de oxigênio, de modo que na necropsia a morte aparece como causada por ataque cardíaco. Evidentemente parece mesmo com isso.
— Reversível? — perguntou Clark.
— Sim, se a vítima for levada imediatamente a um respirador. A droga se dissolve, se metaboliza, em aproximadamente cinco minutos. Não deixa traços, a menos que a vítima seja necropsiada por um patologista realmente especialista que saiba o que está procurando. A coisa é quase perfeita.
— Fico surpreso pelos russos não terem aparecido com algo parecido com isso.
— Certamente tentaram — respondeu Davis. — Mas a sucinilcolina não chegou aos hospitais deles, suponho. Conseguimos isso de um médico amigo da Faculdade de Medicina e Cirurgia da Columbia, que tinha um ajuste pessoal a ser feito. Seu irmão, um corretor sênior com a Cantor Fitzgerald, morreu no 11 de Setembro.
— Impressionante — disse Clark, examinando a caneta. — Poderia ser também um bom instrumento de interrogatório. Seria difícil achar um freguês que quisesse passar duas vezes por essa experiência.
Davis passou a caneta para ele.
— Não está carregada. Você gira a extremidade e muda a ponta. Escreve perfeitamente bem.
— Bem bolado. Bem, isso responde a uma pergunta. Mas poderemos usar meios mais convencionais?
— Apenas se, e na medida em que, a missão o exija — confirmou Davis assentindo. — Mas para nós sempre se trata de não deixarmos rastros, de modo que devem manter isso no fundo da mente.
— Entendido.
— E quanto a você, Sr. Chavez? — perguntou Hendley.
— Senhor, sempre tento escutar e aprender — respondeu Ding ao chefe.
— Ele é tão esperto assim, John? — perguntou o ex-senador.
— Na verdade é ainda mais. Nós trabalhamos bem juntos.
— É disso que precisamos. Bem-vindos a bordo, cavalheiros.
— Mais uma coisa — disse Clark. Tirou o pen drive de Ding do bolso e o colocou sobre a mesa. — Tomamos isso de um dos bandidos em Trípoli.
— Percebo. E por que está em cima da minha mesa?
— Uma distração — respondeu Clark. — Pode chamar de “efeito da idade”. Acho que podemos devolvê-lo para os suecos ou para Langley, mas suspeito que aqui teremos chances de fazer melhor uso disso.
— Já olhou o que há aí?
— Imagens em formato JPEG, cerca de uma dúzia. Para mim, pareciam fotos de férias, mas quem sabe — respondeu Chavez.
Hendley considerou a questão, depois assentiu:
— Muito bem, vamos dar uma olhada. Tom, temos um escritório para os dois?
— Lá embaixo com os garotos Caruso.
— Ótimo. Deem uma olhada por aí, rapazes, e nos veremos amanhã cedo.
Hendley se levantou, encorajando os demais a fazer o mesmo. Davis se encaminhou para a porta, seguido por Chavez e Clark.
— John, pode ficar mais um instante?
— Claro. Ding, alcanço você depois.
Quando ficaram a sós, Hendley disse:
— Você já circulou por essas áreas por muito tempo, John. Gostaria de revisar com você alguns pontos.
— Diga.
— Somos bem novos nisso, em todo esse conceito, de fato que muito disso é tentativa de acerto e erro. E começo a achar que nosso fluxo de trabalho está um tanto complicado.
Clark deu uma risadinha.
— Sem ofensa, Gerry, mas quando você usa palavras como fluxo de trabalho num negócio desses, algo me diz que você tem razão. Como é a linha de comando?
Hendley descreveu a estrutura organizacional do Campus, e Clark disse:
— Parece com Langley. Escute, o trabalho de inteligência é principalmente orgânico, certo? Não se pode dispensar a análise, mas tentar enfiar o processo em alguma estrutura artificial é esperar a merda ser jogada no ventilador.
— Você não pega leve no palavreado, certo?
— Gostaria que eu fizesse isso?
— Não.
— Muitas boas ideias se perdem abrindo caminho pela cadeia de comando. Meu conselho: ponha seus ajudantes principais em uma sala uma vez por dia e faça um brainstorm. Pode ser um clichê, mas funciona. Se houver pessoas preocupadas sobre se o pensamento criativo delas está fazendo a diferença, você estará desperdiçando talento.
Hendley assoviou baixinho, sorrindo.
— Não me leve a mal, John, mas com certeza você não é nenhum homem-primata, certo?
Clark deu de ombros, mas não respondeu.
— Bem — continuou Hendley —, você meio que bateu no ponto certo. Andava pensando no mesmo. Mas é bom ouvir uma segunda opinião.
— Algo mais?
— Sim. Jack Ryan veio falar comigo outro dia. Quer fazer mais trabalho de campo.
Junior não é mais tão junior, Clark fez questão de se lembrar.
— Tom contou para você o caso do MoHa? — perguntou Hendley.
— Contou.
— Bem, ouvi dizer que os irmãos Caruso levaram Jack até o Hogan’s Alley para aliviar um pouco do estresse. E ele se saiu muito bem, pelo que me disseram. Cometeu alguns erros, coisa de principiante, mas de qualquer modo foi muito bem.
Então ele tem algum talento, pensou Clark. Talvez fosse genético, se acreditasse nesse tipo de coisas. Havia visto o pai de Jack em ação, e ele também era bom no gatilho. E frio sob pressão. Ambas as coisas podem ser ensinadas, mas a última era mais uma questão mental e de temperamento. Parecia que Jack possuía as duas, além de mão firme.
— E a cabeça dele? — perguntou Clark.
— Sem ilusões, acho. De qualquer modo, não me parece um caçador de glórias.
— E não é. Foi bem-educado pelos pais.
— É um analista ótimo, leva realmente jeito para a coisa, mas acha que está marcando passo. Quer entrar no mato. O problema é que não sei como o pai dele iria...
— Se você for tomar decisões a respeito dele baseado no que o pai pensaria ou diria, então...
— Diga.
— Então precisa começar a se preocupar sobre onde está a sua cabeça, e não a do garoto. Jack é adulto e a vida é dele. Você precisa tomar a decisão se baseando no fato de ele ser ou não bom na coisa, e se ajudaria ou não o Campus. Se trata disso, apenas disso.
— Está certo. Bem, preciso pensar um pouco mais sobre o assunto. Se decidir mandar Jack para o campo, ele vai precisar de alguém que o treine.
— Você já tem quem faça isso.
— Posso usar mais um, ou dois. Pete Alexander é muito bom, mas gostaria que você colocasse Jack debaixo da sua asa.
Clark considerou o assunto. É hora de praticar o que você pregou para o patrão, John.
— Claro, farei isso.
— Obrigado. Estamos também sempre procurando por mais pessoas como você e Chavez, então, peço que pense nisso. Temos nossos caçadores de talentos, mas é sempre bom ter candidatos em excesso.
— Verdade. Vou pensar um pouco. Posso ter um ou dois nomes.
Hendley sorriu.
— Alguns operadores recém-aposentados, talvez?
Clark sorriu de volta.
— Talvez.
38
— Local de trocas — anunciou Mary Pat Foley, abrindo caminho pela porta de vidro da sala de conferências da NCTC. Foi até o painel de cortiça onde haviam pregado tanto o mapa militar quanto o mapa de Peshawar do Baedeker e apontou para um dos conjuntos de pontos.
— Como é mesmo? — perguntou John Turnbull.
— A legenda no verso, setas para cima e para baixo combinadas com conjuntos de pontos, os locais de troca deles. A seta para o alto é um sinal de recolhimento, e a seta para baixo indica o local de entrega. A localização do primeiro diz em que lugar verificar o pacote. Um conjunto de três pontos é o sinal de localização do recolhimento, o conjunto de quatro pontos é o da localização da caixa de entrega.
— Essa merda vem bem do miolo da Guerra Fria — disse Janet Cummings.
— É experimentado e sólido; vem desde a Roma antiga.
O fato de seus colegas parecerem surpresos por essa virada informou a Mary Pat que eles — e talvez toda a CIA — ainda estavam trabalhando com um déficit de percepção no que dizia respeito à capacidade da inteligência do CRO. Desde que os agentes que operassem as entregas e os recolhimentos fossem cuidadosos, o sistema era um modo eficaz de trocar mensagens.
— Mas não há como saber se ainda estão ativos — disse ela. — Não sem vermos as pegadas cobrindo o terreno.
O telefone ao lado do cotovelo de Margolin tocou. Ele o pegou, escutou por trinta segundos e depois desligou.
— Até agora nada, mas os computadores estão mastigando a coisa. A boa notícia é que eliminamos um raio de 100 quilômetros ao redor da caverna.
— Muitas variáveis — disse John Turnbull, chefe da Estação Acre.
— Sim — respondeu Janet Cummings, chefe de operações do NCTC.
A ideia de Mary Pat Foley para solucionar o enigma de “Onde fica isso no mundo?”, que rodeava o caixão de areia que Driscoll e sua equipe recuperaram na caverna do Hindu Kush, envolvia um projeto da CIA com o codinome de Colagem.
Ideia de algum matemático na Diretoria de Ciência e Tecnologia de Langley, Colagem saíra da frustração da Estação Acre em responder a uma pergunta de Mary Pat, no caso: “Onde ele se esconde?” O Emir e seus tenentes há tempos gostavam muito de divulgar fotos e vídeos deles mesmos vagueando pelas terras inóspitas do Paquistão e do Afeganistão, dando à comunidade de inteligência dos Estados Unidos muitas dicas sobre o clima e o terreno de suas localizações, mas nunca o suficiente para ser de ajuda para os drones ou para as equipes das forças especiais na área. Sem um contexto mais amplo, pontos de referência e uma escala confiável, uma pedra era uma pedra, e nada além de uma pedra.
Colagem ajudou a resolver esse problema ao relacionar todos os pedaços disponíveis de informações topográficas, das imagens dos satélites comerciais e militares Landsat a radares de imagens tais como o Lacrosse e o Ônix, a fotos de famílias no Facebook e fotos de viagens no Flickr — desde que a localização da imagem pudesse ser solidamente fixada em escala em qualquer ponto da terra. Com essas informações, Colagem enfiava tudo no triturador para digestão e cuspia um gabarito da superfície da terra. Nessa mistura entrava também uma estonteante quantidade de variáveis: características geológicas, padrões atuais e passados de clima, planos de desmatamento, atividade sísmica... Caso dissesse respeito à superfície da Terra e sua aparência a qualquer momento, era alimentado no Colagem.
Perguntas que ninguém pensava em fazer, como “Qual a aparência do granito no Hindu Kush quando este está molhado?” ou “Em que direção certa sombra se inclinaria com uma cobertura de nuvens de trinta por cento e um ponto de orvalho x?” e “Com dez dias de ventos entre 19 e 22 quilômetros por hora, qual a altura provável que uma duna de areia alcançaria no Sudão?”. As permutações eram assustadoras, assim como era a modelagem matemática enterrada na estrutura do código do Colagem, que ultrapassava muito o milhão de linhas. O problema era que a matemática não se baseava apenas nas variáveis conhecidas, como também nas imaginárias, sem mencionar os encadeamentos de probabilidades, afinal o programa tinha que fazer suposições não apenas a partir dos dados brutos, como também do que era visto em uma imagem ou em um trecho de vídeo. Em, digamos, trinta segundos de um vídeo com resolução de 640x480, a primeira passagem do Colagem identificaria algo entre 500 mil a 3 milhões de pontos de referência para os quais tinha que atribuir um valor — preto ou branco ou escala de cinza (na qual existem 16 mil variáveis) —, tamanho relativo e ângulo do objeto; distância do fundo, vizinhos no fundo e nas laterais, intensidade e distância angular da luz do sol ou espessura e velocidade do ar da cobertura de nuvens, e assim por diante. Uma vez designados esses valores, eram alimentados na matriz do gabarito do Colagem, e começava a caçada por uma equivalência.
Colagem já obtivera alguns sucessos, mas nada que tivesse significado em tempo real, e Mary Pat começava a suspeitar que o sistema ia ficar devendo ali também. Se isso acontecesse, a falha não seria do programa, e sim da alimentação de dados. Eles nem tinham ideia de se o caixão de areia era uma representação verdadeira de alguma coisa, muito menos se estava em escala ou dentro de um raio de 1.600 quilômetros do Hindu Kush.
— Em que pé estamos com o Lótus? — perguntou Mary Pat. A NSA estava escarafunchando suas interceptações por qualquer referência a Lótus, na esperança de descobrir um padrão dentro do qual o NCTC pudesse começar a reconstituir um quadro. Como o modelo com o qual o Colagem fora construído, o número de questões que tinham que responder para montar o quebra-cabeça era estarrecedor: quando o termo foi usado pela primeira vez? Em que frequência? Em que partes do mundo? Como era mais frequentemente disseminado — por e-mail, por telefone, através de sites ou alguma outra coisa que ainda não tivesse sido considerada? Lótus precedeu ou seguiu algum grande incidente terrorista? E daí por diante. Droga, não havia certeza de que Lótus significasse alguma coisa. Podia até mesmo ser um apelido carinhoso da namorada do Emir.
— Muito bem, vamos imaginar o pior cenário possível — disse Margolin, colocando as coisas de volta nos trilhos.
— Acho que é melhor dobrar e cobrir nossas apostas — respondeu Cummings. — Sabemos onde está a caverna, e sabemos que o sinal tinha um alcance bem modesto, algumas dezenas de quilômetros para cada lado da fronteira. Assumindo que Lótus signifique qualquer coisa, há boas chances de que tenha provocado algum tipo de movimento: de pessoal, de logística, de dinheiro... Quem sabe?
O problema, pensou Mary Pat, era que pessoal e logística frequentemente eram mais bem-monitorados com inteligência humana do que através de inteligência por sinais, e naquele momento eles não tinham nenhum desses ativos na área.
— Você sabe qual seria meu voto — disse Mary Pat ao diretor do NCTC.
— Todos nós temos a mesma lista de desejos, mas os recursos simplesmente não estão lá, pelo menos na profundidade que gostaríamos.
Graças a Ed Kealty e o DCI Scott Kilborn, pensou ela, com amargura. Depois de passar a maior parte de uma década reconstruindo seu quadro de supervisores de caso — muito graças ao Plano Azul —, o Serviço Clandestino recebeu a ordem de retroceder em sua presença no exterior em favor da inteligência gerada por aliados. Homens e mulheres que arriscaram suas vidas na construção de redes nas áreas selvagens do Paquistão, do Afeganistão e do Irã estavam batendo em retirada para embaixadas e consulados sem nenhum agradecimento.
Deus nos salve da miopia da politização da inteligência.
— Então vamos sair dessa linha de raciocínio — disse Mary Pat. — Temos ativos que podemos mobilizar aqui, só que não são nossos. Vamos sair em busca de inteligência gerada do modo antigo pelos nossos aliados.
— Os ingleses? — perguntou Turnbull.
— Claro. Eles têm mais experiência na Ásia Central que qualquer um, incluindo os russos. Perguntar não ofende. Façam alguém verificar os pontos de troca, ver se ainda são viáveis.
— E então?
— Atravessamos essa ponte quando chegarmos nela.
Na ponta da mesa de conferências, Margolin inclinou a cabeça para trás e encarou o teto por algum tempo.
— O problema não é perguntar: o problema é ter permissão para perguntar.
— Você deve estar me sacaneando, porra — disse Cummings.
Ele não estava fazendo isso, Mary Pat sabia. Mesmo que os auxiliares de Kilborn na Inteligência e no Serviço Clandestino não tivessem se empanturrado de Kool-Aid como o DCI, certamente o haviam bebido. Ao escolher Kilborn, o presidente Kealty tinha assegurado que o alto escalão da CIA seguiria a nova linha do executivo, independentemente das consequências para a agência ou para o conjunto da comunidade de inteligência.
— Então não peça — disse Mary Pat com simplicidade.
— O quê? — perguntou Margolin.
— Se não perguntarmos, não obteremos não como resposta. Estamos por aqui discutindo ideias, certo? Nada é operacional, nada tem orçamento. Só estamos pescando. Isso é o que fazemos; e isso que eles nos pagam para fazer. Desde quando temos que perguntar a alguém se podemos ter uma conversinha com um aliado?
Margolin olhou fixamente para ela por alguns instantes, depois sacudiu os ombros. O gesto dizia nada e tudo. Ela conhecia seu chefe o suficiente para saber que marcara um ponto. Como ela, Margolin adorava sua carreira, mas não à custa de fazer seu trabalho.
— Nós nunca tivemos essa conversa — disse Margolin. — Deixe-me hastear essa bandeira. Se nos queimarem, vamos fazer do seu jeito.
Essa era a verdadeira Rússia, pensou Vitaliy, com os invernos mais rigorosos em uma nação famosa por seu clima ingrato. Os ursos polares ali agora estavam gordos, cobertos por uma grossa camada acumulada para o insulamento, o suficiente para permitir que dormissem por meses em cavernas escavadas no meio das cristas de pressão e seracs, os grandes blocos de gelo fragmentados, despertando ocasionalmente para agarrar alguma foca que se aventurasse perto demais do buraco de respiração.
Vitaliy se levantou e se sacudiu para despertar, depois se arrastou até a cozinha para esquentar água para o chá. A temperatura mal estava acima do ponto de congelamento — e era o que caracterizava um cálido dia outonal. Não havia gelo formado durante a noite, pelo menos nada que seu barco não pudesse esmagar ou passar ao largo, mas o convés estava coberto por uma camada de 2 centímetros de gelo formado pela brisa congelada, algo que ele e Vanya teriam que quebrar e limpar para que o barco não desequilibrasse. Emborcar naquelas águas significava morte quase certa; sem roupas de mergulho, um homem ficaria inconsciente em quatro minutos e morto em 15. Apesar de ter quantidade suficiente dessas roupas para todos a bordo, seus passageiros mostraram pouco interesse em sua explicação sobre como usá-las.
O grupo de passageiros do frete já estava desperto, lutando para bater os pés e apertar os braços por cima do peito. Todos acenderam cigarros e foram até as precárias latrinas da popa. Todos comeram o pão com manteiga congelada que havia para o desjejum.
Vitaliy esperou mais uma hora para começar o dia, e então ligou os motores a diesel e recuou da praia de seixos onde passaram a noite. Seus mapas já estavam abertos, e ele navegou para o leste a 10 nós. Vanya revezava com ele no leme. Os dois escutavam um velho, mas eficiente, rádio AM, principalmente a música clássica irradiada de Archangel. Isso ajudava a passar o tempo. Faltavam ainda dez horas de navegação até chegarem a seu destino. Cerca de 160 quilômetros. Dez horas a 10 nós, dizia o mapa.
— Aquilo ali não parece nada bom — disse Vanya, apontando a estibordo da proa.
O horizonte a leste tinha uma linha de nuvens negras inchadas, tão baixas que pareciam se misturar com a superfície do oceano.
— Nada bom — concordou Vitaliy. E pioraria, sabia ele. Para chegar ao destino teriam que passar pela tempestade. Ou isso ou sair muito do caminho, ou até mesmo aportar e esperar passar. — Peça ao Fred para vir até aqui, sim?
Vanya desceu e voltou um minuto depois com o líder do grupo.
— Algum problema, capitão?
Vitaliy apontou a linha de instabilidade pela janela.
— Aquilo.
— Chuva?
— Aqui não chove, Fred. Há tempestades. A única pergunta é: em que grau? E aquele troço ali, receio, vai ser ruim. — Pior ainda para um barco de desembarque T-4 com fundo chato e 1 metro de calado, ele não acrescentou.
— Quanto tempo até a alcançarmos?
— Três horas, talvez um pouco mais.
— Podemos resistir a ela?
— Provavelmente, mas por aqui nada é certo. De qualquer maneira, vai ser um trecho complicado.
— Quais são as alternativas? — perguntou Fred.
— Regressar para onde passamos a noite ou tomar rumo sul e tentar dar a volta pela borda da tempestade. Qualquer uma das opções vai nos custar um ou dois dias do tempo de viagem.
— Inaceitável — respondeu Fred.
— Vai ser arriscado passar no meio daquilo, e você e seus homens vão se sentir péssimos.
— Nós lidaremos com isso. Talvez uma bonificação pela dificuldade torne essa inconveniência mais palatável?
Vitaliy deu de ombros.
— Se você topa, eu topo.
— Então avance.
Duas horas depois ele viu um navio no horizonte, rumo oeste. Provavelmente um navio de suprimentos, voltando da entrega da carga de equipamento de perfuração de petróleo para o novo campo descoberto mais a leste, acima do rio Lena, ao sul de Tiksi. A julgar por sua esteira, o barco estava na maior velocidade que podia, obviamente tentando fugir da tempestade para a qual eles se dirigiam.
Vanya apareceu ao seu lado.
— Os motores estão bem. Estamos bem vedados. — Vitaliy lhe pediu que preparasse o barco para a tempestade iminente. O que eles não conseguiriam fazer era preparar seus passageiros para o que viria nem se preparar para o que o mar poderia fazer com o barco. A Mãe Natureza era caprichosa e cruel.
Antes, Vitaliy pedira a Fred que seus homens os ajudassem a tirar o gelo do barco, o que fizeram, apesar das pernas tremerem e da palidez esverdeada de enjoo que todos apresentaram. Enquanto metade quebrava o gelo com marretas, a outra, sob supervisão de Vanya, usava pás de carregamento de grãos para jogar os pedaços pela amurada.
— Que tal se depois disso nós nos mudarmos para Sochi e manejarmos o barco a partir de lá? — perguntou Vanya a seu capitão, depois de liberar os passageiros para descer e descansar.
— Quente demais lá. Não é lugar para um homem viver. — A mentalidade ártica usual. Homens de verdade viviam e trabalhavam no frio, e se gabavam de quão durões eram. Além disso, a vodca ficava mais gostosa.
A 16 quilômetros da proa, a tempestade assomava, uma parede rolante cinza e negra que parecia avançar visivelmente diante dos olhos de Vitaliy.
— Vanya, desça e dê um curso rápido de uso das vestes isolantes para os nossos passageiros.
Vanya se dirigiu para a escada.
— E veja se desta vez eles prestam atenção — acrescentou Vitaliy.
Como capitão, ele tinha a responsabilidade profissional de cuidar da segurança de seus passageiros. Porém, mais importante é que ele duvidava que seja lá quem fosse o sujeito para quem seus passageiros trabalhavam o desculparia caso todos eles morressem.
Um exercício idiota, pensou Musa Merdasan, observando aquele russo que parecia um gnomo desdobrar a roupa amarela de salvamento no convés. Primeiro, nenhum navio de salvamento os alcançaria a tempo, com ou sem aquele equipamento; segundo, nenhum de seus homens usaria aquilo em nenhuma circunstância. Se Alá achasse por bem entregá-los ao mar, eles aceitariam o destino. Mais ainda, Merdasan não queria que nenhum deles fosse pescado do mar de jeito nenhum; se fossem, rezava ele, que estivessem em um estado inidentificável. Isso era algo a considerar, como ter a certeza de que nem o capitão nem seu marinheiro sobreviveriam a tal catástrofe, de modo que a natureza da viagem e seus passageiros fosse investigada. Ele não podia contar com uma pistola se caíssem na água. Faca, então, e preferivelmente antes que abandonassem o navio. E talvez rasgar suas barrigas para ter certeza de que afundariam.
— Primeiro estendam a roupa completamente no convés, abaixem o zíper, e depois sentem com o traseiro logo acima do ponto mais baixo do fecho — dizia o russo.
Merdasan e seus homens, é claro, acompanhavam tudo, fazendo o melhor possível para darem a impressão de estarem atentos. Mas nenhum deles parecia estar bem, a crescente agitação do mar já havia dissolvido toda a cor de seus rostos. A cabine fedia a vômito, suor e vegetais recozidos.
— As pernas primeiro, e depois um braço de cada vez, seguido pelo capuz. Quando isso estiver feito, ponham-se de joelhos, puxem o zíper para fechar completamente e fechem as abas de velcro na parte inferior do rosto.
O russo passou por cada homem, assegurando que cada um deles seguia suas instruções. Satisfeito, olhou ao redor e disse:
— Alguma pergunta?
Não havia nenhuma.
— Se vocês forem lançados para fora das amuradas, seu EPIRB...
— Nosso o quê? — perguntou um deles.
— Rádio emergencial indicador de posição, essa coisa presa no colarinho, será automaticamente ativada logo que submergir. Alguma pergunta sobre isso?
Nenhuma.
— Muito bem, sugiro que se acomodem nos beliches e se segurem.
Ainda que Vitaliy soubesse o que esperar, a velocidade e a ferocidade com que a tempestade os atingiu foram assustadoras. O céu estava escuro como a noite ao seu redor, e em cinco minutos o mar passou de uma relativa calma, com ondas que não passavam dos 2,5 metros, para uma superfície que rolava com ondas de mais de 6 metros que se esmagavam na proa como a própria mão de Deus.
Grandes colunas de borrifos e espuma dançavam por cima das amuradas retas e bombardeavam a cabine de comando com punhados de gelo que obliteravam a visão de Vitaliy por dez segundos antes que os limpadores pudessem compensar, permitindo apenas um vislumbre da onda seguinte. A cada poucos segundos, toneladas de água do mar saltavam pela amurada de estibordo e inundavam o convés de água até a altura dos joelhos, sobrecarregando as calhas, que não davam conta do volume. Com as mãos apertadas no timão, Vitaliy conseguia perceber o leme afrouxar enquanto a água se jogava de um lado para o outro pela amurada.
— Desça e cuide dos motores e das bombas — ordenou Vitaliy a Vanya, que se arrastou pela escada.
Jogando com as duas hélices, Vitaliy lutava para manter a proa apontada nas ondas que chegavam. Se deixasse o barco balançar de lado na subida da onda estaria provocando uma virada fatal que os capotaria. O casco chato do T-4 virtualmente não tinha condições de se endireitar além de um balanço de mais de 15 graus. Se capotasse, afundaria em um ou dois minutos.
Por outro lado, Vitaliy estava bem consciente das limitações estruturais da rampa da proa. Apesar de ele e Vanya terem trabalhado muito para se assegurar de que ela estivesse bem-presa e vedada, não havia como superar as limitações do projeto: era projetada para cair aberta em uma praia e regurgitar soldados. A cada onda que batia, a rampa tremia, e mesmo com o rugido da tempestade, Vitaliy conseguia ouvir o martelar de metal contra metal nos pinos de segurança de 2 centímetros de espessura.
Outra onda assomou por cima do parapeito e quebrou, metade caindo em cascata sobre o convés e outra metade martelando as janelas da cabine de comando. O barco cambaleou a bombordo. Vitaliy perdeu o equilíbrio e deslizou, batendo com a cabeça no console. Conseguiu se equilibrar e piscou várias vezes, vagamente consciente de alguma coisa molhada escorrendo pela testa. Tirou uma das mãos do leme e tocou a testa; seus dedos ficaram ensanguentados. Não é tão ruim assim, concluiu. Uns dois pontos.
A voz de Vanya chegou abafada pelo intercomunicador:
— Bomba... falhou... tentando religar...
Droga. Eles podiam se virar sem uma bomba, mas Vitaliy sabia que a maioria dos barcos afundava não por causa de um único incidente catastrófico, e sim devido ao efeito dominó disso, um depois do outro, até que as funções vitais do barco eram sobrepujadas. E se isso acontecesse ali... Ele não aguentava nem pensar.
Sessenta segundos transcorreram, então Vanya falou novamente:
— Bomba religada!
— Compreendido! — respondeu Vitaliy.
Ouviu uma voz gritar lá debaixo:
— Não, não faça isso! Volte para cá!
Vitaliy deslizou para sua direita e encostou o rosto na janela do lado. Na direção da popa viu uma figura sair tropeçando pela porta da cabine e seguir para o convés oscilante. Era um dos homens de Fred.
O homem tropeçou, caiu de joelhos. O vômito jorrava de sua boca. Ele estava em pânico, percebeu Vitaliy. Preso abaixo do convés, o instinto de escapar do sujeito sobrepujara a parte racional de seu cérebro.
Vitaliy pegou o intercomunicador com a casa de máquinas.
— Vanya, há um homem no convés de ré...
A popa do barco subiu no ar. Quando desceu, uma onda transversa bateu na amurada de estibordo. O homem, que já estava no ar, foi jogado para o lado e se chocou contra a amurada. Ficou pendurado ali por um instante, dobrado na borda como um boneco de trapos, as pernas do lado do convés, o torso pendurado no espaço, e depois caiu e desapareceu.
— Homem ao mar, homem ao mar! — gritou Vitaliy pelo intercomunicador geral do barco. E ficou espreitando pela janela, em busca de uma passagem entre as ondas por onde pudesse voltar.
— Não. — Escutou uma voz atrás dele.
Virou-se e viu Fred parado no alto da escada, as mãos agarrando o corrimão de segurança. A frente da camisa dele estava manchada de vômito.
— O quê? — perguntou Vitaliy.
— Ele se foi. Esqueça.
— Você está louco? Não podemos...
— Se você virar o barco, corremos o risco de emborcar, certo?
— Sim, mas...
— Ele sabia dos riscos, capitão. Não vou deixar que esse erro ponha em risco o restante de nós.
Vitaliy sabia que Fred estava certo pela lógica, mas abandonar um homem no mar sem nem mesmo tentar recuperá-lo lhe parecia desumano. E fazer isso sem o menor traço de emoção no rosto...
Como se sentisse a indecisão de Vitaliy, o homem conhecido como Fred falou:
— Meus homens são responsabilidade minha; a sua é a segurança do barco e de seus passageiros, correto?
— Correto.
— Então continuamos.
39
— Alô? — começou o ex-presidente Jack Ryan. Ele ainda gostava de atender seu próprio telefone, pelo menos essa linha.
— Senhor presidente?
— Sim, quem fala? — Seja lá quem fosse, tinha acesso à linha particular de Jack. E não havia muitas pessoas nessa condição.
— John Clark. Voltei da Inglaterra anteontem.
— John, como você está? Então eles conseguiram, não é? Mandaram os ianques de volta.
— Receio que sim. De qualquer modo, eu e Ding estamos de volta. Liguei porque, bem, acho que eu e Ding devemos a você uma visita de cortesia. Pode ser?
— Claro que sim. Venham almoçar. Me diga quando.
— Talvez dentro de uma hora e meia?
— Está bem, podem vir almoçar. Então vejo vocês por volta das onze?
— Sim, senhor.
— Meu nome ainda é Jack, lembra?
Clark deu uma risadinha.
— Vou tentar lembrar.
A ligação terminou. Ryan trocou de linha e bipou Andrea.
— Sim, senhor presidente?
— Dois amigos vão chegar por volta das onze. John Clark e Domingo Chavez. Lembra deles?
— Sim, senhor. Muito bem, vou colocá-los na lista — respondeu numa voz cuidadosamente neutra. Essas duas pessoas, ela bem lembrava, eram do tipo perigoso, apesar de parecerem bem leais. Como agente especial do Serviço Secreto dos Estados Unidos, ela não confiava em ninguém. — Para o almoço?
— Provavelmente.
Foi um passeio agradável pela US Route 50, depois rumo sul antes de chegar a Annapolis. Clark conseguiu quase automaticamente se readaptar a dirigir pela direita da estrada, depois de anos dirigindo pela esquerda. Evidentemente o condicionamento de uma vida inteira facilmente sobrepujou os ajustes que fizera quando morava na Inglaterra, ainda que ocasionalmente tivesse que ficar alerta. A sinalização verde ajudava. Os sinais correspondentes na Inglaterra e em Gales eram azuis, e eram uma lembrança conveniente de que estava em uma terra estrangeira, apesar da cerveja melhor.
— Então, qual é o plano? — perguntou Chavez.
— Vamos dizer a ele que nos engajamos.
— E sobre Junior?
— Você sabe o que decidir, Ding, mas eu vejo assim: o que pai e filho contam um ao outro é assunto deles, não nosso. Jack Jr. é um adulto. O que ele faz com sua vida é assunto dele, e o que ele informa para quem também.
— Sim, entendi o que você quer dizer, mas, cara, se ele for ferido... Deus do céu, eu não vou querer estar por perto da merda que vai voar pelo ventilador.
Nem eu, pensou Clark.
— Mas então, o que você poderia dizer? — continuou Ding. — O homem pede que você o treine, e não há como negar.
— Você entendeu direito. — A verdade é que Clark se sentia mal por não contar a Ryan Senior, afinal, os dois tinham uma longa história juntos, e ele devia muito ao ex-presidente, mas havia passado boa parte de sua vida guardando os segredos de outras pessoas. Isso era pessoal, é claro, mas Jack já era um rapaz crescido e com uma boa cabeça sobre os ombros. O que não queria dizer que ele não tentaria convencer Jack a contar a seu pai sobre seu trabalho no Campus.
Depois de quarenta minutos, eles entraram à direita na Peregrine Cliff Road, sem dúvida sob vigilância de televisão a partir desse ponto, onde os agentes do Serviço Secreto estariam em seus computadores checando a placa deles, e, após verificar que estavam dirigindo um carro alugado, acessariam rapidamente os computadores da Hertz para identificar quem alugara. Isso os deixaria ligeiramente preocupados, ainda que apenas em um sentido institucional, algo que o Serviço Secreto fazia bem. Finalmente chegaram ao pilar de pedra que marcava a entrada do acesso de 500 metros até a casa de Ryan.
— Por favor, identifique-se — disse a voz por controle remoto no altofalante do portal.
— Rainbow 6 entrando para ver SWORDSMAN.
— Prossiga — respondeu a voz, seguida por um sinal eletrônico e o ruído hidráulico dos controles do portão abrindo.
— Você não me mencionou para eles — objetou Chavez.
— Só deixe suas mãos à vista — gracejou Clark.
Andrea Price-O’Day estava no portal quando os dois chegaram. A chefe do destacamento, notou Clark. Talvez achem que sou importante. Às vezes é útil ser amigo do patrão.
— Olá, Chefe — disse ela, cumprimentando.
Ela gosta de mim?, pensou Clark. Apenas seus amigos o chamavam de Chefe.
— Bom dia, senhora. Como anda o patrão?
— Trabalhando no seu livro, como sempre — respondeu Andrea. — Seja bem-vindo.
— Obrigado. — E apertou a mão que lhe era oferecida. — Acredito que já conheça Domingo.
— Claro que sim. Como vai a família?
— Ótima. Feliz por estar de volta em casa. E estamos com outro a caminho.
— Parabéns!
— Como é que ele anda? — perguntou Clark em seguida. — Subindo pelas paredes?
— Veja você mesmo. — Andrea abriu a porta da frente.
Os dois já estiveram ali, a grande sala de estar aberta, com assoalho de cedro e as amplas janelas que se abriam para a baía de Chesapeake, além do piano de cauda de Cathy, que ela provavelmente tocava quase todos os dias. Andrea os levou pelos degraus acarpetados até a porta do escritório/biblioteca de Ryan e se retirou.
Eles encontraram Ryan digitando no teclado com golpes fortes o suficiente para destruir pelo menos um a cada dois anos. Ryan levantou o rosto quando entraram.
— Grandes pensamentos, senhor presidente? — perguntou Clark, sorrindo.
— Olá, John! Ding, como vai. Bem-vindos! — Passos avançaram e apertos de mãos foram trocados. — Sentem e fiquem à vontade — ordenou Jack, e suas ordens foram seguidas. Velho amigo ou não, ele era ex-presidente dos Estados Unidos, e ambos usavam uniformes há não muito tempo atrás.
— É bom vê-lo inteiro — disse Clark.
— O ocorrido em Georgetown? — Ryan meneou a cabeça. — Não chegou nem perto. Andrea derrubou o sujeito como se não fosse nada. Com uma dica de Jack.
— Como assim?
— Ele estava lá. Avisou Andrea. Notou alguma coisa no zelador que não estava correta.
— Como o quê? — perguntou Clark.
— Estava usando uma chave de fenda no polidor de uma enceradeira, quando deveria usar uma chave de boca.
— Garoto esperto — observou Chavez. — Deixando o papai orgulhoso.
— Pode apostar — disse o ex-presidente Ryan, sem esconder o orgulho. — Querem café?
— Isso é algo que não fazem bem na Inglaterra, senhor — concordou Chavez. — A Starbucks já chegou lá, mas para mim não é a mesma coisa que o daqui.
— Preparo um para vocês. Venham. — Ele se levantou e foi para a cozinha, onde havia uma cafeteira cheia com café de grãos havaianos e xícaras por perto. — E como foi a vida lá nas ilhas britânicas?
— Boa gente. Nossa base estava perto da fronteira com Gales... boa gente por lá, bons pubs, e a comida local era bem gostosa. Gostava especialmente do pão — relatou Clark. — Mas eles acham que corned beef é uma coisa que sai da lata.
Ryan riu.
— É, comida de cachorro. Trabalhei quase três anos em Londres, e nunca encontrei um corned beef decente por lá. Eles chamam de “salt beef”, mas não é a mesma coisa. Então escaparam da Rainbow, hein?
— Acho que simplesmente esgotamos nossa cota de boas-vindas — disse Clark.
— Quem vocês deixaram por lá? — perguntou o presidente Ryan.
— Duas equipes prontas e treinadas, metade com pessoal do SAS do Exército britânico. São muito bons — assegurou Clark. — Mas os outros contingentes europeus estão sendo retirados. Isso é ruim. Alguns deles eram ases na operação. O apoio de informações também está virando fumaça. A Rainbow ainda pode funcionar, se deixarem. Mas os burocratas locais, quero dizer, principalmente os europeus, meio que se mijam quando meus rapazes se deslocam.
— É, bem, temos disso por aqui também — respondeu Ryan. — Faz a gente pensar onde foi parar Wyatt Earp.
Isso provocou uma risadinha nos dois hóspedes.
— O que SHORTSTOP anda fazendo agora? — perguntou Clark. Era uma pergunta natural a ser feita entre amigos que há tempos não se viam. Não a fazer é que poderia chamar atenção.
— Negociações de títulos, como eu fiz. Nem perguntei onde. Ser filho de um presidente pode ser frustrante na idade dele, sabem?
— Especialmente os carros da segurança quando ele sai para encontrar uma garota — sugeriu Chavez, sorrindo. — Acho que eu não gostaria disso.
Passaram dez minutos papeando e se informando sobre as respectivas famílias, sobre esportes e sobre a situação geral do mundo. Então Ryan perguntou:
— O que vocês vão fazer? Imagino que a CIA sugeriu que se aposentassem. Se precisarem de uma carta de referência, me avisem. Os dois serviram bem ao país.
— Isso é uma das coisas sobre a qual queríamos conversar — disse Clark. — Encontramos Jimmy Hardesty lá em Langley, e ele nos colocou em contato com Tom Davis.
— Ah, é? — disse Ryan, abaixando a xícara.
Clark assentiu.
— Ele nos ofereceu um trabalho.
O ex-presidente Ryan considerou o assunto por um instante.
— Bem, não é que eu não tenha pensado nisso antes. Vocês dois são preparados, sem dúvida. O que acharam da instalação?
— Boa. Algumas dores de crescimento, acho, mas isso seria de esperar.
— Gerry Hendley é um bom sujeito. Não teria endossado aquilo se ele não fosse. Vocês sabem, sobre os perdões?
Chavez respondeu essa:
— Sim, e desde já, obrigado. Tomara que não precisemos de um, mas é bom saber que estão lá.
Ryan assentiu.
— Que tal almoçar?
E assim terminou a conversa, notou Clark. Fosse ou não ideia de Ryan, o Campus era algo a ser mantido a certa distância.
— Achei que você não ia mais perguntar isso — disse Clark, sem perder o ritmo. — Posso ter esperança de termos corned beef?
— De um lugar chamado Attman, lá em Baltimore. Uma coisa boa do Serviço Secreto é que eles não me deixam fazer nada, e assim fazem um monte de servicinhos.
— Nos velhos tempos, aposto que mandariam vir de avião do Carnegie, em Nova York — especulou Chavez.
Foi a vez de Ryan sorrir.
— De vez em quando — respondeu ele. — É preciso ser cuidadoso com esse tipo de coisa. Você pode ficar mimado, e começar a achar que merece tudo isso. Droga, sinto falta de poder circular e eu mesmo fazer minhas compras, mas Andrea e a tropa dela teriam um ataque se eu tentasse isso. — O Serviço Secreto insistira, por exemplo, que a casa tivesse um sistema de sprinklers. Ryan se submetera e pagara ele mesmo a conta, embora pudesse ter mandado o Departamento do Tesouro pagar. Não queria começar a se sentir como um rei. Com isso decidido, levou seus hóspedes para a cozinha, onde o corned beef já estava cortado, com pães e mostarda.
— Graças a Deus por um almoço americano — disse Clark em voz alta. — Adoro os ingleses, e gostaria de tomar um pint de John Smith com essa comida, mas nada como o lar.
No carro, Ryan falou:
— Agora que você é um homem livre, me diga: como é a nova Langley?
Clark respondeu:
— Você me conhece, Jack. Há quanto tempo eu grito pedindo que continuem reforçando o DO? — perguntou, querendo se referir ao Serviço Clandestino da CIA, os espiões de verdade, os agentes de campo da inteligência. — O Plano Azul decolou apenas o suficiente para ser abatido em chamas por esse punheteiro do Kealty.
— Você fala árabe, certo?
— Nós dois — confirmou Chavez. — John é melhor que eu, mas consigo achar o banheiro masculino quando preciso. Mas nada de pashtun.
— O meu anda muito enferrujado — disse Clark. — Faz uns vinte anos que não vou por lá. Povo interessante, os afegãos. São duros, mas primitivos. A coisa é que aquele lugar funciona em função da papoula.
— E qual o tamanho do problema?
— Tem alguns bilionários de verdade por lá, tudo vindo do ópio. Vivem como reis, espalham o dinheiro por ali principalmente na forma de armas e munição, mas todas as drogas pesadas que se pode comprar na rua, na zona sudoeste de Washington, vêm do Afeganistão. Parece que ninguém reconhece isso. Toda ela, ou quase toda. Isso gera dinheiro suficiente para corromper a cultura deles, e a nossa. Eles não precisam de ajuda. Até a chegada dos russos em 1979, eles mesmos matavam uns aos outros. Então, se juntaram e provocaram a maior caganeira no Ivan, porém, talvez duas semanas depois de o Exército Vermelho dar no pé, começaram a se matar de novo. Não sabem o que significa paz. Não sabem o que é prosperidade. Se construirmos escolas para os garotos deles, eles as explodem. Vivi um ano por lá, subindo pelas montanhas e atirando no Ivan, tentando treiná-los. Há muitas coisas legais sobre eles, mas não lhes dê as costas. E ainda tem o terreno. Alguns lugares são altos demais e os helicópteros não podem voar. Realmente não é o seu lugar para férias. Mas a cultura deles é que é difícil. Povo da Idade da Pedra com armas modernas. Parece que têm um conhecimento genético sobre como matar alguém. São diferentes de qualquer pessoa que você tenha conhecido. A única coisa que não fazem é devorar seu cadáver depois de te matar. São muçulmanos o suficiente para isso. De qualquer maneira, enquanto a papoula levar dinheiro para lá, esse é o motor que põe o país para andar, e nada vai mudar isso.
— Parece pavoroso — observou Ryan.
— Pavoroso não é a palavra. Droga, os russos tentaram tudo que sabiam: construíram escolas, hospitais e estradas; só na tentativa de facilitar sua campanha, comprá-los, e olhe só o que conseguiram. Essas pessoas lutam para se divertir. É possível comprar a lealdade deles com comida e coisas, sim, mas tente construir hospitais e estradas. Deveria funcionar, mas não aposte seu rancho nisso. É preciso descobrir um modo de apagar 3 mil anos de guerras tribais, brigas de sangue, e desconfiança por estranhos. Osso duro de roer. Olha, eu servi no Vietnã, e o Vietnã parece a porra de uma Disneylândia comparado com o Afeganistão.
— E em algum lugar desse Reino Mágico o Emir está brincando de esconde-esconde — observou Chavez.
— Ou talvez não — contrapôs Clark. — Todo mundo supõe que ele continua por lá.
— E você sabe de alguma coisa que não sabemos? — perguntou Ryan, sorrindo.
— Não, só tento pensar como o sujeito. No SEAL, esta é a regra número um no treinamento de evasão e fuga: vá aonde os bandidos não estão. Sim, as opções dele são limitadas, mas eles têm uma infraestrutura decente e dinheiro à beça.
— Talvez esteja em Dubai — sugeriu Ding —, numa daquelas vilas luxuosas.
O ex-presidente Ryan riu com essa.
— Bem, estamos procurando bastante. O problema é que, sem um diretor de inteligência para fazer as perguntas certas, nem um diretor de operações para ir fundo o suficiente para pegá-lo, o que se faz é marcar o passo. Todos os caras que Kealty colocou lá são do tipo que pensam no cenário completo, mas não fazem o serviço.
Duas horas mais tarde Clark e Chavez voltavam para Washington, digerindo o almoço e pensando no que descobriram. Apesar de Ryan não ter feito mais que um comentário passageiro sobre o assunto, para Clark era claro que outra corrida para a Casa Branca estava pesando muito na cabeça do antigo comandante em chefe.
— Ele vai fazer isso — observou Chavez.
— Sim — concordou Clark. — Ele se sente em uma armadilha.
— Ele está em uma armadilha.
— Assim como nós, Domingo. Novo emprego, a mesma merda.
— Não exatamente a mesma. Vai ser interessante, com certeza. Imagina o quanto...
— Nem tanto assim, acho. Cadáveres geralmente são ruins para os negócios, e não contam muitas coisas. Agora estamos no negócio da informação.
— Mas às vezes alguém do rebanho precisa ser sacrificado.
— Verdade. Em Langley o problema sempre foi fazer alguém assinar a ordem. A papelada dura para sempre, sabia? No Vietnã, tivemos uma guerra de verdade, e as ordens podiam ser verbais, mas, quando isso terminou, os pilotos de escrivaninha começaram a se borrar de medo, e os advogados puseram as cabeças para fora, mas a verdade é que isso não é totalmente ruim. Não podemos ter funcionários públicos dando esse tipo de ordem cada vez que sentem vontade. Cedo ou tarde a pessoa A vai se empolgar e a pessoa B vai ter um ataque de consciência e dedar a primeira, não importando o quanto o bandido precisasse desse encontro com Deus. É uma maravilha o quanto a consciência pode ser perigosa, e geralmente no momento errado. Vivemos em um mundo imperfeito, Ding, e não existe regra que diga que o mundo precisa fazer sentido.
— Um perdão presidencial em branco — observou Chavez, mudando de assunto. — E é legal?
— Bem, foi isso que o homem disse. Lembro quando 007 contra o satânico Dr. No estreou. Eu estava no colégio. O trailer do filme dizia: “O duplo zero significa que ele tem licença para matar quem quiser, quando quiser.” Isso era bem legal lá nos anos 1960, antes de Watergate e tudo isso, e a administração Kennedy também gostou da ideia. Daí começaram a Operação Mangusto. Foi uma merda total, é claro, mas nunca se revelou o tamanho todo da merda. Política — explicou Clark. — Acho que você nunca ouviu falar dessas histórias.
— Não no programa de estudos lá na Fazenda.
— Ainda bem. Quem iria querer trabalhar para uma agência que fez uma coisa idiota como aquela? Liquidar um chefe de Estado estrangeiro é realmente uma carga pesada, filho. Mesmo que um dos nossos presidentes achasse legal ser um sociopata. O engraçado é como as pessoas não gostam de chegar até o fim.
— Como nós?
— Não quando você liquida algumas pessoas que não são lá muito importantes.
— E essa merda sobre esse Ranger?
— Sam Driscoll — respondeu Clark. Ryan lhes contara sobre Kealty estar forçando uma investigação criminal. — Subi algumas colinas com Driscoll lá pelos anos 1990. Bom sujeito.
— Estão fazendo alguma coisa para parar com o processo?
— Não sei, mas Jack teve suas razões para nos contar isso.
— Novo recruta para o Campus?
— Certamente iria amaciar a queda de Driscoll, não é?
— Sim, mas ainda assim, ver sua carreira descer pelo ralo porque algum babaca quer provar um ponto... isso é errado, mano.
— De muitas maneiras.
Dirigiram em silêncio por alguns minutos, depois Chavez disse:
— Ele parece preocupado. Cansado.
— Quem? Jack? Eu também estaria. Pobre desgraçado. Ele só quer escrever suas memórias e talvez aperfeiçoar seu jogo de golfe, e bancar o paizinho com a garotada. Sabe, ele é realmente um bom sujeito.
— É o problema dele — assinalou Chavez.
— Claro que sim. — Era bom saber que seu genro não havia desperdiçado o tempo na Universidade George Mason. — O sentido de dever pode colocar você em posições difíceis. E daí você tem que descobrir como sair disso.
Em Peregrine Cliff, Ryan percebeu que sua mente devaneava, os dedos pousados no teclado. Merda do Kealty... Processar um soldado por matar inimigos. Era, pensou com tristeza, um testemunho perfeito do caráter do atual presidente.
Olhou para o telefone multilinhas. Por duas vezes pensou em pegá-lo, mas a mão parou, aparentemente por conta própria, em contradição com o ditado de santo Agostinho sobre vontade e resistência. Mas enfim agarrou o aparelho e digitou o número.
— Diga, Jack — respondeu a voz de Van Damm. Ele possuía um identificador de chamadas na linha particular.
— Muito bem, Arnie, puxe o gatilho. E que Deus me ajude — acrescentou.
— Deixe-me fazer algumas ligações. Falo com você amanhã.
— Muito bem. A gente se vê. — Ryan desligou.
Que diabos você está fazendo?, perguntou a si mesmo.
Mas sabia muito bem qual era a resposta.
40
Eles tinham que treinar para não parecer conspiradores, para se apresentarem como pessoas comuns que estavam em um almoço normal em um café parisiense num dia de garoa, o que os ajudava. Além deles, havia apenas dois clientes: um casal jovem em uma mesa coberta por um guarda-sol.
Ibrahim havia lhes dito como se vestir — como franceses de classe média —, e continuar assim dali em diante. Todos falavam francês, e, apesar de serem muçulmanos, nenhum deles frequentava mesquitas regularmente, fazendo suas preces diárias em casa, e jamais assistindo aos sermões dos imames mais radicais e loquazes, afinal todos eram mantidos sob observação constante pelas várias agências policiais francesas.
Ao se manter em locais públicos e conversar como pessoas normais, eles evitavam as reuniões conspiratórias em pequenas salas que podiam ser grampeadas por policiais espertos. Encontros ao ar livre eram facilmente observáveis, mas quase impossíveis de serem gravados. E praticamente todos os homens da França encontravam amigos regulares no almoço. Mesmo que a polícia francesa fosse grande e bem-financiada, não podiam investigar todo mundo nesse país infiel. Com a visibilidade regular vem o anonimato. Muitos outros já foram capturados ou mesmo mortos por seguirem o caminho contrário. Especialmente em Israel, onde as agências policiais eram notoriamente eficientes, principalmente devido ao dinheiro que tão generosamente espalhavam pelas ruas. Havia sempre os que gostavam de ganhar dinheiro dando informações, razão pela qual ele devia escolher muito cuidadosamente as pessoas.
Assim, as reuniões não começavam com cantos religiosos. De qualquer maneira, eles conheciam todos. E falavam exclusivamente em francês, para que ninguém notasse o uso de língua estrangeira. Muitos ocidentais estavam aprendendo a reconhecer os sons do árabe — e para eles isso sempre soava conspiratório. A missão deles era se tornar invisíveis à luz do sol. Felizmente, isso não era tão difícil.
— Então, qual é a missão? — perguntou Shasif Hadi.
— É uma instalação industrial — respondeu Ibrahim. — Por enquanto, isso é tudo que precisam saber. Quando estiverem no terreno, receberão a informação completa.
— Quantos? — perguntou Ahmed. Era o membro mais jovem da equipe, barbeado e com um bigode bem-cuidado.
— O objetivo não é provocar baixas; pelo menos não baixas humanas.
— Então, o quê? — Esse era Fa’ad. Era um kuaitiano, alto e bem-apessoado.
— Mais uma vez repito: vocês saberão mais quando for necessário. — Tirou um pedaço de papel do bolso e o desdobrou na mesa em frente. Era um mapa impresso por computador, alterado com algum software de edição de imagens, de modo que todos os nomes estavam apagados. — O problema é selecionar o melhor ponto de entrada — disse Ibrahim. — A instalação é bem-protegida, tanto por dentro quanto no perímetro. As cargas explosivas necessárias serão comuns, pequenas o suficiente para se levar numa mochila. Os guardas inspecionam a área duas vezes ao dia, de modo que a marcação do tempo será crítica.
— Se você me passar as especificações dos explosivos, posso começar a planejar — disse Fa’ad, satisfeito por ver sua educação usada pela Sagrada Causa de Alá. Os demais o acharam excessivamente orgulhoso de seu diploma de engenharia pela Universidade do Cairo.
Ibrahim assentiu.
— E o que há sobre os serviços de inteligência e a polícia do local? — perguntou Hadi.
Ibrahim balançou a mão em sinal de desprezo.
— Administrável.
O tom despreocupado contradizia seus pensamentos. Ele tinha realmente medo da investigação policial. Eram como os malignos djins no modo como conseguiam inspecionar algum tipo de prova e retirar magicamente dali todo tipo de informação. Não dava para dizer o que sabiam e como conseguiam ligar aquilo tudo. E sua função primária era não existir. Ninguém devia conhecer seus nomes e rostos. Ele viajava anônimo como o vento do deserto. O CRO poderia permanecer vivo apenas se ele permanecesse escondido. Por sua vez, Ibrahim viajava com vários cartões de crédito desconhecidos — dinheiro vivo, infelizmente, não era mais anônimo. A polícia temia os que usavam dinheiro vivo, e os revistavam rigorosamente. Ele tinha na sua casa passaportes em quantidade suficiente para satisfazer o Ministério de Relações Exteriores de um Estado-nação, cada um deles tendo custado uma fortuna e usado apenas algumas vezes antes de ser reduzido a cinzas. E ele se perguntava se mesmo isso seria precaução suficiente. Bastava apenas uma pessoa para o trair.
E as pessoas que podiam traí-lo eram precisamente aquelas em quem ele confiava absolutamente. Pensamentos como esse viravam e reviravam na mente. Bebeu um gole de café. Ele se preocupava até mesmo em falar enquanto dormia no avião em um voo transoceânico. Bastava apenas um deslize desses. Não era a morte o que ele temia — nenhum deles temia isso —, mas sim o fracasso.
Mas não eram os Sagrados Guerreiros de Alá aqueles que cumpriam as missões mais difíceis, e não seriam suas bênçãos proporcionais aos méritos? Ser lembrado. Ser respeitado por seus compatriotas. Conseguir lutar pela causa — mesmo que fizesse isso sem reconhecimento, compareceria diante de Alá com a paz em seu coração.
— Já temos a autorização final? — perguntou Ahmed.
— Ainda não. Espero que logo, mas ainda não. Quando nos separarmos aqui, não nos veremos mais até estarmos no país.
— E como vamos saber disso?
— Tenho um tio em Riad. Ele planeja comprar um carro novo. Se meu e-mail disser que se trata de um carro vermelho, esperamos; se for verde, passamos para a etapa seguinte. E assim, cinco dias depois desse e-mail, vamos nos encontrar em Caracas, como planejado, e depois fazer o restante da viagem de carro.
Shasif Hadi sorriu e deu de ombros.
— Então vamos todos orar para que seja um carro verde.
O escritório já contava com placas com seus nomes nas portas, notou Clark. Tanto ele quanto Chavez tinham escritórios de tamanho médio, adjacentes, com mesas, cadeiras giratórias, duas cadeiras para visitante em cada um e computadores pessoais, completos, com os manuais sobre como usá-los e como acessar todo tipo de arquivo.
Por sua parte, Clark foi bem rápido para dominar o sistema do seu computador. Em vinte minutos, para seu próprio espanto, já navegava pelo andar localizado no porão, sob rochas, do quartel-general da CIA em Langley.
Dez minutos depois:
— Puta merda — sussurrou.
— É mesmo — disse Chavez desde a porta. — O que você achou?
— É um compartimento para o nível de diretor. Acabei de navegar por ali. Jesus, isso me deixa entrar na porra quase toda.
Davis estava de volta.
— Vocês são rápidos. O sistema de computadores permite que tenham acesso a muita coisa. Não é exatamente tudo, só aos compartimentos maiores. É tudo que precisamos. A mesma coisa com Fort Meade. Temos uma abertura para quase tudo classificado como inteligência computacional. Vão ter que ler muita coisa para se atualizarem. A palavra-chave EMIR os levará a 23 compartimentos, que é tudo o que temos sobre nossa caça, inclusive um perfil terrivelmente bom; ou pelo menos é o que achamos. Está identificado como ESOPO.
— Sim, estou vendo isso aqui — respondeu Clark.
— Um sujeito chamado Pizniak, professor de psiquiatria da faculdade de medicina de Yale. Leiam tudo e vejam o que acham. De qualquer maneira, se precisarem de mim, sabem onde é a minha loja. Não receiem fazer perguntas. A única pergunta idiota é a que não é feita. Ah, aliás, a secretária pessoal de Gerry é Helen Conolly. Trabalha com ele há muito tempo. Ela não está, e repito, não está por dentro do que fazemos aqui. Gerry redige ele mesmo seus relatórios e coisas assim, mas neste nível de decisão geralmente fazemos tudo verbalmente. Aliás, John, ele me contou sobre sua ideia de reestruturação. Foi bom você ter lhe dito aquilo, pois me poupou de levantar o assunto.
Clark deu uma risadinha.
— Fico sempre contente em bancar o cara malvado.
Davis saiu, e os dois voltaram ao trabalho. Primeiro, Clark viu as fotos que tinham do Emir, que não eram muitas e estavam em má qualidade. Os olhos, percebeu, eram frios. Quase sem vida, como os de um tubarão. Nenhuma expressão neles. Isso não é interessante?, pensou Clark. Muita gente dizia que os sauditas eram um povo sem humor — como os alemães, mas sem o senso de humor era a frase usada por muitas pessoas —, porém essa não fora sua experiência lá.
Clark jamais conhecera um saudita ruim. Havia alguns que ele conhecia desde sua vida na CIA, pessoas com as quais aprendera a língua. Todos eram religiosos, parte da conservadora seita wahabita do islamismo sunita. Não muito diferentes dos batistas sulistas no que dizia respeito à integridade de sua devoção. Por ele, tudo bem quanto a isso. Uma vez estivera em uma mesquita e observara a prática da religião, com cuidado para permanecer sem ser notado no fundo — e havia sido em boa medida uma lição em linguagem, mas era evidente a sinceridade da crença religiosa. Conversara sobre religião com seus amigos sauditas e não achou nada neles que pudesse objetar. Era difícil fazer amigos íntimos entre o povo, mas um verdadeiro amigo saudita se colocaria diante de uma bala para protegê-lo. As regras de sua religião sobre coisas como hospitalidade eram realmente admiráveis. E o islamismo proibia o racismo, algo que infelizmente o cristianismo tinha deixado de lado.
Clark não sabia se o Emir era ou não um muçulmano devoto, mas certamente não era nenhum idiota, e o ESOPO deixava isso bem claro. Era naturalmente paciente, mas também capaz de ser muito resoluto na tomada de decisões. Uma combinação rara, pensou Clark, embora ele mesmo se comportasse assim. A paciência era uma virtude difícil de adquirir, ainda mais para um verdadeiro fiel em seja lá que causa tivesse escolhido como missão de vida.
O manual do seu computador tinha um diretório da biblioteca digitalizada interna da Agência, e também referências a partir da palavra-chave EMIR. Assim, Clark começou a navegar. Quanta coisa Langley teria sobre o sujeito? Que agentes de campo haviam trabalhado com ele? Que anedotas chegaram a relatar? Será que alguém tinha a chave para o caráter do cara?
Clark se sacudiu do devaneio e observou o relógio. Uma hora já havia passado.
— O tempo voa — murmurou, e pegou o telefone. Quando o outro lado respondeu, Clark disse: — Gerry, aqui é o John. Tem um minuto? Tom também, se estiver à mão.
Dois minutos mais tarde estava no escritório de Hendley. Tom Davis, caça-talentos do Campus, chegou um minuto depois.
— O que houve?
— Tenho um candidato, talvez — disse Clark, e então, antes que qualquer um dos dois pudesse fazer a pergunta óbvia, continuou: — Veio de Jack Ryan; o mais velho, quero dizer.
Isso atraiu a atenção de Hendley, que se inclinou na cadeira, mãos cruzadas sobre a almofada de anotações sobre a mesa.
— Prossiga.
— Não me pergunte como, porque não conheço todos os detalhes, mas há um Ranger, um veterano chamado Driscoll, que caiu na água quente. Os boatos dizem que Kealty quer fazer dele um exemplo.
— Em cima do quê?
— Uma missão no Hindu Kush. Matou um punhado de bandidos em uma caverna enquanto eles dormiam. Kealty e seu procurador-geral querem acusar Driscoll de assassinato.
— Deus do céu! — murmurou Tom Davis.
— Você conhece o sujeito? — perguntou Hendley.
Clark assentiu.
— Há uns dez anos, logo antes de começar a Rainbow, fiz um trabalhinho na Somália. Tinha uma equipe de Rangers fazendo a vigilância para mim. Driscoll era um deles. Ficamos em contato, tomamos uma cerveja de vez em quando. Sujeito sólido.
— Até onde já chegou esse assunto do procurador-geral?
— A investigação criminal do Exército está no caso. Investigação preliminar.
Hendley suspirou e coçou a cabeça.
— O que foi que Jack disse?
— Ele tinha suas razões para me contar. Sabe que estou aqui a bordo.
Hendley assentiu.
— Primeiro o mais importante: se isso está vindo da Casa Branca, Driscoll não vai se safar sem algum arranhão.
— Tenho certeza de que ele sabe disso.
— No melhor dos casos, vai para a reserva. Talvez fique com a pensão.
— Tenho certeza de que sabe disso, também.
— Onde ele está?
— Brooke Army Medical, lá em San Antonio. Ganhou uma lembrancinha no ombro durante a retirada.
— Coisa séria?
— Não sei.
— Muito bem, vá ter uma conversinha com ele. Veja como se sente. — Depois, para Davis: — Enquanto isso, Tom, abra uma pasta para Driscoll. Levantamento completo e tudo mais.
— Certo.
— Entre — disse Ben Margolin para Mary Pat. — Feche a porta.
Mais um dia no NCTC. Mais tráfego interceptado, mais pistas que poderiam levar a alguma coisa ou a coisa alguma. O volume era espantoso, e mesmo que isso não fosse novidade para nenhum deles, a maioria se preocupava achando que estava perdendo mais coisas do que captavam. Uma tecnologia melhor ajudaria, mas ninguém sabia quanto tempo ainda levaria para ter os novos sistemas instalados e funcionando. O fiasco do Trailblazer fez os poderes instituídos temerem outro fracasso, e então estavam fazendo testes de versões beta de tudo que havia naquela coisa. Enquanto isso, pensou Mary Pat, ela e o restante do NCTC se viravam, tentando manter o dedo no dique enquanto procuravam outras rachaduras.
Mary Pat fechou a porta como lhe mandaram e sentou diante da mesa de Margolin. Lá fora, o centro de operações zumbia de atividade.
— Liquidaram com a ideia de pedir ajuda externa — disse Margolin sem mais preâmbulos. — Não vamos usar nenhum dos agentes britânicos no Paquistão.
— Pelo amor de Deus. Por quê?
— Acima da minha competência, Mary Pat. Levei até onde pude, mas não consegui. Meu palpite: Iraque.
A mesma ideia ocorrera a Mary Pat antes mesmo que seu chefe dissesse a palavra. Com a pressão de seus cidadãos, o Reino Unido estava consistentemente se distanciando, tanto politicamente quanto na alocação de recursos de combate, da Guerra do Iraque. O boato era que, a despeito de seu tom conciliador em público, o presidente Kealty estava furioso com os britânicos, que o tinham, achava, deixado à mercê de uma queda iminente. Sem o apoio pelo menos nominal do Reino Unido, qualquer plano para retirar tropas americanas seria retardado, isso se já não corressem perigo. Pior ainda, a atitude de distanciamento dos britânicos tinha por sua vez encorajado o governo iraquiano, cujos pedidos pela retirada dos Estados Unidos haviam passado de educados e firmes para estridentes e agressivos, o que os cidadãos americanos não podiam deixar de notar. Primeiro, nosso aliado mais próximo, e depois, o próprio povo pelo qual tínhamos derramado nosso sangue para salvar. Depois de fazer sua campanha com a promessa de desentranhar os Estados Unidos do Iraque, Kealty estava descendo nas pesquisas, e alguns dos comentaristas da TV chegaram mesmo a acusar Kealty de suprimir a retirada para pressionar o Congresso, que ficara irresoluto diante de alguns dos projetos de estimação do novo presidente.
O fato de a solicitação de alistar os britânicos para seguir o ângulo do mapa de Peshawar ter sido negada não devia surpreender Mary Pat, veterana de mais pinimbas intergovernamentais de que conseguia se lembrar, mas foi o que aconteceu. Essa maldita caverna era a melhor pista que tiveram a respeito do paradeiro do Emir em anos. Ver isso escorrer pelos dedos por conta do que parecia ser um chilique presidencial a deixava furiosa. É claro que o fato de seu próprio DCI, Scott Kilborn, ser um banana, não ajudava nada.
Mary Pat sacudiu a cabeça e suspirou.
— É uma pena que Driscoll tenha perdido seus prisioneiros.
— Um tanto de inalação de água tende a soltar as línguas — disse Margolin.
Uma ideia popular, pensou Mary Pat, mas de pouca utilidade no mundo real. Ela não tinha pudores nem era nenhuma Poliana para achar que a tortura não tinha seus méritos, mas geralmente essas técnicas deixavam a desejar na produção de informação confiável e verificável. Na maioria das vezes, era uma perda de tempo. Durante e pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, o MI6 e o OSS conseguiram mais informações de generais alemães capturados durante um jogo de pingue-pongue ou de damas do que com alicates ou eletrodos.
O cenário tão falado do “tique-taque da bomba” era quase um mito. A maior parte das conspirações contra os Estados Unidos desde o 11 de Setembro haviam sido quebradas no berço, enquanto os bandidos estavam recrutando, movimentando dinheiro ou preparando a logística. A imagem de um terrorista com o dedo prestes a apertar um botão em algum lugar enquanto os bons rapazes tentavam extrair informação de algum compatriota dele era mais do que rara, era simplesmente uma invenção de Hollywood, e tinha tanta semelhança com o mundo real da inteligência quanto James Bond. De fato, em toda sua carreira, houvera apenas uma ocasião em que a situação de “tique-taque da bomba” aconteceu, e John Clark resolvera o caso em minutos ao quebrar alguns dedos e fazer as perguntas certas.
— Clichês são clichês por alguma razão — dissera-lhe Ed certa vez. — Porque são geralmente verdadeiros, as pessoas tendem a usá-los em demasia.
No que dizia respeito a Mary Pat, quando se tratava de interrogatórios, o clichê “pode-se pegar mais moscas com mel do que com vinagre” era o mais correto. A moralidade era apenas uma face na discussão de prós e contras. O que realmente importava era a eficácia. Faz-se o que for necessário para se conseguirem os melhores resultados. Ponto final.
— Então — disse ela a seu chefe —, de volta ao ponto de partida?
— Porra nenhuma. Aquele velho amigo do outro lado da poça que você mencionou... Dê uma ligadinha para ele, conversa informal.
Mary Pat sorriu, mas sacudiu a cabeça.
— Isso é o que chamam de matar o emprego, Ben.
Ele deu de ombros.
— Só se vive uma vez.
Melinda ficou agradavelmente surpresa ao vê-lo novamente. Ele a levara de carro para ver “John” na semana anterior. Pagara bem e não fizera nada abertamente pervertido, o que estava ótimo para ela, principalmente a parte monetária.
O sujeito — bem, ele estava bem-apresentável, ou o que passava por isso por ali. Não era comum para ela aparecer em público assim. Era uma garota de programa, não uma puta de rua, mas esse hotel tinha um restaurante particularmente agradável, e o maître a conhecia e gostava dela. Uma trepadinha grátis dava muitas vantagens para uma garota, e, verdade seja dita, ele era um cara decente, casado, como muitos de seus clientes e, portanto, confiável. Bem, quase confiável. Nunca se podia ter certeza, mas os homens na posição dele, que viviam por ali, geralmente conheciam as regras. E, se isso não funcionasse, ela ainda tinha sua Pequena Sra. Colt na bolsa.
Contato visual. Um sorriso de conhecedor. Era bonitinho, esse cafetão. Barba bem curta, como algo que Errol Flynn poderia exibir em um filme de pirata. Mas ela não era Olivia de Havilland. Era mais bonita, pensou Melinda, sem nem um traço de timidez. Dava duro para permanecer delgada. Os homens gostavam de mulheres cujas cinturas pudessem envolver com as mãos. Especialmente as que tinham belos peitos acima.
— Olá — disse ela com simpatia. Um sorriso que era simplesmente amigável no rosto, mas quem o recebia sabia que havia muito mais por trás dele.
— Boa noite, Melinda. Como você está nesta noite tão agradável?
— Muito bem, obrigada. — Um pouquinho de dentes aparecendo com o sorriso.
— Está ocupada esta noite?
— Não, agora não. — Mais dentes. — Mas nem sei seu nome.
— Ernest — respondeu ele com um sorriso gentil. O sujeito tinha certo charme, mas do tipo estrangeiro, pensou Melinda. Não europeu. De algum outro lugar. O inglês dele era bom, com um pouco de sotaque... Tinha aprendido inglês em algum outro lugar. Era isso. Aprendera bem... e o que mais? O que ele tinha de diferente? Ela se perguntou. Começou a catalogá-lo de modo mais completo. Magro, mais alto que ela, adoráveis olhos escuros, bem melancólicos. Mãos macias. Não trabalhava em construção. Mais tipo de quem mexia com dinheiro, esse Ernest, nome que certamente não era de nascimento. O olhar dele a avaliava. Ela estava acostumada com isso. Tipo Como será a trepada dela? Bem, ele tinha razões para saber que ela era muito boa. Seu patrão não havia se queixado, até pagara um extra. Sim, ela era mesmo boa. Melinda tinha muitos fregueses habituais, alguns dos quais conhecia pelo nome verdadeiro — ou pelo que eles diziam ser o nome verdadeiro. Ela dava nomes para seus clientes regulares, frequentemente relacionados com o tamanho de seus cacetes. Ou com a cor, nesse caso, pensou com um risinho abafado e um sorriso não reprimido que Ernest poderia guardar para si. Isso era algo que ela fazia quase instintivamente. De qualquer modo, já estava contando o dinheiro.
— Você gostaria de vir comigo? — perguntou ele, quase tímido. Os homens sabiam instintivamente, pelo menos os espertos, que a timidez é bem excitante para as mulheres.
— Gostaria sim. — E ser recatada também funcionava bem na outra direção. — Para ver seu amigo?
— Talvez. — O primeiro erro dele. Ernest não ficaria contrariado se provasse o produto ele mesmo. Ela podia ser uma puta suja, mas era boa amante, com muita prática no negócio, e os desejos dele eram os mesmos que os dos outros homens. — Por favor, você vem comigo?
— Certamente.
Foi um trajeto curto, para surpresa de Melinda. Um apartamento bem na cidade, num edifício de luxo com seu próprio estacionamento subterrâneo. “Ernest” desceu do carro e galantemente abriu a porta para ela. Foram até os elevadores, e ele apertou o botão. Ela não conhecia o edifício, mas a fachada era suficientemente característica para que se lembrasse. Então John tinha uma casa na cidade? Mais conveniente para ela, e para ele?, perguntou-se. Ou talvez ele se lembrasse agradavelmente dela. A sua experiência lhe dizia que isso acontecia com frequência.
“John” estava de pé na entrada da cozinha, segurando uma bela taça de vinho branco.
— Bem, olá, John, que surpresa agradável — saudou Melinda, com seu melhor sorriso. Era um sorriso particularmente competente, capaz de aquecer o fundo do coração de um homem, e também outros órgãos, é claro. Ela foi até ele, beijando-o suavemente antes de aceitar a taça oferecida. Depois um pequeno gole. — John, você tem um ótimo gosto para vinhos. Italiano?
— Pinot grigio — confirmou.
— Eles também têm a melhor cozinha.
— Seus ancestrais são italianos? — perguntou John.
— Húngaros — admitiu ela. — Fazemos boas massas, mas os italianos fazem a melhor vitela do mundo. — Outro beijinho de boas-vindas. John era meio estranho, mas beijava bem. — Como você tem passado?
— Viajar é um problemão para mim — confessou ele, falsamente naquele momento.
— Para onde você teve que ir? — perguntou Melinda.
— Paris.
— E gosta do vinho de lá?
— O italiano é melhor — respondeu, já um pouco chateado com a conversa. Ela não estava ali por seus dotes de conversação. Todas as mulheres tinham isso, mas os talentos de Melinda eram melhores em outras áreas. — Você está com um belo vestido.
Que posso tirar rapidamente, ela não disse. Escolhia suas roupas de trabalho com isso em mente. Alguns homens gostam das mulheres despidas, mas um número surpreendente gosta de dar uma rapidinha com as mulheres parcialmente vestidas: saia levantada, inclinada sobre uma mesa ou sofá, com sutiã, mas com os seios à mostra... John também gostava do sexo oral ajoelhado, e ela nem se importava com isso, desde que ele não se entusiasmasse demais.
— Apenas algo que joguei por cima — respondeu ela. — Mas que belo apartamento.
— É conveniente. Gosto da vista.
Melinda aproveitou a oportunidade para olhar a grande janela envidraçada. Ok, tudo bem. Agora ela sabia exatamente onde estava. Havia muitas pessoas nas ruas, pelo menos no que eles consideravam ruas por ali, meros caminhos para passar de um hotel de luxo para outro, para os que eram pães-duros e não gostavam de pegar um táxi. Nem eram bem calçadas, entretanto. Não se ganhava dinheiro com calçadas. John simplesmente ficou atrás e olhou para ela.
— Melinda, você é uma visão — disse com um sorriso. Era o tipo de sorriso com o qual ela estava acostumada, o sorriso de “vamos-trepar-logo”. Um sorriso aparentemente polido, mas no fundo cheio de tesão. Uma olhadinha abaixo da linha da cintura de John confirmou seu palpite.
Era o momento de ir até ele para outro beijo. Poderia ter sido pior.
— Hmmm — murmurou ela. Muito bem, hora de trabalhar, John. Seus braços a envolveram. Braços bem fortes, talvez para que ela soubesse que era propriedade dele. Os homens eram assim. Depois, gentilmente, ele a conduziu para o quarto.
Nossa, pensou ela. Seja lá quem tivesse decorado o quarto, sabia para que servia o apartamento. Provavelmente, não era a primeira decoração dele ou dela, disso Melinda tinha certeza, pelo detalhe da bela poltrona onde ela podia tirar a roupa. Ao pôr do sol teria sido uma porra de perfeição, pensou. Sentou-se e, antes de mais nada, tirou seus sapatos Manolo Blahnik. Apesar de serem bem bonitos, tirá-los era mais agradável do que colocá-los. Eram feitos para olhar, não para caminhar, e seus pés eram pequenos, de garota. Os homens sempre gostavam deles. O top tomara que caia saiu, foi colocado sobre a penteadeira, e ela se levantou. Nunca usava sutiã quando saía para trabalhar, e se sentia bem assim. Nada de caimento em seus seios tamanho 46, quase 48. Homens gostavam daquilo. Um momento depois, estava nua e se dirigia para ver John mais de perto.
— Posso ajudar? — perguntou. Os homens sempre gostavam que ela os despisse, especialmente se seu tom insinuasse um “me coma” urgente.
— Sim, por favor — respondeu John, com um sorriso sonhador. Seja lá de onde ele viesse, não estava acostumado com esse tipo de adoração. Bem, pagava caro para ter isso, que era uma das coisas em que ela era boa mesmo. Em um minuto, viu a razão pela qual se lembrava dele. Vermelho, um apelido perfeito. É claro, ela o beijou.
E, é claro, ele reagiu favoravelmente a isso. Pelo que pagava, ela queria que ele virasse cliente regular. Andava pensando em um carro novo. Uma BMW, ou talvez logo um Mercedes. Ele poderia ajudá-la com isso. Como na profissão, ela gostava de pagar em dinheiro. Bem, podia ser um cheque visado pelo carro certo. Um Mercedes-Benz Classe E, pensou. Gostava da solidez do carro alemão. Dava para se sentir segura dentro de um deles. Ela gostava de se sentir segura. Levantou-se.
— John, vai ser a noite toda? Isso custa mais, 2.500 dólares.
— Tanto assim? — perguntou ele, com um sorriso.
— Há um antigo ditado: você recebe pelo que paga.
— Esta noite não. Tenho que sair depois.
Você não passa as noites aqui?, pensou ela. Será que aqui é só seu matadouro? Ele devia ter uma tonelada de dinheiro para sair gastando assim. Só esse lugar devia ter custado 1 milhão, talvez 1,5 milhão. Se era do tipo que gostava tanto assim de sexo, ela realmente queria tê-lo como cliente regular. Os homens não gostavam de como as mulheres como ela os avaliavam, e muito menos que fossem a fundo nisso. Os homens eram tão idiotas, pensou Melinda, mesmo os ricos. Especialmente os ricos. Observou-o pegar um envelope, que entregou a ela.
Como sempre, Melinda abriu o envelope e contou as notas. Era importante que os homens soubessem que se tratava de uma transação de negócios, mesmo que fosse estimulado pelo melhor amor fingido que o dinheiro pudesse comprar. Vários deles haviam desejado que o relacionamento entre eles fosse mais que isso. Ela possuía um jeito extremamente charmoso de desviar essa conversa para outras direções.
O envelope foi para dentro da bolsa Gucci, do lado da Pequena Sra. Colt com cabo de madrepérola. Quando ela levantou, dava seu melhor sorriso. A parte dos negócios tinha acabado. Agora o amor podia começar.
41
Será que foi um erro?, perguntou-se o Emir. As coisas raramente eram perfeitamente claras nesse nível de responsabilidade operacional. O país-alvo era irrelevante, na verdade, mas o alvo em si tinha grande significado, ou significado potencial. Os efeitos do ataque se espalhariam como ondas em um lago, logo batendo nas margens do alvo real.
Entre todas as suas preocupações sobre a operação atual, nada havia em relação ao comandante no terreno. Ibrahim era ambicioso, mas também cuidadoso e minucioso, e mantinha sua equipe pequena e bem-organizada em todos os detalhes. Mas a verdade é que o verdadeiro teste aconteceria quando o plano se tornasse operacional, e essa era a decisão que ele enfrentava agora. A escolha do momento era tudo, assim como a habilidade de focar no “quadro geral”, como diziam os americanos. Havia uma quantidade de peças se movimentando pelo tabuleiro, e cada uma delas tinha que seguir na direção certa e no ritmo correto, para que nenhuma fosse surpreendida sozinha e sem apoio. Se isso acontecesse, o restante desabaria em seguida, e a Lótus entraria em colapso. E ele certamente morreria sem vê-la desabrochar. Caso ele movesse rápido demais, sua vida poderia terminar antes do florescimento. Se fosse muito devagar, o resultado seria o mesmo.
Assim ele deixaria Ibrahim continuar com seu reconhecimento do lugar, mas iria segurar a aprovação final para a operação até saber da disposição das outras peças.
E se Ibrahim tiver sucesso?, pensou. O que aconteceria então? Será que esse Kealty reagiria como esperavam? O perfil que tinha dele — codinome CASCADE — parecia dar a certeza disso, mas o Emir havia muito aprendera a desconfiar dos caprichos da mente humana.
CASCADE... “cascata”, um título adequado. Ele achava o nome e o conceito por trás bastante divertidos. Certamente as agências de inteligência do Ocidente também tinham perfis psicológicos dele — na verdade, ele já lera um —, de modo que achava muito interessante basear amplamente sua operação mais ambiciosa em um perfil feito por eles mesmo.
Kealty era um político consumado, o que na política americana era tido como sinônimo de líder. Como e quando começara essa bobagem ele não sabia. Nem se importava. O povo americano escolhia por conta própria o político que conseguia se retratar da maneira mais hábil como líder, jamais se perguntando se essa imagem combinava com o caráter por trás. CASCADE dizia que não, e o Emir concordava. Pior ainda — ou melhor ainda, dependendo da perspectiva —, Kealty havia se cercado de sicofantas e puxa-sacos que nada faziam para melhorar suas credenciais.
Então, o que acontecia quando um homem de caráter fraco se defronta com uma cascata de catástrofes? Ele se desintegra, é claro — e com ele, o país.
Tal como prometido, o barco fretado os esperava. O capitão, um pescador local chamado Pyotor Salychev, sentado em uma cadeira de jardim no final do cais de madeira deserto, fumava seu cachimbo. Balançando na água escura e fria estava uma traineira de 12 metros de boca, fabricada pelo estaleiro inglês Halmatic. Salychev resmungou quando se levantou.
— Está atrasado — disse, depois saiu do cais e entrou no convés.
— Tempo ruim — respondeu Adnan. — E você, está pronto?
— Se não estivesse, não estava aqui.
Durante suas primeiras negociações, Salychev fizera poucas perguntas sobre quem eram e por que queriam ir até a ilha, mas Adnan, fazendo o papel de ecologista fanático, dera várias dicas durante a conversa. Grupos de vigilância ecológica há muito iam até lá para documentar as destruições da Guerra Fria, respondeu Salychev, dando de ombros. Enquanto pagassem e não colocassem ele ou seu barco em risco, levava feliz da vida qualquer um até aquele lugar esquecido por Deus.
— Não é da minha conta a estupidez — dissera a Adnan.
— É menor do que eu pensava — disse Adnan, olhando o barco.
— Você esperava encontrar algum cruzador? O barco é suficientemente resistente. Uma das poucas coisas boas feitas pelos ingleses, esse Halmatic. Coloco na rota e ele dispara. Se preocupe com você mesmo. Então, vamos, desatracamos em dez minutos.
O restante dos homens de Adnan terminou de descarregar o equipamento do caminhão, depois se apressaram para o cais e começaram a carregar o barco, enquanto Salychev gritava ordens sobre onde e como colocar cada coisa no lugar certo. Depois de verificar que tudo estava em ordem, Salychev soltou as amarras, deu um empurrão no cais e soltou o Halmatic. Segundos depois, estava na casa do leme, ligando o motor. Com um bafo de fumaça negra saindo pelo escapamento, o motor a diesel rugiu e a água começou a fervilhar na proa.
— Próxima parada — gritou Salychev por cima do ombro —, inferno.
Duas horas mais tarde, o promontório do sul da ilha apareceu através da neblina na amurada de estibordo. Adnan estava parado no meio do convés, observando o litoral pelos binóculos. Salychev havia lhe assegurado de que as patrulhas militares não seriam problema, e Adnan não via nenhuma.
— Estão por aí — disse ele, da cabine do piloto —, mas não são muito brilhantes. Você pode acertar o relógio por eles. Mesmas rotas de patrulhamento, todos os dias na mesma hora.
— E quanto ao radar?
— Onde?
— Na ilha. Ouvi dizer que existe uma base aérea...
Salychev soltou uma risadinha.
— O quê, você está se referindo a Rogachevo? Na verdade, não existe mais. Não há dinheiro suficiente. Antes ali havia um regimento de caças, o 641º, acho, mas hoje em dia só há alguns aviões de carga e helicópteros. Quanto aos barcos-patrulha, eles têm uns instrumentos de navegação vagabundos e, como disse, são bem previsíveis. Quando estivermos perto da praia, já estaremos a salvo. Como você pode imaginar, eles querem manter distância.
Adnan podia perceber o motivo. Enquanto seus homens pouco sabiam sobre a natureza da missão, Adnan recebera instruções completas.
Novaya Zemlya era realmente um inferno na terra. Segundo o último censo, a ilha era o lar de 2.500 pessoas, a maioria das etnias nenets e avars, que moravam na comunidade de Belushya Guba. A ilha propriamente dita na verdade eram duas — Severny ao norte, e Yuzhny ao sul —, as duas separadas pelo estrito de Matochkin.
Era realmente uma pena, pensou Adnan, que o mundo inteiro só lembrasse de Novaya Zemlya por sua história na Guerra Fria. Os russos e os europeus a conheciam desde o século XI, inicialmente pelos mercadores de Novgorod, depois por uma corrente contínua de exploradores — Willoughby, Barents, Liitke, Hudson... Todos a visitaram centenas de anos antes de a ilha ser anexada pelos soviéticos em 1954, rebatizada de Campo de Testes de Novaya Zemlya, e dividida em zonas: A, Chyornaya Guba; B, Matochkin Shar; e C, Sukhoy Nos, onde a bomba de 50 megatons chamada de Bomba Tsar foi detonada em 1961.
Enquanto funcionou, Novaya Zemlya foi o local de mais de trezentas explosões nucleares, a última das quais em 1990. Desde então, o lugar se tornara muitas coisas para muitas pessoas — uma curiosidade, uma tragédia, uma recordação sombria... Mas para o governo russo carente de dinheiro, a ilha se transformara numa lixeira, um lugar onde abandonavam suas abominações.
Como era mesmo a frase americana?, perguntou-se Adnan. Ah, sim... O lixo de um é o tesouro de outro.
Eles estavam interessados na nova linha, percebeu Cassiano. Onde cruzava as estradas, quantos pilares de suporte por quilômetro... Um pedido interessante, e é claro que ele faria o melhor possível para conseguir a informação.
Também estavam interessados em trens, o que o intrigava. Era verdade que os trens entravam e saíam diariamente, mas sua entrada nas instalações era estritamente limitada e monitorada. Se buscassem acesso à instalação, havia modos mais fáceis. Talvez essa fosse a resposta. Não estavam interessados nos trens como meio de infiltração, mas sim como instrumentos de medição. A produção da instalação era um segredo bem-guardado, mas, se os trens que entravam e saíam fossem monitorados e suas especificações conhecidas, podia-se fazer uma boa avaliação sobre os níveis de produção.
Bem esperto, pensou. E batia com o que conhecia sobre seus novos empregadores. A competição era uma coisa saudável, disseram-lhe, e nada podia ser feito sobre campos de petróleo recém-descobertos. O que podia ser controlado, entretanto, eram os preços e a capacidade de produção, que era o que ele suspeitava que seus empregadores pretendiam fazer. As nações da OPEP (nações islâmicas) haviam sido as maiores produtoras de petróleo por décadas e décadas, e se Cassiano pudesse ajudar a manter essa supremacia, faria isso com felicidade.
42
Em retrospectiva, Jenkins compreendeu que devia ter percebido a coisa, essa “promoção” que de fato não era mais que um enorme pé no saco. A instalação recebia visitas regulares de uma pletora de agências governamentais e seus funcionários, desde a Agência de Proteção Ambiental e de Segurança Interior ao Serviço Geológico dos Estados Unidos e o do Corpo de Engenheiros do Exército, todos os quais até então eram representados por um porta-voz do Departamento de Energia. A disputa recém-aquecida em Washington sobre o futuro da instalação havia mudado tudo isso, e parecia que todos os políticos ou burocratas que sabiam o caminho estavam indo até lá, armados com perguntas especulativas geradas pelas equipes de assessores mal pagos e com um profundo desejo de compreender todas as nuances da instalação.
— O que eles querem, Steve — dissera seu chefe —, é dar uma olhadinha por trás da cortina, e você é suficientemente grosseiro para fazê-los pensar que estão conseguindo isso.
Apesar do elogio disfarçado, Steve tinha que admitir que conhecia a instalação por dentro e por fora, e de trás para a frente, considerando que começara a trabalhar três anos depois de sair da faculdade, o que significava, na contagem de tempo de vida do projeto, 19 anos depois que o lugar fora identificado inicialmente como possível candidato, juntamente com dez outros em seis estados; 12 anos após ser designado para estudos de “caracterização local”; e dez anos depois de ter sido coroado vencedor do concurso de beleza. Ele trabalhara neste pedaço não tão pequeno do deserto pela maior parte de sua vida adulta, e ao custo atual de 11 bilhões de dólares, era um dos pedaços de terra mais estudados do mundo. E, dependendo de quem ganhasse a parada em Washington, esses 11 bilhões poderiam ser contabilizados como perdas. Como é que se podia fazer isso?, perguntava-se. Em que coluna da contabilidade federal cabia essa soma?
Completar o projeto havia se tornado uma questão de honra para os novecentos e tantos membros da equipe, e, apesar de variar a opinião de empregado para empregado sobre se desejavam viver ali perto, o investimento coletivo no sucesso era enorme. Ainda que tivesse apenas 37 anos, Steve era considerado um dos veteranos do projeto, juntamente com cerca de uma centena de outros que estavam ali desde que ele se transformara de um rascunho em um pedaço de papel a um empreendimento posto em prática. Infelizmente, ele não podia falar para ninguém muita coisa sobre o que fazia, uma restrição a que não dava importância até conhecer Allison. Ela era intensa e autenticamente interessada no que ele fazia, sobre como passava seus dias, um traço inexistente nas duas namoradas anteriores. Deus, como ele tinha sorte. Descobrir uma mulher como ela, e tê-la atraída por ele... E o sexo. Deus dos céus, ele sabia que sua experiência era um tanto limitada, mas as coisas que ela fazia com ele, com as mãos, com a boca... Todas as vezes que estavam juntos, ele se sentia como se estivesse em uma carta de sacanagem do fórum da Penthouse.
Seus pensamentos foram interrompidos por uma indiscreta nuvem de poeira aparecendo no alto da colina em frente à entrada principal do túnel, indicando aproximação de veículos. Sessenta segundos depois, dois Chevy Suburbans negros apareceram na estrada norte e pararam no estacionamento. O trabalho vespertino tinha sido interrompido, e todos os caminhões e pallets com equipamentos haviam sido levados para o perímetro da área. Os Suburbans diminuíram a velocidade e pararam a cerca de 15 metros de distância, com os motores em ponto morto. Nenhuma das portas se abriu, e Steve imaginou os ocupantes temendo deixar o interior com ar-condicionado. E nem estava calor, pensou, não o calor do verão, pelo menos. Engraçado como as delegações de visitantes como essa tendiam a desaparecer entre junho e agosto.
Então as portas se abriram e dos carros saíram dez assessores enviados pelos respectivos governadores. Dois para cada um dos estados limítrofes. Já tendo enrolado as mangas das camisas e afrouxado as gravatas, o grupo ficou um instante parado, piscando e olhando ao redor, antes de ver Steve acenando o braço. Todos foram até ele e se reuniram em semicírculo.
— Boa tarde e bem-vindos — disse. — Meu nome é Steve Jenkins, e sou um dos engenheiros seniores do local. Farei o melhor possível para decorar o nome de todos antes de terminarmos, mas, por enquanto, peço para que vocês mesmos encontrem seus crachás de visitantes.
Segurou uma caixa de sapatos e, um a um, cada delegado avançou e descobriu seu crachá.
— Só um par de lembretes antes de sairmos do calor. Vou passar a vocês folhas com informações que devem cobrir tudo sobre o que vamos conversar nesta tarde, e tudo que tenho permissão para lhes contar.
Isso foi recebido com algumas risadas abafadas. Steve relaxou um pouco. Poderia não ser tão ruim assim.
— Dito isso, peço que não façam anotações, seja em papel seja nos seus palmtops. O mesmo vale para gravadores e câmeras.
— Por quê? — perguntou uma das delegadas, uma loura tipo californiana. — Há um monte de fotos na internet.
— É verdade, mas apenas as que queremos que estejam lá — respondeu Steve. — Acreditem, se eu puder responder a uma pergunta, responderei. Nosso objetivo é dar a vocês o máximo de informações que pudermos. Uma última coisa antes de entrarmos. Esse treco aí ao lado que parece parte lançador de foguetes, parte trailer e parte oleoduto é a nossa tuneladora, afetuosamente conhecida como Tatuzão. Para os que adoram fatos e números, o Tatuzão tem 140 metros de comprimento e 7,5 de largura, pesa 700 toneladas e pode perfurar até 5,5 metros de rocha sólida por hora. Para colocar em perspectiva, isso equivale mais ou menos ao comprimento de um dos Suburbans nos quais vieram até aqui.
Houve murmúrios apreciativos e risinhos na delegação.
— Muito bem, se me seguirem até a entrada do túnel, podemos começar.
— Estamos agora dentro do que chamamos de Instalações de Estudos Exploratórios — disse Jenkins. — Tem a forma de uma ferradura, com cerca de 8 quilômetros de comprimento e 8 metros de largura. Em vários lugares do IEE construímos alcovas do tamanho de celeiros, nas quais guardamos equipamentos e fazemos experiências, e há seis semanas completamos o primeiro deslocamento de posicionamento.
— Que é o quê?
— Trata-se essencialmente de onde os depósitos serão guardados quando e se a instalação entrar em atividade. Vocês verão a entrada do deslocamento dentro de poucos minutos.
— Não vamos entrar?
— Não, receio que não. Ainda estamos fazendo testes para ter certeza da estabilidade.
Isso era um enorme eufemismo, é claro. A escavação do deslocamento de posicionamento levara relativamente pouco tempo. Mas os testes e a experimentação levariam entre mais nove meses a um ano.
— Vamos falar um pouco de geografia — continuou Steve. — O sulco acima de nós se formou há uns 13 milhões de anos por um agora extinto vulcão de caldeira, e é composto por camadas alternadas de rochedo chamados de tufo soldado, também conhecido como “ignimbrito”, tufo não soldado e tufo semissoldado.
A mão de alguém se levantou.
— Ouvi direito o que você disse? Falou em “vulcão”?
— Sim. Mas extinto há muito tempo.
— Mas já tiveram terremotos aqui, certo?
— Sim, dois. Um medindo 5 na escala de Richter e outro medindo 4,4. O primeiro causou alguns danos menores nos edifícios na superfície, mas nem uma rachadura aqui embaixo. Eu estava aqui, bem aqui, nas duas ocasiões. Mal senti alguma coisa.
Havia, de fato, 39 falhas de terremotos e sete vulcões recentes em vários estágios de atividade no deserto que circundava a instalação. Isso estava na folha de informações que ele havia entregado, mas, se ninguém tocasse no assunto, certamente não era ele quem faria isso. Quando as pessoas ouviam as palavras vulcão e falha, seus cérebros tendiam a voltar ao estágio do homem das cavernas.
— A verdade é que — continuou Steve — esse pedaço em particular de geologia é estudado por quase 25 anos, e há montanhas de evidências de que os três tipos de terrenos aqui são perfeitamente aptos para o armazenamento de resíduos nucleares.
— Quanto de resíduo, exatamente?
— Bem, essa é uma das perguntas que não estou autorizado a responder.
— Por ordem de quem?
— Pode escolher, Segurança Nacional, FBI, Departamento de Defesa... Basta dizer que essa instalação será o depósito primário de combustível nuclear usado.
A melhor estimativa colocava a capacidade máxima da instalação por volta de 135 mil toneladas métricas, com parte disso degradando para níveis “seguros” em décadas e partes permanecendo potencialmente letais por milhões de anos. O modelo favorito do lixo nuclear, o mais frequentemente citado pelos jornalistas — o plutônio-239, que tinha meia-vida de cerca de 25 mil anos —, estava longe de ser o que permanecia por mais tempo, sabia Steve. O urânio-235, usado tanto em reatores quanto em armas, tinha meia-vida de 704 milhões anos.
— Por que meios o lixo será transportado? — perguntou um dos delegados do Oregon.
— Por ferrovia e caminhões, ambos especialmente projetados para a tarefa.
— O que eu queria dizer era que suponho que não estamos falando de tambores de 55 galões.
— Não, senhor. Pode ver as informações detalhadas no material que entreguei, mas já vi essas coisas de perto e acompanhei os testes de estresse que são aplicados. São o mais perto de indestrutível a que já se conseguiu chegar.
— Disseram o mesmo sobre o Titanic.
— Tenho certeza de que a General Atomics lembrou disso muito bem enquanto desenvolvia essas coisas nos últimos dez ou 12 anos.
— E como é a segurança, Sr. Jenkins?
— Se a instalação entrar em funcionamento, a segurança primária será manejada pelas Forças de Proteção da Administração Nacional de Segurança Nuclear, a NNSA. É claro que haverá... forças suplementares de rápida mobilização, caso aconteça uma emergência.
— Que tipo de forças suplementares?
Steve sorriu.
— Do tipo que provoca pesadelos nos bandidos.
Mais risadas.
— Muito bem, vamos passar para o que vocês todos vieram ver. Se subirem nesses carrinhos nos trilhos, podemos prosseguir.
A viagem durou 15 minutos, mas perguntas frequentes fizeram o comboio parar. Finalmente diminuíram a velocidade ao lado da abertura do túnel principal. Os delegados desceram e se reuniram ao redor de Steve na entrada.
— O poço que estão vendo na direção do fundo tem 180 metros de comprimento e se liga ao deslocamento de posicionamento, que é uma grade de túneis menores que, por sua vez, levam a grandes áreas de depósito de lixo atômico.
— Como o lixo sai do trem ou do caminhão até o nível do depósito? — perguntou um dos assessores de Utah. — Permanece no recipiente de transporte?
— Desculpe, mas isso também é área ultrassecreta. O que posso dizer é como o lixo será guardado lá embaixo. Cada “pacote” será enfiado em dois recipientes aninhados, um feito com quase 2 centímetros de um metal resistente à alta corrosão chamado de Liga 22, depois um segundo recipiente com 5 centímetros de espessura feito com algo chamado 316NG, composto essencialmente por aço inoxidável de grau nuclear. Abrigando os recipientes aninhados haverá um escudo de titânio projetado para protegê-los de vazamentos e da queda de rochedos.
— E isso é algo que preocupa vocês?
Steve sorriu.
— Os engenheiros não se preocupam. Nós planejamos. Tentamos modelar todos os cenários possíveis e planejar para isso. Esses três componentes, os dois recipientes aninhados e o escudo de titânio, formam o que chamamos de “defesa em profundidade”. Os pacotes serão armazenados horizontalmente e combinados com diferentes graus de lixo, de modo que cada câmara manterá uma temperatura constante.
— E qual será o tamanho desses pacotes?
— Cerca de 2 metros de diâmetro e com o comprimento variando entre 3,5 a 5,5 metros.
— O que acontece se os pacotes forem... colocados fora do lugar? — perguntou o outro candidato da Califórnia.
— Não poderia acontecer. A quantidade de requerimentos envolvidos para a movimentação de um pacote e as pessoas de controle tornam isso virtualmente impossível. Pensem assim: todos nós temos chaves dos nossos carros, certo? Imaginem uma família de oito pessoas. Cada pessoa da família teria um conjunto duplicado de chaves; três vezes por dia, cada pessoa teria que assinar um formulário declarando que as chaves estão ou em sua posse ou colocadas em um lugar predeterminado; três vezes por dia cada pessoa teria que verificar se suas cópias da chave realmente funcionam nas portas e na ignição do carro; e finalmente, três vezes por dia cada pessoa teria que verificar com cada um dos outros membros da família e se certificar de que essa pessoa teria feito todos os passos acima mencionados. Começaram a entender o quadro?
Assentimentos ao redor.
— E tudo isso aconteceria a cada turno de todos os dias do ano. E teria uma supervisão do processo por computador. Prometo a vocês, com a mesma certeza de que o sol nascerá amanhã, que nada vai ser colocado fora do lugar nesta instalação.
— Fale conosco sobre corrosão, Sr. Jenkins.
— Nossos testes de corrosão são feitos na ITCLPL. Desculpe, na Instalação de Teste de Corrosão a Longo Prazo Livermore.
— No Laboratório Nacional Lawrence Livermore?
Obrigado pela deixa, pensou Jenkins, mas não falou. Lawrence Livermore era um nome familiar, e, apesar de a maioria das pessoas não poder nem dizer exatamente o que se fazia lá, o LNLL era tido em alto conceito. Assim, se Lawrence Livermore estava na jogada, para que se preocupar?
— Certo — disse. — O processo de testes envolve amostras de envelhecimento e de pressão dos metais chamadas de “cupões”. Neste momento eles testam 18 mil cupões representando 14 diferentes ligas de metal em soluções comuns a esta área. Por enquanto, o índice de corrosão dos cupões é de 20 nanômetros por ano. Um cabelo humano é 5 mil vezes mais espesso que isso. Com esse índice, a Liga 22 usada nos recipientes aninhados deve aguentar por cerca de 100 mil anos.
— Impressionante — disse um homem com chapéu de caubói, um dos delegados de Idaho, supôs Jenkins. — E que tal falarmos sobre os piores cenários. E se alguma coisa vaza e começa a filtrar pelo solo.
— As chances disso são...
— Vamos, nos conte.
— Antes de mais nada, precisam saber que o lençol freático por baixo de nossos pés é incomumente profundo, correndo a uma média de 450 metros, o que daria 335 metros abaixo do deslocamento de posicionamento.
Esse era outro ponto de debate acirrado, sabia Steve. Embora o que havia acabado de dizer aos delegados fosse verdade, alguns dos cientistas do projeto estavam pressionando para deslocamentos e posicionamentos mais profundos — alguns a 100 metros abaixo do atual. A verdade é que não havia uma resposta firme sobre a questão da filtragem. A rapidez com que vários líquidos vazariam pela rocha abaixo da instalação era desconhecida, tal como os efeitos que um terremoto poderia ter nos índices de filtragem. Mas, lembrou a si mesmo, pelas melhores estimativas, as chances de um terremoto catastrófico afetar os níveis de armazenamento eram de 1 em 70 milhões.
Se alguma coisa fosse assinalar um inevitável tocar de sinos fúnebres para a instalação, seria a natureza do lençol freático. Até dez meses antes, a crença geral era de que a área abaixo da instalação era o que se conhecia como bacia hidrológica fechada, uma formação que produzia água para dentro de si mesma e não oferecia saídas nem para os oceanos nem para os rios. Duas pesquisas exaustivas, uma pela Agência de Proteção Ambiental e outra pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, estavam agora contradizendo essa crença. Se fossem precisas, o aquífero podia se estender até a Costa Oeste e o golfo da Califórnia. Até que a disputa fosse resolvida, entretanto, as ordens de Steve eram claras: o modelo de bacia hidrológica fechada era o padrão-ouro.
Então ele disse:
— Para que resíduos começassem a vazar na rocha, dúzias de sistemas e subsistemas, tanto humanos quanto computadorizados, teriam que falhar. E temos que colocar isto em perspectiva: comparados com os protocolos de segurança com os quais esta instalação irá funcionar, entrar sorrateiramente em um silo de ICBM e disparar um míssil seria um passeio no parque.
— Alguns desses materiais são físseis?
— Você pergunta se podem explodir?
— Sim.
— Bem, seria necessário alguém com vários Ph.D para explicar as razões, mas a resposta é não.
— Digamos que alguém conseguisse sorrateiramente passar pela segurança e descer até o nível de armazenamento com uma bomba...
— Por “alguém”, suponho que esteja se referindo ao Super-Homem ou ao Incrível Hulk?
Isso provocou uma risada geral.
— Certo, por que não? Vamos supor que conseguisse. Que tipo de danos poderia provocar?
Steve sacudiu a cabeça.
— Desculpe aguar seu leite, mas só a logística disso tornaria a façanha terrivelmente improvável. Antes de mais nada, vocês viram que este túnel diagonal tem 3 metros de largura. A quantidade de explosivos convencionais necessários para provocar algum dano significativo nos níveis de armazenamento não caberia em um caminhão de mudanças.
— E explosivos não convencionais? — perguntou o delegado de Idaho.
Então, pensou Steve, teríamos um problema.
43
— Muito bem, pessoal, é hora de acelerar o jogo — anunciou Gerry Hendley quando entrou na sala de conferências e achou uma cadeira.
Era mais uma manhã no Campus, e a mesa de conferências estava arrumada com cafeteiras ferventes e bandejas com biscoitos e rosquinhas doces. Jack se serviu uma xícara de café, agarrou um bagel de trigo integral — sem cream cheese — e achou um lugar vazio à mesa. Estavam também presentes Jerry Rounds, chefe de análise/inteligência, Sam Granger, chefe de operações, Clark e Chavez, e os irmãos Caruso.
— A hora é de fazermos uma abordagem focada. A partir de agora, todas as pessoas nesta sala não têm mais nada a ver com qualquer coisa que não seja o Emir e o Conselho Revolucionário Omíada, salvo eu, Sam e, é claro, Jerry. Também vamos manter as luzes acesas e as rosquinhas fresquinhas, mas o restante de vocês pode começar a transferir outras responsabilidades de trabalho. Vamos viver, respirar e comer o Emir 24 horas por dia até ele ser capturado ou morto.
— Oba! — disse Brian Caruso, provocando uma risada geral.
— Com esse objetivo, demos ao grupo um nome adequado: Kingfisher, o martim-pescador. O Emir acha que é uma espécie de rei; ótimo. Vamos pescá-lo. De agora em diante, este é o lugar de trabalho de vocês, e a porta de todos ficará sempre aberta, inclusive a minha, a de Sam e a de Jerry.
Puta merda, pensou Jack. De onde veio isso?
— Comecemos pelo começo. Dom e Brian andaram seguindo pistas na Suécia — disse Hendley, e depois recontou a descoberta de Jack da interceptação do DHS/FBI sobre a Hlasek Air. — Vamos continuar puxando essa meada, mas até agora nada apareceu. O mecânico se entregou à polícia nacional sueca, mas não tinha nada para contar. Pagamento em dinheiro por um trabalhinho em um transponder e um voo fretado cheio do que talvez fossem pessoas do Oriente Médio.
“Kingfisher — continuou Hendley. — Se tiverem alguma ideia, contem a alguém. Se quiserem experimentar alguma coisa nova, perguntem. Se apenas quiserem trocar ideias ou jogar o jogo do ‘se’, reúnam-se e façam isso. As únicas perguntas idiotas são as que não são feitas. Vamos nos manter orgânicos, pessoal. Esqueçam o modo como trabalhamos antes e comecem a pensar de forma diferente. Podem apostar o rabo de vocês que o Emir faz isso. Então: perguntas?”
— Sim — disse Dominic Caruso. — Por que a mudança?
— Recentemente recebi alguns bons conselhos.
Jack viu Hendley relancear quase imperceptivelmente para John Clark, e então a coisa fez sentido.
— Somos uma equipe muito pequena para funcionar com burocracia — acrescentou Jerry Rounds. — Nós três vamos nos revezar por aqui regularmente para certificar se continuamos nos trilhos, mas a questão final é essa: o Emir é um sujeito extraordinário, e temos que mudar nossas tácticas para corresponder a isso.
— O que isso significa para o lado operacional da coisa? — perguntou Chavez.
Sam Granger respondeu:
— Mais ação, esperamos. Boa parte do que formos produzindo não vai ser verificável hipoteticamente. Isso significa sair em campo e seguir as pistas. Muita coisa vai ser rotineira, mas tudo soma. Não me entendam errado, todos nós adoramos marcar pontos, mas não tropeçando e caindo de bunda. É preciso trabalhar para isso.
— E quando começamos? — perguntou Jack.
— Agora mesmo — respondeu Hendley. — O primeiro ponto é ter certeza de que estamos todos sintonizados. Vamos expor o que sabemos, do que suspeitamos e o que ainda temos que descobrir. — Consultou o relógio. — Vamos parar para o almoço, e depois nos encontramos aqui outra vez.
Jack enfiou a cabeça dentro do escritório de Clark.
— Não sei o que você fez, John, mas com certeza chamou atenção de Hendley.
Clark meneou a cabeça.
— Não fiz nada mais que dar um empurrão no rumo por onde ele já estava seguindo. É esperto. Ia acabar percebendo a coisa. Vamos, entre. Tem um minutinho?
— Claro. — Jack se sentou do outro lado da mesa.
— Ouvi dizer que você quer meter a mão na massa.
— O quê? Ah, sim. Ele contou para você, não foi?
— Pediu que o treinasse.
— Bem, para mim isso é ótimo. Mais que ótimo, aliás.
— Por que você quer fazer isso, Jack?
— Hendley não lhe disse...
— Quero ouvir da sua boca.
Jack se mexeu na cadeira.
— John, fico aqui sentado o dia inteiro, lendo o tráfego, tentando tirar um sentido de informações que podem ser alguma coisa ou nada, e sim, sei que isso é importante e tem que ser feito, mas eu quero fazer algo, sabe?
Clark assentiu.
— Como MoHa.
— Sim, tipo isso.
— Nem sempre é assim tão limpo.
— Sei disso.
— Sabe mesmo? Já fiz isso, Jack, cara a cara e corpo a corpo. Na maioria das vezes a coisa é feia e suja, e você nunca esquece. Os rostos vão sumindo, assim como o lugar e as circunstâncias, mas o ato, o fato em si, fica preso em você. Se não estiver preparado para lidar com isso, a coisa pode devorá-lo.
Jack respirou fundo, olhos no assoalho. Será que estava pronto? Ele sentia a verdade do que Clark dizia, mas naquele momento era uma abstração. Sabia que a coisa não era como nos filmes, ou nos romances, mas saber o que algo não era parecia inútil, como descrever a cor vermelha dizendo que não era azul. Sem pontos de referência, ou quase sem pontos de referência, ele fez questão de se lembrar. Houvera MoHa.
Como se lesse sua mente, Clark disse:
— E não se engane: MoHa foi uma anomalia, Jack. Você caiu naquilo, não teve nem chance de pensar a respeito, e tinha certeza de que o sujeito era bandido. Nem sempre é assim tão claro. De fato, raramente é assim. Você tem que ficar à vontade com a incerteza. Pode fazer isso?
— Para dizer a verdade, John, não sei. Não posso lhe dar uma resposta. Sei que não é a resposta certa, mas...
— Na verdade, essa é exatamente a resposta certa.
— Hã?
— Quando eu passei pelo processo de seleção na BUD/s, a Escola Básica de Demolição Submarina, todo mundo tinha que ser entrevistado por um psicólogo. Estava no saguão, esperando, e um amigo meu saiu do consultório. Perguntei a ele como tinha sido. Ele disse que o doutor havia perguntado se ele achava que podia matar um homem. Meu amigo, ansioso para mostrar coragem, disse “Claro que sim”. Quando chegou minha vez e o doutor me fez a mesma pergunta, eu falei que achava que sim, mas não tinha cem por cento de certeza. Um de nós entrou, o outro não.
Que coisa, pensou Jack. Imaginar John Clark como um recruta imberbe em vez de um sujeito que parecia um deus das operações especiais era um conceito difícil de realizar. Mas todo mundo precisa começar em algum momento.
Clark continuou:
— Se você me mostrar alguém que responde “Claro que sim” para esse tipo de pergunta, eu digo que o cara é um maluco, um mentiroso ou alguém que não pensou bastante sobre o assunto. E digo mais. Pergunte qualquer hora aí a Ding. Na primeira vez que ele teve que liquidar alguém, a coisa ia mal até o momento em que apertou o gatilho. Ele sabia que podia fazer aquilo, e tinha 95 por cento de certeza de que faria, mas até disparar o percussor ainda havia a vozinha na cabeça.
— E quanto a você?
— A mesma coisa.
— Difícil de acreditar — respondeu Jack.
— Pois acredite.
— Então, o que você me diz? Devo ficar com meu teclado e o monitor do computador?
— A escolha é sua. Só queria ter certeza de que está com a cabeça certa quanto a isso. Se não, você se torna um perigo para você mesmo e para todos os demais.
— Muito bem.
— Mais uma coisa. Quero que você considere contar para seu pai.
— Jesus, está brincando...
— Não, não estou não. Vou manter o segredo, Jack, porque você é adulto e a escolha é sua, mas acho que já é hora de assumir o que você é, e não vai poder fazer isso enquanto estiver com medo de ficar diante dele. Até então, você ainda não assumiu seu próprio papel.
— Você não pega leve mesmo, não é?
Clark sorriu.
— Recentemente, ando ouvindo isso muitas vezes. — Deu uma olhada no relógio. — Já é quase hora de voltarmos. Pense mais um dia sobre o assunto, sobre os dois assuntos. Se ainda quiser ir, eu ensino o que puder.
O contato de Mary Pat na Legolândia — a sede do Serviço Secreto de Inteligência Britânico em Vauxhall Cross, nas margens do Tâmisa, era coloquialmente conhecida como Legolândia ou Babilônia, em razão da arquitetura achatada, como se fosse um zigurate — havia lhe dado apenas um nome em resposta à sua pergunta. Nigel Embling, disseram-lhe, era um veterano já aposentado dos “istão”, e tinha esquecido mais do que a maioria das pessoas sabia sobre a região. Mary Pat supunha que os britânicos possuíam agentes ativos por lá, mas, se Embling era ou não um desses, ela não tinha como ter certeza. Provavelmente não. Seu contato da linha dos fundos deixara claro que ela estava ligeiramente fora do prumo, caso em que os chefões do SIS não o olhariam com a menor simpatia se ele lhe desse um agente autêntico.
É claro que ter um contato era apenas metade da batalha. Embling era um homem mais velho que já havia deixado para trás seus tempos de trabalho de campo, o que significava que era preciso colocar alguém em campo para andar com ele. Mary Pat nem teve que pensar muito sobre quem poderia ser. Dois nomes imediatamente lhe vieram à mente, e, se a fofoca fosse verdadeira, esses indivíduos em particular poderiam ter interesse em um trabalhinho sob contrato. O NCTC tinha alguns fundos que podiam usar à vontade, e ela e Ben Margolin concordaram que esse seria um gasto que valia a pena.
Só foram necessárias duas ligações para confirmar o boato e outras duas para conseguir um número de telefone em uso.
O celular de Clark, enfiado na gaveta de cima de sua mesa, tocou uma vez, e depois outra. Ele agarrou a atendeu no terceiro toque.
— Alô.
— John, aqui é Mary Pat Foley.
— Olá, Mary Pat, você estava na minha lista de pendências.
— Como assim?
— Eu e Ding saímos recentemente da Rainbow. Queria dar um alô.
— Que tal fazer isso pessoalmente? Tenho algo para conversar com você.
O radar interno de Clark ligou.
— Claro. Quando e onde?
— Logo que for possível.
Clark olhou o relógio.
— Posso sair para almoçar agora mesmo.
— Ótimo. Você conhece o Huck’s em Gainesville?
— Sim, logo na saída da Linton Hall Road.
— Esse mesmo. Encontro você lá.
Clark desligou o computador e foi até a sala de Sam Granger. Relatou a ligação para o chefe de operações do Campus.
— Acho que não se trata de um almoço social — disse Granger.
— Duvido. Ela estava com a voz de quem está no jogo.
— Ela sabe que você está saindo da Agência?
— Pouca coisa escapa de Mary Pat.
Granger considerou o assunto.
— Muito bem. Me avise quando voltar.
Clark já havia passado pelo Huck’s, mas nunca tinha entrado. Disseram a ele que ali havia as melhores tortas da Virgínia. Pela fachada não dá para perceber isso, pensou enquanto estacionava na diagonal diante do restaurante. Duas grandes janelas de vidro ao lado de uma única porta protegida por um toldo vermelho e branco desbotado. Uma luz neon na vitrine piscava “ucks”. Mau presságio?, pensou Clark. Provavelmente não.
A verdade é que ele só tinha boas lembranças de Gainesville, tendo passado muitas horas caminhando por suas ruas, ensinando agentes de campo da CIA técnicas de vigilância e contravigilância. Não era possível aprender tudo nas salas de aula do Camp Perry. Sem conhecimento dos cidadãos de Gainesville e de uma dúzia de outras cidades de Maryland e da Virgínia, a qualquer hora suas ruas eram atravessadas por espiões brincando de permanecer vivos antes de ter que fazer isso no mundo lá fora.
Ele empurrou a porta e viu Mary Pat sentada em um banco do balcão. Os dois se abraçaram, e Clark sentou. Um sujeito corpulento de cabelos ruivos já ralos e mãos manchadas de farinha de trigo foi até eles.
— O que trago para vocês?
— Maçã — disse Mary Pat sem hesitar. — Para viagem.
Clark sacudiu os ombros e pediu o mesmo.
— Como anda o Ed?
— Está bem. Um pouco eremita, acho. Está escrevendo um livro.
— Bom para ele.
Quando as tortas chegaram, ela perguntou:
— Que tal uma volta?
— Claro.
Lá fora, saíram pela calçada, falando miudezas até chegar a um parque grande coberto de grama verde e cercas vivas arrumadinhas. Acharam um banco e sentaram.
— Estou com um problema, John — disse Mary Pat depois dos dois darem umas mordidas nas tortas. — E acho que você e Ding podem ajudar.
— Se pudermos. Mas vamos começar pelo começo: você sabe que nós...
— Sim, já soube. Sinto muito. Conheço o excelentíssimo Charles Sumner Alden. É um babaca.
— Parece que muitos deles andam por Langley atualmente.
— Infelizmente, é verdade. Aquilo lá está começando a parecer a Idade das Trevas. Mas me diga: o que você acha do Paquistão?
— Belo lugar para visitar... — respondeu Clark, com um sorriso.
Mary Pat caiu na risada.
— É uma operação bem simples, cinco ou seis dias, talvez. Temos algumas coisas que precisam ser levantadas, mas não temos ninguém em campo por lá; pelo menos ninguém que possamos usar. A nova administração está podando a diretoria de operações como se fosse uma liquidação relâmpago. Temos um sujeito, britânico, que conhece a área, mas já passou do seu auge.
— Defina “coisas que precisam ser levantadas”.
— Deve ser uma simples coleta de informações. Trabalho de campo.
— Suponho que estejamos falando sobre algo periférico ao peixe grande? — Mary Pat assentiu. — E você já tentou pescar isso através de Langley? — Outro assentimento. Clark respirou fundo, e soltou. — Você está bem longe do padrão com isso.
— Mas só assim posso colher a fruta.
— Qual o seu cronograma?
— Quanto mais cedo, melhor.
— Me deixe pensar até mais tarde.
Uma hora depois ele estava de volta ao Campus. Achou Granger na sala de Hendley. Bateu na maçaneta, viu o gesto de Hendley mandando-o entrar, e sentou.
— Sam já me disse — falou Hendley. — Experimentou a torta?
— Maçã. Talvez não seja a melhor, mas é bem perto disso. Ela tentou me vender um contrato. Paquistão. — E delineou a conversa entre os dois.
— Ora — disse Granger. — Ela é do NCTC, de modo que não é difícil perceber o que está no radar deles. O que você disse a ela?
— Que ligaria mais tarde com uma resposta. Na verdade, não é difícil. Mas o problema é: se aceitar, não quero deixá-la no escuro.
— Sobre o Campus? — disse Granger. — Não sei...
— Desculpe — disse Clark. — Eu e Mary Pat temos uma longa história, e ela está arriscando muito com isso. Não vou enganá-la. Olhe, vocês conhecem a reputação dela, e sabem o que Jack Ryan pensa a respeito de Mary Pat. Se isso não for garantia suficiente, não sei mais o que seria.
Hendley ficou um instante matutando, depois assentiu.
— Muito bem. Mas aja com cuidado. Para quando ela precisa de você?
— Acho que para ontem — respondeu Clark.
44
— Oque sabemos sobre o Emir e o CRO é limitado — disse Jerry Rounds, reiniciando a reunião. — Vamos começar pelo que sabemos com quase certeza. Até recentemente o CRO dependia bastante da internet para comunicações, mas não conseguimos chegar até um ISP porque é sempre algo diferente, e dependemos da NSA para pegar as informações do método de criptografia. E, mesmo assim, nem sempre conseguimos identificar o ISP, mas eles sabem que passam de um país para outro.
Dominic aproveitou a deixa:
— A menos que estejamos perdendo uma quantidade grande de tráfego eletrônico, o que sempre é possível, podemos considerar que eles têm coisas importantes transmitidas de um lugar para outro, o que significa mensageiros. Talvez levando CD-ROMs ou alguma outra mídia portátil que possam usar em um laptop, ou entregar para alguém mais da organização que tenha um desktop ligado em uma linha telefônica ou a um cabo. Ou em um ponto de wi-fi.
— Pontos de wi-fi não são muito seguros — sugeriu Brian.
— Pode ser que não importe — contestou Chavez. — Uma das ideias não era de que usavam tabelas únicas?
— Sim — disse Rounds.
— Com uma dessas você pode dizer o que quiser. Quem quer que intercepte só vai ver um bando de números randômicos, ou letras, ou palavras.
— O que leva à pergunta: os mensageiros simplesmente carregam as mensagens, ou vão com as tabelas de decodificação também? Isso é, se eles as estiverem usando... — disse Jack.
Rounds interrompeu:
— Jack, ponha todo mundo a par do que você descobriu sobre esse sujeito...
— Shasif Hadi — respondeu Jack. — Estava em uma lista de distribuição de e-mails que vigiávamos. A conta ISP dele não estava tão isolada quanto as outras. Estamos tentando descascar suas finanças. Se isso vai levar a algo mais do que descobrir em que mercearia ele faz as compras, não sei.
— Sobre os mensageiros — disse Chavez. — O FBI não monitora os viajantes frequentes nas companhias aéreas? Existe alguma maneira de descobrir um padrão com isso? Descobrir alguma ligação entre o tráfego de e-mails do CRO e padrões de viagem?
Dominic respondeu:
— Você tem ideia de quantas pessoas voam sobre o Atlântico regularmente? Milhares, e o Bureau registra todos. Mas levaria um tempo enorme para verificar apenas um quarto deles. É como se lêssemos um catálogo telefônico oito horas por dia. E, pelo que sabemos, os filhos da mãe podem mandar os CD-ROMs por FedEx ou mesmo pelo correio regular. Uma caixa postal é ótima para esconder alguma coisa.
O laptop de Jerry Rounds tocou um aviso e ele verificou a tela. Leu durante um minuto inteiro, depois disse:
— Isso complica as coisas.
— O quê? — perguntou Jack.
— Temos um resquício de informação sobre a coisa da embaixada em Trípoli. Ding, sem perceber, embolsou um pen drive de um dos bandidos. Ele tem um monte de arquivos JPEG.
— Fotos do esconderijo do Emir?
— Quem dera. Os bandidos estão aumentando as apostas. Estão usando esteganografia.
— O quê?
— Esteganografia. É essencialmente um método de criptografia que consiste em esconder uma mensagem dentro de uma imagem.
— Como tinta invisível.
— Mais ou menos, mas é ainda mais antigo que isso. Na Grécia Antiga costumavam raspar uma porção da cabeça do servo, tatuar a mensagem no crânio, e, após deixar o cabelo crescer de novo, mandá-lo através das linhas inimigas. Aqui estamos falando de fotografias digitais, mas o conceito é o mesmo. Vejam, uma imagem digital é nada mais que um monte de pontinhos coloridos.
— Pixels — contribuiu Chavez.
— Certo. Cada pixel tem um número designado, um valor de vermelho, azul e verde, geralmente entre 0 e 255, dependendo da intensidade. Cada um desses, por sua vez, é armazenado em oito bits, começando em 128 e descendo até 1, caindo pela metade a cada passo, de modo que de 128 passa para 64, 32, e assim por diante. Uma diferença em um, dois ou até mesmo quatro valores na escala RGB é imperceptível para o olho humano...
— Estou ficando perdido — disse Brian. — O ponto principal, por favor.
— Você está basicamente escondendo caracteres dentro de uma foto digital, alterando ligeiramente seus pixels.
— Quanta informação?
— Digamos, uma imagem de 640x480 pixels... Mais ou menos meio milhão de caracteres. Um romance de bom tamanho.
— Droga — murmurou Chavez.
— É mesmo um inferno — disse Jack. — Se estiverem usando esteganografia, provavelmente são suficientemente espertos para manter as mensagens curtas. Estamos falando de mais ou menos uma dúzia de pixels em uma imagem que contém milhões. É a proverbial agulha no palheiro.
— E é difícil fazer essa codificação? — perguntou Chavez. — Há algum modo de recuperar isso por aí?
— Improvável. Existem toneladas de programas em shareware e freeware por aí que fazem isso. Alguns são melhores que outros, mas não é uma coisa especializada. Não precisa ser, quando apenas o remetente e quem recebe a mensagem possuem a chave de decifração.
— E que tal extrair as mensagens? Isso pode ser feito? O que é preciso?
Rounds respondeu:
— No fundo, trata-se de fazer engenharia reversa de cada imagem; desconstruindo, descobrindo que pixels foram alterados e em que medida, e depois extraindo a mensagem.
— Parece coisa da área da NSA — disse Brian. — Nós podemos pescar...
— Não — respondeu Rounds. — Adoraria, pode acreditar, mas interceptar o tráfego deles é uma coisa. Tentar invadir os seus sistemas é outra. De qualquer modo, talvez não precisemos de algo assim tão forte. Jack, existem programas comerciais por aí?
— Sim, mas não sei se têm a capacidade que precisamos. Vou começar a procurar. Se nada funcionar, talvez possamos modelar nosso próprio programa. Verifico isso com Gavin.
— Então essa coisa de Trípoli — perguntou Dominic. — Estou supondo que a consideramos como operação do CRO?
— Certo. Todos os operativos eram de grupos afiliados ao CRO, metade deles de uma célula de Benghazi, a outra metade de fontes diversas.
— Operação mista — declarou Jack. — Por tudo que li, isso é muito incomum para uma ação do CRO. Geralmente eles confiam na integridade de uma célula. Isso tem que significar algo.
— Concordo — disse Rounds. — Vamos retomar a partir daí e ver no que dá. Por que razão quebraram a rotina?
— E onde estão os outros membros de Benghazi? — acrescentou Brian.
— Certo. Muito bem, de volta à esteganografia. A menos que isso seja uma anomalia, temos que supor que é prática padrão do CRO, e pode ser assim já há muito tempo, o que dificulta muitíssimo nosso trabalho. Cada caixa de mensagem e site que o CRO tenha usado ou esteja usando se torna agora uma fonte potencial. Precisamos escarafunchar todos procurando arquivos de imagem: JPEG, GIF, bitmap, PNG, qualquer coisa.
— Vídeos? — indagou Chavez.
— Sim, pode ser feito, mas é mais difícil. Alguns programas de compressão mexem com os pixels. É melhor nos concentrarmos em imagens fixas e protetores de tela, por enquanto. Vamos pegar tudo que pudermos e começar a dissecar atrás de imagens embutidas.
— Temos que garantir uma base de IP benigna, caso alguém esteja monitorando — sugeriu Jack.
— Que tal falar isso em língua de gente? — disse Brian. — Você sabe, eu sou apenas um marine grande e idiota.
— IP é um protocolo de internet; sabe aquela série de números que você tem na sua rede caseira... assim como 67.165.216.132?
— Sim.
— Se bombardearmos os sites com o mesmo IP e alguém estiver observando, vão saber que estão sendo testados. Vou pedir a Gavin que estabeleça um rodízio aleatório de IPs de modo que pareçamos visitantes regulares. Talvez até mesmo possamos usar como fantasmas alguns sites islâmicos.
— Ótimo — disse Rounds. — Muito bem, vamos continuar. O que mais? Podem jogar na mesa.
— Há como verificar quando as fotos são postadas em um site? — perguntou Dominic.
— Talvez — respondeu Jack. — Por quê?
— Combine as datas de postagens com e-mails, operações conhecidas, esse tipo de coisa. Talvez alguma foto sendo postada dispare um e-mail, ou vice-versa. Talvez haja um padrão que podemos começar a reconhecer.
Jack anotou.
— Boa ideia.
— Vamos fazer suposições — propôs Chavez. — Estamos supondo que o Emir está em algum lugar no Paquistão ou no Afeganistão. Qual foi a última vez que isso foi confirmado?
— Há um ano — respondeu Jack. — Já circulamos isso por aí, a ideia de ele ter se reposicionado ou mesmo mudado sua aparência, mas não há evidências.
— Vamos fingir que há. Por que razão ele mudaria?
— Ou por razões operacionais ou por estarmos chegando perto demais do buraco onde ele se esconde para deixá-lo confortável. — Foi a vez de Rounds responder.
— E para onde iria?
— Eu voto na Europa ocidental — disse Dominic.
— Por quê?
— Fronteiras, em primeiro lugar. Muito mais fácil de se movimentar.
O Tratado de Schengen garantia isso, Jack sabia, tendo padronizado os controles de fronteira e exigências para ingresso entre a maioria das nações da União Europeia, fazendo com que a viagem entre elas fosse quase tão fácil quanto se movimentar entre os estados nos EUA.
— E não se esqueça da moeda — acrescentou Brian. — O euro é aceito praticamente em todos os lugares. Isso facilita muito movimentar dinheiro e montar casas.
— Supondo que ele não tenha mudado sua aparência, seria muito mais fácil para ele se misturar em algum lugar do sul, no Mediterrâneo: Chipre, Grécia, Itália, Portugal, Espanha...
— Um território bem grande.
— E como fazemos essa triangulação? — perguntou Rounds.
— Seguindo o dinheiro — sugeriu Dominic.
— Já faz um ano que andamos fazendo isso, e Langley também — respondeu Jack. — A estrutura financeira do CRO faz o labirinto de Cnossos parecer um labirinto de descanso de mesa numa lanchonete.
— Bela referência obscura, primo — soltou Brian, com um sorriso.
— Desculpe. Educação católica. A questão é que, sem uma ponta solta para começar a descascar, acho que o ângulo financeiro não avança. Pelo menos, não por si só.
— Alguém organizou isso? — perguntou Chavez. — Pegar o que sabemos sobre o manejo do dinheiro deles, vincular com o tráfego de e-mail e anúncios em sites, e cruzar essas referências com incidentes?
— Boa questão — respondeu Rounds.
— Ficaria surpreso se o NCTC ou Langley já não tivessem tentado isso. Se tivessem tido um pouco de sorte, o cara já estaria empacotado.
— Talvez — disse Rounds —, mas nós não tentamos.
— E, se o Campus não fez, isso não pode ser feito? — sugeriu Brian.
— Exatamente. Vamos supor que eles não tentaram. Ou, assumamos que tentaram, mas do modo errado. O que é preciso para fazer certo?
— Um software desenhado especialmente para isso — respondeu Jack.
— Nós temos as pessoas e o dinheiro. Vamos explorar isso.
— Gavin vai começar a nos odiar — disse Dominic, sorrindo.
— Compre para ele um pacote de biscoitinhos e água mineral — disparou Brian. — Com isso, ele fica bem.
— E se colocarmos os pés no terreno em Trípoli? — disse Dominic, mudando de direção. — Esse trabalho na embaixada não aconteceu em um vácuo. Vamos até lá sacudir essa árvore. Talvez também ir a Benghazi.
Rounds considerou o assunto.
— Vou falar com Sam e Gerry.
Continuaram com o jogo de adivinhas por cerca de uma hora, até Rounds decidir encerrar a reunião.
— Vamos parar por aqui e voltar ao trabalho — disse. — Nos encontramos de novo amanhã de manhã.
Todos saíram, menos Jack, que girou sua cadeira e olhou pela janela.
— Posso ver as engrenagens rodando — disse Chavez da porta.
— Desculpe... o quê?
— É o mesmo olhar que seu pai tem quando a cabeça dele está em marcha rápida.
— Ainda estou brincando do jogo do “se”.
Ding puxou uma cadeira e sentou.
— Mande.
— A pergunta que não fizemos é “por quê?”. Se o Emir saiu do Paquistão ou do Afeganistão para algum lugar desconhecido, por quê? Por que agora? Tanto quanto sabemos, ele não deixou aquela área pelo menos por quatro anos. Estávamos chegando perto demais dele ou foi por outra razão?
— Tal como?
— Não sei. Só tento pensar como ele. Se eu tivesse cozinhando alguma coisa, uma operação realmente grande, ficaria tentado a aumentar o negócio e procurar outro esconderijo, para ter certeza de não ser preso e entregar o ouro para os interrogadores.
— Movimento arriscado.
— Talvez, mas talvez não tão arriscado quanto ficar dando sopa no mesmo lugar, sabendo que estaria aumentando as chances de ser preso. Se você muda e arruma a banca em outro lugar, não apenas permanece livre, como também é capaz de manter a mão na massa.
Chavez ficou em silêncio por um tempo.
— Você tem uma boa cabeça, Jack.
— Obrigado, mas acho que tenho esperança de estar errado quanto a isso. Se não estiver, é possível que algo grande esteja a caminho.












