



Biblio "SEBO"




Uma biografia exemplar. Levantamento minucioso de tudo que diz respeito a Nelson Rodrigues, transformando-o em personagem de si mesmo. Que maior elogio se pode fazer a uma obra do gênero?
Ruy Castro foi aos antecedentes de Nelson — fez um perfil completo do pai, o grande jornalista Mário Rodrigues, e dos irmãos Roberto, artista plástico de valor invulgar, assassinado ainda jovem, e Mário Filho, que ele se deleitava em chamar hiperbolicamente, tão no seu estilo, o "Homero do esporte". No vasto painel que o autor vai desenhando, ressuscita-se a alma da velha República, de profunda repercussão no teatro do dramaturgo. E daí extrapola-se para a situação do Brasil contemporâneo.
O anjo pornográfico, não obstante o título passível de referendar a imagem popular de Nelson (ainda que fornecido por ele), em nenhum momento concede ao sensacionalismo, nem se fecha no relato frio dos "idiotas da objetividade". O leitor se surpreenderá, por certo, com o número incontável de revelações, às vezes desconhecidas até dos amigos mais íntimos de Nelson. É como se Ruy, desde o primeiro vagido do futuro autor de Vestido de noiva, o acompanhasse como sombra invisível.
Um livro dessa penetração subentende uma intimidade total com o universo do biografado, dá vida aos mais despercebidos registros jornalísticos. E exige uma insuspeita paixão, de quem se identifica plenamente com as características de seu objeto. Ruy não julga Nelson — limita-se a relatar o que se passou com ele, mostrando, dentro das contradições aparentes, a coerência do temperamento. Sem promover uma defesa deliberada do que suscitaria, para alguns observadores, a condenação de Nelson, o livro o absolve de quaisquer pecados, em múltiplos territórios.
Não procurou Ruy Castro parafrasear a inconfundível literatura de Nelson Rodrigues. Mas a sucessão de capítulos sugere que o espírito do dramaturgo e ficcionista baixou sobre o biógrafo, e O anjo pornográfico se torna uma autêntica autobiografia. Volume que se devora com a sofreguidão de um romance de aventuras.
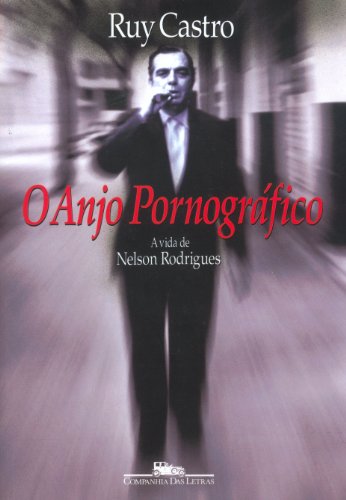
Sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de ficcionista. Sou (e sempre fui) um anjo pornográfico.
Nelson Rodrigues
Esta é uma biografia de Nelson Rodrigues, não um estudo crítico. Aqui se encontrará onde, quando, como e por que Nelson escreveu todas as suas peças, romances, contos e crônicas, mas não espere “análises” ou “interpretações”. O que se conta em “O anjo pornográfico” é a espantosa vida de um homem — um escritor a quem uma espécie de imã demoníaco (o acaso, o destino, o que for) estava sempre arrastando para uma realidade ainda mais dramática do que a que ele punha sobre o papel.
Se a narrativa de “O anjo pornográfico” lembra às vezes um romance é porque não há outra maneira de contar a história de Nelson Rodrigues e de sua família. Ela é mais trágica e rocambolesca do que qualquer uma de suas histórias, e tão fascinante quanto. ~ quase inacreditável que o que se vai ler aconteceu de verdade no espaço de uma única vida. (Daí por que quando Nelson morreu em 1980, aos 68 anos, muitos achassem que ele era séculos mais velho.)
Esta não é também uma biografia crítica, no sentido de que, quando Nelson escrever, por exemplo, “Vestido de noiva”, irei interromper a história para teorizar sobre o significado profundo dessa peça ou qualquer outra. (Para isso, os interessados devem dirigir-se aos definitivos prefácios de Sábato Magaldi, que iluminam os quatro volumes do “Teatro completo” de Nelson Rodrigues, vide bibliografia.) No caso de “Vestido de noiva” (e das outras peças), o que eu queria saber era o que aconteceu antes, durante e depois da montagem, na platéia, no palco, nos bastidores e como isso se refletiu na vida de Nelson.
Mesmo porque o teatro nem sempre foi o palco principal de Nelson Rodrigues. Talvez nunca o tenha sido. Esse, se houve um, foi o jornal. Pode ter sido também a rua (ou a própria cidade do Rio de Janeiro), embora poucos brasileiros, exceto datilógrafos profissionais, tenham passado tantas horas atrás de uma máquina de escrever. (Nelson “escreveu” até durante os delírios provocados por insuficiência respiratória.)
Apesar de sua fenomenal produção, o único nicho em que ele passou a ser unanimemente aceito (e, mesmo assim, de uns tempos para cá) é o do teatro. Poucos sabem que o restante dessa produção, esgotado há décadas, é tão genial quanto seu teatro. (E os que sabem não se conformam com que o mundo não saiba.) A reabilitação está próxima, com sua publicação pela Companhia das Letras.
Durante muitos anos, Nelson Rodrigues carregou a fama de “tarado”. Em seus anos finais, a de “reacionário”. Ninguém foi mais perseguido: a direita, a esquerda, a censura, os críticos, os católicos (de todas as tinturas) e, muitas vezes, as platéias — todos, em alguma época, viram nele o anjo do mal, um câncer a ser extirpado da sociedade brasileira. E, olhe, quase conseguiram.
Mas, ao mesmo tempo em que queriam “caçá-lo a pauladas, como a uma ratazana prenhe”, havia também muitos para quem parecia impossível admirar Nelson Rodrigues o suficiente. Mesmo os seus piores inimigos nunca lhe negaram o talento — e não foram poucos os que o chamaram de gênio. Há quem arrisque até explicações espíritas para certos lampejos de Nelson. Para alguns, era um santo; para outros, um canalha; para todos, sempre, uma surpresa ambulante. Mas, como se verá, ninguém o conheceu direito.
- 1912 - PITANGAS BRAVAS
No Brasil de 1912, se havia uma cidade adormecida, ideal para se viver ou morrer de tédio ou velhice, estando era o Recife em que nasceu Nelson Rodrigues. O cenário podia lembrar Veneza, mas a atmosfera estava mais para a Verona de “Romeu e Julieta”, com seus arranca-rabos entre Capuletos e Montéquios. No dia 23 de agosto daquele ano, por exemplo, enquanto Nelson abria os olhos para a realidade além-útero e se sentia expulso do paraíso materno, a política pernambucana ardia em labaredas e o sangue respingava sobre o rio Capibaribe.
Duas facções terçavam bigodes nas ruas: de um lado, a dos caciques políticos Rosa e Silva e Estácio Coimbra, recém-apeados do poder pelo marechal Hermes da Fonseca, presidente da República; de outro, a do novo governador, o general Emídio Dantas Barreto. E não se tratava de uma guerra entre blocos de sombrinhas e guarda-chuvas, embora o sucesso musical do ano fosse o frevo “Vassourinhas”, uma homenagem a Dantas Barreto. Os partidários das duas facções, muito mais realistas que os reis, competiam em violência, intrigas e golpes baixos — uma maneira suave de dizer, em português claro, que queriam trucidar-se mutuamente.
Com o agravante de que, como em qualquer luta política de província, os inimigos se esbarravam a toda hora no botequim, na barbearia ou no bumba-meu-boi, e o ódio recíproco já chegara ao ponto de alimentar-se da própria bílis. Se se perguntasse a alguém por que a rixa começara, ninguém mais teria a mínima idéia.
Naquele momento eram os homens de Dantas que estavam no poder e detinham a chave do paiol. Mas o outro lado ainda conservava os seus ninhos de armas e, com isso, emboscadas e tiroteios estavam se tomando perigosamente corriqueiros no Recife. Mesmo que fosse apartidário (esqueça; isso era quase impossível), um inocente transeunte que cruzasse a praça da Independência podia ver-se, de repente, apanhado entre dois fogos. E o jornalista Mário Rodrigues, pai de Nelson, podia ser acusado de tudo, menos de apartidário. Ou de inocente.
Um ano antes, em 1911, quando Nelson ainda não tinha sido sequer concebido e Rosa e Silva dava as ordens no Palácio do Campo das Princesas, Mário Rodrigues atravessou a praça em missão política para Dantas Barreto. Na verdade, tal missão consistia prosaicamente em passar um telegrama ao marechal Hermes contra Estácio Coimbra — mas um telegrama de Mário Rodrigues podia fazer mais estragos do que os beijos de Mata Hari a serviço do Kaiser.
Seja como for, Mário Rodrigues estava sozinho e desarmado no meio da praça quase deserta. Ao ver o jornalista de bandeja para uma tocaia que lhes parecia cair do céu, quarenta ou cinqüenta soldados da força estadual de Rosa e Silva, postados nos oitões do “Diário de Pernambuco”, cuspiram suas carabinas contra ele. Centenas de tiros foram disparados — e, incrivelmente, nenhum o atingiu. A pontaria dos cabras era tão horrenda que Mário Rodrigues teve tempo de jogar-se ao chão e esgueirar-se de gatinhas entre os coches e bondes estacionados em greve na praça. Quase levou a breca.
Outro mais sensato teria morrido de susto e se evaporado do Recife enquanto a situação continuasse quente — mas não Mário Rodrigues. Assim que se viu a salvo, deu “bananas” para seus agressores e apenas tomou mais cuidado nos meses seguintes. E, depois da intervenção federal, parte do risco acabou — porque, agora, as forças do Estado tinham de defender Dantas Barreto, novo ocupante do palácio.
Mas os adversários de Mário Rodrigues, na situação ou na oposição, tinham todos os motivos do mundo para querer silenciá-lo ou, no mínimo, quebrar-lhe a perna e alguns dentes. Panfletário impenitente, ele aliava a contundência quase suicida de seu ídolo Edmundo Bittencourt, diretor do novo jornal carioca “Correio da Manhã”, à exuberância condoreira do estilo de Euclides da Cunha em “Os sertões”. Em 1911 Mário colocara toda a sua pesada munição verbal a favor de Dantas Barreto. Escrevia o diabo contra Estácio Coimbra, chamando-o de estafermo para baixo nas páginas do “Jornal da República”, fundado por ele, Mário, com o dinheiro de Dantas. Não satisfeito, candidatara-se a deputado estadual pelo dantismo e fora eleito — e o resultado era o de que, agora, dava duplos motivos para ser adorado pelos correligionários e detestado pelos demais: como jornalista e como político. Era uma lenda viva que muitos queriam ver morta. Sabendo disto, desfilava pela Assembléia Legislativa com um revólver no cinto. Só que, bem ao seu estilo, sem balas.
Quando Mário nasceu, em 1885, já havia outro Rodrigues legendário no Recife: seu próprio pai Francisco Rodrigues, um corretor de terrenos e imóveis, reconhecível à distância pela barba e pelos cabelos vermelhos que lhe valiam o apelido de “Barba de fogo”. Francisco “Barba de fogo” era famoso pela audácia nos negócios e pela facilidade de multiplicar dinheiro, mas principalmente pela sua desvairada militância sexual — uma obsessão que seu casamento com dona Adelaide, fina dama da sociedade local, não perturbava nem um pouco. E nem podia perturbar porque, com pouco tempo de casados, Adelaide convencera-se de que, quando se tratava de atirar-se sobre qualquer mulher que lhe passasse à frente — solteira, casada ou viúva, linda, mais ou menos ou um bucho —, “Barba de fogo” precisava de dez para segurar.
Sem opções outras, Adelaide pesou os prós (pai amantíssimo, marido generoso) e os contras do marido (fauno insaciável), concluiu que ele era exemplar nos aspectos mais importantes e, num gesto de enorme renúncia, liberou-o para ter as amantes que quisesse. Com o que, para inveja dos homens do Recife, “Barba de fogo” tornou-se o único adúltero da cidade com “habeas corpus” fornecido pela própria esposa.
Ninguém consegue calcular o número de filhos que “Barba de fogo” teve fora do casamento, mas os oficiais, com dona Adelaide, foram três: Augusto, Maria e o caçula Mário. Todos podiam ser considerados acima de inteligentes, mas Mário surpreendeu a família ao aprender a ler e a escrever quase na primeira chupeta. A partir daí, sentou-se, cruzou as pernas e tornou-se um leitor compulsivo de jornais. Aos cinco anos, quando criou manualmente um jornalzinho — em tudo parecido com um jornal de verdade —, os parentes não acrescentaram ao fato um mísero ponto de exclamação. Acharam normal. De onde surgiu em Mário a fascinação infantil pelo jornal, não se sabe, mas, de certa forma, esta fascinação (infantil, quero dizer) nunca o abandonou.
Foi então que, em 1891, quando Mário tinha seis anos, Adelaide e “Barba de fogo” tomaram um navio vindo do Rio, que passara pelo Recife a caminho da Europa, e foram para Heidelberg, na Alemanha. Sem data para voltar. As crianças ficaram aos cuidados de um parente de sua mãe, um médico, doutor Coelho Leite. Ninguém sabia direito o que “Barba de fogo” e sua mulher tinham ido fazer na Alemanha, embora sua condição financeira lhes permitisse ir até a China, se lhes desse na telha. Coelho Leite achava que sabia: “Barba de fogo” teria câncer, provavelmente na laringe, e Recife não era a cidade ideal para tratá-lo. Heidelberg, com suas clínicas e hospitais de que falava o “Almanaque Capivarol”, talvez fosse.
“Barba de fogo” nunca voltou ao Recife. Fosse qual fosse sua doença, morreu poucos meses depois, em 1892, e foi enterrado lá mesmo, em Heidelberg. Adelaide não pôde trazer para o Recife o corpo do marido. Em compensação, trouxe uma canastra com uma coleção de pinturas em porcelana, que aprendera a fazer enquanto ele agonizava — e, mais importante, trazia no ventre outro filho de “Barba de fogo”.
Mas este filho não chegaria a nascer. No dia do parto, que seria feito pelo doutor Coelho Leite, a criança se recusou a sair. Mãe e médico lutaram durante horas pela criança, com sofrimentos inenarráveis para Adelaide. Finalmente, quando os músculos de Adelaide desistiram e mãe e filho iam morrer, só havia uma solução: a cesariana, uma cirurgia de que se ouvia falar — algo que parecia do outro mundo — e que nunca fora praticada no Recife. Coelho Leite queria fazê-la, mas, diz a história, nenhum outro médico ou enfermeira da cidade atreveu-se a ajudá-lo.
A cirurgia não foi feita e Adelaide morreu entre gritos desesperados de “Me salvem!” e “Não quero morrer!”.
Enterrados “Barba de fogo” e Adelaide num espaço de meses, três crianças restaram órfãs ao céu do Recife. Coelho Leite ficou como tutor de Augusto, Maria, Mário e do dinheiro supostamente considerável que “Barba de fogo” havia deixado. Mas esse dinheiro só era considerável nas mãos de “Barba de fogo” — ou então, como acreditavam os Rodrigues, o gato comera. Mário era um que tinha certeza. Coelho Leite fornecia-lhes as mesadas aos tostões, alegando que o câncer devorara também o dinheiro de “Barba de fogo” em Heidelberg. Alegou também que, pouco antes de morrer, Adelaide lhe passara uma caderneta que encontrara entre as coisas do marido. Ali estavam registradas todas as mulheres com quem ele tinha ido para a cama — centenas, quase mil, entre profissionais e amadoras. “Barba de fogo” era minucioso: especificava nome, cor dos olhos, tipo de seios etc., e quanto gastara com cada uma delas. O total daria para comprar a Ponte Giratória do Recife. Agora não chegava para comprar um patinete.
Mário Rodrigues nunca ficou muito convencido disso. Quando fez quinze anos em 1900, e já com a barba cerrada demais para continuar esmolando ao tutor, abriu mão de ajuda. Largou os estudos no fim do ginásio e enfrentou o batente. Entre outros biscates, foi pastor de cabras, sendo premiado com uma febre palustre que lhe arruinou o fígado pelo resto dos 44 anos que iria viver.
Mas Mário Rodrigues não era homem para ficar pastoreando cabras, vadias ou não. Era poeta, com uma produção de trovas e sonetos que, se publicados, dariam para vergar prateleiras. A poesia nunca lhe dera um colarinho limpo, mas propiciou-lhe uma intimidade com as palavras que o despachou rapidamente para o endereço certo: o “Jornal de Recife”. Ao estilo da imprensa romântica da virada do século, começou como revisor, mas quem o conhecia sabia que em dois tempos Mário seria promovido à redação. Levou só um tempo: menos de um ano.
Ele era baixo, robusto, compacto e tinha uma invejável fartura de cabelos pretos — inclusive nas sobrancelhas, que podiam ser penteadas com um ancinho. Difícil que uma mulher o chamasse de bonito, mas sua personalidade forte transbordava dos ternos bem cortados e devia fazê-lo parecer um homem atraente. O temperamento era desigual, sujeito a fúrias demolidoras e surtos idem de ternura, ambos assustadores pelo exagero. Sua capacidade de fazer amigos era tão grande quanto a de atrair inimigos. Aos amigos, tudo: era capaz de fechar bares apinhados e pagar para uma multidão. Aos inimigos, justiça — e Mário Rodrigues em campanha não tinha limites para sua agressividade. O fígado em pandarecos não o impedia de tomar cerveja como se o planeta fosse interromper brevemente o plantio de cevada.
Era muito inteligente. Leitor voraz, capaz de memorizar parágrafos inteiros à primeira leitura. Poderia ter sido o mais brilhante debatedor político de seu tempo se não fosse por um incômodo detalhe: era gago. Nos acessos de ira, a capacidade de articulação não acompanhava a velocidade de seu raciocínio — a gagueira tomava as rédeas e isso o deixava ainda mais apoplético. Dai porque, escrevendo, fosse invencível. Não era um homem de ideologia. Como panfletário, a política seria para ele uma questão de fortes simpatias ou antipatias pessoais — algumas tão repentinas que seus adversários veriam nessas transições a cor do dinheiro. Em resposta Mário Rodrigues impunha códigos de honra tão rigorosos para os mortais comuns que devia ser impossível — até para ele — cumpri-los.
Em 1903 conheceu Maria Esther e sinos soaram em seus corações. Se não se casassem morriam. Mário Rodrigues tinha apenas dezoito anos e Maria Esther, quinze, mas casamentos tão precoces eram comuns na “belle époque” nordestina. (Sim, houve uma.) Os dois só não dispararam alegremente para a igreja porque a menina, filha da severa e bem-sucedida família Falcão, encontrou forte oposição doméstica. Seu pai, João Marinho Falcão, funcionário do Governo, não via em Mário Rodrigues o partido ideal para entregar-lhe a filha então única. E a mãe, dona Ana Esther (protestante em último grau), desconfiava de que ele não fosse um homem assim tão temente ao Senhor. (Lembrar que, como filho de Francisco “Barba de fogo’ Mário Rodrigues era suspeito em princípio. Não se sabia de que, mas era.) E havia ainda uma sinuosa campanha das primas de Maria Esther contra esse casamento — embora, como ela descobriria depois, apenas porque elas também haviam ficado de olho no jornalista.
Mas os Falcão não contavam com os recursos de Mário Rodrigues para vencer aquela resistência. Sua primeira providência foi ler toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e decorar versículos, páginas e livros quase inteiros dos dois Testamentos. E, se houvesse um terceiro, ele o leria também. Como se sua aparente conversão não fosse suficiente para converter a ele a família, Mário Rodrigues passou a acompanhar Maria Esther e seus pais aos cultos da Igreja Batista e a cantar hinos. Em pouco tempo, ele próprio estava no púlpito, pregando com uma veemência de assustar os pecadores — e olhem que era gago. Não chegou a se tornar pastor, mas seus sermões transpiravam uma autoridade e convicção que surpreendiam até a ele.
Estava ganha a parada: um ano depois, em 1904, casou-se com Maria Esther — e, já na lua-de-mel, pareceu natural que as exigências de sustentar uma casa o fossem afastando aos poucos das atividades na igreja. Até que nunca mais apareceu por lá.
Perdeu-se uma vocação evangélica, certamente de ocasião, mas, contra todas as expectativas, Maria Esther ganhou um marido de sonho. Mário Rodrigues exercia suas funções conjugais com uma freqüência de tirar o fôlego. E, em muitos sentidos, foi impecável: retomou os estudos, aprendeu francês, entrou para a Faculdade de Direito do Recife e, em meio a toda a barafunda política, formou-se em 1909 como primeiro da turma — uma turma que tinha, em sua lista de chamada, o futuro escritor e diplomata Gilberto Amado. (O qual já se julgava Gilberto Amado, com todas as pompas a que um Gilberto Amado tinha direito.) Pois Gilberto Amado teve de contentar-se em ser o segundo da turma. Ao primeiro, que foi Mário Rodrigues, coube um prêmio de viagem à Argentina e ao Chile. Viajou como advogado, mas, longe de procurar seus colegas de toga, preferiu a companhia dos jornalistas: visitou jornais e revistas de Buenos Aires e Santiago, muito mais avançados e agressivos que os nossos, aprendeu como funcionavam, trocou idéias e fez amizades. Na volta, iria aplicar tudo isto aqui. E começou logo, ao juntar-se a Dantas Barreto e fundar o “Jornal da República”.
Enquanto conciliava o jornal, a política e os estudos, fez também a sua parte para cumprir o projeto que Maria Esther se impusera como mãe: o de ter doze filhos!
Nesse aspecto, eles foram avassaladores. Uma a uma, as crianças não paravam de nascer: Milton, em 1905; Roberto, em 1906; Mário Filho, em 1908; Stella, em 1910; Nelson, em 1912; Joffre, em 1915. Roído de ciúmes, Mário Rodrigues não acreditava na objetividade profissional dos obstetras ou ginecologistas e só admitia que Maria Esther fizesse seus partos com a doutora Amélia, a única médica do Recife. Se dependesse da doutora, Maria Esther pararia nos seis. Segundo a médica (uma otimista nata), seis filhos eram o que o corpo de uma mulher podia suportar sem perder a graça e a firmeza das linhas. “A partir daí, lavo minhas mãos”, dizia. Mas, nisto, quem não acreditava era Maria Esther — porque, nos anos seguintes, quando se mudassem para o Rio, ela teria outros oito, num deslumbrante total de catorze filhos.
Maria Esther tinha seus motivos para não temer uma gravidez atrás da outra. Numa época em que a medicina ainda guardava estreitas relações com o ofício de barbeiro e muitos partos eram um risco para a mãe, os dela eram suaves como seda e seus seis primeiros filhos tinham saído perfeitos. Seguiam até uma espécie de padrão quanto à cor do cabelo. O primeiro, Milton, era ruivo como o avô “Barba de fogo”; o segundo, Roberto, era moreno como o pai; o terceiro, Mário Filho, era de novo ruivo; pela ordem, Stella deveria ser morena, mas nasceu com cabelo vermelho; Nelson, a seguir, nasceu loiríssimo e assim ficou até quase os dez anos, quando seu cabelo escureceu e ele se incorporou ao time dos morenos; o sexto, Joffre, restabeleceu a linha vermelha. E eram fortes como o diabo: Milton tivera tifo e Nelson, aos dois anos, coqueluche, mas o resto foram “galos” e lombrigas.
No Recife, exceto por ver o marido apostando diariamente a vida em seus editoriais no “Jornal da República”, tudo era ainda ouro sobre azul para Maria Esther. Moravam numa ampla casa alugada na rua Doutor João Ramos, na Capunga, perto do Derby. No verão de 1915, Mário arrendou uma mansão na rua do Sol, em Olinda, a um quarteirão da praia do Farol, onde passaram a temporada. De dia, alugavam cavalos para cavalgar na areia, entre as pitangueiras anãs. A noite, contratavam orquestras para animar suas festas. Casais dançavam quadrilha e se excitavam nos breves instantes em que seus corpos se roçavam. Nelson tinha menos de três anos, mas não se iluda: nada lhe escapava.
Ele ganhara esse nome em homenagem ao almirante inglês Lord Nelson, vencedor da batalha de Trafalgar, em 1805. Seu irmão seguinte, Joffre, também era uma homenagem militar de Mário Rodrigues: ao marechal francês Joseph Joffre, vencedor da batalha do Mame, em 1915. Não se conclua por isso que Mário Rodrigues fosse um militarista, que não era — o que admirava nesses soldados era a audácia de arriscar estratégias suicidas e, afinal, vitoriosas. Na sucessão presidencial de 1910, marcada pela campanha civilista de Rui Barbosa contra o marechal Hermes, ele trabalhara por Rui. Mas agora estava ao lado de um soldado, o general Dantas Barreto, o qual, modestamente, também se considerava um herói militar: voluntário da guerra do Paraguai, veterano da campanha de Canudos e ex-ministro da Guerra do marechal Hermes. Mário Rodrigues via em Dantas uma predestinação guerreira de macho pernambucano e estava disposto a segui-lo até o fim.
De repente, bomba no governo Dantas Barreto. Um dos favoritos do general, o chefe político Manuel Borba, dono dos votos do interior, rompeu espetacularmente com o líder em 1915 e lançou-se candidato à sua sucessão ao governo de Pernambuco. O dantismo, com Mário Rodrigues à frente, passou a considerá-lo um traidor, não só de Dantas, mas de Pernambuco inteiro — e, desfraldando esse exagero como uma bandeira, partiu para a guerra contra Manuel Borba. Até o ódio a Estácio Coimbra ficou em segundo plano. Mas Manuel Borba não era Estácio Coimbra. Conhecia o dantismo por dentro e concentrou seus ataques nas cabeças coroadas. Entre elas, a de Mário Rodrigues.
Os borbistas revelaram que ele tinha um cargo no governo — de curador de ausentes, responsável por intermediar contratos entre partes ausentes e o poder público — e insinuaram que, nessa função, ele devia receber muitos “presentes”. Mário Rodrigues podia ter-se defendido alegando, por exemplo, que não recebera esse cargo de Dantas, mas de um governador anterior, Herculano Bandeira. O que era verdade. Em vez disso, prestou contas, pediu demissão e, como contaria depois um amigo seu, o escritor Humberto de Campos, “enojado, limpou as mãos no focinho dos inimigos e foi embora para o Rio de Janeiro”.
O chão do Recife estava fugindo sob os pés de Mário Rodrigues. No último ano do governo Dantas, as coisas pareciam pretas para o dantismo e, em conseqüência, para Mário Rodrigues. O “Jornal da República” era o único jornal que ainda apoiava Dantas Barreto. Era natural que, para tirar-lhe o resto de chão, a imprensa inimiga fuzilasse diariamente o “Jornal da República” e seu diretor. Mário Rodrigues gostava de polêmicas, mas aquela era uma guerra de muitos contra um — e perdida, porque Dantas já não tinha com ele a opinião pública. Até a letra do frevo “Vassourinhas” fora mudada. Quando Dantas saísse do palácio, o “Jornal da República” ficaria de cuecas. Pois, desta vez, foi Maria Esther quem enxergou longe. Combinando sua intuição feminina com uma bela percepção do óbvio, começou a insistir com seu marido em que o futuro estava na Capital Federal — o Rio de Janeiro.
Mário Rodrigues tomou o vapor do Lloyd Brasileiro, deixou mulher, filhos e até o resto de seu mandato de deputado no Recife, e veio tentativamente para o Rio em fins de 1915. Seus únicos contatos na cidade eram os jovens Olegário e José Mariano Filho, filhos do herói abolicionista e republicano José Mariano, também de Pernambuco. Eles se davam com Edmundo Bittencourt, o proprietário do “Correio da Manhã”, e acolheram Mário Rodrigues enquanto tentavam que Edmundo o contratasse. Mas, nos primeiros meses, Edmundo não se interessou. Não que Mário Rodrigues parecesse muito preocupado. No Rio, uma cidade nova em folha depois da gigantesca reurbanização realizada pelo pref eito Pereira Passos, ele sentia no ar a rósea proximidade do verdadeiro poder e o perfume (nem tão próximo assim) das mulheres cariocas — as quais, como escreveu depois, andavam pelas ruas “esmagando almas”.
Mas a situação que deixara para trás, no Recife, não era tão rósea ou perfumada. O inimigo Manuel Borba vencera as eleições, o dantismo estava miseravelmente por baixo e seu irmão Augusto escreveu-lhe uma carta furibunda. Que voltasse imediatamente para o Recife, reassumisse o mandato e combatesse Manuel Borba com todos os dentes. Augusto tinha ascendência sobre Mário. Poucos anos mais velho, fora o seu apoio contra as sovinices do tutor Coelho Leite depois da morte de seus pais. O próprio Augusto, com grande tenacidade, formara-se em odontologia, mas torrava tudo o que ganhava em obras de arte cujo valor ninguém sabia ao certo.
Assim, Mário Rodrigues tomou o vapor de volta para o Recife e, em fevereiro de 1916, retomou o seu lugar na Assembléia pernambucana. Mas as coisas agora eram diferentes. Seu líder Dantas Barreto passara por cima de todos os cadáveres de 1911 e aliara-se ao ex-arquiinimigo Estácio Coimbra. O “Jornal da República” tornara-se o arauto dessa aliança. Mário Rodrigues sentiu-se pessoalmente traído. Não tinha como combater Manuel Borba naquela situação. Além do mais, Maria Esther não se conformava com a sua volta ao Recife — para ela uma cidade sinônima de instabilidade e incerteza. Obrigou-o a voltar para o Rio. Quando estivesse instalado e com emprego, mandasse-a chamar que ela seguiria com as crianças. E, então, Mário Rodrigues tomou mais uma vez o vapor para a capital. Ainda não sabia, mas deixara Maria Esther grávida de novo.
No Rio, desta vez, as coisas prometiam dar certo. José Mariano Filho conseguiu-lhe o emprego com Edmundo Bittencourt e Mário Rodrigues tornou-se redator parlamentar do “Correio da Manhã”. Isto significava cobrir o Congresso e tornar-se íntimo das qualidades e defeitos dos políticos nacionais. Qualidades e defeitos que, aliás, se revelavam muito menos no Palácio Monroe, onde funcionava o Senado, do que no cabaré “Assyrio”, ali ao lado, onde os políticos, juntamente com diplomatas e banqueiros, jantavam lagostas com champanhe entre belas mulheres que dançavam o “one step”.
Como se tivesse bicho-carpinteiro, Mário Rodrigues não se limitou ao trabalho no “Correio da Manhã”. Por fora, passou a mandar colaborações políticas para o “Jornal de Recife”. Um desses artigos foi que o salvou quando, poucos meses depois de contratado pelo “Correio da Manhã”, ele se desentendeu com o alagoano Costa Rego, poderoso secretário do jornal e braço direito de Edmundo Bittencourt. Costa Rego demitiu-o — e no pior momento possível: Mário acabara de receber um telegrama de Maria Esther informando-o de que vendera tudo no Recife e que estava embarcando com os filhos para o Rio.
Mário Rodrigues estava hospedado na casa de Olegário Mariano e de sua mulher Maria Clara em Botafogo. Sozinho no Rio, aquele era um arranjo conveniente para ele, sem ser um estorvo para Olegário e Maria Clara. Mas onde se instalar de repente com a mulher, seis filhos (um de colo, Joffre) e outro a caminho, como agora ele sabia? E, o que era pior, dramaticamente desempregado. Esta era a situação naquele julho de 1916 quando Mário Rodrigues foi com Olegário ao Cais Pharoux, na praça Quinze, esperar o vapor do Lloyd que trazia sua família.
Contra a vontade de seu cunhado Augusto, que a chamara de louca, Maria Esther vendera móveis e jóias para comprar as passagens e sustentar a si e as crianças durante a viagem — seis ou sete dias no mar, costeando o litoral e parando para despejar e recolher gente em Maceió, Aracaju, Salvador, ilhéus, Vitória e, finalmente, Rio. Entre refeições e gorjetas no navio, gastara o resto do dinheiro e chegara aqui sem um níquel. Mas Olegário Mariano foi magnífico. Acolheu todo mundo em sua casa, cama e mesa incluídas, desde que Mário Rodrigues não demorasse a tomar providências para empregar-se de novo e instalar-se em algum lugar. E bom notar que Olegário, com um ou dois livros publicados, ainda não era o “poeta das cigarras” — que só se tornaria em 1920 com o sucesso de seu poema “As últimas cigarras” — e muito menos fora eleito o “príncipe dos poetas brasileiros”, o que só viria a acontecer em 1926. Tinha seus recursos, mas não o suficiente para incorporar, por muito tempo, oito bocas pernambucanas à sua mesa.
Foi quando o acaso interferiu para envernizar a imagem de Mário Rodrigues junto a Edmundo Bittencourt e fazer com que ele fosse readmitido no “Correio da Manhã”. Um desses acasos tão felizes que fazem suspeitar de caso pensado. Uma de suas colaborações para o “Jornal de Recife” intitulava-se “A rapsódia de um panfletário” e era uma ode a Edmundo. Num trecho da matéria, reportando-se a antigas campanhas jornalísticas do ex-patrão, Mário Rodrigues escrevia: “Os artigos desse bravo, loucamente bravo nos seus impulsos de repúblico e nas suas revoltas de homem de bem, logo ribombaram como trovões contra a pederneira, para acordar a sociedade pusilânime, suicida num atascal de vilipêndio”. (Euclides da Cunha faria melhor?) E mais adiante: “A homens desse quilate não farei nunca a injúria de um cumprimento banal”.
José Mariano Filho fez com que o artigo de Mário Rodrigues chegasse ao conhecimento de Edmundo, e as portas do “Correio da Manhã” lhe foram abertas de novo. Reincorporado às suas funções de redator parlamentar, Mário Rodrigues finalmente pôs-se em campo em busca de uma casa para a familia. Encontrou-a na Aldeia Campista, um simpático arrabalde residencial espremido entre o Andaraí, a Tijuca, o Maracanã e Vila Isabel, na Zona Norte. Não era chique como as Laranjeiras, mas era o que ele podia pagar. Alugou-a, a 120 mil réis por mês, com o aval dos Mariano. Com vales do “Correio” e empréstimos de Olegário, comprou os tarecos essenciais para mobiliá-la. Um mês depois que a mulher e os filhos haviam desembarcado no Cais Pharoux, Mário Rodrigues pôs todo mundo num carro de praça em Botafogo.
Ele foi na frente com o chofer. Nos dois bancos de trás do velho “Hudson” de sete lugares (um banco de frente para o outro), viajaram Joffre no colo de Maria Esther, Nelson no de Milton e mais Stella, Mário Filho e Roberto. Uma hora depois, o carro chegou à Aldeia Campista e estacionou na esquina da rua Alegre com a Santa Luisa, ao lado de uma farmácia. Da janela, os vizinhos repararam no casal e na escadinha de filhos desembarcando e desaparecendo pela porta do nº 135 da rua Alegre.
O gramofone da casa ao lado tocava um big sucesso da época: a valsa da opereta “O conde de Luxemburgo”, de Franz Lehar.
- 1919 - RUA ALEGRE
As vizinhas eram mesmo gordas e patuscas. Tinham bustos opulentíssimos, braços espetaculares e colares de brotoejas. Passavam o dia nas janelas, fiscalizando os moradores da rua e suspirando exclamações como “Deus é grande!” e “Nada como um dia depois do outro!”. Seus maridos eram magros, asmáticos, espectrais e, à noitinha, postavam-se nas soleiras com seus pijamas de alamares e chinelos, esperando o garoto cujo pregão já se ouvia desde a Maxwell: “Eu sou um pobre jornaleiro/ Que não tenho paradeiro/ Vivo sempre a sofrer”. E puxava um fôlego extra para gritar: “Olha ‘A Noite’!”. Era também uma vizinhança de solteironas ressentidas, de adúlteras voluptuosas e, não se sabe por que, de muitas viúvas — machadianas, só que com gazes enroladas nas canelas, por causa das varizes.
Era também uma vizinhança que tossia em grupo. Não que fosse uma comunidade de tísicos. O brasileiro é que tossia muito naquele tempo. Qualquer agrupamento numa sala era um pânico. Começava por um solitário pigarro. Alguém aderia. Logo se juntavam as tosses secas, os chiados de asma, os assovios das bronquites e, num instante, a sala inteira era um festival de expectorações. Por isto, em todas as salas, em lugar de honra, entronizava-se a escarradeira. Uma escarradeira “Hygea”, branca, de louça, com o caule que se abria em lírio ou copo-de-leite. No resto, a vida era simples. Os banhos eram de bacia, os partos eram feitos em casa e os velórios eram a grande atração da rua — ia-se à casa do defunto não para vê-lo pela última vez, mas para se assistir ao desespero da mãe ou checar a sinceridade da viúva. Como os velórios eram domésticos, e não nas capelinhas, não havia morte que passasse em branco. Daí a impressão de que as pessoas morriam mais, principalmente as crianças. Talvez morressem mesmo. Mas o mais provável é que essas mortes, assim como as solteironices e os adultérios, fossem tantas quanto hoje, só que menos banalizadas.
Onde você já viu esse cenário e esses personagens? Em Nelson Rodrigues, claro. Pois esse cenário e personagens eram reais e compunham a paisagem da rua Alegre na época em que a família Rodrigues se mudou para lá, em agosto de 1916. Na verdade, compunham a paisagem de toda a Aldeia Campista, onde ficava a rua Alegre, e da qual Nelson espremeria até a última gota de suco em suas futuras peças, romances, contos e crônicas. Nas décadas seguintes, a Aldeia Campista seria absorvida pelos bairros adjacentes e, hoje, só os cariocas da velha guarda ainda a chamam pelo nome. A própria rua Alegre, nos anos 40, tornou-se a rua Almirante João Cândido Brasil, e um dos motivos para ter perdido o antigo nome só pode ter sido o de não fazer justiça a ele.
Quando os Rodrigues foram para a rua Alegre, não eram mais ricos ou mais pobres que o resto da vizinhança. Era uma rua de pequenos funcionários públicos, caixeiros de armarinhos na rua Larga e imigrantes judeus recém-chegados, sem nenhum esplendor visível no horizonte. Comparado com aqueles vizinhos, tão remediados quanto ele, Mário Rodrigues até que podia contemplar um horizonte: aos 31 anos, em 1916, estava longe de ser criança, mas não viera do Recife para perder. Trabalhava no “Correio da Manhã”, freqüentava rega-bofes como jornalista, eventualmente jantava as lagostas com champanhe no “Assyrio” a convite de um político, conhecia os poderosos e influentes. Em último caso, mas último mesmo — se, por exemplo, Edmundo Bittencourt tivesse um dos seus recorrentes ataques de cólera e o despedisse —, sempre poderia afiar o latim e afixar em sua porta a placa de advogado.
Com ou sem a espada de Edmundo Bittencourt sobre sua cabeça, Mário Rodrigues tinha bons motivos para pensar em também advogar. Mais exatamente, um motivo a cada dois anos. Se o salário no “Correio da Manhã” mal dava para sustentar seis filhos, no fim de 1916 esses filhos já não eram seis, mas sete, porque Maria Clara (cabelo vermelho) nasceu em novembro — e ganhou esse nome em homenagem à mulher de Olegário Mariano. E, logo depois, seriam nove, com o nascimento de Augustinho, em 1918, e Irene, em 1920, ambos de cabelo preto. Todos com a santa parteira da rua Alegre. Antes e depois de cada parto, Maria Esther enfrentava o tanque, o fogão e a filharada — porque lavadeiras, empregadas e babás, nem em miragens.
Uma amiga dos bons tempos no Recife, de passagem pelo Rio, foi visitá-la na rua Alegre e ficou escandalizada com a penúria. Voltou para Pernambuco dizendo horrores de Mário Rodrigues. Entre outras coisas, que café com macaxeira (que os cariocas chamavam de aipim), sem leite, era o almoço e o jantar da família. E não estava mentindo. O próprio Nelson se queixaria no futuro de que todos os seus aniversários daquele tempo foram comemorados sem uma mísera cocada ou mãe-benta.
Nelson fez quatro anos dias depois da chegada da família à rua Alegre. Ainda usava camisinha de pagão acima do umbigo, sem calças e sem consciência da própria nudez, quando uma vizinha, dona Caridade, irrompeu pela porta e esbravejou para sua mãe:
“Todos os seus filhos podem freqüentar a minha casa, dona Esther. Menos o Nelson!”
Diante da perplexidade geral, a acusação: vira Nelson aos beijos com sua filha Ofélia, de três anos, com ele sobre ela, numa atitude assim, assim. É claro que Nelson só havia tentado, esclareceu dona Caridade. Mas aquilo era suficiente para qualificá-lo, aos quatro anos completos, como um tarado de marca maior.
Nelson presenciou o alarido de dona Caridade com um pouco de medo, o nariz escorrendo e sem entender direito. Sua mãe não ralhou com ele e seu pai não o ameaçou com um único cascudo. Mas o episódio revelou-lhe que certas coisas eram proibidas e outras não. Ninguém o punha de castigo, por exemplo, quando ficava na janela cuspindo na cabeça dos que passavam. Pouco tempo depois, quando se habituou a empilhar um par de paralelepípedos para espiar sobre o muro da vizinha a filha da lavadeira tomando banho, já sabia muito bem o que estava fazendo. Viu uma vez e viu muitas mais.
O fato de ouvir dizer que a crioulinha nua no tanque era louca não fazia diferença. Era um corpo nu, diferente do seu — e aquilo fazia diferença. Tanta, aliás, que, nessa época, acendeu-lhe um súbito pudor do próprio corpo. Nelson foi um menino que não disputou com os outros moleques para ver quem fazia xixi mais longe ou quem gozava mais rápido nas masturbações coletivas — brincadeiras bobocas e comuns entre os meninos antigos. E, segundo todos os relatos, era também um garoto que não dizia palavrões.
Aos sete anos, em 1919, pediu a sua mãe para ir à escola. Ela o matriculou na escola pública Prudente de Morais, na esquina da própria rua Alegre com a Maxwell, a exatamente dois quarteirões de casa. Não foi uma experiência risonha e franca. Sua professora, dona Amália Cristófaro, gostava dele e o elogiava por ter aprendido a ler quase de estalo, mas vivia repreendendo-o por chegar todo dia com as orelhas sujas. Certa vez Nelson foi flagrado na escola com piolhos e lêndeas. Levado à diretora, dona Honorina, esta o mandou para casa dizendo que só voltasse com o cabelo cheirando a fite, para não empestear os outros oitenta fedelhos.
Os colegas implicavam com ele por suas pernas cabeludas e dona Honorina chegou a sugerir que passasse a usar calças compridas. Mas o que ninguém deixava de notar, na escola e fora dela, era a sua cabeça enorme, desproporcional ao tronco. No futuro, Nelson criaria uma imagem engraçada para descrever-se naquele tempo: “pequenino e cabeçudo como um anão de Velázquez". Mas basta examinar um dos anões do pintor espanhol para perceber que eles não tinham nada de engraçado: eram deformados e monstruosos. Que era como Nelson devia se sentir, ao receber festinhas dos amigos de seu pai e ouvir deles, pela undécima vez, o dúbio elogio: “Mas que cabeça, hein?”. Na verdade, Nelson tinha vergonha de sua cabeça. Se pudesse a esconderia, como fazia com o resto do corpo.
Aos oito anos, no segundo ano primário, aconteceu a história que depois se tornaria uma de suas favoritas: a do concurso de redação na classe. Um dia, dona Amália anunciou que, em vez de escrever sobre imagens que ela lhes mostrava (geralmente gravuras de animais domésticos, como vacas ou pintos), cada aluno iria discorrer sobre o tema que quisesse. A melhor redação seria lida em voz alta na classe. As composições foram escritas e entregues no mesmo turno de aula.
Dona Amália passou os olhos sobre as folhas de caderno, quase caíram-lhe os óculos ao ler uma delas e, por via das dúvidas, selecionou duas vencedoras e não uma. A primeira, de um garoto chamado Frederico, cujo sobrenome não passou à História, contava o passeio de um rajá no seu elefante. A outra — a de Nelson — era uma história de adultério. Um marido chega de surpresa em casa, entra no quarto, vê a mulher nua na cama e o vulto de um homem pulando pela janela e sumindo na madrugada. O marido pega uma faca e liquida a mulher. Depois ajoelha-se e pede perdão.
Quando recebeu e leu para si a redação de Nelson, dona Amália tirou os óculos e olhou-o como se estivesse diante de um aluno que ela nunca tinha visto. Foi até dona Honorina e pediu que ela também lesse. Dona Honorina leu e chamou as outras professoras. Foram em comitiva à sala de dona Amália e ficaram todas olhando para Nelson. Ele confessaria depois que, ao sentir-se tão olhado, adorou pela primeira vez ser o centro das atenções. A redação de Nelson não tinha como não ser premiada, mas não poderia ser lida em classe. Então premiou-se também a do rajá no elefante e só esta foi lida. Mas, intimamente, Nelson sabia que havia sido o único vencedor.
Duplamente, aliás, porque começara a redação com uma frase — “A madrugada raiava sanguínea e fresca” — tirada quase “ipsis literis” de um verso do batidíssimo soneto “As pombas”, de Raimundo Correia. E dona Amália não percebera ou fingira que não.
O detalhe do plágio é importante porque, tanto quanto a opção pela adúltera, esconde — ou, por outra, não esconde — um diabolismo que, até então, só dona Caridade, a mãe da menina Ofélia, enxergara em Nelson, quatro anos antes. O adultério, em si, nem tanto: não há criança de subúrbio que não tenha sido contemporânea de um caso desses sem se impressionar. E histórias como aquela, talvez com desfechos menos trágicos, eram freqüentes na rua Alegre e adjacências, onde florescia uma vizinhança particularmente abelhuda e fofoqueira. O excepcional era Nelson ter se atrevido a pô-la em palavras numa redação escolar.
Isto, claro, supondo-se que as coisas tenham corrido exatamente como o próprio Nelson contou ao chegar em casa. Porque, entre os muitos escritos produzidos por ele em sua infância e adolescência, este foi um que não chegou a 1992. A famosa redação não existe mais. Quem pode garantir, por exemplo, que o detalhe do marido se ajoelhando para pedir perdão não tenha sido acrescentado “de memória” por Nelson anos depois? Não é impossível.
Mas improvável. Se Nelson precisava de um ingrediente em sua biografia para fixar a obsessão que sempre o acompanharia — o sexo e a morte de mãos dadas —, os acontecimentos do ano anterior, 1918, e o que se passou em seguida no Rio teriam sido mais que suficientes.
Em meados de outubro de 1918, as pessoas começaram a apresentar febre súbita e altíssima e a cair mortas, como moscas, aos magotes. Era a “Espanhola”, a gripe que vinha da Europa pelos navios que atracavam nos portos brasileiros. Dizia-se que a causa eram os mortos insepultos da Europa na recém-finda guerra mundial. Foi uma devastação. Num Rio de Janeiro de 1.109.000 habitantes e quebrados em 1918, morreram quinze mil pessoas nos quinze últimos dias de outubro — mil por dia, se a matemática não falha. (Em termos de 1992, para uma população de 5.300.000 apenas na cidade do Rio de Janeiro, excluído o Grande Rio, seria como se hoje morressem setenta mil pessoas — perto de 4700 por dia!) E o Rio de 1918 não tinha apenas menos gente. Era também muito menor, com a população se concentrando na Zona Norte, onde morava o pessoal de Nelson, e no Centro. Uma família com um doente podia infectar com um espirro toda a família ao lado.
O elenco inteiro de uma revista da praça Tiradentes foi dizimado em três dias. Repórteres que cobriam o cais do porto e tinham de entrar nos navios já voltavam para as redações com quarenta graus de febre. Os médicos não sabiam como tratar a “Espanhola” e receitavam comprimidos de quinino, chá de folhas de pitangueira e caldo de galinha sem sal. Os mais irresponsáveis sugeriam cachaça com limão. Não que o Brasil não estivesse avisado. Aquela mesma gripe estava matando três milhões de pessoas na Europa e iria matar quinze milhões na Índia até o fim do ano. O vírus chegara ao Rio e se sentira em casa.
As pessoas morriam na cama, na rua, em toda parte, e iam sendo recolhidas pelos funcionários da prefeitura. Estes as jogavam nos bondes bagageiros da Light ou nas caçambas dos caminhões e das carroças da limpeza pública. Jogavam é o termo. Os corpos eram empilhados como sardinhas ou atuns. As vezes, numa curva do caminhão, um corpo caía da caçamba e era apanhado e atirado de volta, sem a menor consideração. Quando os carroceiros descobriam alguém dado como morto e ainda estrebuchando na pilha, acabavam de matá-lo com as costas das pás. Uma pessoa viva, nessas condições, era uma ameaça. Num morro dos fundos do Cemitério do Caju, voluntários e presidiários abriam valas comuns, onde eram despejados centenas de cadáveres de cada vez. Os próprios coveiros começaram a morrer e ninguém mais queria desempenhar esta função. E, quanto mais cadáveres acumulados, mais a situação piorava. Ninguém chorava ninguém — não havia tempo.
E, então, no fim de outubro, assim como surgira sem avisar, a “Espanhola” foi embora, quando ninguém mais esperava. Uma população inteira havia criado anticorpos. Cautelosas a princípio, as pessoas começaram a sair de casa, todas de preto. Oitenta por cento dos cariocas tinham sido atacados — a maioria pobres e indigentes, mas também muita gente da média e da alta. Raríssimas famílias da Aldeia Campista não tiveram um morto pelo qual vestir luto. Os Rodrigues foram uma delas, mas por muito pouco: Augustinho teve a gripe e só se salvou pela sua formidável resistência de bebê — tinha menos de seis meses.
A “Espanhola” atacara também Santos, Salvador e Recife, mas com muito mais condescendência. O Rio fora a sua maior vítima — e seria ele também a dar a maior resposta que uma epidemia já conhecera. E uma resposta bem carioca: o carnaval de 1919, o primeiro depois da gripe e o maior carnaval do século, o carnaval da ressurreição. Foi também o primeiro carnaval em que o samba superou em número os tangos, polcas, fados e até valsas dos outros carnavais. Era como se o carioca descobrisse finalmente a trilha sonora ideal para os corsos de carros abertos e para as batalhas de confete na praça Saenz Peña, na Tijuca, ou na rua Dona Zulmira, na Aldeia Campista.
Foi numa dessas que Nelson, aos sete anos, viu a odalisca loura do umbigo de fora.
Uma coisa era ver a filha louca da lavadeira tomando banho nua no tanque, trepado em paralelepípedos. Outra era ver um buquê de mulheres pintadas, perfumadas e seminuas dançando num carro aberto com a capota de lona amada, abraçadas a homens, flertando com os espectadores nas calçadas e exibindo nacos de carne que, até a véspera, escondiam avaramente dos vizinhos. Quando o corso passava, muitas mães tapavam os olhos dos filhos e os levavam pela orelha para casa. Uma das folionas era uma loura da Aldeia Campista, que Nelson via agora na praça Saenz Peña com uma fantasia de odalisca que lhe cobria quase tudo, menos o umbigo e arredores. Aquele umbigo pareceu a Nelson, como ele contaria depois, a vingança de toda uma cidade contra o pesadelo da “Espanhola”.
Não só o umbigo. “Em 1919, o Rio deixava de ser o de João do Rio e passava a ser o de Benjamin Costallat", ele escreveria várias vezes. Queria dizer que o alívio pelo fim da “Espanhola” ejaculara uma onda erótica e delirante na cidade como se as pessoas quisessem se atirar à vida antes que o mundo acabasse de novo. Num Rio muito mais literário que o de hoje, esse delírio era de fato representado, não mais pelo suave João do Rio, mas pelos contos e crônicas de Benjamin Costallat e, embora Nelson não a mencionasse, pelos poemas de Gilka Machado.
Costallat, hoje maciçamente esquecido, fizera furor aquele ano com os contos de seu livro “A luz vermelha”, em que, desde o título, fornecia descrições febris dos “vícios e loucuras” das madrugadas na Lapa e no Mangue, provocando “frissons” nas garotas e pânico nas famílias. Pela maneira com que escrevia, devia soar na época como um degenerado. Seu romance “Mlle. Cinéma” seria lido com palpitações uterinas pelas moças. Mas, depois de um apogeu relâmpago como o máximo da lubricidade, Costallat foi desmoralizado por uma “blague” (nunca se soube se verdadeira) de José do Patrocínio Filho: a de que o pobre Benjamin era o último homem a conhecer os vícios e loucuras do “basfond” carioca, já que pagava para não sair de casa e dormia pontualmente às dez da noite — hora em que a Lapa e o Mangue estavam apenas dando inicio aos trabalhos. Vindo de quem vinha, a piada foi encarada com reservas, mas não muitas: Zeca Patrocínio podia ser o maior mentiroso do Rio, mas era também o seu boêmio oficial.
Gilka Machado era diferente. Aos 26 anos, em 1919, ela já fizera tremer as porcelanas da “Colombo” com os seus livros “Cristais partidos” e “Estados de alma’ cujos poemas eram de uma sensualidade capaz de ferver os sucos da mais recatada aluna do Sacré-Coeur. Não contente em pertencer à roda da bela Eugênia Moreyra (uma jornalista que fumava charuto, dizia palavrões e contava piadas escandalosas), Gilka era também amazona e nadava e remava pelo Flamengo. Como era inevitável, as pessoas acreditavam que Gilka Machado desempenhava na vida real todos aqueles pecados que lubrificavam os seus versos.
Não era o caso, mas, enquanto durou o equivoco, Gilka foi uma celebridade: seus poemas eram copiados nos diários das adolescentes cariocas e lidos com intensa salivação até pelos garotos. Um desses poemas era o “Noturno” nº 8 de “Cristais partidos”:
É noite.
Paira no ar uma etérea magia;
Nem uma asa transpõe o espaço ermo e calado;
E, o tear da amplidão, a Lua, do alto, fia
Véus luminosos para o universal noivado.
Suponho ser a treva uma alcova sombria,
Onde tudo repousa unido, acasalado.
A Lua tece, borda e para a Terra envia
Finos, fluidos filós, que a envolvem lado a lado.
Uma brisa sutil, úmida, fria, lassa,
Erra de quando em quando. Uma noite de bodas esta noite...
Há por tudo um sensual arrepio.
Sinto pêlos no vento... E a Volúpia que passa,
Flexuosa, a se roçar por sobre as coisas todas,
Como uma gata errando em seu eterno cio.
Num clima denso de erotismo como este, a história do adultério contada por Nelson na redação para dona Amália, naquele mesmo ano, era até café pequeno.
Descontado o fato de que Benjamin Costallat, Gilka Machado e o carnaval de 1919 existiram de verdade, muito dessa insurreição erótica de toda uma cidade se passou apenas aos olhos de Nelson. Era ele que, dos sete aos dez anos, estava identificando a sua descoberta do mundo à movimentação da vizinhança — o que não quer dizer que estivesse errado.
Aos seus olhos, uma única adúltera na rua Alegre tornava suspeitas todas as esposas do mundo. Uma viúva que saísse de batom à rua, menos de seis meses depois de enterrar o marido, era um aviso a todos os maridos que um dia viessem a morrer. Uma mulher que desfilasse com o umbigo de fora num carro aberto era uma prova de que, por mais que se cobrissem, as mulheres continuavam nuas sob os vestidos. E, se os homens vinham ao mundo para alguma coisa, era para sentir ciúmes. Seu pai, por exemplo. Era ciumento como um marido de ópera. Não deixava a mulher sair sozinha e muito menos de bonde: havia um gaiato em cada ponto, alerta para a menor centelha de um tornozelo exposto, mesmo que de meias, na hora de subir ao estribo. Se Maria Esther tinha de sair de casa, que fosse em carro fechado e com um dos filhos.
Nelson presenciou bate-bocas tremendos por causa dos ciúmes de Mário Rodrigues — cenas cuja apoteose mostrava seu pai agarrado às saias de Maria Esther, jurando que aquilo não se repetiria.
Na condição de quarto irmão homem por ordem de entrada em cena, Nelson era também o precoce beneficiário das descobertas e experiências dos mais velhos. Em 1919, eles já tinham idade para espremer espinhas — Milton, catorze anos; Roberto, treze; Mário Filho, onze — e Nelson, aos sete, era um interessado espectador e ouvinte dessas experiências. E, para completar essa apreensão a jato dos fatos da vida, começara a ler como um possesso.
Como todo mundo então, ele começou com “Tico-tico”, a primeira revista infantil brasileira, fundada em 1905. Se você considera isso irrelevante, saiba que, em 1919, Rui Barbosa, já com quase setenta anos e do alto de seu monóculo, guarda-chuva e polainas, também lia a revistinha. (E ainda a citava na tribuna do Senado. Quando lhe perguntavam onde havia lido sobre isto ou aquilo, Rui respondia com olhos de aço: “Li no ‘Tico-tico’!”.) Nelson superou rapidamente “Tico-tico” e passou a ler tudo o que lhe caía à frente, em forma de livro barato, folhetim de jornal ou almanaque de xarope — da primeira à última linha, muitas vezes sentado no meio-fio da rua Alegre, debaixo de um lampião. Não que não pudesse ler em casa — sua família nunca lhe censurou qualquer leitura. É que tinha mais sossego na rua.
Você chamaria essas leituras de subliteratura, e das mais cabeludas: “Rocambole”, de Ponson du Terrail; “Epopéia de amor”, “Os amantes de Veneza” e “Os amores de Nanico”, de Michel Zevaco; “Os mistérios de Paris”, de Eugène Sue; “A esposa mártir”, de Enrique Pérez Escrich; “As mulheres de bronze”, de Xavier de Montepin; “O conde de Monte Cristo” e as infindáveis “Memórias de um médico”, de Alexandre Dumas pai; os fascículos de “Elzira, a morta-virgem”, de Hugo de América; e ponha subliteratura nisto.
Variavam os autores, mas no fundo era uma coisa só: a morte punindo o sexo ou o sexo punindo a morte — ou as duas coisas de uma vez, no caso de amantes que resolviam morrer juntos. A forma é que era sensacional: tramas intrincadas envolvendo amores impossíveis, pactos de sangue, pais sinistros, purezas inalcançáveis, vinganças tenebrosas e cadáveres a granel. Um ou outro autor dava uma pitada a mais de perversidade condenando a heroína à lepra ou à tuberculose, males tão vulgares nesses romances quanto corizas.
Não que Nelson escolhesse esse gênero de histórias. Elas é que lhe chegavam mais facilmente às mãos. Tanto que, quando leu Dostoiévski pela primeira vez aos treze anos — “Crime e castigo” —, foi também em folhetim, e ele o leu com a mesma sofreguidão diária com que engolira “Elzira, a morta-virgem”. Para quem não sabe, o folhetim era um romance, quase sempre francês ou espanhol, que se lia pelo jornal, a um capítulo por dia — uma espécie de avô da novela de TV. Quase todos os jornais tinham o seu. Eram tirados de romances clássicos ou marca barbante, de preferência estes — donde não era nobre lê-los e algumas pessoas olhavam para os lados, para se certificar de que não estavam sendo flagradas lendo um. Pois Nelson amamentou-se explicitamente com eles.
Por volta dos dez anos, essa confusa atração pelo sexo sempre às voltas com a morte encaminhou-o, para surpresa da família, a um lugar onde nenhum dos jovens Rodrigues jamais havia posto os pés: a uma igreja católica. Mais exatamente, à de Santo Afonso, na esquina de Major Ávila com Barão de Mesquita. A surpresa se explicava porque, afinal, dona Maria Esther continuava protestante, mesmo bissexta. Roberto e Mário Filho, este menos, iam de vez em quando aos cultos batistas — um pouco para acompanhar a mãe ou porque estavam interessados em alguma fiel mais jeitosa. Nelson, nem isto. E nem ele, nem seus irmãos, tinham sido batizados sob qualquer rito religioso.
A igreja de Santo Afonso, até hoje, é bonitona e imponente, com sua fachada cor de chumbo. É possível que Nelson tenha presenciado uma ou duas missas ali porque, como contaria anos depois, alimentou uma fugaz fantasia de tornar-se coroinha. Pensou também em ser seminarista. O certo, no entanto, é que a freqüentava quando ela estava vazia, fora dos horários de serviços religiosos. A igreja enorme e silenciosa, com o sol varando de luz os santos dos vitrais, dava-lhe a sensação do mistério divino. Se o menino Nelson procurava a igreja como um refúgio onde se sentia purificado dos pecados alheios, só podemos conjeturar. Mas, pelo resto da vida, ele continuaria entrando esporadicamente em igrejas vazias e, aí, sim, por conta dos próprios pecados.
Pode ser também que, em criança, visitar uma igreja fosse uma mera curiosidade mórbida — a mesma que o levava a não perder os velórios da rua Alegre. E a rua Alegre era pródiga em velórios. Dona Laura, por exemplo, a vizinha defronte à sua casa, era recordista em patrociná-los: perdia filhos com a mesma velocidade com que os paria. Uma vez por ano lhe morria um e ela não parecia se acostumar: uivava de desespero e batia com a cabeça nas paredes. Nelson ficava impressionadíssimo Uma das filhas de dona Laura, e a última a morrer enquanto ele morou na rua Alegre, chamava-se Alaíde.
Mas podia acontecer também que a solenidade dos velórios da rua fosse quebrada por uma reação inesperada, como no dia em que um bebum entrou por engano num velório de adulto. Como já estava lá, resolveu perscrutar o morto para ver se o conhecia. Nunca o tinha visto antes, nesta ou noutra encarnação. Mas, ao perceber que o defunto estava de gravatinha borboleta, desatou a rir. Apontava para a gravatinha às gargalhadas e foi enxotado do velório a pontapés, como nos botequins.
Os enterros da rua Alegre não eram luxuosos como os das ruas mais ricas da Tijuca ou de Vila Isabel. A diferença a favor destas estava nos adornos pretos e dourados dos cavalos e na quantidade de cavalos que puxavam o coche com o caixão. Eram sempre dois ou quatro, engalanados de alto a baixo, inclusive com penacho, e seguidos por uma fila de automóveis. Sabia-se que tinha havido um enterro naquela rua, de qual casa ele saíra e até o número de cavalos que o puxara, pelo volume de cocô acumulado perto da calçada. Os enterros da rua Alegre eram muito mais discretos, porque puxados por um único cavalo. E seguidos também por um único automóvel, sempre de praça, levando apenas a família.
Não se entenda por isso que Nelson teve uma infância lúgubre, de personagem de Charles Dickens. Em muitos aspectos, ela foi tão banal quanto a sua ou a minha. Aos sete anos, por exemplo, entrou pela primeira vez num cinema. Talvez até um pouco tarde, considerando-se que o cinema ainda era uma grande novidade em 1919. Foi com sua mãe e Mário Filho ao velho cine América, que até hoje existe na praça Saenz Peña, mas que na época era um palácio em forma de pagode chinês. Onze chances em dez de que o filme fosse um daqueles de dois rolos, do caubói William S. Hart (o S. era de Shakespeare), da mocinha Mary Pickford ou de Carlitos (ou Carlito, como ainda era chamado no Brasil). Esses astros eram mais inevitáveis na tela do que pipoca na platéia. Mas o primeiro filme que impressionou Nelson, assim como a Mário Filho, foi o seriado “A moeda quebrada”, com Eddie Polo (Rolleaux), em que os garotos saíam do cine Maracanã imitando o muque do herói. Era um filme de 1915, mas atrasos de três ou quatro anos, até que os filmes chegassem por aqui, eram normais.
Foi também em 1919 que Nelson descobriu, não o futebol, mas o Fluminense. Foi o ano do primeiro tricampeonato do tricolor, cujo time vivia na ponta da língua de qualquer moleque: Marcos, Vidal e Chico Neto; Laís, Oswaldo e Fortes; Mano, Zezé, Welfare, Machado e Bacchi. Mais tarde, Mário Filho compararia a métrica dessa escalação a um soneto, tão perfeito e parnasiano quanto o “Ora, direis, ouvir estrelas” de Olavo Bilac.
Mas, aquele ano, nem Mário Filho e muito menos Nelson tinham dinheiro e idade para fazer com freqüência a longa viagem da Aldeia Campista à rua
varo Chaves, nas Laranjeiras, para ver o Fluminense jogar. Quem fazia isto, todos os domingos, era Milton, o mais velho. As vezes o jogo era um Fla-Flu, que ainda não se chamava Fla-Flu, e era no campo do Flamengo. Mas este fica- va na rua Paissandu, juntinho do Fluminense. Nelson e Mário Filho tornaram-se tricolores quase de ouvido, pelos relatos de Milton sobre a campanha do tri de 1917/1918/1919.
Só que o futebol já existia para Nelson antes do Fluminense. Seu primeiro time, na verdade, foi o Andaraí, que disputava o campeonato carioca e era da vizinhança da Aldeia Campista. Pelo menos, era pelo Andaraí que Nelson torcia fervorosamente na companhia de um garoto que também morava por ali, o futuro médico e também teatrólogo Pedro Bloch. Os dois se empoleiravam no muro de um vizinho para ver os jogos do Andaraí, cujo campo ficava perto de suas casas. Para Nelson, foi uma conversão sem dor. O Andaraí era um bravo clubinho, mas sempre na disputa pelos últimos lugares. E o Fluminense tinha Marcos Carneiro de Mendonça, o goleiro que todas as mães sonhavam ter como genro e pelo qual as moças sentiam fricotes. Os outros clubes não tinham um Marcos Carneiro de Mendonça.
Mas o forte de Nelson em futebol nos idos de 1919 não era torcer, e sim jogar. Havia dois times de pelada nas proximidades da rua Alegre, ambos com seus campinhos: o Tiradentes e o Black and White. Quando os campinhos não estavam ocupados com as peladas, eram usados para se empinar pipa. Cada time tinha uma única bola de couro nº 4, com as costuras já se desfazendo e a câmara de ar querendo saltar entre os gomos, como um olho inchado. Nelson jogava no Tiradentes e sua posição era a meia-direita.
Aos que se habituaram a pensar em Nelson Rodrigues como um homem moroso e nada elástico, é difícil, de fato, imaginá-lo correndo atrás da bola como um coelhinho de desenho animado. Mas, segundo os relatos de seus irmãos, Nelson era valente, veloz e bom driblador. Melhor jogador do que Mário Filho, que fugia do pau, e muito melhor do que Milton, que começara a engordar demais.
Nelson, naturalmente, não faria carreira como jogador de futebol. E seu interesse pelo jogo iria diminuir à medida que ele começasse a descobrir que era capaz de apaixonar-se de quinze em quinze minutos por todas as garotas do Rio.
- 1924 - O VIVEIRO DE ÓDIOS
Para Mário Rodrigues, em 1920, as coisas estavam ficando azuis como um domingo de regatas. Subira de posto, era agora editorialista no “Correio da Manhã” e seu salário de quatrocentos mil réis por mês ganhava reforços astronômicos quando Edmundo Bittencourt se entusiasmava por alguma coisa que ele tivesse escrito — quase sempre um ataque ao presidente Epitácio Pessoa, daqueles de fazer Epitácio descer do seu perfil de efígie. Nesse caso Edmundo, que, se pudesse, daria “bola” de cachorro a Epitácio, chamava Mário de batuta, enfiava a mão no bolso e soltava-lhe uma gorjeta de vários contos de réis, como se aquele dinheiro não lhe significasse nada. Como todos os donos de jornais, Edmundo era avaro nos salários, mas bastava gostar de um artigo, um tópico ou uma ilustração, e lá vinha um rolo de notas para o autor. Em outras ocasiões, artigos, tópicos ou ilustrações muito melhores passavam em branco pela sua admiração e pelo seu bolso. Dependia do seu humor, e este era instável como o de uma jaguatirica.
Mário Rodrigues não queria ficar na dependência dos humores de Edmundo Bittencourt. Por isso, tirou da parede o diploma de advogado, espanou seu latim de 1909 e prestou concurso para auditor de guerra, uma espécie de juiz civil-militar. Já havia até escrito uma monografia a respeito, “Direito militar comparado”, que publicara em Buenos Aires. Longe do assunto desde que surrara Gilberto Amado na faculdade do Recife, Mário reviu a matéria de véspera, fez os exames — nos quais usou palavras tiradas da aljava — e foi aprovado, mas não obteve classificação para as vagas. Então, fez de conta que aquilo não tinha acontecido e atirou-se à sua banca de editorialista do “Correio da Manhã”.
Deu sorte porque, em 1922, o ódio de Edmundo Bittencourt por Epitácio Pessoa chegara a um ponto em que ele quase incluiu o nome do presidente na lista negra do jornal. (Quando o “Correio da Manhã” cismava com alguém, Edmundo o declarava “morto” e o nome do sujeito não saía nem a bacamarte.) Mas este era um ódio que Mário Rodrigues partilhava com o maior prazer, porque o paraibano Epitácio se metera com violência na política de Pernambuco aquele ano: promovera uma intervenção federal — não declarada, mas armada — para favorecer a oligarquia de seus sobrinhos, os Pessoa de Queiroz, nas eleições locais. Epitácio estacionara dois destróieres da Marinha de Guerra no Recife, o “Pará” e o “Sergipe”, com os canhões apontados para a cidade, cortara as suas comunicações telegráficas e a povoara de cangaceiros paraibanos a soldo de seus parentes, afinal vitoriosos. Por causa disso, Mário, que até então se referia a Epitácio com suavidades como “tirano de maus fígados e alma enoitecida”, passou a chamá-lo de “o Nero de Umbuzeiro”, numa referência à cidade natal do presidente.
Epitácio não engoliu o epíteto e rugiu de volta, classificando o “Correio da Manhã” como um bando de “salteadores da pena, flibusteiros da calúnia, de onde o ódio ou o dinheiro varreram todos os escrúpulos”. Rugia no plural, mas sabia muito bem que podia limitar-se a Mário Rodrigues, o principal editorialista do jornal. O venerando Rui Barbosa assistia com enorme pesar a esta desmoralização da República e, certamente abanando-se com o “Tico-tico”, soltou um de seus pedregulhos verbais: “No lugar de melhorar, retrogradamos”. Mas Rui (que gostava de Mário e elogiou-o pela sua cornucópia verbal) também não poupava a imprensa, a qual chamou de “indústria prostibular”. Ele devia saber — porque já fora dono de jornais.
Rui tinha razão para suspirar de decepção. Em outubro de 1921, a imprensa — aliás, Mário Rodrigues e o “Correio da Manhã” — fora o gatilho de um tiroteio político-militar que teria repercussões em toda a história futura do Brasil: o episódio das “cartas falsas” contra os militares, atribuídas ao então candidato à sucessão de Epitácio, o governador mineiro Arthur Bernardes. E verdade que nada teria acontecido se Epitácio, ao tomar posse em 1919, não tivesse cometido aquele tresloucado gesto, inédito antes e depois: nomear paisanos para as pastas militares.
E que paisanos. Pandiá Calógeras, por exemplo, tornara-se ministro da Guerra sem nunca ter pisado num tiro-ao-alvo de mafuá; e Afonso Pena tornara-se ministro da Marinha embora, sendo de Minas, não tivesse a mínima intimi- dade com o mar. Em meados de 1921, quando ficou clara a preferência de Epitácio por Bernardes para sucedê-lo (donde a inevitável vitória do mineiro naquelas eleições fraudadíssimas), o influente Clube Militar, presidido pelo marechal Hermes, começou a se mexer, promovendo banquetes para angariar adesões contra o candidato e a favor do próprio Hermes. Não contentes, os quartéis descobriram a semelhança de Bernardes com um cabrito e lhe puseram o apelido de “Seu Mé”. Uma bela tarde de outubro, o telefone tocou na redação do “Correio da Manhã” e mandaram chamar Mário Rodrigues.
Era o senador da oposição Irineu Machado. O verdadeiro candidato de Irineu Machado era outro ex-presidente, Nilo Peçanha, mas seria capaz de fazer campanha até pelo fantasma da Ópera contra Arthur Bernardes. Irineu Machado falou a Mário Rodrigues sobre duas cartas que recebera de um intermediário e que comprometiam fundamente a candidatura oficial. Mário Rodrigues foi à casa do senador na rua Ipiranga, conheceu o intermediário (um indivíduo chamado Oldemar Lacerda) e leu as cartas. Seriam de Bernardes, endereçadas ao ministro da Marinha Raul Soares, e chamá-las de dinamite era pouco.
A primeira começava assim: “Estou informado do ridículo e acintoso banquete dado pelo Hermes, esse sargentão sem compostura, aos seus apaniguados, e de tudo que nessa orgia se passou. Espero que use de toda energia, de acordo com as minhas últimas instruções, pois essa canalha precisa de uma reprimenda para entrar na disciplina”. E terminava: “A situação não admite contemporizações. Os que forem venais, o que é quase a totalidade, compre-os com todos os seus bordados e galões. Abraços do Arthur Bernardes”.
Mário Rodrigues viu que tinha uma bomba nas mãos e resolveu fazer perguntas. De quem Oldemar Lacerda era intermediário? Este não quis dizer. E como podiam jurar que as cartas eram autênticas? Em resposta, Irineu Machado passou-lhe outra carta de Bernardes, inofensiva e aparentemente indiscutível, para que ele confrontasse as assinaturas. Pareciam iguais. Mário Rodrigues então levou as cartas para o “Correio da Manhã”. Edmundo Bittencourt estava fazendo estação de águas em Lindóia. Seu filho Paulo, em Paris. O diretor Leão Veloso, não se sabe. Na ausência deles, respondiam pelo jornal um outro diretor, Raimundo Silva, e o secretário Costa Rego. Todos achavam perigoso publicar as cartas sem um exame mais minucioso. Mas jornal é jornal e eles soltaram a primeira logo no dia seguinte — uma bofetada nos militares. E quase em seguida soltaram a segunda. Bem, se os inimigos de Bernardes queriam abrir um rombo em sua candidatura, pelo qual penetraria a do marechal Hermes, quase conseguiram.
O Exército, então um viveiro de jovens oficiais “idealistas”, ficou verde-oliva de ódio. Ou Bernardes provava a acusação de venalidade (e nesse caso o Exército teria de ser extinto) ou ele, Bernardes, não poderia ser presidente. Os bernardistas, assustados, juraram que as cartas eram falsas. Edmundo, de Lindóia, propôs que uma figura isenta, o general Cândido Rondon, avaliasse se eram ou não. Ninguém sabia que, entre os fabulosos méritos de Rondon, estava o de decifrar caligrafias — nem o próprio, que, sabiamente, excusou-se. Outros propuseram Rui Barbosa. Este deu uma vista d’olhos no clichê do “Correio da Manhã”, decretou que as cartas eram falsas e que, por já ter juízo formado, não poderia ser juiz da causa. Edmundo mandou então as cartas para Lyon, na França, onde funcionava o perito Locard, uma sumidade mundial. Locard examinou e garantiu que eram autênticas. Os bernardistas disseram que Locard estava no bolso de Edmundo e exigiram que outro perito europeu, o italiano Ottolenghi, as avaliasse. Deu empate, porque o italiano optou pela falsificação. O impasse durou meses, chegou a fevereiro de 1922 e as duas facções só faltaram aproveitar a Semana de Arte Moderna, em cartaz no Teatro Municipal de São Paulo, e pedir a opinião de um crítico futurista.
Enquanto a crise se prolongou, o “Correio da Manhã” vendeu mais jornais do que nunca, tratando Bernardes como se ele fosse a última palavra em satanismo. A campanha parecia mortal porque, ao vir ao Rio para expor sua plataforma de governo, “Seu Mé” foi vaiado da Central do Brasil à Cinelândia. Mas a oposição vetou Hermes como seu candidato, por considerá-lo gagá. Preferiu Nilo Peçanha, o famoso “Moleque presepeiro” — e foi derrotada por Bernardes nas eleições de 1? de março de 1922. (Daquelas em que até os mortos se levantavam das tumbas para votar no candidato oficial.) Em junho, Oldemar Lacerda, o solerte intermediário (na verdade, intermediário de si mesmo), admitiu que falsificara as cartas para tentar favorecer Hermes. Nem isto sossegou os tenentes. E, no fim daquele mês, em termos nada protocolares, Hermes acusou Epitácio de usar o Exército como guarda pretoriana para interferir nas eleições de Pernambuco. Era o que faltava para tingir a alma epitaciana de vermelho.
Pela volta do correio, um furioso Epitácio Pessoa fechou o Clube Militar a 3 de julho e, suprema audácia para os tenentes, mandou prender Hermes. O marechal foi libertado horas depois de sua simbólica prisão, mas os tenentes acharam que era demais e, no dia 5 — incitados pelo “Correio da Manhã” —‘rebelaram o Forte de Copacabana. Teriam chances se muitos outros quartéis lhes aderissem. Mas Epitácio não quis conversa: decretou estado de sítio, sufocou as tíbias adesões e atacou o forte por terra, mar e ar. No dia 7, sozinhos e derrotados, dezoito heróicos rebeldes desceram a calçada da avenida Atlântica para o combate final (contra seiscentos soldados) e tombaram, quase todos mortos, sobre as pedras portuguesas que estavam sendo assentadas em forma de ondas naquela época. Belo batismo para a que, um dia, seria a calçada mais famosa do mundo.
Chame a isso de coincidência, se quiser. Quanto mais o céu ficava cinza na política nacional, mais parecia de anil para Mário Rodrigues. Em 1922, com seu prestígio de editorialista consolidado junto a Edmundo no “Correio da Manhã”, Mário Rodrigues embarcou a família em dois táxis, contratou a andorinha e mudaram-se da rua Alegre para a Tijuca — uma nítida melhora de padrão. Na nova casa da rua Antônio dos Santos (atual Clóvis Beviláqua), Maria Esther teve mais dois filhos: Paulo, naquele mesmo ano de 1922, de cabelo preto, e Helena, em 1923, de cabelo vermelho. A prole agora chegava a onze, mas isto não parecia motivo de sobressalto. Afinal, as gorjetas de Edmundo Bittencourt a Mário Rodrigues ficavam cada vez mais freqüentes e extravagantes. Uma dessas, no Natal de 1922, teria sido de sessenta contos de réis — quase um prêmio da Loteria. Bem ao seu estilo, Mário Rodrigues só levou metade desse dinheiro para casa. A outra metade ele deixou no “Clube dos democráticos”, a sociedade carnavalesca da rua do Passeio, da qual se tornara um ardente torcedor e quase patrono. A contribuição de Mário Rodrigues fez com que os préstitos dos “Democráticos” pusessem no chinelo os dos “Fenianos” e dos “Tenentes do diabo” no carnaval de 1923.
Atendido o seu lado boêmio, os dias de Mário Rodrigues eram tão ocupados pela política que, naquele tempo, ele só via os filhos de raspão. O que o torturava porque, quando se tratava da família, era, como o descreveria Nelson, “trêmulo de amor”. Mas aquele era o seu momento profissional, e ele não planejava eternizar-se na direção do jornal de Edmundo Bittencourt. Assim, todos os dias saía cedo de bonde para o largo da Carioca, onde ficava o “Correio da Manhã”. Ao pôr o chapéu, mal tinha tempo de gritar da porta para Maria Esther: “Dê duro nesses meninos!”. E ia dar duro nos meninos dos outros, até alta madrugada.
Maria Esther era uma multimãe, mas não podia controlar tudo — ou teria notado que, aos onze anos, Nelson já se tornara um fumante profissional. Nada de mais nisto: Mário Rodrigues acendia cigarros e charutos uns nos outros e Roberto e Mário Filho também fumavam. (Milton seria o único que jamais fumaria.) No começo nenhum dos rapazes fumava diante da mãe. Ela sabia que eles traziam cigarros nos bolsos, mas fingia não ver. Não era algo que arranhasse a sua tremenda autoridade. E, quando descobriu que Nelson também fumava, ele já tinha dinheiro para comprar os seus maços de “York”, fabricados pela Companhia de Cigarros Veado.
Em garoto, Nelson nunca levou um cascudo de pai ou mãe, mas houve um momento em que esse cascudo passou por perto: ao ser expulso do Colégio Batista, na Tijuca, em 1926, na segunda série do ginásio. Depois de quatro anos na escola de dona Honorina, sem outros lances espetaculares que o da história do adultério, Nelson fizera o quinto ano primário no Colégio Joaquim Nabuco, na rua General Severiano, cujas grandes atrações eram as pernas de dona Noêmia, sua professora de Geografia, e os jogos de pelada na hora do recreio, no campo do Botafogo. E, justamente quando sua vida escolar não prometia nada de emocionante, os batistas o expulsaram na metade do curso ginasial.
O argumento para sua expulsão soa ridículo hoje: rebeldia. Nelson vivia contestando seus professores, principalmente os de História e Português, insistindo em que eles justificassem os seus pontos de vista sobre os assuntos de que falavam. E o pior era que ele, Nelson, queria dar os seus próprios palpites sobre esses assuntos — os quais iam das guerras púnicas aos pronomes oblíquos. Numa época em que quase não se permitia aos alunos piar em classe, sua rebeldia começara a lhe render zeros e notas baixas, contra o que Nelson reagia com sua já embrionária mordacidade. Quando o colégio não agüentou mais e comunicou a Maria Esther que Nelson estava expulso, ela ficou furiosa — com ele — e, num raro momento de descontrole, quis chegar-lhe a roupa à pele com uns tapas. Mas Mário Rodrigues, sabendo muito bem a quem o filho safra, segurou a mão de sua mulher no ar. Maria Esther então matriculou Nelson no Curso Normal de Preparatórios, na rua do Ouvidor, esperando que ali ele completasse o ginásio e prestasse exames no Colégio Pedro II. Quer saber se um dia isso chegou a acontecer?
Mário Rodrigues compensava sua relativa ausência de casa deixando que os rapazes fossem visitá-lo no “Correio da Manhã”. Quanto a Nelson, levou-o à redação mais de uma vez. Adorava exibir os filhos para os colegas, mas só isto. Ao que se saiba, nunca lhe passou pela cabeça vê-los jornalistas. O que antevia para eles era que as meninas se tornassem médicas e os moços advogados ou, na pior das hipóteses, altos funcionários do Imposto de Consumo. Mas nem Mário Rodrigues, que toda a família via como uma potestade infalível e incontestável, podia impedir que o jornal entrasse na corrente sangüínea de seus filhos. Principalmente depois que, promovido a diretor do “Correio da Manhã”, meteu-se numa batalha contra Bernardes e Epitácio que lhe custou um ano de cadeia.
Não que ele não esperasse por isso. Ao contrário, só faltava pedir que o prendessem. Mas a pena não precisaria ter sido tão drástica. Mário Rodrigues foi processado e condenado em 1924 por um artigo publicado em 1923 sobre um episódio ocorrido em 1920. O episódio existiu: a doação de um colar no valor de 120 contos de réis à esposa do então presidente Epitácio Pessoa, dona Mary, pelos usineiros pernambucanos. O mimo destinava-se a realçar a elegância de dona Mary na recepção de gala aos reis da Bélgica, Elizabeth e Alberto, em visita ao Rio aquele ano. Ora, ninguém é proibido de dar presentes a primeiras-damas, ou isto não viveria acontecendo até hoje. Mas, segundo o “Correio da Manhã”, o colar pressupunha que Epitácio adocicasse certas restrições que ele mesmo impusera à exportação de açúcar e que estariam amargando os lucros daqueles usineiros.
O artigo era cheio de ironias e Mário Rodrigues foi processado por injúria. Só que não foi Mário Rodrigues que o escreveu. O autor do tópico era um editorialista do jornal, o escritor Humberto de Campos. Mas, como diretor, Mário Rodrigues era o responsável e deixou-se condenar sem que em momento algum o nome de Humberto de Campos aparecesse. Se fosse apenas por este processo, Mário Rodrigues pegaria dois meses e dez dias de prisão e uma multa insignificante. Mas a este juntou-se um artigo de fundo que Mário Rodrigues efetivamente escreveu, intitulado “Cinco de julho” e publicado pelo jornal a 5 de julho de 1924 — por coincidência, o dia em que estourou a revolução militar de São Paulo contra o governo Bernardes. O editorial de Mário era uma celebração aos “Dezoito do Forte” do já longínquo 5 de julho de 1922, sem qualquer referência, mesmo que com tinta invisível, ao que se ia passar em São Paulo naquelas horas.
Por este artigo, considerado de incitamento à revolta, o “Correio da Manhã” foi fechado e Mário Rodrigues condenado a um ano de prisão e multa de dez contos de réis — sem sursis, que ainda não existia no Código Penal brasileiro. Edmundo Bittencourt e seu filho Paulo também foram presos, mas a pena principal coube a Mário Rodrigues. Enquanto a sentença esperava pela confirmação do Supremo, Edmundo ofereceu a Mário sustentá-lo por um ano na Europa (ou em Buenos Aires, à sua escolha) se ele quisesse fugir. Mas Mário, numa atitude típica, preferiu ficar — e o Supremo confirmou a sentença. E assim, no mesmo mês de agosto de 1924 em que o “Correio da Manhã” era silenciado, Mário Rodrigues foi conduzido para sua cela no Quartel dos Barbonos, na rua Evaristo da Veiga.
Pouco antes da prisão de Mário, os Rodrigues haviam se mudado de novo. Desta vez, a andorinha recolhera a mudança na Tijuca e a depositara num bangalô de dois andares na rua Inhangá, em Copacabana, tendo como vizinho o recém-inaugurado Copacabana Palace. Em 1924, o hotel dos Guinle parecia um navio solitário ancorado na avenida Atlântica, com poucas casas à direita e à esquerda. Mas a rua de trás, a avenida Nossa Senhora de Copacabana, já estava razoavelmente colonizada e algumas transversais se esticavam como dedos em direção à areia. Uma dessas transversais, a Inhangá, era então um dos melhores endereços do Rio, o que demonstra a lenta, mas constante afluência de Mário Rodrigues. O bangalô era alugado, embora Mário pudesse ter feito uma oferta ao proprietário para comprá-lo. Mas, num Rio de aluguéis ridículos e espaço de sobra para construir, ninguém perdia o sono por ser inquilino.
Eles não foram os primeiros moradores do bangalô. A família que vivera ali deixara alguns móveis para trás, entre os quais um baú no sótão — onde, entre espartilhos usados, agulhas de gramofone, bonecas de galalite, frisadores de cabelo e um catálogo da “Sears-Roebuck”, as irmãs de Nelson encontraram o diário de uma adolescente. O caderno rodou de mão em mão por alguns dias, mas era banal, como soem ser os diários de adolescentes, e foi logo abandonado e perdido. (Onde ressurgiria depois essa história de um diário encontrado num sótão? Ah, sim, na memória de Nelson: ele a incluiria em “Vestido de noiva”, no diário de madame Clessy descoberto no baú por Alaíde.)
A Copacabana de 1924 era “docemente residencial, como Botafogo de Machado de Assis”, diria Nelson no futuro. O único lugar suspeito do bairro era o cabaré “Casa de Mère Louise”, na praia com a rua Francisco Otaviano. Foi em Copacabana que, aos doze anos, Nelson aprendeu a nadar. Em pouco tempo seria capaz de façanhas — não como as de Milton, que nadava do Posto Três ao Posto Seis, ida e volta, com um fôlego e resistência insuspeitos para sua gordura. (Ainda não se sabia direito, mas Milton, um palito na infância e o mais magro dos irmãos, começava a sofrer de um distúrbio hormonal que o faria passar rapidamente dos cem quilos.) Nelson talvez pudesse nadar distância parecida — se, em pouco tempo, uma espécie de indolência melancólica não começasse a invadi-lo. Primeiro, abandonou a praia. Em seguida, sua disposição para qualquer exercício, inclusive jogar peladas, foi se extinguindo como uma vela. Era fá dos escoteiros, mas não se animou a ser um. E os irmãos tinham quase de suborná-lo para que topasse participar das brincadeiras na garagem, de ataque contra defesa: Milton no gol e ele na linha, contra Roberto e Mário Filho.
Uma atmosfera de fog envolvia Nelson à medida que ele entrava na adolescência. Estava ficando depressivo, como costumam ficar os meninos nessa idade — só que, nele, essa depressão era dramática, de tango, porque ele só faltava subir num caixote para proclamá-la. Vivia suspirando pelos cantos e, às vezes, soltava uma exclamação que certamente lera nos livros, mas que ninguém sabia se era a sério ou não: “Eu sou um triste!” — uma frase que, aliás, continuaria repetindo pela vida afora.
Sua mãe atribuía isto aos fracassos amorosos que ele dizia sofrer: apaixonava-se por uma garota da vizinhança (sempre mais velha), armava-se de coragem para fazer-lhe uma declaração e não se conformava com os foras que levava. Certa vez uma dessas garotas passou por ele num “Ford” com chofer. Nelson correu, emparelhou com o carro e começou a recitar-lhe Augusto dos Anjos pela janela. Ela fingia não escutar. Não fechou a janela, mas também não mandou o chofer parar. Nelson apostou corrida com o carro por vários quarteirões e desistiu, mais pelo cansaço do que pelo ridículo da coisa. Mesmo assim, voltou para casa com o orgulho em pedaços.
Foi quando se apaixonou por uma prima, Maria Adelaide, que passava uns tempos em sua casa. Maria Adelaide, além de muito mais velha, estava grávida de seu namorado. E o pai da criança era um filho de Estácio Coimbra, o qual agora era vice-presidente de Arthur Bernardes e tinha mais um motivo para odiar os Rodrigues — porque não aprovava de forma alguma aquele namoro. Nelson não se importava que Maria Adelaide estivesse grávida de outro, nem mesmo de um Coimbra. Se ela quisesse, ele se casaria com ela e lhe daria cama, comida, roupa lavada e uns trocados para o cinema. Mas aquela foi uma paixão que não redundou num único beijo — porque, embora não falasse de outro assunto com as irmãs, Nelson nunca teve coragem para declarar-se à interessada.
Para que não o amolassem em sua angústia, Nelson escondia-se nos quartos ou na Quinta da Boa Vista com os livros que subtraia às estantes de seu pai ou de Milton. Alguns desses livros eram “Os miseráveis” e “O homem que ri”, de Victor Hugo; “Naná” e “Germinal”, de Emile Zola; os “Contos de Hoffman”; “Amor de perdição”, de Camilo Castelo Branco; e muito Machado de Assis e, principalmente, Eça de Queiroz. Tinha outro motivo para querer que o esquecessem: um impulso fanático para escrever. Enchia resmas de papel com o que, olhado de esguelha, pareciam ser crônicas. Não se sabe ao certo o que eram, porque Nelson não mostrava uma linha a ninguém. Nem a Roberto, seu primeiro irmão em admiração.
O Quartel dos Barbonos, na antiga rua dos Barbonos, hoje Evaristo da Veiga, no Centro da cidade, não era uma das instalações mais salubres que o governo da República Velha tinha para oferecer. (República que, por sinal, nem desconfiava de que um dia seria chamada de Velha.) Recebia um sol tímido, sofria inundações ao menor chuvisco e a única obra de arte pendurada em suas paredes era o quadro com a foto oficial de Bernardes. Mário Rodrigues passou um ano ali. Os presos comuns ficavam num cubículo equipado com uma latrina, um cantil e uma cama. Mário Rodrigues, como advogado, teve direito a um cubículo duplo — dois cubículos conjugados —, no qual lhe permitiram usar um fogareiro para aquecer as marmitas que Maria Esther lhe levava. Mais importante: permitiram-lhe também receber as visitas de sua mulher, para passar a noite.
Maria Esther visitava-o três vezes por semana nos fins de tarde, levando três ou quatro filhos de cada vez. Terminada a visita, o filho mais velho escoltava os menores de volta para Copacabana e Maria Esther ficava. Era buscada no dia seguinte por esse filho. Nelson, aos doze anos, não tinha idade para fazer o serviço de escolta, mas era dos mais freqüentes nas visitas: a imagem do pai, candidamente de pijama, atrás das grades por algo que escrevera, feria-o não apenas por ser seu pai, mas pelo que via de absurdo nisso. Ele não podia saber — e ninguém sabia — que, comparadas às prisões políticas brasileiras dos regimes seguintes, as da República Velha podiam ser consideradas Cambuquira, Araxá, Poços de Caldas.
Com toda a atividade noturna entre Mário e Maria Esther na cela, não foi surpresa que, poucos meses depois, já em 1925, ela se descobrisse grávida. Com isso, suas visitas à prisão diminuíram de freqüência. Mas Mário Rodrigues tinha o que fazer nas noites solitárias: além de escrever uma carta por dia para sua mulher, encheu o tinteiro e produziu uma série de estudos sobre a política e a economia brasileiras daqueles anos. Na própria prisão, juntou desordenadamente esses textos a artigos já publicados no “Jornal de Recife” e no “Correio da Manhã”, deu-lhes o título geral de “Meu libelo” e mandou-os para um editor. O livro saiu bem na época da sua libertação, em setembro de 1925, e não se entende como não o devolveu imediatamente aos Barbonos: era uma complicada e candente defesa do liberalismo político e do nacionalismo econômico — nada de proibido nisso —, mas também uma fuzilaria em regra contra Bernardes e Epitácio, acusando-os de todas as possíveis ignomínias, como se eles não estivessem ainda no poder.
“Meu libelo” era também um madrigal em prol de seu patrão Edmundo Bittencourt, cujo jornal ficara fechado por Bernardes durante oito meses. (O “Correio da Manhã” só voltara a circular em 20 de maio daquele ano, 1925, e mesmo assim porque um juiz determinara. Mas sob uma censura de ferro comandada por Jackson de Figueiredo, mentor do jovem Alceu Amoroso Lima.) Em seu livro Mário Rodrigues não poupava adjetivos para Edmundo: “Panfletário incomparável, rapsodo fulgurante, cavalheiro ‘sans peur et sans reproche’ “. Mais adiante: “O criador da opinião pública no Brasil republicano”. Ao fim do livro, a admiração por Edmundo cresce a ponto de Mário convocar as exclamações: “Que tesouros de carinho naquele peito de Apolo! Que fulgor de talento naquela cabeça de heleno! Que anacronismo espartano naquele paradoxo de homem de bem!”.
É possível que Mário Rodrigues tivesse escrito isso a sério. Mas o provável é que, enquanto tecia os mais cínicos ditirambos a Edmundo Bittencourt, o que se passasse por sua cabeça fosse justamente o contrário. Porque, enquanto Mário Rodrigues estava preso nos Barbonos, aquele “paradoxo de homem de bem” mandara cortar o seu salário, reduzindo-o a apenas o suficiente para Maria Esther pagar o aluguel. O sustento de sua mulher e onze filhos não fazia parte dos “tesouros de carinho” de Edmundo Bittencourt.
Evidente que Edmundo tinha um argumento forte a seu favor: nos doze meses em que Mário Rodrigues estivera preso, o “Correio da Manhã” ficara oito sem circular e sem produzir receita. Ele, Edmundo, fora até generoso em pagar-lhe um salário que desse para o aluguel. E não se oferecera para sustentá-lo (a ele, apenas) fora do Brasil, se quisesse ter fugido? Isto podia justificar a catedral de hipérboles que Mário Rodrigues derramou sobre a cabeça de seu chefe em “Meu libelo”. Mas a verdade é que, se não fosse a ajuda de seu amigo (e concorrente de Edmundo) Geraldo Rocha, proprietário de “A Noite”, Maria Esther e os onze filhos teriam passado fome. O baiano Geraldo Rocha comparecera com um conto de réis por mês, todos os meses, sem pedir recibo.
Em outubro, Mário Rodrigues voltou à sua sala no “Correio da Manhã”. Mas duas coisas o incomodavam. Primeiro, Edmundo Bittencourt comunicOu lhe que não haveria mais um diretor permanente no jornal. Seria promovido um rodízio de diretores do qual Mário apenas faria parte. Segundo, para estupefação de Mário, Edmundo começara a dar sinais de que tentava uma aproximação com o mais odiado de seus desafetos: ninguém menos que Epitácio Pessoa.
Quando essa inacreditável aproximação se confirmou, Mário Rodrigues foi para o “Nacional” na Galeria Cruzeiro, mandou descer o estoque de cerveja “Fidalga” e escreveu uma carta desaforada a Edmundo Bittencourt — pedindo demissão, dizendo-lhe as últimas e advertindo-o de que em breve voltaria para esmagá-lo. Só que através do seu próprio jornal: “A Manhã”.
Pelas páginas dos dois jornais ia começar uma guerra de egos capaz de reduzir os políticos nacionais a soldadinhos de cartas de baralho.
- 1926 - O LÁTEGO DE CORISCOS
O jovem Nelson Rodrigues entrou pela primeira vez na redação do novo jornal de seu pai, “A Manhã”, na rua Treze de Maio, ao lado do Teatro Municipal. O dia era 29 de dezembro de 1925 e o n] 1 de “A Manhã” estava nas ruas, sendo gritado pelos pequenos jornaleiros, os quais eram uns azougues para subir nos bondes em movimento com os braços cheios de jornais. Nelson convencera seu pai a deixá-lo trabalhar como repórter de polícia, com o salário de trinta mil réis por mês. Tinha treze anos e meio, era alto para sua idade, magro e com cabelos indomáveis, que lhe caíam em cachos sobre a testa. Precisou comprar calças compridas para impor respeito aos colegas, embora fosse filho do patrão.
A redação de “A Manhã” era como outras do Rio naquele tempo. Uma sala comprida, com muitas escrivaninhas, cabides para os chapéus e um ou dois telefones de manivela. Poucas máquinas de escrever (daquelas “Royal”, pretas) e ainda menos gente que as soubesse usar. A maioria dos redatores escrevia a mão, com penas francesas da marca “Mallat”, em folhas de papel almaço. Alguns usavam viseira como nos filmes, enceravam os bigodes e estavam mais preocupados com as ênclises, próclises e mesóclises do que com as notícias. Os paginadores sofriam: tinham de contar letra por letra, para calcular o espaço da matéria na página. Os linotipistas não sofriam menos, porque os redatores, Mário Rodrigues inclusive, escreviam com garranchos quase impossíveis de decifrar. Mas, na condição de proprietário, Mário Rodrigues mantinha um linotipista só para ele, roubado ao “Correio da Manhã”. Seus furibundos artigos de fundo, na capa ou na página três, saíam impecáveis, sem um “gato”.
Cada redação tinha um único fotógrafo, o qual ainda usava o “flash” de magnésio, que levava uma eternidade para preparar. Talvez por isto os jornais fotografassem tanto cadáver — porque o cadáver podia esperar, não se mexia e não piscava quando o magnésio explodia. O fotógrafo de “A Manhã” chamava-se Victor Teófilo e usava um revólver no cinto. Não era o único homem armado na redação — Mário Rodrigues, dependendo da manchete do dia, também andava prevenido. (Em termos, porque o revólver continuava sem balas.) Redações como a de “A Manhã” atraíam pessoas que não tinham nada com o ramo, mas que as freqüentavam com uma assiduidade de quem fazia parte da folha de pagamento: choferes de táxi, punguistas, investigadores particulares, discretos traficantes de cocaína e, naturalmente, uma chusma de aspirantes a poeta.
Nos dias de sorte, o ambiente da redação era ensolarado pela presença de um ou outro colaborador ilustre, e “A Manhã” tinha uma penca deles: Monteiro Lobato, Antônio Torres, Agripino Grieco, Medeiros e Albuquerque, Ronald de Carvalho, Maurício de Lacerda, Mário Pinto Serva e, vá lá, Zeca Patrocínio. Quando um desses monumentos assomava pela porta, os repórteres — quase todos esfaimados, mal vestidos, com os dentes em cacos e, alguns deles, às vésperas da tuberculose — só faltavam lambê-lo com a vista e pedir-lhe dinheiro emprestado. “A Manhã” tinha também os seus figurões domésticos, como Danton Jobim, Orestes Barbosa e Renato Viana, diante dos quais os mais jovens, como Joracy Camargo, Odilon Azevedo e Henrique Pongetti, ficavam com as canelas trêmulas. E, naturalmente, todos eles tremiam diante de Mário Rodrigues — “doutor Mário” para a redação, menos para Danton e Orestes, os únicos com autorização para chamá-lo de “Mário”.
A outra figura de “A Manhã” era o gaúcho Apparicio Torelly — “Apporelly” — com sua coluna diária “Amanhã tem mais”, de enorme sucesso entre os leitores. Eles não perdiam aquela saraivada de frases, versinhos e trocadilhos com os nomes dos políticos. Algumas das melhores frases já tinham sido inventadas por Bernard Shaw, Mark Twain ou Oscar Wilde, a quem “Apporelly” esquecia-se de citar. Outras, às vezes muito engraçadas, eram dele mesmo. A qualidade de seu trabalho era irregular, o que levou Nelson, em 1926, a dedicar-lhe os versinhos “ ‘Apporelly’ está decadente! Ficou isso de repente.! As nossas sentidas condolências! A essa extinta inteligência”. Poucos anos depois, “Apporelly” abriria o seu próprio jornal, “A Manha”, um trocadilho com “A Manhã”, e ficaria mais famoso ao se promover por conta própria ao baronato como o “Barão de Itararé”.
Aos olhos de hoje parece esquisito que um jovem repórter, podendo escolher à vontade, como Nelson, pedisse para começar pela seção de polícia. Mas, em 1925, nada mais natural. Exceto pelos redatores políticos e pelo editor da página literária, os repórteres policiais, mesmo mal pagos, eram as estrelas da redação. Orestes Barbosa, que ainda não pisava nos astros distraído, era um. Nelson não estava exagerando ao dizer, muitos anos depois, que “com um ano de ‘métier’ o repórter de polícia adquiria uma experiência de Balzac”. Os jornais da época, principalmente os vespertinos, davam dezenas de ocorrências policiais por dia. E, numa cidade lindamente sem assaltos como o Rio, em que a captura de um ladrão de galinhas era uma sensação, quase todos os crimes envolviam paixão ou vingança. Maridos matavam mulheres por uma simples suspeita, sogras envenenavam genros porque estes não lhes tinham dado bom-dia aquela manhã e casais de namorados faziam pactos de morte como se estivessem marcando um encontro no “Ponto Chic”.
As matérias eram feitas na delegacia ou por telefone, mas, nos casos escabrosos, a “caravana” do jornal (como então se chamava a dupla de repórter e fotógrafo) pegava o vale de vinte mil réis para o táxi e saía feito uma flecha. Era importante chegar antes da concorrência porque, com o rádio ainda de fraldas e a iv inexistente, os jornais trabalhavam com o “furo”, ou seja, a notícia em primeira mão. “A Noite”, por exemplo, que tirava cinco edições por dia, chegava sempre à frente dos outros — era para lá que as pessoas ligavam quando acontecia alguma coisa. (Segundo o folclore corrente, um marido certa vez telefonou para “A Noite” avisando que ia matar a mulher. A reportagem chegou e ainda encontrou o revólver fumegando.)
A “caravana” era onipotente. Não se limitava a entrevistar os parentes da vítima ou do assassino. Quando chegavam antes da polícia, repórter e fotógrafo julgavam-se no direito de vasculhar as gavetas da família e surrupiar fotos, cartas íntimas e róis de roupa do falecido. Os vizinhos eram ouvidos. Fofocas abundavam no quarteirão, o que permitia ao repórter abanar-se com um vasto leque de suposições. Como se não bastasse, era estimulado, quase intimado pela chefia, a mentir descaradamente. (No futuro, Nelson lamentaria: “Hoje o repórter mente pouco, mente cada vez menos”.) De volta à redação, o repórter despejava o material na mesa do redator e este esfregava as mãos antes de exercer sobre ele os seus pendores de ficcionista.
No começo, deram a Nelson o trabalho mais reles: fazer por telefone a ronda das delegacias. Mas ele não demorou a espantar os colegas, quase todos fatigados de berço, por sua facilidade para emprestar carga dramática aos toscos relatórios que os repórteres traziam da rua. Nas suas mãos, o atropelamento de uma velhinha na rua São Francisco Xavier, no bairro do Maracanã, tornava-se uma saga digna do melhor sub-Anatole France — outra de suas leituras no período. Nenhuma dessas matérias era assinada, mas a leitura da coleção de “A Manhã” entre 1925 e 1928 faz saltar aos olhos inúmeros e inconfundíveis nelsonrodrigues, ainda que infanto-juvenis. Um deles, um “fait-divers” de 1926 sobre o argentino sádico que furara com alfinete os olhos do canário (para que ele não soubesse quando estava escuro e cantasse dia e noite), ressuscitaria trinta anos depois num dos contos de “A vida como ela é...”, vírgulas e tudo.
Mas a especialidade de Nelson, e aparentemente a única que o fazia sair à rua na “caravana”, eram os pactos de morte entre jovens namorados. A clássica história do rapaz e da moça que se matam juntos soa hoje como coisa de folhetim, do qual, por sinal, ela era “de rigueur”. Provavelmente acontece até hoje, mas a imprensa não lhe dá mais a mínima importância. No Rio dos anos 20, no entanto, parecia uma epidemia, talvez estimulada pelo espaço que os jornais lhe reservavam. Os namorados se matavam tomando veneno com açúcar, sendo o veneno quase sempre formicida, permanganato de potássio ou um desinfetante chamado “Lysol”. O açúcar emprestava à beberagem um sabor terrivelmente simbólico, assim como os locais que eles escolhiam para morrer: a Cascatinha, o Silvestre ou Paquetá — todos cenários de cartão-postal.
Os colegas já sabiam da fixação de Nelson por esses casos. Quando ocorria um, o secretário do jornal, seu irmão Milton, gritava:
“Está pra ti, Nelson! Pacto de morte na rua Tal, número tal. Chispa!”
O motivo era invariável: casalzinho se matou porque família não aprovava o namoro. Mas, de posse dos dados essenciais (nomes, aparência física, endereços), aquilo era suficiente para Nelson velejar pelo tema da paixão impossível e eternizada pela morte, com requintes de descrição de pais tirânicos, tias insensíveis e padres intrometidos. Servia-lhe também para exercitar sua capacidade de imaginar diálogos, descrever cenários e sentir-se um Pérez Escrich em versão 3 x 4. Dependendo do que Nelson extraia do material, este podia render continuações com clímax sobre clímax e tornar-se uma série capaz de prender o leitor por vários dias, como o caso do pacto de morte em Paquetá, em 1926. Muito depois que o casal já estava enterrado e quase esquecido, a imaginação delirante de Nelson continuava fabricando ingênuas subtramas sobre o caso, com cenas de amor fremente, beijos arrebatados e de uma volúpia sexual que ele conhecia intimamente do cinema ou dos folhetins, mas nunca experimentara ao vivo.
Por enquanto.
A rua Pinto de Azevedo era considerada a zona preta do Mangue, por concentrar as prostitutas mais pobres e esmulambadas, negras na maioria, a dois mil réis por alguns minutos. Os cronistas a chamavam de “o Sena de piche”. Apesar de suas profissionais tratarem os fregueses por “chéri” e “mon amour”, não era a “ambience” adequada à estréia de um garoto que se habituara a pensar no amor como algo que se fazia, segundo os folhetins, entre sedas e frufrus. Nelson foi até lá, deu uma olhada e não gostou. Já na principal rua do Mangue, a Benedito Hipólito, o panorama era bem melhor, O Mangue podia não ser “feérico como a Broadway”, como ele o descreveria depois, mas, em 1926, certamente estava longe de ser o esgoto que se tornaria a partir da Segunda Guerra. E suas alcovas não recendiam ao perfume setecentista dos romances, mas nem tudo podia ser perfeito.
As mulheres da Benedito Hipólito custavam cinco mil réis. Algumas eram francesas de verdade, embarcadas em Marselha, outras eram polacas que tentavam arrastar um parlevu e a maioria, evidente, era produto nacional, O São Jorge iluminado por uma lâmpada vermelha parecia onipresente nos quartos. Muitas mulheres nem exigiam que o freguês tirasse os sapatos — punham uma folha de “A Noite” em cima da cama, à guisa de lençol, e estavam conversados. Nelson tinha catorze anos quando, depois de andar para lá e para cá por aquele corredor de decotes e bocas vermelhas, foi com uma mulher pela primeira vez para dentro de um quarto.
Ficou freguês. Evidente que, com seu salário no jornal, não poderia ser uma figurinha fácil no Mangue. Então passou a assaltar os bolsos de seu pai pela manhã, aproveitando que este dormia um sono de chumbo. Dez mil réis hoje, quinze amanhã não eram acusados pela relaxada contabilidade de Mário Rodrigues. Com isso Nelson sempre tinha dinheiro para as mulheres, e era somente nelas que o investia, já que não se interessava por bebida. Para quase todos os homens de sua geração, sexo com as profissionais era a única alternativa fora do casamento e Nelson, ainda um garoto, mas com dinheiro, tornou-se um assíduo praticante.
A partir dali, abandonou sem o menor pesar o seu até então esporte favorito: ao voltar do trabalho à noite, trepar numa árvore na entrada de casa na rua Inhangá para espiar o banho das criadas, O espantoso, a ser verdade o que dizia, é que, com toda aquela presença no Mangue, nunca tenha pegado uma doença venérea.
Embora mesmo o adulto Nelson tenha continuado usuário de prostitutas, sua relação com elas foi ambígua desde aquela época. “Eu me sentia o pastor de ‘Chuva’ “, ele diria daí a anos, referindo-se ao conto de W. Somerset Maugham em que o missionário tenta converter a prostituta Sadie Thompson, por quem é apaixonado. Aos catorze anos Nelsor nunca tinha lido Maugham e nem Consta que tenha se apaixonado por uma Sadie da Benedito Hipólito, mas suas românticas tentativas de converter a uma vida normal as primeiras profissionais que conheceu só as fizeram rir.
Foi o que o levou a convencer-se de que “toda prostituta é vocacional, assim como o pintor, o violinista ou o chofer de táxi”. Queria dizer (nem sempre sendo entendido) que, mesmo no pior aperto financeiro, nenhuma mulher consegue tornar-se prostituta sem uma vocação nata. Então passou a servir-se delas como quem se serve do chofer de táxi — para conduzi-lo a algum lugar.
No caso das prostitutas, para conduzi-lo ao que ele considerava o seu purgatório particular do sexo sem amor.
No expediente de “A Manhã”, Mário Rodrigues era apresentado como “único proprietário”. Proprietário ele era, mas não o único. Para lançar seu jornal menos de dois meses depois de deixar o “Correio da Manhã”, precisara de um sócio, um homem chamado Antônio Faustino Porto. E, para ter maioria na sociedade, pegara dinheiro emprestado com João Pallut, uma improvável combinação de bicheiro e socialista, mais conhecido como “João Turco” e proprietário de dois jornais de nítida coloração: o matutino “A Batalha” e o vespertino “A Esquerda”. E possível que Geraldo Rocha, de “A Noite”, também tenha entrado com uma parte do capital de Mário. Boa parte desse dinheiro fora para a compra de uma enorme rotativa Marinoni. O jornal foi um sucesso e ele pagou rapidamente o que devia a “João Turco” e Geraldo Rocha. Daí em diante, só tinha Antônio Faustino Porto com quem dividir “A Manhã”.
Na condição de dono de jornal foi que o Rio passou a conhecer melhor Mário Rodrigues. Até então pensava-se que a coragem que apregoava fosse, no fundo, a que Edmundo Bittencourt lhe emprestava. Mas, depois da sua temporada de um ano no Quartel dos Barbonos, de sua saída do “Correio da Manhã” e, mais que tudo, das brigas que iria comprar na sua folha, é que se percebeu que havia uma espora de verdade na rinha. E o primeiro galo que ele chamou para a briga foi Edmundo Bittencourt.
Um mês depois de pôr “A Manhã” nas ruas, no finalzinho de 1925, Mário Rodrigues disparou uma série de artigos de primeira página, intitulados “O fígado podre”, em que denunciava um estratagema que Edmundo Bittencourt teria usado nos primórdios do “Correio da Manhã” para fazer impor o seu jornal. Edmundo acusara o Matadouro Municipal de vender carne estragada aos cariocas e fizera dessa notícia um escândalo. A prova do crime estaria na foto de um fígado de boi em tétrica decomposição. A matéria era explosiva e o “Correio da Manhã” foi visto como um jornal que não temia ninguém. Mas, segundo Mário Rodrigues em seus artigos, tanto o fígado quanto o Matadouro eram inocentes. Edmundo teria comprado um reluzente fígado no açougue da esquina e o deixado apodrecer, para depois fotografá-lo e incriminar o Matadouro.
Como a verdade sobre o caso só lhe poderia ter sido contada pelo próprio Edmundo, Mário Rodrigues desta forma o alvejava com uma espingarda de dois canos: chamava o “Correio da Manhã” de mentiroso e carimbava Edmundo como um cínico. Ninguém se lembrou de perguntar a Mário Rodrigues por que guardara segredo até então e não se revoltara contra isto quando trabalhava com Edmundo.
Dentro do “Correio da Manhã” havia gente disposta a fazer Mário Rodrigues comer o seu jornal, mas o principal atacado, Edmundo Bittencourt, a princípio ignorou principescamente a agressão. Mário não se abalou e continuou com a série. Dias depois, Edmundo não resistiu e desceu do pedestal: escreveu um violento editorial em que chamava “A Manhã” de “pot-de-chambre” — penico — e acusava Mário Rodrigues de viver “com o rabo preso nas casas de tavolagem”. Para Mário Rodrigues, a batalha estava ganha. O adversário o reconhecera. Mas, por via das dúvidas, fez seu jornal iniciar também uma tremenda campanha contra os cassinos, principalmente o do Copacabana Palace, pedindo o seu fechamento e a prisão da família Guinle.
Edmundo Bittencourt tinha razão para se irritar. “A Manhã” já estava abrindo uma fenda no seu rico mercado matutino. Jornais de combate havia muitos, mas a virulência de “A Manhã” não tinha paralelo dentro das circunstâncias — em 1926 Bernardes ainda era presidente, com censura dentro das redações e as garantias constitucionais suspensas.
Um dia, naquele mesmo ano, Mário Rodrigues escreveu um editorial demolidor contra a censura e entregou-o pessoalmente ao censor. Este o leu duas ou três vezes, como se não acreditasse no tamanho da afronta, com Mário Rodrigues ao lado, esperando. O censor deu um murro na mesa:
“O senhor sabe que isto não pode sair, doutor Mário!”
“Não é para sair, sua besta”, respondeu Mário Rodrigues. “É para você ler!”
Como não podia fuzilar Bernardes, Mário Rodrigues despejava fogo sobre os políticos menores. Sofreu doze processos apenas nos dois primeiros anos de “A Manhã”. Mas, como ia sendo absolvido em todos, isto lhe dava confiança para continuar atacando e, uma linha acima de sua assinatura, lançar o desafio: “Se não gostarem, processem-me”. As cartas e os telefonemas anônimos ele ignorava. Parecia invencível. Dava voz ao adversário, transcrevendo os ataques que este lhe fazia. Então usava os insultos do outro como uma alavanca para os seus próprios insultos: vasculhava a vida particular do inimigo, descobria-lhe amantes, publicava as suas cartas de amor e expunha-lhe as tripas ao sol.
Com isso Mário Rodrigues tornou-se até personagem do teatro de revista. Nas comédias havia sempre um ator que descompunha outro, ornando-o com uma torrente de impropérios. Quando acabava, dizia, como se assinasse: “Mário Rodrigues!”. A platéia delirava.
“A Manhã” ainda acreditava no velho expediente de disfarçar repórteres para fazê-los penetrar em certos bastidores. Fez isto para estourar os pontos do tráfico de cocaína no Rio. Um repórter, Fernando Costa, passando-se por consumidor, relatou em detalhes o que se passava na “pensão da Fanny”, conhecida como a “bolsa do pó” na rua Joaquim Silva, na Lapa, e na casa da “Boca torta”, na rua General Argolo, em São Cristóvão. Mas não precisava ter ido tão longe. A cocaína, chamada carinhosamente de “pó-de-arroz” e “fubá Mimoso”, era a droga da moda entre políticos, intelectuais e boêmios, que a compravam em frasquinhos, a quinze mil réis cada. Manuel Bandeira era um dos que se dizia que praticavam o violento esporte nasal. E um dos próprios colaboradores de “A Manhã”, Zeca Patrocínio, era notório consumidor Quando ele publicou “O pó (poema da cocaína)” na edição especial de primeiro aniversário do jornal, em 29 de dezembro de 1926, as pessoas riram: era uma hipócrita condenação da droga pelo seu mais estabanado useiro.
Houve também um lance de sorte, com o qual Mário Rodrigues não contava, para estabelecer a reputação de seu jornal. Apesar de já contar dez anos de Rio de Janeiro, ele continuava sintonizado com a política de Pernambuco e aplicava chibatadas diárias no então governador pernambucano Sérgio Loreto. Em abril de 1926, Loreto mandou oferecer-lhe trinta contos de réis em três parcelas, em troca de três meses de silêncio, para conseguir eleger seu sucessor. O intermediário teria sido o capitão do Exército Amaury de Medeiros, genro do governador. Mário Rodrigues fingiu aceitar o suborno e, como combinado, foi à Casa Bancária Boavista, na rua da Alfândega, e sacou a primeira parcela. Mas, em vez de ficar quieto, abriu manchetes no dia seguinte para a tentativa de suborno. E, num lance de folhetim, digno de “Rocambole”, anunciou que iria distribuir os dez contos de réis entre os pobres do Rio de Janeiro.
Disse e fez. Mil senhas de dez mil réis foram entregues aos pobres na portaria do jornal, com o pagamento prometido para daí a uma semana — durante a qual, obviamente, Mário Rodrigues não deu um centímetro de descanso a Sérgio Loreto em suas páginas. No dia 6 de maio, o dinheiro foi entregue a uma multidão ululante num palanque armado na calçada de “A Manhã”. Foi uma grande jogada de Mário Rodrigues para efeito de arquibancada. Os cínicos a viam de outro jeito: Loreto devia ser um idiota porque trinta contos não era suborno que se oferecesse. Para Loreto tanto fez, porque ele elegeu o seu sucessor do mesmo jeito. Mas o que Mário Rodrigues lucrou com aquela atitude reduziu os trinta contos a valor de confete.
“A Manhã” não se dedicava apenas à exposição de fígados e subornos. Também acenava com o chapéu a grupos específicos, para conquistar leitores e simpatias. Chegou a ser, por exemplo, quase um porta-voz do protofeminismo daquele tempo. Abriu suas páginas a colaboradoras como a jovem Nise da Silveira e apoiou a causa do voto feminino, do direito da mulher ao trabalho, a andar na rua e a se vestir como quisesse. Enfim, a tudo que ele não concedia a Maria Esther. Para os que achavam essas posições inacreditáveis num jornal dirigido por Mário Rodrigues, ele ainda reservava outras surpresas. No começo de 1927, por exemplo, sob a influência de Pedro Mota Lima, então diretor-substituto, “A Manhã” ganhou uma inesperada plumagem comunista.
Começou por uma seção de página interna, “ ‘A Manhã’ proletária”, destinada a cobrir as atividades sindicais. Mas rapidamente espalhou-se pela primeira página. Expressões como “sabujos do capitalismo” e “a águia do imperialismo ianque crava as suas garras aduncas” saltaram para as manchetes. A Light não era referida como a Light, mas como “o polvo canadense”. Qualquer piquenique de trabalhadores na Quinta da Boa Vista era descrito como um “encontro de proletários”, mesmo que estes fossem pacatos barbeiros ou marmoristas. O crítico literário passou a ser Leôncio Basbaum. Nem os jornais do Partido Comunista Brasileiro, fundado cinco anos antes em Niterói, pareciam tão obedientes. Mas algo deve ter acontecido com a receita publicitária de “A Manhã” porque, alguns meses depois, Mário Rodrigues resolveu acabar com aquilo. Explicou-se num editorial e “A Manhã” voltou à sua linha, digamos, moderada.
Aquela súbita guinada à esquerda pode ter acontecido também porque, achando que era tempo de voltar à política de verdade, Mário Rodrigues lançara-se candidato a deputado pelas zonas suburbana e rural do Distrito Federal em fevereiro daquele ano. Concentrou sua campanha em tremendos ataques ao que imaginara ser o seu principal adversário, o popularíssimo Maurício de Lacerda, pai do jovem Carlos — e passou semanas acusando-o de cocainômano. (As caricaturas o mostravam sempre com um canudinho no nariz.) Mário Rodrigues devia conhecer bem Maurício de Lacerda. Afinal, Maurício fora até há pouco colaborador de “A Manhã” e uma de suas grandes admirações.
Abertas as urnas, Mário Rodrigues descobriu com surpresa que não havia sido eleito. Teve de contentar-se com um sétimo lugar, que de nada lhe servia, mas podia gabar-se, pelo menos, de ter chegado à frente de Maurício de Lacerda — e também de Luís Carlos Prestes, embora este, por causa da “Coluna Prestes”, fosse então mais conhecido que Tom Mix. (Para o registro: dois meses depois das eleições, Maurício de Lacerda e Mário Rodrigues voltaram a ser como unha e esmalte.)
Algumas idéias de Mário Rodrigues em “A Manhã” podiam não ser muito éticas, mas eram comercialmente infernais. Uma delas, por exemplo, foi a de publicar anúncios gratuitos de empregos. (A alegação era a de que estava prestando serviço, mas seu óbvio alvo eram os classificados do “Correio da Manhã”.) Outra de suas idéias era inofensiva, mas uma mina de ouro. Na data nacional de países como a Inglaterra, França ou Alemanha, publicava cadernos especiais, recheados de publicidade, em homenagem a eles — só que na língua desses países! Era assim que, um belo dia, o leitor de “A Manhã” abria o jornal e via um caderno de oito páginas em inglês, francês ou alemão. (Ou em português de Portugal, quando era o caso.) Havia também cadernos especiais em homenagem a estados como São Paulo ou Minas Gerais, com fartas verbas dos governos desses estados e louvações incontidas aos respectivos governadores.
Um desses governadores, o mineiro Fernando Melo Viana, era o seu favorito. Em 1925, quando ainda estava no “Correio da Manhã”, mas já com “A Manhã” em mente, Mário Rodrigues fora a Belo Horizonte com um objetivo: picá-lo com a mosca azul. Melo Viana recebeu-o no Palácio da Liberdade e ouviu a sua argumentação: o Brasil precisava dele, Melo Viana, como seu presidente, e não do paulista Washington Luís, já ungido para suceder Bernardes.
Melo Viana achou absurda a idéia, o doutor Washington Luís era um homem probo e realizador, grande candidato. Mas Mário Rodrigues convenceu-o de que, se aceitasse ter a sua candidatura lançada no Rio, as chances seriam muitas. As despesas iniciais correriam por conta do candidato, é claro, mas as adesões dariam conta do resto. Melo Viana, um mulato alto e pernóstico, ponderou a sugestão e começou a achar que o outro podia ter razão. O Brasil ia mal e precisava dele, que estava disposto a sacrificar-se, quem sabe não fora para isso que viera enriquecer o planeta. E deu o sinal verde a Mário Rodrigues. Diz-se que deu também duzentos contos de réis em dinheiro vivo ao jornalista, tirado de suas economias pessoais — ou do salário das professoras mineiras, como sopraram os maldosos.
Virgílio A. de Melo Franco descreve em seu livro “Outubro, 1930” o susto que isto produziu no Catete. A sucessão ia realizar-se rotineiramente em 1926, com Washington Luís tornando-se presidente e o ministro da Agricultura Miguel Calmon o seu vice. Antônio Carlos, líder do governo na Câmara, foi a Belo Horizonte pedir o burocrático apoio de Melo Viana à candidatura oficial e ouviu do governador mineiro uma catilinária radical-democrata que não esperava. Seguindo as instruções de Mário Rodrigues, Melo Viana falou do “distanciamento entre o governo e o povo” e que a nação “reclamava um nome que realmente a representasse”. Antônio Carlos ficou atônito. Afinal, Melo Viana era um zero à esquerda, se tornara governador porque Bernardes praticamente o nomeara. De onde vinha agora tanto assanhamento?
Sempre seguindo os planos de Mário Rodrigues, Melo Viana veio ao Rio e deitou falação, repetindo mais ou menos aquelas palavras. Só faltou perfilar-se num pedestal, à espera de que indicassem o seu nome. Pois Mário Rodrigues indicou-o, através do “Correio da Manhã" referindo-se a ele como “o mosqueteiro de Minas". Os outros jornais deram suíte à história e os cariocas a compraram. Por onde passava no Centro do Rio, multidões aclamavam Melo Viana.
Preocupado com aqueles quinze minutos de glória que o seu novo adversário saboreava, Bernardes mandou a Belo Horizonte seu ministro da Justiça, o também mineiro Afonso Pena Jr., para neutralizá-lo com uma jogada simples: imolaram Miguel Calmon e, apostando na sua mediocridade, ofereceram a Melo Viana a decorativa vice-presidência. O qual, para surpresa de ninguém, a aceitou e foi previsivelmente eleito a 1º de março de 1926, tornando-se o vice de Washington Luis.
Mas, como a posse só seria em 15 de novembro, Melo Viana ainda gozou de quase um ano como governador de Minas, durante o qual Mário Rodrigues fundou “A Manhã” e teve a oportunidade de publicar a sua foto — sempre a mesma foto — centenas de vezes, com ou sem pretexto. Geralmente sem. Se Melo Viana desse um suspiro em Belo Horizonte, “A Manhã” logo lhe atribuía uma “voragem de realização”. Um caderno inteiro lhe foi dedicado em setembro daquele ano. Quem não estava gostando daquilo era Edmundo Bittencourt, que se sentia. traído. Afinal, fora o “Correio da Manhã” que inventara Melo Viana. Portanto, julgava-se no direito de só o chamar agora de “o mulato de Minas”. E Edmundo Bittencourt continuaria tendo motivos para resmungar porque, quando Melo Viana tornou-se vice-presidente, não apenas continuou muito generoso com Mário Rodrigues, como o convenceu a defender a política de Washington Luís. E, rapaz, como Washington Luís iria precisar!
É hilariante imaginar como Mário Rodrigues teria feito gato e sapato de Washington Luís se não estivesse do seu lado. Isto porque Washington Luís se expunha muito. Era casado, mas “não fora feliz no matrimônio”, o que, pela ótica da época, lhe dava carta branca para prevaricar. Charmosíssimo aos 57 anos, quando assumiu a presidência, dizia-se que mantinha um pavilhão nos fundos do Palácio Guanabara apenas para namorar. Não havia atriz francesa de passagem pelo Rio que não fosse visitar o pavilhão para conhecer as armas da República. Por sinal que um dos lemas de seu governo, além do “Governar é abrir estradas”, era “Comigo é na madeira”. Dizia-se também que, certa vez em que Washington Luís ficou de molho por uns tempos para se recuperar de uma cirurgia de apêndice, a verdadeira causa teria sido um tiro disparado por um marido.
Sabendo disso tudo, Mário Rodrigues ficava silente. Exceto quando, por qualquer motivo, alguém do governo o desgostava. Nesse caso, Mário Rodrigues sentia-se obrigado a mandar um aviso a Washington Luis e o chamava em editorial de, por exemplo, “o presidente da fuzarca”. No mesmo dia, Washington Luis se mexia, assinava uma “subvenção” e Mário Rodrigues ficava feliz outra vez.
Quando Mário tornou-se proprietário de um jornal, os Rodrigues passaram a viver em grande estilo. Ninguém mais andava de bonde. Quem tivesse de ir a qualquer lugar, mesmo à esquina, ia numa limusine “Essex”, permanentemente alugada. Mário Rodrigues passou a dar a Maria Esther trinta contos de réis por mês para administrar a casa. E ela acreditava em estocar: as despensas viviam abarrotadas de latarias e mantimentos comprados nas importadoras. Os dias de pindaíba na Aldeia Campista e de relativo miserê na Tijuca faziam parte agora do passado profundo.
A produção de filhos continuava: Dorinha (cabelo preto), gerada no Quartel dos Barbonos e nascida em janeiro de 1927, morrera em setembro daquele ano, aos nove meses, de gastroenterite — Maria Esther, sempre farta em leite, secara justamente nela. Quando resolveram contratar uma ama era tarde. Era a primeira morte da família. Para compensar, Elsinha (cabelo vermelho) nasceria em 1928, já na nova e luxuosa casa dos Rodrigues — aquela que, apesar de também alugada, tinha tudo para ser a definitiva: o palacete da rua Joaquim Nabuco, 62, esquina com Raul Pompéia, no quase deserto Posto Seis de Copacabana.
Era um palacete de astro do cinema mudo: tinha três andares, três salões, cinco quartos, um porão gigantesco, garagem para diversos carros e um mirante. A casa ficava numa elevação do terreno — donde, do mirante, os olhos podiam debruçar-se sobre toda a orla de Copacabana, à esquerda, e Ipanema e Leblon, à direita. Mário Rodrigues não queria saber de economias. Exigia que o mirante e os salões ficassem iluminados a noite inteira. Queria encontrar tudo aceso quando chegasse de madrugada. E de madrugada ele chegava — nunca antes de cinco da manhã, que chamava de “a hora azul”, segundo seu principal companheiro noturno, Orestes Barbosa. E não vinha exatamente do jornal.
E nem era direto para o jornal que saía de casa no dia seguinte, logo depois do almoço. Antes de sair, dava um ou dois telefonemas para a redação, inteirava-se dos assuntos do dia, determinava quem seria o alvo — literalmente — da manchete e ia escrever seu artigo de fundo no “Brahma”, um bar na rua São José. Escrevia aos borbotões, sem parar e sem rever, cercado de “Fidalgas”. Era brilhante no ataque. Segundo ele próprio, batia nos políticos de que não gostava com “látegos estrelados de coriscos”. Epitácio Pessoa era o “Mussolini de fancaria”. O mineiro Antônio Carlos, agora chefe da oposição, era o “cínico alvar” ou o “patife da montanha”. O gaúcho Batista Luzardo era o “poldro relinchante”. Para outros, que desprezava, não perdia tempo em esculpir metáforas: Lindolfo Collor era “um bestalhão” e João Neves da Fontoura, “que cafajeste!”. Mário Rodrigues não podia prever (ou podia?), mas estava comprando brigas com todos os vitoriosos da próxima Revolução de 1930 — se tivesse vivido para vê-la.
Depois de escrever seu artigo cheio de coriscos, Mário Rodrigues ia para a redação, conferia o andamento dos trabalhos e desabava no sofá de sua sala, roncando trovejantemente. Acordava à noitinha, participava do fechamento da edição, assistia ao jornal ser rodado na Marinoni e saia pela madrugada com “A Manhã” ainda quente no bolso. Orestes Barbosa, quê conhecia todos os cabarés da Lapa, o acompanhava. E, muitas vezes, era também quem o levava para casa e o depositava na porta do palacete, com mais “Fidalgas” do que seu fígado de maleita conseguira absorver. Não admira que Orestes Barbosa não precisasse chamá-lo de “doutor Mário”.
A única alteração nesta rotina diária de Mário Rodrigues era quando ele saía de manhã, direto para o jornal e já com o artigo pronto; deixava-o com o secretário e desaparecia da redação, sem dizer para onde ia. Ás vezes isto não fazia diferença. Mas podia acontecer uma emergência e que precisassem dele para tomar uma atitude. Contínuos do jornal eram despachados para varejar a cidade à sua procura, nos endereços conhecidos. Em último caso, o “Gênio do telefone” (uma figura indispensável nas redações, o único que tinha os telefones secretos de todo mundo) era autorizado a ligar para os “rendez-vous”. Quase sempre, no entanto, Mário Rodrigues estava apenas trancado nos “Democráticos”, pagando bebida para metade do Rio de Janeiro.
Mário Rodrigues podia estar fazendo de “A Manhã” uma máquina de imprimir dinheiro, mas sua dissipação administrativa era do tamanho da sua capacidade de fabricar dívidas. Nem sempre ele podia honrá-las. Seu sócio Antônio Faustino Porto podia. Quando Mário Rodrigues abriu os olhos, já perdera o jornal para ele.
- 1928 - PAIXÕES VOLÁTEIS
Em 1928, Nelson e todos os jovens Rodrigues em idade para servir faziam uma coisa ou outra em “A Manhã”. Milton, aos 23 anos, era o secretário do jornal. Roberto, aos 21, ilustrava algumas reportagens policiais. (No ano anterior, editara com Milton uma revista semanal chamada “Jazz”.) Mário Filho começara aos dezoito anos na função de gerente do jornal, responsável pelos vales, mas, para desprazer de seu pai, que o queria como repórter na Câmara dos Deputados, preferiu dirigir a página literária; e agora, aos vinte, resolvera assumir a página de esportes, a menos importante do jornal. E Nelson, aos dezesseis anos incompletos, fora promovido da reportagem policial para a cobiçada página três: a dos editorialistas, de onde seu pai despejava as fagulhas e onde Monteiro Lobato, Agripino Grieco e os outros assinavam artigos. Era o que ele ia fazer: escrever artigos assinados, uma vez por semana.
O Curso Normal de Preparatórios, Nelson já o abandonara desde o outro ano, 1927, na terceira série do ginásio. Aos seus olhos de quinze anos, rabiscos na lousa não podiam competir com manchetes. Depois de respirar o ambiente da redação e chamar os figurões pelo nome como se fosse um deles, já não via o menor “charme” em aprender a extrair uma raiz quadrada ou descobrir o valor de pi. Preferia matar aula na praça Quinze, mesmo que fosse apenas para chupar tangerinas no cais, cuspindo os caroços no mar e tentando decifrar o nome dos navios. Nunca mais voltou à escola, e seu pai tentou, mas desistiu de forçá-lo a continuar. Descobrira que, à sua maneira, Nelson se tornara incontrolável.
Mário Rodrigues tivera a primeira amostra disso em 1926, quando Nelson, a dias dos catorze anos e intimo das oficinas do jornal, criara o seu próprio jornalzinho — um tablóide de quatro páginas intitulado “Alma Infantil”. Nelson escrevia-o quase todo, paginava-o e o mandava compor e imprimir nas máquinas de “A Manhã”. Por algum motivo, dividia a “direção” do tablóide com seu primo Augusto Rodrigues Filho, um ano mais novo do que ele e que ainda morava no Recife. (E que, no futuro, se tornaria o cartunista Augusto Rodrigues, famoso residente do largo do Boticário.) O jornal nascera das cartas trocadas pelos dois. Nunca se tinham visto, mas pareciam ter uma afinidade de irmãos. Eram gêmeos, por exemplo, na completa falta de tolerância para com os rumos que o universo tinha tomado até a presente data.
Um jornal dirigido por um filho de Mário Rodrigues teria de se parecer com um jornal de Mário Rodrigues — e “Alma Infantil” era uma espécie de “A Manhã” de calças curtas, embora Nelson já tivesse deixado de usá-las. Ele queria ser como seu pai, um espadachim verbal. Mas, bem ou mal, o atrevimento de Mário Rodrigues em suas opiniões era baseado em informações. O de Nelson era apenas uma petulância adolescente. Logo no primeiro número do tablóide desencadeou um ataque sem tamanho contra o padre Félix Barreto, diretor do Ginásio do Recife, acusando-o de ter torturado seu primo Augusto, aluno do ginásio, a mando do governador Sérgio Loreto. “E inútil dizer que o padre Félix Barreto é um farrapo humano desprezível”, bramava Nelson no artigo, “um reles bandido, um pobre louco cujo cérebro a sífilis comeu e cuja alma é lavada duzentas vezes por hora na latrina.” Em outro trecho, taxava o pio padre Félix, futuro nome de colégio no Recife, de “célebre violador de pretas”.
Dos quinhentos exemplares que Nelson mandara rodar de “Alma Infantil”, metade foi para o Recife junto com o reparte de “A Manhã” que circulava lá. E fácil imaginar o pânico do velho Augusto, irmão de Mário Rodrigues, ao ler aquilo no jornal e ver o nome de seu filho no expediente. E, mais ainda, ao constatar que, sendo aquele o número um, haveria outros, talvez piores.
Telegrafou no ato para seu irmão:
“PREZADO MARIO PI EVITE PUBLICAÇÃO ‘ALMA INFANTIL’ PT ABRAÇOS AUGUSTO.”
A resposta também foi na bucha:
“PREZADO AUGUSTO PT IMPOSSÍVEL PT ABRAÇOS MARIO.”
Augusto pai não estava exagerando em seu apelo. Afinal, era ele quem morava em território de Sérgio Loreto, o qual, se pudesse, faria Mário Rodrigues e todos os Rodrigues mastigar a língua, por causa do recente episódio do suborno. E a suposta tortura de Augusto filho pelo padre Félix não passara de um bolo dado com a palmatória — a punição corriqueira que se aplicava a um estudante arteiro e que, mais rebelde até do que o primo Nelson, orgulhava-se de ser expulso dos colégios por que passava.
No Rio, indiferente a isto, Nelson já estava rodando o número dois de “Alma Infantil”. Neste, deixava de lado as grandes questões pernambucanas, mas pedia o fechamento da Academia Brasileira de Letras pela polícia, classificava Epitácio Pessoa de “uma pústula social” e massacrava por atacado a Escola Nacional de Belas Artes, acusando-a de ser um antro de “marmanjos imbecis”. Os “marmanjos” eram as “bêtes noires” de Nelson no jornal, para quem todo maior de catorze anos era um bruto corrompido e insensível — ressalvados apenas os Rodrigues adultos e um jovem protegido da família: um amigo de seu irmão Roberto, chamado Cândido Portinari.
Mas Augusto Rodrigues pai estava se afligindo à toa. Depois de cinco números, Nelson cansou-se de “Alma Infantil”, largou mão do tablóide e preferiu concentrar-se nos pactos de morte que cobria no jornal dos marmanjos. Dois anos depois, em 1928, ao ser guindado à página dos editoriais de “A Manhã” — onde se supunha que os artigos eram sérios —, ele se sentiria um peixinho dourado no seu aquário natal. As primeiras crônicas deixaram a família orgulhosa. E, de repente, teve uma recaída iconoclasta ao estilo de “Alma Infantil”. Aproveitando-se de que Mário Rodrigues não estava olhando, Nelson assestou sua fenomenal petulância exatamente contra quem não devia: o ídolo de seu pai, Rui Barbosa.
Fora Roberto quem descobrira Portinari em 1923 na Escola Nacional de Belas Artes, onde ambos estudavam. Ali começou uma relação que pode ter sido decisiva para a pintura brasileira. Candinho, como o chamavam, tinha vinte anos, três a mais que Roberto. Mas nascido e criado na roça, em Brodósqui, interior de São Paulo, via em Roberto um herói. Candinho era coxo, rústico e quase analfabeto; Roberto era bonito, cosmopolita e lido. Candinho não sabia muito bem o que fazer de sua pintura; Roberto já queria ser “moderno”. Portinari era “acadêmico” — tanto quanto outro contemporâneo da Belas Artes, Oswaldo Teixeira. Só que Oswaldo Teixeira achava ótimo ser “acadêmico” e, quem não gostasse, que fosse lamber sabão. Mas Roberto viu coisas em Portinari que não via nem em si mesmo e adotou-o. Ou, por outra, fez com que sua família o adotasse.
Pelos anos seguintes, Candinho seria quase um agregado dos Rodrigues — cama, mesa e cavalete. Quando eles moravam na rua Inhangá, Roberto mantinha no largo do Machado um ateliê que Candinho usou muitas vezes para dormir. Quando se mudaram para a rua Joaquim Nabuco e Roberto montou o ateliê no porão, Candinho também se mudou para o porão. Almoçava e jantava quase diariamente com a família, e Maria Esther dava-lhe dinheiro para as tintas e pincéis. (Como saber que, em 1962, aos 59 anos, Portinari morreria envenenado por suas tintas?) Os Rodrigues tomaram Candinho como filho porque Roberto o dissera seu irmão — e, entre os Rodrigues, a palavra de Roberto pesava como um jarro de pedra.
Portinari retribuía esse afeto pintando a família Rodrigues, embora ninguém suspeitasse que um dia aqueles retratos seriam tão valiosos. Roberto três vezes (inclusive um corpo inteiro), Milton, Mário Filho e dona Maria Esther foram os que ele pintou. (Não, Portinari nunca pintou Nelson.) O retrato que lhe tomou mais tempo foi o de Mário Rodrigues, porque o modelo não tinha tempo nem paciência para posar. E, francamente, não via muito sentido naquilo. Mas quando Mário passou um ano preso nos Barbonos, Candinho aproveitou a chance e completou o seu retrato na prisão.
Os Rodrigues fizeram mais por Portinari. Apresentaram-no a Olegário Mariano, cujos amigos ricos pediram-lhe retratos. Candinho pintou-os todos e pintou também Olegário Mariano. Depois de perder, ano após ano, o prêmio de viagem a Paris da Escola Nacional de Belas Artes, Candinho concorreu em 1929 com dois retratos: um de Roberto Rodrigues e outro de Olegário Mariano. Os Rodrigues jogaram o peso de seu jornal na premiação. Portinari ganhou com o de Olegário. Em agosto de 1929, fez as malas, despediu-se dos Rodrigues e partiu para Paris.
Quando voltou, em janeiro de 1931, apenas um ano e meio depois, já não existiam Roberto nem Mário, e nenhum dos Rodrigues restantes podia oferecer-lhe uma refeição. Nem ele precisaria.
Em fevereiro de 1928, os leitores de “A Manhã” já estavam se habituando ao novo colunista semanal da página três, Nelson Rodrigues. Ninguém o conhecia e, pelo que escrevia, era difícil dizer se tinha vinte, quarenta ou sessenta anos — porque, a cada parágrafo, aparentava uma dessas idades. Ou então, no meio de um artigo, mentia sobre sua idade, referindo-se no passado ao tempo em que tinha vinte anos. Fácil de perceber é que não se tratava de alguém inundado de “joie de vivre”. Ao contrário, parecia uma alma torturada, sabia-se lá por quais martírios. Mas não entrava nas cogitações de ninguém que se tratasse de uma alma torturada de quinze anos e meio.
O primeiro artigo, “A tragédia da pedra...”, com as solenes reticências, saiu no dia 7 de fevereiro de 1928. Era muito bem escrito — para um jovem intoxicado de leituras românticas e parnasianas do século XIX. Meio confuso, mas, debulhada a confusão, via-se que tratava do dinheirismo a que se entregara o “homem moderno”, com o seu frio oportunismo e insensibilidade aos valores da natureza. (Nada ecológico, veja lá, apenas psicológico.) Nelson identificava nos “sulcos profundos da pedra, nos talhos, nas rugas que lhe conturbam a euritmia dos traços”, os “sofrimentos cruciantes” de algo que seria a própria pedra ou que talvez fosse Deus, desapontadíssimo com as asneiras que o homem cometia neste mundo.
Profundo, não? Não, pueril — mas revelador do precário equilíbrio nervoso que o jovem Nelson estava vivendo, principalmente no trecho em que ele se revolta contra o fato de a sociedade chamar de “loucos, malandros e idiotas” os sensíveis a uma “vida contemplativa”. Na verdade Nelson estava falando em causa própria. Como todo garoto, seu desempenho na vida era cobrado talvez além da conta pelos, mais velhos. E o que não lhe faltava era uma tribo de mais velhos na família, sem falar em pai e mãe, para dizer-lhe o que fazer. Vá lá que não quisesse estudar — diziam-lhe —, mas não podia passar a vida a ver navios e a chupar tangerinas na praça Quinze. Não iriam admitir que ele tivesse vindo ao mundo apenas para ocupar espaço. Içá-lo para a página três do jornal e dar-lhe uma coluna semanal tinha sido uma idéia de seu pai para sacudi-lo — o que ele estava agora aproveitando para se explicar, a si próprio e aos outros.
Cada artigo na página três confirmava essa impressão. O da semana seguinte, 14 de fevereiro, “Gritos bárbaros”, era uma evocação de um poeta já obscuro na época e hoje ignorado, Moacir de Almeida, morto de tuberculose em 1925 aos 23 anos. Moacir de Almeida (na descrição de Agripino Grieco, que o conheceu e o descreveu a Nelson) era um jovem apagado, feio e doente que, quando escrevia, sentia-se Castro Alves. Seu livro “Gritos bárbaros” encantara Nelson, mas o que mais o intrigara fora a figura trágica do rapaz, pouco mais velho do que ele, que se transfigurava ao escrever poesia. Era como ter dupla identidade — e, no caso de Moacir de Almeida, era como se um homem poderoso e sensível tivesse morrido sufocado na pele de um pobre coitado. Mais um pouco e Nelson, com sua vocação trágica pipocando em cada acne, diria que aquela era a história de sua vida.
Em três outros artigos nas semanas seguintes, seus apelos à sensibilidade ficaram tão agudos que ele começou a enxergar miragens. Em “O elogio do silêncio”, de 23 de fevereiro, Nelson viu “flores que se transformam em lindos seios de mulher, seios que acabam em dois botões de rosa”. Em “A felicidade”, de 8 de março, comparou a Lua a uma “prostituta velha que ainda se julga apetecível para rapazes que zombam dela”. E em “Palavras ao mar”, de 22 de março, descreveu ondas que, “depois de altanarem num arremesso formidável, caem ruidosamente no torvelinho branco das espumas, parecendo um bando de mulheres se contorcendo em convulsões de amor”. Onde é que esse menino andava com a cabeça?
Se continuasse limitado a esses temas, Nelson acabaria asfixiado pelos seus próprios gases poéticos. Mas o seu lado monstro se revelou na crônica de 16 de março, “O rato...” (de novo as reticências), em que ele conta como viu um rato morto, achatado por um carro, defronte à Biblioteca Nacional. Chegou perto do rato para espiá-lo e compadeceu-se até às lágrimas. Só isto já seria esquisito, mas — continua Nelson —, quando observou suas tripas, teve a impressão de que elas estavam sorrindo e que o ventre do bicho estava cantando o “Trovatore”. Depois desse delírio surrealista, a crônica segue e Nelson aproveita o rato para atacar, sem maiores explicações, dois encouraçados literários da época, o poeta parnasiano Alberto de Oliveira e o contista regional Viriato Correia. “Com tanta gente boa para ficar debaixo de um caminhão da City” — e cita os dois como exemplos —, lamenta que tenha sido o bicho o achatado. Não se sabe como Alberto de Oliveira e Viriato Correia reagiram à agressão. Mas, como ex-contemporâneos de Mário Rodrigues no “Correio da Manhã” (e provavelmente seus desafetos), devem ter achado melhor se fingir de mortos.
Até aí tudo bem, e as crônicas de Nelson não ficavam mal naquela literatice empavonada que gostava (e ainda gosta) de se exibir nas páginas nobres dos jornais. Até que, num artigo em duas partes intitulado “Rui Barbosa...” (mais reticências), Nelson propôs-se a provar que “o maior dos brasileiros” não era um gênio. No primeiro artigo, de 12 de abril, ele conta que, desde os cinco anos de idade, de tanto ouvir dizer que Rui Barbosa era um gênio, crescera acreditando nisto. Aos quinze anos, mais observador, estranhou que, embora todo mundo achasse Rui um gênio, não conseguia encontrar uma pessoa que o tivesse lido ou estudado. Donde, conclui Nelson, toda uma cidade estava na mesma situação que ele aos cinco anos.
No segundo artigo, no dia 19, depois de citar Dante, Homero e Byron como gênios de verdade (porque deixaram uma “obra”), Nelson decreta que Rui não era um gênio porque não deixara a tal obra. “Deixou volumes”, diz ele, o que é bem diferente. Volumes cheios de discursos ocos e quinquilharias verbais, sem uma idéia nova, sem nada que iluminasse o universo. E arremata que gênio brasileiro, se houve um, foi Euclides da Cunha em “Os sertões”. Este sim, diz Nelson: “O seu livro contém mundos”. Segue-se uma descrição em pílulas dos mundos de Euclides da Cunha e, ao final do artigo, pode-se quase ver Nelson esfregando as mãos, triunfante no seu objetivo de despachar o pobre Rui, falecido cinco anos antes, para a segunda divisão.
Bem, vejamos. Mário Rodrigues não andava muito atento à condução do jornal naquela época. O primeiro artigo certamente lhe escapara — porque, se o tivesse lido, não teria deixado sair o segundo. Não que censurasse opiniões em “A Manhã”, desde que elas viessem, por exemplo, de um Agripino Grieco. E ele próprio, Mário Rodrigues, fizera restrições políticas a Rui, Mas Nelson, que disputava figurinhas no bafo-bafo com os moleques do Posto Seis, ainda não era um Agripino Grieco. E muito menos um Mário Rodrigues. Ele ia ver uma coisa.
De sua parte, Nelson sabia muito bem os vulcões que o segundo artigo despertaria em seu pai. Por isso, aquela manhã, saiu de casa antes que Mário Rodrigues acordasse e lesse o jornal. Passou o dia na rua, julgando-se a salvo. Mas houve um momento, muitas horas depois, em que precisou voltar para casa — onde Mário Rodrigues o esperava, com o jornal debaixo do braço. O castigo foi mais duro do que Nelson imaginava. Ele, sim, é que foi despachado para a segunda divisão, porque seu pai tirou-o da página três e devolveu-o à seção de polícia pelos cinco meses seguintes.
Uma sentença que Nelson cumpriu, silente e de orelhas murchas. Nelson acabaria recuperando seu espaço nobre em meados de setembro, mas só teria tempo para soltar duas crônicas — a última delas, “Zola”, era uma bem fundamentada argumentação de que a sociedade melhora quando você lhe expõe os podres. Mas de nada adiantaria aquele brilhareco porque, poucos dias depois, já não haveria espaço para ele (ou para qualquer Rodrigues) em “A Manhã”.
A Terra se mexera sob a redação da rua Treze de Maio, mas não se poderia dizer que fora um movimento súbito. Na verdade, Mário Rodrigues começara a perder “A Manhã” no dia em que a fundara. Com seu jeito estouvado para negócios, foi deixando que seu sócio Antônio Faustino Porto participasse cada vez mais dos investimentos para expandir o jornal. E, sempre que se via em apertos com os fornecedores, era a ele que Mário recorria para liquidar os compromissos. O resultado é que se endividou com Antônio Faustino Porto e este saltou sobre aquela chance de assumir o controle acionário da empresa. No dia 3 de outubro de 1928, Porto assimilou as dívidas de Mário Rodrigues em troca de suas ações e ficou majoritário. Tornou-se o patrão. E, num rasgo magnânimo, ofereceu-lhe continuar dirigindo o jornal, ao salário de quinze contos de réis por mês.
A proposta era imoral, mas Mário Rodrigues aceitou-a — e permaneceu só um dia no emprego. Ao primeiro editorial cravejado de centelhas, foi posto em seu lugar pelo ex-sócio. Não podia atacar o Fulano, um político menor. Mário Rodrigues reagiu a isto à sua temperatura habitual — ou seja, ficou tiririca —e, como já estava se tornando costume, despediu-se de Antônio Faustino Porto por escrito:
“Estava louco V. S. se pensou que, com as ações, eu lhe transferia a minha pena, a minha inteligência, o meu nome, o meu pundonor de homem. Tem esse troco a injúria de haver querido transformar um amigo em escravo. Ninguém me vence, saiba disto; ninguém me vence, senão pelo afeto, pelo carinho, pela cordura. Vingo-me deixando-lhe ‘A Manhã’ nas mãos e obrigando-o a sondar a consciência. Adeus — Mário Rodrigues.”
E não estava blefando. Perdera seu jornal, mas de modo algum tinha ido à lona. Para Mário Rodrigues, tornara-se muito fácil abrir outro à hora que quisesse. Afinal, era ou não era amigo do vice-presidente Melo Viana? E assim, no dia de seus 43 anos, 21 de novembro de 1928 — apenas 49 dias depois de perder “A Manhã” —, Mário Rodrigues lançou seu novo jornal e o de mais escandaloso sucesso: “Crítica”.
“Olhe aquela janela, Mário”, disse Orestes Barbosa. “Fica bem defronte à sua. Se alguém quiser matá-lo com um tiro, você será um alvo fácil.”
“Se-seria uma mo-morte linda”, gaguejou Mário Rodrigues — não por nervosismo, mas por ser gago mesmo.
A redação de “Crítica” ficava em dois prédios da rua do Carmo, nºs 29 e 35, quase esquina com rua da Assembléia, ao lado de uma serraria. A sala de Mário Rodrigues, no primeiro andar, tinha uma janela quase grudada à janela correspondente de outro prédio vizinho. Nenhum atirador, por mais míope, deixaria de acertá-lo. E talvez fosse a única maneira de alguém se livrar de Mário Rodrigues: à traição. Poucos dias antes, quem quisesse tentar tivera a prova disto. Um homem enorme e mal-encarado entrara na redação de “Crítica” à sua procura. Disse-lhe que recebera uma oferta de cinco contos de réis para mata-lo. Mário Rodrigues ouviu aquilo. O sujeito continuou:
“Mas, o doutor sabe, não tenho nada contra o doutor. Quem sabe podíamos entrar num acordo e...”
Mário não o esperou acabar. Avançou para o sujeito, cobriu-o de socos e bofetões e atirou-o porta afora, fazendo-o rolar pelas escadas debaixo de pontapés. Venceu-o pela surpresa e pela valentia. Mas não o entregou à polícia. Foi à máquina e escreveu um editorial desafiando seus inimigos a virem em pessoa, no lugar dos sicários.
Se Nelson apenas fazia idéia do peso e da influência de seu pai durante os quase três anos de “A Manhã”, em “Crítica” ele conheceria melhor os sentimentos que Mário Rodrigues despertava: de um lado, admiração; de outro, ódio; em ambos os casos, respeito e medo. Por que a diferença? “A Manhã” era um jornal agressivo. Mas, comparado com “Crítica”, parecia agora ter sido tão inofensivo quanto o “Almanaque da ‘Saúde da Mulher
Chamava-se “Crítica" não “A Crítica". Seu lema, bem debaixo do frontispício, dizia: “Declaramos guerra de morte aos ladrões do povo". Era matutino e seu formato, invariável, de oito páginas, sendo a primeira quase sempre política e a última sempre policial. Visualmente era sensacional: projeto gráfico do paraguaio, radicado no Rio, Andrés Guevara. O forte eram as fotos dos políticos com as cabeças distorcidas e as caricaturas feitas pelo próprio Guevara e por outro ilustrador, o mexicano Enrique Figueroa. Sozinhos, os dois revolucionaram em “Crítica” toda a caricatura brasileira, afastando-a das boquitas pintadas de J. Carlos. A exuberância visual de “Crítica” acompanhava o estardalhaço dos textos. Cada manchete, como diria Nelson, era “um berro gráfico, um uivo impresso". As vezes limitava-se a uma única palavra: “CANALHAS!” ou “ASSASSINOS!”.
Nem todos aprovavam o jeito malcriado do jornal. O conde Francisco Matarazzo, por exemplo, não gostou de ver a sua foto ocupando quatro colunas de alto a baixo da primeira página do dia 17 de março de 1929, com uma palavra em letras tumulares — “LADRÃO!” — impressa em sua testa. A matéria o acusava de irregularidades nos seus negócios de café. Matarazzo entrou com uma queixa-crime e Mário Rodrigues vibrou: iniciou a publicação de um folhetim intitulado “O abutre”, em que biografava dantescamente o conde desde as suas origens na Itália. Uma semana depois, Matarazzo retirou a queixa-crime, mas Mário Rodrigues prosseguiu com o folhetim, até que ele e os leitores se cansaram.
Naquela edição do ataque a Matarazzo, “Crítica” se gabava de ser “o matutino de maior circulação do Brasil": 130 mil exemplares — o que, a ser verdade, era espantoso. Reduza esse número à metade e, mesmo assim, era muita coisa para um Rio de um milhão e meio de habitantes e que já tinha outros vinte jornais diários. Mas, desde o primeiro número, Mário Rodrigues provara que não estava para brincadeiras: na véspera do lançamento do jornal, convocara os pequenos jornaleiros e anunciara que as vendas daquela edição seriam deles. Inundou a cidade de jornais e ganhou a torcida dos garotos.
Se houve jornal mais exibicionista, ainda não foi descoberto. O nome “Crítica” aparecia em uma de cada três manchetes: “CRÍTIA revela isto!”, “CRÍTICA denuncia aquilo!” ou "‘Caravana’ de CRÍTICA penetra não-sei-onde!”. Hoje se diria que era um jornal “autocentrado”, como se o principal assunto de cada dia fosse o fato de o jornal ter saído. Na época, apenas fazia parte da estratégia de Mário Rodrigues para mostrar a que vinha. Mas havia dúvida? Qualquer um que o conhecesse sabia o que esperar. Num típico editorial de “Crítica” — o de 28 de dezembro de 1928, por exemplo —, Mário Rodrigues açoitava o agora senador Arthur Bernardes chamando-o de “réprobo”, “sacripanta”, “Caim”, “excelso canibal”, “hiena insaciável”, “urubu sanguinolento” e “carcaça nojenta”. Esse tipo de tratamento a ex-presidentes não era incomum na imprensa da época. Incomum era o estoque de metáforas de Mário Rodrigues.
“Crítica” era forte em todos os setores, principalmente na política, dirigida por Bezerra de Freitas, Danton Jobim e Rafael de Holanda — e no esporte, chefiado por Mário Filho, onde agora trabalhavam Nelson e seu irmão mais novo, Joffre, com treze anos. Mas a grande sensação do jornal era a última página, a oitava, dedicada aos crimes. Era dirigida por Carlos Leite, também secretário do jornal, e tinha como repórteres Orestes Barbosa, Fernando Costa e Eratóstenes Frazão. Ninguém vira nada igual. Diariamente a “caravana” de “Crítica” descobria um caso aterrador do submundo carioca e o explorava até o último pingo de sangue ou esperma: casais que se esquartejavam por ciúme, filhos que torturavam pais entrevados, mães que seduziam filhos, irmãs que se matavam pelo mesmo homem, padres estupradores e toda sorte de adultérios.
Não era exatamente uma imprensa marrom, porque não consta que o jornal extorquisse as vítimas dos escândalos, quase todas miseráveis. (E “Crítica” queria atingir todos os públicos. Suas colunas assinadas, a cargo de Henrique Pongetti, Gondin da Fonseca e outros jovens intelectuais, discutiam balé, poesia e artes plásticas.) Mas, pela violência com que a “caravana” da oitava página invadia as casas dos subúrbios em busca de informações e pelo requinte macabro com que as apresentava, a seção policial de “Crítica” tornou-se leitura até para os consumidores mais sofisticados do jornal. Todos queriam saber até que ponto a oitava página chegaria.
Esse requinte se manifestava sobretudo na ilustração, que acompanhava cada matéria. Ela reconstituía a cena do crime com um toque tão dramático, erótico e sensacionalista quanto o texto. Era de um mau gosto violento e propositado, tanto quanto se poderia dizer que Goya ou Hyeronimus Bosch eram de mau gosto. Apesar de executado na redação, baseado no relato dos repórteres que tinham ido ao local, o desenho era de um acabamento e qualidade de primeira.
Essas ilustrações, no começo, eram assinadas pelo “desenhista de ‘Crítica’". A partir de 1929, ganharam o nome de seu autor: Roberto Rodrigues.
Os jornalistas das outras redações viviam comentando:
“Um dia alguém em ‘Crítica’ ainda vai levar um tiro!”
O candidato natural a esse tiro era Mário Rodrigues e poderia partir tanto de um político quanto de um adúltero que “Crítica” tivesse exposto com aquela fortuna de detalhes e adjetivos. Mas, se muitos juravam que Mário Rodrigues ainda levaria um tiro — e até torciam entre dentes para que isso acontecesse —, ninguém acreditava que Mário Rodrigues fosse capaz de disparar esse tiro. Não era o seu estilo.
No entanto, em maio de 1929, Mário Rodrigues foi preso sob a acusação de ter sido mandante de um atentado cometido por seu amigo, o ex-investigador Carlos José de Carvalho, “Carlinhos”, contra o argentino Carlos Pinto, repórter de “A Democracia”, depois de uma discussão na rua Sete de Setembro. Pinto teria chamado Mário de “filho da puta”. Carlinhos teria ido à redação, conversado com Mário Rodrigues e voltado à rua armado. Pinto viu Carlinhos com o revólver e correu. Este o acertou a três metros com um tiro, ora vejam, na bunda.
Carlinhos foi preso e torturado na 4? Delegacia Auxiliar, na rua da Relação, para confessar que Mário Rodrigues o mandara matar o argentino. O titular da 4ª Delegacia, o tenente-coronel Carlos Reis, não era um dos dez maiores admiradores de Mário Rodrigues. Quando fora nomeado para a poderosa 4ª Auxiliar em 1926, Mário Rodrigues, em “A Manhã”, esbravejara contra a sua escolha, acusando-o de “torturador”, “contrabandista de pólvora” e “baiano dos mais pacholas”. Assim, como Carlinhos não confessasse, Reis mandou prender Mário e todos os Rodrigues do sexo masculino que estivessem à vista. Um deles teria de ser o mandante.
Mário Rodrigues foi preso em sua casa, na rua Joaquim Nabuco, juntamente com Milton, Roberto e Mário Filho. Nelson escapou por estar fora do Rio. Mário, que estava doente aquele dia, foi deixado por algumas horas numa saleta da rua da Relação, na companhia de duas prostitutas, antes de ser encarcerado por uma semana. Milton foi atirado de cuecas na “geladeira”, onde ficou quatro dias. Roberto e Mário Filho foram libertados em 48 horas. Apesar de preso, Mário Rodrigues não deixou de escrever seu editorial nem um dia. Através do advogado, despachava flamejantes artigos para “Crítica”, nos quais responsabilizava o presidente Washington Luís pela “arbitrariedade”.
Uma semana depois foi solto por ordem deste, que já tinha mais com o que se aborrecer — e, ora bolas, Mário Rodrigues era seu aliado. Do que Mário se aproveitou e, na manchete de “Crítica” no dia seguinte à sua libertação, sapecou Carlos Reis com mais uma provocação: “A POLÍCIA DO RIO É UMA POLICIA DE LADRÕES!”. Quem conseguia segurar aquele homem?
Mário Rodrigues foi processado pelo tiro na bunda — e depois absolvido, o que não o impediu de dizer-se “campeão carioca de xadrez”, referindo-se às suas prisões e aos processos que pretendiam pô-lo nas grades. O argentino Carlos Pinto recuperou-se do tiro e foi expulso do país por outras falcatruas. Carlinhos, que atirara por conta própria e lealdade cega a Mário Rodrigues, acabou morrendo tempos depois, cuspindo sangue, como lembrança dos espancamentos na delegacia. Quanto ao delegado Carlos Reis, ainda não se considerava terminado com Mário Rodrigues. Brevemente teria outra oportunidade de vingar-se — e a aproveitaria.
Naqueles dias em que seu pai e seus irmãos gramavam os rigores da (desde sempre) sinistra rua da Relação, Nelson estava a bordo de um vapor em direção ao Recife. Fora a solução que Mário e Maria Esther pensaram encontrar para alivia-lo das depressões profundas que vinha sofrendo. Ninguém conseguia explicar aqueles surtos de melancolia num rapaz de quase dezessete anos. No fundo achavam que havia algo de teatral nesses surtos, principalmente quando o viam sentado no meio-fio e dando suspiros em longa-metragem. Mas ele continuava a sangrar por paixonetas não correspondidas. Agora era a que sentia por Lua, irmã de Célia, noiva de seu irmão Mário Filho. Lua tinha treze anos, aparentava dezoito e era de parar o trânsito. Nunca deu a menor esperança a Nelson, mas ele só se convenceu disso daí a alguns anos, quando ela se casou com José Bastos Padilha, presidente do Flamengo e décadas mais velho do que ela.
Outra paixão da época foi por Carolina, colega de sua irmã Maria Clara no Colégio Bennett, em Botafogo. Nelson tinha dezesseis anos, Carolina catorze.
Ele a cumulou de poemas e bilhetes e até publicou uma crônica a seu respeito em “Para todos...”, com ilustração de Roberto. Mas Carolina tinha um impedimento: era noiva de Arilno, dezoito anos. Arilno cercou Nelson na porta do Bennett e ameaçou fazê-lo comer seus poemas e bilhetes se não se afastasse de sua garota. Nelson achou mais sensato seguir o conselho e ficar de Longe; Carolina casou-se com Arilno e Nelson só foi reencontrá-la cinqüenta anos depois.
Mas nenhuma dessas paixões voláteis envolveu Nelson numa cena tão burlesca quanto a provocada por Marisa Torá. Marisa Torá era uma estrelete da companhia teatral de Alda Ganido. Nelson via suas fotos no jornal e gongos soavam em sua cabeça. Numa das milhares de apresentações de “Cala a boca, Etelvina”, de Armando Gonzaga e Freire Jr., estrelada por Alda Ganido, Nelson invadiu o palco do Teatro Rialto para presentear Marisa com um buquê de flores em cena aberta. A mãe da garota, que estava na platéia, achou aquilo um abuso à arte de sua filha e correu com Nelson do palco, brandindo o guarda-chuva em sua cabeça. Foi o maior momento da carreira de Marisa Torá — maior do que o papel que ela faria, em 1930, no filme “Lábios sem beijos”, de Humberto Mauro, antes de despontar para o anonimato.
Para curá-lo daquelas crises que o faziam chorar lágrimas de esguicho, Mário e Maria Esther acharam que a solução era mandar Nelson para uma temporada no Recife, com seu tio Augusto e com os primos Augusto e Netinha, ambos quase da sua idade. Até então Nelson nunca voltara à sua cidade e, aliás, nunca safra do Rio. Além disso, há anos Nelson mantinha um namoro epistolar com Netinha, que só conhecia de fotografia e a quem dedicara poemas em “Alma Infantil”.
No futuro se diria que, desde que safra do Recife aos três anos e meio, Nelson Rodrigues nunca mais voltara lá, o que sempre magoou os pernambucanos. Pois saiba-se agora que não apenas voltou como passou no Recife todo o mês de maio de 1929, numa idade que lhe permitiu redescobrir Olinda, conhecer a praia de Boa Viagem e mergulhar fundo na boêmia local — pois não saía da zona de mulheres do Cais do Porto, considerada proporcionalmente a maior da América do Sul. E seria a atmosfera da zona boêmia do Recife de 1929 que ressurgiria muito depois em sua talvez maior peça, “Senhora dos afogados”.
O companheiro de Nelson nas expedições noturnas era o primo Augusto, mas, de dia, Nelson passava o tempo todo com Netinha. Não pergunte como, mas ela conseguiu arrancar Nelson da depressão e deixá-lo quase eufórico naquelas semanas. Uma euforia mórbida, porque uma das brincadeiras de Nelson no Recife — além de jogar bolinhas de pão em seus tios e acusar a prima — era deitar-se no meio da rua e fingir-se de atropelado.
Em junho, quando voltou ao Rio e reassumiu todo animado sua função de repórter esportivo em “Crítica”, Nelson deveria ter pela frente muitos atos daquele teatro adolescente que vivia encenando em sua cabeça. Não podia saber que, de repente — com a rapidez de uma bala —, os Rodrigues veriam o pano se fechar e eles seriam tragicamente atirados à vida real.
- 1929 - ROBERTO
A primeira coisa que se via em Roberto Rodrigues eram os olhos. Escuros, enormes, circulados por olheiras profundas e sobrancelhas espessas e pretas. Eram olhos de “sampaku” — aqueles em que a íris é cercada de três lados pelo branco do olho e que, segundo os japoneses, trazem a morte violenta para quem os possui. Por proximidade, o que se via depois em Roberto Rodrigues eram os cabelos, também pretos e fartos, fixados com gomalina, e que desciam pela face em costeletas. Seu rosto era de um moreno de cinema e lembrava Rodolfo Valentino, o modelo vigente de beleza masculina.
Um dia seu pai presenteou Nelson com uma câmara “Pathé-Baby”, de oito milímetros — um brinquedo de trezentos mil réis e que apenas as crianças mais abonadas podiam ter. Nelson só queria saber de filmar Roberto, em quem via algo de hollywoodiano. Filmou também Joffre no papel de “Manequinho”, a estátua do garoto urinando no Mourisco, mas quase todo o rolo de filme foi gasto com Roberto. Este filme está perdido há décadas, mas os que o viram se lembram de que Roberto não fazia cerimônia em posar de galã para a câmara.
Sabia que era bonito — e, mesmo que não soubesse, não faltavam garotas para informá-lo disso. Curioso é que, com menos de 1,70m, por nenhum padrão Roberto poderia ser considerado alto. Mas era esguio, bem proporcionado e dava a impressão de ser maior. Era também vaidoso, atento a roupas, parecia estar sempre fumando de perfil. Quando saía à rua com Milton, gordo e desajeitado, eram chamados de “o belo e a fera”.
Seu amigo, o jornalista Gondin da Fonseca, classificou-o de “um sensual”. Uma admiradora trouxe-lhe do Japão um quimono de seda, feito a mão, bordado com fios de ouro e prata. Roberto deixou-se fotografar com o quimono para pintar um de seus vários auto-retratos. (Em outro auto-retrato, pintou-se como louco.) A moça do Japão era uma de muitas admiradoras. Mulheres de todas as idades e belezas encantavam-se pelo seu ar triste e taciturno, que ele explorava com consciente delicadeza. Dito assim, pode-se pensar que Roberto era frágil, capaz de ser derrubado com um sopro. Nada mais falso: em nenhum momento aparentava fragilidade. A sua maneira, passava uma profunda sensação de segurança e determinação. Falava pouco, mas dizia o essencial e de forma definitiva. Uma de suas namoradas perguntou-lhe: “Como se sente comigo?”. Ele respondeu escandindo as silabas, como era seu hábito: “In-tei-ro”. Ela se desmanchou como uma “mousse” ao sol.
Depois de Mário Rodrigues e Maria Esther, Roberto era o líder, a patente máxima da família. Milton podia ser o filho mais velho, mas era Roberto quem detinha a autoridade sobre os irmãos. Talvez nunca chegasse a ser o herdeiro de Mário Rodrigues, o qual viria a ser Mário Filho — mas só porque, diferente dos outros, a especialidade de Roberto não eram as palavras, mas o desenho. Começara a desenhar aos cinco anos, em 1911, ainda no Recife. Aos treze, em 1919, no Rio, tivera os primeiros desenhos publicados numa revista infantil. E, aos dezessete, em 1923, entrara para a Escola de Belas Artes, na avenida Rio Branco, onde estatelara os colegas com seu traço moderno e descobrira uma pungente vocação carbonária — contra os passadistas que dominavam a escola. Descobrira também Aubrey Beardsley, o ilustrador da peça “Salomé”, de Oscar Wilde.
Beardsley, morto pela tuberculose em 1898 aos 25 anos, teve um enxame de imitadores no mundo inteiro, mas Roberto, apesar das semelhanças, não foi um deles. De Beardsley ele herdou os céus pretos, que gastavam tinteiros de nanquim, e o gosto pela minúcia ultra-rebuscada, decididamente “art nouveau”. Mas a morbidez, o grotesco e o franco erotismo de suas figuras, também típicos de Beardsley, já pertenciam a Roberto. Gondin da Fonseca, que, além da família, foi quem melhor o conheceu, definiu-o como “marcado pelo sexo”.
Num dos poucos escritos que deixou, o próprio Roberto sugere isto. Tinha um time de pelada no Recife, o Quebra-canela Futebol Clube. Como dono da bola, expulsava os meninos que dissessem nomes feios. “No entanto, eu, somente eu, entendia a significação dos nomes feios”, escreveu. Se isto aconteceu no Recife, Roberto tinha menos de dez anos, porque foi com esta idade que veio para o Rio em 1916.
O sexo era uma obsessão de seus personagens: faunos com pés de cabra perseguindo ninfas de maiô, cangaceiros brutalizando prisioneiras, grupos dançando hipnoticamente nos bordéis, prostitutas solitárias ou em grupos. Mas a morte estava sempre em cena, representada pelos olhos vazados de seus homens e mulheres, os corpos com músculos transparentes, os namorados de luto fechado, os esqueletos em combate, as orgias entre cruzes. Henrique Pongetti disse que ele pintava “o inferno dos homens vivos”. Gondin sugere vagamente que Roberto teria experimentado ópio, outra droga em voga no Rio na segunda metade dos anos 20. (Beardsley usava ópio.) Mas Roberto sabia ser um profissional: quando lhe encomendavam telões para cenários de teatro de revista, ele trabalhava segundo as instruções. Os delírios, deixava para quando pintava por conta própria.
Roberto não se limitava a desenhar. Em agosto de 1927 criou uma revista semanal chamada “Jazz’ uma palavra então muito mais perto do seu sentido original — “zorra” — do que hoje, quando só serve para designar a música. A “Jazz” de Roberto, dirigida por Milton, tratava de tudo em suas 32 páginas, menos de música: propunha-se a “focalizar a vida moderna alucinante". Um típico número da revista podia ter um conto de Renato Viana; uma crônica de Orestes Barbosa; textículos de Mário Filho no estilo-pílula de Oswald de Andrade; um poema de Danton Jobim; uma página dupla sobre artes, com fotos de quadros contendo nu frontal; e reportagens sobre decoração ou moda, apenas para exibir a casa ou o vestido de alguma beldade, quando não a própria beldade.
“Jazz” era um luxo visual, principalmente as capas de Roberto ou Guevara, e sua única diferença de outras revistas “modernistas” da época era a de não se levar a sério. Poderia ter sido tão rica quanto a “Para todos...” de Álvaro Moreyra, mas Milton e Roberto não tinham nenhum talento comercial. Durou menos de dez números, e só serviu para que Roberto circulasse com desenvoltura nos círculos elegantes — nos quais já era admirado e amado do mesmo jeito.
Na Escola de Belas Artes, no entanto, o nome de Roberto Rodrigues injetava fel no coração dos professores. Numa época em que os artistas faziam qualquer negócio para participar do Salão Oficial da escola, Roberto era considerado louco pela ira panfletária com que atacava os jurados do Salão — ao vivo ou por escrito, acusando-os de toda espécie de golpes baixos para conservar a pintura brasileira à altura de suas mediocridades. Num artigo de 1929 em “Crítica”, chamou o Salão de “arapuca” e lamentou a falta de opções do artista brasileiro: “Ou expõe na Belas Artes ou expõe em casa, para tia Mariquinhas ver”. E continuava: “Ser membro do júri da exposição oficial é uma profissão leve, como a do gigolô. O sujeito pede dinheiro emprestado e não paga. Fuma charutos e janta na casa dos artistas. Tem até o direito de falar sobre arte e fazer declarações de amor às expositoras".
Segundo ele, os jurados eram mestres em trocar favores, aceitar suborno das lojas de material de pintura e exercer uma política mesquinha para conceder o cobiçado prêmio de viagem. Em outro artigo, “A Escola de Belas Artes nas mãos de cretinos”, Roberto chamou-os de “agiotas da arte nacional” e deu nomes: Eliseu Visconti, Edgar Parreiras, Helios Seelinger e outros, responsabilizando-os pelo boicote do Salão a “homens que orgulhariam qualquer país”, como Victor Brecheret, Cornélio Pena e Ismael Nery.
Com toda essa energia juvenil para a agitação, Roberto não foi expulso da Belas Artes. Ao contrário, chegou a ser até premiado com menções honrosas em dois salões. A escola o temia — ou talvez temesse ainda mais o seu pai, que revidaria em manchete de oito colunas se o tocassem.
Claro que, sendo odiado pelos diretores, Roberto era um herói entre os colegas — principalmente as moças, para as quais tinha sempre uma tarde livre no ateliê do largo do Machado. Era um entra-e-sai de melindrosas apaixonadas. E, neste departamento, não duvide, Roberto era um matador. Daí o espanto e os faniquitos que provocou na praça quando anunciou que ia se casar.
A escolhida era Elsa — El-ssa, como Roberto pronunciava —, um ano mais velha do que ele e neta de Fernando Mendes de Almeida, o homem que modernizara o “Jornal do Brasil” e construíra a sua nova sede na avenida Rio Branco, então o edifício mais alto da América Latina. Foi uma paixão de fita em série, que culminou com a ousadia de se amarem antes do casamento, o qual aconteceu em maio de 1927. Seu primeiro filho, Sérgio (o futuro arquiteto Sérgio Rodrigues, inventor da “cadeira mole”), nasceria em outubro. Roberto tinha 21 anos.
Os Mendes de Almeida eram ricos e esnobes e não gostavam dos Rodrigues, no que eram correspondidos. Mesmo assim, Elsa foi morar com Roberto no palacete da rua Joaquim Nabuco. Os dois construíram o seu ninho no porão, mas — ponha nisso uma característica de temperamento ou apenas uma circunstância — o ateliê de Roberto no largo do Machado continuou a todo pano. Sua nova condição de casado parecia torná-lo ainda mais magnético e nem as amigas mais sirigaitas de Elsa se continham. Uma delas suspirou: “Os olhos de Roberto me fazem cócegas”. O casamento não o tomara impermeável às paixões fora de casa, e pelo menos uma dessas foi febril: a que teve com Anita, irmã do poeta Augusto Frederico Schmidt.
Anita viu Roberto pela primeira vez aos dezessete anos, em fins de 1927, no Teatro Beira-Mar, na rua do Passeio. Estava no “foyer” com sua irmã Magdalena quando, segundo conta, sentiu um frio na espinha. Virou-se e viu o homem mais bonito que poderia existir — Roberto Rodrigues —, conversando a alguns metros com o jovem esteta Paschoal Carlos Magno. Ele também a viu e perguntou qualquer coisa a Paschoal. Anita tomou-o por um artista francês ou italiano e pensou em aproximar-se. Mas recuou. Quem era ela para interessar a semelhante deus? Os homens diziam que ela tinha “it” e Anita orgulhava-se de suas pernas e da franjinha à Eugênia Moreyra, mas odiava seu nariz — um nariz que inspirava seu perverso irmão Schmidt a recitar-lhe “Cyrano de Bergerac” todos os dias. Se pelo menos fosse linda como Magdalena. E então Paschoal e Roberto caminharam na sua direção.
“Anita, este é Roberto Rodrigues”, disse Paschoal. “Ele gostaria de conhecê-la.”
Anita sentiu uma súbita falta de ar. Roberto ignorou Magdalena como se esta fosse de vidro e concentrou-se nela. Estendeu-lhe a mão longa, fina e muito forte.
Disse baixinho:
“Como vai, A-ni-ta?”
Observando-o a um palmo de distância, ela achou que ele tinha “mel nos olhos”. Conversaram por alguns minutos: ela falou de teatro, ele de pintura e cousa e lousa, e ela teve um delicado ímpeto de miar. Ficaram de se ver. Quando Roberto afastou-se com Paschoal, Anita reparou em seu passo quase marcial, como se planasse em vez de andar.
Começaram a se encontrar, embora ele fosse casado e tivesse acabado de ser pai. Os idílios eram na Quinta da Boa Vista ou no ateliê de Roberto. Ela insistia para que Roberto a pintasse nua, mas ele sempre se recusou. Para sua surpresa, viu nele um puritanismo que nunca esperara encontrar num homem — e muito menos num homem pelo qual (ela já percebera) todas as mulheres ficavam rolando os olhinhos. Durante um ano, Anita nunca lhe pediu que se separasse de Elsa, e Roberto nunca lhe disse que faria isto. Até que um dia, em 1928, ele lhe comunicou que Elsa esperava outro filho. Anita não suportou o golpe. Fez uma cena e terminaram.
Para se vingar, ficou logo noiva de um homem que sempre a quisera: o jornalista e compositor popular Ary Kerner, já famoso como autor da embolada “Trepa no coqueiro (gip-gip, nheco-nheco)”. Anita não era louca por Ary Kerner, mas, diante de Roberto, nunca seria louca por ninguém. Resolveu apostar. Marcou o casamento com Ary Kerner para dali a quatro meses e ficou esperando que Roberto viesse salvá-la daquele ato insensato. Mas ele guardou um frio silêncio. Na véspera do casamento, o próprio Ary Kerner forçou-a a telefonar para Roberto. Queria ter certeza, não se sabe do quê. Anita ligou. Foi uma cartada arriscada de seu noivo. Se Roberto dissesse qualquer coisa — qualquer coisa — que ela pudesse interpretar como um sinal de que iria separar-se de Elsa para ficar com ela, acabaria com aquele casamento ali mesmo e mandaria o outro passear. Não gostava mesmo de Ary Kerner. E, além disto, ele não sabia uma nota de música.
Mas Roberto não deu esse sinal. Ao contrário, descontrolou-se e disse:
“Nin-guém pode tocar um dedo em você! Nin-guém tem esse direito! Você é mi-nha!”
Foi esta frase que o perdeu. Anita sentiu que ele a via apenas como uma coisa, uma propriedade. Desligou e casou-se no dia seguinte.
Ficaram um ano sem se ver ou se falar. À distância, Anita soube que Elsa tivera uma filha de Roberto, Maria Teresa. Mas ela, Anita, não estava sendo feliz para sempre em seu casamento. Na noite de Natal de 1929, resolveu ligar para “Crítica” e chamar Roberto. Ele veio ao telefone. Anita disse que não conseguia esquecê-lo e que ia separar-se de Ary Kerner. Os ciúmes do marido tornavam sua vida um suplício. Roberto apenas ouviu. Combinaram encontrar-se no ano-bom. Ele agora tinha de desligar. Segundo disse a Anita, uma pessoa o estava chamando na redação — uma mulher.
Anita está convencida de que, pelo dia e hora do telefonema, essa mulher era a futura assassina de Roberto.
Pelas contas de Mário Rodrigues, “Crítica” era um sucesso ainda maior que “A Manhã”. Como seu ex-ídolo Edmundo Bittencourt, ele também se habituara a catar dinheiro nos bolsos das calças para gratificar um repórter ou ilustrador que o tivesse feito sorrir. Fez isto certa vez com o jovem Antônio Nássara, auxiliar de Guevara na complicada diagramação do jornal. Guevara pedira a Nássara uma caricatura de Epitácio Pessoa e ele produzira um Epitácio todo enfeitado de colares. Mário Rodrigues viu o desenho, achou graça e mandou chamar o autor. Arrancou do bolso um rolo de notas e deu a maior para Nássara, sem olhar. Era uma nota de duzentos mil réis, quase do tamanho de um lençol — três vezes o seu salário.
Mário, que nunca temeu o talento alheio, tinha um especial xodó pelos ilustradores e caricaturistas que contratava. Em “A Manhã”, contara com Fritz (futuro autor da estátua do pequeno jornaleiro, na esquina de rua Miguel Couto com avenida Rio Branco), Max Yantok, Álvarus e, uma ou duas vezes, Di Cavalcanti. Nos últimos meses de “A Manhã”, passara a ter também Roberto, desde que este desistira de “Jazz”. Mas suas aquisições mais importantes tinham sido Guevara e Figueroa. Os dois foram com ele para “Crítica” e, além de revolucionar o conceito de caricatura, transformaram a própria feição dos jornais brasileiros.
Guevara, nascido no Paraguai em 1904, viera para o Rio em 1923 via Buenos Aires. Ao chegar fizera biscates como ilustrador em diversos jornais, mas só poderia aplicar suas idéias se o patrão fosse corajoso — ou louco —o suficiente para dar-lhe carta branca. Encontrou esse patrão em Mário Rodrigues. Não que suas idéias tornassem o jornal incompreensível. Ao contrário. O problema é que elas custavam tempo e dinheiro. Guevara gostava, por exemplo, de entrelaçar a principal ilustração da primeira página com o logotipo do jornal. Para isso provas e mais provas tinham de ser tiradas na prensa manual e montadas artesanalmente. Não satisfeito, mandava compor a matéria de modo a que ela recorresse em volta da ilustração, penetrando nas mínimas reentrâncias. Hoje isto é lugar-comum, mas, então, era absoluta novidade. Não admira que a primeira página de “Crítica” levasse horas para ficar pronta.
Acontece que Guevara queria fazer essa mesma ourivesaria no resto do jornal. A página de esportes de “Crítica”, dirigida por Mário Filho, era um espetáculo. Numa época em que os jornais dedicavam uma ou duas míseras colunas ao futebol e em que tinham o maior dengo pelas regatas. Mário Filho resolveu investir nele. Guevara deu-lhe a infra-estrutura gráfica. Acabou com as fotos dos jogadores de temo e gravata, como se estivessem posando para o lambe-lambe. Passou a mostrá-los em ação, numa cena da partida, com as camisas e casquetes de seus clubes. Os doses eram ampliados até o tamanho natural — podia-se contar cada gota do suor que haviam derramado pelo time. E tudo isto com os textos recorridos, as manchetes explosivas e os pontos de exclamação. O futebol, que ainda era amador, passou a vender jornais e transformou os atletas dos outros esportes em potências de segunda classe.
A única outra definição para Guevara, além de gênio gráfico, era a de dândi. Gastava o seu salário em gomalina e ternos e levava para todo lado, na coleira, um cachorro estilo lulu. Bem o oposto do esmulambado Figueroa, mexicano de Guadalajara, nascido em 1900 e que jurava ter sido tenente de Pancho Vila aos quinze anos. Figueroa chegara ao Rio em 1922 sem conhecer ninguém e, para ganhar a vida, fora tocar violino nos cabarés do Mangue. Alguém o descobriu como ilustrador e Mário Rodrigues adotou-o em seguida.
Grande desenhista, mas também um gênio trágico. Alcoólatra terminal, Figueroa ia para a redação descalço e bêbado. Saía à rua, brigava com uma multidão, sobrevivia à surra e, espontaneamente, internava-se no Hospital Psiquiátrico da Cruz Vermelha a fim de ser enxugado. Mário Rodrigues ouvia suas desculpas, punha uma rolha no assunto e o recebia de volta. “Crítica” não podia passar sem ele. Mas numa dessas brigas, em 1930, Figueroa enfrentou a polícia na Galeria Cruzeiro, foi muito machucado e levado preso assim mesmo. O ferimento infeccionou na cadeia e, poucos dias depois, eles o soltaram para morrer. Quando isto aconteceu, Roberto e Mário Rodrigues, seus amigos, não puderam acompanhá-lo ao Cemitério do Caju. Já estavam no São João Batista.
Poucos meses antes, a tragédia que arrebataria os Rodrigues galopara rumo à redação de “Crítica”.
Duas editorias brigavam pelo poder em “Crítica” no final de 1929: a de política e a de polícia. Um confronto desses seria impensável em qualquer grande jornal moderno — embora, no Brasil de hoje, os dois assuntos quase se confundam. A luta em “Crítica” era pela primeira página, um tradicional reduto da política, mas que a seção de polícia tentava agora ocupar. Carlos Leite era o responsável pela polícia e, se fosse só isto, teria tanta força quanto o responsável pelo turfe ou pelos obituários. Mas era também o secretário do jornal, um cargo então equivalente ao de chefe da redação. Acima dele estava Bezerra de Freitas, que, além de editor de política, era diretor do jornal inteiro, respondendo diretamente a Mário Rodrigues.
Leite tinha um argumento forte para tentar impor suas matérias de crimes na primeira página. A política nacional estava irremediavelmente rachada. De um lado, o governo do presidente Washington Luís, cada vez mais impopular. De outro, os homens da Aliança Liberal, recém-formada pelos governadores de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba para se opor à candidatura oficial do paulista Júlio Prestes. E “Crítica” estava apostando no cavalo errado, ao apoiar de forma tão canina Washington Luís e atacar esses governadores — Antônio Carlos, Getúlio Vargas e João Pessoa, homens de prestígio em alta. O gaúcho Getúlio, por exemplo, era popular até em Minas, onde o chamavam de “o mineiro com botas”.
Leite podia não saber, mas “Crítica” não estava fazendo aquilo pelos olhos claros e pelo cavanhaque em ponta de Washington Luís. Na verdade, Mário Rodrigues vinha recebendo uma farta verba do governo (através, naturalmente, do vice-presidente Melo Viana) para apoiar Júlio Prestes e fazer diariamente a caveira do seu adversário Getúlio Vargas. O curioso é que, apenas um ano antes, ainda em “A Manhã”, Mário Rodrigues lançara a candidatura de Getúlio à presidência — isto quando Vargas, ex-ministro da Fazenda de Washington Luís e já governador do Rio Grande, ainda parecia fiel ao presidente. (Era o único político com permissão para fumar — e, o que é pior, charuto — na presença de Washington Luís.) Mas Getúlio se deixara convencer pelo mineiro Antônio Carlos a ir com ele para a oposição e, desde então, morrera para Mário Rodrigues — porque, para Mário, os amigos de Antônio Carlos eram inimigos de Melo Viana. E tudo porque, com eles no poder, Melo Viana voltaria a valer zero, mesmo em Minas.
Mas Carlos Leite não desistia: quem estava vendendo “Crítica” era a oitava página, não a primeira. Todo mundo se interessava pelos crimes e escândalos. Era como ler um folhetim. E havia ainda as histórias que “Crítica”, não que inventasse, mas exagerava e tornava o assunto da cidade. Uma delas tinha sido a do “profeta da Gávea”, um louco que se julgava Jesus Cristo e que arrastara multidões pela Zona Sul fazendo “curas”. Durante vários dias o “profeta” fora quase exclusivo de “Crítica”, porque só os seus repórteres sabiam onde ele se escondia. Quando a polícia o prendeu e raspou-lhe a cabeça e a barba, a história morreu. Mas, imediatamente, apareceu a “bruxa de Itinga”, outro sucesso que durou semanas. Nada se comparou, é claro, ao caso de Febrônio Índio do Brasil, o tarado que seviciara e matara dois meninos em 1927. Febrônio foi preso e trancafiado no Manicômio Judiciário. Poucos meses depois, conseguiu fugir e assombrou a cidade durante dois dias. As mães trancaram os filhos em casa. Acabou sendo recapturado na Floresta da Tijuca, mas, desde então, a ameaça materna para os garotos que vivessem na rua passara a ser:
“Olha que o Febrônio te pega!”.
O caso Febrônio fora um sucesso de “A Manhã” em 1927. Poderiam ter outro igual em “Crítica”. Nem que Carlos Leite, especialista em jornalismo de escândalos, tivesse que fabricar um.
Leite tinha um aliado na sua luta pela primeira página: Roberto Rodrigues. Roberto não apenas ilustrava a matéria sobre o principal crime do dia, mas também ajudava a pautá-la, apurá-la e, em alguns casos, a redigi-la. Seu gosto pelo assunto era sincero: “Tanto é belo um idílio romanesco como um crime bárbaro”, escreveu certa vez. Em outubro de 1929, um crime mais do que bárbaro chegara em grande estilo à primeira página do jornal: o degolamento da menina Florinda, de catorze anos, pelo empresário espanhol radicado no Rio, Antonio Martinez. A ilustração de Roberto mostrava o assassino segurando a cabeça da vítima, separada do corpo, com o sangue escorrendo em catadupas. Não era uma delícia de se ver para quem estivesse lendo o jornal entre as torradas e geléias do café da manhã. Mas, pensando bem, esse tipo de contundência não era muito diferente da que a primeira página de “Crítica” exibia quando tratava de política.
Mário Rodrigues não pensava exatamente assim. Era contra a orientação da oitava página. Achava que ela estava indo longe demais na exploração do horror — e, dali para que alguns redatores partissem para a chantagem, era um passo. Isso permite deduzir que não aprovaria o uso freqüente da primeira página para aquele tipo de material. “Crítica” era um jornal político. Júlio Prestes, governador de São Paulo e futuro sucessor de Washington Luís, fizera-lhe uma oferta para comprá-lo. Mário não quis vender porque, quando Júlio Prestes fosse presidente a partir de 1930 (e Melo Viana voltasse a ser governador de Minas), seu jornal continuaria na situação. Para cobrir os crimes, Mário Rodrigues tinha outros planos: o lançamento em janeiro de um novo jornal — um vespertino que se chamaria “Última Hora”. E, neste, sim, poderiam pintar o diabo.
No dia 25 de dezembro de 1929, uma segunda-feira, Mário Rodrigues não foi trabalhar. Passou o dia dormindo, lendo e jogando damas com sua filha Irene, de nove anos. A vida lhe sorria. Algumas semanas antes, no dia 4 de outubro, dera uma festa de comemoração de suas bodas de prata com Maria Esther e conseguira juntar toda a família no palacete para uma foto. Apenas dois de seus filhos já não moravam com eles: Roberto, que se mudara para uma casa no Leme com Elsa e os dois filhos; e Mário Filho, que se casara com Célia e fora com ela para a rua Barata Ribeiro, onde nascera seu filho Mário Júlio. E todos estavam ali naquela foto: sua mulher, filhos, noras, netos e alguns amigos. Mário Rodrigues tinha agora 44 anos, mas ainda não encerrara sua própria prole: Maria Esther, aos 41, estava no oitavo mês de gravidez daquele que seria o seu 14º e último filho: Dulcinha, de cabelo preto. Ela nasceria no dia 15 de novembro e, de todos os filhos de Mário Rodrigues, seria a única que nunca conheceria o apogeu do pai.
Mário Rodrigues não se dera ao trabalho de ir ao jornal naquele 25 de dezembro de 1929. “Crítica” sairia fraca no dia seguinte porque, por ser Natal, nada estaria acontecendo no Catete ou na oposição. A primeira página teria de ser ocupada com algum fato da área da polícia.
E a polícia tinha uma matéria.
Naquela noite, por volta das sete, um repórter de “Crítica” ligou para a casa do conhecido casal Thibau na rua Eduardo Ramos, na Tijuca, e falou com dona Sylvia, mulher do doutor João Thibau Jr. O repórter disse que tinham uma matéria sobre o seu desquite e que queriam detalhes sobre o caso. Sylvia respondeu que não era nada, o desquite era amigável, não havia nada para contar. O repórter insistiu, acrescentando que havia graves acusações contra ela. Sylvia então dispôs-se a ir à redação de “Crítica”, na rua do Carmo, e pediu que a esperassem. O repórter desligou.
Sylvia saiu de casa, mas não foi diretamente para “Crítica”. Passou primeiro pela redação de “O Jornal”, na rua Rodrigo Silva, de que era colaboradora, e contou a história a seu amigo Figueiredo Pimentel II, secretário do jornal. Os dois desceram um andar do mesmo prédio e foram à redação do “Diário da Noite”, onde conferenciaram com o secretário do vespertino, Rubem Gil. Ambos os jornais pertenciam à cadeia dos “Diários Associados”, de Assis Chateaubriand, com quem Sylvia também se dava. Rubem Gill foi destacado para ir à redação de “Crítica” (a duzentos metros dos “Associados”) e bloquear a matéria. Voltou frustrado. Então Sylvia e Pimentel foram pessoalmente até lá. Falaram com Bezerra de Freitas, Carlos Leite, Rafael de Holanda e com o repórter sobre a inconveniência da matéria. Como se tentou sustentar depois, estes responderam que, àquela hora, pouco antes das nove, o jornal já estava fechado (ou seja, pronto para a oficina) e que não havia mais nada a fazer.
Foi provado posteriormente que Sylvia teria falado ainda com outra pessoa — a princípio não identificada —, a quem repetiu seus argumentos e pediu que não publicassem a matéria. A pessoa com quem Sylvia falou na redação (quase deserta àquela hora) não podia prometer-lhe nada, exceto que ela seria tratada com toda consideração. Teria dito também:
“Va-mos ver o que se pode fa-zer.”
Esta pessoa era o desenhista de “Crítica”, Roberto Rodrigues.
Irene foi levar o jornal para seu pai, como fazia todas as manhãs. Mário Rodrigues acordava tarde e lia “Crítica” na cama antes de descer para o café. De pijama, Mário Rodrigues abriu o jornal naquela manhã de 26 de dezembro de 1929 e leu a matéria da primeira página.
A manchete dizia: “ENTRA HOJE EM JUIZO NESTA CAPITAL UM RUMOROSO CASO DE DESQUITE”.
A submanchete: “HÁ UMA GRANDE CURIOSIDADE PÚBLICA EM CONHECER OS MOTIVOS DA SEPARAÇÃO DO CASAL THIBAU JR.”
E o “olho”: Seria o conhecido radiologista doutor João [sic] de Abreu o causador direto da dissolução do lar daquele seu ilustre colega?
Seguia-se a matéria:
Madame Sylvia Thibau é uma escritora moderna. Reivindicadora dos direitos da mulher no século presente. Ela colabora com brilho nas colunas de “O Jornal”, de “Fonfon”, “Seleta” e “A Gazeta” de S. Paulo.
O casal Thibau Ir. acaba de impetrar uma ação de desquite amigável.
Esposa de um médico conhecido, o doutor João Thibau Ir., desfruta certo conceito na sociedade carioca.
Esta a pessoa em torno de quem, como conseqüência de um pedido de divórcio, surgiram, nos últimos dias, os mais desencontrados comentários.
CRÍTICA, na ânsia de desvendar os mistérios de nossa sociedade, interessou-se pelo caso em que se achavam envolvidos, além de madame Thibau, seu marido e o doutor Manoel Abreu, clínico de nomeada em nossa capital.
E todos os depoimentos que nos foram prestados são comprometedores da honra da escritora, além de balançarem os méritos do grande radiologista doutor Manoel Abreu.
O casal Thibau que ora se desquita tem dois filhinhos e, até há pouco, residia à rua Eduardo Ramos, 18, na Tijuca.
O médico acusado de sedução e má aplicação do raio X tem consultório na avenida Rio Branco, 257, 3º.
Abaixo encontrarão os leitores os mais interessantes detalhes do caso, colhidos pela “caravana” de CRÍTICA.
UM DIVORCIO AMIGÁVEL
O doutor Thibau Ir. pediu o desquite a sua esposa. O motivo expresso no requerimento é o de incompatibilidade de gênios.
0 processo de desquite será acompanhado pelos advogados doutor Mário de Sá Freire, da parte do marido, e doutor Saty Nogueira, da parte da esposa.
Segundo os termos do desquite, cada um dos cônjuges fica com um dos filhos, enquanto o esposo fornecerá uma mesada a dona Sylvia, que passará a residir em casa já alugada pelo doutor Thibau Ir. na rua Afonso Pena.
UMA CONSOADA DE DESPEDIDA
A casa da rua Eduardo Ramos, 18, era ocupada pelo casal Thibau Ir. até que houve a ruptura que fez o marido abandoná-la. Anteontem, porém, houve um acordo. Os dois esposos reunir-se-iam para festejar o Natal com as crianças.
Foi o que se fez. O doutor Thibau Ir. e dona Sylvia promoveram uma consoada de despedida, enquanto na alma de ambos a nostalgia e o abstrato imperaram.
NAO OBSTANTE...
Ao mesmo tempo em que se divulgou a notícia do desquite do casal, uma curiosidade intensa dominou o espírito de todos sobre as verdadeiras razões da separação.
Pessoas que conhecem a família teciam os mais variados comentários sobre o fato. E foi nesse ambiente de curiosidade que a “caravana” de CRÍTICA penetrou, recebendo de fontes várias informações em torno de um escândalo que teria forçado a separação do casal.
O mais interessante é que tais informes convergem para um só ponto e todos se combinam numa coordenação expressiva.
Segundo pudemos apurar, madame Thibau teria sido seduzida pelo médico Manoel Abreu.
Depois de seduzida, maltratada e, o que é pior, em conseqüência de capricho do esculápio, exigentíssimo em matéria de plástica e clareza de epidermes.
O doutor Manoel A breu, apaixonado pelos imprevistos da ciência que professa, teria sido atraído indisfarçadamente por aquela criatura loura e cheia de encantos que, não obstante ser médico o seu esposo, era, circunstancialmente, sua cliente.
Algum tempo se teria passado sem que o idílio fosse além, mas, como nada há que se eternize e a fraqueza da matéria é fato comprovado pelos conselheiros Acácios de todas as épocas, teriam ambos sucumbido.
E assim se passariam os dias ou meses de uma ventura intérmina, se um simples capricho do doutor Manoel A breu não houvesse provocado a dissolução daquela felicidade.
Não há bem que sempre dure...
ESTÉTICA FISIOPLÁSTICA
A “caravana” de CRÍTICA não pode resistir à curiosidade em meio aos casos misteriosos.
Foi além nas diligências sobre o caso Thibau. Auscultou testemunhas. Ouviu o rumorejar dos linguarudos.
Pessoas que vêm acompanhando a vida de madame Thibau há algum tempo relataram-nos algumas particularidades. Particularidades quase que insondáveis, mas que, sem deixarem de ser pitorescas, corroboram coerentemente com os detalhes que conseguimos apurar.
Eis como historiaram essas pessoas o epílogo das relações de madame Thibau com o médico:
Depois de certo tempo em que o esculápio gozara de maior intimidade da esposa do colega, notou que aquela criatura tão deliciosa e sem o menor defeito a princípio tinha nas pernas expressões capilares pronunciadamente espessas.
E tentou induzi-la a despojar-se daqueles característicos que tisnavam, embora ao de leve, a sua pele marmórea e sensual. Madame a principio não concordara.
O amante, porém, astucioso e inteligente, voltara à carga. Bastaria, para o caso, uma leve aplicação de raio X.
DEPILATÓRIO CAUTERIZANTE
Foi das mais desastrosas a aplicação do raio X nas pernas de madame. A paciente caiu de cama, gravemente enferma. Tão furiosa ficou que pensou até em processar o amante.
Depois, surgiu o desquite. O marido teria descoberto a infidelidade.
MADAME SYLVIA THIBAU NA REDAÇÃO DE "CRÍTICA”
— Quem fala? É Vila 0198?
— Exatamente.
— Madame Sylvia Thibau?
— Sim, senhor.
— Quem fala aqui é a “caravana” de CRÍTICA. Madame poderia ter a gentileza de receber-nos para esclarecer os motivos determinantes de seu desquite?
— Como?... Desquite?... Ah! Mas quem lhe informou?
— Soubemos por várias fontes, madame.
— Mas...
— Seria melhor que nos recebesse, madame. Como sabe, é um caso muito melindroso, e sobre o qual nada podemos publicar sem ouvir V. Exa.
— Mas não posso recebê-los agora. Eu irei à redação.
— Tanto melhor, se V. Exa. quiser dar-se a esse trabalho.
Mais tarde recebemos a visita não de madame, mas de um portador seu, um moço que nos disse:
— Madame é inocente. Tudo isso é mentira.
— Mas mentira o quê?
— O que foram informados.
— Não há então uma ação de desquite?
— Há, sim.
— E então?
— São as outras infâmias que estão assacando contra ela. Coitada!...
— Está bem, diga-lhe que estamos à sua espera.
— Está bem.
Algum tempo depois, subia as nossas escadarias, acompanhada de um nosso colega de imprensa, madame Sylvia Thibau.
Sem poder ocultar a sua tensão nervosa, a encantadora senhora, sem nos estender a mão, foi-nos dizendo:
— Um jornal não pode absolutamente publicar as particularidades de um casal.
— Mas, exma., a ação de desquite é uma coisa pública...
— Não me refiro a isso.
— Então, a quê?
— As outras coisas.
— Há, então, alguma coisa mais?
— Não, não há. Tudo são calúnias.
— Muito bem. Queremos saber apenas o que há de verdade.
— Deus me livre! Tinha graça que eu viesse à redação de CRÍTICA prestar declarações. O meu desquite é o que há de mais amigável. Eu e o meu marido, por incompatibilidade de gênios, resolvemos separar-nos. Eu ficarei com uma das crianças e ele com a outra. Receberei uma mesada e ele até me alugou a casa da rua Afonso Pena onde vou morar.
— Mas V. Exa. ainda se acha na rua Eduardo .......
— Sim, enquanto não sai a sentença. Ontem meu marido esteve em minha casa participando do Natal das crianças.
— Então V. Exa. desmente que tenha havido qualquer relação entre V. Exa. e o doutor Abreu?
— Categoricamente.
— Entretanto... se nos permite a inconveniência, V. Exa. acha-se ainda com ataduras nas pernas...
— Não contesto. Houve realmente um curativo malfeito pelo doutor A breu. Eu até pensei em responsabilizá-lo pelo mal que me fez guardar o leito. Mas isto não tem nada a ver com o seu jornal...
— É que pretendemos publicar uma coisa certa...
— Por mim os senhores nada publicarão. Eu nada direi. E os senhores serão responsáveis se alguma desgraça acontecer.
— Mas, se V. Exa. tem a consciência tranqüila...
Madame estava nervosa. Assediada pela “caravana”, ela mui depressa compreendeu que finalmente teria que quebrar a sua obstinação em calar.
Por isso tratou de se retirar apelando para a nossa discrição.
O jornalista, porém, não pode ser discreto em todos os casos.
Principalmente um jornalista da “caravana” de CRÍTICA.
Ilustrando a matéria, um desenho de Roberto — uma mulher sentada numa maca e um médico examinando suas pernas.
“Eles enlouqueceram”, disse Mário Rodrigues, mais para si mesmo do que para Irene, que brincava por ali e ouviu sem entender. Mário Rodrigues dobrou o jornal. Achou a matéria infeliz, mas ainda não fazia a mínima idéia do que o esperava.
Seu mundo acabara exatamente ali.
Sylvia Seraphim, ex-Thibau, acabara de ler a mesma matéria em “Crítica”. Foi dito depois que chorou de revolta, falou em se matar e que seus pais a acudiram. O certo é que, por volta de duas da tarde, vestiu-se, deixou os filhos com eles e saiu sozinha de táxi para o Centro. Entrou na loja de armas “A espingarda mineira” e comprou um minúsculo revólver “Gallant”, niquelado, com balas calibre .22. O revólver cabia na palma de sua mão. Enfiou-o na bolsa preta. Um pouco depois das três, subiu à redação de “Crítica”, no 10 andar, como havia feito na véspera. Estava com um vestido escuro, estampado de ramagens amarelas, e chapéu também escuro. Foi atendida na recepção pelo motorista de Mário Rodrigues, Sebastião Gomes. Perguntou:
“Doutor Mário Rodrigues está?”
Não, ainda não tinha chegado, disse Sebastião.
“E Mário Rodrigues Filho?” Também não.
Sylvia preferiu conferir.
Entrou na redação quase vazia. Um pequeno grupo conversava ao redor de uma mesa: Roberto, Nelson, o redator Carlos Cavalcanti, a auxiliar de redação Juracy Drummond e o investigador Garcia de Almeida. Também circulavam por ali os contínuos Quintino e Severiano. Roberto tinha ido ao jornal apenas de passagem — sua filha Maria Teresa fazia um ano aquele dia e iriam comemorar em casa.
Sylvia espiou em volta e viu no fundo da redação uma porta que só poderia ser a do diretor. Caminhou entre as mesas, sendo devorada com os olhos pelo grupo. Natural: era uma mulher excepcionalmente atraente, elegante e de 27 anos. Além disso era loura, cheia de corpo, cabelo cortado como o de Louise Brooks no filme “A caixa de Pandora”. Nelson sentiu o seu perfume quando ela passou por eles. Sylvia foi até o fundo, olhou sobre a porta de vaivém e certificou-se de que a sala do diretor estava vazia. Voltou para o centro da redação e dirigiu-se a Roberto. Falou com voz suave:
“Pode me dar dois minutos?”
Roberto, sentado sobre a mesa, fez sinal a Nelson para desocupar a cadeira. Sylvia disse:
“Em particular, por favor.”
Roberto levantou-se, fez a volta na mesa e acompanhou Sylvia, que caminhou em direção à porta de vaivém. Os dois entraram. A partir do momento em que Sylvia e Roberto desapareceram pela porta, foi como se tivessem deixado de existir. Nelson, por exemplo, tomou o rumo das escadas. Ia ao café na esquina de rua do Carmo com Sete de Setembro. Os outros voltaram a atenção para os seus próprios umbigos. Apenas um dos presentes, a auxiliar Juracy, disse ter ouvido a voz da mulher:
“Eu não lhe disse que não publicasse?”
Em seguida, todos ouviram: sons ininteligíveis, um tiro e um grito.
Tudo acontecera em menos de um minuto. Sylvia e Roberto haviam entrado na sala. Ele lhe ofereceu uma cadeira (diante da mesa de Mário Rodrigues) e ficou de pé à sua frente, com as duas mãos na cintura, como costumava fazer. Trocaram umas poucas palavras. Ela abriu a bolsa. Talvez fosse tirar um lenço. Tirou o revólver. À altura de seus olhos, a menos de meio metro, o abdômen de Roberto era um alvo fácil, ideal. Só disparou um tiro. Roberto gritou. Já atingido, estendeu as duas mãos em direção ao revólver. Crispou a mão de Sylvia e caiu de joelhos, agarrado a ela.
Nelson ouviu o tiro e o grito quando estava no fim da escada. Voltou correndo, de quatro em quatro degraus. Viu o investigador Garcia sacar a própria arma do bolso interno do paletó e atravessar a porta de vaivém, seguido pelos outros. Chegaram juntos à sala no momento em que Roberto largava a mão de Sylvia e acabava de tombar no assoalho ensangüentado. Com um jeito ameaçador, Garcia desarmou Sylvia. Ela não reagiu. Disse apenas:
“Podem me largar. Eu não faço mais nada. Queria matar o doutor Mário Rodrigues ou o seu filho. Estou satisfeita.”
Nelson viu e ouviu aquilo tudo. Em seus dezessete anos e quatro meses, era a primeira cena de violência brutal que presenciava. Mais tarde ele diria que não teve, naquele momento, nenhum ódio pela assassina. Só queria ajudar Roberto, que gemia alto, fundo e grosso, a intervalos curtos. Mas Roberto não queria ajuda, não queria que o movessem. Os médicos diriam depois que a bala perfurara o seu estômago, varando a espinha e encravando-se na medula. Qualquer movimento provocava dor desesperadora.
A Assistência chegou em instantes. Roberto foi colocado na maca com a ajuda do contínuo Quintino e levado para o Hospital do Pronto Socorro (atual Sousa Aguiar), na praça da República. Gritava muito. Quase ao mesmo tempo, dois soldados também atenderam ao chamado. Anotaram nomes e endereços das testemunhas, e conduziram Sylvia para a delegacia do 1º Distrito, na praça Mauá. Pouco depois os homens de Chateaubriand estavam no distrito para socorrê-la. No fim da tarde, transferiram-na para a Casa de Detenção, na rua Frei Caneca, já aos cuidados do advogado Clóvis Dunshee de Abranches.
O atentado contra Roberto não foi a principal manchete dos vespertinos cariocas aquele dia — e nem mesmo de “Crítica” no dia seguinte. Cinco minutos antes de Roberto ser baleado, outro crime acontecera no Rio e com conseqüências mais imediatas: a morte a tiros e em plena Câmara do deputado pernambucano Sousa Filho, governista. O assassino fora o seu já idoso colega, o gaúcho Simões Lopes, da oposição. A discussão começara às bengaladas. Sousa Filho puxou um punhal, Simões Lopes um revólver. Foram dois tiros fatais. Sousa Filho morreu no ato, sentado na primeira fila das poltronas. Era o resultado do clima espantosamente belicoso da política daquela época, com Washington Luís tentando reprimir os parlamentares da Aliança Liberal e estes aumentando o volume de seus ataques — um clima que teria de resultar na revolução de outubro do ano seguinte.
A morte de Sousa Filho é que foi a manchete de todos os jornais. O tiro em Roberto mereceu registros, sem comentários. A própria “Crítica” seguiu essa linha e tanto a sua manchete — “ASSASSINOS!” — quanto o editorial de Mário Rodrigues, não se sabe como, tratavam apenas do deputado.
Era o correto a fazer: Sousa Filho tinha morrido, Roberto não. E nem se sabia se ia morrer. Quando “Crítica” acabasse de ser rodada aquela noite, Roberto já teria sido operado e tudo estaria bem. O único concorrente que tratou do assunto à sua maneira, na tarde do próprio tiro, foi o “Diário da Noite”. Os jornais daquele tempo mantinham placares na porta de seus prédios, nos quais afixavam manchetes de última hora. A manchete referente a Roberto, que o vespertino de Chateaubriand exibiu em seu placar, já era um sinal do que estava para vir: “JUSTO ATENTADO!”. E seguia-se um relato que já dava Roberto como morto.
Mário Rodrigues ficou sabendo do tiro em Roberto por acaso, e quase na mesma hora. Estava almoçando no Leblon com seu gerente financeiro Faria Neves Sobrinho e este ligou para o jornal por qualquer motivo. Foi quando lhe contaram. Mesmo sem os túneis que depois cortariam a cidade, e por uma avenida Atlântica de mão dupla e pista única, Mário Rodrigues e Faria Neves chegaram logo à redação, no Centro. Roberto já estava no Pronto Socorro, onde seria operado pelo doutor Adail Figueiredo. Mas, pelas condições da medicina no Rio de 1929, suas chances eram mínimas.
Não se tratava apenas de extrair a bala, mas de impedir que, nas 48 horas seguintes, os germes, rompido o peritônio, penetrassem na sua corrente sanguínea e se espalhassem por todo o organismo. Não impediram. Roberto teve momentos de lucidez entre os delírios de febre e sabia que ia morrer. Disse isto para sua mãe. Foram sessenta horas de vigília. Os Rodrigues alugaram um quarto contíguo ao de Roberto no hospital para fazer-lhe companhia. A segunda operação, pelo doutor Castro Araújo na noite do dia 28, apenas confirmou as piores suspeitas. Os abcessos já tinham se alastrado.
Às duas da manhã do dia 29, Roberto morreu da falência múltipla provocada pela peritonite. Poucos minutos antes fora batizado “in extremis” por sua mulher Elsa, segundo o rito católico. A última pessoa que pedira para ver fora sua irmã Dulcinha, de um mês e meio.
O velório foi no saguão de “Crítica”. Centenas de pessoas deixaram seus nomes no livro de assinaturas, entre as quais Aracy Cortes, a estrela máxima do teatro de revista, e o ator Raul Roulien, amigo de noitadas de Mário Rodrigues. O vice-presidente Melo Viana, lealíssimo, iria segurar uma das alças do caixão. O jornal teve de ser rodado nas oficinas de “A Noite” porque era impossível trabalhar com aquela multidão. A Escola de Belas Artes compareceu em peso, assim como outros artistas, escritores e muitas mulheres. Uma dessas mulheres tinha sido a primeira a chegar, antes mesmo da família. Nelson a descreveria depois como alguém de luto fechado e de quem mal podia ver-se o rosto. Trouxera uma braçada de dálias que depositara junto ao caixão. Beijara Roberto chorando e se afastara para um canto, onde se deixara ficar, digna e silenciosa. Ninguém a conhecia — até que um repórter a identificou: era uma poderosa cafetina da Lapa.
Talvez por imaginar que passaria por tais constrangimentos, Elsa, a viúva de Roberto, não foi ao velório, nem ao enterro. Temia encontrar outras “viúvas”. (Anita também não foi, e pelo mesmo motivo.) Mas, se fossem, ninguém as notaria, porque todos ali só tinham olhos para Mário Rodrigues. Atropelava conhecidos e desconhecidos como se estivesse bêbado. Agarrava-os pelas lapelas e dizia chorando: “Esta bala era para mim!”. Faria Neves quis desarmá-lo, para tentar prevenir uma besteira. Mário Rodrigues reagiu agressivamente. Todos ali tinham motivos para temer a sua fúria impotente.
De cinco em cinco minutos ia ao caixão de Roberto e gritava para este, como se Roberto, de algodão nas narinas, pudesse ouvi-lo:
“Eu te vingo! Eu te vingo!”
O repórter de “Crítica” Eratóstenes Frazão seria no futuro um dos nomes mais populares do carnaval carioca. Entre dezenas de sucessos, teria a seu crédito duas deliciosas marchinhas, “Cordão dos puxa-sacos” (em parceria com Roberto Martins, em 1937) e “Florisbela” (com Nássara, em 1939), e um grande samba, “Fica doido varrido” (com Benedito Lacerda, em 1945), cujo refrão dizia: “Fica doido varrido quem quer/ Se meter a entender a mulher”.
Em 1929, no entanto, ele fora o autor (sem crédito) da velhaca matéria sobre Sylvia Seraphim que dera origem à tragédia.
Não era sua culpa, claro. Mesmo que tivesse sido Frazão a levantar o assunto, outros teriam de ser responsabilizados na sua frente: Carlos Leite, editor de polícia e secretário; Bezerra de Freitas, diretor-substituto; Mário Rodrigues, claro, que permitira que “Crítica” se tornasse, como a chamava Gilberto Amado, “um foliculário de escândalos”; e, ironicamente, o próprio Roberto Rodrigues, que influía na editoria, embora não tenha tido nada com aquela matéria exceto ilustrá-la. Roberto nem ao menos conhecia Sylvia. Sua mulher Elsa, sim, é que fora sua contemporânea no colégio Sacré-Coeur de Marie, na Tijuca, embora de turmas diferentes — Sylvia era três anos mais velha. O único Rodrigues que se lembrava de tê-la visto antes da tragédia era Milton, em alguma roda literária.
Para “Crítica”, essa roda literária era outra. O jornal usaria o fato de Sylvia freqüentar políticos, jornalistas, escritores e de colaborar em diversas publicações (com os pseudônimos de “Cendrillon” e “Petite source”) para tentar caracterizá-la como prostituta. Um dos melhores amigos de Sylvia, por exemplo, era o jornalista Figueiredo Pimentel II, secretário de “O Jornal” e filho do famoso Figueiredo Pimentel que lançara a frase “O Rio civiliza-se”, em sua coluna “Binóculo” da “Gazeta de Notícias”, no começo do século. O novo Pimentel era reconhecidamente um dos galinhas mais vorazes do Rio de Janeiro, incapaz de deixar uma presa impune e um dos últimos homens a quem um marido deveria apresentar a esposa. E fora este Pimentel que escoltara Sylvia na ida à redação de “Crítica”, na véspera do crime.
A partir daí, iniciou-se em “Crítica” uma das campanhas mais duras que um jornal já desencadeou contra uma pessoa isolada, em toda a história da imprensa brasileira. Durante 267 dias o jornal de Mário Rodrigues publicou um quadrado onde se via a foto de Sylvia — proibitivamente linda e sorridente, com pérolas lhe escorrendo pelo colo —, o titulo “JUSTIÇA! JUSTIÇA! MERETRIZ ASSASSINA!” e, dia após dia, sempre o mesmo texto:
“Faz hoje [tantos] dias que Sylvia Seraphim, ex-Thibau, esposa adúltera, mãe infame, cujos vícios inspiraram uma escandalosa ação de divórcio, para maior liberdade da cadela de rua, feriu de morte Roberto Rodrigues, artista de 23 anos de idade, chefe de família, profundamente honesto, com o fulgor de um grande talento e de virtudes inexcedíveis. A meretriz assassina será castigada.”
A campanha pela condenação de Sylvia começou no exato momento em que Roberto foi sepultado e — até o dia em que “Crítica” deixou subitamente de existir, dez meses depois — não se passou um dia sem que o jornal publicasse uma noticia a seu respeito, tratando-a pelos mais ricos sinônimos de prostituta: fua, gandaia, paneleira, hetaira, galdéria, cróia, barregã, rulara, sentina, ribombeira, pederasta, ribalda, pataqueira, sifilítica, loureira, marafona, cachorra, porca, biraia, Frinéia de sarjeta, comborça dos lupanares, esgoto da “ala fresca”, literata do Mangue e cadela das pernas felpudas. (Isto numa época em que os jornais só se referiam a uma mulher, desde que casada, como “senhora de pulchras virtudes”.) Descobriram que não era loura, mas oxigenada, e por pouco não a compararam a Febrônio Índio do Brasil.
Por influência ou não de Pimentel II, os jornais de Chateaubriand tomaram a defesa de Sylvia. Ela continuou a escrever suas colunas da própria Casa de Detenção e uma delas, “O direito de matar”, publicada na “Gazeta” de São Paulo, causou sensação. Outra crônica, certamente escrita antes do crime, saiu numa revista e explodiu na redação de “Crítica”, onde foi tomada como escárnio. Seu título era “O papel da mulher na economia do lar”. O próprio Chateaubriand levou as sobras da campanha contra Sylvia, passando a ser tratado em “Crítica” como “pirata libidinoso”.
Poucas semanas depois, Sylvia alegou uma crise de apendicite e conseguiu uma autorização do juiz Magarinos Torres, presidente do Tribunal do Júri, para ser removida para a Casa de Saúde Santo Antônio, na rua do Riachuelo, a fim de ser operada. Como a cirurgia não se produzisse, um repórter de “Crítica” — Fernando Costa, especialista em disfarces — inventou uma doença inescrutável e se internou também, para espioná-la. Segundo seus relatórios, que “Crítica” publicou com o maior alarde, Sylvia alimentava-se muito bem, passava o dia cantando e tinha permissão para sair da casa de saúde à noite. Podia ser vista flanando pela madrugada na companhia de homens, entre os quais os jornalistas de Assis Chateaubriand. Infelizmente faltaram fotos que enriquecessem as reportagens.
Na verdade, a cirurgia (e não de apendicite, mas, pelo visto, de varizes) só se realizou a poucos dias do julgamento, em agosto de 1930, com “Crítica” trombeteando há meses que era tudo falso e não passava de um teatro para comover o júri. Mas, já então, depois da tremenda campanha contra ela, quase todos os jornais e a maior parte da opinião pública tinham ficado a favor de Sylvia Seraphim.
Ninguém conseguirá penetrar no teatro de Nelson Rodrigues sem entender a tragédia provocada pela morte de Roberto. No mesmo dia do enterro, toda a família pôs luto. Os homens ainda podiam sair à rua de terno escuro ou com o fumo na lapela, mas suas irmãs se cobriram de preto da cabeça aos pés. Milton, o irmão mais velho, ia para o porão do palacete, antigo território de Roberto, apagava as luzes e ficava horas no escuro — à espera de um milagre que o fizesse vê-lo ou ouvi-lo. Nelson apenas chorava. Joffre, de catorze anos, apanhou um revólver de Mário Rodrigues e passou a andar armado pela cidade à noite. Sabia que Sylvia tivera sua prisão relaxada. Se a encontrasse, a mataria.
A mulher de Roberto, Elsa, que ficara grávida uma semana antes do crime, pegara seus dois filhos e voltara a morar com os pais em sua chácara no Flamengo. Verinha, a filha póstuma, nasceria em agosto seguinte. Surpreendentemente, Elsa abrira mão da única coisa que ela e Roberto tinham de seu, além dos filhos: a obra de Roberto. Não queria saber daqueles quadros e desenhos em que todos os devassos, loucos e assassinados pareciam ter — premonição? — o rosto dele. (Nada de anormal nisto: quase todos os desenhistas desenham a si mesmos.) Os originais de Roberto foram reunidos pelos Rodrigues, inclusive os dispersos entre os amigos, e apresentados numa exposição no Liceu de Artes e Ofícios, em fevereiro. Quatro mil pessoas a visitaram durante duas semanas. Na confusão, nem todos esses originais foram devolvidos a seus donos e o resultado é que, nos anos seguintes, as paredes das diversas casas dos Rodrigues tornaram-se santuários de Roberto.
Para desgosto dos Rodrigues, Elsa guardou luto por poucos meses — ou seja, menos do que para sempre. Iria desgostá-los de novo quando, três anos depois de enviuvar, foi passar um ano na Europa e, na volta, casou-se com um namorado de infância, o engenheiro gaúcho Zeferino d’Ávila Silveira. O ressentimento seria ainda maior se soubessem que, por mais duro que parecesse, a viuvez fora para Elsa uma espécie de libertação: Roberto não a deixava sair sozinha nem para ir à costureira. E, quando ele saía à rua com ela, tirava-lhe os óculos de míope e os guardava no bolso de seu paletó, para que ela não visse outros homens.
Os Rodrigues não aceitavam que a imensa ausência de Roberto — e a ferocidade de Sylvia Seraphim — não fosse uma unanimidade. Orestes Barbosa, por exemplo, teria ficado em apuros se algum deles descobrisse que, na própria redação, ele falava do caso com piadas. Era cruel ao imitar a pose de Roberto com as mãos nas cadeiras. “Parecia uma asa de xícara. Ofereceu um alvo tão perfeito que nem Sylvia conseguiria errar”, dizia rindo. E, quando lhe perguntavam como Roberto poderia adivinhar que levaria um tiro, Orestes Barbosa completava: “Só um avoado receberia aquela mulher depois do que o jornal tinha publicado”.
Mas em nenhum deles a morte de Roberto golpeou tão fundo quanto em Mário Rodrigues. A tremenda campanha de seu jornal contra a assassina, a publicação diária de fotos de Roberto, a exposição póstuma no Liceu de Artes e Ofícios, até mesmo a condenação de Sylvia Seraphim, que ele dava como certa, nada traria de volta o seu filho favorito. No meio de uma refeição que parecia correr normalmente, Mário Rodrigues ficava de repente com o garfo suspenso entre o prato e a boca; então largava-o e estourava em soluços.
Chegou a dizer certa vez:
“Os assassinos de Roberto estão dentro da redação de ‘Crítica’ “ — referindo-se ao pessoal da oitava página. Esquecia-se de que aquela era a linha que impusera a “Crítica”. Ao ver como o jornal tratava a política, por que a editoria de polícia faria diferente? E não fora por falta de aviso. Os outros jornalistas não diziam que alguém em “Crítica” ainda iria levar um tiro?
O tiro fora para ele, Mário Rodrigues, mas quem o recebera fora Roberto. Maria Esther não o poupava enquanto espremia o lencinho: “Eu te perdôo tudo, menos isto”. Por “tudo” queria dizer os velhos sumiços de Mário, as carraspanas, os ataques de ciúmes, as brigas entre os dois e as cartas e telefonemas anônimos de mulheres contra ela. Mas Mário não queria perdão, queria Roberto.
Sua angústia não se manifestava só em casa. Parecia ser até maior na rua, nos almoços de negócios e nas reuniões políticas que ele ainda tentava cumprir. Por onde Mário Rodrigues passou naqueles tempos, a cidade acompanhou o seu inferno. No jornal era pior, porque a presença de Roberto — nos móveis, na antiga prancheta, nos frascos cheios de penas e pincéis — mal lhe permitia escrever o seu artigo de fundo. (O qual ele tinha de continuar escrevendo, fingindo se interessar por aquelas manobras sujas da política.) Seu cabelo embranquecera em semanas, emagrecera violentamente e se tornara um velho. Com sua capacidade ciclópica para beber, passara a beber mais. E, mais do que no passado, era trazido carregado para casa.
Impossível dizer se fez de propósito (para morrer junto com Roberto), mas, hipertenso como era, vivendo um drama horroroso e aos 44 anos, tudo naquele quadro indicava um só desfecho: trombose cerebral.
E esta aconteceu no dia 5 de março de 1930, uma quarta-feira de Cinzas — apenas 67 dias depois da morte de Roberto. “Crítica” vinha sendo tocada por Milton e Mário Filho, mas, num esforço para superar-se, Mário Rodrigues resolvera supervisionar a cobertura do carnaval. Na época, isto significava cobrir as ocorrências policiais durante os corsos e os desfiles das grandes sociedades. Era trabalho duro, porque o carnaval mobilizava uma cidade inteira. Durante dois dos três dias, quase nenhum dos repórteres ou redatores fora dormir em casa. Mário fizera todo mundo comer na redação, encomendando ele próprio os salgadinhos e cervejas. Na manhã da quarta-feira de Cinzas, finalmente liberou a equipe e foi almoçar com a família. Fazia um calor dos infernos. Almoçou, deitou-se para um cochilo, acordou algumas horas depois e, quando tentou levantar-se, teve o insulto cerebral hemorrágico.
Seu médico, o doutor Silvio Moniz, foi chamado. Mário Rodrigues não foi removido pela Assistência. Continuou em casa, numa sucessão de febres e delírios. Com os recursos de hoje, os médicos teriam trazido sua pressão aos números que quisessem. O que provavelmente aconteceu foi que Mário Rodrigues teve seguidos pequenos derrames nos dias seguintes. Num dos poucos intervalos de lucidez, chamou Maria Esther e, na presença de alguns filhos, ainda conseguiu dizer:
“A situação vai ficar muito difícil. Quando eu não estiver mais aqui, venda o jornal para o Júlio Prestes. Ele já quis comprá-lo no ano passado.”
No dia 13, o estado de Mário Rodrigues parecia terminal. Outros médicos foram chamados, entre os quais o doutor Pedro Ernesto. Este deu-lhe as pancadinhas no joelho com o martelinho. Todos concordaram que era irreversível. Mário Rodrigues entrou numa agonia de quase 48 horas. A agonia era coletiva porque os ruídos que fazia tentando respirar podiam ser ouvidos do corredor. Seu coração estava quase imperceptível. Morreu ao amanhecer do dia 15, de “encefalite aguda e hemorragia”.
O corpo de Mário Rodrigues fez uma escala na Casa de Saúde Pedro Ernesto, onde o próprio aplicou-lhe injeções de formol para tentar preservá-lo. Disse que queria preservar principalmente o cérebro de Mário Rodrigues. (E Pedro Ernesto, que conspirava pela Aliança Liberal, estava do lado político oposto.) Em seguida foi levado para o saguão da redação de “Crítica”, onde ficou em câmara-ardente. Mesas e máquinas foram afastadas para os cantos, para que coubesse a multidão. Naquela noite, assim como acontecera na morte de Roberto, 77 dias antes, o jornal foi composto e impresso nas oficinas de “A Noite”. Milhares de pessoas — entre as quais, fiel até o fim, o vice-presidente Melo Viana — foram vê-lo durante o resto do dia e a madrugada.
No dia seguinte, às dez da manhã, o caixão com Mário Rodrigues desceu as escadas do jornal e foi colocado num coche. Sobre o caixão, um lençol branco com a palavra “Crítica” em preto, em letras de luto. Uma multidão nas ruas do Carmo e a Sete de Setembro tirou o chapéu. Todos sabiam de quem se tratava. Atrás do coche, quatro caminhões cedidos pela Polícia Militar transportavam as centenas de coroas. O cortejo, formado por uma fila de quase trezentos carros, finalmente saiu. Tomou Sete de Setembro, avenida Rio Branco, avenida Beira-Mar, praia do Flamengo, praia de Botafogo, rua da Passagem e rua General Polidoro, até chegar ao Cemitério de São João Batista. Ali, depois de muitos discursos, o caixão foi baixado e um advogado, doutor Gama Cerqueira, aproximou-se e atirou sobre ele a edição de “Crítica” daquele dia, em que Mário Rodrigues era a foto e a manchete da primeira página.
“Leva-o com você, querido Mário”, disse. “É a tua obra.”
- 1930 - O GRANDE PASTEL
Os Rodrigues olharam para o palacete da rua Joaquim Nabuco e começaram a ver quartos vazios e sombrios onde até há pouco só viam salões iluminados. Em dois anos, três de seus moradores haviam partido: primeiro, Dorinha; depois, Roberto; e, agora, Mário. Era intolerável continuar vivendo ali. Sorte que Mário Rodrigues não tivesse comprado o palacete quando o proprietário lhe ofereceu — preferindo aplicar o dinheiro nas novas máquinas de “Crítica’~ Podiam agora deixá-lo sem remorso. E foram embora para outra casa ali perto: na rua Sousa Lima, quase esquina com Bulhões de Carvalho, também em Copacabana. Era uma casa menor, sem dúvida. Mas eles já não eram tantos.
Sem Mário Rodrigues, o destino de “Crítica” estava agora nas mãos dos mais jovens diretores-proprietários que a imprensa brasileira já tivera até então: Milton Rodrigues, 24 anos, e Mário Filho, 21. O desfalque de seu pai era imenso, mas o destino rolara os dados a favor deles porque, a 1º de março de 1930, quinze dias antes da morte de Mário Rodrigues, Júlio Prestes elegera-Se presidente da República derrotando Getúlio Vargas.
Milton e Mário Filho não queriam saber como se dera essa vitória. A Aliança Liberal falava em esbulho e votos falsos, mas isso podia ser conversa de perdedor. O importante era que Júlio Prestes tivera em Mário Rodrigues um aliado e devia a “Crítica” uma importante parcela de sua vitória no Rio. Era dos poucos jornais que o haviam apoiado, juntamente com “A Noite”, o “Jornal do Brasil”, “A Notícia” e “O País”. Enquanto “Crítica” cobria-o de louros e desmoralizava seus adversários, Júlio Prestes sofria uma campanha brutal de quase toda a imprensa carioca: o “Correio da Manhã”, “O Jornal”, o “Diário da Noite”, o “Jornal do Comércio”, o “Diário Carioca”, o “Diário de Notícias”, “A Manhã” de Antônio Faustino Porto e uma corja de jornais menores — todos haviam trabalhado por Getúlio. Seria absurdo que, na hora de fornecer os subsídios oficiais, Júlio Prestes fosse favorecer esses jornais inimigos, e não ‘‘Crítica’’.
Se as futuras preocupações de Milton e Mário Filho fossem só estas, eles poderiam dormir descansados. Júlio Prestes teria sido mais que generoso com “Crítica” — se tivesse chegado a tomar posse. Mas, enquanto não chegava 15 de novembro, dia de passar o Catete ao seu sucessor, Washington Luís continuaria suprindo o jornal com os subsídios de praxe — com dinheiro público, é lógico.
A morte de Mário Rodrigues dera a seus filhos uma nova dimensão do humano: os colossos também morriam. Era preciso destruir quem o matara.
O julgamento de Sylvia Seraphim começou às 11h15 da manhã de 22 de agosto e prometia estender-se pela madrugada seguinte. Era o único assunto da cidade. Nenhum outro incendiara tanto o Rio desde o julgamento de Manso de Paiva, assassino do senador Pinheiro Machado em 1915. Normalmente, quando se tratava de um processo ilustre, o Tribunal do Júri, na rua Dom Manuel, expedia convites às chamadas personalidades gradas — as quais, se se davam ao trabalho de comparecer, garantiam uma parte da lotação da sala, O resto dos assentos era completado pelas famílias das partes e pelos desocupados de plantão. Desta vez, no entanto, diante da histérica curiosidade popular — não apenas “Crítica”, mas toda a imprensa só falava no julgamento —, o presidente do Tribunal Magarinos Torres decidira não mandar convites. Entraria quem quisesse, até a lotação do recinto.
Parecia democrático, mas “Crítica” viu nisso uma manobra de Magarinos para se vingar de Mário Rodrigues. por agravos que ele lhe fizera no passado. O jornal esbravejou que a 4~ Delegacia Auxiliar, comandada pelo tenente Carlos Reis — aquele que Mário Rodrigues um dia chamara de “torturador”, “contrabandista de pólvora” e “baiano dos mais pacholas” —, lotara o tribunal com uma claque pró-Sylvia para pressionar o júri. E que, completada a lotação, Magarinos mandara fechar a porta, o que era ilegal. O jornal denunciou também que, quando se soube que o julgamento poderia ser transmitido pelo rádio, a rádio Clube do Brasil inscrevera-se para a transmissão e até instalara suas linhas — mas que Magarinos a vetara, alegando que já dera exclusividade à rádio Educadora.
O rádio começara no Brasil em 1923 e o alcance de suas antenas só agora começava a ir além da esquina, mas o alto-falante instalado na rua Dom Manuel, transmitindo de dentro do tribunal, estava sendo ouvido por milhares. O locutor da rádio Educadora torcia apopleticamente por Sylvia Seraphim. Com ou sem a claque e a torcida do locutor, no entanto, a cidade estava maciçamente a favor dela. As sufragistas (nome que se dava então às feministas), comandadas pela bióloga e advogada Berta Lutz, estenderam uma faixa na entrada do tribunal com os dizeres “MORTE AO TARADO!” — como se Roberto Rodrigues devesse ressuscitar para ser morto de novo. Nenhuma das sufragistas se lembrava de que Mário Rodrigues um dia as abrigara em seus jornais.
A Cavalaria estava lá para garantir a ordem, permitindo que a multidão transformasse os arredores do tribunal em acampamento. As pessoas levaram café em garrafas térmicas e sanduíches para não ter de arredar pé do alto-falante. Os vespertinos começaram a soltar edições de hora em hora. O forte da cobertura eram as transcrições dos debates entre os advogados: pela acusação, o promotor Max Gomes de Paiva, tendo como auxiliar o muito jovem João Romeiro Neto; e, pela defesa, Clóvis Dunshee de Abranches.
Alguns dos principais interessados no resultado do julgamento não estavam presentes na sala do tribunal: várias irmãs de Roberto (porque não conseguiram entrar) e Nelson — que preferira ficar em casa, ouvindo pelo rádio.
Sylvia Seraphim provocou arrepios na platéia quando chegou para depor. Usava um tailleur de seda azul-marinho, chapéu de feltro preto tipo “cloche”, luvas de pelica e meias cor de carne. Entrou amparada pelo advogado e pelo pai porque, como “Crítica” denunciara, só fizera a operação poucos dias antes. Convidaram-na a sentar-se e estenderam-lhe uma banqueta turca com almofada para que esticasse as pernas, numa das quais havia um curativo. Instruída pelo advogado a tentar transformar a vítima em réu, ela disse em seu depoimento que conhecia Roberto Rodrigues. Fora com ele que falara na véspera e ouvira a promessa de que o artigo não sairia. No dia do crime, ao procura-lo na redação, ele a chamara de “rameira”.
Uma testemunha, o investigador Garcia, confirmou que a vira na redação falando com Roberto na noite de véspera. Mas outras duas, Rafael de Holanda e Orestes Barbosa, garantiram que, àquela hora, Roberto não poderia ter-lhe prometido nada e muito menos que o artigo não sairia. Além disso, disseram, a palavra “rameira” não parecia coisa de Roberto.
Max Gomes de Paiva e Romeiro Neto conduziram a acusação na linha “Trocou sua condição de anjo do lar pela profissão de jornalista, para satisfação de sua vaidade”. Não era convincente. Na mesma época, outra jornalista e também casada, Eugênia Moreyra, pintava os canecos e o povo a admirava. Romeiro Neto, que chamou atenção pela juventude e por parecer nervoso e gaguejante, explorou o principal pseudônimo de Sylvia — “Petite source”, pequena fonte — comparando-a a uma “fonte de desgraças”. Muito sofisticado para um júri cujo domínio do francês não passava da praça Paris.
O ex-marido de Sylvia, o médico Thibau Jr., derrubou a acusação negando o motivo de honra (adultério) no desquite e dizendo que Sylvia queria apenas “fazer vida literária”. A linha da defesa, por Dunshee de Abranches, era a da “perturbação momentânea dos sentidos e da inteligência, provocada por trauma emocional violento”.
Max e Romeiro insistiram em que a vingança teria sido o móvel do crime e que a inteligência da acusada só lhe aumentava a responsabilidade. Lembraram que ela tivera tranqüilidade para vestir-se, perfumar-se, ir à loja e comprar a arma. Só faltaram dizer que, antes de matar, Sylvia fora fazer um lanche na “Colombo”. Mas estavam derrotados de saída: por todos os padrões da época. uma reportagem como a de “Crítica” era considerada desmoralizante para uma mulher que, segundo o seu próprio ex-marido, era honesta.
Quinze horas depois de começado o julgamento, perto já de duas da manhã, os sete jurados — todos homens — deram o seu veredicto: 5 a 2 pela absolvição de Sylvia Seraphim.
Em casa, ao pé do rádio, Nelson ouviu aquilo sem acreditar. Como podia ser inocente alguém que matara sem ódio? Alguém que procurara uma pessoa, não a encontrara e, para não perder a viagem, resolvera matar outra. Aquela hora da madrugada, o dia já era 23 de agosto, exatamente o dia dos seus anos. Os dezoito anos de Nelson Rodrigues.
Ao fim do julgamento uma minoria protestou na rua contra a absolvição de Sylvia Seraphim. Os homens da 4ª Delegacia Auxiliar usaram os cassetetes e soltaram os cavalos contra esses manifestantes. Dentro do tribunal, a promotoria ouviu a informação de praxe de que teria 48 horas para fazer a apelação — esgotado esse prazo, a ré seria posta em liberdade. O normal é que a apelação fosse feita ali mesmo, no ato. Só aconteceu no dia 2 de setembro, mais de uma semana depois do julgamento. E, quando foi feita, Sylvia Seraphim já havia sido liberada e recebida com fogos pela imprensa inimiga de “Crítica”.
Numa coisa os Rodrigues estavam certos: Sylvia não tinha a menor vocação para a literatura. Poucos meses antes do julgamento, ela publicara o seu primeiro livro: “Fios de prata (Sinfonia da dor)”, uma coletânea de crônicas ginasianas de amor, entre as quais a que começava com a frase “Malditos sejam todos aqueles que me desejam”. Era dedicado aos que “me fizeram sofrer”. No ano seguinte lançaria “Ramos de coral (Poemas de um coração de mãe)”, ilustrado com fotos de seus filhos e incluindo textos em estilo tatibitate com evocações à “alma de seu nenê”, a fadas e ao Papai do Céu. Mas seu livro mais surpreendente seria o “Manual de civilidade”, publicado em 1935: um rigoroso manual de etiqueta, afinal bem escrito, mas de um cruel deboche tratando-se de uma autora que respeitara bem pouco a etiqueta ao visitar aquela redação em 1929.
Em agosto de 1930, no entanto, bastara a absolvição da mulher que matara Roberto (e, por tabela, Mário Rodrigues) para desmoronar a confiança dos Rodrigues. Eles davam a condenação como favas contadas. Mesmo assim recolheram os seus cacos e continuaram lutando. O editorial de primeira página logo em seguida ao julgamento, “Pai, em teu nome eu acuso!”, assinado por Mário Filho, mostrou que agora eles iriam se vingar em Clóvis Dunshee de Abranches. “Crítica” levantou a vida do advogado, chamou-o de “charlatão cínico e ladravaz, que transforma o seu canudo de bacharel numa gazua para espoliar os incautos”, e iniciou a campanha.
Mas era inútil. Os Rodrigues haviam perdido a causa e o momento. Até mesmo continuar publicando o quadrado com a foto de Sylvia soava falso, porque ela fora absolvida — e seria de novo se houvesse outro julgamento. Na verdade, a única chance de condená-la teria sido depois de 1940, quando cairia do Código Penal a figura jurídica que a absolvera: “privação momentânea dos sentidos”. Mas em 1940 tudo aquilo já faria parte do passado.
Além disso, em 1930, as pessoas tinham outras preocupações e perderam o interesse pelo que parecia agora apenas uma cruzada familiar. O país estava incandescente, às vésperas de um movimento político que remeteria grande parte das figuras daquele tempo para a pré-história. Em poucos meses Washington Luís ficaria tão antigo quanto um relógio de cuco, e seu lema, “Comigo é na madeira!”, passaria a ser aplicado somente na acepção menos nobre. Mas os jornais que continuavam a sustentá-lo não acreditavam no poder de fogo da oposição — ou acreditavam demais nas versões oficiais que divulgavam em troca dos subsídios.
A revolução saiu às ruas no dia 3 de outubro e Rio Grande do Sul, Minas e quase todo o Nordeste caíram logo em poder dos rebeldes. Mas “Crítica” continuava a atacá-los com cega coragem, como se aquilo se estivesse passando na Bósnia, no Congo ou em outro país distante. Certamente contava com os focos de resistência em São Paulo e no Rio, principalmente em Itararé, si’, onde as forças fiéis a Washington Luís estavam entrincheiradas para barrar o avanço da revolução. Mas “Crítica” calculou mal, porque Rio e São Paulo também caíram e, afinal, nem houve a batalha de Itararé. Na madrugada de 24 de outubro, o presidente Washington Luís, docemente constrangido, aceitou sua demissão do cargo, e a turba saiu cedinho às ruas para acertar contas com os jornais do velho regime.
Redações e oficinas foram invadidas e empasteladas. Máquinas de escrever eram atiradas na rua, prensas eram destruídas a golpes de cano de ferro, gavetas inteiras de tipos eram jogadas para o alto como peneiras de café. Bobinas de papel atapetavam as ruas do Carmo, Ouvidor, Sete de Setembro e Assembléia. Tudo ia sendo chutado, rasgado, demolido e, em alguns casos, incendiado. Trazidos não se sabe de onde, galões de gasolina apareceram magicamente e edições inteiras viraram fogueira. Foram invadidos “Crítica”, “A Noite”, o “Jornal do Brasil”, “O País”, “A Noticia”, “Vanguarda” e a “Gazeta de Noticias”.
Os estragos foram incalculáveis, mas, a duras penas, todos esses jornais estariam de novo nas ruas, uma ou duas semanas depois. De todos eles, apenas um jamais voltaria a circular: “Crítica”.
Naquela madrugada e manhã, enquanto a revolução tomava as ruas, Nelson dormia. Ao acordar ouviu o barulho e viu, pela janela de sua casa na rua Sousa Lima, cidadãos que enfiavam malas às pressas em automóveis, como se estivessem fugindo. Ouviu também os fogos e as buzinas e viu cenas de euforia e desespero. “É a revolução!”, disseram-lhe. Milton já havia saído e Mário Filho devia ter deixado a Barata Ribeiro e estar a caminho do jornal para comandar a cobertura. Em nenhum momento ocorreu ao ingênuo Nelson que, com todo o currículo de “Crítica” e de Mário Rodrigues, a revolução fosse atingir sua família. Chamou Joffre e tomaram um táxi para o jornal — pois foi uma revolução a que ainda se podia ir de táxi.
Na ida para o Centro, não perceberam os acessos de prepotência e revanchismo que as revoluções provocam nos que apenas torcem por ela sem dar um tiro. O táxi chegou à praça Quinze e entrou na rua Sete de Setembro para deixá-los na esquina de rua do Carmo. Mas, a poucos metros da esquina, já era possível perceber o que estava acontecendo. Pessoas insultavam Mário Rodrigues, pertences do jornal eram espatifados na calçada e pedras eram atiradas contra as vidraças. Felizmente nunca havia ninguém na redação àquela hora. Joffre, com a bravura insana de seus quinze anos, quis descer do carro e enfrentá-los. Nelson o segurou e gritou para o chofer seguir. Como contou depois, chegaram a ser reconhecidos: “Olha os filhos de Mário Rodrigues!”. Se parassem, seriam arrancados do táxi e linchados.
Voltaram assustados para Copacabana, onde já encontraram Milton e Mário Filho, tão assustados quanto. Não havia nada a fazer naquele momento — ninguém a quem apelar, para que o vandalismo cessasse antes da destruição total de “Crítica”. Nas poucas horas entre a saída de Washington Luis do Catete e a instalação da Junta Militar Provisória (com a nomeação do coronel Bertoldo Klinger como chefe de policia do Distrito Federal), tinha havido um vácuo de autoridade — exatamente quando o assalto aos jornais acontecera. Por volta de meio-dia, com os novos governantes já empossados, os quebra-quebras pararam — quebrar mais o quê? A policia finalmente lacrou o prédio de “Crítica” e os Rodrigues respiraram. Agora era esperar que, com a volta da situação à normalidade, as chaves lhes fossem devolvidas.
Elas nunca seriam. E eles deviam ter suspeitado disto no dia seguinte, quando Milton e Mário Filho foram presos na rua Sousa Lima e levados para a rua da Relação. Com a prisão dos mais velhos, uma assustadora sensação de desamparo caiu sobre a família. Um desamparo que poderia ter-se transformado em pânico se uma pessoa — a mãe, Maria Esther — não se tivesse mostrado fria e expedita, como já fora no passado.
Ela telefonou para um velho amigo de Mário Rodrigues: o paraibano Cândido Pessoa, irmão de João Pessoa — o qual, como ex-companheiro de chapa de Getúlio na eleição perdida, tomara-se adversário político dos Rodrigues. Mas João Pessoa fora assassinado no Recife cinco meses antes da revolução (por causa de uma mulher), e “Crítica”, sensível a esses temas, tinha sido extremamente humana no seu obituário. O jornal se indignara com o assassinato do seu opositor. Cândido Pessoa, grato por isso, usou sua influência junto ao novo poder para libertar Milton e Mário Filho no fim daquele mesmo dia.
Mas, a partir daí, os Rodrigues apenas sentaram-se para esperar. Uma semana depois, com as coisas já em seus lugares — Getúlio no poder, seu ministério entronizado e uma brisa de “pacificação” no país —, poderiam ter se sentado do mesmo jeito, mas para negociar. O novo ministro da Justiça, Oswaldo Aranha, era um homem sensato. O chefe de polícia, Bertoldo Klinger, ainda não se tornara o folclórico autor de um projeto de reforma ortográfica que tentaria (sem muito sucesso) obrigar o Brasil a escrever “ezérssito”, “jenerau” e “kanhão”. Os outros jornais atingidos tinham negociado e já começavam a roçar cotovelos com a revolução.
Por que os Rodrigues não fizeram o mesmo? Porque estavam no chão, caídos de muito alto.
Apenas onze meses antes — a 4 de outubro de 1929 —, Mário Rodrigues e Maria Esther tinham comemorado suas bodas de prata no palacete da Joaquim Nabuco e posado para aquela foto com seus filhos, noras e netos. O futuro seria brilhante. “Crítica” era uma potência, seus amigos estavam no poder e 1930 seria o ano da consolidação de seu pequeno império, com a criação de “Última Hora”. De repente, já não existiam nem Mário Rodrigues, nem Roberto, nem palacete, nem “Crítica”, nem amigos no poder, nem consolidação e muito menos futuro. Nem mesmo esperança e ânimo. Por quais desígnios fosse, eles tinham sido feridos, mortos, humilhados, destroçados e finalmente destituídos.
Á frente, um abismo.
Quando as máquinas de “Crítica” foram destruídas, era como se os vândalos estivessem demolindo, tijolo por azulejo, o palacete da rua Joaquim Nabuco que Mário Rodrigues deixara de comprar por causa delas. De tudo que havia no prédio restara com eles apenas a coleção de “Crítica” — quatro volumes encadernados com os jornais de novembro de 1928 a setembro de 1930, que Milton levara para casa uma semana antes, sem dar explicações. Estaria pressentindo a catástrofe? Pouco provável porque, se estivesse, não tiraria da redáção uma coleção de jornais velhos, mas a féria daquele dia, que era guardada num cofre na antiga sala de Mário — e onde ficava todo o dinheiro de “Crítica”.
Por incrível que pareça, o jornal não tinha uma conta bancária. Todo o faturamento diário (os contos e contos de réis da venda avulsa e dos anúncios) era administrado em notas e moedas e trancado no cofre. E eles nunca souberam o destino daquele cofre no empastelamento.
O que sabiam é que tinham oitocentos mil réis em caixa — dinheiro de uma última cobrança e que, por acaso, estava no bolso de Mário Filho quando ele voltara para casa na véspera. Não era uma fortuna com a qual Maria Esther pudesse recomeçar a vida — principalmente porque, apesar de seus filhos serem doze, apenas quatro ou cinco estavam em idade de produzir. Eles eram agora Milton, de 25 anos; Mário Filho, 22; Stella, vinte; Nelson, dezoito; Joffre, quinze; Maria Clara, catorze; Augustinho, doze; Irene, dez; Paulinho, oito; Helena, sete; Elsinha, três; e Dulcinha, onze meses.
Uma semana depois, Milton, Mário Filho e Nelson saíram para procurar emprego. Velhos amigos, como Geraldo Rocha, de “A Noite”, os receberam de cara amarrada. Em “O Globo”, então dirigido por Euricles de Matos, não havia vagas. Em outros jornais não passaram nem pelo porteiro. Ninguém daria emprego aos filhos de Mário Rodrigues — não por qualquer determinação oficial, mas por medo de desagradar os novos donos do poder. Milton era o nome mais temido. Por ser o primogênito, achavam que devia transportar a flama de Mário Rodrigues em alguma parte de seus 140 quilos. Não imaginavam que Milton se abatera e se apagara e que, agora, o chefe da família era Mário Filho.
Foram meses batendo em portas fechadas. Ao fim daqueles oitocentos mil réis, tinham passado a viver dos estoques de conservas acumulados nos bons tempos. Até que os estoques também começaram a acabar. Pão com manteiga tornou-se a refeição principal e eles tinham latões de manteiga. Esgotado o último latão, apelaram para os de azeite espanhol, para passar no pão. E, esgotado o azeite, barraram o pão com banha de porco, até que esta também acabou. Estabeleceram um rodízio: dia sim, dia não, todos tomavam uma xícara de café com leite, que era a única refeição; nos dias alternados, apenas as duas menores, Elsinha e Dulcinha, tomavam o café com leite — as irmãs maiores passavam o dia deitadas, para a fome não aumentar.
Em nenhum momento ocorreu aos rapazes procurar outro tipo de emprego que não fosse num jornal. “Por que raios não vão trabalhar no armazém?" perguntava uma vizinha portuguesa. A solução era vender o que tinham. O primeiro móvel a ir embora foi uma piramidal vitrola, que lhes rendeu outros oitocentos mil réis. Depois venderam o piano. Talvez apurassem mais dinheiro se leiloassem os objetos. Começaram pelos quadros (menos, claro, os de Roberto e Portinari); depois os aparelhos domésticos; e terminaram por leiloar as medalhas e os troféus baratos que Augustinho, escoteiro e esportista, ganhara em competições de natação, atletismo e pingue-pongue entre os lobinhos. As crianças da rua perguntavam a Helena: “Por que todo dia sai alguma coisa da sua casa?”.
A casa da rua Sousa Lima se tornara um luxo. Quando o aluguel ficou três meses atrasado, tiveram de deixá-la. A partir de 1931, os Rodrigues começariam a pular de casa em casa — cada qual menor, mais pobre e com mais percevejos. Nos nove anos seguintes, eles iriam ter sucessivamente sete endereços: em 1932, na rua Pompeu Loureiro; em 1933, na rua Visconde de Pirajá com rua Montenegro; em 1934, ainda na Visconde de Pirajá, mas agora numa casa de vila; em 1935, na rua Prudente de Morais; em 1936 e 1937, na avenida Nossa Senhora de Copacabana; em 1938, na rua Garcia d’Ávila; e, em 1939 e 1940, na travessa Angrense, entre as ruas Santa Clara e Raimundo Correia. Sempre na Zona Sul, sempre em Ipanema ou Copacabana. Não lhes ocorria também sair dali e voltar para a Zona Norte, onde os aluguéis eram mais em conta.
Pensando bem, para quê? À medida que iam sendo despejados por atraso no aluguel, o proprietário que os despejava (mas gostava deles) dava-lhes uma carta de recomendação que logo lhes permitia alugar outra nas proximidades.
O menino Sérgio, filho de Roberto Rodrigues, não entendia como, ao visitar sua avó paterna no Natal, era levado todo ano a uma casa diferente — mais velha e mais sombria que a anterior, em vilas sem calçamento ou em cima de armazéns ou botequins. A casa de sua outra avó, na praia do Flamengo, era grande, bonita e sempre a mesma. Mas não tinha aqueles quadros cheios de pessoas nuas, parecendo mortas ou torturadas, e que diziam que eram os desenhos de seu pai.
E, então, quando o desespero ia tomar conta, uma porta se abriu para um Rodrigues — Mário Filho — e os outros penetraram por ela.
- 1931 - A FOME ÀS PORTAS
Mário Filho tinha cabelos e sobrancelhas vermelhos. Não um vermelho qualquer, cor de ferrugem, mas um desses vermelhos vivos e sangrentos, que às vezes se pensa que só existem em almofadas. As sobrancelhas apontavam para cima, como as de vilão de filme de Carlitos, e desciam de repente, em ângulo reto, emoldurando os olhos cor de açafrão, arregalados como dois banjos. Não admira que seu apelido em moleque fosse “Lula". Parecia-se mesmo com uma lula e não brigava com quem o chamava assim. Tanto o cabelo quanto as sobrancelhas eram bastos, de fios grossos e lisos, impossíveis de pentear. Os lábios eram finos, os dentes pequenos e, mesmo que não fossem, viviam escondidos atrás dos nove charutos que fumava por dia. E havia também a sua gesticulação: as mãos e o charuto estavam sempre desenhando figuras no ar, sublinhando palavras e frases — como se sua especialidade, falando ou escrevendo, não fosse a palavra exata, a frase que ninguém conseguia retocar.
Esta descrição corresponde ao Mário Filho de que muitos se lembram ainda hoje. Mas é igual também ao Mário Filho de 1925 que, aos dezessete anos, foi trabalhar no jornal de seu pai, “A Manhã”, na insossa função de gerente — que depois passariam a chamar de diretor-tesoureiro. Insossa para ele, que tinha outros planos, mas invejada e disputada por muitos. Numa época em que a imprensa era de um comovente amadorismo e o seu caixa funcionava com menos rigor que o da quitanda, o gerente era a principal figura do jornal. Tão importante que nem ficava na redação, mas no andar de baixo, para não açular o despeito e o rancor dos funcionários. Era o gerente que assinava ou negava os vales para aqueles jornalistas plebeus, que quebrava os galhos para o leite das crianças, que sabia quanto dinheiro estava sobrevoando o cofre. Era bom que o tratassem na palma da mão. E, além disso, Mário Filho podia ser menor de idade, mas chamava-se Mário Rodrigues Filho.
Por sua mesa passavam os grandes nomes do jornal, pedindo-lhe adiantamentos com um ar de contínuos. Colegas faziam-lhe rapapés enquanto, pelas costas, chamavam-no de uma besta para baixo, e ele desconfiava disto. Seu contato com o mundo tinha aquele vil e triste intermediário, o dinheiro — quando, na verdade, Mário Filho só queria saber de outras coisas: literatura, garotas e futebol, mais ou menos nesta ordem — e jogar sinuca no Liceu de Artes e Ofícios. Levou quase um ano na função de gerente em “A Manhã”, mas, assim que pôde, começou a conciliá-la com o que realmente queria fazer: dirigir a página literária do jornal. E, entre uma e outra bola na caçapa, em 1926 livrou-se da gerência.
A página literária se chamava “Espírito moderno”, era semanal e publicava contos, trechos de romances e poemas. Nada de críticas ou artigos, que, para isto, já existia a página três, onde Nelson iria escrever em 1928. Nada a ver também com o folhetim, que tinha o seu espaço diário no jornal — e “A Manhã” passara 1926 inteiro publicando “Crime e castigo”, de Dostoiévski, que foi onde Nelson o leu. “Espírito moderno” eventualmente abria espaço para gente de fama, como Ronald de Carvalho, Agripino Grieco e Orestes Barbosa. Mas o nome que mais aparecia, com uma freqüência tocante pela imodéstia, era justamente o de Mário Rodrigues Filho. Era como se seu pai lhe tivesse dado uma página inteira do jornal para que ele brincasse de lançar-se como escritor.
Em 1926 os vapores da Semana de 1922 já tinham se espalhado pelo Brasil e os truques mais modernosos do Modernismo — as frases curtas, os “flashes” visuais, um certo jeitinho malcriado de escrever — eram uma doença entre os jovens escritores. Os modernistas eram fáceis de imitar, tanto que se imitavam uns aos outros, como Oswald de Andrade e Ronald de Carvalho, que eram os que Mário Filho, por sua vez, imitava. A diferença era que Mário Filho pensava muito em sexo, talvez até demais. Durante aquele ano, em sua página em “A Manhã”, Mário Filho descreveu em capítulos o que parecia um abrasador romance entre ele e uma garota “moderna” de Copacabana, chamada Clarinha. Eram contos curtos e fragmentários, com toques eróticos às vezes ousados, às vezes ingênuos. As amigas de Clarinha também apareciam como coadjuvantes, e Mário Filho escrevia do ponto de vista de quem estava dentro da cabecinha delas.
Em novembro, com grande foguetório publicitário do seu próprio jornal, ele reuniu aqueles contos num livro chamado “Bonecas”, anunciado como “uma novela de amor e loucura”. Os reclames (desenhados por Guevara) prometiam “Um espelho que deixa ver toda a alma de uma mulher... toda nua...” ou “O que as mulheres pensam... o que as mulheres sentem.., o que as mulheres não dizem...”.
Formidável, mas como é que Mário Filho sabia tudo isso? Tinha então dezoito anos e, apesar de freqüentar bons clubes e desfilar de chapéu e bengala como um dândi pela avenida Atlântica, sua vida amorosa ainda estava aos cinco minutos do primeiro tempo.
E, pelo visto, iria parar por aí porque, no fim daquele mesmo ano, casou-se com Célia, filha dos Faria Neves e dos Barros de Melo — duas influentes famílias do Rio e, tal como os Rodrigues, com origens em Pernambuco. Conhecera Célia na praia, voltara para casa e dissera para sua mãe: “Mamãe, conheci hoje na praia a mulher com quem vou me casar”. E se casou mesmo, menos de um ano depois. Talvez Célia fosse Clarinha. Talvez fosse sua informante sobre “o que as mulheres não dizem...” — quem sabe? Podia ser. O problema é que Célia também era um pouco nova para saber tanto. Tinha quinze anos quando se casaram em fins de 1926.
Mas os minicontos de Mário Filho titilavam a lubricidade do público e “Bonecas”, impresso nas próprias oficinas de “A Manhã”, vendeu — disse o jornal — mais de mil exemplares só no primeiro dia. Até “Espírito moderno”, a página que ele dirigia, abriu uma exceção em suas normas para publicar resenhas sobre o livro. Ele foi devidamente louvado por Ronald, Agripino e Orestes, todos tomando o maior cuidado para não denunciar a extrema juvenilidade do autor... O qual se entusiasmou, publicou mais um monte de contos no jornal e, em junho de 1927, reuniu-os em outro livro, “Senhorita 1950” — o título já sendo uma sugestão de ultramodernidade. (Nada devia parecer mais futuro em 1927 do que o ano de 1950.) Mais uma vez o jornal fez uma campanha tonitroante, agora com desenhos de Roberto, e o novo livro também foi um sucesso. E, então, quando tudo indicava que iria especializar-se como um narrador da futilidade pubescente, Mário Filho abandonou a página literária, desistiu das noveletas e jogou-se por inteiro na direção da página de esportes de “A Manhã”.
O que dera nele? Talvez uma súbita consciência de que ter um jornal e uma gráfica onde publicar suas coisinhas literárias não fosse suficiente para torna-las muito boas. E que os elogios daqueles nomes também não representavam grande coisa, sabendo-se que eles eram assalariados de seu pai — e, de certa forma, dele próprio. Pode ser também que, ao casar-se com Célia, Mário Filho tenha sossegado o periquito. (Os dois viveriam quarenta anos juntos, chamando-se um ao outro de “Mazum” e “Cezum” e indo de mãos dadas ao cinema até o fim.) O fato é que, no futuro, Mário Filho renegaria “Bonecas” e “Senhorita 1950” de tal forma que se esqueceria de citá-los entre as “obras do autor” nos — aí, sim — grandes livros que viria a escrever.
Nelson iria dizer um dia que, antes de Mário Filho, a crônica esportiva vivia na pré-história, “roía pedra nas cavernas”. Não estava exagerando. E verdade que, desde 1910, o “Jornal do Brasil” já dava eventualmente uma página para um grande jogo de futebol. Mas só depois do jogo realizado, em que toda a cidade já sabia o resultado e comentara como fora, como não fora. Em 1927, os repórteres de futebol ainda eram tão pobres-diabos quanto os da Assistência, encarregados de cobrir os atropelamentos. Não fosse pelo lanche que os clubes ofereciam nos dias de treino, alguns desses repórteres morreriam de fome. Pena que os jogadores não treinassem todo dia. E havia os escritores profissionais, que gostavam deste ou daquele clube e escreviam de graça sobre ele, para ser recebidos com fanfarras em suas sedes sociais. Como Coelho Neto, que era Fluminense roxo e ia às Laranjeiras conferir se o Fluminense tinha lido o que ele escrevera aquele dia.
Mário Filho revolucionou esse estado de coisas. Primeiro em “A Manhã” e, de 1928 a 1930, em “Crítica”, sempre em parceria com Guevara. Transformou o futebol em algo para vender jornal. Começou com uma matéria sobre a botinada que Itália, beque do Vasco, aplicou em Alfredinho, atacante do Fluminense, num treino da seleção carioca. O Vasco ia enfrentar o Fluminense aquele domingo e Itália tirou Alfredinho do jogo. Mário Filho foi com o fotógrafo à casa de Alfredinho e fotografou o seu joelho em frangalhos. No dia seguinte, “A Manhã” publicou aquele dramático joelho em tamanho natural, dava para ver o crime provocado pela chuteira de Itália. Podia não ser agradável de imprimir, mas era notícia.
Mário Filho aproximou o jornal e os torcedores, simplificando o nome dos clubes. Até então os jornais calçavam polainas quando se referiam, à inglesa, ao Club de Regatas Flamengo, ao Fluminense Football Club. O Bangu, que era um time de fábrica, era The Bangu Athletic Club. Mário Filho começou a chamá-los de Flamengo, Fluminense, Bangu, sem nove-horas, como os torcedores faziam na rua. (Não, não seria ainda desta vez que ele criaria o Fla-Flu — e nem seria ele o criador da sigla, como se acredita.) Simplificou tudo: o “aprazível ‘field’ da rua Álvaro Chaves” tornou-se “o campo do Fluminense” e pronto. Mais: humanizou os jogadores, perfilando-os, biografando-os na semana de uma partida importante. Perguntava pelas suas vidas particulares, fazia-os dizer coisas interessantes nas entrevistas. E, se não dissessem, Mário Filho inventava essas coisas e as atribuía a eles.
O futebol parecia ser o seu destino e ele não tinha o menor motivo de queixa. Mas o assassinato de Roberto e a morte de Mário Rodrigues obrigaram-no a tornar-se, de repente, o homem da casa e do jornal. E quando “Crítica” foi empastelada, em 24 de outubro de 1930, foi para ele que todos os irmãos, inclusive Milton, olharam em busca de socorro.
Irineu Marinho havia fundado “A Noite” em 1911 e feito dele o vespertino mais querido da cidade. Em 1924, aproveitando-se de que Marinho estava na Europa em tratamento de saúde, seu sócio, Geraldo Rocha, passou-lhe a perna e tomou-lhe o jornal. Irineu Marinho então fundou “O Globo” em 1925, mas, apenas 21 dias depois de pôr o jornal na rua, morreu de enfarte na banheira. Seu filho Roberto arrombou a porta do banheiro, mas não a tempo de salvá-lo. Roberto era o sucessor natural de Irineu Marinho, mas, aos 21 anos, achava-se muito verde para comandar um jornal. Suas grandes preocupações eram dirigir carros esporte, lutar boxe e remar pelo Clube de Regatas Boqueirão do Passeio — e jogar sinuca no salão do Liceu de Artes e Ofícios, na rua Bethancourt da Silva, no mesmo andar em que ficava “O Globo”. (Não, você não leu errado. “O Globo” já dividiu um andar com um salão de bilhares.) Com a morte de Irineu, o próprio Roberto sugeriu que Euricles de Matos, velho companheiro de seu pai em “A Noite” e secretário de “O Globo”, assumisse a direção. Iria aprender com Euricles e um dia o renderia.
O baiano Euricles, hoje nome de rua nas Laranjeiras, era pequenino, elétrico e de uma franqueza rude. Dava pegas tremendos em quem fizesse uma asneira na redação. Descompunha o infeliz e chamava-o de “cavalo” e de “sua grandessíssima besta”. Às vezes atirava um mata-borrão na testa de um redator. Curiosamente todos o respeitavam e recebiam seus minguados elogios como um feriado. Foi ele que recusou emprego aos Rodrigues em “O Globo”, alegando falta de vagas. Mas, em maio de 1931, Euricles também morreu e Roberto Marinho achou que era hora de tomar conta do jornal. Não se importava com que o governo estivesse de olho ou não nos filhos de Mário Rodrigues. Por isto, uma de suas primeiras contratações foi seu colega de sinuca, Mário Filho.
Roberto Marinho convidou-o a assumir a página de esportes em “O Globo”. Mário Filho topou, desde que pudesse levar seus irmãos Nelson e Joffre. Roberto Marinho ofereceu 550 mil réis por mês a Mário Filho, mas disse que, no começo, não podia pagar nada aos outros dois. Nelson e Joffre foram assim mesmo e tentaram conseguir algum dinheiro em outra parte.
Nelson foi trabalhar por alguns meses em “O Tempo’ de um jornalista chamado José Maria, que ele definiria depois como “um escroque perfumadíssimo, mais cheiroso do que uma cocote" José Maria era alérgico a pagar em dia e só de três em três meses lembrava-se de que seus funcionários também comiam. Mas distribuía sorrisos pela redação e cumprimentava repórteres, gráficos e faxineiros com tão escandalosa cordialidade que todo mundo se sentia pago.
Joffre fora trabalhar em outro jornal de Geraldo Rocha, “A Nota”, do qual Milton, finalmente considerado inofensivo, tornara-se secretário. Foi quando as pessoas começaram a prestar atenção em Joffre. Aos dezesseis anos, ele era o mais ágil e despachado dos Rodrigues. Seus tempos de repórter esportivo em “Crítica” fizeram-no uma figura querida no Fluminense e no Flamengo, até mesmo entre os atletas e dirigentes de outros esportes que não o futebol. Isso lhe facilitava a vida, como no dia em que quase não foi a um baile a fantasia no Cassino Atlântico por falta de traje a rigor ou fantasia. Não se apertou. Foi a Manuel Vilar, nadador do Fluminense e também marinheiro, e pediu emprestada a sua farda azul, com as golas debruadas e as bocas-de-sino. Entrou fantasiado de grumete.
A outra especialidade de Joffre era a música popular, então um sinônimo de samba. Joffre crescera cercado de sambistas. Um dos vizinhos de sua família na rua Alegre, por volta de 1920, tinha sido Donga, que havia composto (ou, pelo menos, assinado) o primeiro samba gravado com nome de samba, “Pelo telefone”, em 1917. O parceiro de Donga, Mauro de Almeida, um jornalista cujo apelido era “Peru dos pés frios” e que inventara a história do mineiro que comprara um bonde, era amigo de seu pai. Havia rodas de samba quase diárias na casa de Donga, ao alcance dos ouvidos dos Rodrigues. No carnaval, Mário Rodrigues alugava carros abertos com chofer e safa com a família no corso dos “Democráticos”. E, tanto em “A Manhã” quanto em “Crítica”, Mário Rodrigues dera emprego a vários jornalistas que um dia se tornariam cartazes da música popular: Nássara, Frazão, Orestes Barbosa, Cristóvão de Alencar. Joffre herdou esse gosto e, por sua causa, samba e futebol sempre andaram juntos nos jornais em que ele trabalhou. Mas seu melhor amigo nas rodas de compositores era Lamartine Babo, que o tratava carinhosamente como mascote.
O salário de Mário Filho em “O Globo” fora rapidamente aumentado para um conto e quinhentos mil réis por mês — o que não queria dizer muito porque, separado o necessário para as despesas com sua mulher e seu filho, entregava o resto a Maria Esther. Milton, Nelson e Joffre faziam o mesmo com o pouco que ganhavam, e o total era o suficiente apenas para que sua mãe e seis irmãs não morressem de inanição. Stella cursava o terceiro ano da Faculdade Nacional de Medicina e os colegas zombavam dela porque ia todos os dias com o mesmo vestido — por falta de outro. Seu único par de sapatos tinha remendos de couro de todas as cores e procedências. Descontado o que a família precisava para continuar viva, o que restava para cada um era exatamente zero.
Nelson herdara os ternos, gravatas e chapéus de Roberto. Serviram-lhe direitinho porque, embora um dia chegasse a ser o mais alto da família (1,73m, sem meias), era mais novo que o irmão e ainda do seu tamanho. Usou todos os ternos de Roberto até que eles se reduziram a um, com o qual ia trabalhar todos os dias — porque não podia tirá-lo para lavar. Nelson andava de sapatos sem meias, porque não tinha meias, e usava a mesma camisa três ou quatro dias. Certa noite Roberto Marinho chamou Mário Filho à varanda de “O Globo” e disse-lhe, meio sem jeito:
“Seu irmão trabalha com a barba por fazer. E ontem estava cheirando mal.”
Mário Filho contou a Nelson, que não se sentiu humilhado. Pelo menos, não naquele momento. Sabia que era o terno que cheirava mal, não ele. E também não se importava (ou fingia não se importar) quando os colegas de “O Globo” o chamavam de “Filósofo”, pelo seu aspecto desleixado. Ou quando o gozavam pelo cabelo mal cortado, cheio de caminhos de ratos — porque era Stella que o cortava.
Em meados de 1931, eles conheceram um jovem chamado Mário Martins. No futuro, Mário Martins seria jornalista, político e chegaria a senador. Mas, aquele ano, era apenas filho do proprietário de uma farmácia no Estácio, a “Santa Olga”, onde ajudava aplicando injeções. Tinha dezessete anos e um guarda-roupa digno do príncipe de Gales. Nelson pediu-lhe um terno emprestado para ir fazer a corte a uma garota da rua Dias da Rocha. O que ele usava já estava impraticável, com furos feito buracos de balas. Mário Martins cedeu-lhe um belo terno de linho azul-claro. O empréstimo seria por dois dias. Mas Nelson nunca o devolveu e o outro nunca o cobrou. Seis meses depois, a custa de só ser tirado do corpo para dormir (às vezes nem isto), o terno novo já estava como o velho, poído nas mangas e com a morrinha entranhada nas fibras. Só o vinco das calças era impecável, porque Nelson pedia a sua irmã Irene que o passasse todo dia.
Mário Martins tinha algo a emprestar além de ternos: dinheiro. Mário Filho falou-lhe de seus planos de criar um jornal esportivo. Era a única maneira de salvar sua família — voltar a ser proprietário de um jornal, nem que fosse como sócio. Mário Martins não conversou. Foi a uma viúva a quem estava consolando e levantou um cheque de 26 contos de réis, que passou a Mário Filho. E então, com a bênção de Roberto Marinho, que não se opôs a esta dupla militância do seu editor de esportes e até lhe alugou a gráfica de “O Globo”, nasceu o “Mundo Esportivo”.
O jornal durou apenas oito meses e não deixou o menor vestígio de sua passagem por aquele mundo. Mas deixou em outro, por sinal paralelo: o do samba.
Foi o “Mundo Esportivo” de Mário Filho que inventou o concurso das escolas de samba.
A redação de “Mundo Esportivo” ficava numa única sala da rua Miguel Couto e todos os funcionários cabiam nela. Mário Filho levara com ele Milton, Nelson e Joffre. Teria também levado Guevara, se este não tivesse voltado para Buenos Aires depois do empastelamento de “Crítica”. Então Mário Filho contratou o melhor discípulo de Guevara, Antônio Nássara, para paginar o jornal.
Tudo teria dado certo exceto por um minúsculo detalhe de planejamento: o primeiro número do “Mundo Esportivo” saiu justamente no fim do campeonato carioca de 1931, vencido pelo América. Os meses seguintes seriam um deserto de futebol, e os outros esportes já não despertavam taquicardias suficientes para sustentar um jornal diário. Mas um repórter de Mário Filho, Carlos Pimentel — malandro de carteirinha, rei do Mangue e sem um dente na boca —, teve a idéia salvadora.
E, pensando bem, óbvia: falar sobre as escolas de samba que, desde 1930, estavam descendo a rua Larga e se aventurando pela praça Onze no domingo de carnaval. Essas escolas, que começavam a ameaçar a supremacia dos ranchos, seriam as futuras Mangueira, Estácio, Portela. Os desfiles eram espontâneos e já se faziam “votações” populares, muito concorridas, mas sem nenhum critério. Votava-se pela simpatia por esta ou aquela escola. Carlos Pimentel sugeriu a Mário Filho instituir um júri oficial do “Mundo Esportivo”, que avaliaria quesitos específicos como bateria, harmonia, a ala das baianas, a comissão de frente, os carros alegóricos etc. — praticamente os mesmos de hoje. Nas semanas anteriores ao desfile, o jornal fermentaria a expectativa fazendo uma campanha de esclarecimento sobre esses itens. Maio Filho comprou a idéia. Formou-se o primeiro júri com Orestes Barbosa, Eugênia e Álvaro Moreyra, R. Magalhães Júnior, Herbert Moses, o repórter Fernando Costa (o homem dos mil disfarces de “Crítica”) e outros jornalistas.
Durante duas semanas, o “Mundo Esportivo” cumpriu o seu papel de escolar os brancos cariocas sobre o fascínio daqueles negros que se fantasiavam e evoluíam pela rua ao som de instrumentos ainda considerados meio bárbaros, como surdos, cuícas e tamborins. Para a manchete de primeira página no dia do desfile, Nássara pediu a Nelson:
“Nelson, preciso de uma frase bonita, de duas linhas, com o máximo de 24 letras em cada linha. Escreve aí.”
Nelson não escreveu. Apagou lentamente o cigarro no cinzeiro e ditou a Nássara:
“A ALMA SONORA DOS MORROS
DESCERÁ PARA A CIDADE!”
A alma sonora de dezenove escolas desceu para a cidade, mas a campeã foi a Mangueira, com um samba de Cartola. O concurso foi um sucesso e, anos depois, seria oficializado pela prefeitura. O desfile das escolas parece hoje impensável sem ele. No carnaval seguinte, o “Mundo Esportivo” já deixara o mundo dos vivos — perdera a parada para o “Jornal dos Sports”, fundado na mesma época por Argemiro Bulcão — e o patrocínio do concurso das escolas de samba passou com naturalidade para “O Globo”, onde Mário Filho e seus irmãos continuavam trabalhando.
Enquanto coexistiram, “O Globo” e o “Mundo Esportivo” foram aliados numa série de promoções — uma aliança reforçada diariamente nas partidas de sinuca entre Roberto Marinho e Mário Filho. E por um triz essa aliança não acabara quase ao começar. Não porque Mário Filho o vivesse vencendo na sinuca, com o seu taco de ponta chata, mas porque, numa daquelas promoções, em fins de 1931, Roberto Marinho (e seu repórter Nelson Rodrigues) viram-se numa sinuca de verdade perto da ilha Grande: a bordo de uma lancha em chamas.
“Engole-garfo”, “Boca larga” e “Angelu”, remadores do Flamengo, queriam fazer um raide Rio-Santos e pediram apoio a Mário Filho. O “Mundo Esportivo” e “O Globo” garantiram a cobertura e abriram manchetes, mas a Capitania dos Portos do Rio negou a permissão para o que achavam uma loucura: remar 207 milhas de uma cidade a outra. Imperturbáveis, Mário Filho, Roberto Marinho e o Flamengo tapearam a Capitania: marcaram uma falsa largada na rampa da praia do Flamengo, para atrair a policia marítima, e despacharam uma carreta com as ioles para o Leblon, de onde elas saíram de verdade, rumo a Santos.
Dois dias depois, sem notícias das ioles, temeram que tivesse havido um acidente e que “Engole-garfo”, “Boca larga” e “Angelu” já estivessem no papo dos tubarões. Mário Filho propôs que alugassem um avião para ir procurar os remadores, mas Roberto Marinho preferiu mandar sua lancha-motor. E ele próprio foi junto, com Nelson e o fotógrafo Santana. Navegaram horas e nada dos rapazes. Perto da ilha Grande, o motor da lancha começou a fazer ruídos estranhos, como se gargarejasse, e Roberto Marinho achou melhor voltar. Então a lancha enguiçou. Enquanto o barqueiro a consertava, Roberto Marinho pegou sua carabina e distraiu-se atirando numas gaivotas que voavam por ali.
O motor ficou pronto. O barqueiro deu a partida e houve um curto-circuito. A lancha começou a incendiar-se. Em poucos segundos o fogo foi lambendo tudo, e eles não tinham levado extintor. Correram para o único lugar ainda a salvo, que era a proa, mas, quando as chamas chegassem à gasolina e às munições, haveria uma inapelável explosão. E pular era impossível, porque o mar ali era infestado de tubarões. Roberto Marinho, Nelson e os outros sentiram o hálito do inferno.
Mas um grupo de pescadores portugueses, cujo barco estava nas proximidades, ouvira os tiros nas gaivotas e remara na direção do barulho. Os portugueses pensaram que fosse um pedido de socorro. Os quatro saltaram para o barco dos pescadores e este se afastou rapidamente, como no último rolo do seriado. A uma distância segura, eles viram quando a lancha explodiu, produzindo uma coluna de fumaça e fogo.
Ah, sim, os remadores do Flamengo. Nunca estiveram perdidos. Completaram o raide mansamente, voltaram para o Rio a bordo do cruzador “Baía” e desfilaram pela cidade exibindo os remos. Quanto a Roberto Marinho, perdeu uma lancha no valor de 65 contos. Ela não estava no seguro.
Em 1932, um ano depois de começar a trabalhar em “O Globo”, Nelson teve sua carteira assinada — quinhentos mil réis por mês. Não era mau para um rapaz solteiro, desde que este não tivesse de entregar todo o dinheiro à mãe, recebendo de volta uns níqueis para o cigarro. (Nesse tempo, “Yolanda”.) Em compensação, Nelson tinha o privilégio de voltar para Copacabana na carona do patrão e de ser um dos poucos na redação a chamá-lo de “Roberto”, não “doutor Roberto”. Nelson confessaria depois que, apesar de tratado tão cordialmente pelo chefe, estava entre os nostálgicos do falecido Euricles de Matos — que se reuniam no arquivo de “O Globo” para conspirar contra Roberto Marinho, chamando-o de “analfabeto”. E logo Nelson, que havia sido recusado em “O Globo” por Euricles de Matos.
Para que lhe sobrasse algum dinheiro, arranjou um segundo emprego como redator da firma Ponce & Irmão, dois empresários de espetáculos que distribuíam no Rio os filmes da RKO Radio Pictures. A função de Nelson era criar os textos para os anúncios dos filmes nos jornais. Mas sua visão de marketing não parecia muito experta: para “Dr. Topaze”, um drama com John Barrymore e Myrna Loy, ele criou o slogan “Um filme só para os inteligentes!”. Com o que afastou da bilheteria os burros, que temeram que o filme fosse complicado. Na verdade, o que Nelson queria dizer era que só os inteligentes não se chocariam com a história de “Dr. Topaze”: a de um adultério em que a adúltera não era punida no fim. (Em 1933 enredos como este ainda eram possíveis no cinema americano. No ano seguinte Hollywood criaria o Código Breen, para impedir que os filmes passassem “maus exemplos”, e “Dr. Topaze” seria uma das primeiras vitimas. Sua reprise nos EUA foi proibida em 1936. Donde a frase de Nelson estava certa.)
Nos três anos da grande fome entre os Rodrigues, de 1931 a 1934, eles fizeram várias tentativas para se aprumar financeiramente. Todas complicadas demais para dar certo. Uma delas foi a de aproveitar o desagrado do povo com a revolução de 1930 e lançar em livros a obra completa de Mário Rodrigues —principalmente seus artigos de jornal. A idéia se inspirou no fato de que, enquanto ele estava vivo, seus livros se vendiam aos milhares.
Planejou-se uma coleção de 35 volumes, a ser rodados pela Imprensa Industrial de Pernambuco, reunindo tudo que ele escrevera. Verdade que Mário Rodrigues produzira homericamente, mas, se todos aqueles 35 livros saíssem, os últimos teriam de incluir até seus exercícios de caligrafia.
Apenas dois vieram à luz, “A cegueira dos deuses” e “Meu Pernambuco”, ambos em 1931. Foram uma decepção de vendas. Se já não havia nada contra Mário Rodrigues, descobriu-se que também já não havia muito a favor. O país mudara e ele fora soterrado no passado. Dali os Rodrigues não tiraram dinheiro que chegasse para uma lata de biscoitos “Aymoré”.
Os despojos de “Crítica” foram a leilão e os Rodrigues também não viram um centavo. Seu advogado, Prado Kelly, teria saído para tomar um cafezinho no momento em que o leiloeiro do Estado fazia a chamada; a família foi dada como ausente e, com isso, tudo que havia lá dentro passou a ser propriedade do Estado. Foi como se eles estivessem perdendo “Crítica” mais uma vez.
O jeito era processar a União, requerendo uma indenização pelo empastelamento. Por falta de dinheiro, a ação só foi iniciada em 1934. Herbert Moses, diretor-tesoureiro de “O Globo”, presidente da ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e mais conhecido como “Mosquito elétrico”, ofereceu-se para ajudar:
“Deixem comigo!”
Meses depois, sem novidades de Herbert Moses, Maria Clara começou a atazaná-lo. Moses perdeu a paciência e queixou-se a Mário Filho:
“Mário Filho, você precisa dar um jeito na sua irmã. Ela não me dá sossego, querendo saber como anda o processo.
“Vou falar com ela, Moses”, disse Mário Filho. “Por falar nisso, como anda o processo?”
“Sei lá!”, disse Moses. “Ainda nem abri!”
O processo foi retirado do “Mosquito elétrico” e entregue a um advogado, o doutor Cândido de Oliveira Neto. Ele deu entrada nos papéis, mas foi logo avisando: essas coisas levam tempo, vão cuidar da vida, não contem com o dinheiro para tão cedo.
Os Rodrigues souberam esperar: 22 anos.
A partir de 1931, Nelson conheceu muitas fomes, inclusive a de amor. Esta última lhe provocou rombos na alma, tantas foram as paixões vás que ele alimentou. Mas eram curáveis. A fome propriamente dita — que o obrigava a ir a pé de Ipanema ao Centro para economizar tostões — fez-lhe buracos no pulmão. Em 1934 estava tuberculoso.
- 1934 - A MONTANHA TRAGICA
A fome lhe roia as entranhas, mas não o tornara insensível a outros apelos. Numa roda de amigos na avenida Atlântica, Nelson conheceu a mulher mais deslumbrante que já vira em dias de sua vida: a argentina Loreto Carbonell. Era loura, de olhos azuis e tinha a pele dourada, cor de gema. Sua voz e seu riso também eram argentinos, de timbres de prata. Quando ela lhe contou que era bailarina e que, cinco anos antes, em 1927, dançara no Municipal com os “Bailados russos” de Maria Olenewa, Nelson acabou de apaixonar-se. Toda essa epopéia que transformara seu coração numa tenra posta de alcatra não levara mais que cinco minutos. Nelson voltou para casa e todas as noites, nos momentos em que seu estômago rugia mais baixo e deixava-o dormir, Loreto Carbonell dançava gavotas e minuetos em seus sonhos.
Começou a cercá-la na porta do Teatro Municipal, onde ela ainda estudava, na praia e na saída do cinema. Mas havia uma muralha intransponível: Luisa, irmã de Loreto, que percebeu a intensa salivação de Nelson e cuidava de bloquear suas aproximações. Aos vinte anos, quase maltrapilho e sem tostão, ele estava longe de ser o homem para a linda Loreto, cujas sapatilhas eram destinadas aos grandes palcos do mundo ou à nave de uma igreja — o que viesse primeiro, desde que de braço com um parceiro rico. Luisa venceu.
Nelson nunca pôde declarar-se à Carbonell. Sua frustração gotejou por alguns meses, mas, inevitavelmente, cicatrizou. Dai a tempos viu Loreto sozinha num bonde, rumo ao largo da Carioca, lendo o “Jornal de Modinhas”. Dois ou três bancos à sua frente, ela não o percebeu. Nelson reparou que nenhum dos homens no bonde dava a menor confiança à sua Pavlova. Era apenas uma passageira lendo o “Jornal de Modinhas”. Ele próprio se perguntou por que investira nela tantos suspiros. Saltou no ponto seguinte e, anos depois, soube que ela se casara com um membro da família Lage, dona de metade do Jardim Botânico.
Mas o mundo da dança o fascinara e ele estava agora palpitando por outra bailarina: a muito jovem Eros Volúsia. Seu irmão Milton era amigo da mãe de Eros — a poetisa Gilka Machado, cujo verso “Sinto pêlos no vento” incendiara fantasias naquele defunto 1919. Gilka já não era um escândalo. Fora eleita “a poetisa do Brasil” pela revista “Fon-fon” e, agora, em 1932, tornara-se a admiração das celebridades. Sua filha Eros, de quinze anos, era uma revelação da dança. Gilka montara-lhe um estúdio na rua São José onde, aos sábados, Eros e seu grupinho amador davam récitas para convidados. Uma das “habituées” era dona Darcy Vargas, mulher de Getúlio e primeira-dama em pessoa. Outro que não faltava aos sábados — e, depois de algum tempo, em dia nenhum — era Nelson. E, a reboque, seu irmão Joffre.
Os dois se apaixonaram por Eros Volúsia. Mas, pensando bem, quem não? Era um pedaço de morena, com as pernocas torneadas por uma vida inteira de saltitos na ponta dos pés. Além disso, tinha idéias próprias, queria inventar uma dança “brasileira”, baseada em motivos do folclore. (Dali a dez anos, seria capa da revista “Life” nos Estados Unidos.) Nelson podia não acreditar, mas Eros Volúsia era o seu nome verdadeiro, coisas da imaginação poética de dona Gilka. E, por incrível que lhe parecesse, tinha certeza de que ela lhe dava bola. Não pensou mais: foi a dona Gilka e pediu a mão de Eros em casamento.
Gilka Machado gostava de Nelson e admirava-o por sua inteligência. Mas, ao contrário de outras mães, não estava com a menor pressa para ver-se livre da filha. Achava que ela ainda tinha muito a estudar antes de ver-se às voltas com trouxas de fraldas e criancinhas de peito. Foi delicada ao usar esse argumento para descartar Nelson. Além disso, aos vinte anos, não é que ele não fosse um homem feito, mas, no futuro, quem sabe etc.
Gilka não o deixou perceber que, naquele momento, não via esse futuro em Nelson. Com um furo no ombro do suéter, as fraldas da camisa para fora, barba de vários dias e coçando-se entre duas costelas, ele não impressionava muito. Nelson conformou-se. Continuou freqüentando o estúdio de Eros e ficaram, como se dizia, bons amigos. E, pelo que percebeu, Eros não cogitou de entrar para um convento por causa disso. Quem não se conformou foi Joffre, que podia ser tão pobre quanto Nelson e três anos mais novo, mas era de arder. Ele também foi correndo pedir a mão de Eros a dona Gilka e também voltou de mãos abanando — em quinze segundos cravados.
Recusado por duas bailarinas de verdade, Nelson poderia ter se dedicado à alternativa mais próxima: as garotas do teatro de revista, como faziam os seus amigos. Não tinha dinheiro para os ingressos, mas, como jornalista, podia entrar e sair até dos camarins. No palco, sob luzes coloridas, ao som da orquestra e com alguns palmos de pele estrategicamente à mostra, elas eram uma tentação. Mas, vistas de perto, eram um festival de varizes, estrias, celulites, cicatrizes, marcas de vacina e roxos de pancadas. Algumas eram subnutridas a olho nu. Outras tinham pneus, culotes e banha à vontade. E por que não seriam assim? Quase todas eram do Norte, algumas muito pobres; outras tinham sido comidas e abandonadas pelo namorado e, por isto, enxotadas de casa pelo pai. Sobravam para Nelson as grandes estrelas, mas estas já tinham seus coronéis, os homens que lhes davam palacetes no Flamengo e estação de águas em Caxambu.
Duas garotas gostaram de Nelson nos anos da fome: Clélia, uma estudante de Copacabana, e Alice, uma professorinha de Ipanema. Ele também gostava delas, mas nunca em igual medida. As duas se casariam com Nelson no minuto em que ele estalasse o dedo, o que ele tomava cuidado para não fazer. A mãe de Clélia não sabia disso e, como as outras, não queria ver a filha atrelada a um coitado. Pegou a menina, mudou-se de Copacabana e embrenhou-se na Zona Norte, para que ela esquecesse Nelson. Ele nunca mais a viu. Mas continuou vendo Alice, mesmo sem lhe dar qualquer esperança. Nos anos seguintes, nas idas e vindas de Nelson dos sanatórios para tuberculosos, ela estaria sempre à sua espera.
Começou com uma tosse seca e uma febre, baixa mas persistente, todas as tardinhas. Nelson estava muito magro. Sua irmã Stella já era médica e trabalhava como voluntária na Policlínica de Copacabana, onde era paga em fósforos e álcool. Pediu a seu colega de Policlínica, doutor Isaac Brown, que examinasse Nelson. Este o escutou, mandou-o dizer “33” e viu aquilo que, em 1934, era um fantasma: os primeiros sinais da tuberculose pulmonar.
Os jornais a chamavam de “a morte branca”, um nome que Nelson acharia “nupcial, voluptuoso e apavorante”. Não existia ainda a estreptomicina. Era uma doença tão fatal que, ao saber que estavam tuberculosos, muitos já se matavam de uma vez com formicida. Os três anos de pobreza e má alimentação, que haviam tornado Nelson vulnerável ao bacilo, finalmente vinham cobrar-lhe a conta. Não tinha dinheiro para as radiografias. Doutor Brown conseguiu-lhe radiografias gratuitas e estas deram positivo: tubérculos no pulmão direito, ainda em estágio inicial. Pena que não tivessem descoberto isso de saída.
Porque, quando finalmente tiveram certeza, outros já haviam imposto a Nelson a solução tenebrosa e costumeira para qualquer febre persistente e não identificada: extrair os dentes. Nelson teve de arrancá-los todos, quase perfeitos, e pôr dentaduras — e a febre continuou. Tinha 21 anos.
Confirmada a tuberculose, a solução estava também na popular paródia de um anúncio de xarope: “Tosse, bronquite, rouquidão?”. Quando se pensava que vinha o nome do “Bromil”, o outro fulminava: “Campos do Jordão!”. Um colega de Brown, doutor Aloísio de Paula, ele próprio ex-tuberculoso, conseguiu para Nelson uma vaga gratuita num sanatório. E então, em abril de 1934, Nelson tomou o trem para Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Lá, fez baldeação no bondinho e foi para onde iam as pessoas no seu estado: Campos do Jordão, a 360 quilômetros de sua casa na rua Visconde de Pirajá e a 1628 metros acima do oceano Atlântico. Sem saber se voltaria.
Tivera de pedir licença em “O Globo”, mas sua família não poderia abrir mão de seu salário integral. Mário Filho falara com Roberto Marinho e este abrira os braços:
“Mas, claro, Nelson continua recebendo do mesmo jeito!”
No paternalismo vigente nos jornais de então, tal atitude, apesar de magnânima, não era surpreendente. Esperava-se que o patrão fizesse isto. Nem todos faziam. Nelson, secretamente, esperara isso de Roberto Marinho e este não o desapontara. Mas ele confessaria depois que, nos seus pesadelos de febre em Campos do Jordão, imaginava Roberto Marinho suspendendo o seu salário e acordava banhado em suor. Se aquilo acontecesse de verdade — se tirassem dois mil réis de seu salário —, ele se via invadindo a redação de “O Globo” e matando Roberto Marinho. E, se Roberto não estivesse, mataria Herbert Moses, como Sylvia Seraphim fizera com seu irmão. Sem saber que era um vilão de pesadelo, Roberto Marinho nunca deixou de entregar os quinhentos mil réis de Nelson a Mário Filho.
O destino de Nelson em Campos do Jordão chamava-se Sanatorinho Popular. Era uma casa grande de madeira, no alto de uma colina, cercada de neblina, eucaliptos e borboletas. Uma espécie de “A montanha mágica”, de Thomas Mann, só que com Vicente Celestino pelo rádio no lugar de Wagner. Nelson foi recebido pelo doutor Hermínio Araújo, um homem de menos de trinta anos. A vaga gratuita que lhe haviam conseguido era de indigente. Para pagar sua estadia, teria de varrer o chão, trocar lençóis, servir a mesa. Nelson nunca fizera isto na vida. Nas poucas vezes em que pegara numa vassoura fora para cavalgá-la, imitando Tom Mix em seu cavalo “Tony”. Seu orgulho não permitiria fazer esses serviços. A alternativa era pagar 150 mil réis por mês. Naquele momento, Nelson não pensou em sua família. Preferiu pagar para não servir a mesa — ainda que isso levasse boa parte de seu salário e o troco tivesse de ser gasto nos exames de escarro.
Mesmo para os pagantes, o Sanatorinho não era o Toriba, o hotel chique de Campos do Jordão. A cama de Nelson ficava debaixo de uma janela, que dormia aberta, sob um luar que ele nem sabia que existia. Mas ficava numa enfermaria, ao lado de outras camas com outros homens prostrados. A rotina diária era café da manhã de sete às nove horas, almoço às 11h30, repouso de uma às três, jantar às seis, silêncio às nove. Tudo era respeitado, menos o silêncio. Depois da febre coletiva (que atacava à tarde, com uma pontualidade e persistência irritantes), havia a cacofonia de tosses. Elas começavam com o cair da noite e atingiam seu apogeu de madrugada, junto com o canto dos galos. As vezes alguém tossia demais, era levado a exame e não reaparecia pela manhã. Acontecia também de Nelson conversar com alguém de manhã, o sujeito sumir durante o dia e já não aparecer no dia seguinte.
Os caixões saíam sempre à noite, não importava a hora que se tivesse morrido. Não porque o Sanatorinho ficasse esperando que os parentes viessem se despedir do morto, mas para não deprimir ainda mais os outros doentes. Visitas eram artigo de luxo e o normal era que as pessoas fossem internadas ali e esquecidas pelas famílias. (Ao sair, as raras visitas passavam álcool no corpo.) O próprio Nelson, nos pelo menos catorze meses que passou daquela vez no Sanatorinho, de abril de 1934 a junho de 1935, só teve duas visitas, e ambas ao mesmo tempo: Milton e Augustinho. Suas irmãs nunca puderam ir — não havia dinheiro. Compensavam a ausência escrevendo-lhe cartas. Nesse ponto Nelson era um privilegiado: raro o dia em que não tinha uma carta. Muitas delas eram de Alice, a professorinha.
Seus colegas nem isso. Todos os homens ali se sentiam traídos pelas mulheres que haviam deixado para trás e passavam o dia alimentando desejos de vingança por essas traições imaginárias, talvez reais. Sexo era o pensamento constante da maioria. De repente podia-se ver três ou quatro ereções sob aquelas calças de pijama, sem cuecas. Um dos motivos para essas ereções inúteis talvez fosse a febre moderada. Mas o principal era a abstinência forçada, de meses e até de anos, a que eles estavam sujeitos. Donde qualquer movimentação feminina que se percebesse da janela, mesmo ao longe, inspirava uma maratona de masturbações.
As irmãs de Nelson não podiam mandar-lhe livros, revistas ou jornais, tanto quanto gostariam. Às vezes mandavam-lhe suéteres, tricotados por Helena. Cada suéter continha lã de diversas cores, mas não era de propósito. Helena começava com uma cor; a lá acabava e não havia dinheiro para comprar mais; quando o dinheiro aparecia, ela já não encontrava uma lá igual; então comprava de outra e continuava tricotando assim mesmo. O resultado final não fazia sentido, o suéter parecia pintura moderna. Mas Nelson tinha de usá-lo porque, nos piores meses do inverno, a temperatura caía a cinco abaixo de zero. Luvas, toucas, gorros, cachecóis, nada parecia deter o gelo. Suas orelhas, nariz e bochechas doíam. Nelson resolveu deixar crescer a barba e o bigode para esquentar o rosto. Em pouco tempo desistiu: a barba era cerrada e preta, como seu cabelo. Mas o bigode não combinava — era vermelho.
Dormia-se de janelas abertas para ventilar os pulmões. Os banhos também eram frios — na verdade gelados, por causa da temperatura. Curiosamente, ninguém era proibido de fumar. Como não havia nada melhor a fazer, fumavam como loucos. Grande parte do tratamento consistia em repouso, alimentação e ar puro. Muita alimentação, e quase toda à base de feijão: sopa de feijão, caldo de feijão, feijão com ovo cru. Os doentes em pior estado submetiam-se a medidas mais drásticas: o pneumotórax, que consistia em injetar ar entre o pulmão e a pleura, e a temida toracoplastia, que significava o afastamento ou a extração de uma ou mais costelas.
Nelson nunca teve de submeter-se à toracoplastia, mas, pelos anos seguintes, seria recordista de pneumotórax. O grande terror de todos era a hemoptise — os escarros com sangue, um indício de que grande parte do pulmão estava comprometido. Nelson viu vários de seus colegas levarem o lenço à boca numa crise de tosse e o trazerem tinto de sangue. Nunca imaginou que o sangue pudesse ser tão vermelho. Ele próprio, sempre que tossia, levava a mão fechada à boca e a examinava neuroticamente, procurando respingos suspeitos.
Um dia, já em 1935, um doente teve a idéia de encenarem um teatrinho, uma comédia. Por que não? Tinham o elenco (um ou outro homem se vestiria de mulher), a platéia (os enfermeiros e os doentes em pior estado) e até mesmo o autor: Nelson. Afinal, ele não era jornalista e, ainda mais, de “O Globo”? Nelson gostou da idéia. Escreveu um “sketch” cômico sobre eles mesmos, criou situações em que todos poderiam se reconhecer. A platéia, logo às primeiras cenas, começou a gargalhar e foi uma patuscada geral. Alguns, de tanto rir, tiveram acessos de tosse, e só por isso a brincadeira não se repetiu. Texto e título desse “sketch” se perderam, mas foi ele, e não “A mulher sem pecado”, cinco anos depois, a primeira experiência, digamos, dramática de Nelson Rodrigues.
Em meados de 1935, com os pulmões cicatrizados, Nelson foi mandado para casa. Despediu-se dos colegas sabendo que nunca mais os veria — ou porque nunca mais voltaria ali ou porque, se voltasse, eles já teriam ido embora ou morrido. Os enfermeiros incendiaram seu colchão, como era o costume com os que saiam.
Duzentas vezes mais gordo e saudável do que na ida, ele fez de volta o trajeto Campos do Jordão-Pindamonhangaba pelo bondinho e Pinda-Rio, de trem. Ao chegar, encontrou sua família em situação relativamente melhor, embora numa casa diferente da mesma rua Visconde de Pirajá. Durante meses, divertiu-os contando histórias do Sanatorinho com uma graça fúnebre.
Muitos anos depois, sempre que tocasse nesse assunto, Nelson diria que passara aquela temporada em Campos do Jordão e voltara bom. Dava a entender que sua tuberculose acabara ali. Talvez não quisesse estender-se no assunto, para não reviver o sofrimento. O que aconteceu na realidade foi que ele teria pelo menos cinco recaídas graves nos anos seguintes, voltaria para o Sanatorinho outras três vezes e se submeteria a pneumotórax e, finalmente, a tratamentos com estreptomicina até 1949.
Ou seja, teria a tuberculose como companheira durante quinze anos.
Enquanto Nelson lutava por seus pulmões em Campos do Jordão, Mário Filho sustentava a retaguarda familiar e tentava a tacada mais importante de sua vida profissional.
Em 1933, o futebol brasileiro se dividira entre os que defendiam a sua conversão ao profissionalismo e os que insistiam em que ele se conservasse singelamente amador — o que ele já não era, porque os clubes viviam dando gorjetas aos jogadores. (Era o “amadorismo marrom”, numa referência à imprensa idem.) Uma das davas que provocaram esse racha fora uma entrevista de Mário Filho em “O Globo” com o craque Russinho, aquele a quem o Vasco da Gama dera uma baratinha de que fala o samba “Quem dá mais?”, de Noel Rosa. A barata “Chrysler” fora um presente de pai para filho caçula. Normalmente o Vasco dava a Russinho (e a todos os seus jogadores) cem ou duzentos mil réis depois de cada jogo, “para condução e jantar”.
“Se é para condução, é muito”, disse Russinho a Mário Filho. “Se é para gratificação ou salário, é pouco. Afinal, somos profissionais ou amadores?”
A entrevista repercutiu como uma bomba. Fora certamente autorizada pelo presidente do Vasco, Ciro Aranha, irmão de Oswaldo Aranha. Ciro batia-se pelo profissionalismo e conseguiu cooptar Arnaldo Guinle, presidente do Fluminense, e José Bastos Padilha, do Flamengo, para a sua luta. O Botafogo e alguns clubes pequenos ficaram contra. Em São Paulo a mesma coisa: uns de um lado, outros de outro. Houve a grande cisão, formaram-se ligas diferentes e cada estado passou a ter dois campeonatos paralelos: o dos “amadores” e o dos profissionais.
Mário Filho empenhou-se na campanha do profissionalismo. Não achou difícil optar. Primeiro, porque sabia que o certo era que os jogadores fossem pagos para jogar. Segundo, porque Arnaldo Guinle era um velho amigo do Fluminense — e porque Bastos Padilha era seu cunhado (casara-se com Lília, irmã de sua mulher Célia) e, agora, os quatro moravam juntos na casa dos pais delas, na estrada da Gávea.
Mário Filho tornara-se uma celebridade nos meios esportivos. Era tão famoso quanto os atletas. Podia ser visto à beira dos gramados, das quadras, dos ringues, das pistas e das piscinas, perguntando e anotando tudo. Freqüentava também os bares e cafés favoritos de cada time: o Flamengo no “Rio Branco”, o Vasco no “Capela”, o América no “Mourisco”. Até que começou a marcar suas entrevistas no “Nice”, na Galeria Cruzeiro, apenas porque ficava ao lado de “O Globo”. O jornal deu-lhe uma verba para o cafezinho. O “Nice” até então era um café como os outros, simpático, sem nada de especial. Mas, a partir de 1932, depois de Mário Filho, o pessoal do futebol e do boxe passou a freqüenta-lo e, como sempre, a turma do samba o seguiu — entre os quais Noel Rosa, com quem Mário Filho sentou-se várias vezes. Muitos jogadores e sambistas eram tesos. Havia quem levasse o próprio limão e uma colher, pedisse água e açúcar e ficasse horas tomando a sua limonada de graça. Mário Filho pagava-lhes um cafezinho e arrancava boas entrevistas.
Foi no “Nice” que Mário Filho cozinhou com os dirigentes dos clubes a cobertura do novo campeonato entre os profissionais. Os clubes eram poucos, teriam de jogar várias vezes entre si no mesmo turno e returno — quem teria motivação para ver o Flamengo pegar o Fluminense cinco ou seis vezes por ano? Mário Filho lembrou-se de que, em 1925, um cartola chamado Joaquim Guimarães formara uma seleção carioca apenas com os jogadores dos dois times e lhe dera o nome de “seleção Fla-Flu”. E que, no fim daquele mesmo 1925, a companhia Tro-lo-ló, de Jardel Jércolis, encenara uma revista musical no Teatro Glória chamada “Fla-Flu”. Por que não relançar — ou reinventar — aquela sigla?
Através de “O Globo”, Mário Filho passou a promover o Fla-Flu. Inventou o campeonato de torcidas. Na semana de cada jogo estimulava os torcedores a se superarem. Os grupos mais criativos, mais festivos e mais organizados ganhariam taças e medalhas. Premiava o primeiro torcedor a chegar ao estádio. Sorteava uma geladeira entre a torcida. Rubro-negros e tricolores despertaram e começaram a aparecer o mar de bandeiras, os torcedores uniformizados, as charangas e, nos jogos noturnos, as lanternas, os fogos e os balões, tudo com as cores de Flamengo e Fluminense. Os torcedores levavam tambores de escola de samba, pratos de banda militar, clarins e até sinos. Mário Filho transformou o domingo de Fla-Flu num domingo de carnaval. E ele que não economizasse idéias para sustentar o interesse das torcidas porque, em vez dos habituais dois ou três Fla-Flus por ano, houve seis no campeonato carioca de 1934; no de 1935, mais seis; e, no de 1936, nada menos de dez! Desses 22 Fla-Flus em três anos, o Fluminense ganhou sete, o Flamengo seis e houve nove empates.
Mário Filho apenas não inventou a sigla. Tudo o mais no Fla-Flu moderno foi inventado por ele. Folclorizou torcedores ilustres de cada time e transformou o passado do jogo Flamengo e Fluminense numa saga. Quando escrevia sobre “o Fla-Flu de 1919”, era como se estivesse contando um capítulo da história mundial. E, quando parecia que o interesse pelo jogo começava a decair, algo acontecia que reativava o seu mistério.
Como o Fla-Flu da decisão de 1941, disputado no campo do Flamengo, já na Gávea — em que o Fluminense, para segurar o empate que lhe daria o campeonato, faltando seis minutos de jogo, começou a chutar a bola para a lagoa Rodrigo de Freitas, torcendo para que ela não voltasse e o jogo acabasse. Os remadores do Flamengo caíam n’água, pescavam a bola e a devolviam ao campo, mas o Fluminense a chutava de novo na lagoa. O cronometrista (que o futebol ainda usava) parava o relógio, mas, depois de algum tempo, ninguém mais sabia quando os benditos seis minutos deviam acabar. Mário Filho transformou aquilo no “Fla-Flu da lagoa” e escreveu páginas a respeito — que até o torcedor do Flamengo adorava ler, embora o Fluminense tivesse acabado campeão.
Quando o futebol estava meio morno, Mário Filho passava a promover o jiu-jitsu, o remo, a natação, o boxe ou o “Circuito da Gávea”, que era a “Fórmula 1” da época. Não era, mas ficou sendo. O primeiro “Circuito da Gávea”, em 1933, fora um fiasco. Mário Filho analisou a coisa e viu que, apesar de ser o circuito mais bonito do mundo, precisava de promoção. Para o de 1934, começou a falar dele em “O Globo” com meses de antecedência. Dava entrevistas com os possíveis corredores, registrava as inscrições dos volantes estrangeiros, explicava as características dos carros. Ninguém entendia por que “O Globo” estava gastando espaço de primeira página com aquele assunto. Mas a expectativa fora criada. No dia do circuito, os outros jornais viram-se obrigados a cobri-lo. Se bobeasse, todos iam dar a sua matéria.
Mas Mário Filho tinha seus ases na manga: escalou repórteres amadores nas curvas principais do circuito e monopolizou o telefone de um ponto de táxis em frente ao Hotel Leblon — de onde passava para a redação os detalhes de cada volta, descrevia os acidentes e entrevistava os volantes que paravam para abastecer. “O Globo” tirou sete edições naquele dia, engoliu a concorrência e, a partir de 1935, o “Circuito da Gávea” entrou para valer no calendário esportivo brasileiro. No ano seguinte, o duelo Von Stuck x Pintacuda levaria mais de duzentas mil pessoas à Gávea.
Em 1936, Mário Filho já era uma potência jornalística em todo o Rio, e continuava sem poder pagar do seu bolso um cafezinho a um aspirante do São Cristóvão. Foi quando Arnaldo Guinle e José Bastos Padilha lhe propuseram comprar o “Jornal dos Sports”, que Argemiro Bulcão estava querendo vender. Comprar como, sem dinheiro? Guinle e Padilha comprariam pequenas partes cada um, emprestariam-lhe o dinheiro para ele comprar o grosso e Roberto Marinho compraria o resto. O jornal seria rodado em “O Globo”, ali mesmo, na rua Bethancourt da Silva. Parecia muito fácil. E era mesmo — mas o jornal só era viável porque Mário Filho iria dirigi-lo.
O negócio foi feito e, em agosto de 1936, um Rodrigues tornara-se de novo proprietário de jornal. A vida voltava a parecer-lhes cor-de-rosa — a cor do papel em que se imprimia o “Jornal dos Sports”.
Se não fosse, é claro, pela tuberculose de Joffre.
Naquele domingo de abril de 1936, Joffre passara o dia na praia com Augustinho. Joffre era um personagem do Arpoador — atlético, falante, namorador. A gana profissional que o levara rapidamente a ser editor da seção de esportes de “A Nota” e do “Diário Carioca”, conciliando tudo isto com o seu emprego de repórter em “O Globo”, fazia dele, agora, aos 21 anos, o mais promissor dos jovens Rodrigues — mais do que Nelson, cuja saúde, mesmo depois da temporada no Sanatorinho, ainda não o habilitava a concorrer às Olimpíadas de Munique. Tanto quanto os outros, Joffre sofrera os rigores da fome de sua família. Mas seu jeito exuberante fizera com que desse a impressão de ter sido o menos atingido. Adorado no meio do futebol e do samba, a vida lhe parecia um permanente carnaval — e não faltavam companheiros de noitadas para ver com ele o nascer do sol. Além disso, havia as propriedades nutritivas da cerveja, da qual Joffre, como seu pai, era um decidido adepto. Boêmio, se esta era a palavra que você estava procurando.
Não foi culpa da praia, evidentemente, apesar do sol de quarenta graus que fizera aquele dia. Mas Joffre voltou para casa à noitinha com quase tantos graus de febre. Foi o que os alertou. Nas semanas anteriores, vinha emagrecendo e perdendo cabelo. E só então repararam em sua tosse seca. Doutor Silvio Moniz, o mesmo médico que cuidara de Mário Rodrigues, foi chamado. Otimista como sempre, Silvio Moniz receitou gemadas e fortificantes. Joffre não melhorava. Outro médico, o doutor Ari Miranda, mandou-o tirar radiografias, examinou-as e disse em voz baixa:
“É gravíssimo.”
As irmãs pensaram logo em Lamartine Babo. O autor de “O teu cabelo não nega” era amigo íntimo de Joffre e fora também tuberculoso. Quando Lamartine falava, cada palavra correspondia a um perdigoto. E se estes ficassem flutuando no espaço, contendo milhares de prováveis bacilos de Koch prontos para atacar?
A suspeita de que tivesse sido Lamartine o transmissor da doença de Joffre não tinha fundamento, considerando-se que o seu irmão mais intimo — Nelson — acabara de passar por uma doença igual. O próprio Nelson sabia disto e não se conformava. Tanto que, quando se decidiu que Joffre iria para um sanatório em Correias, distrito de Petrópolis — e Joffre disse que não queria ir sozinho —, Nelson insistiu em ir junto.
Por que Correias, e não Campos do Jordão? Porque era mais perto, a menos de uma hora do Rio. Joffre não ficaria tão só, como Nelson tinha ficado. Os irmãos poderiam visitá-lo. Mário Filho conseguira que um benemérito do Fluminense, doutor Sotto Mayor, se responsabilizasse pelas despesas da internação. Geraldo Rocha, patrão de Joffre em “A Nota”, não teve grandeza: cortou-lhe o salário. Roberto Marinho teve outra atitude: continuaria pagando o seu salário integral e, mais uma vez, o de Nelson, enquanto eles estivessem fora.
Mas novos exames confirmaram que Joffre não voltaria de Correias. Tinha tuberculose miliar, que o vulgo chamava de galopante — uma tuberculose que atingia todo o pulmão e podia se espalhar também pelos rins, intestinos e outros órgãos. Só Joffre nunca soube que não voltaria. Nelson, à sua cabeceira durante quase sete meses, cuidou para que ele nem desconfiasse.
Enquanto acompanhou o calvário do irmão no balão de oxigênio, Nelson reviveu todas as madrugadas tenebrosas no Sanatorinho, como se tudo aquilo fosse de novo com ele. E de certa forma era mesmo, porque Joffre era o seu irmão mais próximo, o de ligação mais forte entre os seus irmãos mais novos. Quando Joffre piorou para morrer, Nelson mandou chamar os outros.
Subiram Milton e as irmãs. Joffre morreu no dia 16 de dezembro daquele ano de 1936. Augustinho e Mário Filho foram buscá-los — e buscar Joffre, que seria enterrado no Rio, com o túmulo dado pelo Flamengo. Seus amigos resolveram ir também e, com isso, um cortejo de carros desceu pela Rio-Petrópolis trazendo-o.
A miséria, a doença e a morte, para os Rodrigues, tinham sido conseqüência de um único tiro de Sylvia Seraphim em 1929. Aquele tiro acabara de fazer mais uma vítima entre eles. Quem seria o próximo?
Era o que todos se perguntavam. E não servia de consolo saber que, quando Joffre morreu, Sylvia Seraphim já havia também encontrado o seu fim.
— 1937-1940 — BEIJOS NA ALMA
Depois de absolvida em agosto de 1930 pela morte de Roberto, Sylvia não voltou ao local do crime. Mas voltou, muitas vezes, ao do julgamento. Ficara tão encantada com os torneios verbais entre os advogados durante o seu caso — comparou-os a um duelo de floretes — que passou a freqüentar o Tribunal do Júri para assistir ao julgamento dos outros. Decidiu que um dia se tornaria advogada, sem prejuízo de sua carreira literária. Seus dois filhos com o médico moravam agora com os avós. Em 1936, finalmente reuniu os documentos escolares e matriculou-se na Faculdade de Direito de Niterói. Não existia o exame vestibular e as faculdades contentavam-se com os certificados de conclusão do segundo grau.
Mas, antes disso, em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, Sylvia conhecera o tenente-aviador do Exército, Armando Serra Menezes. Apaixonou-se, tiveram um caso e um filho, Ronald. Ela e o garoto foram morar com o oficial na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, RJ. Mas Sylvia queria casar, de papel passado. O que era impossível no Brasil por ela ser desquitada.
Mas seria possível no Uruguai, se Sylvia cumprisse um “estágio” de residência naquele país. Quando o presidente Vargas foi ao Prata em visita oficial, o tenente fez parte da comitiva e Sylvia foi junto como sua mulher. Como já estava por lá, resolveu que cumpriria esse “estágio” em Montevidéu. Menezes voltaria para Resende e, ao fim do tempo necessário, iria ao seu encontro para se casarem.
Sylvia já estava há sete meses no Uruguai quando ouviu a espantosa notícia de que Menezes ficara noivo de outra mulher no Brasil — uma jovem grã-fina carioca. Pegou seu filho, de menos de quatro anos, tomou o primeiro navio e veio ao Rio averiguar. Menezes levantou as mãos ao céu e negou. De qualquer maneira, não podiam casar-se tão cedo — explicou —, porque acabara de ser transferido para Curitiba e queria primeiro adaptar-se. Sylvia então ficou no Rio e se matriculou na Faculdade de Direito de Niterói. Poucos dias depois, pipocou a bomba: a faculdade a acusava, a ela e a outros, de ter falsificado os documentos para matricular-se. Um juiz fluminense pediu a sua prisão, incorrendo-a no artigo 338 da Consolidação das Leis Penais — “falsidade ideológica”, sem direito a fiança. Mês e ano eram abril de 1936.
Enquanto pensava na melhor maneira de defender-se, Sylvia achou melhor esconder-se com o menino em Curitiba. Viajou para lá. Mas Menezes ouviu o seu problema e não a acolheu. Não queria saber de encrencas para o seu lado. E, para consumar o fora que lhe estava dando, admitiu que era verdade a história do noivado com a grã-fina. Sylvia ficou com o ego em tiras. Voltou arrasada para o Hotel Metropol, onde estava hospedada em Curitiba, e, naquela madrugada do dia 21 de abril, cortou os pulsos com gilete.
Não morreu, porque os empregados do hotel ouviram os seus gritos e os do garoto e a socorreram. Menezes convenceu-se de que ela poderia atrapalhar sua carreira no Exército e denunciou-a à polícia de Curitiba. Esta se comunicou com Niterói e Sylvia foi presa no próprio hotel, com. os pulsos enfaixados.
A pedido da polícia de Niterói, Sylvia e seu filho foram embarcados para o Rio no vapor “Comandante Alcídio”, acompanhados de um investigador. Sylvia chegou no dia 23, sob enorme cobertura da imprensa, e foi levada direto para a Casa de Detenção de Niterói. Os repórteres, que há tempos não a viam, relataram que ela parecia fraca e nervosa, mas não deixaram de elogiar sua beleza. Por algumas horas, voltou a ser “Cendrillon” ou “Petite source”: os jornais reconstituíram o caso Roberto Rodrigues, a campanha de “Crítica” contra ela e a sua absolvição. Todos ainda lhe eram simpáticos. Sylvia alegou inocência no caso das falsificações, dizendo que fora enganada por um despachante.
Devido à recente tentativa de suicídio, foi colocada na enfermaria da Casa de Detenção — como sempre, com regalias especiais. A porta de sua cela ficava aberta e o filho brincava pelos corredores da prisão. Seu vizinho de cela, Agapito Moacir, era um homem educado e atencioso. Ninguém acreditava que tivesse assassinado barbaramente a própria mulher. Sylvia não andava se sentindo bem. O médico a examinou, ela se queixou de insônia e ele lhe receitou um sonífero, “Veronal”. Às três da manhã do dia 27, Sylvia tomou o vidro inteiro de “Veronal”.
Enquanto agonizava, arrancou as ataduras e cravou as unhas nos pulsos, reabrindo os cortes. O filho dormia ao seu lado e, desta vez, não acordou com os fracos gemidos. Foi encontrada morta na manhã seguinte por Agapito. Sylvia estava mergulhada numa poça de sangue, mas, segundo o médico, o que a matara tinham sido as cinco gramas de “Veronal”. Ao lado de sua cama, na cela, um romance: “A mulher de trinta anos”, de Balzac. Sylvia tinha 33 anos.
A família Rodrigues reagiu friamente à morte de Sylvia Seraphim. Estavam mais preocupados com Joffre, que acabara de ser internado em Correias. Nos primeiros dias, foi como se tivessem feito um pacto de silêncio sobre o assunto. Ninguém disse bem feito e muito menos coitada. E, desde então, nunca mais escreveram ou pronunciaram o seu nome. Quando tinham de referir-se a ela, tratavam-na apenas de “a assassina”. (E até hoje é assim.)
Um único Rodrigues saiu de seus cuidados por causa da morte de Sylvia Seraphim: Nelson. Assim que soube da noticia, deixou Joffre em Correias, tomou um trem para o Rio e correu para a redação de “O Globo”. Queria acompanhar de perto aquele desfecho que ninguém esperava. No passado, Sylvia lhe parecera tão poderosa, tão invencível, que ele chegara a considerá-la imortal. E, agora, ali estava ela naquela foto, tão morta quanto seu irmão e seu pai, e pelas mesmas mãos — as dela própria.
Sem pena e sem júbilo, Nelson apenas tomou o trem de volta para Correias, onde sabia qual seria o desfecho para Joffre. Era como se, mesmo morta, Sylvia ainda tivesse em suas mãos o destino de Joffre e não quisesse poupá-lo.
E não apenas o destino de Joffre. Quando ele morreu e todos voltaram para o Rio, Nelson não levou mais de um mês para reconhecer em si mesmo os velhos sintomas. Já sabia o que significavam — aprendera a identificar sua tuberculose. Ficara quase quinze dias sem comer, deprimido pela morte de Joffre. Seu sentimento de culpa o torturava e ninguém lhe tirava da cabeça a certeza de que fora o transmissor. A doença encontrou ali o nicho perfeito para instalar-se de novo. E, assim, em fevereiro de 1937, Nelson voltou para o Sanatorinho. Não quis Correias. Quis Campos do Jordão, por mais isolado que fosse ficar. E, achassem ou não aquilo macabro, já se sentia em casa no Sanatorinho. Os poucos sobreviventes que reencontrou eram como sua segunda família.
Desta vez foi uma temporada mais curta. Em meados do segundo semestre de 1937 estava de volta, grotescamente gordo — uma gordura que não lhe assentava, como se estivesse usando algodão nas bochechas e barriga de travesseiro. Sua mãe e irmãos tinham se mudado de novo, moravam agora em Copacabana, mas todos pareciam estar dando um jeito na vida. Mário Filho conseguira levantar o “Jornal dos Sports” e continuava em “O Globo”. Milton escrevia sob pseudônimo para o teatro de revista e começava a se meter em cinema: ia escrever e dirigir para Ademar Gonzaga um filme sobre o Flamengo, “Alma e corpo de uma raça”. Augustinho, aos dezenove anos, herdara o posto de Joffre na seção de esportes de “A Nota” e do “Diário Carioca”. Stella fora promovida a diretora da cardiologia da Policlínica de Copacabana. E Maria Clara tornara-se estenógrafa. O espectro da fome já não rondava aquela casa.
Quem morrera, e nas circunstâncias mais tristes, fora seu tio Augusto, irmão de Mário Rodrigues. Mudara-se para o Rio há alguns anos, abrira seu consultório dentário e estava negociando com artes. Mas trouxera de Pernambuco o seu insaciável espírito boêmio, que o fazia passar um ou dois dias sumido de casa. Sua mulher e seus filhos Augusto e Netinha já nem se preocupavam mais. Mas, daquela vez, o velho Augusto estava demorando um pouco a voltar. E com razão: três dias antes, despedira-se de uma senhorita com quem tinha passado algumas horas, preparava-se para atravessar a rua e fora atropelado por um carro, bem defronte ao relógio da Glória. Morte instantânea. Não tinha um tostão ou um documento no bolso. Recolheram-no e o enfiaram, nu, numa gaveta gelada do Instituto Médico Legal, na Lapa. Foi onde a família o encontrou, tantos dias depois.
A vida retomaria o seu curso e Nelson tinha planos para si próprio em “O Globo”. Não agüentava mais escrever sobre esporte. Os jornais tinham a mania de publicar a foto do repórter com o entrevistado. Nelson morrera de vergonha ao se ver no clichê ao lado do “Homem-peixe”, um sujeito que nadara do Rio a Paquetá. Não era uma situação primorosa para alguém que, como ele, era um leitor de Dostoiévski — embora pronunciasse Dostoiévski.
A custo conseguiu que o tirassem do esporte e o transferissem como redator para “O Globo Juvenil”, o tablóide de histórias em quadrinhos que “O Globo” acabara de lançar. Mas havia um assunto de que se julgava especialista e sobre o qual queria escrever de qualquer jeito: ópera.
Quando Nelson falara disso, quase dois anos antes, com o secretário do jornal, Alves Pinheiro, este quase caíra da cadeira. Nunca julgara Nelson capaz de saber que Rossini era mais que um filé. De onde ele tirara a idéia de que poderia escrever sobre ópera? Das centenas de óperas que ouvira pelo rádio, disse Nelson, já que há anos sua família não tinha discos nem vitrola. E, quando essa vitrola existia, dos carusos e galli-curcis que seu irmão Milton tocava o dia todo. Quanto a Rossini, sabia que era o autor de “O barbeiro de Sevilha” — mas não sabia que era também um filé.
Com o apoio de Roberto Marinho, Nelson convenceu Alves Pinheiro a aceitá-lo e sua primeira crítica saiu a 30 de março de 1936: um ataque arrasador a “Esmeralda”, uma ópera brasileira do veterano compositor Carlos de Mesquita. Nelson chamava Mesquita de “romântico retardado” e recriminava-o por ter ido buscar inspiração na velha “Notre-Dame de Paris”, de Victor Hugo, quando poderia ter incorporado à sua ópera “a impaciência nevrótica dos barulhos que nos cercam: o estardalhaço dos bondes, das carroças, dos vagões, a sirene das fábricas, a velocidade das rotativas, os pregões, as campainhas, as brocas de asfalto, o uivo nostálgico das locomotivas, o apito do vapor”. Depois deste apelo modernista, Nelson se queixava de que, na visão de Mesquita, a heroína Esmeralda era “um ser sem complexos, sem recalques e cujas excitações são maravilhosamente controladas e atenuadas”. Como se já não bastasse à pobre Esmeralda ser a namorada do corcunda.
“Eu me pergunto”, continuava Nelson no artigo, “o que pode representar esta senhorita como documento de dor, de alegria e, por último, como documento humano?” Em seguida, sugeria ao compositor que saísse do passado e desse um pulo à janela: “Se o maestro se dispusesse a investigar bem, concluiria surpreso que, na sua própria rua, existem personagens à altura de uma ópera, e personagens já urbanizados, humanizados, dramatizados pela vida mesma. Em suma: gente que vai sofrendo, sonhando, amando e sorrindo, não com poses convencionais, e sim histérica e grotescamente, com esgares, caras feias, ríctus tremendos, babas de ódio, medo e lascívia. O maestro precisa conhecer melhor os seus semelhantes. Lembro ainda que procure adquirir uma certa cultura freudiana”.
É fácil imaginar o susto que Carlos de Mesquita, já velhinho e coberto de ouropéis, deve ter levado. Estava quieto no seu canto, dedicando suas fusas e colcheias a um mundo morto, e vinha este moleque exigir que ele compusesse para buzinas, falasse de tarados e ainda lesse Freud! (Não que o próprio Nelson tivesse lido Freud em 1936, mas as idéias do pai da psicanálise já eram conhecidas em alguns círculos do Rio e eram vulgarizadas pelos jornais, geralmente para ser atacadas. Freud era então o tarado oficial.)
A carreira de Nelson como crítico de ópera foi interrompida naquele primeiro artigo porque, em seguida, Joffre caiu doente e Nelson subiu com ele para Correias. E, logo depois, fora Nelson que tivera a sua recaída da tuberculose e voltara para Campos do Jordão. Um ano e meio se passou e, assim que se viu de novo no Rio, em fins de 1937, reassumiu a sua vaga em “O Globo Juvenil” — e passou a revezar com o critico Oscar d’Alva a coluna” ‘O Globo’ na arte lírica”. E, até 1943, escreveu (assinando-se N. R.) sobre as temporadas do Municipal com uma autoridade de que ninguém poderia suspeitar. Alguns dos espetáculos que cobriu foram “Madame Butterfly”, com Violeta Coelho Neto; “Traviata”, com Alsy de Ériane; “O barbeiro de Sevilha”, com Alma Cunha Miranda; e “La bohème”, com Maria de Nazareth Leal.
O Teatro Municipal ainda não estava sob controle oficial. O Estado entregava sua programação a valentes empresários particulares, que bancavam a vinda dos cartazes italianos e irlandeses, como Giaccommo Lauro-Volpi e Lawrence Tibbett, e tornavam o Rio uma das capitais internacionais da ópera. Um desses empresários, o também maestro Silvio Piergilli, tornou-se amigo de Nelson e deu-lhe trânsito livre no Municipal, tanto nos concertos quanto nos ensaios.
Ora, a ópera não é mais do que o teatro cantado, com o mesmo entra-e-sai de gente em cena, telões que sobem e descem, luzes que se apagam aqui e acendem ali — donde a experiência de Nelson, de ver peças inteiras sendo ensaiadas e a carpintaria teatral materializando-se diante de seus olhos, foi fundamental para que ele em breve se tornasse o autor de “A mulher sem pecado” e “Vestido de noiva
E dai? — perguntará você. Todo dramaturgo tem de aprender em algum lugar. Sim, mas acontece que, no futuro, Nelson diria em inúmeras entrevistas que, antes de começar a escrever teatro, sua única experiência com o assunto fora assistir a “burletas de Freire Jr.” e ter lido “Maria Cachucha”, de Joracy Camargo. Durante anos dedicou-se com meticulosa insistência a passar por primitivo. Por que isso?
Por ter visto frustrada a tremenda ambição intelectual que alimentara desde jovem. Omitir sua intimidade com a ópera ao vivo e fingir que, em teatro, não sabia a diferença entre o “ponto” e o “vaga-lume” faziam “Vestido de noiva” parecer ainda mais impressionante.
Mas Violeta Coelho Neto, um dos grandes sopranos líricos de seu tempo, recorda como Nelson discutia sobre as propriedades vocais e dramáticas dos cantores. Falava em “firmeza e limpidez dos agudos”, “volume nos médios” e “sustentação dos pianíssimos” com uma propriedade impressionante para quem, como ela sabia, “não era um musicista”. E seu conhecimento não se limitava ao rádio e aos discos. Ele simplesmente vivia no teatro. Ou então na casa de Gabriela Bezansoni Lage, a soprano ligeiro que partia cristais com a voz até quando dizia coisas corriqueiras como “Passe-me o açúcar”. Bezansoni era a festejada diretora da Companhia Lírica Brasileira e sua casa, para quem não sabe, era o que hoje conhecemos como o Parque Lage.
Havia outro motivo para que Nelson escrevesse sobre ópera e, nas raras vezes em que o deixavam, também resenhasse livros: como era redator de “O Globo Juvenil”, cada artigo em “O Globo” era pago por fora, como se fosse um “pro-labore”. E, nem que fosse um tico-tico, ele precisava do dinheiro.
Não porque sua família ainda estivesse com a fome às portas, que já não estava. É que, de repente, dera-lhe uma vontade incontrolável de casar.
A redação de “O Globo” em 1937 era uma chusma de varões. Uma única mulher iluminava o ambiente: a telefonista dona Maria, e mesmo assim entrada em anos. E, de repente, o contingente feminino dobrara. Mário Mello, diretor administrativo do jornal, convencera Roberto Marinho a contratar Elza, irmã de um amigo seu, como secretária de Henrique Tavares, gerente de “O Globo Juvenil”. Não se tratava de filantropia. “O Globo Juvenil” comprava muito material americano, os contratos tinham de ser datilografados bonitinhos, Elza era diplomada pela “Remington”. Roberto Marinho não queria, mas cedeu. Poucas semanas depois, Nelson voltou de sua segunda temporada no Sanatorinho e anunciou que iria retornar ao trabalho. Dona Maria fez um ar conspiratório e foi logo lhe contar:
“Tem mulher na redação!” — como se ela não fosse uma.
Nelson quis saber quem era, como era, de onde era. De posse das informações — Elza Bretanha, dezenove anos, moradora do Estácio e dura na queda —, sentenciou:
“Está no papo.”
Não estava. Assim que farejou as intenções de Nelson, Elza foi logo avisando:
“Comigo, só casando!”
Aos 25 anos completos, esta não era uma idéia que o sofrido e carente Nelson contemplasse com horror. Muito ao contrário. Desde os dezessete — desde a morte de Roberto —, não tivera um dia sem aquela sensação de maldição pendente sobre sua cabeça. Oito anos durante os quais, dia após dia, o destino lhe roubara alguém ou alguma coisa. Mas, agora, os ventos pareciam estar soprando a maldição na direção do mar. Elza era uma boa moça. Aproximou-se dela e não lhe escondeu sua situação precária, de dinheiro e de saúde — é verdade que caramelando-a com juras dignas de um libreto de opereta. Ao ver que estava sendo bem recebido por ela, seu rosto floriu. Antes mesmo do primeiro beijo, já falaram em casamento.
Nelson consultou sua família e não encontrou objeção. Sua mãe e irmãs se arranjariam sem ele, que já tinha feito muito, merecia ser feliz. Mas a siciliana mãe de Elza, dona Concetta, enxergava Nelson com os olhos do óbvio: onde já se vira Elza querer casar com esse rapaz pobre, que não tinha onde cair morto e, ainda por cima, tuberculoso? Não ia consentir de jeito maneira. Nem que tivesse de apelar para Roberto Marinho.
Roberto Marinho também achou uma loucura. Ficou brabo. Era por isto que ele sempre fora contra essa história de mulher na redação. Só admitira Elza por insistência de Mário Mello. Sabia que ia dar nisso.
“Escute aqui”, disse Roberto Marinho para Elza, “você, por acaso, fez curso de Ana Néri? Está sabendo que vai se casar com um rapaz muito inteligente e de grande talento, mas pobre, absolutamente preguiçoso e doente? Sua mãe está coberta de razão!”
Nelson, preguiçoso? Devia ser. Roberto Marinho o queria de nove da manhã às cinco da tarde na redação, mas Nelson parecia incapaz de cumprir horários. Chegava depois das onze e pendurava o paletó. Roberto Marinho — que já estava lá desde as cinco da madrugada — ouvia-o chegar e lhe dava corridas pela sala, apontando o relógio:
“Eu não admito! Isto aqui tem horário!”
Nelson se indignava, pegava de novo o paletó, pedia demissão e caminhava em direção à porta. Roberto Marinho saía atrás dele. Numa dessas, alcançou-o já no elevador e trouxe-o de volta pelo braço:
“Deixa disso, Nelson. Vamos trabalhar.”
Em outras, Nelson apenas saía pisando firme, Roberto Marinho não o seguia e Nelson reaparecia dois dias depois, como se nada tivesse acontecido. Tinha um bom pretexto para não gostar de chegar cedo: era o redator mais rápido que já passara por aquela redação. Além disso, continuava um assíduo usuário do Mangue, onde ficava até muito tarde da noite.
“O Globo Juvenil” era um tablóide colorido de dezesseis páginas e saía às terças, quintas e sábados. Seu forte eram os fantásticos quadrinhos americanos que estavam sendo lançados no Brasil: “Fantasma”, “Mandrake”, “Brucutu”, “Jim Gordon”, “Zé Mulambo”, “Príncipe Valente”, “Jack do Espaço”, o cavalo “Mossoró”, “Juca Repórter”, “Ferdinando Buscapé”. O intermediário nas transações com as agências americanas era Alfredo Machado. Djalma Sampaio era o secretário e Nelson, um dos redatores. Antônio Callado era outro.
O trabalho consistia em traduzir os balões em inglês e produzir uma série de seções fixas e insossas até para os guris da época: exaltações a efemérides patrióticas, miniperfis de escritores portugueses ou curiosidades do tipo “Você sabia que...?”. Mas havia também o obrigatório folhetim, e um desses foi “A tempestade”, de Shakespeare. Inexistentes os gibis, a criança que não lesse “O Globo Juvenil” tinha motivos justos para cogitar do suicídio. Nelson, como monoglota, cuidava das seções nacionais. Callado, cujo inglês já rivalizava com o de P. G. Wodehouse, traduzia os balões e os folhetins. (Quando Callado fosse embora para Londres, em 1941, Nelson passaria a cuidar de alguns quadrinhos, escrevendo os balões por conta própria — inventando histórias pelo que os desenhos lhe sugeriam.)
Durante todo o ano de 1938, Nelson enfrentou a ojeriza da mãe de Elza, o que o fazia sentir-se como o lado B de um disco de Augusto Calheiros. Ela tinha as piores idéias a seu respeito, sem saber que o homem que queria casar-se com sua filha era um franco partidário do “amor eterno” e da mulher "honesta a qualquer preço” — como dizia para Callado, que o ouvia com um divertido espanto.
Mas a situação financeira de Nelson, mesmo com as críticas de ópera e outros bicos, não era para otimismos casadoiros. Daí porque ele tivesse mais um motivo, além do profissional, para ir tanto à ópera: era um programa que podia fazer de graça com sua noiva. O máximo que Nelson podia permitir-se pagar a Elza era uma coalhada na leiteria “Palmira”, no largo da Carioca, ou levá-la para ver os filmes de Jeanette MacDonald e Nelson Eddy — usando, naturalmente, o escurinho do cinema para se beijarem ao som dos sucessos canoros da dupla, como “Ah! Sweet mystery of life”.
Com ou sem o consentimento de dona Concetta, marcaram a data do casamento: 8 de maio de 1939, dia do aniversário de Elza. Se fosse preciso, fugiriam para casar. Mas a sorte preparava uma falseta contra Nelson. No dia 13 de março ele passou a Elza, via continuo, um bilhete na redação de “O Globo Juvenil”: “Amor, estou com a alma cheia de pressentimentos tristes”.
Era a tuberculose que o rondava mais uma vez — ela, que o deixara quieto durante todo o ano anterior, a ponto de Nelson se achar curado. E, assim, em abril, lá se foi de novo para Campos do Jordão. Não era assim que o filme deveria terminar.
Desta vez levou com ele para o Sanatorinho sua máquina de escrever, uma “Remington” portátil preta, modelo 5T. Era nela que escrevia cartas quase diárias a Elza, todas terminando com frases como “Beijo-a nos olhos, beijo-a na alma, beijo-a na carne”; “Te amo hoje e até o fim do mundo”; ou — não perca esta — “Que o chão se abra em rosas à tua passagem”.
Mas, depois de alguns dias, Nelson já não conseguia datilografar. Tinha de ficar deitado, imóvel. Para qualquer lado que se mexesse os dois pulmões doíam, e não apenas o pulmão direito. Escrever a mão também era um esforço. Mas, mesmo assim, Nelson se superava. Numa das cartas, perguntava: “Responda-me por metáforas: ainda vibras com o que te fiz no cinema na última vez?”. No dia do aniversário de Elza, mandou-lhe um telegrama de setenta palavras, culminando com o voto: “Que o teu destino tenha a doçura de um sonho”.
O telegrama era só para anunciar a chegada de uma carta de três páginas, em que Nelson se flagelava por não estar ao seu lado no dia do aniversário. Um dos trechos da carta dizia:
Se eu pudesse — se os Deuses permitissem — teria assistido hoje ao teu despertar. E, então, teria feito uma festa de luz, de cor, de aroma. Eu transportaria para tua alcova toda a vibração musical da aurora, todo o estremecimento solar. E teria enfeitado os teus cabelos com o mais lúcido e macio dos raios de luz; e teria espargido sobre os teus ombros o perfume mais suave da manhã; e teria prendido no teu riso a pétala mais diáfana. E, quando te levantasses, eu faria com que pisasses rosas frescas e voluptuosas; e assim teus pés teriam como que sandálias de perfume.
Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e os outros românticos tuberculosos assinariam embaixo — mas este seria o homem que o Brasil um dia iria ver como o grande tarado.
Durante aquela internação, Nelson preocupou-se com a saúde de Elza. Insistiu para que ela procurasse o seu médico no Rio, o doutor Genésio Pitanga, e tirasse chapas. Estas nada acusaram. Elza escreveu-lhe dizendo isso e recomendando que ele fizesse uma promessa a santo Antônio. Nelson respondeu que não, porque a promessa ao santo exigia “fé intima e profunda, que não conseguiria simular”. Preferia “acreditar nas preces dela”.
Mas nem tudo eram pétalas se abrindo à passagem de Elza. Numa das cartas Nelson se queixa de que ela não lhe escrevia com a freqüência que ele gostaria. Em outra, pede que Elza lhe faça dedicatórias de saudade e carinho nas fotos que lhe manda. E, ainda em outra, sugere que estava pensando em acabar com o namoro, porque não seria justo para ela atrelar-se a um homem que poderia passar-lhe a sua doença. Mas, rapidamente, na mesma carta, ele se tortura por haver duvidado da sua dedicação.
Os quatro meses que Nelson passou daquela vez no Sanatorinho foram, como sempre, bancados por Roberto Marinho — e havia sempre a esperança de que fosse a última. Mesmo porque, além da tuberculose, havia outro fantasma para Nelson em Campos do Jordão: o ciúme.
Elza conheceu cedo esse lado de Nelson. No fim do outro ano, 1938, ela fora, como sempre, ao baile do Liceu de Artes e Ofícios e, também como sempre, dançara a valsa com um velho e inocente amigo, Amauri. Nelson a fizera prometer que não falaria mais com Amauri. Mas, para todo lado que se virasse, via candidatos à mão de Elza ou imaginava que era ela a interessada neste ou naquele. Um dos que insistiam em protagonizar os pesadelos de Nelson era um tal “Alemão”. Amauri e “Alemão” foram o pretexto para um duro bilhete seu a Elza, mais uma vez passado pelo contínuo de “O Globo Juvenil”:
“Elza. Ontem eu vi você com o Amauri. E quero perguntar a você uma coisa: você compreende agora por que o ‘Alemão’ não quis nada com você? E por que nenhum homem que se preze quererá nada com você? E por que eu vou chamá-la, com pura e seca justiça, de menina sem dignidade, sem pudor, sem nada que justifique um simples e banal cumprimento meu? Você compreende isso? Se compreende, meus parabéns. Agora um apelo: afaste-se do meu caminho e chore por sua lamentável alma. Nelson.”
Na primeira vez que se cruzaram sozinhos no elevador de “O Globo” depois desse bilhete, Nelson agarrou Elza e beijou-a com violência. Violência desnecessária, porque ela se deixaria beijar por ele com muito prazer. Mas era um beijo para humilhá-la — porque, em seguida, Nelson desprendeu-se e virou-lhe as costas. Uma situação da futura “A vida como ela é...”. Mas nem a raiva de Nelson nem aquele beijo roubado eram para valer, porque os dois fizeram as pazes em pouco tempo e, contrariando mãe e patrão, toda uma operação de guerra foi combinada para a nova data do casamento.
Ou, naquele caso, dos casamentos.
No dia 29 de abril de 1940, Elza saiu de sua casa na rua Miguel de Frias, no Estácio, vestida normalmente para o trabalho. Trocou de roupa na casa de uma amiga. Nelson vestiu um terno de Mário Filho, que seria seu padrinho, e apanhou Elza. Foram ao juiz, casaram-se e saíram para comemorar, tomando uma média com torrada “Petrópolis” na leiteria “Palmira”. E então — você adivinhou — voltaram para “O Globo Juvenil”. Cada qual sentou-se à sua máquina e trabalhou normalmente. Ou anormalmente: eram marido e mulher, por todas as leis do país, e (por vontade de ambos) só teriam sua noite de núpcias depois do casamento religioso.
O qual só aconteceria quando dona Concetta, diante do fato consumado, permitisse. Mas, para isso, era preciso primeiro que dona Concetta ficasse sabendo. E ainda não haviam reunido coragem para lhe contar que tinham se casado às escondidas.
As amigas de Elza falaram demais e seus dois irmãos descobriram sobre o casamento. Não contaram para a mãe, mas um deles falou em matar aquele biltre. Nelson, com o coração leve como uma folha e sem imaginar que estava inflamando iras, aproveitou o interregno para alugar uma casinha para ele e Elza: na rua Eduardo Raboeira, uma travessa da rua Barão de Bom Retiro, no Engenho Novo.
Pela primeira vez desde 1924, voltaria a viver na Zona Norte — de onde começava a achar que nunca deveria ter saído. Seria uma vida modesta, porém decente. Compraram móveis de segunda mão e Mário Filho deu-lhes os de primeira necessidade: a cama de casal e a penteadeira.
Uma tia de Elza também descobriu o que se estava passando — era como se o Rio de Janeiro inteiro soubesse. Mas não falou em dar tiros. Ao contrário, foi ela que venceu a resistência da mãe de Elza com um argumento que, em 1940, ainda parecia decisivo:
“Esse homem é digno, Concetta. Eles já estão casados há mais de uma semana e Elza continua virgem.”
Concetta finalmente deu o sim e foram tomadas as providências para o religioso. Aos quase 28 anos, Nelson teve de se batizar, fazer a primeira comunhão e estudar o catecismo — tradicionais exigências católicas. Dias antes do casamento, Elza lhe pediu:
“Meu filho, me faz um favor?”
“Dois, meu doce de coco”, disse Nelson para seu doce de coco.
“Raspe essas costeletas.”
Nelson usava costeletas de cantor de tango, que pareciam excessivas ao lado do cabelo em permanente desalinho, o qual ele tentava manter penteado enfiando a cabeça debaixo da torneira. A partir dali, passou a usar “Gumex”. E, sem as costeletas, ficou outro.
Casaram-se no dia 17 de maio, na Igreja do Sagrado Coração, na rua Benjamin Constant, na Glória. Violeta Coelho Neto cantou a “Ave Maria” de Schubert. A madrinha de Nelson foi sua irmã Irene e a recepção foi na casa de dona Concetta. De terno alugado na “Casa Rollas”, ele apenas levou simbolicamente a taça de champanhe aos lábios na hora do brinde. Estava louco para sair dali com Elza.
Sob o alarido dos convidados, tomaram um táxi para o Engenho Novo. O táxi parou num sinal no “Ponto de cem réis”, em Vila Isabel, e Elza, em seu vestido de noiva, foi vaiada pela turma de um bonde que descia o Boulevard. Na Eduardo Raboeira, Nelson pagou o táxi, enfiou a chave na porta e, contrariando as ordens do médico, que o proibira de carregar peso, pegou Elza como uma noiva de comédia americana e adentrou a casa com ela no colo.
- 1942 - SOBE O PANO
Nelson acordou, abriu os olhos e viu tudo preto à sua volta. Sacudiu sua mulher, que dormia:
“Elza, estou cego!”
Tinham seis meses de casamento. Nos últimos dias Nelson sentira dores de cabeça e nos olhos, mas aquilo não o preocupara nem a ponto de pingar um colírio. Mandou-a acender a luz, abrir a janela. Ao descobrir que não via nada, fechou de novo os olhos e tapou-os com as mãos, esperando que fosse um pesadelo. Quando os abrisse, enxergaria de novo. Mas nada. Nelson não chorou, não se desesperou. Apenas suspirou. Elza o acudiu, mas não sabia o que fazer. Durante uma hora Nelson ficou de olhos fechados, com medo de abri-los. Finalmente mandou-a ligar para o doutor Paulo Filho, oftalmologista e jornalista, antigo companheiro de seu pai no “Correio da Manhã”. Paulo Filho disse que fossem logo ao seu consultório, no Centro. Aos poucos, o breu parecia dissipar-se. Quando saíram de casa, Nelson já conseguia distinguir algumas luzes.
Nelson foi guiado por Elza pelas ruas, a caminho do médico, entre sombras fora de foco. A vida era cruel e injusta. Descera aos infernos com a tuberculose e, justamente quando esta parecia tê-lo deixado em paz, de repente, sem explicação, a cegueira. Mas havia uma explicação. Nelson tivera uma cório-retinite ou uma uveíte aguda, como seqüela da tuberculose. O resultado podia ser a formação de um granuloma atrás do olho, mas, como os dois olhos tinham sido afetados, o mais provável é que tivesse havido uma hemorragia intra-ocular. De qualquer modo, era uma infecção. Isto num planeta que, em 1940, ainda não ouvira falar em antibióticos.
O doutor Paulo Filho deu-lhe esperança, receitou-lhe antiinflamatórios e passou-lhe uma dieta estrita: não podia comer camarão, frutos do mar e carne de porco, nem tomar uma gota de álcool. Não beber era fácil — Nelson tinha horror a bebida. Mas gostava de camarão e de tudo que viesse do mar. Seguiu a dieta à risca, embora ela tivesse tanta influência na sua melhora quanto se o médico o obrigasse a tomar o “Sal de frutas Picot” ou freqüentar os “Barbadinhos”. Os antiinflamatórios cumpriram seu papel: fizeram a infecção regredir e a visão foi-lhe voltando aos poucos. Mas trinta por cento dela estava perdida para sempre, e nos dois olhos.
Nos primeiros tempos Elza tinha de ajudar Nelson a fazer a barba, amarrar os cadarços e dar sinal para o bonde — qualquer coisa que exigisse enxergar a mais de um palmo de distância. Aos poucos, essa deficiência visual se estabilizou e Nelson habituou-se a conviver com ela, a fazer as coisas sozinho. Óculos, nem pensar. Não queria ser chamado de “caixa d’óculos” pelos moleques. Voltou a trabalhar e, com a visão que lhe restava, acreditou que nada iria se alterar. Enganou-se e teve a prova disto no primeiro jogo de futebol a que foi com Elza: um Fluminense x Bangu, em Álvaro Chaves.
Aos quinze minutos do primeiro tempo, vendo Nelson torcer por uma arrancada do Bangu na direção do arco tricolor, Elza perguntou:
“Bebeu, Nelson? Torcendo contra o Fluminense?”
O Fluminense estava de branco e o Bangu com o seu uniforme listrado de vermelho e branco, dos “Mulatinhos rosados”. Nelson confundiu-o com a camisa de listras tricolores e, sem saber, estava torcendo pelo inimigo. Nunca mais iria assistir a uma partida direito. Via vultos correndo pelo campo e só fazia uma idéia do que estava acontecendo porque as torcidas têm um código coletivo, de uhs e ohs, além dos gritos de gol. Impressionante é que isso nunca o tenha impedido de ir ao futebol e, durante muitos anos, escrever e falar sobre ele. (Mas sempre tomando a precaução de ter alguém ao seu lado para “irradiar-lhe” o jogo.)
Quando se casaram, Nelson pedira a Elza para deixar o emprego em “O Globo Juvenil”, o que ela fez. E, assim que pôde, pôs telefone em casa, para ligar-lhe quase que de hora em hora. Saudades ou ciúmes? Talvez ambos. Disse-lhe também:
“Meu anjo, esteja sempre de banho tomado, vestida e cheirosa, à minha espera."
As mulheres do futuro achariam aquilo um acinte, mas Elza achou lindo e, pelo menos nos primeiros anos, fez-lhe prazerosamente a vontade. Nelson, por sua vez, era incapaz de voltar para casa sem bombons ou um prato de doces para ela. (Na menos romântica das hipóteses, um sanduíche de pernil.) E, a exemplo de muitos maridos da Zona Norte nos anos 40, entregava-lhe todo o seu salário no fim do mês, descontado o que sempre dava para a mãe. Elza lhe passava um troco para o bonde, o cafezinho e os cigarros. Os quais, por mais baratos, eram agora “Liberty ovais”, pronunciado “libérti”. Quatro maços por dia.
Reduzidos desnecessariamente a um salário, por insistência dele, Nelson e Elza não levaram boa vida nos primeiros tempos. Tinham se mudado do Engenho Novo para uma casa na rua Joaquim Palhares, na praça da Bandeira. Ficava nos fundos de uma garagem. Sala e quarto tornavam-se “Vinte mil léguas submarinas” quando chovia. Seus quinhentos mil réis mensais em “O Globo Juvenil” estavam estagnados. E ele também. Conformara-se em produzir aquelas seções sem sal do tablóide. Os bicos sobre ópera e literatura em “O Globo” não lhe rendiam grande coisa. Pensara em escrever um romance para adolescentes, mas desistira pouco depois de começar. Elza estava grávida e Nelson queria ter um filho, que se chamaria Joffre; não abria mão. Mas, se sua situação financeira já era apertada, tendia a ficar espeto se ele não se mexesse para ganhar mais.
O acaso o fez mexer-se. Estava passando pela porta do Teatro Rival, na Cinelândia, onde uma fila se atropelava para ver Jaime Costa em “A família Lero-lero”, de R. Magalhães Jr. Nelson ouviu alguém comentar:
“Essa chanchada está rendendo os tubos!”
Por que não escrever teatro? Não lhe parecia mais difícil do que escrever um romance. Pelo menos, era mais rápido. Com os dedos salivando, Nelson resolveu tentar.
Em meados de 1941, quando Nelson escreveu sua primeira peça, “A mulher sem pecado”, dizia-se que o teatro brasileiro ia do Rocio à Cinelândia —ou seja, de mal a pior. O Rocio era o antigo nome da praça Tiradentes, reduto do teatro de revista desde tempos pré-diluvianos. E a Cinelândia, que supostamente devia abrigar o teatro “sério”, era o território de Procópio Ferreira, Jaime Costa e Dulcina de Morais. O eixo Procópio-Jaime-Dulcina dominava o palco e a gerência. Na qualidade de astros que arrastavam as platéias, era para eles que todos os autores queriam escrever. Como empresários e donos de seus narizes, era natural que só escolhessem as peças de acordo com o seu estilo. E, como eram todos comediantes, só queriam saber de comédias. A exceção, mas nem sempre, era Procópio, que se julgava um intelectual e descobrira um filão com “dramas” pseudoprofundos como “Deus lhe pague”, de Joracy Camargo.
Cada peça ficava em cartaz uma ou duas semanas e raras eram as que chegavam a três. (“Deus lhe pague”, com quase três mil representações desde 1932, era um fenômeno.) A maioria das companhias trocava de peça toda semana. Essa variedade de repertório era possível porque o cenário ia da sala de estar à sala de jantar e vice-versa. A mesma sala reaparecia em trinta peças por ano. E os atores principais não precisavam decorar o texto. Os grandes astros, então, nem ensaiavam. Para que, se seus papéis eram eles mesmos? No máximo, variavam o “robe-de-chambre” que indefectivelmente usavam em cena. O diretor, ironicamente chamado de “ensaiador”, limitava-se a arrumar os móveis no palco para que os atores não tropeçassem neles.
A figura-chave da equipe era o “ponto”, o sujeito que ficava lendo a peça baixinho num buraco do proscênio, sem o qual nenhum ator daria um pio. Exceto os grandes, como Procópio, Jaime ou Dulcina, que passavam a peça intercalando “cacos” (ditos por conta própria) entre as falas do “ponto”. A platéia adorava, porque não raro os “cacos” dos astros eram melhores que os diálogos originais. Muitos atores arriscavam um sotaque português, como o de Leopoldo Fróes, falecido em 1932. Não porque quisessem parecer portugueses. Mas para que se pensasse que haviam estudado em Coimbra, o que significava que tinham curso superior. As atrizes, mesmo as mais velhas, tinham de fazer exames ginecológicos periódicos, com médicos do Estado, como se fossem profissionais do Mangue ou da Lapa. (Essa lei odiosa só cairia no fim do governo Dutra, em 1950.)
Os autores das peças não recebiam dez por cento da bilheteria como hoje, mas o equivalente a dezoito poltronas por récita, com a casa cheia ou vazia. Era bom negócio porque cada peça oferecia duas récitas por noite, inclusive às segundas-feiras. Algumas davam três récitas às quintas, sábados e domingos. Mas que o autor não se metesse a sério, porque o público ia ao teatro para rir — ou do que a peça tivesse de engraçado, ou dos erros involuntários do espetáculo. Todo mundo sabia disso, mas os grandes nomes não admitiam ser criticados. Se um crítico dissesse a verdade, era advertido de que poderia ter o nariz achatado. Para que ninguém se machucasse, os astros prodigalizavam os críticos com ceias ou coquetéis. Como quase todos escreviam de graça, poucos viam aquilo como um suborno. Era uma grande pobreza.
Não para os astros-empresários, que eram muito ricos e, quanto mais ricos, menos se admiravam. Procópio achava Jaime Costa uma anta; os dois desprezavam Dulcina; Dulcina respondia com sua cobertura em Copacabana e seus três carros com chofer. Jaime Costa e Dulcina foram dois que recusaram “A mulher sem pecado”. E Nelson nem chegou a tentar Procópio.
Por que ele resolveu escrever teatro? Pelo dinheiro — mas, se fosse só por isso, teria escrito uma comédia. Nelson gostava de contar que começara “A mulher sem pecado” como uma chanchada, mas que, em poucas páginas, a história daquele marido paralítico e ciumento adquirira uma tintura dramática que ele não previra. Não há por que contestar. A própria leitura do texto demonstra isso — embora, hoje, “A mulher sem pecado” pudesse ser encenada como chanchada, sem nenhum prejuízo. Seja como for, era um tenebroso drama para seu tempo, e Nelson achou melhor cercar-se de opiniões “respeitáveis” antes de sair oferecendo o texto à praça. O primeiro que procurou foi Henrique Pongetti.
Pongetti fora protegido de seu pai em “A Manhã” e “Crítica”, antes de se tornar um autor de sucesso. Era requisitado por todo autor estreante em busca de apadrinhamento. Com sorridente generosidade distribuía cartas de recomendação capazes de abrir portas e, às vezes, até lia os originais que recomendava. Nelson achou-o na Câmara dos Deputados, no Palácio Tiradentes, onde ele batia ponto como redator. Pongetti foi receptivíssimo. Leu “A mulher sem pecado” e rabiscou ali mesmo um bilhete aprovativo, a quem interessar pudesse.
Outro a quem Nelson pediu audiência foi Carlos Drummond de Andrade, chefe de gabinete do ministro da Educação Gustavo Capanema. Drummond foi pouco mais que cauteloso sobre a peça: “Interessante. Muito interessante”. Sóbrio como minério de ferro, sorriu de uma frase: “A fidelidade devia ser uma virtude facultativa”. Nelson mandou também uma cópia da peça para Álvaro Lins, o critico do “Correio da Manhã”, que não se pronunciou. Mas nenhum desses pesos-pesados conseguiria convencer Jaime Costa ou Dulcina a encenar “A mulher sem pecado”. Nas peças de adultério que eles levavam, o corno era sempre feliz. Na de Nelson, o marido ciumento torturava de tal forma sua mulher que ela acabava fugindo com o motorista.
Com a peça na gaveta, em 1941, Nelson foi com Elza, às vésperas do parto, a um cinema na praça da Bandeira, numa tarde de agosto. Clark Gable e Vivien Leigh se beijavam na tela prateada quando a bolsa de líquido amniótico de Elza estourou. Foi o tempo de correr para casa, pegar a mala e voar para a Pró-Matre, onde Joffre nasceu — aos cuidados da parteira Leonor, porque Nelson, como seu pai, não admitia ginecologistas. O médico recomendou a Nelson ficar longe de seu filho e não pegá-lo no colo, para evitar o risco de contágio da tuberculose e para não levantar peso. Com isso, Nelson teve de resignar-se a ser coruja à distância: nunca deu uma mamadeira ou trocou uma fralda. Aproveitando o conselho médico, também nunca esvaziou um cinzeiro e nunca passou o dedo num móvel. E, agora, como se não bastasse, descobrira que tinha sido premiado com uma úlcera do duodeno.
A úlcera não tinha hora para atacar. Nelson podia estar muito bem num dado momento, ouvindo discos de Vicente Celestino e sentindo o que ele chamava de “uma leve embriaguez auditiva”. De repente, era como se alguém lhe acendesse um isqueiro nas entranhas e o fogo se irradiasse até as suas costas, queimando-lhe todo o estômago. Tensão emocional e desnutrição são fatores causadores de úlceras gástricas, e Nelson gozava de íntima convivência com as duas. Teve de reduzir mais ainda sua alimentação. Ela se limitaria agora às papinhas que Elza lhe preparava: purê de batata com carne moída e, de sobremesa, gelatina “Royal”, de framboesa ou morango. O médico o mandou cortar também café e cigarros. Foram as duas únicas proibições que Nelson sempre transgrediu, e com um fervor religioso — sem nenhum sentimento de culpa.
A úlcera deu-lhe duas outras coisas com as quais ele iria conviver: os analgésicos, que passou a tomar em quantidades industriais (quatro ou cinco comprimidos de “Melhoral” por dia), sem saber que eles lhe irritavam ainda mais a úlcera — e os suspensórios. No começo, tinha pudor deles, tanto que os escondia sob suéteres, fizesse frio ou calor. Depois conformou-se. Segurar as calças com o cinto provocava-lhe dor quase intolerável na região da úlcera. (Anos depois, Nelson se vingaria da úlcera, transformando-a em sua personagem.)
“A mulher sem pecado” continuava na gaveta e ninguém queria encena-la. Para faturar uns cobres extras, Nelson convenceu Djalma Sampaio a deixa-lo adaptar em quadrinhos, só que ao seu jeito, uma história americana para “O Globo Juvenil”, recebendo por fora. Alceu Penna (o futuro criador das “Garotas do Alceu” em “O Cruzeiro”) faria os desenhos. A história era “O mágico de Oz”, de L. Frank Baum, em grande voga pelo filme com Judy Garland. “O mágico de Oz” de Nelson e Alceu começou a sair em outubro de 1941, sempre às terças-feiras, e os leitores não queriam que ela acabasse. Tiveram de esticá-la até o segundo semestre de 1942.
Era uma adaptação ainda mais louca do que o original, com sardinhas falando a gíria dos anos 40, citações futebolísticas em penca, o Leão Covarde explicitamente vaidoso e o Mágico de Oz transformado no autor, o qual se referia a si próprio como um “gênio de porta de livraria” — uma referência aos inéditos e ociosos que faziam ponto na livraria “José Olympio”, na rua Primeiro de Março, para bajular os escritores e ser cumprimentados por estes.
Nelson estava falando de cadeira — porque, às vezes, ele também ia à “José Olympio”, sob o pretexto de procurar Gilberto Freyre e José Lins do Rego, “habitués” da livraria e amigos de Mário Filho. Mas, ao atacar aqueles inéditos e ociosos, era como se estivesse autoflagelando-se com um chicote de veludo — porque continuava tão inédito quanto eles e havia quem o chamasse também de ocioso.
Cansado de lutar por sua peça, Nelson apelou para Mário Filho. Este era amigo do gaúcho Manoel Vargas Neto, mau poeta, bom sujeito e, principalmente, sobrinho de Getúlio. Fora Vargas Neto quem escalara o também gaúcho Abadie Faria Rosa para a presidência do Serviço Nacional de Teatro. O SNT era do ministério da Educação, e estava ali para aquilo mesmo: encenar peças que ninguém queria montar. Mário Filho soprou para Vargas Neto que recomendasse a peça de Nelson a Abadie. Vargas Neto olhou para o original, não leu uma linha, nem mesmo o abriu. Escreveu um bilhete a Abadie e entregou-o a Nelson para que ele próprio o levasse. Abadie leu o bilhete e foi amplo:
“Mas sem dúvida! O que o Vargas mandar, Nelson!”
E despachou “A mulher sem pecado” para a “Comédia Brasileira”, uma companhia subsidiada pelo SNT.
Durante as duas semanas em que a peça foi ensaiada, Nelson correu redações pedindo aos amigos que escrevessem sobre ela, dessem uma notinha, qualquer coisa. Fez isso tantas vezes que começou a ficar inconveniente. Em algumas redações, podiam-se ouvir os resmungos assim que ele punha a cabeça na porta: “1h, lá vem o chato do Nelson Rodrigues!”. Chegou a levar passa-moleques dos mais velhos:
“Cai fora, Nelson! Não vê que estou fechando?”
Finalmente, a 9 de dezembro de 1942 — um ano e quatro meses depois de escrita —, “A mulher sem pecado” foi levada à cena pela “Comédia Brasileira”, com direção de Rodolfo Mayer, no Teatro Carlos Gomes. E sabe o que aconteceu?
Nada.
“A mulher sem pecado” ficou duas burocráticas semanas em cartaz no Carlos Gomes. Na estréia, o pano subiu e desceu uma vez, ouviram-se alguns aplausos e ninguém saiu tonto do teatro. Ninguém vaiou, ninguém gritou “O autor! O autor!”. Nelson odiou aquela indiferença, mais do que se o tivessem vaiado. Para que não se diga que a platéia passou em branco por “A mulher sem pecado” naquela temporada, conta-se que, numa das récitas, na cena final em que Olegário levanta-se da cadeira de rodas e se descobre que ele não era paralítico, uma senhora da nossa melhor sociedade, sentada na primeira fila, não se conteve e exclamou: “Puta que o pariu!”. Mas isso pode ter sido produto da imaginação delirante de Nelson.
O veterano crítico Mário Nunes, do “Jornal do Brasil”, odiou a peça. Classificou-a de uma “pura e simples coleção de horrores”. Não foi surpresa para Nelson. Surpresa foi que Bandeira Duarte, crítico de “O Globo” e seu colega de redação, também a demolisse. Roberto Marinho, que tinha visto e adorado a peça, não gostou de saber que seu crítico pensava diferente dele. Mas ficou quieto. Quem sabe o outro tinha razão? Afinal, era um critico. Mas Bandeira Duarte não deu sorte. Dias depois, seu quase xará, o poeta Manuel Bandeira, foi ao jornal. Roberto Marinho sabia que ele ‘vira a peça e perguntou-lhe o que tinha achado.
Manuel Bandeira não poupou elogios:
“Esse rapaz, o Nelson, tem um grande talento. A peça é formidável!”
Ao ouvir uma opinião tão autorizada, Roberto Marinho soube que estava certo e mandou Bandeira Duarte passar no caixa. Demitiu-o.
Mas o melhor ainda estava por vir. Nelson mandara uma cópia da peça para Álvaro Lins e este não lhe dera resposta. Álvaro Lins já era o crítico literário mais importante do país. Seu rodapé no “Correio da Manhã” consagrava autores ou espetava-lhes uma cruz no peito. Dois anos antes, ele publicara a sua ambiciosa “História literária de Eça de Queiroz” e lera uma crônica gaiatíssima, não assinada, absolutamente contra o seu livro, em “O Globo”. Não lhe fora difícil descobrir o autor do ataque: Nelson Rodrigues. E, então, recebera o original de uma peça de Nelson Rodrigues, chamada “A mulher sem pecado”.
Um crítico menor teria se aproveitado para ir à forra. Mas Álvaro Lins achara a crônica tão “leviana e espirituosa” que se deu ao luxo de ser superior: leu a peça, gostou e, quando ela estreou, foi vê-la numa noite de platéia quase zero. E escreveu: “Este é um autor que conhece as condições do gênero teatral”. Achou a peça um exemplo de teatro que continha “arte literária, imaginação, visão poética dos acontecimentos; técnica de construção; que não era uma copia servil de cenas burguesas de sala de jantar; e, sim, a interpretação de sentimentos dramáticos ou essenciais da vida humana”. Era a glória.
Se Álvaro Lins, que era Álvaro Lins, achava isso, que importava para Nelson que aquela platéia de lorpas e pascácios não lhe tivesse dado bola? Mas, na verdade, Nelson já nem precisava desse estímulo. Na noite de estréia de “A mulher sem pecado”, ele saíra do teatro com Elza e tinham ido comemorar sozinhos — embora não houvesse muito o que comemorar —, tomando coalhada na leiteria “Palmira”. Estava muito silencioso. Ao tomar o bonde Lapa-Praça da Bandeira, de volta para casa, já tinha outra peça em mente. O título seria “Véu de noiva”.
Ali mesmo, no bonde, achou outro melhor: “Vestido de noiva”.
Nelson começara a escrever “Vestido de noiva” na redação de “O Globo Juvenil” quando sentiu dois pares de olhos dardejando faquinhas em sua nuca. Virou-se e ouviu:
“Escrevendo teatro aqui?”
Era o secretário Djalma Sampaio, vigilante quanto à produção de seus funcionários. Nelson tirou o papel da máquina, enfiou-o numa pasta e voltou a cuidar de “Mandrake” e “Zé Mulambo”. Passou a escrever em casa, de madrugada. Chegava às dez da noite, jantava e escrevia. As cenas, os diálogos, brotavam-lhe às golfadas: um ato a cada dois dias. Parecia simples datilografia, sem que precisasse pensar. Alaíde, Lúcia, Pedro e madame Clessy, os personagens, iam saindo da “Remington” como se estivessem vivos. Em seis dias escreveu os três atos; no sétimo, um domingo, revisou. A época era janeiro de 1943.
Quando terminou, entregou a peça a Elza para que ela a batesse a limpo, tirando cópias a carbono. Não havia carbono que chegasse. Naquela primeira fornada foram pelo menos vinte cópias, a ser distribuídas a críticos, jornalistas, diretores, empresários, atores e amigos. Elza às vezes telefonava para “O Globo Juvenil”:
“Nelson, você deve ter errado. A peça não faz sentido. Não estou entendendo nada.”
“Vai batendo, meu coração”, respondia Nelson. “Depois eu explico.”
A primeira cópia de “Vestido de noiva” foi para Manuel Bandeira em fins de janeiro. Nelson conhecera Bandeira menos de dois meses antes, quando o poeta tinha ido à redação de “O Globo” e alguém os apresentara. “A mulher sem pecado” ainda estava em cartaz e Nelson dera-lhe ingressos para que ele fosse vê-la. Bandeira acabara indo, sem qualquer entusiasmo porque, como dizia, não tinha paciência com teatro nacional. Achava uma tristeza aquelas peças “para rir”, cheias de piadas óbvias, e se irritava com o tom de orador de turma dos atores brasileiros. Mas o que vira em “A mulher sem pecado” o surpreendera: “O diálogo era de classe — rápido, direto e, por ser assim, facilitava aos atores a dicção natural”. Bandeira gostara particularmente do contraste entre o falso paralítico, que falava sem parar, e os dois personagens mudos, a velha e a menina, “figuras quase que exclusivamente plásticas, sugestionadoras de mistérios inquietantes”.
Já não gostara tanto do desfecho da peça: o falso paralítico se levantava da cadeira de rodas e saía lampeiro pelo palco. “Pode-se fingir uma loucura, como o ‘Henrique IV’ de Pirandello, mas uma paralisia!”, escreveu. Bandeira preferia que o paralítico fosse mesmo paralítico. Mas isso não diminuíra a sua admiração por “A mulher sem pecado” porque, na saída do teatro, percebera (pelo menos na noite em que ele fora) a platéia discutindo e discordando. “Bom teatro é o que sacode o público”, achava ele. “Nelson Rodrigues sacode-o e tem força nos pulsos.” Dias depois voltara à redação de “O Globo” e Roberto Marinho lhe perguntara o que havia achado. Não sabia que sua resposta iria provocar a demissão do crítico do jornal.
Agora, Nelson Rodrigues ia à casa do poeta na Lapa e deixava com ele o manuscrito de “Vestido de noiva”.
“Leia com a maior atenção — religiosamente”, disse Nelson.
Bandeira ouviu aquilo e torceu o nariz. Uma peça que precisasse ser lida com tanta atenção, que diacho seria no palco? Obrigaria a platéia a se comportar como se estivesse numa igreja? O poeta mandou que Nelson telefonasse daí a dois dias. Nelson quase não dormiu, com palpitações. No dia marcado, ligou. Bandeira foi perfeito:
“Li duas vezes. Achei mais interessante do que ‘A mulher sem pecado’. O que me agrada na peça é que não tem literatice.”
Ao ouvir isso Nelson ficou, como ele disse, “ébrio de si mesmo” — embora, no fundo, não esperasse por outra coisa. E, com sublime descaro, perguntou:
“Você escreve? Escreve?”
Bandeira escreveu — em “A Manhã”, de 6 de fevereiro. (Por coincidência, o jornal fundado por seu pai dezoito anos antes.) Foi nesse artigo que Bandeira arriscou aquele palpite que depois se provaria profético:
“Nelson Rodrigues é poeta. Talvez não faça nem possa fazer versos. Eu sei fazê-los. O que me dana é não ter como ele esse dom divino de dar vida às criaturas da minha imaginação. ‘Vestido de noiva’, em outro meio, consagraria um autor. Que será aqui? Se for bem aceita, consagrará... o público.”
Afinal, o que havia de tão assombroso em “Vestido de noiva” para obrigar o público a superar-se? A simultaneidade dos planos. A ação se passa na realidade, na memória e na alucinação da heroína, uma mulher chamada Alaíde. Quando a peça começa, Alaíde já foi atropelada no largo da Glória e está sendo operada. Em seu delírio surgem os outros personagens: sua irmã Lúcia, cujo namorado Alaíde “roubou” e com quem se casou; Pedro, que é esse homem e que continuou mantendo um caso com Lúcia; madame Clessy, uma cafetina morta pelo namorado em 1905 e cujo diário Alaíde encontrou no baú deixado no sótão de sua casa. A mulher morta no passado revive e conversa com os personagens da ação real, que se passa em 1943.
Só isso já seria bombástico para a época, mas há momentos em que o marido de Alaíde se transforma no rapaz que matou Clessy; Alaíde conversa com Clessy na presença do seu próprio cadáver; e o espectador perde a noção de quando é realidade, memória ou alucinação.
“Você não vê que isso não pode ser feito no palco?”, disse a Nelson mais de um profissional de teatro.
Referiam-se ao fato de que, em determinadas cenas, Alaíde e Lúcia, por exemplo, estavam vestidas de noiva num plano e, na cena seguinte, segundos depois, apareciam com roupas normais em outro. Ou que a passagem de um plano para outro teria de ser controlada por um jogo de iluminação de que não havia o mais remoto antecedente num palco brasileiro.
Tudo isso era possível no cinema, principalmente depois que Orson Welles fizera “Cidadão Kane” — mas, no teatro? “Cidadão Kane” estreara no Rio no próprio ano de sua realização, 1941, e provocara o mesmo rebuliço que em toda parte, com os seus vaivéns no tempo e no espaço. Mas, mesmo naquela época inocente, a platéia de “Cidadão Kane” sempre podia saber quando a ação estava se passando. Em “Vestido de noiva”, ela não saberia.
Isto, claro, se a peça viesse um dia a ser montada.
Nelson saiu distribuindo cópias pelo Rio e pedindo aprovações por escrito, para tentar convencer alguém a encená-la. Mas os elogios desses intelectuais assustavam mais do que estimulavam seus possíveis produtores — entre os quais não estavam Procópio, Jaime Costa ou Dulcina.
Nelson foi a Augusto Frederico Schmidt e arrancou dele um bilhete que dizia, entre outras coisas: “É mais que uma peça. E um processo e uma revolução”. Procurou Astrogildo Pereira, fundador do Partido Comunista e uma pessoa unanimemente gostada e respeitada, exceto pela policia. Astrogildo também se impressionou e escreveu: “É uma peça que poderá marcar novos rumos no teatro brasileiro”. Do vienense Otto Maria Carpeaux, recém-chegado ao Brasil, Nelson só conseguiu uma palavra, mas que era mais do que suficiente: “Magistral!”. Hélio de Almeida, presidente da UNE, mostrara uma cópia a Drummond no MEC e ele também gostara.
Nelson saía pelas ruas brandindo esses bilhetes, mas a opinião geral era a mesma de Álvaro Lins, a quem ele também mandara uma cópia: a peça era excepcional, mas era para ser vista, não lida. Podia ser uma revolução — ou uma catástrofe. Tudo iria depender da montagem, advertiu Álvaro. E Henrique Pongetti, a quem Nelson procurara de novo, desta vez resolveu ser sério:
“A peça é um caos. Ninguém vai saber quem é quem. Nem os intérpretes vão se identificar com os personagens.”
Nelson começou a sofrer.
Pelo menos uma cópia da peça circulou por São Paulo naqueles primeiros meses de 1943. Mas podem ter sido duas. Foram levadas pelo pintor Clóvis Graciano, com quem Nelson se dava e que lhe disse que ia procurar dois jovens paulistanos empenhados em teatro amador: Décio de Almeida Prado, do “Grupo Universitário de Teatro”, e Alfredo Mesquita, do “Grupo de Teatro Experimental”. Uma cópia foi efetivamente parar nas mãos de Décio. Bastou lê-la uma vez para se convencer de que a empreitada não estava ao alcance de seu grupo. “Vestido de noiva” exigia um diretor profissional, equipado com dinheiro, recursos técnicos e mão-de-obra experiente. Não se sabe se Alfredo Mesquita chegou a receber a sua cópia — embora isso fosse bem provável, porque Clóvis Graciano era ainda mais ligado a ele do que a Almeida Prado. Mas, se isso aconteceu, Mesquita deve ter achado a mesma coisa porque nada se materializou em São Paulo e nenhum dos dois chegou a falar com Nelson.
No Rio, Nelson já dava sinais de desespero. Tinha uma possível obra-prima nas mãos e ninguém para encená-la. Só em último caso entregaria “Vestido de noiva” a Abadie Faria Rosa, como fizera com “A mulher sem pecado”. Não gostara daquela encenação pífia, bem-comportada, de sua primeira peça. E, agora, via-se novamente obrigado a depender dele. A peça chegou a Abadie, que a recebeu rotineiramente. Garantiu que ela seria montada e passou as semanas seguintes sem tocar no assunto. Enquanto isso, noticias sobre aquela misteriosa peça que ninguém nunca vira saiam até nos suplementos femininos dos jornais. Edmundo Lys, em “O Globo Feminino”, escreveu que ela lhe lembrava os desenhos do falecido Roberto Rodrigues, irmão do autor: “As mesmas mulheres que morrem lindas e jovens, os mesmos mortos que voltam”. Mas nem isso tirava Abadie de sua apatia.
Apatia, vírgula. Abadie lera “Vestido de noiva” e vira que se metera numa encrenca: a peça era impossível de encenar. Mas, se dissesse isto a Nelson, ele iria correndo contar a Vargas Neto — e este, embora fosse apenas Vargas Neto, podia dar-lhe um peteleco do SNT com a mesma facilidade com que o pusera lá.
Mas havia alguém no Rio que não achava “Vestido de noiva” impossível de encenar: um paraibano de 34 anos chamado Thomaz Santa Rosa. Mais pernambucano que paraibano, porque fora no Recife que Santa Rosa, funcionário concursado do Banco do Brasil, começara sua múltipla carreira: desenhista, músico, cantor lírico (barítono) e poeta. Em 1932, ele deixara tudo para trás, inclusive o banco, e viera para o Rio. Aqui, cavou um emprego de funcionário público (do qual foi logo demitido porque não comparecia nem para assinar o ponto) e concentrou-se no que realmente gostava de fazer. Começou nos jornais como ilustrador e criou o projeto gráfico dos novos suplementos literários de “O Jornal” e do “Diário de Notícias”. As editoras o descobriram e ele se tornou o capista favorito de Jorge Amado, José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Invadiu as artes plásticas como pintor e crítico e, finalmente, tornou-se cenógrafo de teatro, descoberto por Louis Jouvet, o diretor francês que passara uma temporada no Rio. Tudo isso em onze anos.
Santa Rosa estava na platéia de “A mulher sem pecado” e, sem conhecer o original, achara aquela montagem, esta sim, um pecado. Poderia ter sido muito melhor. Até escrevera isso no “Diário Carioca”. Santa Rosa sabia o que estava dizendo porque, desde 1938, envolvera-se com um grupo de jovens amadores de teatro a que dera o nome de “Os comediantes”. Do núcleo inicial faziam parte Celso Kelly, Sadi Cabral, Mafra Filho, Margarida Bandeira Duarte, Ângelo Labanca, Luiza Barreto Leite, Agostinho Olavo, Gustavo Dória, Jorge de Castro, Brutus Pedreira e ele. Agora só restavam os cinco ou seis últimos, aos quais se juntara um punhado de jovens alucinados por teatro. Mas Santa Rosa acabara de fazer uma importante aquisição ao grupo: um polonês maluco, recém-chegado ao Rio.
Zbigniew (que ninguém sabia pronunciar: Ijbí-guiniévi) Ziembinski.
- 1943 - “VESTIDO DE NOIVA”
Fugindo da guerra, o polonês Ziembinski chegou ao Brasil. Levara dois anos numa complicada travessia Varsóvia—Rio via Bucareste, Milão, Paris, Marselha, Casablanca, Dacar e Cádiz, com os nazistas, os comunistas, a Cruz Vermelha e até a Legião Estrangeira nos seus calcanhares. Nos dele e nos de milhares de judeus como ele. Em todo lugar que parasse para respirar era considerado “indesejável”. Finalmente desembarcou no Rio. Desceu do navio na praça Mauá e foi dar uma volta pela cidade. Seu instinto levou-o à Cinelândia, onde se viu cercado de cinemas e teatros. Sem saber tostão de português, concluiu que todos os espetáculos em cartaz se intitulavam “Hoje”. Era julho de 1941. Dois anos e meio depois, Ziembinski corrigiria o equivoco, fazendo com que se anunciasse na porta do Teatro Municipal um espetáculo dirigido por ele, chamado “Vestido de noiva”.
O Brasil deveria ter sido uma escala para Ziembinski, porque seu destino era Nova York. Mas ele nunca foi para Nova York, nem para outro lugar. Assim que chegou aqui, conheceu Agostinho Olavo, Santa Rosa e Brutus Pedreira. Eram “Os comediantes”, já batizados, embora em embrião. Ziembinski sabia como eram esse grupos amadores: rapazes e moças ambiciosos e cheios de idéias. Alguns ricos, outros com talento. Queriam virar o teatro de pernas para o ar, inclusive porque não precisavam dele para viver. Mas perderiam anos em emocionantes reuniões e nunca veriam a luz de um palco sem a ajuda de um profissional. “Os comediantes” contavam com Adacto Filho, um simpático professor de português e de dicção, mas sem talento como diretor. Não se comparava a ele, que aos 23 anos fora diretor do Teatro Nacional de Varsóvia, dirigira de gregos a Bernard Shaw e que, agora, aos 33, sentia-se capaz de encenar em três atos até o catálogo telefônico. Por algum motivo, Ziembinski acreditou nos “Comediantes” — e ficou no Brasil.
Era como ele dizia. “Os comediantes” sonhavam acordados com os clássicos que iriam montar: “Escola de maridos” (1661), de Molière; “O leque” (1753), de Carlo Goldoni; “Capricho” (1847), de Alfred de Musset; “Péleas e Melisanda” (1892), de Maurice Maeterlinck; e com uma peça que estava na moda, “Fim de jornada” (1928), de R. C. Sherriff. Em 1940, por artes de Carlos Drummond de Andrade, tinham arrancado do ministério da Educação uma verba de duzentos contos de réis e só faltavam carregar no colo o ministro Capanema. Mas parte do dinheiro já se fora numa montagem apenas boazinha de “A verdade de cada um”, de Pirandello, dirigida por Adacto. O resto estava se dissipando nas discussões sobre como montar as outras peças. O que eles precisavam, dizia Ziembinski, era de um bom original de autor brasileiro para incorporar àquele repertório. Não sabia ainda que transformar Alda Garrido em Katharine Cornell talvez fosse mais fácil.
Enquanto os outros discutiam, Ziembinski empenhou-se em aprender português e assistir ao maior número de peças nacionais. A língua, ele aprendeu na rua e com os próprios “Comediantes”, nas reuniões em casa de Stella e Carlos Perry, um casal fino de Copacabana. Falaria um português com sotaque da Cracóvia, mas que até lhe caía bem, principalmente quando ficava furioso. Quanto às peças, depois de assistir e sobreviver a dezenas delas, todas horrendas, foi ver “A mulher sem pecado”. Gostou, mas, como Santa Rosa, também achou que havia sido assassinada pela montagem. “Os comediantes” já tinham um original brasileiro: “O escravo”, de um amigo deles, Lúcio Cardoso. Nada de especial, mas era alguma coisa para começar. Quando começassem.
Os meses de discussões sem resultados concretos já estavam deixando Ziembinski nervoso. “Os comediantes” temeram que um empresário argentino passasse por aqui, descobrisse o polonês e o carregasse. Então outro amigo, o jovem Paulinho Soledade, “contratou-o” para dirigir o seu próprio grupo, o “Teatro dos novos” — na verdade uma extensão dos “Comediantes”. Fariam um espetáculo com duas peças de um ato: “Orfeu”, de Jean Cocteau, e “As preciosas ridículas”, de Molière. Levaram mais da metade de 1942 ensaiando e finalmente foram à cena no Teatro João Caetano — por uma única noite. E, mesmo assim, para convidados. Ninguém lhes implorou que continuassem. Ziembinski agradeceu os aplausos e, quando já estava se convencendo de que o teatro no Brasil era um mar morto, Brutus Pedreira deu-lhe para ler o original de “Vestido de noiva”.
Uma cópia da peça caíra nas mãos de Santa Rosa em março de 1943. Santa Rosa leu e não quis acreditar. Passou-a a Brutus, que também leu e também não acreditou. Brutus passou-a a Ziembinski e o comentário de Ziembinski confirmou o que eles suspeitavam:
“Não conheço nada no teatro mundial que se pareça com isto.”
Dias depois, Santa Rosa apresentou Nelson a Brutus Pedreira, que lhe ofereceu dois contos de réis para poder montá-la. Aquilo soou tão lindo a Nelson quanto uma passagem do “Cântico dos cânticos”. Mas então lembrou-se de que já estava comprometido com Abadie Faria Rosa — no auge do desânimo dera-lhe a peça. Era como se aquele dinheiro — quase quatro vezes o seu salário em “O Globo Juvenil” — batesse asas do seu bolso antes mesmo de ter entrado. Brutus acalmou-o e foram conversar com Abadie. Nelson foi humilde, explicou a Abadie que o dinheiro seria útil à sua família e ficou surpreso quando Abadie quebrou todos os recordes de devolução de peças:
“Não tem que explicar, Nelson! O que for melhor para você!”
Só depois Nelson ficou sabendo que Abadie já comentara com Brutus e Santa Rosa: “Não sei se quero montar essa peça. Se quiserem, podem ficar com ela e é um favor que me fazem.”
No dia seguinte, Nelson foi apresentado a Ziembinski e se assombrou com a desenvoltura com que ele punha abaixo dos cachorros o teatro brasileiro e mundial. “Derrubava tudo e sapateava por cima dos cacos”, Nelson contaria depois. Brutus fez a sua parte: desfraldou pela cidade o argumento de que não apenas era chique fazer teatro amador, como mais ainda financiá-lo, e levantou dinheiro extra com algumas famílias do Rio: os Guinle, os Rocha Miranda, os Saavedra. E, finalmente, “Os comediantes” conseguiram datas no Teatro Municipal — para dezembro, dali a oito meses, o que lhes daria tempo para preparar todo o seu repertório. Adacto dirigiria “Capricho” e “O escravo”; Ziembinski ficaria com “Fim de jornada”, “Péleas e Melisanda” — e, lógico, com “Vestido de noiva”, o bilhete premiado, a peça em que investiriam a maior parte do tempo e dos recursos.
Ia começar a aventura de “Vestido de noiva”: oito meses de ensaios, oito horas por dia — para um resultado que poderia significar a glória ou o fim dos “Comediantes”.
“Os comediantes” ensaiavam onde lhes deixassem. No Municipal era impossível, porque o teatro passava o ano inteiro ocupado e eles só o teriam àS vésperas da estréia. Então ensaiavam nas suas próprias casas, no auditório do Botafogo ou no Instituto Italiano, na avenida Presidente Antônio Carlos. Ziembinski começou pela leitura em voz alta com o grupo. Ficava horas debruçado sobre uma fala, até certificar-se do que poderia extrair dela em termos cênicos, plásticos, psicológicos. Cada linha era repassada centenas de vezes. Nunca se vira isso no teatro brasileiro — um teatro em que, não raro, os atores só eram apresentados aos personagens na hora de entrar em cena. Sua primeira exigência parecia um sacrilégio: a abolição do “ponto”. Quem não soubesse o papel na ponta da língua, que ficasse em casa.
Ziembinski tornou sagrada a instituição do ensaio: cobrava freqüência com um rigor de bedel. Quem chegasse atrasado levava broncas de vulcão cracoviano. Mas quem queria se atrasar? Eram aulas práticas de representação e direção, que caíam como pepitas douradas nos ouvidos daqueles meninos completamente crus. E fora preciso haver uma guerra mundial para desembarcar aquele gênio no Brasil.
Todos tinham empregos e ocupações, que relaxaram, deixaram de lado ou dos quais foram despedidos. Brutus Pedreira, Agostinho Olavo, Maria Barreto Leite e Álvaro Alberto eram funcionários públicos; Carlos Perry, Virgínia de Souza Neto, Nelson Vaz e Maria de Lourdes Watson, advogados; Luiza Barreto Leite e Gustavo Dória, jornalistas; Nadir Braga e Magalhães Graça, estudantes de Direito; Álvaro Catanheda, estudante de Engenharia; Aristides Araújo, bancário; Expedito Porto, contador; os irmãos Darcy e Jaime dos Reis, comerciários; Silvia de Freitas e Mary Cardoso, funcionárias do ministério do Trabalho; Nélio Braga, Armando Couto e as irmãs Naná e Auristela Araújo, secundaristas; Otávio Graça Melo, tenente da Aeronáutica; Stella Graça Melo, sua mulher.
As duas principais figuras do elenco foram as últimas a ser escolhidas e nunca tinham trabalhado, no que quer que fosse, nem por um minuto em suas vidas: Stella Perry e Evangelina Guinle da Rocha Miranda.
Até então Stella era apenas amiga e anfitriã dos “Comediantes”. Seu interesse por teatro resumia-se na escolha do vestido que usava nas estréias. O mais perto que chegara de um palco fora nas festas de formatura do Instituto Lafayette, na Tijuca, onde estudara. E nem sua família (a família Rudge, cheia de ramos nobres no Rio, em São Paulo e na Inglaterra) gostaria de vê-la misturada com gente de teatro. Mas o marido de Stella, Carlos Perry (ele próprio filho, sobrinho e neto de oficiais da Marinha), queria misturar-se com aquela gente, tornar-se ator. Os invejosos sussurravam que seu maior talento era ser casado com Stella, uma das mulheres mais desejadas do Rio. Carlos Perry já fora selecionado para o elenco de “Vestido de noiva”. Foi quando Adacto Filho imaginou que Stella ficaria bem no papel principal de “Capricho”. Custou a convencê-la. Stella aceitou na condição de que os primeiros ensaios fossem em segredo — se achasse que não dava para a coisa, desistiria e ninguém ficaria sabendo.
Mas o segredo era impossível. Um dos ensaios de “Capricho” foi presenciado por Ziembinski. Ele viu Stella e apenas comunicou-lhe:
“Você vai ser Lúcia em ‘Vestido de noiva’.”
Evangelina Guinle, por sua vez, era milionária há várias gerações. Nascera e morava no Palácio Laranjeiras, que seu pai, Eduardo Guinle, brevemente venderia ao governo para servir como residência oficial do presidente da República. Apesar de íntima do poder, Evangelina era timidíssima. Seu marido, Edgar da Rocha Miranda, é que sonhava ser um dramaturgo. Escrevera uma peça em inglês e a oferecera aos “Comediantes”. Brutus Pedreira alegou que já estavam com o repertório completo, mas achou que Evangelina seria perfeita como Alaíde. Mas não a convidou diretamente. Maquiavel reencarnado, pediu a Stella Perry que fizesse isso. Stella achou ótimo porque teria uma cúmplice no elenco. E Evangelina só aceitou porque a deixaram usar um pseudônimo que não fizesse sua família envergonhar-se — donde a primeira Alaíde foi interpretada por uma atriz chamada Lina Gray, de quem nunca mais se ouviu falar.
Foi dessa turma de inexperientes que Ziembinski começou a exigir tudo, com uma severidade sádica e a resistência física de um boi — resistência que esperava também dos outros. Parecia um domador de circo, equipado com chicote, cadeira e bombacha imaginários. Sabia a peça de cor, cada vírgula, cada inflexão. Apontava os erros sem abrir o original, gritando: “Veja a página tal!”. Mandava voltar e fazer tudo de novo, quantas vezes achasse necessário, e não admitia muxoxos. Era como se quisesse levar o elenco à beira da exasperação.
Nelson ia a todos os ensaios e ficava abestalhado com a energia e o rigor de Ziembinski — tão diferente do terno e quase doce Rodolfo Mayer que dirigira “A mulher sem pecado”. E, para sua surpresa, Ziembinski era homossexual. Brutus e Adacto também, mas, em Ziembinski, isso parecia transfigurar-se no que Nelson chamava de uma “ferocidade de javali”. Não se sabe como, diante dos maus-tratos, um daqueles rapazes não se virou para Ziembinski e lhe plantou uns tabefes.
Nos últimos trinta dias antes da data da estréia — 28 de dezembro —, “Os comediantes” finalmente tiveram o Municipal para ensaiar. Mas só de meia-noite às oito da manhã, quando o palco estivesse desocupado. Ziembinski não saia do teatro nem para comer e não deixava ninguém sair. Mandava vir ovos quentes e dava ordens aos berros com a boca cheia, cuspindo perdigotos de gema amarela. Alguns atores e quase todos os técnicos já o detestavam. Nunca estava contente com nada. Para a complicada iluminação que pretendia fazer, por exemplo, achava insuficiente a luz do Municipal. “A luz do Municipal!”, exclamavam os técnicos, indignados.
Ziembinski mandou alugar equipamento extra em outros teatros e, às vésperas da estréia, obrigou Brutus Pedreira a conseguir que o Palácio Guanabara emprestasse os enormes refletores dos seus jardins. É cômica a idéia de a então residência oficial da presidência ficar às escuras, enquanto Ziembinski fazia o capeta com a luz no Municipal, mas foi o que aconteceu.
Realizou nada menos que seis ensaios gerais, envolvendo o Municipal inteiro: maquinistas, eletricistas, contra-regras, faxineiros. Apenas para os efeitos de luz foram três ensaios. O cenário de Santa Rosa era montado e desmontado todas as madrugadas. Inga Vargas, mulher de Lutero Vargas, filho de Getúlio, desenhara o vestido de noiva que Stella Perry e Evangelina Guinle usariam em cena. No último ensaio geral (o da véspera), a tensão chegara ao máximo. Os atores estavam com olheiras, Evangelina Guinle tinha bolhas nos pés e a equipe técnica se sentia surrada a martelo. Mas quem se rebelou foi Stella Perry.
O ensaio terminara às oito da manhã do próprio dia da estréia e todos estavam insones. Ziembinski bateu palmas e disse que queria todo mundo de novo no teatro às duas da tarde, para uma repassada final. Stella, à beira do desmaio, saiu de sua habitual compostura e gritou aos prantos:
“Não volto mais! Não agüento mais esta merda!”
E saiu correndo do teatro. Ziembinski se assustou. Não podia perder sua estrela a doze horas de subir o pano. Acuou Carlos Perry num canto e ordenou-lhe que convencesse sua mulher a voltar. Carlos Perry foi atrás de Stella para pôr panos mornos, mas só lhe arrancou a promessa de que ela voltaria à noite para a peça — não para o ensaio. E não houve o ensaio final.
O impressionante em Ziembinski é que, enquanto ensaiava “Vestido de noiva”, ele cuidara também de “Fim de jornada”, o primeiro espetáculo oficial dos “Comediantes” e que fora levado no Teatro Ginástico no dia 4 de dezembro. Já dera ali uma demonstração do que era capaz com seus efeitos de luz, mas ninguém gostara da peça: um drama sobre a Primeira Guerra, longo e chato o suficiente nas suas duas horas normais, e que Ziembinski esticara para quatro horas e meia — mais que “...E o vento levou”! Cada ator parecia meditar profundamente antes de dizer a sua fala e, quando falava, era uma banalidade. Os críticos chamaram a peça de “Jornada sem fim”.
Mas, pelo menos, os críticos tinham ido vê-la e até escrito sobre ela — porque, normalmente, não perdiam tempo com espetáculos de amadores. Mas “Os comediantes” eram diferentes. Eram bonitos, bem-nascidos e inteligentes e, no caso de “Vestido de noiva”, tinham a seu favor o insaciável apetite promocional de Nelson. Ele contava com “O Globo” para apoiá-lo e ainda conseguia plantar matérias em outros veículos.
Na semana da estréia, por exemplo, um ansioso Pedro Bloch já dizia maravilhas sobre a peça em sua coluna na revista “Fon-fon”. (Nelson ia todo dia ao seu consultório médico na rua São José, para contar-lhe como seria.) E havia os artigos que Manuel Bandeira e Álvaro Lins tinham escrito sobre o texto, e as opiniões de Augusto Frederico Schmidt, Astrogildo Pereira e Otto Maria Carpeaux, que Nelson não se cansava de citar. Criara-se um clima de expectativa — que alguns queriam ver vitorioso e outros torciam para que fracassasse.
Os profissionais, por exemplo, explodiam de ciúmes. Nunca as celebridades literárias tinham dado tanta confiança ao teatro. Todo dia os jornais publicavam declarações de escritores louvando “Os comediantes” e, principalmente, “Vestido de noiva”, que ainda nem havia estreado. (Os mesmos escritores que, no passado, só se referiam ao teatro brasileiro para dizer que ele era uma porcaria). Os mais velhos viram nisso uma ameaça: um bando de novatos, amadores e estrangeiros tentando destruir o “teatro nacional”. Fingiam esquecer que o único estrangeiro ali era Ziembinski, embora, de fato, Ziembinski valesse por uma trupe.
O barulho em tomo de “Os comediantes” acordou pelo menos alguns profissionais. Procópio Ferreira, por exemplo, chamou a imprensa e anunciou (a sério) que ia montar Molière e Shakespeare. Dulcina de Morais e seu marido Odilon Azevedo encomendaram a Cecília Meireles a tradução de “Bodas de sangue”, de Federico Garcia Lorca, e a levaram no ano seguinte. Foi o começo de uma nova carreira para Dulcina. Mas outro veterano, Jaime Costa, preferiu o sarcasmo: mandou afixar na porta de seu teatro um cartaz dizendo: “Uma peça sem ziembinskices”.
O que doía nos profissionais, como contaria depois Gustavo Dória, eram as subvenções oficiais que os amadores recebiam. Naquele dezembro de 1943, a dias da estréia de “Vestido de noiva”, o pessoal do teatrão convocou uma assembléia para solicitar esse mesmo apoio. E, não contente, exigiu também que o governo parasse de dar dinheiro aos amadores. Não conseguiu nem uma coisa, nem outra.
Enquanto isso, “Vestido de noiva” via aproximar-se a hora fatal, do pano subir. Nelson temia que o público, não entendendo nada, detestasse a peça, atirasse ovos e hortaliças. O título era uma coisa lírica, recendendo a água de flor de laranjeira. Mas só os extremamente incautos iriam ao Municipal aquela noite à espera de lirismos — todos já sabiam que se tratava de algo “revolucionário”.
Roberto Marinho pedira a Nelson para ler a peça e lhe dissera: “Você precisa parar com essa mania de ser um gênio incompreendido”. Queria dizer que “Vestido de noiva” iria atrair todos os ricos que nunca iam a teatro no Brasil — diplomatas, banqueiros, industriais, gente que só saia de casa para ver companhias estrangeiras, isso quando não as assistia em Paris. E, ao contrário dos outros espetáculos dos “Comediantes”, “Vestido de noiva” seria visto com ingressos pagos.
Às 20h30 do dia 28 de dezembro de 1943, os porteiros, nos seus uniformes de lã azul e botões dourados, abriram os portões do Municipal para os 2205 espectadores — todos sentindo-se em casa entre aquelas ferragens e louças inglesas do século XIX ou sob os lustres que, como diria Nelson, “pingavam diamantes”. O proletariado, por falta de roupa, não compareceu.
O próprio Nelson foi o primeiro a entrar. Manuel Bandeira, por acaso, o segundo. Nelson zanzou pelo saguão, comovedoramente perdido, e depois sumiu. Escondeu-se no fundo de seu camarote. A úlcera, em fogo, subia-lhe pelas paredes do duodeno como uma lagartixa profissional.
O pano subiu às 21h30 com o palco às escuras. Nelson Vaz, um dos “Comediantes”, apareceu em cena e leu uma breve explicação de Nelson Rodrigues sobre o que iria acontecer na peça. A história se passava em três planos:
o da realidade, o da memória e o da alucinação. Etc, etc. Nelson Vaz retirou-se sem aplausos. O palco continuou às escuras por alguns momentos, sob um silêncio em que se podiam ouvir os pernilongos. Então os refletores colocados na sala jorraram luz sobre o cenário de Santa Rosa e ouviram-se as buzinas, pneus cantando na derrapagem e sons de vidros partidos. Era Alaíde sendo atropelada em frente ao relógio da Glória. “Vestido de noiva” começava.
A platéia podia esperar por muita coisa, mas não pelo que transcorria diante dos seus olhos: 140 mudanças de cena, 132 efeitos de luz, vinte refletores, 25 pessoas no palco e 32 personagens, contando os quatro pequenos jornaleiros de verdade que gritavam as manchetes de “A Noite”. Mesas e cadeiras subiam e desciam no palco, manobradas por cordões invisíveis. Um personagem se transformava em outro, e depois em outro, vivido pelo mesmo ator. Os planos se cruzavam, se sobrepunham, se confundiam. Apesar da explicação lida por Nelson Vaz, grande parte da platéia sentia-se ofendida por não estar entendendo. E a outra parte sentia-se ofendida pelos temas do adultério e da prostituição ou por frases como “tão fácil matar um marido”.
Ao fim do primeiro ato, poucos aplausos — partidos do camarote onde estavam Nelson, sua mulher, sua mãe e suas irmãs. Meia dúzia de gatos pingados fizeram coro na orquestra. (Talvez fossem Manuel Bandeira e seus amigos.) Nelson ficara de costas para o palco durante todo o primeiro ato, sem coragem para assistir à peça. Os minguados aplausos o tinham feito virar-se, com um medo agora real.
No intervalo, o clima era de conflagração. Espectadores reclamavam da “pobreza” dos diálogos. (Não faziam idéia de como Nelson lutara para livrar-se de seu ranço parnasiano e escrever simples.) Outros argumentavam que a linguagem “chula” era para destacar a “vulgaridade” dos personagens, que só falavam em sexo. Mais de um arriscou que se tratava de uma peça “espírita”. (Quando, mais tarde, perguntaram-lhe sobre isso, Nelson sentenciou: “Palpite não se discute”.)
Nos bastidores, Ziembinski tinha seus próprios problemas. Um pé-de-vento ou coisa parecida espalhara as folhas com as marcações da luz. Um dos eletricistas, o senhor Rodrigues (sem parentesco com Nelson), juntou as folhas de qualquer maneira e a luz começou errada no segundo ato. Ziembinski queria estrangulá-lo — ou estrangular-se. Correu lá para cima e dirigiu pessoalmente a luz, de memória. A situação só se normalizou no terceiro ato. Mas também no segundo intervalo houve problemas: a enorme cruz do velório de madame Clessy desabou com estrondo no meio do palco. Por sorte a cortina estava abaixada e a platéia tinha saído para fumar. Nelson contabilizara os aplausos ao fim do segundo ato: um ou dois. Desta vez seu camarote ficara mudo — nem sua mãe aplaudira.
Quilômetros de fiação atrás do palco dificultavam a movimentação e as rápidas trocas de roupas dos atores. No texto, Alaíde saía do plano da realidade onde estava de preto (luto) e, em menos de dez segundos, tinha de aparecer vestida de noiva no plano da alucinação. Na prática, trevas caiam sobre Evangelina Guinle, ela passava por uma porta e, atrás do cenário, era despida e vestida a jato por duas costureiras. Enquanto uma lhe aplicava o véu, outra grampeava a cauda do vestido. Carlos Perry tinha também de mudar o fraque de noivo para o uniforme de colegial, e de novo para o fraque, em menos de trinta segundos. Era ajudado por Graça Mello, que fazia o pai de Alaíde. Milagrosamente, tudo corria à perfeição. No camarote, Nelson pusera-se de frente para o palco, mas, como não enxergava nada, isso já não o fazia sofrer. Só uma coisa agora lhe dava vontade de morrer: a possibilidade da vaia. Não suportaria ser vaiado na presença de sua mãe.
Duas horas depois, a peça chegou ao fim. Na fala final, Lúcia pediu: “O buquê”. Caiu o pano. Silêncio total na platéia — e pânico em surdina nos bastidores durante uma aparente eternidade. Era para subir o pano? Ninguém sabia. Ziembinski esperava, respirando grosso. “Eles não gostaram!”, sussurrou Stella para Evangelina. Mal acabou de dizer isso, ouviram palmas esparsas. Outras palmas se juntaram e, de repente, num crescendo, transformaram-se numa ovação, como se só então a platéia tivesse sido sacudida de um torpor. Era assustador. Ziembinski mandou subir o pano enquanto gritava palavrões em polonês. Os atores surgiram e o aplauso foi ensurdecedor. O elenco ia e vinha, e as palmas não paravam. Ziembinski também apareceu e o teatro delirou.
Alguém gritou da platéia: “O autor! O autor!”. O grito fora de José César Borba, jornalista do “Correio da Manhã” e fã de “Vestido de noiva” desde que lera o texto. Nelson ouviu que o chamavam e foi à varanda do camarote, para acenar aos aplausos. Mas ninguém olhava para ele, só para o palco, onde todos choravam e se abraçavam. Ninguém do elenco, nem Ziembinski, nem Brutus, o apontou no camarote. Outros também gritavam “O autor! O autor!”, mas, como não o conheciam, era como se ele fosse invisível. (Nelson diria depois que sofreu naquele momento, sentindo-se “um marginal da própria glória”.) Voltou para o seu lugar e recebeu o abraço de Roberto Marinho, que estava no camarote ao lado. Na primeira Crítica sobre a peça, a de Mário Hora em “O Globo”, logo no dia seguinte, Nelson iria ler que não aparecera para os aplausos por "timidez”. Mário Hora não imaginava que Nelson nunca superaria o trauma de ter sido involuntariamente ignorado na sua hora máxima.
Desceu às cegas a escadaria, rumo aos camarins, ouvindo exclamações de entusiasmo de quem não sabia que ele era o autor. Álvaro Lins, que já o conhecia de vista, puxou-o pela manga e o apresentou a Paulo Bittencourt, proprietário do “Correio da Manhã”. O filho de Edmundo Bittencourt, ex-patrão e maior inimigo de seu pai, estava entusiasmado: “Sua peça é extremamente interessante!”. E Paulo Bittencourt tinha sido educado em Oxford, era homem habituado a ver teatro na Europa, nos Estados Unidos e no diabo. Disse mais: “O Álvaro vai escrever e eu também. Faço questão!”. (Cumpriu a promessa.)
Quando finalmente chegou aos camarins, Nelson recebeu a ovação que esperava. Ao vê-lo, Ziembinski gritou: “O autor!”, e uma multidão — atores e penetras — arremessou-se para abraçá-lo, em meio a montanhas de flores. Todos choravam: Nelson, Ziembinski, Brutus, Santa Rosa. Nelson sentiu as pernas bambas, a vista turva e teve uma impressão de irrealidade. Era como se aquilo estivesse acontecendo a outro, que era ele, mas que ele podia observar de fora.
Daí a uma hora, quando as últimas pessoas se retiraram, Ziembinski reuniu o elenco, ainda com as roupas de palco, para ser fotografado por Carlos — no cenário, nas principais situações da peça. Era uma noite a ser imortalizada e Carlos era a estrela dos fotógrafos de teatro. Foi quando se fizeram as únicas fotos do “Vestido de noiva” original.
Com uma diferença em relação ao elenco daquela noite: Evangelina Guinle sumira sem avisar. Procuraram-na por todo o teatro, em vão. Só Stella Perry sabia por que ela fora embora. Num excesso de autocrítica em meio às comemorações, Evangelina dissera para Stella: “Esta peça é sua. Estou aqui de coadjuvante. Quando a temporada acabar, nunca mais pisarei num palco”. Ziembinski resmungou qualquer coisa em polonês e mandou que Virgínia Souza Neto pusesse o vestido de noiva de Alaíde e posasse escondendo o rosto. Foi sua homenagem a Evangelina.
Ao contrário do que acontece na noite de uma grande estréia da Broadway, Nelson não teve uma festa com champanhe numa suíte de hotel, à espera dos matutinos com as primeiras críticas.
Depois de praticamente inventar o teatro brasileiro, o autor de “Vestido de noiva” viu-se na avenida Rio Branco, escura e deserta, caminhando feito um zumbi em direção à leiteria “Palmira”, no largo da Carioca. Ele, sua mulher, sua cunhada Julieta e sua sogra foram comer o “jantar Avenida” da leiteria: bife, batata frita e dois ovos. (Pediu pão por fora.) O resto do elenco fora comemorar na chique sorveteria “A Brasileira”, na Cinelândia.
E sabe por que Nelson não foi com os outros para “A Brasileira”? Porque não tinha dinheiro.
Não lhe faltaria, evidentemente, quem disputasse a primazia de pagar por ele. Mas, naquele momento, ainda não se dera conta de que, fechado o pano de “Vestido de noiva”, ele deixara de ser o miserável que se tornara desde a morte de Roberto.
A morte de Roberto. Quando Nelson pegou o bonde de volta para a praça da Bandeira, já eram quase duas da manhã de 29 de dezembro de 1943. Sem tirar nem pôr — nem um dia, nem uma hora, talvez nem um minuto —, completavam-se catorze anos que seu irmão morrera.
Como um eterno retomo, uma nova vida começava naquele exato momento.
- 1944 - ENTRA “SUZANA FLAG”
O que está havendo com o teatro, que só se fala nisso?”, perguntou Getúlio Vargas a seu ministro Capanema em janeiro de 1944.
“São ‘Os comediantes’ e é ‘Vestido de noiva’, presidente!”, respondeu o ministro, enchendo a boca.
Capanema sentia-se quase co-autor daquele sucesso. Afinal, fora ele que, três anos antes, liberara a verba para “Os comediantes”. Sem o dinheiro, como eles teriam encenado aquela maravilha? Nem assim Getúlio foi ver “Vestido de noiva” — teatro, para ele, só de revista, e assim mesmo quando ele era imitado pelo Pedro Dias. Mas Getúlio sabia quem era Nelson Rodrigues. Sabia que era filho de Mário Rodrigues, o proprietário de “Crítica”, o único jornal irremediavelmente destruído na revolução de 1930. Havia um processo de indenização ou coisa parecida se arrastando e de que, de vez em quando, seu sobrinho Vargas Neto vinha lhe falar. Não se sabe se Getúlio sentia-se em dívida para com os Rodrigues. O fato é que, em todos os anos em que Getúlio foi ditador ou presidente constitucional, Nelson nunca foi aborrecido pela censura. E sempre teve o Teatro Municipal à sua disposição.
O Municipal viu “Vestido de noiva” cinco vezes naquela temporada: dias 28 e 29 de dezembro de 1943 e, como já estava previsto, 28, 29 e 30 de janeiro de 1944. Só que, na volta do espetáculo, em janeiro, autor, diretor e elenco já podiam espanar os confetes que lhes caíam sobre os ombros e lapelas. A imprensa estava aos seus pés. “É de uma riqueza sonora, uma riqueza plástica, uma profusão de talento criador que só conhecíamos quando acontecia no Municipal a caridade de algum teatro francês, inglês ou italiano”, escreveu Guilherme Figueiredo em “O Jornal” (31/12/1943). No “Diário de Notícias” do mesmo dia, R. Magalhães Jr. subiu no banquinho para decretar: “Nelson Rodrigues é um dramaturgo de descomunal talento”.
Ainda zonzo com o que vira, Manuel Bandeira voltou a escrever sobre “Vestido de noiva”, agora em “O Cruzeiro”: “Nelson Rodrigues está de parabéns: é um autêntico homem de teatro, e mais — um grande poeta. Na segunda tentativa, atingiu a altura da obra-prima”. Carlos Lacerda deu uma conferência no Teatro Phoenix, dizendo que Nelson Rodrigues estava revolucionando a linguagem do teatro mundial. No “Correio da Manhã”, José César Borba escreveu que Nelson Rodrigues atingia “quase as raias da genialidade”. E Álvaro Lins, num rodapé grave como o mogno, reafirmou sua admiração. Foi dito que a Semana de Arte Moderna de 1922 chegara enfim ao palco e que Nelson estava para o teatro como Carlos Drummond para a poesia, Villa-Lobos para a música, Portinari para a pintura e Oscar Niemeyer para a arquitetura.
Mesmo coberto de ouro, incenso e mirra, Nelson ainda não parecia satisfeito: um artigo assinado por “Maria Lúcia” em “O Globo Feminino”, logo depois da estréia, punha “Vestido de noiva” nas nuvens — o que, aliás, era o seu lugar. Só que o artigo parecia escrito por Nelson. Reportagens laudatórias assinadas por outros, mas com o indiscutível estilo nelsonrodrigues, continuariam saindo em “O Globo” durante janeiro de 1944. E, assim que ele se mudasse para os “Diários Associados”, em fevereiro, passariam a sair nos jornais e revistas de Chateaubriand. Não era uma coincidência?
A primeira crítica sobre “Vestido de noiva”, a de Mário Hora em “O Globo” de 29/12/1943, apressava-se a defender Nelson de uma acusação que então já lhe faziam e que, no futuro, seria muito repetida: a de que o gênio de “Vestido de noiva” era Ziembinski e não Nelson. “De todos os espetáculos dos ‘Comediantes’, este foi o que menos sofreu a influência de Ziembinski”, escreveu Mário Hora. Podia garantir isso por que Nelson lhe dera a peça para ler antes da encenação e já estava praticamente tudo lá: o enredo que ia para frente e para trás, as rubricas, as marcações. Décio de Almeida Prado, que veria a peça em São Paulo meses depois e também já a tinha lido mais de um ano antes, era da mesma opinião. Apesar disso, houve quem insinuasse que Ziembinski não apenas “consertara” o suposto caos do original, como até reescrevera o texto — como se quase todo o Rio de Janeiro não o tivesse lido antes que ele caísse nas mãos dos “Comediantes”.
Essa foi uma insinuação que Ziembinski, marotamente, nunca se esforçou para desmentir. Ao contrário, atribuiu-se inclusive a autoria dos “flashbacks” e “flashforwards” usados continuamente na peça, esquecendo-se de explicar como Nelson poderia ter concebido a peça sem eles. Mas Ziembinski só daria corda a essas interpretações muitos anos depois, quando ninguém mais se lembrava do relativo fiasco que haviam sido as suas duas outras encenações na época de “Vestido de noiva”: a de “Fim de jornada”, em 4 de dezembro de 1943, e a de “Péleas e Melisanda”, em 18 de janeiro de 1944. “Fim de jornada” era mesmo o fim e “Péleas e Melisanda” foi elogiada, mas apenas por sua beleza plástica — onde nem tudo era obra de Ziembinski. Os deslumbrantes cenários de Santa Rosa, por exemplo, roubaram a noite. (E havia a tradução de Cecília Meireles, que alguns achavam melhor que o texto original.) Com tudo isso a seu favor, Ziembinski não conseguira fazer dessas peças um outro “Vestido de noiva”. Por que seria?
Muitos anos depois, a discussão sobre Nelson se voltaria para as influências que ele teria sofrido ao escrever a peça. Os críticos e ensaístas do futuro, excessivamente aparelhados, veriam semelhanças temáticas e estilísticas entre “Vestido de noiva” e dois grandes autores do período: Luigi Pirandello, por causa de “Seis personagens em busca de um autor”, e Henri-René Lenormand, cuja peça de 1918, “O tempo é sonho”, já fazia uma espécie de psicanálise de “boudoir”. A pergunta era: Nelson teria lido alguma dessas peças antes de escrever a sua?
Mais uma vez voltamos àquela sua irônica afirmação de que, antes de escrever teatro, ele só vira burletas de Freire Jr. e lera a recente (1939) “Maria Cachucha”, de Joracy Camargo — uma afirmação cuja ironia ninguém parecia perceber. O toque infalivelmente perverso de Nelson se revelava até na escolha da peça de Joracy. Poderia ter citado a medíocre, mas famosa, “Deus lhe pague”. Mas não: preferiu a ainda mais reles “Maria Cachucha” — como se alguém pudesse escrever “Vestido de noiva” tendo lido apenas qualquer das duas.
A postura antiintelectual que Nelson assumiria a partir dos anos 50 faria com que a sua “ignorância” fosse vastamente alardeada — o que lhe convinha, porque valorizava mais ainda o lado revolucionário de “Vestido de noiva”. (Além de comercialmente rentável. Quem não fica fascinado por um primitivo genial?)
Mas não era essa a sua atitude quando a peça estreou. Ao contrário. Em 1944, Nelson queria ser reconhecido como um intelectual sério. Quando lhe perguntavam o que tinha lido de teatro, citava Shakespeare, Ibsen e Pirandello com a casualidade de quem se referia ao “Gato Félix” ou ao “Marinheiro Popeye”.
Se quisessem saber quanto tempo levara para escrever “Vestido de noiva”, fazia um ar vago e lançava uma insinuação de que teriam sido uns seis meses — e não os seis dias que efetivamente passara em cima da “Remington”. Tinha pudor da própria velocidade. Chegou até a pedir a Elza, sua mulher, que não contasse a ninguém que a escrevera tão rápido. Tinha medo de que não entendessem que “Vestido de noiva” podia ter sido escrito em seis dias, mas tinha levado anos maturando em sua cabeça. Além disso, ouvira dizer que seu ídolo Eugene O’Neill escrevia devagar e reescrevia mais devagar ainda. E ele, que nem reescrevia? Não tinha culpa se, quando se sentava para trabalhar, já sabia o que iria fazer.
A prova de que Nelson não era um intuitivo, e muito menos um primitivo, está no seu artigo em “O Cruzeiro” de 25/3/1944 — três meses depois da estréia —, intitulado “Como fiz ‘Vestido de noiva’ “e curiosamente assinado por Márcio Cunha. Entre outras coisas, Nelson descreve o que se passa em cena quando Alaíde está perto de morrer:
Sua memória entra em franca dissolução, perde qualquer harmonia, digo mais, qualquer ordem cronológica. Tudo se superpõe monstruosamente: fatos, imagens e sonhos. Não há mais noção de tempo: “Vestido de noiva” está, então, fora do tempo. Incidentes de 25 anos atrás adquirem uma atualidade tremenda: nada aconteceu, tudo acontece, tudo está acontecendo. Foi banido, portanto, o tempo do relógio e das folhinhas. Creio que o processo de ações simultâneas em tempos diferentes é tipicamente poético: um processo, sobretudo, de uma riqueza plástica e de uma sugestão dramática que me parecem extraordinárias.
Quem escreveu isso em 1944 poderia ser um “intuitivo”, um “primitivo”? E quem garante que Nelson não sabia quem era Henri Bergson, o filósofo francês que falava de “duração real”, de “fluxo da consciência” e outros bichos? Bergson estava longe de ser um desconhecido: recebera o prêmio Nobel em 1927, morrera em 1941 e até os jornais brasileiros o discutiam. Da mesma forma, não haveria nada de mais em Nelson saber quem era Lenormand. Todo mundo sabia, assim como todo mundo sabia de Proust — outro que, de uma “madeleine”, um simples biscoitinho de limão, puxara o fio inteiro de “A la recherche du temps perdu”. E Freud, que era meio responsável por tudo isso, já estava chegando até aos musicais da Broadway. Essas coisas estavam no ar, e não era preciso ser um intelectual para conhecê-las.
De concreto mesmo, sabe-se que, entre “A mulher sem pecado” e “Vestido de noiva”, Nelson leu peças como “Ricardo III” (1592), de Shakespeare; “O inimigo do povo” (1882), de Ibsen; e “O luto assenta a Electra”, de O’Neill — as duas últimas em espanhol, a única língua, além da sua, com a qual ele ia para a cama. (Ainda não havia O’Neill em português. O que ele leu foi a edição argentina de 1940, “Nueve dramas”, da Editorial Sudamerica, de Buenos Aires.)
E como se sabe disso? Porque Nelson, certamente cansado de brincar de “Maria Cachucha” e de passar por inculto, deixou escapar essa revelação numa entrevista. E é claro que leu Pirandello: seu irmão Milton, que em certa época exerceu influência em suas leituras, era perito no dramaturgo italiano desde 1926, quando publicou um enorme artigo sobre ele em “A Manhã”.
Embora tudo isso deva ser levado em conta, as principais influências sobre Nelson em “Vestido de noiva” deveriam ser procuradas em outra parte: nas óperas a que ele assistiu pelo “O Globo” entre 1937 e 1943 — e no cinema. E não apenas em “Cidadão Kane”, mas também no clássico alemão “Varieté”, que E. A. Dupont rodou em 1925 e que foi exibido no Rio em 1926 — não como o filme “de arte” que ele depois se tornaria, mas como um filme comercial, comum, que atraiu multidões aos cinemas do Centro e da Tijuca. “Varieté” foi um dos últimos filmes do Expressionismo alemão e tinha todos os truques do gênero: o claro-escuro, a câmara-olho, a cenografia quase abstrata, a atmosfera de alucinação, a coisa mórbida. (Não por coincidência, a ópera e o Expressionismo seriam também duas matrizes de “Cidadão Kane”.) Em 1973, numa entrevista a José Lino Grünewald, Nelson citaria “Varieté” como um de seus filmes favoritos. O que era notável, porque estava se lembrando de um filme que vira aos catorze anos, 48 anos antes!
Com o inaudito fuzuê que envolveu “Vestido de noiva”, não foi apenas Nelson que se consagrou em janeiro de 1944. Da noite para o dia, todos os “Comediantes” ficaram em demanda no mercado. Em vez de emboscá-los um a um, com tiros entre os olhos, como tinha pensado em fazer, o teatro profissional convenceu-se de que podia usar os seus serviços. Até Joracy Camargo escreveu um “compreensivo” artigo a favor deles em “A Manha” de Apporelly. (Se com isso esperava que levassem uma peça sua, frustrou-se.) Mas não fazia parte dos planos dos “Comediantes” tornarem-se profissionais. Todos tinham outras carreiras — e, para as moças sobretudo, o teatro “de verdade” não era exatamente o caminho da virtude.
Stella Perry, por exemplo, foi uma admiração unânime em “Vestido de noiva”. Além de despertar paixões à primeira vista por sua beleza física, houve quem a classificasse de “a maior conquista do teatro brasileiro nos últimos dez anos”. Além disso, tinha vontade própria. Numa cena da estréia, ela puxava ostensivamente a cinta sob o vestido de noiva. Puxar a cinta não era algo que uma senhora fizesse em público naquele tempo. Ziembinski sentiu a desaprovação da platéia e advertiu-a para que não repetisse o gesto nas récitas seguintes. Stella achava que puxar a cinta fazia parte do personagem e disse que ia continuar fazendo. E fez. Seu marido Carlos Perry também se consagrou. Já tinha uma platéia feminina cativa nos clubes elegantes que freqüentava, mas, ao interpretar o primeiro papel masculino da peça mais discutida do mundo, sua cotação multiplicou-se. Stella e Carlos passaram a ser assediados para profissionalizar-se, mas mantiveram-se amadores até se mudarem do Brasil em 1946.
Outro eterno amador seria Brutus Pedreira. Tinha 39 anos durante a produção de “Vestido de noiva” e toda uma vida em teatro sem nunca ter chegado perto de uma bilheteria. Em 1929, trabalhara como ator em “Limite”, o filme de Mário Peixoto que passara à lenda (principalmente entre os que nunca o tinham visto) como o “Encouraçado Potemkin” brasileiro. Brutus gostava de representar, mas sua melhor qualidade era a de organizador. Para os grupos amadores, então, era um achado: íntimo das grã-finas cariocas, muitas decidiram fazer teatro por sua causa. E só ele conseguia convencê-las a não faltar a um ensaio por causa de um coquetel. Com suas relações, teria sido inestimável para qualquer companhia. Mas preferiu continuar funcionário público e a fazer teatro por amor, até morrer em 1964.
Santa Rosa e Ziembinski também começaram a ser solicitados a torto e a direito. Santa Rosa ainda levou alguns anos antes de passar-se para o teatro profissional, mas com Ziembinski era diferente: afinal, ele era um profissional, não sabia fazer outra coisa a não ser dirigir e representar. Mas não queria desligar-se dos “Comediantes”. E, como estes só voltariam aos palcos no fim de 1944, passou a maior parte do ano dirigindo os shows do Cassino Atlântico — num dos quais descobriu um conjunto vocal de adolescentes, “Os namorados da Lua”, cujo “crooner” era um garoto mineiro chamado Lúcio Alves.
E Nelson? Tornara-se de repente o autor de teatro mais discutido do Brasil — e continuava com os bolsos mais leves do que sua consciência. O estrondo de “Vestido de noiva” chegara até a Londres, de onde seu amigo Antônio Cal-lado, agora trabalhando na “BBC”, lhe escrevera relatando os ecos. Três anos antes, em 1941, quando Callado se despedira de “O Globo Juvenil” para ir embora, Nelson fora o seu único amigo a acompanhá-lo até a porta do avião. Mas de que lhe adiantava ser comentado em Londres ou Istambul? — pensava Nelson. Continuava ganhando mal no tablóide. Para comprar a manteiga com a qual barrar o pão, tinha de fazer um “bico” como redator de boletins da uNE, embora sua grande característica como estudante tivesse sido a de fazer gazeta.
Pois restava-lhe agora voltar a “O Globo Juvenil” — de onde, aliás, não saíra — e à rotina de escrever balões para os quadrinhos de “Ferdinando Buscapé”, sem ter a menor idéia do que diziam as legendas originais de Al Capp.
Mas, no começo de fevereiro, ele foi chamado ao telefone na redação. Era o repórter David Nasser, de “O Cruzeiro”:
“Nelson, o Freddy Chateaubriand está querendo falar com você.”
Ainda era cedo para saber, mas a folhetinista “Suzana Flag”, que iria nascer do ventre de Nelson Rodrigues, estava sendo gerada naquele telefonema.
Os quatro almoçaram com Nelson num restaurante árabe na rua da Alfândega: Freddy Chateaubriand, David Nasser, Millôr Fernandes e Geraldo de Freitas. Estavam convidando-o a trocar “O Globo Juvenil” pelos “Diários Associados”, como diretor de duas revistas: “O Guri” e “Detetive”. Muito trabalho, pelo visto, mas o dinheiro era inacreditável: cinco contos de réis — mais de sete vezes os setecentos mil réis que Roberto Marinho agora lhe pagava! Ou, desde que Getúlio mudara a moeda em 1942, cinco mil cruzeiros. Topa ou não topa?
Por ele estava topado, mas, sabem como é, devia favores a Roberto Marinho. No mínimo, uma satisfação. E se Roberto Marinho não se conformasse, insistisse em segurá-lo e o aumentasse para dois contos e quinhentos? Ia perder dinheiro. Mas tinha de falar com ele assim mesmo. Nelson foi, levando o coração nas mãos. Só que Roberto Marinho não o proibiu de ir embora. Desejou-lhe boa sorte e ainda lhe deu dez mil cruzeiros.
E, assim, Nelson esvaziou suas gavetas na velha redação da rua Bethancourt da Silva — seu segundo lar durante treze anos —, e, sob um sol de derreter catedrais, mudou-se para a da rua do Livramento, onde ficavam “O Guri”, “Detetive”, “A Cigarra” e a principal revista do Brasil: “O Cruzeiro”. Essas revistas, juntamente com os jornais e as rádios, formavam o já enorme império dos “Diários Associados” de Assis Chateaubriand.
Nelson ainda se lembrava bem de como os “Associados” tinham tratado sua família no episódio de Roberto. E era para esse homem — Assis Chateaubriand — que estava indo trabalhar. Uma coisa o consolava: ele não era o único a não gostar de Chateaubriand. O próprio sobrinho deste, Freddy, também tinha ódio ao velho. Mas Freddy garantira-lhe que o “doutor Assis” ficava no seu canto, lá em São Paulo, e não se metia com “O Guri” e “Detetive”.
“Do Oiapoque ao Chuí, todos lêem ‘O Guri’ “, dizia a própria revistinha. “O Guri” era que nem “O Globo Juvenil”: quadrinhos americanos e variedades patrióticas, só que em forma de revista, não tablóide. Uma precursora dos futuros gibis. Saia a cada quinze dias e seus heróis mais constantes eram “Mary Marvel”, “Capitão América”, “Don Winslow, herói da Marinha”, “O Homem-morcego” (como então se chamava o “Batman”), “Capitão Meia-noite”, “Perigos de Nyoka”, “Joca Marvel, o supercoelho” e “Raffles”.
“Detetive” era uma revista mensal de contos de mistério. Tinha cem páginas, as capas eram de um lindo mau gosto e saiba de quem eram os contos: Agatha Christie, Dashiell Hammett, Georges Simenon, Somerset Maugham, Conan Doyle, Maurice Leblanc (“Arsène Lupin”), H. G. Wells, G. K. Chesterton, Ambrose Bierce, Robert Louis Stevenson. A estrela da revista era “O Santo”, de Leslie Charteris, e havia sempre uma história em série, como “O fantasma da Ópera”, de Gaston Léroux. Ficção do barulho, misturada com muito lixo. Nelson seria o diretor de redação, tanto de “Detetive” como de “O Guri”.
Na prática, ele nunca foi nada disso em nenhuma das revistas. O diretor de verdade era Freddy Chateaubriand, que selecionava, comprava e mandava traduzir tanto os quadrinhos de “O Guri” quanto os contos de “Detetive”. (Nem todos os contos eram comprados. Muitos eram tranqüilamente surrupiados de revistas americanas, com ilustrações e tudo.) A função de Nelson era titular as histórias, resumi-las no sumário e criar as chamadas de capa, usando expressões como “terrível!”, “horripilante!” e “repugnante!” par a atrair os leitores. Nada que lhe tomasse mais que algumas horas por mês — e, mesmo assim, ao fim de dois anos Freddy Chateaubriand aliviou Nelson de suas obrigações em “Detetive”, passando o cargo a Lúcio Cardoso.
Com tanto tempo livre, Nelson ocupava-o nas salas de “O Cruzeiro”, no mesmo andar, onde parecia haver uma lâmpada de cem volts dentro da cabeça de cada redator. Tornou-se parte de “O Cruzeiro”, escrevendo artigos sobre si próprio, na terceira pessoa, que saíam assinados por Accioly Neto (responsável pela seção de teatro), Alceu Pereira, Flávio Marques e até Freddy Chateaubriand.
Por que os outros se sujeitavam a assinar por ele? Porque “Vestido de noiva” ainda era o grande assunto e os artigos eram muito bem escritos. Além disso, gostavam de Nelson e queriam ajudá-lo. E por que Nelson insistia em escrever sobre si mesmo? Porque ninguém entendia “Vestido de noiva” melhor do que ele. Além disso, cada uma dessas matérias lhe era paga por fora.
Em 1944, “O Cruzeiro” estava vivendo dias dourados. Apenas três anos antes, era uma revista mixa, com cheiro de remédio de barata e que vendia onze mil exemplares por semana. Quando vendiam 11.500, faziam festa. Mas, então, Freddy Chateaubriand e Accioly Neto assumiram a redação e mudaram tudo. Promoveram uma reforma gráfica, modernizaram a paginação, investiram na reportagem, criaram novas seções e a circulação saltou para 150 mil exemplares — e continuava crescendo. As estrelas da revista eram a dupla de reportagem David Nasser-Jean Manzon e as seções “Sete dias”, de Franklin de Oliveira; “O Pif-paf”, de Vão Gôgo, aliás Millôr Fernandes; a crônica de RacheI de Queiroz; e “O Amigo da Onça” — que, por sinal, não foi uma “criação imortal de Péricles”.
Imortal, sem dúvida, mas não exatamente do pernambucano Péricles Albuquerque Maranhão. Na verdade, era um personagem da revista argentina “Patoruzzu”, chamado “El inimigo del hombre”. Com adaptações e palpites de todo mundo na redação, nasceu “O Amigo da Onça”. Mas quem iria desenhá-lo? O primeiro de quem cogitaram foi Augusto Rodrigues, primo de Nelson. Mas Augusto não se interessou — não queria ficar preso a um personagem ou a uma seção. Então o personagem foi para Péricles, que, depois de várias tentativas, deu-lhe a forma definitiva: a cara de ovo de Páscoa e o bigodinho engomado, parecidos com ele próprio. Mas Péricles era como o mexicano Figueroa, alcoólatra e trágico. Depois de alguns anos passou a odiar o personagem. Mesmo assim desenhou-o todas as semanas, durante dezessete anos — até a noite de 31 de dezembro de 1961, quando fechou as janelas, abriu o gás e deixou um cartaz dizendo “Não risquem fósforos
Quando Nelson foi para lá, “O Cruzeiro” era uma redação de nababos. Seus paginadores não usavam aquele papel quadriculado vulgar, normal em redações, mas um “couché” alemão “Schoeler”, próprio para arte-final, em folhas de um metro. Os contínuos inutilizavam centenas delas, rabiscando bobagens com tira-linhas “Kern” ou “Richter”. Era um desperdício das “Mil e uma noites”, mas ninguém parecia notar, porque “O Cruzeiro” era um sucesso que cobria o país inteiro. Os exemplares iam de avião até onde houvesse avião; e dali passavam para caminhões que, na volta, traziam mercadoria, o que zerava o custo do frete.
“O Cruzeiro” era lido até em Caixa-pregos, numa época em que os distribuidores do interior deixavam acumular seis ou sete dias de jornal para entrega-los de uma vez só. Saindo em “O Cruzeiro”, o nome da pessoa tornava-se nacional. Nelson vivia saindo — nem que tivesse de escrevê-lo.
No tempo em que “O Cruzeiro” era pobre, só Freddy Chateaubriand tinha cano. Quando a revista prosperou, todos os redatores compraram o seu e, naquele momento, só dois ainda andavam de bonde: David Nasser, por um defeito na mão, que o impedia de trocar marchas, e Nelson — pela fama de sovina que rapidamente adquirira. Promoveu-se um bolo para apostar qual dos dois seria o último a ter carro. Ganhou quem apostou em Nelson, porque David Nasser comprou um hidramático.
A reputação de sovinice de Nelson se espalhava. Ele usava sapatos de sola grossa de borracha, que demoravam mais a gastar. Raramente trocava de terno. Pedia emprestado quantias insignificantes, como um ou dois cruzeiros, que fazia questão de devolver. Quando almoçava com os outros no “Pode-se” (como chamavam o restaurante português perto da rua do Livramento, a que iam quase todo dia), Nelson contava a sua despesa e deixava o dinheiro, sem um centavo a mais. E não pagava cafezinho. Ao contrário, dizia:
“Accioly, vamos lá embaixo, para você me pagar um café.”
E nunca foi visto tomando álcool, refrigerante ou mesmo mineral com gás. Chegava ao balcão e dizia para o português:
“Me vê uma água. Olha: da bica — porque eu sou de família.”
Como são Francisco de Assis, chamava a água de “nossa irmã, a água”. A exemplo do santo, só faltava usar as “sandálias da humildade”, de que vivia falando.
Poucos ali sabiam a sua história. Os anos da fome ainda estavam muito próximos para que ele tocasse no assunto. Ninguém sabia que Nelson continuava a ajudar sua mãe no sustento de um batalhão de irmãs. Ou que o seu próprio dinheiro era administrado pela mulher. Os “Associados” pagavam à americana, isto é, semanalmente, às sextas-feiras e em dinheiro. No sábado Nelson dava uma parte da bolada à mãe, outra à mulher e, já no domingo, só tinha umas moedas suficientes para o futebol. Não admira que vivesse cavando bicos.
Um deles foi na rádio Tupi, escrevendo em dupla com Guilherme Figueiredo os “Instantâneos sinfônicos Schenly”. Entre um e outro mozart, os programas tratavam da liberdade de expressão nos EUA e alfinetavam indiretamente a agonizante ditadura brasileira. Mas Nelson não dominava a linguagem do rádio e Guilherme tinha de reescrevê-los. Nelson desistiu e foi procurar outra coisa.
Não precisou procurar muito. Poucos dias depois de pendurar seu paletó nos cabides de “O Guri” e “Detetive”, Nelson ouviu quando Freddy Chateaubriand falou a respeito de comprar um folhetim francês ou americano para “O Jornal”, o diário de estimação de Assis Chateaubriand. “O Jornal” trazia no frontispício a portentosa classificação de “órgão líder dos ‘Diários Associados’ ". Bem, isso ele fora no passado, quando Chateaubriand o comprara. Agora era um jornal em risco de extinção, segurando-se em três mil exemplares por dia e incapaz de vender espaço até para os anúncios funerários. Quando os jornais se viam em tal situação, a solução era infalível: soltar um folhetim, daqueles bem escalafobéticos.
Num arroubo de ousadia, Nelson ofereceu-se a Freddy para escrevê-lo. Freddy Chateaubriand olhou para ele:
“Quem lhe disse que você sabe escrever folhetim? Teatro é uma coisa, folhetim outra.”
“Posso tentar”, disse Nelson. “Além disso, seria uma boa experiência.”
“Você quer fazer experiência as minhas custas?”, disse Freddy.
Nelson se deu conta da gafe:
“Eu estava brincando, Freddy. Pode confiar. Eu dou conta.”
Freddy Chateaubriand confiou, com uma condição: Nelson escreveria os seis primeiros capítulos de uma vez. Leão Gondim de Oliveira, diretor de “O Jornal”, teria de aprová-los. Nelson disse é pra já. Sentou-se à máquina na própria redação e, dois dias depois, desovou os seis capítulos.
A história começava com um casamento entre uma jovem feia e ingênua e um viúvo dominador que não conseguia esquecer a primeira mulher — linda, inteligente, fabulosa —, todos morando numa fazenda isolada. Até aí era um plágio de “Rebecca, a mulher inesquecível”, de Daphne de Maurier, que Nelson vira no filme de Hitchcock com Joan Fontaine e Laurence Olivier. (Os moleques chamavam o filme de “Recível, a mulher inesquebeca”.) Mas, dali para frente, sentia-se o dedo rodrigueano: a primeira mulher morrera estraçalhada por cachorros em situação misteriosa. O viúvo, aleijado de uma perna, tinha um irmão irresistível que passara a dar em cima da nova cunhada. Esse irmão tinha uma amante escondida na floresta e, dentro da casa da fazenda, havia uma prima a fim do viúvo. Os dois irmãos tinham uma mãe dominadora e as subtramas ficavam por conta de um pelotão de irmãs solteironas e virgens.
Leão Gondim, entusiasmado, rugiu OK. Os seis capítulos começariam a sair enquanto Nelson seguiria fazendo outros, para ter sempre alguns à frente. Precisavam de um título — e de um pseudônimo, porque Nelson, o autor “sério”, não queria assinar o folhetim. Para que não houvesse dúvida, deveria ser um pseudônimo feminino. Freddy concordou, mas achava que deveria ser um nome inglês — se fosse brasileiro, ninguém leria. Nelson insistia num nacional, algo assim como Suzana, nome da mulher de seu primo Augusto. Freddy cedeu e forneceu o sobrenome.
Daí nasceu “Suzana Flag”. Com essa assinatura, o título do folhetim só podia ser aquele: “Meu destino é pecar”.
“Meu destino é pecar” engolia nada menos que catorze laudas datilografadas por dia, cerca de 420 linhas. Talvez mais, porque Nelson escrevia em espaço um, de ponta a ponta da folha de papel: do canto extremo superior esquerdo ao canto idem inferior direito, sem deixar margens e sem respeitar as silabas. Quando o papel acabava, a palavra também acabava. Usava a folha inteira, como se tivesse sido comprada com o seu dinheiro — como se os subalternos da redação não fossem pródigos com o papel de luxo que Chateaubriand importava para seus paginadores. Cada episódio diário ocupava uma página inteira de “O Jornal”, com uma ilustração de Enrico Bianco. A produção de Nelson era um fenômeno: chegava, sentava-se (não numa cadeira, mas num balde de lixo, que virava de boca para baixo) e metralhava com os dois dedos indicadores.
Só se levantava da máquina para ir ao café. Quando Nelson saía, Millôr Fernandes e seu irmão Hélio, também de “O Cruzeiro”, iam ler o que ele estava escrevendo. Aproveitavam sua ausência, escreviam três ou quatro linhas da história e fingiam-se de inocentes para observar a reação de Nelson. Nelson voltava do café, lia aquilo, ria baixinho e continuava a escrever do ponto em que eles haviam deixado, fazendo de conta que não tinha percebido. Essa história seria contada depois como tendo acontecido também na redação de “Última Hora”, onde ele trabalharia nos anos 50 — sempre com um colega diferente escrevendo pelas suas costas e sempre dando a entender que Nelson não notava que fizessem isso.
Nelson era desligado, mas não a esse ponto. E, se não se importava que se intrometessem no seu texto, era porque, no fundo, não dava importância a “Suzana Flag”. Exceto, é claro, importância financeira — porque, além de seu salário em “O Gibi” e “Detetive”, ganhava por capítulo de “Meu destino é pecar”. Se outros quisessem escrever por ele, tanto melhor.
Foram 38 capítulos, mas poderiam ter sido trezentos se ele quisesse, e Freddy acharia ótimo. “Meu destino é pecar” levantou a circulação de “O Jornal”, a ponto de Assis Chateaubriand abalar-se de São Paulo e vir ao Rio conferir os números com o distribuidor. “O Jornal” estava dobrando sucessiva-mente, de três para seis mil, daí para doze mil e, no apogeu de “Meu destino é pecar”, menos de quatro meses depois, chegara a quase trinta mil exemplares.
Seu público parecia ser de senhoras contemporâneas da proclamação da República. Pelo menos, foram dezenas de velhinhas como elas que invadiram a redação de “O Jornal”, na avenida Venezuela, num dia em que a gráfica saltou um episódio por engano e publicou o do dia seguinte. Elas não se conformavam: queriam saber como a história da véspera tinha continuado.
O impressionante sucesso de “Meu destino é pecar” podia ser doce como balas de alcaçuz, mas Nelson não gostava que soubessem que ele, o autor de “Vestido de noiva”, era também “Suzana Flag”. Quase todo o meio jornalístico sabia, mas não era uma coisa que achassem urgente divulgar. A massa dos leitores acreditava que “Suzana Flag” existia e que devia ser algo entre Marlene Dietrich e Ingrid Bergman.
Muitos lhe escreviam cartas. Entre essas, havia as de um presidiário que se apaixonara por ela. Nelson respondeu-lhe com cautela, insinuando que “Suzana Flag” era casada ou estava por casar. O presidiário conformou-se e, tempos depois, voltou a escrever, comunicando o seu próprio casamento na prisão e convidando-a para madrinha. Como se sentiria o noivo se soubesse que “Suzana Flag” usava suspensórios?
Em junho de 1944, quando Nelson resolveu terminar a história de “Meu destino é pecar”, era inevitável que ela saísse em livro. As novas rotativas de “O Cruzeiro” tinham deixado ociosas as velhas máquinas planas, e estas seriam postas para rodar livros de “Suzana Flag” e dos outros escritores da casa. As “Edições O Cruzeiro” iriam ter à sua disposição toda a potência publicitária da empresa — com anúncios e chamadas nos quase trinta jornais e revistas de Chateaubriand e nas sabe-se lá quantas rádios. E, evidentemente, se beneficiariam do infernal sistema de distribuição de “O Cruzeiro”. Com isso, as tiragens dos livros poderiam ser enormes e estes sairiam baratinhos.
A primeira edição de “Meu destino é pecar” — oito mil exemplares — foi até modesta. Ao fim daquele mesmo mês de junho, já havia vendido doze mil exemplares; em outubro, passou de cinqüenta mil. Freddy Chateaubriand calcula que as “Edições O Cruzeiro” venderam mais de trezentos mil livros de “Meu destino é pecar” antes de cedê-lo em 1946 à editora Martins, de São Paulo, a qual tirou pelo menos doze edições. Antes disso, “Meu destino é pecar” já se tornara novela de rádio nas emissoras “Associadas” — só que numa adaptação que a tornava digna da “Coleção das senhorinhas” ou do “Clube das vitórias-régias”.
De fato, devia ser difícil contar no rádio uma história em que todos os personagens eram adúlteros, numa época em que se evitava pôr no ar a expressão “amante da música”, por causa da palavra “amante”.
“Suzana Flag” ameaçava tragar Nelson. Em setembro de 1944, três meses depois de batucar o ponto final em “Meu destino é pecar”, teve de começar outro folhetim: “Escravas do amor”. Não que não quisesse. Mas, mesmo que fizesse beicinho, Nelson não teria escolha: “Suzana Flag” era o maior sucesso de “O Jornal” e os dois Chateaux, Assis e Freddy, não a deixariam descansar.
O sucesso de “Escravas do amor” também foi arrasador. Com a diferença de que, agora, todos os jornais de Chateaubriand republicavam a história e "Suzana Flag” tornava-se um nome nacional. E, como da outra vez, o folhetim terminava no jornal e lá vinha a sua edição em livro. Os intelectuais já começavam a protestar. Nelson Rodrigues estaria dissipando seu talento em “tarefas inferiores, como os folhetins rocambolescos”, esbravejou R. Magalhães Jr.
E o pior de tudo era que Nelson, mesmo recebendo dez por cento do preço de capa sobre cada exemplar vendido, nem por isso estava ficando rico. Trabalhava como um barqueiro do Volga e continuava sendo alguém para quem sempre “faltavam novecentos réis para dez tostões”, como dizia Freddy Chateaubriand. E tão fácil roubar um escritor — e Nelson era o mais facilmente roubável de todos.
- 1946 - INCESTOS BÍBLICOS
Em março de 1945, como um monstro que Nelson julgasse morto, mas que apenas se escondera atrás da árvore para pegá-lo de surpresa, a tuberculose atacou-o novamente. Ele derramou uma furtiva lágrima e, mais uma vez, sentiu que aquilo era cruel e injusto. Justamente quando o sucesso vinha redimi-lo de todas as tragédias e privações, a doença parecia insistir em puni-lo por pecados ancestrais.
Para Nelson, o ano anterior, 1944, fora um ano inteiro de domingos. Em janeiro, “Vestido de noiva” consagrara-o no Rio. Em junho, a peça fora para o Teatro Municipal de São Paulo, com o mesmo elenco do Rio e a mesma consagração. Nelson fora junto. Era a sua primeira visita à capital paulista. Ficou hospedado no Palace Hotel, na rua Florêncio de Abreu, no Centro. Depois do espetáculo, os jovens amadores paulistanos levaram-no a jantar no “Canino”, então ainda na avenida São João, perto do largo do Paissandu. Um deles, Décio de Almeida Prado, disse-lhe que achava suas peças “mórbidas”. Nelson fingiu ficar chocado. Outro lhe perguntou o que estava achando de São Paulo. Nelson contemplou a garoa e a neblina que se viam da janela, riu e comentou:
“Me faz sentir um personagem de Jack London.”
Em julho, as “Edições O Cruzeiro” lançaram “Vestido de noiva” em livro, com distribuição nacional. Todo mundo poderia agora conhecer a sua obra-prima, cuja carreira estava longe de encerrada. Enquanto isso, escondido sob o rímel e os cílios postiços de “Suzana Flag”, Nelson saboreava o triunfo de “Meu destino é pecar” e “Escravas do amor”. E, como era de se esperar, uma nova peça se desenhava em sua cabeça. Para completar, seu filho Joffre crescia forte e sadio, apesar da mania de brincar com cocô, e Elza estava à espera de outro. O que mais ele podia querer? Tudo, menos a recaída da tuberculose.
É certo que Nelson não se tinha curado de todo. Durante os primeiros anos de casamento, apenas aprendera a conviver com a doença. Seus talheres e toalhas eram separados, marcados com um “X”. O médico, doutor Genésio Pitanga, não proibira Nelson e Elza de se beijarem na boca, mas obrigara-os a fazer chapas de pulmão regularmente. Nelson ainda tinha de submeter-se de vez em quando à tortura do pneumotórax e sofria com as agulhas, do tamanho de agulhas de tricô, penetrando em seu pulmão. No começo de 1945, no entanto, o pneumotórax não resolveu. “A solução é Campos do Jordão ou esperar”, disse o doutor Pitanga. Eles não quiseram correr riscos. Em março foram todos para lá: Nelson, Elza (grávida de seis meses), sua sogra dona Concetta e o garoto Joffre.
Em Campos do Jordão, Nelson marchou sozinho para o Sanatorinho, e a mulher, a sogra e o filho instalaram-se numa pensão em Abernéssia, na entrada da cidade. Só podiam visitá-lo duas vezes por semana. Nelson e Elza escreviam-se diariamente. Algumas semanas depois concluíram que aquilo não fazia sentido e a família voltou para o Rio, deixando Nelson na internação. Com mais algumas semanas, ele próprio, já melhor, saiu do Sanatorinho e foi para a pensão em Abernéssia. O simples ar puro da cidade completaria o tratamento. Nelson não podia deixar de notar uma característica de Campos do Jordão: a quantidade de casais de meia-idade que viviam lá em estado marital — algo inusitado para o Brasil da época. Mas a explicação estava à vista: tratava-se de pessoas que tinham sido internadas nos sanatórios e esquecidas por seus maridos ou mulheres. Ao descobrir que haviam sobrevivido, juntavam-se para constituir novas famílias e nunca mais voltavam para suas cidades.
Nelson sabia que não teria esse destino, porque sua troca de cartas com Elza obrigava os carteiros a dar horas extras. Numa das cartas, a 8 de maio (mais um aniversário de Elza que passavam separados), ele escreveu com tinta azul-turquesa:
“Eu te amarei sempre, sempre, até o meu último instante de vida. Não importam esses dias de separação. Ainda seremos felizes, para sempre felizes, nós e os nossos filhos.”
Com a proximidade do parto de Elza, que deveria acontecer no começo de junho, Nelson foi dado como bom e autorizado a voltar. A 1º daquele mês, regressou ao Rio. Mas os dias se passavam e a criança não vinha. Foram três semanas de sustos, alarmes falsos e apreensões. Finalmente, no dia 23 de junho, depois de quase dez meses de gravidez, Nelsinho nasceu e Nelson sentiu-se apto a retomar o trabalho.
Tinha agora, para com Freddy Chateaubriand, uma gratidão parecida com a que dispensava a Roberto Marinho: fora Freddy, através dos “Associados”, que pagara esta internação no Sanatorinho e na pensão. Quer dizer então que, com todo o sucesso, Nelson ainda precisava da caridade do patrão? Sim — e também que os exames de escarro em Campos do Jordão lhe tivessem saído de graça, cortesia do doutor Hermínio Araújo, seu novo fã e amigo.
Os colegas de Nelson nos “Associados” não eram obrigados a conhecer detalhes, mas, se soubessem de alguns, talvez atenuassem a pão-durice que lhe atribuíam. Era só verificar as contas bancadas por “Suzana Flag”. Em 1945, sua mãe e irmãs já tinham encenado aquele périplo de morar a cada ano numa casa diferente e se fixado num apartamento na rua General Glicério, nas Laranjeiras. Mas continuavam sendo mantidas por Nelson e Mário Filho. Os outros irmãos não podiam contribuir com muito: Milton, quarenta anos, investia todo o seu dinheiro produzindo filmes, enquanto Augustinho, 27, e Paulinho, 23, já casados, mal ganhavam para eles próprios. Das irmãs, só duas trabalhavam: Stella, 35, como médica do Estado, e Maria Clara, 29, como estenógrafa. Irene, 25, tornara-se uma revelação de caricaturista e, às vezes, vendia alguns desenhos, mas não se empenhava à altura de seu talento. Helena, 22, ajudava a mãe a gerir a casa; Elsinha, dezoito, e Dulcinha, dezesseis, ainda eram estudantes. Nenhuma delas se casara ou tinha namorado.
Não que não quisessem, e até muito. Mas a barreira humana ao seu redor, formada pela mãe e os irmãos, era tão implacável que a simples presença de um homem naquela casa já fazia piscar um sinal vermelho. E sempre fora assim. Certa vez, nos anos da fome, haviam conseguido separar um dinheirinho para que Maria Clara tivesse aulas particulares de inglês. O professor entrava, ensinava “This is a table”, serviam-lhe água do filtro, a aula terminava e passar bem. Um dia, em que o Rio sufocava de calor, o professor pedira permissão para tirar o paletó. Milton chegou da rua, viu o jovem conjugando o verbo “to be” em mangas de camisa e achou aquilo um acinte. Que se compusesse imediatamente ou então rua! — disse ao outro. E quem lhe dera aquela liberdade, ora, essa é muito boa.
As meninas ficaram moças. Nesse período aconteceram Hiroxima, Rita Hayworth e a penicilina — mas, na casa dos Rodrigues, os ventos comparativamente liberais do pós-guerra ficaram sem soprar. Dona Maria Esther e os filhos não gostavam que as moças fossem à praia, e o duas peças era proibido. Mesmo em casa preferiam vê-las sobriamente envelopadas em mangas compridas e com vestidos até a canela. (Meias e combinação eram indispensáveis.) Sair à noite, só na companhia de um dos irmãos — donde Stella não podia clinicar depois das seis da tarde. Nas festinhas domésticas, quase sempre apenas em família, se um dos irmãos quisesse tirar uma irmã para dançar, tinha de pedir permissão a dona Maria Esther. Os Rodrigues não se beijavam uns aos outros e nem se faziam afagos físicos, mesmo um inocente cafuné.
Um dos pouquíssimos rapazes de fora a quem era permitida a presença no apartamento da General Glicério era o brilhante colega de Nelson em “O Cruzeiro”, Millôr Fernandes. Aos 23 anos em 1946, Millôr era uma espécie de coringa na revista. Produzia semanalmente uma página dupla de humor, “O Pif-paf”, sob o pseudônimo de “Vão Gôgo”, e era também o responsável por uma infinidade de seções fixas sob pseudônimos. Fazia ainda reportagens especiais, como uma sobre pesca a que dera o título de “Meu destino é pescar” — e que assinara como “Suzana Bandeira”. Nelson tinha-lhe admiração e afeto. Tanto, aliás, que sempre o convidava a participar dos almoços de sábado em General Glicério, quando se reuniam todos os irmãos, inclusive os casados, com suas mulheres e filhos.
Sendo um dos raros homens não-Rodrigues a circular entre as irmãs de Nelson (e já dotado do mesmo “charme” de sempre, só que com mais cabelo), era inevitável que Millôr incendiasse corações por atacado naquela casa. Certa tarde, dona Maria Esther chamou-o em particular:
“Millôr, há uma coisa que você precisa saber. Três de minhas filhas estão apaixonadas por você: Fulana, Beltrana e Sicrana. Escolha uma e eu lhe garanto que as outras duas se afastam sem ressentimentos.”
Millôr fez gulp. Sua surpresa foi de tal ordem que a resposta saiu-lhe sincera e imediata:
“Puxa, dona Esther! É uma honra, mas... A senhora sabe, sou muito moço, tenho só 23 anos e não estou pensando em assumir nenhum compromisso sério no futuro próximo.”
“Está bem, Millôr. Lamento”, disse dona Maria Esther, encerrando o assunto. E encerrado estava, para tripla decepção das Rodrigues. Talvez tenha sido por um motivo ou outro, mas os convites para que Millôr participasse dos almoços em General Glicério foram escasseando nos sábados seguintes, até que cessaram de vez. Os próprios irmãos passaram a falar menos com ele ou — exceto Nelson — a não falar mais.
O que, naturalmente, não impediu que, fora dali, nas raras escapadas da garota, Millôr se encontrasse com Dulcinha, a mais jovem e mais bonita das Rodrigues.
Os dois últimos meses de 1945 e os dois primeiros de 1946 iriam consolidar a reputação de Nelson como a maior coisa do teatro brasileiro desde a adoção da luz elétrica nos palcos nacionais. Suas duas peças ocuparam o Teatro Phoenix, na esquina das avenidas Almirante Barroso e Rio Branco, com “Os comediantes” no auge das suas potencialidades. O resultado foi uma apoteose. A 23 de novembro, eles reestrearam “Vestido de noiva” e tiveram quase dois meses de lotação esgotada. A 18 de janeiro de 1946, sob enorme expectativa, substituíram-na pela nova montagem de “A mulher sem pecado” — que era como se estivesse sendo levada pela primeira vez, porque a montagem original da “Comédia Brasileira”, em 1942, não tinha valido. E foram outros quase dois meses de casa cheia.
O novo “Vestido de noiva” repetia a direção de Ziembinski, os cenários de Santa Rosa e Stella Perry no papel de Lúcia. As mudanças estavam na atriz portuguesa Maria Sampaio, no papel de Alaíde, e na polonesa Irena Stipinska como madame Clessy. As duas substituições foram problemáticas. Maria Sampaio, famosa por sua atuação no filme português “A severa”, conseguiu eliminar seu lindo sotaque alfacinha. Em compensação, não decorava as falas, dizia coisas por conta própria e enlouquecia o resto do elenco, que se perdia sem as deixas. E fazia também Nelson fumegar, porque já então ele não admitia “cacos” em seus textos. Além disso, Maria Sampaio tinha cabelinho nas ventas. Certa noite brigou com o elenco inteiro no camarim, ameaçou voltar para a Alfama e nunca mais pôr os pés no Phoenix. No dia seguinte inundou o dito elenco com doze dúzias de rosas, para fazer as pazes. Anos depois ela confessaria:
“Fui um sucesso bestial em ‘Vestido de noiva’ e nunca percebi patavina do meu papel!”
Diferente do que aconteceu com Irena Stipinska, cujo sotaque cheio de “cz” e “zb” até que ficava bem em madame Clessy. A presença cênica de Stipinska era tão arrebatadora que ela parecia transformar o palco numa casinha de bonecas. Anunciada como “a grande trágica polonesa”, Stipinska fora a primeira atriz do Teatro Nacional de Varsóvia e fugira da Polônia na mesma época que Ziembinski, com apenas um navio de atraso. Ninguém podia dizer que ela não estudara em profundidade o papel de Clessy. O problema é que gostou tanto de suas falas que levava três vezes o tempo normal para dizê-las. Era como se mastigasse persistentemente cada silaba, antes de soltar a palavra completa. Ziembinski queria esganá-la nos intervalos e os dois tinham espetaculares bate-bocas em seu idioma natal. Mas a platéia não parecia perceber esses detalhes de Maria Sampaio ou Irena Stipinska porque, récita após récita, os aplausos eram de tremer os lustres do teatro.
Claro que, àquela altura, ninguém mais tinha dúvida de que, quando se ia assistir a “Vestido de noiva”, era obrigatório aplaudir. Só Nelson, expectante como um estreante e perdendo um quilo por minuto, não tinha certeza disso. Assim, nas semanas anteriores à estréia, ele tentou garantir-se usando a coluna de teatro (“Spot-light”) de “O Cruzeiro” para explicar de novo a peça. Escrevendo na terceira pessoa e sob o pseudônimo de “Grock”, Nelson dizia no dia 20 de outubro: “Os personagens, movendo-se na sombra e na luz, parecem possessos. E não sabemos se possuídos de Deus ou do demônio. Nelson Rodrigues faz psicologia em profundidade, faz o que poderíamos chamar de psicologia abissal”. A expressão “psicologia abissal” pegou bem e seria depois usada por mais de um crítico a respeito de “Vestido de noiva
Mas Nelson podia ter-se dispensado dessa pedagogia porque, muito por sua causa, a platéia carioca subitamente iluminara-se. Quase todo mundo já parecia dominar a linguagem da peça e o que restava acrescentar eram ornamentos a esse entendimento. José César Borba, no “Correio da Manhã” de 27 de novembro, notou a similaridade entre o diário encontrado no sótão por Alaíde e a viagem” da heroína pelo sótão da sua própria mente, o subconsciente. E Nelson, vitorioso, dava entrevistas pontificando:
“Precisamos acabar com esse preconceito de que o público brasileiro é alvar, só sabe rir.”
Estava aplicando na prática a sua convicção da época, de que o teatro para rir, "com essa destinação especifica”, era tão obsceno e idiota quanto uma missa cômica, em que “os padres começassem a engolir espadas, os coroinhas a plantar bananeiras e os santos a equilibrar laranjas no nariz como focas amestradas”.
Numa das récitas de “Vestido de noiva” no Phoenix, encerrado o espetáculo e com o palco já vazio, Nelson deixou-se ficar no cenário, contemplando o que ele chamaria de “o mistério profundíssimo do teatro”. Distraiu-se, deu um passo para trás e caiu no buraco do “ponto”. Os contra-regras e alguns atores correram para ele e içaram-no com dificuldade. Nada grave, mas ele poderia ter quebrado uma ou duas pernas naquela queda de quase dois metros.
Um dos que o acudiram foi Stella Perry. Enquanto o apalpava para ver se não fraturara uma tíbia ou um perônio, ela notou nele um olhar que era cinqüenta por cento gratidão e outros tantos desejo. O diferente não era o olhar de desejo (que era como todos os homens a olhavam), mas o de gratidão. Não que Nelson não a desejasse. É que o fazia à sua maneira: ia toda noite ao seu camarim, dizia-lhe: “Como vai, impressionante figura?” — e sentava-se ao seu lado em silêncio enquanto ela, trocando os potes de nervosa, tentava se maquiar.
Stella Perry era de novo a atração em “Vestido de noiva”. Desta vez a platéia reparou menos em suas curvas e mais em sua voz, de “timbre vigoroso e dicção de cristal”, como dissera um crítico, “que faziam com que ela fosse ouvida e entendida em qualquer ponto do teatro sem aparentar o menor esforço”. Estava se realizando como atriz. Quem continuava a não entendê-la era sua família. Poucos meses antes, na apresentação de “Vestido de noiva” em São Paulo, ela pagara do próprio bolso a sua passagem de trem, como o resto do elenco. Mas seus tios aristocratas deram-lhe bem a entender o que achavam de sua vocação: emprestaram-lhe a casa no Pacaembu para que ela se hospedasse, mas fugiram em peso para Santos. Não queriam estar em São Paulo quando a peça estivesse sendo apresentada.
Ela fizera bem em não se abater porque, se pensara que nada poderia superar o seu sucesso no Vestido de noiva” do Phoenix, era por não saber o que a esperava no papel da inocente e voluptuosa Lídia em “A mulher sem pecado”, cujo marido, Olegário, preso a uma cadeira de rodas, a inferniza com seu ciúme doentio. Entre as diversas alterações feitas por Nelson em relação à primeira encenação, acrescentou-se um monólogo para Lídia no terceiro ato, que fez com que Stella Perry fosse aplaudida em cena aberta todas as noites. Não era um papel comum de mulher bonita, mas o de uma mulher que não tinha culpa de ser bonita, honestíssima — e casada com um demente.
A outra revelação de “A mulher sem pecado” no Phoenix foi Otávio Graça Mello na pele de Olegário. Na versão original, o paralítico colérico era um dono de jornal, com todos os traços de Mário Rodrigues. Para a nova encenação, Nelson transformou-o num industrial e foi assim que ele ficou, porque aquela se tornou a versão definitiva da peça. Rodando de um extremo a outro do palco na cadeira de rodas, Graça Mello transmitia dor, raiva, desespero, abatimento e suspeita. Ás vezes soltava uma gargalhada de louco. Assustava, comovia, inspirava medo e todos o consideraram uma grande revelação.
O sucesso de “A mulher sem pecado” quase foi comprometido por uma falsa boa idéia de Nelson e do diretor, o também refugiado polonês Ziygmunt Turkow. Os dois cismaram de inserir na peça um filme que mostrava as visões da imaginação delirante de Olegário. Uma idéia obviamente tirada de “Quando fala o coração” (“Spellbound”), o filme de Hitchcock daquele ano, no qual Salvador Dali criara um sonho “surrealista” para Gregory Peck. A parte filmada de “A mulher sem pecado” foi dirigida por George Dusek, tcheco radicado no Rio e futuro fotógrafo de chanchadas da Atlântida. Naturalmente, Turkow não sendo Hitchcock e Dusek não sendo Dalí, o resultado não saiu digno do “Oscar”. Mas o pior é que a intromissão do filme escangalhava o faz-de-conta:
a campainha tocava na cabine para avisar o encarregado da projeção, as luzes se apagavam e, enquanto rolava o filme, o projetor ronronava como uma gata satisfeita. Até os críticos ouviram.
A temporada do Phoenix rendeu dinheiro na bilheteria e nem assim “Os comediantes” conseguiam se manter. Os custos das produções eram muito altos e os subsídios oficiais e particulares estavam minguando. Eles se profissionalizariam dali a poucos meses, depois se tornariam uma cooperativa e finalmente desapareceriam como grupo. Quase todos os seus integrantes seguiriam carreiras individuais, exceto os amadores de verdade — como Stella e Carlos Perry. Logo depois do Phoenix, os Perry embarcaram no navio “Potaro” e foram morar em Londres. (De onde voltariam separados para o Brasil e nunca mais fariam teatro.)
O próprio Phoenix, um dos teatros mais bonitos e suntuosos do Rio, também iria abaixo anos depois para se construir no seu lugar o pavoroso edifício Marquês de Herval. Mas, para Nelson, aqueles tinham sido quatro meses de embriaguez a seco. Viera para ficar e nada agora poderia abalar a sua reputação de autor dramático.
De fato, nada ou ninguém poderia abalá-lo — a não ser ele próprio. O que Nelson conseguiu, no começo de 1946, com sua terceira peça: “Álbum de família”.
O texto de “Álbum de família” foi submetido à Censura Federal em fevereiro de 1946. Bastou uma leitura em diagonal para que os censores ficassem de cabelo em pé. Eles nunca tinham visto nada tão “indecente” ou “doentio” — e olhe que alguns desses censores, já macróbios, tinham décadas de convívio diário com toda espécie de perversão ou atrocidade. A representação da peça foi proibida em todo o país no dia 17, sob a alegação de que “preconizava o incesto” e “incitava ao crime”. Nenhuma referência ao lesbianismo — o que a peça também tinha.
Foi um dos primeiros atos do governo do general Eurico Gaspar Dutra, eleito em dezembro do ano anterior logo após a queda de Getúlio e empossado a 31 de janeiro. Considerando-se que o governo Dutra vinha para arejar a nação depois de quinze anos de getulismo — embora a censura à imprensa já tivesse sido extinta, na prática, desde fevereiro do ano anterior —, a proibição de “Álbum de família” foi uma surpresa. Naturalmente não seria a única. Em abril, Dutra fecharia os cassinos; em 1947, o Partido Comunista; e, pelos cinco anos seguintes, faria um governo de torcedor do Bonsucesso.
“Há uma diferença entre o Napoleão e o Dutra”, diria, no futuro, um compreensivo Nelson.
Mas ninguém podia ser compreensivo quando a coisa aconteceu — nem os que combateram a interdição de “Álbum de família”, nem os que a defenderam. A proibição da peça acendeu os intelectuais, que viram naquilo um perigoso precedente. Afinal, fora para isso que eles tinham corrido com Getúlio, juntamente com Lourival Fontes, o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) e outras antiqualhas do fascismo brasileiro? E, como se não bastasse, “Álbum de família” era a maior peça já escrita neste país, diziam.
Mas outros intelectuais, alguns sem compromisso com o regime deposto, acharam que “Álbum de família” realmente passava dos limites — que sua liberação seria um escracho contra a família brasileira. Se fosse liberada, pais e filhos seguiriam o exemplo daqueles personagens alucinados e sairiam copulando alegremente pelos lares. E houve ainda outros, como o episcopal Álvaro Lins, que, mantendo a postura superior de condenar a interdição da peça, arrasou-a como teatro.
Foi justamente o ataque de Álvaro Lins que desencadeou a polêmica. Até então Nelson estava lutando pela liberação de “Álbum de família” com os meios ao seu alcance: distribuindo o maior número possível de cópias a amigos e recolhendo depoimentos para tentar convencer o chefe de polícia do Distrito Federal, o advogado Pereira Lyra, a contestar a ordem da Censura.
O intermediário das negociações com Pereira Lyra foi o jornalista Prudente de Morais, neto, diretor de redação do “Diário Carioca”. Com sua autoridade de neto de ex-presidente da República, quase se podia garantir que a peça seria liberada. Mas o chefe de policia não ficou muito impressionado com as glórias avoengas de Prudente. Se fosse para disputar campeonato de avô, ele também poderia tirar alguns esqueletos ilustres da prateleira.
A causa parecia perdida. Foram quatro meses de campanha, em que o principal mote de Nelson era o que ele repetia pelos cafés e redações:
“Mas como podem censurar? ‘Álbum de família’ é uma peça bíblica. Então teriam que censurar também a Bíblia, que está varada de incestos!”
Em julho, quando viu que o veto seria mantido, Nelson publicou a peça em livro, em nome de uma misteriosa “Edições do Povo”, mas nitidamente impressa nas oficinas de “O Cruzeiro”. Donde “Álbum de família”, que não podia ser vista por platéias adultas pagando ingressos, estava agora ao alcance de qualquer pessoa que soubesse ler.
E então Álvaro Lins escreveu seu rodapé no “Correio da Manhã”, intitulado “Tragédia ou farsa?”. Começava dizendo-se amigo do autor e oferecendo-lhe a sua solidariedade, “como o faria em relação a qualquer outro autor, amigo ou inimigo, cuja obra fosse atingida pelo veto de um poder incompetente e ilegítimo”. Infelizmente, não podia oferecer-lhe “solidariedade literária”. A peça era “vulgar na forma, banal na concepção”. “Chula”, “primária”, “grosseira”. “De desoladora miséria vocabular.” “Um mar de enganos, erros, atrapalhações e insuficiências.” “Um equívoco como tragédia.”
O que mais irritava Álvaro Lins era a inflação de incestos: Jonas ama a filha Glória; Glória ama o pai Jonas; dona Senhorinha ama os filhos Guilherme, Edmundo e Nonô; Edmundo e Nonô amam a mãe, dona Senhorinha; Guilherme ama a irmã Glória. Que família! “Se todos são incestuosos, onde está a tragédia?”, perguntava. Álvaro Lins preferia que houvesse em cena um único incesto, como em Édipo rei”, de Sófocles, para que ele parecesse “singular, anormal e extraordinário”.
No dia seguinte à publicação da crítica, Álvaro Lins e Nelson tomaram por acaso o mesmo bonde na praça da Bandeira, o “33”, em direção à Lapa. Álvaro Lins ia para o “Correio da Manhã”, já agora na avenida Gomes Freire; Nelson ia para os “Associados”, na rua do Livramento. Durante o trajeto, fingiram não se ver. No ponto final, Álvaro Lins cumprimentou-o e disse:
“Espero que o rodapé não modifique as nossas relações. Continuamos amigos?”
E Nelson:
“Claro, claro.”
Mas, ao descer do estribo, já tinha orquestrado sua vingança. Nelson simplesmente envolveu todos os “Associados” na guerra contra Álvaro Lins. E os “Associados” acharam ótimo, porque Álvaro Lins era do “Correio da Manhã”. Um artigo assinado por Monte Brito em “O Jornal” classificava de “enciclopédica e delirante a sua ignorância [de Álvaro Lins] sobre o teatro”. Na mesma linha, Freddy Chateaubriand, em “O Cruzeiro”, notou que Álvaro Lins citara dramaturgos gregos, franceses e americanos em seu rodapé e estranhou “a súbita cultura teatral que adquiriu — do dia para a noite, consultando dicionários, incomodando amigos pelo telefone”. E acrescentou, com um delicioso toque de perfídia: “E dizer-se que, ao ser nomeado crítico teatral do ‘Correio da Manhã’, [Álvaro Lins] vivia fazendo apelos patéticos: ‘Vocês me ajudem! Eu não entendo nada disso!’.”
Nada de grave nesses ataques, exceto por um detalhe: apesar de assinados por pessoas conhecidas, com quem vivia-se cruzando no “Vermelhinho” ou em outros cafés da cidade, ambos os artigos eram da mesma e ostensiva autoria: Nelson Rodrigues.
José César Borba, até então ardente aliado de Nelson, tomou o partido de Álvaro Lins e treplicou no “Correio da Manhã”. Confessou-se decepcionado com “seu amigo” Nelson Rodrigues. Acusou-o de não saber aceitar as regras do jogo, de não conseguir absorver uma crítica. Chamou-o de inculto, verberou o seu “ímpeto frenético para o escândalo” e o reprovou (com razão) por escrever por interpostas pessoas, as quais classificou de “os boys de ‘Suzana Flag’ “. Monte Brito, por exemplo, não passava de “um louco da Paraíba”. Quanto a Freddy Chateaubriand, era apenas “o rapaz elegante de uma revista elegante”.
A resposta, não a José César Borba, mas endereçada ao próprio Álvaro Lins, veio de onde eles não esperavam: do “Diário Carioca”, onde Nelson construíra o seu mais fiel e expressivo ninho de admiradores — Pompeu de Souza, Prudente de Morais, neto e Paulo Mendes Campos. O troco foi dado por Roberto Brandão, que todos sabiam ser Pompeu de Souza, insinuando que Álvaro Lins estaria se escondendo por trás da assinatura de José César Borba: “Não nos faça rir, amigo. Então o nosso César Borba, o doce, o suave Borba, aquela flor de menino, que cora a uma palavra mais máscula, transformado em ferrabrás!”. E fulminou a erudição de Álvaro Lins, dizendo que ele “não entenderia ‘Édipo rei’ nem numa condensação do ‘Reader’s Digest’ “. Para Pompeu, todos os incestos de “Álbum de família” não se passavam numa família A ou B, mas “na própria família humana, a família geral, a espécie” — e, entendido isso, tudo estaria entendido.
Mas houve quem preferisse não entender. R. Magalhães Jr., no “Diário de Notícias”, acusou Nelson de ter “violado Aristóteles” e alinhou seus personagens como “brutos eróticos, anormais, tarados, digamos mesmo monstruosos, chafurdando na degradação e todos eles dominados por um pensamento unico: o de continuarem se degradando. Uma família como aquela provavelmente nunca terá existido”.
A polêmica se instalava agora dentro de cada jornal. No mesmo “Diário de Notícias”, Sérgio Milliet defendeu a peça dizendo que, ao atrever-se a transformar o incesto “numa lei, quase numa generalidade”, Nelson Rodrigues “enfiava um ferro em brasa numa ferida comum a todos, localizada lá no fundo do inconsciente, e que todos desejam ignorar”. E Waldemar Cavalcanti, em “O Jornal”, fingia espanto: “Mas que fez o senhor Nelson Rodrigues para merecer a excomunhão dos zelosos pastores da rua da Relação? Escreveu palavras pornográficas, frases atentatórias à moral, coisas picantes, cenas indecentes? Nada disso. Apenas tomou em suas mãos um velho tema clássico, o do incesto”. Como se, em 1946, tal tema fosse corriqueiro até nas novelas da rádio Nacional patrocinadas pelo sabonete “Lifebuoy”.
“O Globo” pegou a bola e promoveu durante dias uma enquete com a pergunta: “Deve ou não ser representada ‘Álbum de família’?". Pompeu de Souza, agora com seu nome, voltou a defendê-la. Álvaro Lins reafirmou sua posição: defendia o direito de a peça ser representada e o seu próprio direito de dizer que ela era “mal planejada e pior ainda executada". Austregésilo de Athayde achava que “só o público e a crítica poderiam julgá-la". Lúcia Miguel Pereira, biógrafa de Machado de Assis, achava que deveria ser representada, mas “para um público escolhido”. Seu marido, o historiador Otávio Tarquínio de Souza, repetiu-a. Dinah Silveira de Queiroz, idem, ressalvando que mesmo a censura até dezoito anos era pouco, porque raramente respeitada. Acrescentou que “Álbum de família” só deveria ser levada “em círculos privados, para um público à altura de compreendê-la’". Ninguém explicou como esse público seria escolhido.
Accioly Neto, em “O Cruzeiro”, estranhou que se interditasse a peça, não o livro: “O espectador pode ser selecionado, o leitor nunca”. O poeta Lêdo Ivo bateu duro: “Imoral não é a. peça, mas a sua proibição”. Agripino Grieco, Rachel de Queiroz, Emil Faraht, Nelson Werneck Sodré, todos opinaram pela liberação. E Manuel Bandeira, mais uma vez, não faltou com seu apoio. Viu em “Álbum de família” a confirmação do juízo que fizera de Nelson Rodrigues em “Vestido de noiva” e sentenciou: “a, de longe, o maior poeta dramático-que já apareceu em nossa literatura”.
Só dois inquiridos defenderam a interdição de “Álbum de família”: Jaime Costa e Tristão de Athayde, aliás Alceu Amoroso Lima. O veterano Jaime Costa, que se dava bem com a censura, quis ser profético: “Se algum dia uma companhia representar essa peça, veremos pela primeira vez no Brasil o público impedir o final de um espetáculo”.
E Alceu convocou quatro advérbios de modo para ficar ao lado da censura: “A peça é literariamente nula. Não passa da mais vulgar subliteratura. A interdição me parece perfeitamente legítima. O guarda-civil tem não só o direito, mas o dever de impedir que um louco se dispa em plena avenida. Os loucos de ‘Álbum de família’, que se despem moralmente no palco, também podem legitimamente ser convidados a fazê-lo de modo mais discreto. A exibição de uma patacoada obscena não é menos nociva ao grande público do que o funcionamento de uma roleta”.
Os moralistas venceram. “Álbum de família”, escrita no final de 1945 e interditada em fevereiro de 1946. só seria liberada em dezembro de 1965 e levada pela primeira vez em julho de 1967 — e, ao contrário do que previra Jaime Costa, o público não impediria o final do espetáculo.
E Nelson, a partir daquela interdição, começaria a escrever para si mesmo o papel que não escolhera, mas que tão bem lhe assentava: o de maldito.
- 1948 - A GUILHOTINA
Poucos dias depois da estréia da nova peça de Nelson, “Anjo negro”, em abril de 1948, o “Diário da Noite” publicou um anúncio de página inteira, no qual propunha em manchete: “ ‘ANJO NEGRO’: IMORAL OU OBRA DE ARTE”.
O próprio anúncio oferecia frases que defendiam as duas posições, dando a entender que a alternativa certa era a segunda — mas deixando uma suspeita de que a primeira não estaria muito errada. Era o apetite promocional de Nelson, capitalizando o labéu de “imoral” que lhe haviam pespegado desde a interdição de “Álbum de família". Mas, se “Álbum de família” fora condenada ao inferno por mostrar uma meia dúzia de incestos, o que dizer de “Anjo negro”, que continha essas e outras abominações e em que o principal personagem era um negro?
Nenhuma dúvida: três meses antes, em janeiro, já em ensaios pela companhia de Maria Della Costa e Sandro Polloni, “Anjo negro” também fora interditada pela Censura Federal.
E não seria liberada nem a muque se, desta vez, Nelson não tivesse apelado para canais mais competentes: o ministério da Justiça e a Igreja Católica. Começou com uma caçada ao ministro Adroaldo Mesquita da Costa pelos gabinetes do poder. O homem não parava em lugar nenhum. A última informação era de que estava tomando um avião naquele momento para o Nordeste. Nelson e Sandro voaram para o aeroporto. Com sua carteira de jornalista, Nelson pôde entrar na pista e, já na escadinha, entregou o manuscrito da peça ao ministro, que prometeu lê-la na avião.
Em seguida, Nelson conseguiu o apoio do padre Leonel Franca, teólogo jesuíta, consultor dos bispos brasileiros e fundador da PUC, que lhe redigiu um parecer favorável sobre “Anjo negro”. Daí a dias, com o envelope do padre em mãos, Nelson convidou o ministro, já de volta ao Rio, a jantar em sua casa. Queria explicar-lhe a peça e entregar-lhe formalmente o parecer. Adroaldo, que achara a peça um escândalo, aceitou o convite, mais por curiosidade, e compareceu à casinha de vila na rua Joaquim Palhares, no Estácio.
Elza serviu-lhe macarronada e ofereceu-lhe “Malzbier”. Adroaldo observou a sala acanhada, a geladeira encimada pelo pingüim de louça, os filhos brincando debaixo da mesa, Elza ralhando com eles — e se enterneceu pela simplicidade daquele homem de suspensórios e de calças quase sob as axilas, de quem os censores queriam beber o sangue como se fosse groselha. Duas horas depois, Adroaldo aceitou mais um cafezinho, embolsou o parecer do padre Franca e Nelson foi levá-lo até a porta, com “Anjo negro” liberado.
Não se sabe como Adroaldo não mudou de idéia. Quando a peça estreou, um crítico, o futuro ator Ruy Affonso Machado, deliciou-se em listar os crimes cometidos pelos personagens de “Anjo negro”, cada qual mais tenebroso: “homicídios com agravantes, indução à lascívia, três infanticídios, adultério, corrupção de menor, lesões corporais graves, estupro e cárcere privado” — mas só para especular se Nelson Rodrigues queria concentrar em três atos “todos os delitos previstos no Código Penal”. Outros críticos condenaram os “incestos, suicídios, violações de virgens”, falaram em “último degrau dos instintos” e se indignaram: “Sexo, sexo, sexo, é só nisso que ele pensa?”. Bisonho, bisonho, bisonho.
Paschoal Carlos Magno, no “Correio da Manhã”, escreveu que, ao liberar a peça, o ministro da Justiça “prejudicara o senhor Nelson Rodrigues”. O fiel Accioly Neto, incontinenti, passou telegrama a Paschoal xingando-o de censor. Paschoal, com as orelhas em chamas, correu a explicar-se pelo jornal: proibida, a peça poderia ser a obra-prima que os amigos de Nelson diziam que era. Vista, ele a achara “decepcionante”, só isso. Menotti del Picchia pensava diferente: “Nunca o teatro da América subiu a tão altos coturnos”. Gustavo Dória, em “O Globo”, falou em “poesia selvagem”. E Ruy Affonso, que viu uma ligação direta entre “Anjo negro” e “O imperador Jones”, de O’Neill, chamou-a de “obra-prima do estilo barroco”.
Nem todos os amigos de Nelson lutaram por “Anjo negro”. Ele a escrevera em meados de 1946, depois de perdida a batalha de “Álbum de família”, e a dera imediatamente aos “Comediantes”, que iriam levá-la no Municipal.
Mal desconfiava de que só a veria no palco dali a um ano e meio e, mesmo assim, porque a defendera como uma aranha defende o seu filhote. Escrever uma peça sobre negros era uma antiga idéia sua, diria Nelson depois, mas apelos mais urgentes o tinham feito adiá-la. O que finalmente o motivara a sentar-se e escrever fora o seu convívio com Abdias do Nascimento, o jovem ator negro com quem ele se encontrava diariamente no “Vermelhinho”, o café dos escritores e jornalistas na Cinelândia, em frente à ABI.
Mexendo o cafezinho para que ele esfriasse, Nelson dizia a Abdias:
“Nos Estados Unidos, o negro é caçado a pauladas e incendiado com gasolina. Mas no Brasil é pior: ele é humilhado até as últimas conseqüências.”
Abdias achava surpreendente ouvir aquilo de um branco. E mais ainda de um branco como Nelson: cor de gesso, quase transparente, sem um pingo de sangue negro nos diversos glóbulos. A idéia corrente, muito mais naquela época, era a de que no Brasil não havia preconceito racial. Nelson contou a Abdias que sua atenção para o problema do negro fora despertada na viagem que fizera ao Recife, aos dezessete anos, em 1929, mas não explicou por quê. Fora lá que chegara à conclusão de que “no Brasil, o branco não gosta do preto e o preto também não gosta do preto”. O que impressionava Abdias era que Nelson não falava do negro com paternalismo. O próprio Abdias, se pudesse, daria uns cachações nos outros negros que, como dizia Nelson, queriam ser “brancos de arminho”.
Ismael, o personagem central de “Anjo negro”, era um preto como Abdias, para quem foi escrita a peça: doutor de anel no dedo e orgulhoso de sua raça, mas com todos os defeitos do ser humano, branco, amarelo ou furta-cor. Nelson tinha uma birra particular contra a mania do teatro brasileiro de apresentar o negro como um “moleque gaiato”. Em abril de 1947, quando ainda se pensava que “Anjo negro” seria levada no Municipal, Nelson escrevia em “O Cruzeiro”:
O negro Ismael — o herói — é belo, forte, sensível e inteligente. Esse desfile de qualidades não é tudo, porém. Se ele fosse perfeito, cairíamos no exagero inverso e faríamos um negro tão falso quanto o outro. Ismael é capaz também de maldades, de sombrias paixões, de violências, de ódios. Mas, no ato de amor ou de crueldade, ele é, será sempre um homem, com dignidade dramática, não um moleque gaiato.
Antes de passar o texto de “Anjo negro” pela censura, Nelson teve de submetê-lo a uma “comissão cultural” que selecionava o repertório do Teatro Municipal. A comissão, inacreditavelmente, não viu nenhum inconveniente na peça ou no personagem — desde que Ismael, com esse nome bíblico, fosse interpretado por um branco.
Nelson ouviu um ruído. Era sua cara caindo no chão.
“Mas o personagem é negro!”
Um dos membros da comissão tamborilou com dez dedos em cada mão:
“Pois é, mas o Municipal... Se fosse um espetáculo folclórico... E há cenas entre o crioulo e a loura. Olhe — que tal um negro pintado?”
Negros interpretados por brancos com o rosto pintado não eram apenas coisa de americano, de Al Jolson. Eram a regra no teatro “sério” brasileiro. O próprio Ziembinski, que iria dirigir “Anjo negro”, votou, segundo Nelson, pelo branco de cara pintada. Mas, naquela peça em particular, Nelson fazia questão de um preto autêntico, e não só: queria Abdias do Nascimento no papel.
“Anjo negro” acabou não sendo feita pelos “Comediantes”, mas por Maria Della Costa e seu marido Sandro; nem foi levada aquele ano no Municipal, mas só no ano seguinte, e no Phoenix; e Ismael não foi interpretado por Abdias (e nem por outro negro, Edison Lopes, que chegou a ensaiar), mas pelo branco Orlando Guy, com graxa no rosto. A prova de que Nelson era o único incomodado com isso é que nenhum crítico da época estranhou a ausência de um negro no papel do negro.
O próprio Abdias aconselhou Nelson a passar por cima desse detalhe.
“Mas você acha mesmo, Abdias?”, Nelson perguntou.
“Acho. O importante é que a peça seja levada”, disse o outro.
“Os comediantes” estavam se desfazendo e se fundindo com a companhia “Teatro popular de arte”, de Delia Costa e Sandro. Quando Nelson soube que os dois haviam arrendado o Teatro Phoenix por um ano, nunca mais deu-lhes sossego. Telefonava-lhes dia e noite, tentando convencê-los a ficar com a peça. Apelou até para o jornalista Fernando de Barros, que descobrira Maria Delia Costa numa capa de revista em Porto Alegre e fora seu primeiro marido. Maria gostava da peça, mas não se achava adequada ao papel da mãe assassina. Era justo: afinal, tinha apenas 21 anos. Mas Nelson sabia que, loura de verdade e fenomenalmente linda, ela seria a Virgínia perfeita para o torturado Ismael. Além disso, não era virgem de seu teatro: em abril do ano anterior, 1947, já fizera Alaíde numa montagem de “Vestido de noiva” produzida por Miroel Silveira no Municipal de São Paulo, com Cacilda Becker como Lúcia e Olga Navarro como madame Clessy. Quem enfrentasse aquelas duas no palco podia fazer qualquer papel. Maria Della Costa aceitou — e não se arrependeu.
“Anjo negro” foi um sucesso em seu tempo (dois meses em cartaz), embora, para Nelson, os deslumbrantes efeitos plásticos da produção tivessem anestesiado a platéia para a contundência social e dramática do espetáculo. Não estava fazendo teatro de “tese” — só a palavra já lhe provocava urticárias. Mas a história, que teria muito mais impacto em, digamos, preto-e-branco, ficou na sombra diante do glorioso “technicolor” dos cenários de Sandro e da direção de Ziembinski.
Nelson se queixou também de que o ator pintado, por melhor que fosse, não tinha a “autenticidade racial e cênica” de um negro de verdade. Para ele, era o único ponto fraco, mas nevrálgico, de um elenco perfeito: Maria Della Costa como Virgínia, a mulher que mata os seus próprios filhos negros com Ismael; Itália Fausta, como a tia vingativa; e a estreante Nicete Bruno, ainda adolescente como Ana Maria, a filha de Virgínia com o irmão branco e cego de Ismael.
Mas ele seria um ingrato se se queixasse de “Anjo negro”. A peça permitiu-lhe comprar sua casa — um sobrado de dois andares, com varanda e escada de mármore — na rua Agostinho Menezes, no Andaraí. (E a cinco quarteirões da rua Alegre.) Para fechar o negócio, Nelson e Elza juntaram cada tostão de suas economias, conseguiram um financiamento no IAPC (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários) e completaram o bolo com a bilheteria de “Anjo negro”.
Ficou endividado, mas, aos 36 anos, Nelson se livrara do fantasma do aluguel. Podia concentrar-se agora nos seus próprios fantasmas. Os quais, de repente, pareciam ter a forma de mulheres lindas, voluptuosas e de chassis reforçados.
Nelson teve uma queda por Maria Della Costa durante “Anjo negro”. Inundava diariamente o seu camarim com flores e bilhetes, como se Sandro, marido da estrela, não fosse também o produtor do espetáculo e não estivesse o dia todo por ali. Della Costa achava Nelson “majestoso” e o estimava tanto quanto o admirava, mas não estava nos seus planos apaixonar-se por ele. Contornou o dilema de forma tão elegante que ninguém se ofendeu — nem Nelson, nem Sandro. Maria apenas ria e fingia não levar a sério as declarações de Nelson.
As quais talvez não fossem mesmo para outra coisa porque, ao mesmo tempo que cortejava sua heroína em “Anjo negro”, Nelson fazia expedições vespertinas com Abdias aos fundos do Teatro Carlos Gomes, na rua Dom Pedro i, atraído por uma corista negra chamada Tânia. O namorico com Tânia teve a duração de uma cortina — ou menos do que durou “Anjo negro”.
Mas foi ainda durante “Anjo negro” que Nelson conheceu a também atriz Eleonor Bruno, mãe da menina Nicete. E, aí, foi diferente. Depois de anos de vida doméstica, o perpétuo apaixonado estava de volta.
Eu posso começar esta história dizendo que me chamo Suzana Flag. E acrescentando: sou filha de canadense e francesa; os homens me acham bonita e se viram, na rua, fatalmente, quando passo. Uns olham, apenas; outros me sopram galanteios horríveis, mas já estou acostumada, graças a Deus; há os que me seguem; e um espanhol, uma vez, de boina, disse, num gesto amplo de toureiro: “Bendita sea tu madre!". Lembrei-me de minha mãe que morreu me amaldiçoando e senti um arrepio, como se recebesse, nas faces, o hálito da morte. Bem: acho que o meu tipo é miúdo; não demais, porém. E foi isso talvez que levou certo rapaz a me dizer, pensativo: “Se você cantasse, daria uma boa madame Butterfly”. Há mulheres decerto menores do que eu. Mas gosto de ser pequena, de dar aos homens uma impressão de extrema fragilidade e de me achar, eu mesma, eternamente mulher, eternamente menina.
As vezes, nem sempre, tenho uma raiva de umas tantas coisas que existem em mim e que atraem os homens. E, nessas ocasiões, desejaria ser feia ou, pelo menos, desinteressante, como certas pequenas que impressionam um homem ou dois, e não todos. O que acontece comigo é justamente o seguinte: eu acho que impressiono, senão todos, pelo menos a maioria absoluta dos homens. Mesmo homens de outras regiões, quase de outro mundo, se agradam de mim. Inclusive aquele marinheiro norueguês, alvo e louro, que me olhou de uma maneira intensa, de uma maneira que me tocou tanto quanto uma carícia material. Tenho vinte e poucos anos e devo dizer, não sem uma certa ingenuidade, que vivi muito mais, que tive experiências, aventuras, que mulheres feitas não têm.
Para vocês compreenderem isso, precisavam me conhecer como eu sou fisicamente, isto é, ver os meus olhos, a minha boca, o modo de sorrir, as minhas mãos, todo o meu tipo de mulher. Se vocês me conhecessem assim — eu poderia dizer: “Esta é a história de minha vida, esta é a história de Suzana Flag”... Mas é preciso advertir: vou contar tudo, vou apresentar os fatos tais como aconteceram, sem uma fantasia que os atenue. Isso quer dizer que o meu romance será pobre de alegria; poderia se chamar sumariamente: “Romance triste de Suzana Flag”.
Assim Nelson começou, em 1946, “Minha vida” — nada menos que a “autobiografia” de seu pseudônimo “Suzana Flag”. As leitoras de “O Jornal”, mesmo sem saber que a fascinante autora do seu folhetim barbeava-se com “Gillette” e usava o emplastro “Sabiá”, não podiam tomar aquilo como verdade. Não era possível que tomassem.
A vida de “Suzana Flag”, desde as primeiras páginas, era igualzinha à de suas heroínas: a mãe se matara na sua frente, tomando veneno; antes de exalar o último suspiro, rogara-lhe a praga de que, um dia, “Suzana” também encontraria um homem proibido; o pai metera uma bala na cabeça depois de gritar para a mulher no caixão: “Cínica! Cínica!”; e, súbita e duplamente órfã, “Suzana” se veria condenada a se casar com Jorge, o amante de sua mãe. E o primeiro capitulo ainda nem terminara! Com uma história de vida como essa, desde quando uma escritora precisa de imaginação?
Mas, mesmo que as leitoras não acreditassem que “Suzana Flag” tivesse vivido aquilo tudo, os qüiproquós da garota eram perturbadores o suficiente para mantê-las narcotizadas durante os três meses de duração de “Minha vida”. O segredo de “Suzana Flag” era essa estranha química, de suas histórias serem escritas por um homem, mas com uma cabeça tão “sensível” e “feminina”. A outra chave para o sucesso de “Suzana Flag” era que, nos folhetins, Nelson podia escrever de forma relaxada, sem o menor capricho verbal, mas escrevia exatamente o que pensava. Sua famosa frase, “Todo amor é eterno. Se não é eterno, não era amor”, por exemplo, foi dita pela primeira vez em “Meu destino é pecar”.
Como os folhetins anteriores, “Minha vida” saiu em livro no mesmo ano de sua publicação em “O Jornal”, 1946, e vendeu os horrores de praxe. Não tanto quanto “Meu destino é pecar”, mas o suficiente para que, somado aos rendimentos dos outros folhetins, livros, peças e o seu salário em “O Guri” (sim, ele ainda trabalhava lá), Nelson deixasse de ser Raskolnikov, o pobre-diabo de Dostoiévski em “Crime e castigo”. E apenas isso. Porque de modo algum era suficiente para que ele deixasse de preocupar-se com dinheiro.
Uma carta daquele ano a seu velho amigo, o caricaturista Andrés Guevara, agora influente artista gráfico em Buenos Aires, mostra como Nelson parecia contar pateticamente com o dinheiro que “Vestido de noiva” e “Meu destino é pecar” poderia render no teatro e cinema argentinos. Dizia Nelson na carta:
Guevara ilustre, você é uma desilusão. Escrevi-lhe uma porção de cartas, pedindo notícias de “Meu destino é pecar” e de “Vestido de noiva”, e você não me respondeu absolutamente nada. Em primeiro lugar: não há nenhum sujeito com representação minha em Buenos Aires, a não ser você. Houve, de fato, um camarada que me pediu autorização para sondar o cinema argentino acerca de “Meu destino é pecar”. Mas não lhe dei autorização nenhuma. Você é meu representante único em Buenos Aires, tanto para “Meu destino é pecar” como para “Vestido de noiva”. Amanhã enviarei a você um documento definitivo, transmitindo a você todos os poderes; a questão ficará assim liquidada. Só espero de você, o mais depressa possível, uma informação sobre os resultados econômicos que terei no caso.
Caiu por terra o preconceito de que “Vestido de noiva” não era para o grande público. É, sim. E é isso que você precisa dizer aí em Buenos Aires: que “Vestido de noiva” e, acima de tudo, um negócio comercial. Não deixe que companhias de amadores a representem; só companhias de profissionais. Insista com “Vestido de noiva” na certeza de que o êxito daqui se reproduzirá, com mais violência, em Buenos Aires, com gordas vantagens para nós dois, que estaremos associados. Faça força, trabalhe, que diabo! Não banque o displicente! Aproveite, tanto mais que, acabada a guerra, “Vestido de noiva” vai correr mundo. Acaba de ser traduzido para o tcheco, para o francês, para o inglês. Diga isso também ao pessoal ai.
Quanto a “Meu destino é pecar”, não durma. Apele para o jornal, para o rádio, para o livro, procurando fazer o melhor negócio possível, para nós dois. Eu quero que você ganhe, para se indenizar do trabalho que tiver. Mas não se esqueça das condições que nos serão fixadas. Aguardando breves notícias, o meu abraço e recomendações à senhora. Etc. etc., Nelson.
Nelson estava sendo muito otimista. As traduções de “Vestido de noiva” para o tcheco, inglês e francês não aconteceram na época e nem tão cedo —para mágoa de Nelson, que, muitos anos depois, passaria a dizer que não lhe interessava ser conhecido em outras línguas. Mesmo em Buenos Aires, Guevara não foi eficiente em vender seu material. E “Meu destino é pecar” seria efetivamente filmada por um argentino chamado Manuel Pelufo, mas só em 1952 e numa produção brasileira.
Se a glória — ou a danação — de Nelson tinha de acontecer em seu próprio país, era bom que ele começasse a se acostumar.
Todos os jornais ficavam no Centro da cidade e pertinho um do outro; os jornalistas batiam perna o dia todo de lá para cá, com intervalos para o café nos botequins. Embora continuasse funcionário de Chateaubriand, a turma de Nelson era agora a do “Diário Carioca”, o jornal do “Senador”, como todos chamavam o seu proprietário, José Eduardo Macedo Soares. Nelson ia todo dia à redação, na praça Tiradentes. Nela, pelo menos, era recebido com palmas. Prudente de Morais, neto, um dos cardeais, até então só não escrevera sobre ele em bulas de remédio. Era de Prudente (sob seu pseudônimo Pedro Dantas) o fabuloso posfácio da edição em livro de “Álbum de família”.
E Pompeu de Souza, redator-chefe, achava graça em tudo que Nelson dizia. Por qualquer motivo explodia em gargalhadas, às quais seguiam-se tremendos ataques de tosse.
“Ah, se eu pudesse tossir com essa sinceridade!”, dizia Nelson.
Paulo Mendes Campos, recém-chegado de Belo Horizonte, era o critico de teatro do jornal. Mas, quando se tratava das peças de Nelson, dizia que deixava de ser crítico:
“Caio de quatro e pasto.”
Do “Diário Carioca”, Prudente, Pompeu, Paulo e Nelson iam diariamente almoçar na “Colombo”, na rua Gonçalves Dias, afinados como um quarteto de cordas. A mesa era completada com freqüência por Augusto Frederico Schmidt, San Thiago Dantas e nada menos que Manso de Paiva, o pedreiro que matara Pinheiro Machado em 1915. Manso adorava contar como comprara a faca e fora ao Hotel dos Estrangeiros, na praça José de Alencar, para esperar a chegada de Pinheiro Machado. E como lhe cravara a faca nas costas. O deleite quase estético do assassino ao recordar sua triste façanha aturdia Nelson. Essas coisas existiam na. vida real — e ainda havia quem o chamasse de “tarado” quando ele enxertava algo parecido em suas peças.
À turma do “Diário Carioca” juntavam-se ainda dois outros rapazes de Belo Horizonte, também recém-chegados ao Rio: Otto Lara Resende, que dirigia o suplemento dominical do “Diário de Notícias”, e o mais mineiro que piauiense Carlos Castelo Branco, subsecretário de “O Jornal”. Ali, naquela mesa de jovens jornalistas talentosos — talvez a geração mais brilhante da imprensa brasileira em qualquer época —, um outro traço de Nelson começava a revelar-se para eles: o cabotinismo. Depois de “Vestido de noiva”, que o purgara das humilhações passadas, e de “Álbum de família”, que o alertara para humilhações futuras, não havia mais quem o segurasse.
Todos aqueles amigos estavam convencidos da genialidade de Nelson e jogavam seus jornais com uma convicção cangaceira na campanha para liberar qualquer peça sua que fosse ou viesse a ser interditada — e a maneira de fazer isso era proclamar que Nelson era um gênio incompreendido. Todos, menos Otto Lara Resende. Ele também achava Nelson um gênio, mas resistia aos seus apelos para escrever isso todo dia no “Diário de Noticias”. Deve ter sido o único caso de um amigo de Nelson que nunca o defendeu por escrito, nem a pedidos, e de quem Nelson continuou amigo.
O talento de Nelson para reproduzir, repetir e disseminar qualquer elogio que lhe fizessem era do tamanho do seu gênio dramático. Mesmo que esse elogio tivesse de ser escrito por ele próprio. Uma de suas províncias era a influente coluna “Spot-light” de “O Cruzeiro”, assinada por “Grock” ou por Accioly Neto, mas cujo responsável sempre fora Accioly.
Durante mais de dez anos, a partir de 1944, todas as resenhas de peças de Nelson publicadas em “Spot-light”, assinadas por Accioly, foram escritas por Nelson. Com o maravilhoso detalhe de que, entre observações agudas e pertinentes sobre as intenções do autor (e quem estaria mais abalizado para isso?) e hinos à eternidade das peças, Nelson fazia leves restrições ao cenário ou à iluminação para parecer "imparcial”. Várias observações de “Accioly” (na vida real, boa-praça, grande gozador, fã de Nelson e das moças que saiam na capa de “O Cruzeiro”) foram incorporadas aos estudos críticos sobre ele.
Inversamente, qualquer ataque ou restrição que lhe fizessem era respondido por Nelson com a negação completa e instantânea de todas as qualidades do outro. Mesmo que em desacordo com o que o próprio Nelson pudesse ter dito na véspera. Isso aconteceu com Otto Maria Carpeaux, que qualificara “Vestido de noiva” de “magistral” e mandara a Nelson um bilhete elogioso ao ler o texto de “Anjo negro”. Na porta da ABI, Nelson não poupava elogios a Carpeaux:
"É um crânio! Tem várias bibliotecas na cabeça! Sabe o Goethe de cor e salteado!”
Mas Carpeaux não gostou de “Anjo negro” ao vê-la encenada e Nelson ficou sabendo. No dia seguinte, no mesmo lugar, resumiu Carpeaux para Otto Lara Resende:
“Uma besta.”
“Mas, Nelson, ontem mesmo você dizia que ele era um crânio!”, argumentou Otto.
“Ô, Otto, você quer que eu julgue o Carpeaux pelo que ele acha do Goethe?”
Nelson tinha bons motivos para contar os canhões entre seus amigos e inimigos. Depois da unanimidade nacional a que fora promovido com “Vestido de noiva’ ele próprio se dizia cheio de “ex-amigos” por causa de “Álbum de família” — juntando nesse balaio tanto os que haviam atacado a peça como os que não lutaram como deviam pela sua liberação. A peça seguinte, ‘Anjo negro’ passara 1947 inteiro sem saber qual seria o seu destino. E, agora, ele se preparava para o pior com outra peça que escrevera aquele ano: “Senhora dos afogados".
Pois “Senhora dos afogados” seria também interditada em janeiro de 1948, na mesma época que “Anjo negro”.
Com duas proibições simultâneas, Nelson tentou salvar “Anjo negro”, que já estava em produção, e conseguiu. “Senhora dos afogados” não teve a mesma sorte. Assim que a peça recebeu o carimbo da interdição, Nelson propôs ao ministro da Justiça que, sem atropelar a censura, uma “comissão de intelectuais” opinasse se ela deveria ser ou não encenada. Ambos acatariam o resultado. Que tal? O ministro Adroaldo Mesquita da Costa achou razoável. Afinal, os intelectuais não viviam reclamando que a censura era incompetente para censurar? Pois então que, naquele caso, os intelectuais censurassem a si próprios. Adroaldo aceitou e até concedeu a Nelson que sugerisse três nomes para formar a “comissão” que iria julgar “Senhora dos afogados”.
Nelson podia ter escolhido Manuel Bandeira, Prudente de Morais, neto, Pompeu de Souza. Seria uma goleada. Mas preferiu ser honesto e político: escalou Gilberto Freyre, Olegário Mariano e Alceu Amoroso Lima.
Os três eram respeitáveis da cabeça aos sapatos; os três eram moralmente insuspeitíssimos; e, dos três, Nelson sabia que dois votariam a seu favor. Por acaso, os dois pernambucanos: Gilberto Freyre, porque já lhe dera provas de que o admirava e era grande fã de Mário Filho; e Olegário, porque era velho amigo e protetor de sua família desde a chegada de Mário Rodrigues ao Rio em 1915. O voto contra viria, naturalmente, de Alceu, que há pouco dissera que o guarda-civil tinha o direito de censurar seu teatro. Mas, com isso, ele teria 2x1 a seu favor e “Senhora dos afogados” iria à cena assim que "Anjo negro” encerrasse a carreira. Os três aceitaram ser juizes e Nelson distribuiu as cópias. Dias depois, Adroaldo comunicou-lhe o resultado: 2x1 pela manutenção da interdição!
O voto a favor de Nelson fora de Gilberto Freyre. E Alceu fora coerente: votara a favor da censura. Então o traidor só podia ter sido Olegário Mariano.
O voto de Olegário acertou-o bem no tórax. Como Nelson contaria depois, passou a mão num telefone, ligou para Olegário e o chamou inclusive de cachorro. Olegário, do outro lado, respondeu aos insultos no mesmo volume e atirou-lhe aos tímpanos aquela lembrança terrível:
“Eu te matei a fome!” — referindo-se ao tempo em que o acolhera, a ele, sua mãe e uma multidão de irmãos, em 1916, quando chegaram a zero de Pernambuco.
No futuro, Nelson se penitenciaria muitas vezes pela agressão a Olegário. Reconheceu que, aos 59 anos em 1948, o espantoso seria se o “poeta das cigarras” tivesse se deliciado com “Senhora dos afogados”. Nunca que Olegário poderia aceitar uma história como aquela. (Na peça, o assassinato de uma prostituta se reflete, dezenove anos depois, numa tragédia que envolve a mulher e a filha do assassino — quando o filho que ele tivera sem saber com a prostituta retorna para seduzi-las e castigá-lo. Nas cenas finais, depois de uma saraivada de mortes, o marido, instigado pela filha, decepa por vingança as mãos da própria mulher com um machado.)
“As mãos são as mais culpadas no amor...”, diz a filha. “Pecam mais... Acariciam... O seio é passivo; a boca apenas se deixa beijar... O ventre apenas se abandona... Mas as mãos, não!... São quentes e macias... E rápidas... E sensíveis... Correm no corpo...
Como Olegário, com seus colarinhos de 1918, poderia admitir que, em qualquer fala de “Senhora dos afogados”, havia mais “poesia” do que em toda a sua obra? (fsso não impediu que, ao ouvir a noticia da morte de Olegário, dez anos depois, em 1958, Nelson lamentasse que nunca se tivessem reconciliado.) Mas, em 1948, o velho poeta já não era o único a olhar para Nelson com um sentimento de cinzas geladas.
Nelson farejava isso. Em apenas dois anos tivera duas peças interditadas (“Álbum de família” e “Senhora dos afogados”) e uma que escapara por pouco da guilhotina (“Anjo negro”). O estigma da maldição iria refletir-se no famoso depoimento que ele daria à revista “Dionysos”, em 1949, intitulado “Teatro desagradável”.
Com “Vestido de noiva”, conheci o sucesso; com as peças seguintes, perdi-o e para sempre. Não há nessa observação nenhum amargor, nenhuma dramaticidade. Há simplesmente o reconhecimento de um fato e sua aceitação. Pois, a partir de “Álbum de família” — drama que se seguiu a “Vestido de noiva” —, enveredei por um caminho que pode me levar a qualquer destino, menos ao êxito. Que caminho será esse? Respondo: de um teatro que se poderia chamar assim — “desagradável”. Numa palavra, estou fazendo um “teatro desagradável”, “peças desagradáveis”. No gênero destas, incluo desde logo “Álbum de família”, “Anjo negro” e a recente “Senhora dos afogados”. E por que “desagradáveis”? Segundo já disse, porque são obras pestilentas, fétidas, capazes, por si sós, de produzir o tifo e a malária na platéia.
Até que ponto Nelson estava sendo sincero nesse depoimento? Não quando afirmava que perdera o sucesso “para sempre” — porque, afinal, “Anjo negro” fora uni sucesso de público. (Na última noite, encerrado o espetáculo, Nelson, Ziembinski, Santa Rosa e Pompeu de Souza debateram com a platéia lotada, a qual se recusava a deixar o teatro.) Talvez estivesse se referindo ao fato de que alguns de seus velhos admiradores começavam a abandoná-lo. Augusto Frederico Schmidt, por exemplo, lhe perguntara: “Por que você insiste na torpeza?”. E Manuel Bandeira, que nunca lhe faltara, reagira à leitura de “Senhora dos afogados” com um chocho comentário:
“Interessante...”
Essa palavrinha, que, em outras épocas, seria tão doce para Nelson quanto um pirulito, agora lhe doera fisicamente como uma canivetada. Mais uma vez, no futuro, Nelson justificaria o cansaço de Bandeira em apoiá-lo e diria que “o admirador também precisa de feriado, de domingos, de dias santos” — em que não precise ficar de plantão, admirando. Mas o pior é que Manuel Bandeira também lhe perguntara:
“Por que você não escreve sobre pessoas normais?”
Nelson não teve coragem de dizer-lhe que suas peças tratavam de pessoas como ele, Bandeira, e como ele, Nelson, e como todo mundo. Bandeira poderia ofender-se e considerar-se chamado de “anormal”.
O que incomodava Nelson era que, se Manuel Bandeira — o rutilante poeta, o estudioso dos gregos, dos franceses, dos espanhóis — interpretava-o tão mal, o grosso da população tinha todo o direito de achar que Nelson Rodrigues, de fato, não era portador de uma alma imortal e que suas peças eram mesmo fétidas e pestilentas. Mas o próprio Nelson contribuía para isso, criando ele mesmo o anúncio de “Anjo negro” no “Diário da Noite”, e deixando no ar a dúvida — “imoral ou obra de arte?” — a respeito de sua peça.
Pipocas, ninguém enxergava que a força que o movia era uma profunda “nostalgia da pureza” — pureza que só seria atingida depois que o homem chapinhasse descalço sobre as mais hediondas impurezas?
Não. Ele teria de explicar-lhes. E então escreveu o que outros consideram a sua peça máxima: “Dorotéia”.
- 1950 - “DOROTÉIA”
Eleonor Bruno era, como o próprio Nelson a classificava, um “bijou”, um “biscuit”: pequenina, cabelos castanho-claros, cheinha de corpo, tímida recatada e — o que deve ter tocado uma nota plangente nos músculos cardíacos de Nelson — soprano lírico. Toda a sua família, desde o avô, era de músicos, cantores e bailarinos. Eleonor (Nonoca, para os amigos) começara em espetáculos amadores beneficentes e chegara a cantar árias de “La bohème” no cassino do Copacabana Palace. Mas, em abril de 1948, nas coxias do Teatro Phoenix, estava representando apenas o papel de mãe: sua filha de treze anos, Nicete, estreava como atriz em “Anjo negro”. Nonoca ia levá-la, trazê-la e ficar de olho para que nenhum daqueles rapazes a olhasse de maneira inconveniente. Não podia prever que ela é que seria o alvo dos olhos de alguém: Nelson.
Dito assim, pode-se pensar que Nelson enfrentava problemas em casa ou que seu casamento com Elza, tendo sobrevivido à acídia dos sete anos, estivesse começando a deslizar pela ribanceira. Os homens não gostam muito de falar desses assuntos e Nelson talvez gostasse menos que os outros. Nenhum dos amigos com quem ele convivia na época se lembra de tê-lo ouvido queixar-se do casamento. Sua paixão súbita por Nonoca não precisava de explicações, nem ninguém lhe pedia. Era como se Nelson achasse possível conciliar as duas coisas e, de certa forma, ele tornou isso possível — porque, tendo sustentado por mais de dois anos um caso paralelo, “full-time”, com Nonoca Bruno, Nelson nunca dormiu fora de casa, nem por uma noite.
Não foi uma conquista fácil. Em meados de 1948, seu amigo Carlos Castello Branco, o “Castelinho”, perguntou-lhe:
“Como vai aquele caso, Nelson?”
“Está dureza. O negócio é mandar flores de manhã, de tarde e de noite. Não há mulher, por mais insensível, que resista a tantas flores.”
Nelson não chegou a mandar caminhões, nem tinha dinheiro para isso, mas Nonoca estava longe de ser insensível e não resistiu. Em pouco tempo, Nelson foi assimilado não apenas por Nonoca, como por toda a família Bruno, apadrinhando os casamentos de suas irmãs Lígia e Flordéa, os negócios do irmão Paschoal e conseguindo empregos para seus parentes. No casamento de Flordéa com Walter, os noivos fizeram a recepção na “Colombo” e Nelson presidiu a grande mesa como se fosse o “méneur du jeu”. Até convidou seu amigo Sábato Magaldi a ser padrinho.
Nelson havia alugado com Pompeu de Souza um apartamento no edifício Pitaguary, na praça Serzedelo Correia, em Copacabana, para servir-lhes de “garçonnière”. Até então, ambos usavam pouco o apartamento — tanto que o emprestavam em caráter permanente a seu colega Hélio Fernandes (campeão de sinuca e futuro diretor da “Tribuna da Imprensa”), para que morasse nele. Quando um dos dois ia comparecer à “garçonnière”, Hélio era avisado e ia jogar sinuca por algumas horas. Durante o namoro de Nelson com Nonoca, Hélio observava que, todas as vezes que voltava para casa, encontrava o espelho do banheiro retirado do prego e depositado de pé sobre a pia. Não entendia aquilo. Quando conheceu Nonoca, compreendeu: com sua alturinha, ela não o alcançava para pentear-se.
A “garçonnière” do edifício Pitaguary (onde mais tarde se instalariam os correios) não era, de forma alguma, um pequeno covil de iniqüidades. Nem isso era do estilo de seus titulares. Pompeu, quando se separou de sua mulher (também chamada Elza), morou ali por uns tempos, mas não rompeu completamente os laços com o antigo lar. Nelson comentava:
“O Pompeu se separou da mulher, mas manda as cuecas para lavar em casa.”
E o próprio Nelson contava que um dos momentos mais fascinantes de suas tardes com Nonoca na “garçonnière”, e que o faziam sentir-se no Valhala, era quando ela lhe servia a papinha para a úlcera cantando uma ária da “Traviata”.
Foi para Nonoca Bruno que Nelson escreveu “Dorotéia” em 1949 — a peça em que ela trocaria sua incipiente carreira lírica pela comédia. Nelson convenceu-a de que sabia representar e escreveu-lhe sob medida o papel-título, o da mulher linda, airosa e dissoluta que volta arrependida para a casa de suas primas velhas, feias, sem ancas e que “não dormem para não sonhar”. Dorotéia quer ficar como elas, feiíssima, para apagar da memória o tempo em que desejava e era desejada por todos os homens. Mas, para isso, seu rosto terá de ser destruído pelas chagas. No decorrer da peça, as primas se traem e revelam que, sob suas pesadas vestes pretas, também alimentam um desejo em brasa — e, por isso, têm de morrer. No final, purificadas e reduzidas a duas, Dorotéia e dona Flávia, a prima “mais velha e mais feia”, decidem: “Vamos apodrecer juntas”.
Grande papel, o de Dorotéia, mas não o principal, nem o com mais falas. Este era o de dona Flávia, a cargo da experiente Luiza Barreto Leite, egressa dos “Comediantes”.
“Dorotéia” foi uma empreitada quase familiar — ou não se explicaria que, sendo uma peça profissional, fosse estrelada por uma quase desconhecida como Nonoca. Seria também a estréia, aos 21 anos, de Dulcinha, irmã de Nelson, no papel de Das Dores, a menina que nascera morta e que continuava viva apenas porque ninguém a informara de que morrera. O produtor nominal era Paschoal Bruno, irmão de Nonoca, mas o grosso do dinheiro da produção veio de Nelson e ele só faltou arrombar cofres-porquinhos para levantá-lo. O Teatro Phoenix foi arrendado para a temporada, que se esperava de pelo menos um mês.
Desta vez Nelson não quis jogar com a sorte: depois de três interdições seguidas (duas definitivas), calculou que era a ele que os censores queriam matar a pauladas, como a uma ratazana prenhe — não às peças. Então mandou “Dorotéia” para a censura como “um original de Walter Paíno” — cunhado de Nonoca — e a peça passou sem um arranhão. Os censores devem ter ficado para morrer ao vê-la anunciada, tempos depois, como mais uma do abjeto e excomungado Nelson Rodrigues. Mas tiveram de morder a bala porque, se a proibissem, ficaria caracterizada a perseguição.
E, assim, “Dorotéia” (“a peça que sonhamos juntos”, como Nelson a dedicara secretamente a Nonoca Bruno) subiu ao palco do Phoenix no dia 7 de março de 1950.
O cenário de Santa Rosa era um enorme tablado em forma de ringue, tendo ao fundo um ciclorama azul. Sua simplicidade não diminuía o impressionante efeito visual. Mas o que deixava a platéia sem fôlego era a iluminação de Ziembinski: seis refletores coloridos que seguiam a movimentação das seis mulheres em cena, com uma cor para cada uma. À medida que elas evoluíam pelo palco, as cores se cruzavam, se confundiam, se separavam. Era infernalmente lindo. O jogo de cores continuava nos figurinos, com as primas de preto, sinistras como papa-defuntos, e Dorotéia de vermelho, como uma cortesã antiga. Além disso, Nonoca pintara de fogo o cabelo e, no palco, parecia crescer vários centímetros acima do nível do mar.
Ao fim do primeiro ato, a cortina não desceu de imediato. O encarregado de puxar a corda quis esperar pelos aplausos — que não vieram. Elenco e platéia ficaram olhando um para o outro: o elenco, pasmo; a platéia, atônita. Finalmente, baixou-se o pano em silêncio e os atores tiveram uma pálida idéia do que os esperava pelo resto da peça.
O cruel era que, naquela noite de estréia, metade do público era de convidados: jornalistas, amigos do elenco e da produção, parentes e agregados — pessoas a quem o universo de Nelson não devia ser estranho. Quando o pano se fechou de vez, ao fim da peça, apenas essa metade da platéia aplaudiu e, mesmo assim, por honra da firma. A outra metade retirou-se muda.
Quase ninguém parecia ter entendido direito o que vira. O cartaz dizia: " ‘DOROTÉIA’. Farsa irresponsável em três atos”. Se era uma farsa, era para rir, ou não? Mas rir daquilo? Mais parecia uma tragédia — que, no entanto, tinha umas coisas bem engraçadas. E por que “irresponsável”? Ah, como os antigos precisavam de rótulos para se guiar.
Mas, de fato, “Dorotéia” continha audácias de Nelson que só ficariam claras para a platéia depois que Beckett e Ionesco inventassem o “teatro do absurdo” séculos mais tarde. O “noivo” de Das Dores, a garota interpretada por Dulce Rodrigues, era um par de botinas. Os homens que viviam ameaçando voltar para Dorotéia eram um jarro que se iluminava ou se apagava, conforme a intensidade do seu desejo. Das Dores, ao ser afinal informada de que era uma morta, recusava-se a ir para o Céu e, simplesmente, penetrava de volta no útero da mãe. Como se esperava que 1950 entendesse isso?
Ao fim do espetáculo, Ziembinski chegou esbaforido para Nelson:
“Nelson, estão me perguntando o que significa o jarro, o que significam as botinas. O que eu digo?”
“Não diga nada”, respondeu Nelson, amargurado. “Diga que não significam nada.”
Quem entendeu, entendesse. Quem não entendesse, azeite.
Mas o próprio Ziembinski, segundo Nelson, não entendera a peça: em suas mãos, “Dorotéia” deixara de ser uma “farsa irresponsável” e se tornara uma tragédia explícita, que faria Aristóteles feliz de orelha a orelha, mas traía a peça e atrapalhava o seu entendimento. Na concepção de Nelson, jarro e botinas não eram metáforas de nada, eram a própria realidade e, por isso, aquela era uma “farsa irresponsável”. Sem essa escandalosa “irresponsabilidade”, o absurdo da história não se sustentaria e a exuberância poética dos diálogos perderia a força. Mas já não podia fazer nada por “Dorotéia”. Os críticos, entre os quais Paschoal Carlos Magno, a arrasaram. Apenas o querido Accioly Neto defendeu-a... Um jovem na platéia iria vê-la, deslumbrado, cinco vezes: o futuro crítico Paulo Francis —, mas quando pôde exaltá-la por escrito, como um dos maiores espetáculos já produzidos no Brasil, anos tinham se passado e até Nelson já dava “Dorotéia” como morta.
A maravilhosa “Dorotéia” agüentou apenas treze dias em cartaz. Menos que qualquer comediota do Teatro Recreio. Nelson fechou a peça, pagou todo mundo, voltou de bonde para casa e começou a pensar seriamente na vida. Costumava dizer na época: “O autor de teatro devia ser um bárbaro, nu e só”.
Depois queixou-se para Antônio Callado:
" ‘Dorotéia’ é o maior fracasso do Ocidente. Nem minha mãe gostou.”
Um ano e meio antes, em julho de 1948, Nelson tinha disparado mais uma “Suzana Flag”: “Núpcias de fogo”. O primeiro capítulo safra simultaneamente em “O Cruzeiro”, com ribombar de canhões, e em “O Jornal”, e seguira depois no matutino. Os leitores pareciam não se cansar de “Suzana Flag” —Nelson é que já não a tolerava mais. Estava com a cabeça definitivamente no teatro, mas precisava continuar escrevendo folhetins para sustentar-se. Em 1949, Freddy Chateaubriand trocou sua função de diretor em “O Jornal” pelo comando do “Diário da Noite” e levou Nelson com ele. A pedido de Nelson, deixaram “Suzana Flag” para trás, congelada e morta.
Mas, em seu lugar, Freddy inventou “Myrna”, a nova máscara feminina de Nelson Rodrigues.
Dava na mesma, exceto que “Myrna” teria um concorrente à altura no “Diário da Noite”: o folhetim “Giselle, a espiã nua que abalou Paris”, assinado por “Giselle de Monfort” — na verdade, David Nasser — e ilustrado com fotos moderadamente eróticas de Jean Manzon, com modelos locais. “Myrna” não conheceu a glória longeva de “Suzana Flag”. Viveu apenas um ano, durante o qual produziu “A mulher que amou demais” — e propiciou a Freddy Chateaubriand uma idéia que ele não tivera em “O Jornal”.
A correspondência de “Myrna” era tão descomunal que era uma pena não transformá-la num “correio sentimental”. Ei, por que não? As leitoras acreditavam em “Myrna” e escreviam contando suas brigas com a mãe ou com o namorado, pedindo conselhos. Nelson poderia respondê-las, com a solidariedade que sempre dispensara às mulheres — e faturando mais alguns caraminguás. A seção se chamaria “Myrna escreve”. A ilustração seria o 3 x 4 de uma mulher com os olhos tarjados e Nelson escreveria na primeira pessoa do feminino.
Uma amostra dessas cartas era a da leitora que, mal conhecera um rapaz, apaixonou-se por ele e lhe emprestou um valioso anel; o namorado pôs o anel no prego, jogou nos cavalos e ficou sem dinheiro para resgatar a cautela; a mãe da moça obrigou-a a largar o rapaz e lhe raspou a cabeça, para que tão cedo ela não saísse de casa. A moça perguntava a “Myrna”: “Pode-se amar um ladrão?”. Nelson, lixando unhas invisíveis, respondeu:
Ai de nós, Fulana! Uma mulher pode, perfeitamente, gostar de um ladrão. Por um motivo: porque o coração não enxerga um palmo adiante do nariz. Se ele só se inclinasse por rapazes direitos, estaria tudo salvo. De onde resultam as tragédias amorosas? Resultam, precisamente, do fato de que ninguém escolhe certo, mas escolhe, quase sempre, errado. Vou mais longe: a gente não escolhe nem certo, nem errado. A gente não escolhe. Gostamos e deixamos de gostar, por uma série de fatores estranhos à nossa vontade. De forma que, em realidade, tudo é uma pura e simples questão de sorte. As vezes, coincide que o nosso amor seja um cidadão seríssimo, respeitador, cumpridor dos deveres. Foi o quê? Uma escolha consciente? Uma seleção hábil? Não, em absoluto. Seleção nenhuma. Escolha nenhuma. Sorte, nada mais que sorte. A mulher pode amar, segundo sua estrela, um escafandrista, um domador, um trocador de ônibus ou um príncipe. A você, Fulana, coube a seguinte sorte: amar um ladrão.
Você não teve culpa de coisa alguma. Em amor, só fazendo muita força a gente consegue ser culpada de alguma coisa. Os amorosos não têm a menor responsabilidade dos atos que praticam durante a crise sentimental. Encurtando: você deixou o Arsène Lupin. E o que fez a sua mãe? Consolou-a? Afagou-a? Deu-lhe solidariedade? Nada disso: raspou-lhe a cabeça. Nada mais, nada menos: raspou-lhe a cabeça! Ora, eu sou franca, minha cara Fulana. Ninguém tem o direito de raspar a cabeça de ninguém. E muito menos quando se trata de uma filha. Que o seu vizinho fizesse isso, seria uma violência passível de intervenção policial. E, se foi sua mãe, muito pior. Se eu fosse mãe, faria o seguinte: jamais julgaria ou condenaria minha filha. Ela só mereceria, de mim, carinho e proteção. Os outros que a julgassem e condenassem. Eu, nunca.
Nelson sempre vira os folhetins de “Suzana Flag” ou “Myrna” como um exercício estilístico que, se não fosse pelo dinheiro, ele podia agora dispensar.. Em compensação, comovia-se sinceramente com as cartas do “correio sentimental”, que, por mais suburbanas, pareciam-lhe parte do grande teatro humano. (Quanto mais suburbanas, mais teatro e mais humano.) Elas lhe davam subsídios para seus personagens femininos. Assim como Shakespeare fora um grande criador de tipos masculinos (Hamlet, Otelo, Ricardo m, Macbeth e muitos mais, com uma vaga concessão a Lady Macbeth), Nelson sentia-se um criador de mulheres: Lídia, em “A mulher sem pecado”; Alaíde, Lúcia e madame Clessy, em “Vestido de noiva”; dona Senhorinha, em “Álbum de família”; Virgínia, em Anjo negro”; dona Eduarda e Moema, em “Senhora dos afogados”; e Dorotéia e dona Flávia, em “Dorotéia”.
Mas, depois de escrever catorze laudas por dia na redação, era doloroso que só lhe restasse a madrugada para escrever teatro. Nelson cogitou de fazer o mesmo que faziam quase todos os jornalistas e escritores para engordar seus rendimentos: arranjar um emprego público.
O IPASE (Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado), sob a direção do romancista mineiro Cyro dos Anjos, autor de “O amanuense Belmiro”, era um ninho de literatos. Alguns deles até trabalhavam de verdade, como o também mineiro Sábato Magaldi, que em 1950 iria substituir Paulo Mendes Campos como crítico de teatro do “Diário Carioca”. Nelson conheceu Sábato e encantou-se à vista pelo seu jeito doce e seu interesse em teatro. Toda tarde ia buscá-lo para um café no “Vermelhinho” e trocar figurinhas sobre a maior admiração de ambos — Nelson Rodrigues.
Nelson anteviu uma mesa, um paletó na cadeira e um salário no IPASE e pediu emprego a Cyro dos Anjos. Este mandou-o tratar dos papéis. Não se tratava de uma nomeação, mas de simples admissão, desde que cumprido o ~gelo requisito de um exame médico. Nelson, então, recuou. Sabia que iria ao pau no exame. Poderia esconder a úlcera, mas não a tuberculose.
Desde sua última internação, em 1945, a tuberculose vinha sendo piedosa. O pior pelo que passara tinham sido alguns pneumotórax com o doutor Pitanga. Seus pulmões não se comparavam aos foles do vascaíno Ademar Ferreira da Silva, futuro recordista mundial do salto tríplice, mas as chapas que fazia de seis em seis meses eram satisfatórias. Infelizmente, não para que ele fosse admitido no serviço público, mesmo numa função fantasma. Nelson inventou um pretexto e desculpou-se com Cyro dos Anjos. E, para fazer um agrado a Nonoca, sugeriu a Cyro contratar Walter Paíno. Tempos depois, Paíno retribuiu-lhe o favor, assinando a cópia de “Dorotéia” que foi para a censura.
A vida profissional de Nelson parecia a de um personagem de Alfred Jarry, o criador do “Rei Ubu”. Sua relação com qualquer espécie de documentos era patafísica. Nelson perdia sua carteira profissional; a custo tirava outra no ministério do Trabalho; tempos depois achava a carteira original e ficava com duas; em seguida, perdia ambas; depois de tirar uma terceira via, achava as duas primeiras. E todas iam sendo carimbadas e anotadas por funcionários tão patafísicos quanto ele. Seu registro como jornalista profissional só aconteceu em 1950 — 24 anos depois que começara a trabalhar. E, quando se tratava de férias, Nelson enlouquecia os departamentos de pessoal: deixava acumular três ou quatro períodos; de repente, decidia tirar férias; acertava com o chefe da redação e ficava trinta dias em casa, todo pimpão. Mas esquecia-se de comunicar ao departamento de pessoal. Este então o descontava.
Só uma pessoa salvava Nelson da bancarrota iminente: Elza. Seu salário, que ele lhe entregava quase na íntegra, ia para as despesas da família — mas, o que sobrava, ela depositava, inclusive os “getulinhos”, na Caixa Econômica ou na “Prolar”.
Foi o que os salvou quando Nelson, em abril de 1950, deu adeus a Freddy Chateaubriand e aos “Diários Associados”, e se soltou na praça, à espera de que jornais e revistas quebrassem lanças para contratá-lo.
Ficou um ano desempregado.
Com todo o rebuliço provocado por seu teatro, Nelson olhava para seu irmão Mário Filho como Alexandre Dumas, filho, olhava para Alexandre Dumas, pai. A imagem era de um colega de ambos, David Nasser. E com razão: Mário Filho tornara-se muito mais que o maior cronista esportivo do Brasil. Era agora o seu historiador, sociólogo, inventor de eventos, aglutinador de multidões. Quando se tratava de futebol, ele só não fazia chover sobre os gramados. Ao contrário, fazia raiar um sol que iluminava tanto os clássicos quanto as peladas — as quais transformava em clássicos, com a sua forma inimitável de escrever.
Sua presença já não cabia nos estádios, nas redações, às vezes nem nas ruas. Tornara-se o ministro sem pasta do futebol brasileiro, a quem os jogadores, os clubes e a CBD (Confederação Brasileira de Desportos) iam pedir conselhos quando tinham de decidir alguma coisa. E, como nunca ia pedir nada, entrava e saía de gabinetes de presidentes da República como se fossem a casa da mãe Joana.
Gregório Fortunato, o “anjo negro” de Getúlio, era um que, ao vê-lo entrar no Catete, dizia:
“Ainda bem que o senhor veio, doutor Mário. O homem hoje está num mau humor de amargar.
A arma de Mário Filho era um lápis. Era com um “Johann Faber nº 2” que ele dirigia o “Jornal dos Sports”, comprado em 1936 com Roberto Marinho, e a seção esportiva de “O Globo”, que transformara na melhor do Rio. Durante a Copa do Mundo de 1938, na França, fez “O Globo” gastar quarenta contos de réis de telefone. Na véspera de jogo do Brasil, Mário Filho ia para o escritório da Radiobrás, na avenida Rio Branco, e falava pelo telefone internacional com o treinador Ademar Pimenta e com todos os jogadores. Voltava para a redação e escrevia sessenta laudas a lápis. Com isso, “O Globo” tinha material diferente para sete edições no dia da partida. Naquele ano, Mário Filho e Roberto Marinho soltaram “O Globo Sportivo”, um tablóide semanal com capa em quatro cores. De passagem, Mário Filho trouxe da Argentina o caricaturista Lorenzo Molas para criar os símbolos dos clubes cariocas. Foi quando o Flamengo ficou sendo o “Popeye”; o Fluminense, o “Pó-de-arroz”; o Vasco, o “Almirante”; o Botafogo, o “Pato Donald”; e o América, o “Diabo”.
Com o lápis amarrado à mesa por um barbante, Mário Filho inaugurou em 1942 a coluna “Da primeira fila” na seção esportiva de “O Globo’ agora dirigida por seu irmão Augustinho. Ali, durante sete anos, Mário Filho escreveu a história do futebol brasileiro, a partir do álbum de recortes do ex-goleiro Marcos Carneiro de Mendonça, de entrevistas com velhos jogadores e do que ele próprio assistira desde os seus tempos de “A Manhã” e “Crítica". De sua coluna saíram os livros “Copa Rio Branco, 32” (1943), o fabuloso “Histórias do Flamengo” (1946), “O romance do futebol” (1949) e, antes deste, a sua obra máxima: “O negro no futebol brasileiro” (1947) — uma espécie de “Casa-grande & senzala” urbana, um livro equivalente na historiografia racial ao de Gilberto Freyre.
Em “O negro no futebol brasileiro”, jogadores como Fausto, Jaguaré, Domingos da Guia, Leônidas da Silva e Zizinho, todos negros, ficavam maiores que a vida. A prosa de Mário Filho os fazia desfilar a sua glória e amargura pelos estádios, cafés e ruas do Rio, tendo como pano de fundo um Brasil menos branco do que pensava ser e que talvez por isso odiasse mais os brasileiros de pele cinza ou tisnada. Segundo Mário Filho, foi o futebol que aproximou o Brasil dos seus negros e mulatos, tornou-os brasileiros como os brancos e liberou-os do estigma de moleques de recados. E logo o futebol, que começou não apenas branco no Brasil, mas louro e de olhos azuis, desde o inglês que trouxe a primeira bola.
Mas não foi uma assimilação suave, conta Mário Filho. Quando os negros se impunham, os brancos se vingavam culpando-os por derrotas cruciais — como a da Copa do Mundo de 1950, em que os responsabilizados foram dois negros de carapinha, Barbosa e Bigode, e um mulato de cabelos ondeados, Juvenal. Em edições posteriores, Mário Filho teve tempo para atualizar a história, incluindo a aparição do negro e do mulato que iriam redimir toda a nação, inclusive os sofridos brancos brasileiros: Pelé e Garrincha.
Em 1949, Mário Filho aumentou o capital do “Jornal dos Sports” e Roberto Marinho não subscreveu. Mário Filho abocanhou uma quantidade de ações e ficou majoritário no jornal. Roberto Marinho não gostou daquilo. Naquele mesmo ano, Mário Filho teve um atrito com Ricardo Serran, a nova estrela do futebol de “O Globo”, e afastou-se do jornal de seu amigo. Foi cuidar exclusiva-mente do “Jornal dos Sports”. Teve então a idéia que iria separá-los definitivamente: a criação dos “Jogos da primavera” — uma olimpíada carioca reunindo atletas dos clubes e colégios, algo que mobilizasse a juventude e a atraísse para o esporte. Durante duas semanas de setembro, todo ano, ele transformaria o Rio numa Grécia. Roberto Marinho percebeu a grandeza do evento e propôs-lhe que os dois jornais o promovessem juntos. Mário Filho achava que podia fazê-lo sozinho — e tanto podia que fez. Mas ali terminaria a amizade entre os dois, porque Roberto Marinho cortou relações.
De 1949 até 1972, os “Jogos da primavera” atraíram uma média de vinte mil jovens por ano. A abertura, com a presença do presidente da República, era no estádio do Vasco, em São Januário. As competições (de todos os esportes, menos os profissionais) se realizavam nas quadras, pistas e piscinas das agremiações. Embora isso hoje pareça impensável, Mário Filho bancava tudo sozinho, sem patrocínios, “apoios” ou subvenções. Dutra, presidente em 1949, ofereceu-lhe ajuda em dinheiro, através do ministério da Educação, para fazer os primeiros “Jogos”. Mário Filho, delicadamente, recusou. Achava que, se dependesse de um presidente, iria depender de todos. (E se um deles resolvesse não se interessar?) Com isso teve ao seu lado, na tribuna de honra, ano após ano, todos os presidentes: Dutra, Getúlio, Café Filho, Juscelino, João Goulart e Castello Branco. E só não teve Jânio Quadros porque Jânio, empossado em janeiro de 1961, não sobreviveu para a primavera — renunciou em agosto.
O “Jornal dos Sports” pagava tudo nos “Jogos da primavera”: o balizamento, a segurança, a iluminação e a faxina dos estádios e colégios. No máximo permitia que a “Superball”, a loja de material esportivo de seu amigo rubro-negro Antônio Moreira Leite, fornecesse as bolas e medalhas — desde que não se promovesse com isso. Num dos “Jogos”, a “Superball” imprimiu um livrinho de regras de vários esportes e distribuiu-o entre a platéia. Mas cometeu o equívoco de estampar bem grande, na capa, o nome “Superball”. Mário Filho ficou furioso, mandou recolher os livros e saiu ele próprio capturando exemplares pelas arquibancadas de São Januário, pedindo desculpas, a um por um, pelo “abuso” do amigo.
Mário Filho evitava falar de seu pai, mas seu comportamento à frente do “Jornal dos Sports” dava a entender que, podendo escolher, não adotaria certas práticas que haviam tornado Mário Rodrigues famoso. Certa vez, o jogador de um grande clube meteu-se num escândalo amoroso às vésperas de uma final de campeonato. O marido da moça ficou uma onça, falou em dar tiros e em matar o jogador; este azulou da concentração para se esconder e não jogou a decisão. Prato cheio para um jornal de escândalos. Mas Mário Filho achou que não era assunto para o “Jornal dos Sports” — assim como não gostava de histórias de suborno de jogadores ou juizes.
“Essas coisas existem, mas são difíceis de provar”, dizia. “Além disso, para que sujar a fantasia do torcedor?”
Romântico? Sem dúvida. E de um carinho quase paternal para com os torcedores de qualquer clube. Se o Olaria derrotava o Fluminense, não fora o Fluminense que perdera, mas o Olaria que ganhara. Mandou destruir milhares de exemplares e rodar de novo uma primeira página do “Jornal dos Sports” porque alguém abrira em manchete, “VASCO DESTROÇADO!”, depois de uma goleada para o Botafogo. “Nenhuma derrota, nem por goleada, destroça um clube como o Vasco”, disse.
Numa coisa, no entanto, Mário Filho era Mário Rodrigues da cabeça aos pés:
“Papai me dizia que o jornal não deve limitar-se a dar a notícia. Deve também produzir a notícia e, se preciso, ser a notícia.”
Só que Mário Rodrigues levara isso às últimas conseqüências — últimas mesmo. Mário Filho preferiu ser mais construtivo: inventou competições que preenchessem o calendário nos meses em que não havia campeonato. Começou em 1950 criando o Torneio Rio-São Paulo, que reunia os clubes grandes das duas cidades. Para que os paulistas se empolgassem com o torneio, batizou-o com o nome do recém-falecido Roberto Gomes Pedrosa, ex-presidente do São Paulo e da Federação Paulista. Os paulistas se empolgaram — tanto que, desde a vitória do Corinthians no primeiro Rio-São Paulo, eles o ganharam um a um até 1957, quando o Fluminense finalmente quebrou a hegemonia. O Torneio Rio-São Paulo conservou por muitos anos o seu formato original, até crescer — crescer até demais — e transformar-se no campeonato brasileiro de hoje.
Outra grande idéia de Mário Filho foi a criação em 1951 da Copa Rio, pondo frente a frente os campeões carioca e paulista do ano anterior contra campeões estrangeiros, com jogos no Maracanã e no Pacaembu. Na primeira Copa Rio, jogaram Vasco da Gama, Palmeiras, o Áustria de Viena, a Juventus de Turim, o Olympique de Marselha, o Sporting de Lisboa, o Estrela Vermelha de Belgrado e o Nacional de Montevidéu. O campeão foi o Palmeiras. Na de 1952, os times eram o Fluminense, o Corinthians, o Peñarol de Montevidéu, o Grasshopper de Berna, o Sarrebruck de Bonn, o Libertad de Assunção e novamente o Estrela Vermelha e o Sporting. Campeão, o Fluminense.
O Torneio Rio-São Paulo era em fevereiro, a Copa Rio em julho e, no segundo semestre, os campeonatos regionais davam conta do calendário. E havia os “Jogos da primavera” em setembro. Criar competições era uma forma de Mário Filho vender jornais o ano inteiro, mas e daí? Seu jornal vivia do esporte e suas idéias ajudavam também a concorrência, que não era proibida de cobrir os jogos.
Além disso, o Brasil tinha a aprender com os times estrangeiros que vinham jogar aqui — porque o brasileiro, embora já se julgasse o melhor do mundo, estava no AEIOU quanto a certas regras e macetes do jogo. Até 1938, por exemplo, ainda se achava no Brasil que o tiro de meta era batido com o goleiro rolando a bola para o beque dar um chutão. E foi só em 1949, na partida em que o Fluminense perdeu de 5 x 1 para o Arsenal de Londres, que um time brasileiro usou camisas numeradas. E os números não eram sequer costurados às camisas, mas presos com alfinetes de fralda.
Pena que só tenha havido duas Copa Rio. O custo para se trazer aqueles times da Europa era uma fábula — e Mário Filho, como sempre, dispensava o dinheiro alheio.
Mas não dispensava adesões a uma campanha justa, como a que resultou na construção do Maracanã. A prefeitura do Distrito Federal precisava construir um big estádio para a Copa do Mundo de 1950, que o Brasil iria sediar. Abriu-se um mapa, aplicou-se régua e compasso e decidiu-se: o verdadeiro centro do Rio ficava no antigo Derby Club, onde se disputavam as corridas de cavalos, no bairro do Maracanã. Seria ali o estádio, o maior do mundo, com capacidade para 170 mil pessoas. O ano, 1947. De repente alguém foi contra: o vereador da UDN, Carlos Lacerda. Segundo ele, o estádio deveria ser em Jacarepaguá, para onde o Rio marcharia no futuro. E, no máximo, para oitenta mil pessoas, que já estava bom demais. Mais que isso era um insulto aos dinheiros públicos.
O que dera em Carlos Lacerda? Jacarepaguá, então um bucólico recanto agrário, campestre e pastoril, ficava mais distante da praça Mauá do que Adis-Abeba. Os torcedores precisariam de passaporte para ir até lá. E Mário Filho não recuava da sua obsessão em ver “uma revoada de lenços brancos no estádio, como se fossem 170 mil pombos batendo asas”. Mas Lacerda era um adversário duro de roer e a campanha pró-Jacarepaguá começou a ganhar adeptos. Um de seus argumentos era que defronte ao Derby havia o esqueleto de um hospital.
Do alto da tribuna na “Gaiola de ouro” (a Câmara dos vereadores cariocas), Lacerda alçou a sua bela voz de barítono e decretou:
uma vergonha querer construir um estádio de futebol defronte a um hospital nunca terminado!”
Era um argumento e tanto. Mas Mário Filho respondeu pelo jornal:
“Exatamente por isso. Quanto mais estádios de futebol, menos precisaremos de hospitais.”
Mário Filho cooptou para a sua causa o rubro-negro Ary Barroso, também vereador e também da UDN. Com seu prestígio e seu mandato, o autor de “Aquarela do Brasil” rachou a bancada de Lacerda. E Mário Filho ainda trouxe para o seu lado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Galloti. Com essa brigada a favor, ganhou a tese do estádio no Maracanã. O prefeito Ângelo Mendes de Moraes arregaçou as mangas e, em vinte meses, concluiu a obra, a poucos minutos do Brasil entrar em campo para a sua estréia na Copa — 4 x 0 no México, a 24 de junho de 1950.
Nas semanas anteriores, Mário Filho obrigara seus amigos a comprar cadeiras perpétuas do estádio. Eram quase de graça e ninguém as queria. Por amizade a ele, Marcos Carneiro de Mendonça comprou doze — que valem hoje seis mil dólares cada. Mário Filho não aceitou as cadeiras, de números um a cinco, que a prefeitura fazia questão de presentear-lhe. Insistiu em comprá-las e, traindo uma compreensível vaidade, mandou pintar de rosa a sua cadeira: a número um.
O Estádio Municipal, como o chamavam no começo (só mais tarde o seu nome se confundiria com o do bairro do Maracanã), não veria o Brasil ser campeão do mundo aquele ano. Mas as várias gerações de craques a que ele serviria de berçário iriam tirar, com sobras, essa diferença.
Era compreensível que Nelson olhasse para Mário Filho com a reverência que, no passado, se devia aos maiores e melhores. Tudo que Mário Filho fazia se traduzia em gigantismo: eram as grandes promoções de seu jornal, os livros que todo mundo admirava, as multidões de jovens nos “Jogos da primavera” e, agora, a pirâmide de concreto no Maracanã.
Mário Filho era o grande homem que Nelson queria ser. Nelson nunca sentiu maior o contraste entre ele e seu irmão — nem sua auto-estima parecia tão próxima do Narciso às avessas, aquele que cospe na própria imagem. Quando visto pela última vez, ele era o gênio de “Vestido de noiva”, a peça que iria correr mundo. De repente, era o autor interditado e, se levado à cena, desgostado e desprezado até pelos amigos. Muitos gostariam de se ver livres de Nelson — se soubessem o que fazer com o cadáver.
E agora havia outro autor teatral em moda na praça: Silveira Sampaio, cujas comédias, “A inconveniência de ser esposa” (1948), “Da necessidade de ser polígamo” e “A ‘garçonnière’ de meu marido” (ambas de 1949), arrebatavam platéias. O simpático Silveira, médico na vida real, era autor, diretor e protagonista de suas peças, todas com um sabor sofisticadamente sacana. Os críticos não demoraram a louvá-lo como uma alternativa “sadia” a Nelson Rodrigues. E, para eles, Silveira era muito mais completo, porque “fazia de tudo no espetáculo”. Poucos se davam conta de que a melhor coisa nas comédias de Silveira Sampaio era ele próprio, divertido e inimitável — a tal ponto que, com qualquer outro no seu papel, elas seriam um pastel de vento. O futuro se encarregaria de provar que a “Trilogia do herói grotesco” (como S. S. chamava as três peças) não viera para ficar. Mas, enquanto durou a moda de Silveira Sampaio, Nelson sentiu-se como se tivesse engolido uma salamandra.
Tudo seria tolerável se, para completar o agravo, ele não estivesse profissionalmente no desvio. Quem queria saber de Nelson Rodrigues em 1950?
Nessas ocasiões, como de praxe em sua família, era a hora de virar-se para Mário Filho. Desde que seu irmão comprara o “Jornal dos Sports”, Nelson fora apenas um colaborador intermitente. Agora, no desemprego, o que sempre tinha sido uma complementação de salário — sua coluna “Bom dia” —, seria a sua fonte de renda enquanto não aparecesse coisa melhor. Em fins de 1950, ensaiou uma volta a “O Globo”, onde não se reencontrou.
Três meses depois, já em 1951, Nelson decolou do fundo do poço para o que seria um salto mortal em sua vida: “Última Hora” — e “A vida como ela é...
- 1951 - “A VIDA COMO ELA É...”
“Você vai sair daí, já, já, e voltar para casa! Senão eu atiro os nossos filhos pela janela!”
Era Elza, dentro da “garçonnière” de Nelson e Pompeu de Souza no edifício Pitaguary, num belo dia de 1950. Tocara a campainha e, quando Nelson abrira sem perguntar quem era, ela entrara pela porta como um tufão, com os atarantados Joffre, oito anos, e Nelsinho, quatro, pela mão. Era uma cena da futura “A vida como ela é...”, só que para valer, e tendo o próprio autor como protagonista. Nonoca trancou-se lá dentro, assustada, e não apareceu, enquanto Elza dizia para Nelson todas as verdades que se dizem nessas memoráveis ocasiões. Ele ouviu em silêncio tudo o que tinha de ouvir e deixou-se conduzir de volta para casa, quase pela orelha. Seu romance com Nonoca terminara.
Nelson sempre fora da opinião de que “não se abandona nem uma namorada”. Quanto mais a própria mulher — e, neste caso (mas só neste caso), justificava-se abandonar a namorada. Mas, quarenta mil anos antes do Paraíso, estava escrito que aquele romance não tinha futuro. Nelson era dos que se casavam para sempre e Nonoca não se conformava em ser a “outra”. Sem chances de tê-lo pelas 24 horas do dia — para servir-lhe gelatina, cortar-lhe as unhas dos pés e usar uma aliança no dedo — um dia ela acabaria tomando a iniciativa de romper, nem que isso levasse outros quarenta mil anos. Mas Nelson nunca iria separar-se de Elza, principalmente depois do que acontecera a Joffre no ano anterior. Seu filho pegara sua tuberculose.
Por mais que tivessem tudo de Nelson separado, por mais visível que fosse o “X” em cada um de seus talheres e toalhas — Joffre fora contaminado.
No começo, não quiseram acreditar, podia ser outra coisa. As vertigens, a febre e o emagrecimento de Joffre eram parecidos, mas as chapas do doutor Pitanga não confirmavam. E, assim como tinham feito com Nelson quando jovem, Joffre também foi submetido ao cruel tratamento de tentativa e erro para ver se o curavam. Primeiro, extraíram-lhe alguns dentes — os molares definitivos. Depois, extirparam-lhe o apêndice. E só então levaram-no a novos exames. A chapa revelou a mancha no pulmão. Mas o ano era 1949 e já havia a estreptomicina. Joffre tomou milhões de unidades do medicamento. As agulhas lembravam aquelas para cavalos e as injeções nos braços, pernas e nádegas eram lentas e quase insuportáveis. O garoto se recuperou, mas quem garantia que não recaísse? E se acontecesse também com Nelsinho? E se ele, Nelson, não estivesse em casa?
Ainda sustentou por um ano seu romance com Nonoca, mas, depois da cena com Elza, Nonoca é que não iria querê-lo. Nelson desfez a sociedade com Pompeu na “garçonnière” e, com a moral coberta de sargaços, reassumiu a rotina de voltar cedo para casa, com 250 gramas de manteiga numa das mãos e “O Globo” na outra. E, durante os muitos meses de desemprego, em que saía pouco de casa, temperou sua depressão com uma adesão convicta às pequenas delícias do lar.
Até que Samuel Wainer convidou-o para um jornal que iria lançar dentro de algumas semanas e que se chamaria “Última Hora” — um titulo que um dia havia pertencido a seu pai. O jornal já tinha data marcada para sair...
O melhor da literatura para todos os gostos e idades

















